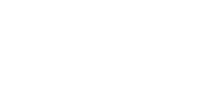Brasil-Polônia: Diálogos Histórico-Culturais / História – Debates e Tendências / 2020
A exuberante paisagem da Baia de Guanabara se desvela ao olhar sensível e atento dos poetas. A poesia, aliás, assim como a música, nos servem de linguagem para descrever o indescritível. Temos aqui um paradoxo. A linguagem escrita e falada que comumente utilizamos para nos expressar, igualmente nos impõe limitações para descrever com clareza nossos sentimentos, percepções e emoções.
Talvez por isso Tomasz Łychowski utilizou a poesia como forma de registrar suas impressões ao aportar no Rio de Janeiro em 1949. O caminho feito pelo poeta imigrante foi o mesmo de grande parte dos poloneses que desembarcaram na costa brasileira em grandes contingentes a partir do século XIX. Para muitos, a etapa marítima da viagem iniciava-se nos portos de Bremen ou Hamburgo, a partir daí singravam o Atlântico em direção ao Brasil. Apesar de não constituir o destino final da maioria dos imigrantes, a chegada ao Rio de Janeiro certamente ocupava um lugar de destaque no imaginário das famílias, pois representava um marco nessa jornada rumo ao desconhecido. Era o início de uma nova etapa em suas vidas. A maioria deles jamais retornaria à sua terra natal ou veria seus familiares novamente. A tęsknota za domem [1] se tornou uma constante.
Nos anos de 1772, 1793 e 1795 a Polônia teve seu território ocupado e partilhado pelos Impérios Russo, Austríaco [2] e Reino da Prússia. A Polônia então deixou de ser uma nação soberana e a sua população foi subjugada. No século XIX eclodiram articulações e revoltas armadas que visavam a recuperação da sua autonomia. As dificuldades impostas pela dominação estrangeira eram aguçadas pelo recrutamento para o serviço militar junto às nações ocupantes e severas imposições que restringiam o uso da língua polonesa. Foi nessa conjuntura que grande parte dos imigrantes poloneses chegou ao Brasil, dentre os quais, participantes dos dois grandes levantes do século XIX (Powstanie listopadowe e Powstanie styczniowe). Para muitas famílias, a emigração era encarada como a única possibilidade de oferecer aos seus filhos a expectativa de uma vida com menos privações. Impelidos pelas imprecisas propagandas das companhias de navegação, o Brasil era vislumbrado como a “Terra Prometida” (Ziemia Obiecana). Um lugar de fartura e oportunidades. A realidade, no entanto, mostrou-se menos romântica. O desafio era descomunal. Encontraram uma nação em processo formativo, para a qual dariam a sua contribuição.
Graças à atuação de Rui Barbosa, proeminente estadista brasileiro defensor da causa polonesa, o Brasil foi o primeiro país latino-americano a reconhecer formalmente a recuperação da independência da Polônia ocorrida após a Iª Guerra Mundial em 1918. No ano de 1920, o Conde Franciszek Ksawery Orłowski foi nomeado para exercer o cargo de Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário da República da Polônia no Brasil. Logo, a publicação do dossiê no ano de 2020 se apresenta também como uma celebração ao centenário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.
Com a eclosão da IIª Guerra Mundial em 1939, o período migratório acentuou-se novamente. O maior fluxo, no entanto, foi registrado no período em que a Polônia encontrava-se ocupada, fator que gerou uma elevada subnotificação dos dados estatísticos referentes à imigração polonesa no Brasil, uma vez que os imigrantes portavam documentos emitidos pelas nações ocupantes. Os dados utilizados por diversas organizações e mesmo pelos Ministérios das Relações Exteriores do Brasil e da Polônia são imprecisos e díspares.
Sua correção e atualização é uma tarefa que se impõe aos historiadores. Pesquisas recentes têm alçado os poloneses ao posto de terceiro maior contingente imigratório do Brasil, contabilizando mais de 600 mil pessoas, o que corresponde a um percentual de 11,50% do total de imigrantes, suplantados apenas pelos italianos (32,22%) e portugueses (29,20%), e seguidos pelos espanhóis (11,03%), alemães (5,05%) e japoneses (3,75%). Com base em cálculos demográficos e estatísticos, estima-se que atualmente os brasileiros com ascendência polonesa totalizem cerca de cinco milhões de pessoas. 3
As cifras expressivas se traduzem em contribuições nos mais variados aspectos da sociedade brasileira. A presente publicação tem por objetivo destacar os diálogos histórico-culturais que ocorrem no âmbito da produção acadêmica e científica, especialmente no campo histórico-cultural. Tais diálogos são também o reflexo das trajetórias históricas que unem ambos os países. A evidenciação e potencialização dessas relações é um dos objetivos do Núcleo de Estudos Históricos e Arqueológicos Brasil-Polônia, cuja criação foi formalizada no ano de 2019 pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo (PPGH / UPF). A elaboração do dossiê ocorre no âmbito da cooperação acadêmica entre a Universidade de Passo Fundo e a Uniwersytet Wrocławski.
Alguns artigos aqui publicados exploram temáticas que, em maior ou menor grau, oscilam em torno da história da imigração polonesa, enquanto outros evidenciam o intercâmbio científico e suas interfaces entre os dois países. Temos a satisfação de congregar contribuições provenientes dos estados brasileiros do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Espírito Santo, além de textos das cidades polonesas de Varsóvia, Wrocław e Katowice. Estabelecemos assim uma conexão entre os diferentes pesquisadores que passa a ser compartilhada e estendida aos leitores.
O artigo de abertura intitulado Na fronteira Brasil – Polônia: cooperação acadêmica em Antropologia Forense a serviço dos Direitos Humanos sintetiza a proposta do dossiê, uma vez que explora as possibilidades e perspectivas atuais de cooperação científica entre os dois países. As pesquisadoras Katarzyna Górka e Cláudia Regina Plens nos apresentam o contexto da Antropologia Forense e seu papel nos Direitos Humanos no Brasil. O texto descreve a realidade acadêmica e profissional, bem como evidencia as limitações que se impõem ao exercício da profissão, como a falta de formação especializada, insuficiência de infraestrutura e investimentos, sobrecarga de recursos humanos, ausência de protocolos a nível federativo, dentre outros desafios. Frente a esse cenário, a cooperação científica internacional se apresenta como indispensável para o amadurecimento e fortalecimento da área no país. O texto é apresentando em sua versão bilíngue (português e polonês).
Na sequência, o artigo Pedidos de Extradição Formulados pela Polônia Contra Criminosos Nazistas Residentes no Brasil, de autoria de Felipe Cittolin Abal, traça um histórico dos processos de extradição de Franz Stangl e Gustav Wagner, criminosos nazistas que após praticarem suas atrocidades em Sobibor e Treblinka passaram a viver impunemente no Brasil. Os pedidos formulados pela Polônia foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal em 1967 e 1979, sendo ambos indeferidos por prescrição. Em sua abordagem histórico-jurídica o pesquisador constrói uma análise crítica e fundamentada a respeito do andamento e desdobramentos dos processos.
Em Polonidade no Brasil: papel dos atores sociais e das instituições na manutenção e / ou extinção do patrimônio cultural, Schirlei Mari Freder coloca em evidência a importância social dos ativistas culturais étnicos no exercício da polonidade e, sobretudo, o seu papel na manutenção ou extinção de instituições polonesas e polonobrasileiras ao longo das últimas décadas no Brasil. Baseada em pesquisas bibliográficas e observações de campo, a pesquisadora investiga as motivações subjetivas dos atores sociais – e suas transformações – que impelem a sua atuação nas ações de perpetuação e esquecimento de símbolos e códigos culturais inerentes ao patrimônio cultural material e imaterial do grupo étnico polonês.
Ocasionalmente, temos um bloco temático composto por três textos que orbitam em torno do assunto da educação nas colônias polonesas e suas interfaces com os processos culturais de construção identitária. Na emergência das dinâmicas de construção das identidades nacionais na primeira metade do século XX, o artigo Iniciativas Escolares Polonesas – Polskie szkoły no Brasil e a atuação do consulado no pós-reunificação polonesa: discursos e negociações culturais e identitárias, da pesquisadora Fabiana Regina da Silva, explora de forma magistral as conexões culturais, políticas e religiosas que permearam as iniciativas educacionais nas comunidades étnicas da diáspora polonesa no Brasil, destacando, sobretudo, o papel dos agentes consulares no delineamento e construção dos discursos e ações para a construção do espírito nacional enquanto comunidade imaginada.
Dando sequência ao tema da identidade étnica, Adriano Malikoski aborda a manutenção da nacionalidade polonesa através da promoção cultural nos núcleos étnicos. Em seu texto intitulado A União Central dos Poloneses do Brasil e a imposição cultural nacional (1930 – 1938), o pesquisador desvela o papel da União Central dos Poloneses do Brasil nesse processo, bem como o impacto das políticas de nacionalização implantadas pelo Estado Novo no Brasil, cujos efeitos possuem reflexos na atualidade, em especial a perda do conhecimento do idioma polonês pela maioria dos descendentes de imigrantes. Para o desenvolvimento de sua pesquisa, Malikoski analisou artigos de periódicos étnicos e documentações consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polônia (Ministerstwo Spraw Zagranicznych).
A temática que perpassa as políticas de nacionalização e as escolas étnicas polonesas é abordada através de um recorte regional pelas pesquisadoras Isabel Rosa Gritti e Silvana Maria Gritti. O artigo intitulado A educação polonesa na Colônia Erechim: a escola como instrumento de organização e resistência acentua o papel do imigrante polonês como um sujeito social que busca a construção do seu espaço de existência em um contexto de confrontos e adversidades decorrentes das políticas de nacionalização do ensino brasileiro. Frente a essa conjuntura, a escola passou a irradiar processos de resistência, conflitos e tensionamentos.
Temas como identidade e memória igualmente constituem o cerne do artigo da pesquisadora Thaís Janaina Wenczenovicz. Seu foco, todavia, está centrado nos espaços de guarda de memória de imigrantes ou descendentes de poloneses. Seu texto intitulado Cultura, identidade(s) e memória na imigração polonesa no Rio Grande do Sul nos apresenta um recente levantamento de dados acerca de instituições e locais de guarda de informações e acervos com potencial informativo sobre a história da imigração. Dentre os espaços relacionados figuram arquivos pessoais, arquivos públicos, associações, cartórios, igrejas e museus.
A escrita da história da imigração polonesa no Brasil comumente está centrada no sul do Brasil, região que recebeu os maiores contingentes de imigrantes. Entretanto, o monopólio da narrativa por vezes sufoca a historiografia das demais regiões que igualmente são fundamentais para a compreensão do tema em questão. Nessa perspectiva insere-se o artigo Poloneses no Espírito Santo: duas trajetórias de um povo entre os vales da Serra e os sertões do Norte. Nele as pesquisadoras Renata Siuda-Ambroziak e Maria Cristina Dadalto desenvolvem uma perspectiva comparativa de duas fases imigratórias polonesas no estado do Espírito Santo, ambas marcadas por diferentes contextos sociopolíticos e históricos, destacando, dessa forma, a importância da ação da sociedade e das instituições no processo de assentamento e de recepção dos imigrantes.
No epílogo da seção de artigos a pesquisadora Magdalena Bąk nos proporciona uma leitura leve e ao mesmo tempo reflexiva. O texto intitulado Brazylia Tomasza Łychowskiego4, redigido em língua polonesa, nos apresenta o Brasil aos olhos do imigrante Tomasz Łychowski. Poeta, pintor, professor e escritor, Łychowski registrou em versos suas impressões e as especificidades do Brasil. Em seus poemas também estão presentes várias reflexões inerentes à condição de imigrante, em especial os mecanismos de aquisição e construção de uma identidade híbrida, tema caro e recorrente nas atuais colônias polonesas do Brasil.
Por fim, na seção de Traduções publicamos um ensaio da laureada escritora polonesa Olga Tokarczuk. O texto intitulado O narrador sensível foi apresentado pela escritora durante a cerimônia de entrega do Prêmio Nobel de Literatura em Estocolmo, na Suécia, em 2019. Sua tradução nos foi apresentada por Alcione Nawroski, pesquisadora que transita pelos diálogos acadêmicos entre o Brasil e a Polônia. A publicação do ensaio ocorre com a devida anuência da ©The Nobel Foundation.
Os artigos são ainda precedidos por uma contribuição que recebemos da Embaixada do Brasil em Varsóvia, apresentada na sequência. O texto do Embaixador Hadil da Rocha Vianna enaltece as relações de cordialidade e cooperação entre os dois países.
Encerramos esse editorial com a satisfação e a certeza de que o dossiê temático extravasou as possibilidades de diálogos histórico-culturais no âmbito da pesquisa e intercâmbio acadêmico entre os dois países. Registramos aqui o nosso agradecimento aos colaboradores, com um destaque especial às pesquisadoras que respondem por 85% da publicação.
Desejamos a todos uma agradável leitura.
Serdecznie pozdrawiamy.
Notas
1. Saudades de casa.
2. Domínio territorial com múltiplas denominações e fronteiras. Monarquia ou Império de Habsburgo (1526 – 1867); Império Austríaco (1804 – 1867), Império Austro-Húngaro (1867 – 1918).
3. Tais dados – em grande medida inéditos – foram levantados, sobretudo, no âmbito das pesquisas realizadas pelo Pe. Jan Pitoń (in memoriam). Sua base de dados vem sendo revisada e ampliada pelo historiador Ulisses Iarochinski.
4. “O Brasil de Tomasz Łychowski”.
Fabricio J. Nazzari Vicroski – Professor Doutor. Universidade de Passo Fundo, Brasil
Józef Szykulski – Professor Doutor. Universidade de Breslávia, Polônia
Organizadores
Passo Fundo / Wrocław, setembro de 2020.
VICROSKI, Fabricio J. Nazzari; SZYKULSKI, Józef. Editorial. História – Debates e Tendências, Passo Fundo- RS, v. 20, n. 3, set / dez, 2020. Acessar publicação original [DR]