Posts com a Tag ‘Yale University Press (E)’
A World after Liberalism – Philosophers of the Radical Right | Matthew Rose
Matthew Rose | Imagem: Tikvah Fund
Matthew Rose é especialista em História das ideias teológicas e políticas e doutor pela Universidade de Chicago. Seu novo trabalho – A World after Liberalism – Philosophers of the Radical Right (2021) – foi pensado no contexto da campanha de Donald Trump e da crise dos refugiados de 2016, quando ele notou que jornalistas dos EUA e da Europa começavam a citar autores da extrema direita cuja tradição era “mais profunda e filosófica sobre a vida contemporânea e mais cética sobre o lugar do cristianismo na cultura ocidental” (Mclemee, 2022). Do desconhecimento inicial, o autor avançou para uma análise das ideias radicais do pensador “nacionalista” e de direita Samuel Francis, publicado na revista First Things (2018). O artigo se estendeu e se transformou na obra atual, acrescida de notas (ou retratos) biobibliográficos de mais quatro intelectuais: “o profeta” alemão Oswald Spengler, “o fantasista” italiano Julus Evola, “o antissemita” estadunidense Francis Parker Yockey e “o pagão” francês Alain de Benoist.
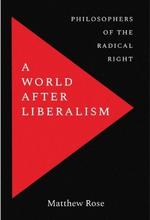 Rose é católico, democrata e, academicamente, orientado pelo trabalho de Heinrich A. Rommen (1897-1967) que, na condição de ex-aluno de Carl Schmitt (1888-1985), examinou a obra do mestre sob o ponto de vista da crítica que a “direita radical” disparava contra as ideias de “igualdade e justiça”, compreendidas como corruptoras “das mais altas inspirações humanas” (Mclemee, 2022). A meta explícita e modesta de Rose é tornar inteligíveis as ideias de pensadores que orientam o “novo conservadorismo” em seus ataques aos princípios de “igualdade humana”, respeito às “minorias”, “tolerância religiosa” e “pluralismo cultural” (Rose, 2021, p.5). A meta implícita e engajada é fazer a defesa do cristianismo em termos teológicos e apresentar valores cristãos de longa duração como possíveis respostas ao vazio ideológico de muitos jovens do seu tempo e país. Leia Mais
Rose é católico, democrata e, academicamente, orientado pelo trabalho de Heinrich A. Rommen (1897-1967) que, na condição de ex-aluno de Carl Schmitt (1888-1985), examinou a obra do mestre sob o ponto de vista da crítica que a “direita radical” disparava contra as ideias de “igualdade e justiça”, compreendidas como corruptoras “das mais altas inspirações humanas” (Mclemee, 2022). A meta explícita e modesta de Rose é tornar inteligíveis as ideias de pensadores que orientam o “novo conservadorismo” em seus ataques aos princípios de “igualdade humana”, respeito às “minorias”, “tolerância religiosa” e “pluralismo cultural” (Rose, 2021, p.5). A meta implícita e engajada é fazer a defesa do cristianismo em termos teológicos e apresentar valores cristãos de longa duração como possíveis respostas ao vazio ideológico de muitos jovens do seu tempo e país. Leia Mais
Migrant City: A New History of London | Panilos Panayi
Panilos Panayi | Imagem: Times Higher Education
According to a survey carried out by the National Federation of Fish Fryers in the 1960s, the first fish and chip shop was opened by Joseph Malins in 1860 on Old Ford Road in the East End of London (p. 234). The combination of the fried fish that had been sold and eaten in the Jewish East End since the early nineteenth century with chips created what became a quintessentially British meal. This is one of many examples included in Panikos Panayi’s Migrant City: A New History of London of how migrants have contributed to the culture and economy of London and in turn the United Kingdom.
Panayi makes clear the crucial role that migrants have played in the development of London as a global centre of trade, finance, culture, and politics. He ties this to London’s status as both the centre of a global empire and the largest city in the world for much of the nineteenth and twentieth centuries. More than half of migrants arriving in the United Kingdom from abroad moved to London, whose history of migration stretches back to its Roman founding. London, therefore, had long been cosmopolitan and by the late twentieth century had become ‘super-diverse’, with residents born in more than 179 countries, many beyond Europe or the former British Empire. Leia Mais
Provincializing Global History: Money/Ideas/and Things in the Languedoc/ 1680-1830 | James Livesey
James Livesey | Imagem: University of Dundee
James Livesey’s Provincializing Global History: Money, Ideas, and Things in the Languedoc, 1680-1830 examines the ways significant knowledge shifts amongst ordinary men and women tied into, and helped create and solidify, deep economic change in the long eighteenth century. Part of making that argument for Livesey entails tying changes in culture in a specific place, here Languedoc, to broader economic development and transformation. The questions he lays out – how and why did the economic and industrial movements that originated in Western Europe come to capture and then dominate global economic activity and culture – are ones that many historians puzzle over in some fashion or another. For Livesey, answers lie in understanding the experiences of the subaltern, peasants and more generally ordinary folks in Languedoc, and the ways they connected to, understood and eventually participated in and transformed knowledge culture and economic development. He makes the argument that technological and scientific advances were not predicated solely, or even primarily, on inventions themselves and how effective they were. Rather a supportive local political environment, and the local adaptation of new technologies to the particular conditions of a place, made change possible. Livesey examines three examples of local transformation, connected to broader shifts, that connected the population of Languedoc to broad shifts in thought and practice developed and adopted elsewhere in order to trace how the provincial shaped and responded to global history. The three examples roughly correspond to the subtitle of the book – money (provincial debt holding), ideas (botany), and things (swing plow). Leia Mais
Weapons of the Weak: everyday forms of Peasant Resistance || Domination and the Arts of Resistance: hidden transcritos | James C. Scott
Infelizmente, a obra de James C. Scott ainda é pouco conhecida entre os historiadores brasileiros. Seus trabalhos nem sequer foram traduzidos, o que demonstra o parco interesse editorial. No entanto, as temáticas levantadas em seus estudos convergem intimamente com os interesses de pesquisa desenvolvidos no Brasil, especialmente nos programas de pós-graduação em História.
Pesquisas sobre resistência dos trabalhadores de variadas origens e condições, assim como sobre movimentos sociais, consistem em uma importante vertente atual dos interesses teóricos e políticos dos historiadores. Pode-se afirmar que esta tendência afirma-se particularmente entre os historiadores acadêmicos, que, em suas teses e dissertações, buscam reatar o fio perdido das lutas sociais obscurecidas pela propaganda neoliberal pós-Guerra Fria. De fato, os programas de pós-graduação e muitos cursos de graduação em História aglutinam cada vez mais seus focos de interesse temático dentro de uma linha teórica/metodológica que se convencionou chamar de História Social. Muito embora a advertência de que a história é inteiramente social por definição não tenha sido esquecida, há uma certa ênfase nessa especificação “social” que reafirma o lugar da política no interior dos estudos históricos, ao mesmo tempo em que amplia este conceito de modo a permitir análises que extrapolam a tradicional referência ao Estado como relação primordial ou central que configurava os estudos de História Política. Leia Mais
The Unfinished Revolution: Haiti/Black Sovereignty and Power in the Nineteenth-Century Atlantic World | Karen Salt || Maroon Nation: A History of Revolutionary Haiti | Johnhenry Gonzalez
Onde reside a soberania haitiana? A questão é sempre urgente durante cada virada da espiral da história política haitiana, com suas crises e a consequente insistência na busca de “soluções” que eternamente pioram o problema que pretendem resolver. O que é difícil – mas necessário quando se fala da urgência do momento – é também encontrar, de alguma forma, um caminho para guiar nossas ações por uma compreensão da história profunda do agora. No Haiti, como em toda parte, mas nem sempre com a mesma intensidade, a tirania das rotinas interpretativas e das categorias sem saída limitam o presente, frequentemente nos impedindo de ver o que está bem em nossa frente. Leia Mais
They Were Her Property: White Women as Slave Owners in the American South | Stephanie E. Jones-Rogers
Mulheres frágeis e delicadas, dedicadas exclusivamente aos cuidados do lar, cujas ações estavam pautadas pela maternidade e que não se envolviam nos assuntos escravistas em consequência de seu gênero. Assim foram representadas as mulheres brancas do Sul dos Estados Unidos no antebellum (período anterior à Guerra Civil). O livro de Stephanie E. Jones-Rogers, Professora Associada do Departamento de História da Universidade da Califórnia, campus de Berkeley, contesta a difundida imagem das brancas sulistas como distantes do universo da escravidão, no tocante ao gerenciamento e disciplina da população cativa. O protagonismo dessas mulheres – seu envolvimento nas variadas esferas da escravidão – é escrutinada com detalhes, desfazendo o mito de que não se envolviam nos negócios escravistas. Não eram simples espectadoras, elas participavam ativamente do sistema, na administração, exploração e violência. Leia Mais
Dust Bowls of Empire: Imperialism/ Environmental Politics/ and the Injustice of “Green” Capitalism
El Dust Bowl que asoló varios estados del sur de Estados Unidos (Texas, Nuevo México, Colorado, Oklahoma y Texas) ha tenido diversas lecturas a lo largo de la historia y ha sido utilizado para justificar políticas sociales como el New Deal. En 1992, el historiador William Cronon analizó dos publicaciones de 1979 sobre el Dust Bowl, una de Donald Worster y otra de Paul Bonnifield, que partiendo del mismo tema y estando de acuerdo en los mismos hechos llegaban a conclusiones diferentes, demostrando que un conjunto de hechos podía dar lugar a varias narrativas. Este trabajo se hizo sin embargo desde una óptica regional sin considerar los antecedentes, y al igual que el de Lockeretz (1978), ignoró la violenta confrontación de los colonos, el estado estadounidense y las organizaciones privadas con las naciones indígenas. Holleman, en cambio, parte de un enfoque interdisciplinar, que vincula este desastre natural de raíces antrópicas con el proceso actual de Cambio Climático. Por esto, resulta interesante para profesionales de diversas áreas como historiadores, sociólogos, ambientalistas y politólogos. Leia Mais
The Mongols and the Islamic World: From Conquest to Conversion – JACKSON (THT)
JACKSON, Peter. The Mongols and the Islamic World: From Conquest to Conversion. New Haven, CT: Yale University Press, 2017. p. Resenha de: IGMEN, Ali. The History Teacher, v.52, n.3, p.527-529, may., 2019.
It is an intimidating if not impossible task to review Peter Jackson’s book, The Mongols and the Islamic World: From Conquest to Conversion. First and foremost, Jackson is one of the founders of the study of the Mongol, and Central Eurasian history in general. The second reason is the encyclopedic breadth of this book, which may be regarded as is an extensive accompaniment to his seminal 2005 book, recently published in second edition, The Mongols and the West. Jackson begins his book by referring to the new corrective scholarship that does not focus solely on the destructive force of the Mongol invasions with a clear statement that he is “concerned equally to avoid minimizing the shock of the Mongol conquest” (p. 6). He also acknowledges the superior siege technology of these “infidel nomads” as opposed to the urbanized societies of Central Eurasia (p. 6). His book tells the story of these infidel masters over the Muslim subjects, mostly from the view of the latter, especially because Jackson examines the role of Muslim allies, or client rulers of the Mongols. One of the main goals of this book is its emphasis on the Mongol territories in Central Asia as opposed to more extensively studied Jochid lands (the Qipchaq khanate or the Golden Horde) and the Ilkhanate. Despite this particular goal, Jackson makes sure we do not forget about Chinggis Khan’s offspring such as Qubilai Khan, who ruled lands as far away as China.
Jackson’s book investigates how the Mongols came to rule such large Islamized territories in such a short time. It also examines the sources, including the wars between Mongol khanates and the extent of destruction of the Mongol conquest, while describing their relationships between the subjugated Muslim rulers and their subjects. The introductory chapter on Jackson’s sources provides detailed information on the writings of mostly medieval Sunni Muslim authors along with two Shī’īs, refreshingly relying on those who mostly wrote in Persian and Arabic, including the newly discovered Akhbār-i mughūlan by Qutb al-Din Shīrāzī (p.145), as opposed to Christian and European travel accounts.
The book is divided into two parts: the first part explores the Mongol conquest to ca. 1260, and the second covers the period of divided successor states with an epilogue that elaborates on the long-term Mongol impact on the Muslim societies of Central Eurasia as late as to the nineteenth century. Although the intricate if occasionally dense first part on the conquest is necessary, educators like myself will find it most useful. It is intriguing to learn about the extent of interconnectedness of the conquered Muslim societies in Eurasia and their Mongol rulers, while understanding the limitations of commercial, artistic, and religious exchanges.
We also learn about the strategic regional Muslim leaders’ relations with the Mongol conquerors. The account of the evolution of the linguistic conversions makes the story even more fascinating. The negotiations between those local rulers who kept their thrones and the Mongol victors tell a more interesting story than the existing accounts of Mongol despotism. The case in point is Jackson’s discussion of the potential of Muslim women in gaining agency under the Mongol rule. Jackson’s analysis of the extent of the repressive laws and taxes provide possible new explanations of the Mongol rule. Furthermore, his analysis of the relationship between the Tājīk bureaucrats and the Mongol military seemed particularly enlightening to me, who is interested in the dynamics of civilian and military interactions. Jackson points out that “the fact that civilian and military affairs were not clearly differentiated added to the instability,” referring to the late thirteenth-century Ilkhanate era (p. 412). The final two chapters complicate the Islamization processes in the Mongol successor states, explaining the lengthy and sporadic nature of conversions.
Without giving away Jackson’s conclusions on Islamization, I can say that he provides a highly nuanced history that challenges any linear and teleological accounts of the Mongol conquest of the Islamic lands. In addition to the breadth and wealth of information, Jackson’s book is generous to the scholars of the Mongols, including younger scholars such as Timothy May. The mostly thematic character of the book results in a shifting chronology, which assumes that the readers possess some previous knowledge of this complex history. Most of the book provides an insight to the intricate history of Mongol politics in conquered lands. The exquisite maps, images, chronologies, and glossary make the book more legible to those readers who may pick it up without prior knowledge of this history. The particular military strategies, coupled with the political intrigue of the Mongols led to a fusion of Muslim, Mongol, and other indigenous cultures, not always destroying what existed before the conquest. Peter Jackson’s book is a worthy reflection of this sophisticated history that is suitable for advanced and graduate students and scholars who possess the basic knowledge of the Mongol conquest and Islamic societies and cultures of the region.
Ali Igmen – California State University, Long Beach.
[IF]
The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas 1776 – 1867 | Leonardo Marques
O tema do livro de Leonardo Marques é a participação dos Estados Unidos no tráfico atlântico de escravos entre a fundação da nação, em 1776, e o fim efetivo desse tráfico para a colônia espanhola de Cuba, em 1867. O livro origina-se da tese de doutorado defendida pelo autor na Universidade de Emory, em 2013. A participação norte-americana no tráfico se deu, em primeiro lugar, pelo fato, menos notado pela historiografia e pelo senso comum, de que os Estados Unidos foram o maior país consumidor de bens produzidos por escravos do século XIX (p. 9-10). Mas essa participação ocorreu também pelo envolvimento de traficantes, comerciantes, seguradores, financistas, construtores navais, capitães e marinheiros norte-americanos no tráfico para o próprio Estados Unidos, até 1808, para o Brasil, até 1850, e para Cuba, até 1867. Tal envolvimento foi tanto legal e aberto, até a abolição do tráfico para os EUA em 1808, quanto mais nebuloso, indireto e, eventualmente, ilegal após essa data. Marques trata ainda das atitudes e políticas implementadas pelo congresso e pelo governo federal norte-americanos a respeito do assunto ao longo desse período.
Com base em diversas fontes arquivísticas nos Estados Unidos, Brasil, Cuba e Grã-Bretanha, da análise dos dados disponíveis sobre o tráfico de escravos africanos no site Slavevoyages e da discussão com a literatura secundária, Leonardo Marques aborda seu tema em seis capítulos, além da introdução e da conclusão: a participação norte-americana no tráfico na era das revoluções, entre 1776 e 1808; o período de transição entre essa última data, em que comércio internacional de escravos tornou-se ilegal nos Estados Unidos, e 1820, quando a legislação contra o tráfico tornou-se mais rigorosa; a consolidação do comércio de contrabando internacional de escravos, entre 1820 e 1850, data da abolição efetiva do tráfico para o Brasil; a participação norte-americana no contrabando para o Brasil, entre 1831 e 1850. Os dois capítulos finais tratam das relações da república escravista com Cuba, entre 1851 e 1858, e da crise dessas relações e da própria escravidão norte-americana entre 1859 e 1867, data em que, finalmente, o tráfico foi abolido para a colônia espanhola.
O assunto não é novo, mas ainda é pouco explorado pela historiografia e só recentemente vem recebendo maior atenção. De acordo com Marques, as seguidas revisões historiográficas sobre a tese de W. E. B. Du Bois, The Supression of the African Slave Trade to the United States of America, 1638 – 1870, de 1896, que teria inflado os números sobre o comércio internacional de escravos para as Américas em geral e para os Estados Unidos em particular, subestimaram a participação indireta de cidadãos estadunidenses no tráfico. Assim como a tolerância, quando não a defesa, governamental em relação a essa participação (p. 7-10). Só essa “revisão da revisão”, por assim dizer, já recomendariam o livro aqui resenhado, além das novas informações que sua pesquisa traz. Mas, o mais importante é como Leonardo Marques realiza essa revisão, inserindo seu tema nos grandes fluxos e redes mercantis, culturais e políticas em escala mundial que ganharam nova forma e impulso no século XIX. Desse modo, sem que o termo seja empregado, pode-se dizer que se trata de um trabalho de História Global, novo invólucro – com importantes inovações, sem dúvida – para tratar de temas amplos que foram negligenciados pelas correntes historiográficas dominantes nos últimos trinta anos. Além disso, The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas adota a perspectiva, primeiramente desenvolvida por Dale Tomich, que considera a escravidão – e o tráfico atlântico – do século XIX como uma Segunda Escravidão. De acordo com essa visão, a escravidão e o tráfico do século XIX não foram uma sobrevivência dos tempos coloniais, mas reconfigurações ainda mais poderosas dessas mesmas instituições, que se desenvolveram em íntima conexão com a nova fase de desenvolvimento da economia e do mercado internacional capitalista e da nova ordem mundial regida pela formação dos Estados Nacionais sob hegemonia britânica.
Essa segunda escravidão nasceu sob impulsos contraditórios. Ela respondeu a um incremento substancial da demanda de determinados produtos – algodão, açúcar e café – ocasionado pelos processos de industrialização, urbanização e intensificação do consumo e do comércio internacional na Grã-Bretanha, em outras regiões da Europa e nos Estados Unidos. Tal incremento da demanda foi um dos fatores que propiciaram o desenvolvimento da escravidão em novas áreas no Sul dos Estados Unidos, em Cuba e no Brasil, especialmente no Vale do Paraíba. O tráfico de escravos, que, mesmo depois de ter sido declarado ilegal, aumentou seu volume conforme se expandia a demanda por bens produzidos por escravos, inseria-se em circuitos comerciais mais amplos que incluíam até mesmo bens produzidos por potências antiescravistas: mosquetes, tecidos e chumbo da Grã-Bretanha; tecidos e conhaque da França; tecidos, tabaco e rum dos Estados Unidos. O tráfico também estava inserido na estrutura financeira e comercial internacional com suas letras de câmbio, bolsas de valores e companhias por ações (p. 107). Finalmente, o tráfico era peça integrante do contexto mais amplo de relações das regiões escravistas entre si. É conhecida a presença econômica britânica no Brasil, mas os Estados Unidos não ficavam muito atrás. As relações entre Cuba e Estados Unidos eram intensas, ficando atrás apenas da Grã-Bretanha e França. Tudo isso mostra como as elites das três regiões escravistas estavam integradas no mundo do livre comércio (p. 109).
Paradoxalmente, nesse mesmo período, a escravidão e o tráfico passaram a ser globalmente contestados, em resultado dos desdobramentos diretos ou indiretos da campanha britânica pela abolição do tráfico internacional, datada das últimas décadas do século XVIII, da Independência Americana, da Revolução Francesa e da Revolução Haitiana. Nesse contexto, a defesa do livre comércio e o combate ao tráfico internacional de escravos foram pontos fundamentais na imposição da hegemonia britânica na ordem mundial que emergiu após 1815. Portugal, em seguida o Brasil e Espanha, nação soberana sobre a ilha de Cuba, como potências escravistas que dependiam do fluxo de escravos africanos para sua expansão, resistiram o quanto puderam à pressão britânica pela extinção do tráfico. Apesar de aceitarem formalmente a ilegalidade do tráfico africano em 1820 (império espanhol) e 1830 (Império do Brasil), continuaram praticando-o, em escala ainda mais ampliada, até 1850 (Brasil) e 1867 (império espanhol).
E quanto aos Estados Unidos? A partir dos dados levantados e analisados do site Slavevoyages – uma constante no trabalho – Leonardo Marques nos mostra que, entre 1783 e 1807, último ano em que o comércio de escravos africanos foi permitido para o país, traficantes norte-americanos transportaram pouco mais de 165 mil cativos africanos para a América, grande parte deles destinada ao próprio país. Esses traficantes, contudo, não eram provenientes de portos do Sul escravista, mas da região da Nova Inglaterra, especialmente Bristol e Newport (ambas em Rhode Island), evidenciando uma aliança entre o Sul e o Norte. A estrutura desse comércio era eminentemente nacional, em comparação com o esquema altamente internacionalizado que tráfico de contrabando adquiriu a partir da década de 1830 em diante. Traficantes, financiadores, seguradores, capitães, tripulações, praticamente tudo era doméstico. A proibição do tráfico, em 1808, respondeu ao temor do perigo que uma grande massa de africanos poderia representar ao país e atendeu os interesses das áreas escravistas mais antigas, onde a população escrava se reproduzia e crescia naturalmente, que poderiam substituir a oferta externa de cativos para as áreas em expansão (p. 96). Quebrava-se, desse modo, a aliança anterior entre Sul e Norte em torno do tráfico, substituída agora por um novo compromisso entre as duas regiões.
A participação norte-americana no comércio internacional de escravos, contudo, prosseguiu, principalmente através do financiamento do tráfico para Cuba, da venda de navios para traficantes espanhóis, da participação direta de capitães e marinheiros norte-americanos na atividade. Em 1820, uma nova legislação antitráfico foi aprovada, transformando a participação nesse comércio ilícito em crime de pirataria e, portanto, passível de pena de morte. Essa legislação selou o fim da estrutura negreira da Nova Inglaterra que havia florescido entre 1783 e 1808 e que sobrevivera daí em diante alimentando o tráfico para Cuba. A médio prazo, na medida em que o tráfico prosseguiu como contrabando para Cuba e Brasil, a legislação, de acordo com Marques, tornou-se “obstáculo insuperável às possíveis alianças entre as três potências escravistas da América em meados do século XIX” (p. 105)
Na década de 1830, todas as nações atlânticas haviam abolido formalmente o comércio internacional de escravos. Espanha e Brasil, os dois principais Estados nacionais importadores de escravos tinham assinado acordos bilaterais com a Grã-Bretanha que lhe asseguravam o direito de busca e apreensão de navios suspeitos de prática do ilícito comércio. Não é possível saber a dimensão que o tráfico de escravos africanos teria adquirido caso ele não tivesse sido declarado ilegal e esses acordos não tivessem sido firmados. O que sabemos, contudo, é que, mesmo assim, entre 1831 e 1850, data da proibição efetiva do tráfico pelo governo brasileiro, 387.966 africanos escravizados foram desembarcados em Cuba e 903.543 no Brasil (p. 110-11, 112, 123). O tráfico ainda prosseguiu para Cuba até 1867. No todo, entre 1820 e 1860, mais de dois milhões de escravos africanos, 20% do total desembarcado na América entre 1501 e 1867, foram trazidos para o Brasil e Cuba (p. 136).
A participação de cidadãos e companhias norte-americanos nesse tráfico foi significativa. Até 1820, de forma direta, como mencionado acima. A partir dessa data, de maneira mais indireta. Capitães e marinheiros estadunidenses, mas também de outras nacionalidades, inclusive britânicos, participavam do tráfico. Como o governo norte-americano só firmou uma convenção de busca bilateral de navios suspeitos de tráfico com a Grã-Bretanha em 1862, navios com sua bandeira ficavam mais protegidos da fiscalização e da repressão britânicas. Muitos navios norte-americanos transportavam produtos que seriam trocados por escravos até a costa africana. Lá esses produtos eram vendidos a traficantes e os navios voltavam para os portos americanos apenas com lastro. Ou ainda, os navios eram vendidos ou fretados para traficantes, que os utilizavam, com ou sem a bandeira estadunidense, para transportar os cativos para a América. Companhias norte-americanas vendiam e fretavam navios para traficantes, como a firma Maxwell, Wright & Co., principal exportadora de café do porto do Rio de Janeiro, que manteve essa prática até o início da década de 1840, quando foi pressionada, por representantes diplomáticos de seu país junto ao governo imperial, a cessar essa atividade. Traficantes, frequentemente, lançavam mão das bandeiras dos Estados Unidos, mas também de outros países, como França e Sardenha, para encobrir suas atividades. De qualquer modo, a principal contribuição estadunidense para o tráfico internacional de escravos se deu pelo fornecimento da maioria dos navios utilizados nessa atividade, principalmente no período de contrabando. Entre 1831 e 1840, pouco antes do acordo Webster-Ashburton, entre Grã-Bretanha e Estados Unidos, que intensificou o combate ao tráfico por parte do governo deste último país, navios construídos nos Estados Unidos realizaram 1.070, ou 63% de todas as viagens de contrabando de escravos nesse período, e transportaram 422.453 escravos africanos para Brasil e Cuba.
No que diz respeito especificamente ao Brasil, Marques contesta a ideia esposada por muitos historiadores, como Seymour Drescher, de que o transporte de metade dos africanos desembarcados no país entre 1831 e 1850 teria sido feito, por via direta ou indireta, por norte-americanos. Estes historiadores estariam seguindo a avaliação feita nesse sentido pelo representante do governo norte-americano no Brasil em 1850, David Tod. O problema é que nesta avaliação estão desde a venda e a transferência legal de navios para traficantes até a participação direta de capitães no embarque na África. Enquanto essa última forma constituía claramente uma violação das lei antitráfico, as outras formas ocorriam na zona cinzenta que conectava atividades comerciais legítimas com o tráfico. O fato é que, entre 1831 e 1850, 58,2% dos desembarques de contrabando para o país, transportando 429.939 escravos africanos, foram realizadas em navios fabricados nos Estados Unidos. Navios fabricados no Brasil, por sua vez, fizeram 15,4% dessas viagens e transportaram 113.569 cativos. Outros 26,4% das embarcações eram de outras procedências e transportaram 194.600 africanos. Talvez por isso, alguns historiadores tenham considerado, erroneamente, segundo Marques, que os norte-americanos mantiveram-se à frente do tráfico para o Brasil. Na verdade, brasileiros e portugueses controlavam o comércio de contrabando de escravos para o país (p. 141-43). Finalmente, ao considerar esses dados, não se deve perder de vista que os Estados Unidos eram o principal fornecedor de navios para o comércio internacional como um todo. Assim, não seria surpreendente que a maioria das embarcações empregadas no tráfico também tivesse essa mesma proveniência.
Do ponto de vista político, Marques assinala que o governo norte-americano e seus diversos representantes diplomáticos no Brasil entre 1831 e 1850 mostraram-se hesitantes em relação ao tráfico, ora o combatendo com veemência, ora fazendo vistas grossas. Essa hesitação e a resistência do governo estadunidense em assinar uma convenção antitráfico com a Grã-Bretanha não seriam, primordialmente, um sinal da predominância dos interesses escravistas do Sul junto ao governo federal. Respondiam mais a disputas geopolíticas com a Grã-Bretanha e a convicções, relativamente ocasionais, sobre o papel dos Estados Unidos na região em relação ao Império do Brasil e ao tráfico internacional. De qualquer forma, ele conclui que mesmo se uma eventual permissão de revista mútua nos navios suspeitos de tráfico entre Estados Unidos e Grã-Bretanha tivesse ocorrido em 1842, e não em 1862, como de fato aconteceu, isso não teria feito diferença significativa nos números do tráfico de contrabando para o Brasil (p. 183).
Em relação a Cuba, a constatação é inversa. A participação norte-americana no tráfico – e na própria escravidão, com diversos cidadãos sendo donos de plantation na ilha – foi muito maior, principalmente a partir da década de 1850. Um número maior de navios e de capitães estadunidenses participaram do contrabando para a colônia espanhola. A bandeira norte-americana também foi mais empregada na atividade. Navios com bandeira estadunidense, em 20 viagens de 97, transportaram 10.528, ou 20,4% de um total de 51.628 africanos escravizados trazidos para Cuba entre 1851 e 1854. Entre 1855 e 1858, os números quase triplicaram. Embarcações com a bandeira norte-americana trouxeram 33.134, ou 67,45%, dos 49.167 africanos traficados para Cuba, em 61 de um total de 90 viagens. Traficantes portugueses e espanhóis com representações nos Estados Unidos controlavam o tráfico para a colônia espanhola. Mas, o ponto principal da participação norte-americana no tráfico de contrabando para Cuba era de natureza política. O peso norte-americano no tráfico, sua presença em plantations na ilha e a pequena distância entre Cuba e o Sul fizeram com que o governo estadunidense servisse como poderoso anteparo à intervenção britânica na repressão ao tráfico para Cuba. A proximidade geográfica com o Sul dos Estados Unidos, assim como a forte presença de interesses norte-americanos diretamente na colônia espanhola, por sua vez, traziam sempre a ameaça de anexação da ilha à república. Possibilidade que a Grã-Bretanha buscava evitar não minando completamente a autoridade espanhola na colônia. Nessa situação, as autoridades espanholas equilibravam-se em uma corda bamba no jogo geopolítico entre Estados Unidos e Grã-Bretanha (p. 191).
De todo esse panorama, traçado com maestria pelo historiador brasileiro, emerge um quadro complexo que enriquece nosso conhecimento sobre as relações entre escravidão, tráfico e capitalismo no século XIX. Isso não de um ponto de vista teórico, mas a partir das relações concretas entre as classes, elites e governos nacionais que protagonizaram essas relações. Emerge também a constatação do papel central dos Estados Unidos nesse cenário e o significado da Guerra da Secessão como ponto de virada na sorte da escravidão naquele país, mas também em Cuba e no Império do Brasil.
Esperamos que a tradução do livro para o português, imprescindível para o estudioso da escravidão do século XIX, venha logo.
Ricardo Salles – Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (2011). Publicou diversos livros, entre eles Nostalgia Imperia: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado. É professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). E-mail: ricardohsalles@gmail.com
MARQUES, Leonardo. The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas, 1776 – 1867. New Haven: London: Yale University Press, 2016. Resenha de: SALLES, Ricardo. Capitalismo, Estados Unidos e o tráfico internacional de escravos no século XIX. Almanack, Guarulhos, n.17, p. 486-493, set./dez., 2017. Acessar publicação original [DR]
The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas | Leonardo Marques
Resenhista
Dale T. Graden – Universidade de Idaho. E-mail: Graden@uidaho.edu Leia Mais
How to Change the World: reflection on Marx and Marxism | Eric Hobsbawm
Nesse último livro de Eric Hobsbawm, antes de sua morte, o historiador inglês aborda um tema muito caro para ele: Marx e o(s) marxismo(s). O livro é uma coletânea de textos escritos entre 1956 e 2009 sobre o impacto do pensamento de Marx depois de sua morte em 1883, portanto não é uma história do marxismo no sentido usual. Hobsbawm procura demonstrar como o pensamento de Marx ainda é importante para nos ajudar a compreender o mundo atual e o século XXI. O livro se divide em duas partes, sendo que a primeira (8 capítulos) aborda Marx e Engels e a segunda (8 capítulos) aborda o marxismo pós-Marx, discutindo apenas Antônio Gramsci especificamente.
O primeiro capítulo intitulado ‘‘Marx Hoje’’, Hobsbawm discute como Marx ainda é relevante hoje e que não pode ser visto como um ‘‘homem de ontem’’ nem ser relegado à lata de lixo da História. O autor apresenta como Marx era interpretado ao longo do século XX com base em três fatos: a divisão entre países em que a revolução era possível e estava na agenda de certos partidos e outros em que não estava; a bifurcação da herança marxista entre revolucionários e reformistas; e o colapso do capitalismo do século XIX pela ‘‘Era da Catástrofe’’ (o período entre as duas Guerras Mundiais). Com o colapso da URSS, em 1991, o marxismo ficou desacreditado, mas o autor salienta como Marx ainda tem força nos aspectos de pensador econômico, historiador e analista social (vale lembrar que Marx é tido como um dos pais da Sociologia). Leia Mais
The Euro: The battle for the new global currency | David Marsh
Ainda sem tradução para o português, o livro The Euro: The battle for the new global currency, de David Marsh, se apresenta como mais uma obra lançada no calor da crise que abala os países da Zona do Euro. Porém, não é apenas mais uma obra sobre o assunto que trate de teorias sobre finanças ou mercados. Pelo contrário, o livro tem uma interessante proposta de análise histórica dos eventos relacionados à criação da moeda europeia e da crise que atinge as nações que a adotaram.
O autor, David Marsh tem larga convivência com o assunto, como articulista do jornal Financial Times desde 1978, colecionando fatos que ajudaram a dar substância ao livro. Leia Mais
Churches in Early Medieval Ireland: Architecture, Ritual and Memory | Tomás Ó Carragáin
This book emanates from a doctoral thesis completed in 2002 by Tomás Ó Carragáin. He is currently a lecturer at the Department of Archaeology, University College Cork, Ireland. It is a very elegant edition, printed on large pages, it literally looks like a History of Art book due to the many beautiful photographs it contains of the early Irish churches and their surrounding landscapes. It would be a suitable adornment for any coffee table. The contents can equally interest archaeologists, historians, historians of art, and even well informed tour guides in Ireland who want to gather information about particular sites. Its Appendix provides a descriptive list of Irish PreRomanesque Churches and its bibliography is very useful for both historians and archaeologists of early Christian Ireland. The fact that the notes have been published as endnotes rather than footnotes, while enhancing the visual attractiveness of the text, renders them rather unhelpful to the reader; particularly because the full reference of the works are not given in the notes. Consequently, every time the reader wants to check a reference it is necessary to look up the notes at the end and the bibliography, turning a huge volume of large heavy pages in the process.
Ó Carragáin’s study is about the pre-Romanesque churches built in Ireland from the arrival of Christianity in the island in the fifth century to the early stages of the Romanesque style around 1100 [1]. Therefore, far from being simply an exhaustive descriptive work of churches and monasteries and their respective architectures, or of excavation reports, it provides some interesting and updated analysis of the usage of those religious sites, analysing its social and political associations. The chosen structure for the book is both chronological and thematic. Consequently, I found it easy to follow the arguments. In the process, the author has crafted a fruitful balance between the material culture and the textual historical evidence.
In the first part of his Introduction he locates his work within a historiographical framework in which he discusses previous writings and interpretations of these churches’ architectures. An interesting aspect of this work derives from how he positioned himself in the middle-ground when discussing whether Ireland was an odd place in the Middle Ages or whether it was completely in line with other European countries and its movements [2], in terms of its art and architecture style, aspects of Christianity and it’s politics. He concluded that Ireland is not completely different from the rest of Western Europe but as differences are realities ‘they are often more revealing than similarities’ (p. 8). I do not agree entirely with that sentence, as such a determination depends on the focus and aims of a given piece of research. In many cases the study of similarities could provide lots of interesting insights. Even though, in this particular book we are offered an equilibrated use of comparative observations between Ireland, England and the Continent identifying both disparities and similarities.
In his discussion on early Irish Church organization, he has tended to agree with recent studies which argue that the Church did not suffer cycles of corruption and reform but experienced continuity throughout the period. This perspective departs from an older orthodoxy that the Irish Church in Patrick’s time was based on an episcopal model which was superseded by a monastic model. He agrees that the highest rank of churches were multi-functional and that the Irish church settlements, especially the bigger ones, such as Clonmacnoise, Glendalough, Kildare, and Armagh, were in fact episcopal-monastic centres rather than purely monasteries [3], thus both bishops and abbots were important figures in these contexts (p. 9).
In chapter one, “Opus Scoticum: Churches of Timber, Turf and Wattle”, (p. 15‒47), he analyses the architectural structure of the churches made with these materials. Most of the churches built before c. 900 were probably not made of stone, and certainly after this period these materials were used as well as stone to build churches. Ó Carragáin has acknowledged that little is known archaeologically about them. His argument in that informs the entire book. It is that some of these churches were modelled according to a Romano-British style; while others were designed to allude to the tomb of Christ in Jerusalem. So, they were read by the Irish literati [4] as representations of the Jerusalem temple and were associated with their founding saints. Subsequently, its quadrangular form was monumentalized by the Irish who in later periods keep this style relinquishing any search for other complex types of buildings.
The very short chapter two, “Drystone Churches and Regional Identity in Corcu Duibne”, (p. 48‒55), as the title suggests, is about the drystone type of churches which are only found in the south-west area of Ireland, (facing the Atlantic), area of Co. Kerry, as shows on maps 1 and 4. They date from the eight century onwards and are not found elsewhere. It used to be believed that they were a step in an evolutionary typology of the double-vaulted roof, a theory disregarded by Ó Carragáin. He suggests that 86% of such churches are distributed on the Iveragh peninsula and western end of the Dingle peninsula, regions which formed the early medieval kingdom or Corcu Duibne. The other 14% is spread around the Corcu Duibne’s domains. He concludes that those churches positioned within the Corcu Duibne area should not be understood as a material strategy of differentiation representing their association with St. Brendan the Navigator’s cult, because the Corcu Duibne geographical area was dedicated to a number of other saints. Nevertheless, the other sparsely located churches may be evidence of St. Brendan’s cult expanding beyond the immediate Corcu Duibne area. Though his interpretation is based on some previous works but the claim is underdeveloped, while this may be because there are not enough archaeological or textual sources to support the claim, thus it remains rather speculative rather than warranted by available evidence.
Chapter Three, “Relics and Romanitas: Mortared Stone Churches to c. 900”, (p. 57‒85), is about the important sites where mortared stone churches were built during the eighth and ninth centuries while most of the other churches were still being built with other materials. They constitute symbolic architecture and therefore, symbolic places. For the sacrality of those sites he returns to some discussions developed by some scholars, especially by Charles Doherty and Nicholas Aitchison whose work avails of concepts from comparative religion. His argument is that the first large stone church built in the eight century in Armagh, was associated with the ideal of Romanitas [5], as an imitatio Romae. While the other early stone churches built at other important religious centres, Iona and Clonmacnoise, were inspired by biblical cities of refuge, such as, Jerusalem, and in particular with the Jerusalem temple, and with the Holy Sepulchre Complex, carrying the ideal of imitatio Hierusalem. In these sites a novelty was also built, little shrine-chapels, where the remains of the dead founder saints were deposited. They were usually built on top of the original tombs of the saints, but some saint’s remains may had been transferred to shrine-chapels. From a political perspective, it appears that the construction of these stone churches had been supported by local kings thus contributing to the rivalries among these churches and their prominence in Ireland. The positioning of these sites on the landscape and their architecture carried cosmological value, as centres of the world, or microcosms.
In the following chapter, “Pre-romanesque churches of mortared stone, circa 900‒1130: form, chronology, patronage”, (p. 87‒142), Ó Carragáin has described their form, their distribution in the country and the involvement of kings in commissioning the earlier ones. In Chapter 5 “Architecture and Memory”, (p. 143‒166), he discusses the concept of social memory and analysed it in the Irish context in order to comprehend the conservative form of these churches. Tension between continuity and change within a building tradition is analysed and associated with the disconnection between immutable form and mutating social context, revealing conscious manipulation of the past in order to suit the needs of the present. In the construction of this argument he accessed a study of a Chinese village in the second half of the twentieth century, as a mode of comparison. Within this logic he observes a preoccupation with the past as expressed through the medium of medieval art. He highlights that from c. 900 onwards Ireland was suffering political, economic, social and military changes which stimulated among the Irish literati a desire to preserve the past, and this was reflected in the conservatism of the churches and the style in which they were built by the early saints. He affirms that “like the historical writing of the tenth to twelfth centuries, the stone churches were intended to make the past continuous with the present”, (p. 149).
“Architecture and Ritual” is the theme of the chapter 6, (p. 167‒214) and here the author searches the material for evidence of the nexus between the architecture of these sites and the ritual enacted on them. As part of this process, he attempts to observe how Mass, consecration ceremonies, baptism, and processions were celebrated. In Chapter 7, “Sacred cities and pastoral centre after 900”, (p. 215‒234), he continues to explore the usage and function of these churches. He opens the chapter by returning to the discussion as to whether or not the big church groups such as Armagh and Clonmacnoise were simply monasteries or cities. In Latin hagiography, the Irish scholars have referred to these sites as civitates, locus and monasterium, (p. 216). Based on Doherty’s and Bradley’s arguments, Ó Carragáin seems to agree that these ecclesiastical sites experienced substantial nucleation. Here the author returns to Cólman Etchingham’s argument that these sites varied in function and affirms that the archaeological evidence supports it. The early Irish churches, although all built in the same quadrangular format, served different purposes. According to him, the term “monastery” is not the most useful one to describe these sites, and posits that “episcopal-monastic centres” or simply civitas may more accurately reflect their multiplicity of functions (p. 216‒217). Although he explains the particularity of what the term civitas meant for the Irish, I consider that since this term is often associated with the Roman concept and structure of civitas and the episcopal centres later developed in them, the term “episcopal-monastic centres” seems most appropriated for the Irish context.
The study of pastoral care in Ireland is a field which continues to require further study and this work is an exciting contribution to the subject. A very interesting argument developed in this seventh chapter is that church sizes cannot be directly associated with the number of people frequenting them, as many factors may have influenced the size of the churches built in the early middle ages. Therefore, little churches may have had a considerable amount of people sharing the space, while bigger churches may have not been filled with people. This means that it is hard to know with certainty the number of dependents of a given church.[6] Therefore, he argues, the amount of small churches built in Ireland may indicate that a larger number of lay people had access to pastoral care than had been thought previously. Because it was believed that only monasteries provided pastoral care, it used to be supposed that the majority of society did not have access to it. However, he argues differently that “because the power structures in Ireland were relatively diffused, a higher proportion of the lay population were entitled to found their own churches”, (p. 226). Consequently, he agrees with recent historians such as Richard Sharpe that, because of this, Ireland may have experienced in the early Middle Ages one of the best structures of pastoral provision in Northern Europe (Blair, J.; Sharpe, R. 1992: 109).
In chapter 8, “Architecture and Politics: Dublin and Glendalough around 1100” (p. 235‒253) he analyses the building of churches in these two sites with Romanesque influences. In this and the following chapter, “Relics and Recluses: Double-vaulted Churches around 1100” (p. 255‒291), he develops a model for the relationship between three phenomenon: architecture, politics and reform. These new style of churches were used to fulfil certain functions, but they were still associated with previous church models discussed throughout the book and also with the past, but with a particular view of this past, as emphasized in his epilogue “social memory is as much about forgetting as it is about remembering”, (p. 302). This interpretation of the Irish church architecture as modelled according to a social memory construct based on a reading of the past situates this work within the field of History of Memory, and therefore, very much in tune with a new trend within Cultural History which has been increasingly explored since the 1970s [7].
In general, Churches in Early Medieval Ireland is an impressive work with considerable potential to contribute to understanding the history of the churches built in Ireland during the Middle Ages, to the motivations behind their erection and to their social function. Many important satellite discussions and arguments around these issues were considered en route by the author and these intellectual detours have provided evidence that enabled him to support or disregard some of his central theses. Whether one agrees or disagrees with Ó Carragáin postulations, this book is definitely indispensable reading material for the researcher of early Christian Ireland engaged in the different fields, archaeology, history, history of art [8].
Notas
1. The author has explained that the term pre-Romanesque church is used for churches without Romanesque features, but it does not necessarily mean that all of these churches predate the arrival of the Romanesque in Ireland. After the construction of the first Romanesque church (c. 1080‒1094) preRomanesque churches were still been built for another half century, (p. 8), and the Romanesque buildings were expressions of the Gregorian reform movement, (p. 235).
2. To follow these discussions Ó Carragáin has suggested: Thomas, 1971; Hughes, 1973; Wormald, 1986; Brown, 1999.
3. For the discussions on the conflict of episcopal and monastic models see: Hughes, 1966; 1972; 2008. For the opposition to this view and updated studies on the subject: Sharpe, 1984; Blair e Sharpe, 1992, in particular Sharpe’s article in this work; Etchingham, 1991; 1993; 1994; 2002; Kehnel, 1997: 28‒46; Charles-Edwards, 2000: 241‒281; Blair, 2005: 43-49;73‒78; Foot, 2006: 265‒268.
4. Ó Carragáin did not define what he is undestanding by the term literati but it has been defined by Bart Jaski as: “a term used in a general sense to refer to those men of learning engaged in composing and writing literary matter, without implying that they formed a uniform body”, p. 329.
5. The concept of Romanitas is also not directly defined, but it is understood in the context. He puts it in terms of opposition such as “in the Roman manner” versus “wooden churches” or “in the Irish manner”, affirming that this dichotomy is evident in Bede’s Historia Ecclesiastica, it seems that in Bede’s opinion a Roman style of church was one built with stones, (p.60‒66).
6. He also supported this argumentation in an article published after the completion of his thesis but before its publication in the book format: Ó Carragáin, 2006: 114.
7. For discussions on this field see Innes, 2000: 6
8. I am thankful to Professor Ciaran Sugrue (UCD) for reading a draft of this review and providing me with some corrections and helpful observations. Therefore any inaccuracy is of my own responsibility
Referências
BLAIR, J. The Church in Anglo-Saxon society. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005.
_____; SHARPE, R. (Eds.) Pastoral Care Before the Parish Leicester, London and New York: Leicester University Press, p.298ed. 1992.
BROWN, P. A Ascensão do Cristianismo no Ocidente. Tradução de NOGUEIRA, E. Lisbon: Editorial Presença, 1999. (Construir a Europa). This has originally been published in English: BROWN, P. The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity. Cambridge: Blackwell, 1996. (The Making of Europe).
CHARLES-EDWARDS, T. M. Early Christian Ireland. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
ETCHINGHAM, C. Bishops in the Early Irish Church: A Reassessment. Studia Hibernica, n. 28, p. 35-62, 1994.
_____ Church Organization in Ireland A.D. 650 to 1000. 2nd. ed. Maynooth: Laigin Publications, 2002.
_____ The Early Irish Church: Some Observations on Pastoral Care and Dues. Ériu, v. 42, p. 99-118, 1991.
_____ The Implications of Paruchia. Ériu [S.I.], v. 44, n. A, p. 139-162, 1993.
FOOT, S. Monastic Life in Anglo-Saxon Englan, c. 600‒900. Cambridge: Cambridge University Press 2006.
HUGHES, K. Early Christian Ireland: Introduction to the Sources. The sources of History Limited and Hodder and Stoughton Limited 1972. (The Sources of History: Studies in the Uses of Historical Evidence).
_____ Sanctity and secularity in the early Irish Chruch. In: BAKER, D. (Ed.). Studies in Church History. New York, 1973
. _____ The Church in Early Irish Society. London: Methuen & Co. Ltd, 1966.
_____ The Church in Irish Society, 400‒800. In: Ó CRÓINÍN, D. (Ed.). A New History of Ireland: Prehistoric and Early Ireland. Oxford: Oxford University Press, 2008. Cap.ix. p. 301-330. (A New History of Ireland).
INNES, Mathew “Introduction: Using the Past, Interpreting the Present, Influencing the Future”. In: INNES, M.; HEN, Y. (eds.) The Uses of the Past in the Early Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. p. 1‒8.
JASKI, Bart. “Early Medieval Irish Kingship and the Old Testament.” Early Medieval Europe 7 (1998): 329‒44.
KEHNEL, A. Clonmacnois— the Church and Lands of St. Ciarán: Change and Continuity in an Irish Monastic Foundation (6th to 16th Century). Münster: Lit Verlag, 1997. (Vita Regularis: Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter).
Ó CARRAGÁIN, T. Church Buildings and pastoral care in early medieval Ireland. In: FITZPATRICK, E.; GILLESPIE, R. (Ed.). The Parish in Medieval and Early Modern Ireland. Dublin: Four Court Press, 2006. p. 91‒123.
SHARPE, R. Some problems concerning the organization of the church in early medieval Ireland. Peritia, v. 3, p. 230‒270, 1984.
THOMAS, C. The early Christian archaeology of North Britain. London, 1971.
WORMALD, P. Celtic and Anglo-Saxon kingship: some further thoughts. In: SZARMACH, P. E. (Ed.). Sources of Anglo-Saxon Culture. Kalamazoo, 1986.
.Elaine C. dos S. Pereira Farrell – PhD scholar University College Dublin (UCD). Funded by the Irish Research Council for Humanities and Social Sciences (IRCHSS). Laboratório Interdisciplinar de Teoria da História, Antiguidade e Medievo (LITHAM). Translatio Studii—Núcleo Dimensões do Medievo. E-mail: elainecristineuff@hotmail.com Elaine.pereira-farrell@ucdconnect.ie
Ó CARRAGÁIN, Tomás. Churches in Early Medieval Ireland: Architecture, Ritual and Memory. New Haven and London: Yale University Press, 2010. (Paul Mellon Centre for Studies in British Art Series). Resenha de: FARRELL, Elaine C. dos S. Pereira. Early Irish Churches: form and functions. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.11, n.2, p. 85-90, 2011. Acessar publicação original [DR]
How to Read Greek Vases | Joan R. Mertens
A atual curadora do departamento de arte grega e romana do Metropolitan Museum of Art de Nova York – Joan R. Mertens – é uma renomada especialista em estudos centrados na utilização e interpretação de objetos provenientes da cultura material greco-romana como documentos históricos. Toda essa trajetória de pesquisa torna-se evidente ao observarmos a longa lista de artigos, livros e coletâneas publicados pela autora debruçando-se sobre tais temáticas, destacando-se Greek Bronzes in the Metropolitan Museum of Art (1985), Greece and Rome (1987), Greek Art from Prehistoric to Classical: A Resource for Educators (2001), Silent Witnesses: Early Cycladic Art of the Third Millennium BC (2002) e Art of the Classical World in The Metropolitan Museum of Art: Greece o Cyprus o Etruria o Rome (2007).
How to Read Greek Vases é o segundo livro de uma série produzida pelo Metropolitan Museum of Art de Nova York, com o objetivo de levar a conhecimento do grande público obras de arte relacionadas a cada uma das coleções do museu, procurando evidenciar que o apelo estético de tais objetos está aliado ao seu valor intrínseco como portadores de mensagens, sendo de tal forma registros históricos e culturais.1 Para tanto, a série se baseia na dupla premissa de utilizar apenas imagens coloridas (de vários ângulos) dos artefatos apresentados – valorizando o aspecto sensorial – e ao mesmo tempo, a partir da palavra read (ler) – apontando as descrições e análises dos possíveis significados das decorações de tais objetos como elementos de comunicação entre os indivíduos das sociedades em que foram confeccionados. Leia Mais
The Familiarity of Strangers. The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period – TRIVELLARO (LH)
TRIVELLARO, Francesca. The Familiarity of Strangers. The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period. New Haven: Yale University Press, 2009. Resenha de: TAVIM, José Alberto R.S. Ler História, n.58, p. 235-235, 2010.
1 Em 1964 Susan Sontag escreveria um ensaio subversivo (para muitos), que designaria «Contra a interpretação». Nele considerava que a função da crítica de arte devia ser «mostrar como é o que é, ou mesmo que é o que é, em vez de mostrar o que significa»1.
2 De facto, é difícil não considerar esta obra como uma pièce d`art, inclusivamente quando Aron Rodrigue opina «This is a superb and sophisticated book…». O livro está escrito de uma forma aliciante, e estruturado quase artisticamente, interpretando a enorme e diferente massa documental de uma forma inteligente, até porque convence o leitor. De qualquer forma, tal não significa que seja de leitura fácil, pois o leitor passa por assuntos de teor diferente, de capítulo para capítulo, enunciados de forma densa.
3 Então a questão fundamental é que parece uma pièce d`art do ponto de vista da escrita e da complexa estruturação interna mas trata-se objectivamente de um livro de História, melhor, de histórias, que Francesca Trivellato tenta entrelaçar, como está espelhado no título. Daí podermos avançar para «o que é» e lançar hipóteses sobre «o que significa».
4 É uma obra essencialmente sobre Cross-Cultural Trade partindo da análise da documentação de uma firma judaica de Livorno no século XVIII? Não. O que a autora pretende explicitar de uma forma incisiva é que não devemos deixar de contextualizar muito cuidadosamente os nossos objectos de estudo, nomeadamente quando se utiliza um conceito que nasceu depois da pós-modernidade. Quando o livro se fecha e vemos o falhanço destas poderosas famílias de mercadores judeus de Livorno – os Ergas e os Silveras – por causa de um grande diamante não vendido ficaremos para sempre alerta sobre o uso anacrónico de determinada terminologia, como a de «firma judaica». Trata-se portanto de um livro cheio de preciosismos técnicos e de contextualizações que se espraiam ao longo de dez capítulos. Entre estes destacamos a introdução metodológica e historiográfica, que remete para os paradigmas destes estudos, como os de Philip Curtin e seus críticos; o capítulo com informação actualizadíssima sobre a complexa diáspora sefardita e sua prática negocial, nomeadamente no Mediterrâneo, uma área esquecida, como salienta Francesca, para o século XVIII, face ao desabrochar das potências do Norte, como os Países-Baixos e a Inglaterra; o tratamento das formas de transacção económica dentro da comunidade que acompanham intrinsecamente as transacções sociais que eram o casamento, o dote, entre outros; o acento na heterogeneidade das redes comerciais dos Ergas e Silveras, que abarcavam outros sefarditas, conversos, italianos e até hindus de Goa; a exploração temática do complexo comércio de troca entre o coral mediterrânico (com magníficas imagens da época sobre o processo da sua extracção) e os diamantes da Índia, e sobre os agentes envolvidos; e finalmente, como já foi referido, a tragédia final do grande diamante, nunca vendido e que arruinou os esforços de investimento das duas famílias de Livorno.
5 Pessoalmente encontrei a solução para questões que colocava há muito e para as quais não encontrava resposta satisfatória. Por exemplo, para o facto da diáspora dos Arménios, por comparação, atingir uma densidade humana e geográfica mais limitada no Ocidente. Por outro lado, a exploração da etiqueta nas letras dos mercadores, como factor de solidificação e controle social, mesmo fora do ethos judaico, era uma temática que esperava ser tratada há muito tempo e que aqui é focada magistralmente.
6 O que significa esta obra? Que a História Económica e Social não será a mesma, sobretudo para quem não está interessado na temática da Diáspora Judaica. Passo a explicar: para quem está interessado na temática da Diáspora Judaica e se mantém actualizado, já há muito que explora esta matéria vasta tendo em conta a diversidade das conjunturas, a heterogeneidade social dos parceiros, os jogos institucionais e culturais da credibilidade, e sobretudo sabe que a História Económica e Social da Diáspora Sefardita é não só indissociável da complexa História Cultural das várias comunidades, como também lhe é intrínseca: por isso, a detalhada e excelente obra de I.M. Bloom, The Economic Activities of the Jews of Amsterdam2 está datada, e o livro de Jonathan Israel, Diasporas within a Diaspora3, passou a ser referente. De qualquer forma, até porque nesta obra, como a autora assume, se trata de um estudo de caso como partida para uma História Global, a eficácia do caminho epistemológico acima enunciado está facilitado.
7 Quem não pretende estar interessado na temática da Diáspora Judaica porque chega a negar uma especificidade face à clássica História Económica e Social, que comporte a necessidade epistemológica de uma área científica designada Estudos Judaicos ou similar, ficou ultrapassado. Quem ler a obra de Francesca Trivellato tomará consciência que é caricato, em termos académicos, esgrimir hoje considerações científicas contra uma Historiografia Portuguesa – até Lúcio de Azevedo – que pretendia demonstrar a equivalência entre modernismo negocial e exclusividade étnica, que em alguns casos assentava em considerações eugénicas. Essa historiografia e outra devem ser devidamente contextualizadas e Francesca Trivellato demonstrou que estes cientistas sociais devem isso sim estar suficientemente actualizados para compreender o funcionamento cultural das relações internas de cada grupo em questão, no sentido de apreenderem as matizes das relações que entre eles se mantinham. Lucubrar acerca das potencialidade positivas de um grupo, no sentido de demonstrar que afinal, per se, ocupava um espaço económico-social de excelência outrora atribuído unicamente a um outro (por exemplo, o dinamismo dos mercadores cristãos-velhos face ao dinamismo dos mercadores cristãos-novos e judeus), transforma-se num empreendimento tão relativo como evidenciar parcerias, mesmo sem insistir que afinal nestas o peso de um grupo (por exemplo, os cristãos-novos) era menor do que se pensava. Com esta obra entendeu-se que era imprescindível, no âmbito da História Económica e Social, compreender o contexto social em que o grupo actuava, quais as potencialidades e limites da especificidade de actuação económica e social dos seus membros, dentro e fora da comunidade, e como tentavam lidar com as suas limitações e possibilidades, num determinado contexto, para rentabilizar as suas actividades junto de outros grupos, que no caso dos Ergas e Silveras, viviam em Amesterdão, no Médio Oriente e até na longínqua Goa – algo que o estudo social de um grupo utilizando com singularidade o cosmopolita conceito de elite tornaria redutor. Numa posição oposta, e perante o desfecho do diamante, seria até absurdo considerar, como ainda hoje se assiste em algumas paragens, que a atitude essencialista de mostrar a positividade de um determinado grupo, face a forças consideradas opressivas, é um trabalho de cidadania.
8 Pelo contrário, quando acabamos a leitura desta obra, ficamos com a sensação que da operacionalidade sobre a matéria apurada surgiu um objecto maior que transcende a História dos Ergas e dos Silveras (cheguei a esquecer-me deles em algumas páginas da obra): a da densidade social e cultural que preside a qualquer contrato económico, dificilmente observada na estrita História Económica – por vezes da Globalização avant la lettre – das formas de circulação dos produtos, do capital, do crédito, dos preços, etc. Assim, a História Económica Social torna-se Humana, ou seja o homem torna-se o seu principal objecto, e não o produto ou o gráfico. Ou parafraseando Hanna Arendt: «É com palavras e actos que nos inserimos no mundo humano»4. E qualquer transcendência interpretativa de teor económico, cultural ou até de transgressão política (caso da cidadania) fica verdadeiramente mais limitada.
9 Resta acrescentar algumas sugestões. Como é frequente para estudos de períodos mais tardios do Antigo Regime, falta alguma retrospectiva que tornaria este caso de Cross-Cultural Trade menos singular, sobretudo envolvendo judeus e o Oriente, e que provavelmente o incluiria numa tradição secular bem visível na relação entre Portugueses e grupos até de muçulmanos no espaço asiático, desde o século XVI. Por outro lado, constatando-se pela leitura da obra que é fundamental ultrapassar clichés que não passam pela perspectiva de Cross-Cultural Trade, tomada numa acepção mais dinâmica que tem em conta todos os contextos em que naquele as personagens envolvidas agem, seria necessário então aprofundar outra vertente de análise: no que respeita concretamente aos judeus sefarditas e conversos, e para além dos Ergas e Silveras, como se estruturam as diferentes dialécticas das relações sociais internas e junto de outros grupos sociais e poderes institucionais, que tornaram possível um secular envolvimento em Cross Cultural Trade’s, não tendo estes ao mesmo inflectindo, decisivamente, no desaparecimento das fronteiras sociais da coesão do grupo?
Notas
1 Susan Sontag, «Contra a Interpretação», in Contra a Interpretação e outros ensaios, Lisboa, Gótica, (…)
2 Herbert I. Bloom, The Economic Activities of the Jews of Amsterdam in the Seventeenth and Eigteenth (…)
3 Jonathan Israel, Diasporas within a Diaspora. Jews, Crypto-Jews and the World Maritime Empires (154 (…)
4 Hanna Arendt, A Condição Humana, Lisboa, Relógio d`Água, 2001, p. 225.
José Alberto R.S. Tavim – Departamento de Ciências Humanas – IICT
Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in América 1492-1830 | J. H. Elliot
En esta obra, el reconocido hispanista británico J. H. Elliot se propone como objetivo escribir lo que en 1932 Herbert Bolton llamó una “historia épica de la Gran América”. Esta es una tarea necesaria, ya que, como bien afirma el autor, el diálogo entre los historiadores de las “diferentes Américas” nunca fue cercano. De hecho, queda un lugar muy escueto, en general, para una participación y un intercambio más fluido entre estos investigadores. Los historiadores de México, Andes y Brasil estudian, en general, aisladamente, a la vez que los historiadores que observan las colonias norteamericanas se abocan al análisis de cada colonia por separado. Es importante señalar dos esfuerzos previos que marcan un precedente al estudio de Elliot: el trabajo Señores de todo el mundo. Ideologías del imperio en España, Inglaterra y Francia (en los siglos XVI, XVII y XVIII), de Anthony Pagden (1997) y Los imperios transatlánticos. Las redes del comercio y de las Revoluciones de Independencia, de Peggy K. Liss (1989). Leia Mais
Weapons of the Weak: everyday forms of Peasant Resistance. Domination and the Arts of Resistance: hidden transcriots / James Scott
Infelizmente, a obra de James C. Scott ainda é pouco conhecida entre os historiadores brasileiros. Seus trabalhos nem sequer foram traduzidos, o que demonstra o parco interesse editorial. No entanto, as temáticas levantadas em seus estudos convergem intimamente com os interesses de pesquisa desenvolvidos no Brasil, especialmente nos programas de pós-graduação em História.
Pesquisas sobre resistência dos trabalhadores de variadas origens e condições, assim como sobre movimentos sociais, consistem em uma importante vertente atual dos interesses teóricos e políticos dos historiadores. Pode-se afirmar que esta tendência afirma-se particularmente entre os historiadores acadêmicos, que, em suas teses e dissertações, buscam reatar o fio perdido das lutas sociais obscurecidas pela propaganda neoliberal pós-Guerra Fria. De fato, os programas de pós-graduação e muitos cursos de graduação em História aglutinam cada vez mais seus focos de interesse temático dentro de uma linha teórica/metodológica que se convencionou chamar de História Social. Muito embora a advertência de que a história é inteiramente social por definição não tenha sido esquecida, há uma certa ênfase nessa especificação “social” que reafirma o lugar da política no interior dos estudos históricos, ao mesmo tempo em que amplia este conceito de modo a permitir análises que extrapolam a tradicional referência ao Estado como relação primordial ou central que configurava os estudos de História Política.
No caso da história “vista de baixo”, a vida dos trabalhadores fora dos sindicatos, partidos e organizações passa a ser um importante tema de pesquisa que amplia as possibilidades de entendimento de dimensões mais obscuras ou imperceptíveis das relações de poder. A procura sistemática das formas e lugares da “resistência” passou a dominar as preocupações dos historiadores, mesmo que uma série de divergências – de natureza teórica ou política – ainda permaneça.
Nessa perspectiva, os trabalhos de James C. Scott podem acrescentar uma rica reflexão a este debate contemporâneo. Os dois livros aqui sumariamente resenhados representam um esforço do autor em precisar empiricamente este debate e dar uma nitidez teórica ao conceito de “práticas de resistência cotidiana”. Esta noção foi inicialmente discutida no livro W eapons of the Weak: everyday forms of Peasant Resistance (1985), que é o resultado de um trabalho de dois anos de observação participante em uma pequena vila rural da planície de Muda, no estado de Sedaka, no nordeste da Malásia. Esta aldeia se dedicava tradicionalmente à agricultura do arroz, e as mudanças trazidas pela revolução verde aumentavam a desigualdade entre pobres e ricos, especialmente com a utilização de novas máquinas e técnicas agrícolas. A atenção de Scott se centrou mais nas tensões e lutas não visíveis dentro da estrutura social local do que em conflitos de massa contra o governo, dedicando-se a analisar formas de resistência cotidiana, individual ou coletiva.
As práticas de resistência cotidiana, para ele, se constituem na “luta prosaica mas constante entre o campesinato e aqueles que buscam extrair trabalho, comida, impostos, rendas e juros dos camponeses” (p. 32-33). A prática do “corpo mole”, a dissimulação, a condescendência, o furto, a simulação, a fuga, a fantasia, a difamação, a maledicência, o incêndio culposo, são atitudes encontradas pelo autor que apontam para uma compreensão interiorizada e sutil da exploração e do antagonismo. Para ele, estas “formas brechtianas de luta de classes têm certos traços em comum”: mesmo requerendo “pouca ou nenhuma coordenação ou planejamento”, são mecanismos de “auto-ajuda individual” que “geralmente evitam qualquer confrontação simbólica direta com as autoridades ou com as normas da elite”. Assim, como os caminhos da resistência cotidiana não estão somente impressos nas lutas abertas e institucionais contra os dominantes, é preciso ver “o que os camponeses fazem entre revoltas para defender seus interesses da melhor forma possível” (p. 29).
Assim, tanto as práticas cotidianas quanto os movimentos sociais institucionalizados são considerados por Scott como formas de resistência. Desta forma, ele discorda da separação entre “resistência real” e “resistência incidental”, o que implica em um importante discussão metodológica.
Resistência real, se argumenta, é (a) organizada, sistemática e cooperativa, (b) guiada por princípios e não egoísta, (c) tem conseqüências revolucionárias, e/ou (d) incorpora idéias ou intenções que negam as bases da dominação em si mesmas. Atividades incidentais ou epifenomênicas, por contraste, são (a) desorganizadas, não sistemáticas, e individuais, (b) oportunistas e de auto-satisfação, (c) não tem conseqüências revolucionárias, e/ou (d) implicam, na sua intenção ou significado, em uma acomodação com o sistema de dominação (p. 292).
O autor entende, portanto, que esta diferenciação, mesmo que seja útil para fins de classificação das formas de resistência, não consegue captar as práticas cotidianas como instrumentos populares de manifestação de um sentimento de injustiça e de luta contra a opressão social. Se as práticas cotidianas não apontam caminhos revolucionários ou, às vezes, até reafirmam a ordem social, continuam, apesar de tudo, sendo mecanismos encontrados para driblar ou sublimar a opressão e/ou a exploração de classe, constituindo-se, portanto, em importante janela para a compreensão das lutas sociais e das condições de vida dos setores populares subalternos. No entanto, dado o caráter fragmentado e difuso destas práticas, a questão que se coloca é como identificá-las e que metodologia utilizar para estudá-las.
Em trabalho posterior, Domination and the Arts of Resistance (1990), a preocupação de Scott é desenvolver uma abordagem teórica para compreender as relações de dominação a partir das interações sociais cotidianas. Nesse trabalho, o autor trata não só de camponeses, mas também de outros grupos ou classes, tais como escravos, servos, etnias e povos colonizados.
As interações sociais são analisadas como teatralização, em que os indivíduos se utilizam de diversas “máscaras” para situarem-se nas relações de poder. Há uma nítida aproximação, aqui, com os trabalhos do historiador inglês E. P. Thompson, que examina as práticas de um teatro dos dominantes em confronto com um contra-teatro dos dominados, os quais, através de discursos de submissão e deferência, manifestam contraditoriamente insatisfações, ressentimentos, revoltas ou descontentamentos. As práticas de representação, confirmadas pela detalhada pesquisa empírica de Scott, indicam a constituição de um jogo de papéis e lugares em que as normas ou regras elaboradas pelos dominantes ganham significados diferentes, e às vezes contrastantes, quando colocadas em ação pelos grupos populares. Mais uma vez, a distinção entre “resistência ativa” e “resistência passiva”, como definidores de um campo da política e outro do conformismo, perde consistência teórica e prática. Neste livro de 1990, o autor desenvolve de forma mais ampla a noção de “práticas cotidianas de resistência”, procurando entendê-las na confluência entre “transcrito público” (public transcript) e “transcrito invisível” (hidden transcript).
No “transcrito público”, ambas as partes tendem a orientar suas atitudes por estratégias de respeito, dissimulação e vigilância. A análise destas atitudes pode ser um caminho metodológico importante para compreender os padrões culturais de dominação e subordinação. Esta perspectiva se assenta numa crítica à visão de que os grupos e/ou indivíduos dominantes conseguem efetivamente manter o controle total sobre os grupos dominados e sobre as práticas determinadas pelas normas que regem o espaço público, assim como suas decorrências. Os subordinados, mesmo que estejam em conflito aberto com o dominante, procuram agir com deferência e consentimento, garantindo assim um campo perceptível e seguro de negociação. Trata-se de um “gerenciamento de aparência” em situações de hierarquia de poder, quando o subordinado tenta interpretar a expectativa do dominante.
A dominação precisa ser reafirmada socialmente através de um trabalho político sistemático, representado no “transcrito público”. As principais formas deste transcrito são afirmações, eufemismos e unanimidades. Afirmações ocorrem através de pequenas cerimônias, chamadas por Scott de “etiqueta”, que constituem uma espécie de “gramática da interação social” (p. 47).
Eufemismos têm como objetivo mascarar os fatos cruéis e violentos da dominação e dá-los um aspecto inofensivo ou simpático, neutralizando-os enquanto possibilidades de fraturas do tecido social – como exemplo, o autor cita o uso da palavra “pacificação” para a ocupação e o ataque armado. Unanimidades são mecanismos utilizados pelos dominantes não para ganhar a concordância dos subordinados, mas para intimidá-los de modo a garantir um relacionamento durável de submissão.
As expressões do “transcrito público” são fundamentais para a análise das relações de poder e, segundo Scott, a única forma de alcançar estas manifestações é “conversar” com o ator (ou com as evidências deixadas no registro das fontes históricas) “fora do palco”, ou seja, distante do contexto hierárquico de poder, onde as regras do teatro da dominação tendem a prevalecer. Este espaço “seguro”, “livre”, é chamado de “transcrito invisível”, que “consiste de falas, gestos e práticas que confirmam, contradizem ou enfatizam o que aparece no transcrito público”. Scott esclarece que não se trata de uma oposição entre espaço da necessidade e da liberdade, ou contexto do falso e do verdadeiro, mas atos teatrais para audiências diferentes (p. 5).
O interesse de Scott vai particularmente para situações de dominação, que, embora institucionalizadas através da ideologia, do ritual e da etiqueta, são permeadas por relações pessoais, como é o caso das relações entre servo e senhor, do sistema de castas e das relações sociais do campesinato. Entretanto, os grupos que se orientam por relações pessoais – tradicionais – têm também uma existência social “fora do palco”, o que lhes permite desenvolver uma renitente crítica ao poder. Há, aqui, um interesse particular para os estudos sobre situações vinculadas ao sertão cearense, com suas relações intensamente marcadas pelo paternalismo, pelo coronelismo e pelo compadrio.
Assim, as pesquisas de Scott se dirigem para os temas da resistência, das estratégias, da representação, da ação como atos que obedecem a determinadas regras de comportamento mas que permitem uma ressignificação em função de contextos de desigualdade e confronto. As “práticas de resistência cotidiana” constituem, para os populares de maneira geral, um território de negociação (público), em que as regras de atuação são definidas pelos dominantes, e um território de liberdade relativa (oculto), onde as expressões de crítica podem circular mais livremente, constituindo assim um “vocabulário da exploração”.
A identificação desses territórios pelo pesquisador é fundamental, pois as expressões de revolta e/ou de conformismo só adquirem significado efetivo no interior desses contextos de enunciação, configurando um gerenciamento criativo e persistente das condições da exploração e da dominação social. Mais uma vez, a ampliação do conceito de política é condição fundamental para o entendimento das ações populares de resistência à dominação de classe.
Os rumores, a dissimulação, o ressentimento, os eufemismos, o “corpo mole”, são formas possíveis de resistência em contextos de dominação e de controle cultural. Possuem, portanto, um sentido político de antagonismo de classe que o foco exclusivamente centrado nas instituições formais dos trabalhadores não permitia ver.
A riqueza das análises de James C. Scott já está a merecer uma boa tradução para o português, para que a comunidade de historiadores, interessada nas formas de resistência popular à dominação social, possa se beneficiar desse amplo, complexo e comprometido arsenal de combate ao conformismo teórico e ao determinismo econômico.
Frederico de Castro Neves – Universidade Federal do Ceará.
Marilda Aparecida de Meneses – Universidade Federal da Paraíba.
SCOTT, James C. Weapons of the Weak: everyday forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press, 1985; Domination and the Arts of Resistance: hidden transcriots. New Haven: Yale University Press, 1990. Resenha de: NEVES, Frederico de Castro; MENESES, Marilda Aparecida. Revista Trajetos, Fortaleza, v.1, n.1, 2001. Acessar publicação original. [IF].




