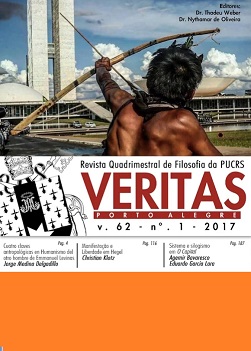Posts com a Tag ‘Veritas (Ve)’
Il regno e il giardino – AGAMBEN (V)
AGAMBEN, Giorgio. Il regno e il giardino. Vicenza: Neri Pozza, 2019. Resenha de: GOMES, Ana Suelen Tossige; MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. Entre dois paraísos: a nova arqueologia filosófica de Giorgio Agamben. Veritas, Porto Alegre, v. 65, n. 1, p. 1-6, jan.-mar. 2020.
O mais novo livro de Giorgio Agamben – Il regno e il giardino – publicado recentemente pela Neri Pozza, vem incrementar as incursões do filósofo italiano na teologia cristã, demonstrando uma vez mais como o poder ocidental pode ser lido, arqueologicamente, a partir de paradigmas teológico-políticos. A obra é dividida em seis capítulos que se comunicam pelas analogias operadas em torno do tema central investigado, o qual é lido desde a literatura teológica tardo-antiga e medieval (e alguns de seus críticos heréticos), até a Divina Comédia de Dante, passando por lampejos de história da arte e de filosofia política.
Combinando a figura edênica do jardim – do paraíso terrestre – com aquela do reino – tema central do tão conhecido Il regno e la gloria (2007) –, Agamben reconstrói um paradigma que, ainda que já estivesse presente na reflexão teológica, “foi relegado às margens pela tradição ocidental”, qual seja, o paradigma do jardim do Éden (AGAMBEN, 2019, p. 10).
Agamben inicia seu percurso a partir da interpretação de Wilhelm Fraenger acerca do sentido contido no tríptico de Jheronimus Bosch – O jardim das delícias –, pintura que está na capa da primeira edição do livro (em detalhe). A interpretação dada pelo estudioso alemão considera que Bosch teria elaborado tal obra de arte no contexto da heresia do Livre Espírito, a qual professava que “a perfeição espiritual coincidia com o advento do Reino e com a restauração da inocência edênica da qual o homem gozara no paraíso terrestre”. Fraenger chama a pintura central do tríptico de O reino milenar em vez de O jardim das delícias, pois associa o reino à morada de Adão no paraíso terrestre, entrelaçando, dessa maneira, reino e jardim (AGAMBEN, 2019, p. 9-10).
O termo paraíso teria aparecido pela primeira vez em Xenofonte que, por meio de um neologismo grego-iraniano, toma do avéstico a palavra pairideza, que significa “amplo jardim fechado”, murado. Assim, a palavra “paraíso” teria origem propriamente na ideia de jardim, e daí a razão pela qual as traduções bíblicas, desde a Septuaginta, optarem por paradeisos. O Éden é traduzido também não apenas como o nome do lugar, mas como tryphe, isto é, delícia. E talvez esteja aí, nos aponta Agamben, o motivo pelo qual o grande doutor da Igreja, São Jerônimo, tenha traduzido Éden por voluptas.
Há certo processo, contudo, que opera uma transformação radical na interpretação do paraíso: de lugar da delícia e da justiça originária ele passa a ser visto como o lugar da queda, do pecado e da corrupção. E essa interpretação será decisiva para o paradigma do jardim e para a noção a ele atrelada, tão importante para a cultura ocidental, que é a de natureza humana. No Gênesis a questão primordial passa a ser não o jardim, mas a expulsão do homem dele. Tendo sido expelido de sua morada específica – o jardim –, o homem perde o seu lugar originário, o seu habitat. Por isso ele é o ser vivente que “se encontra pela Terra duplamente peregrino: não somente porque sua vida eterna será no paraíso celeste, mas também e sobretudo porque ele foi exilado da sua pátria edênica” (AGAMBEN, 2019, p. 17-19).
O paraíso outrora uno e benigno, aparece então dividido em paraíso terrestre (perdido para sempre) e paraíso celeste (distante e futuro). E esse “traumatismo originário” traz sequelas profundas para a cultura cristã e moderna, à qual importa menos o paraíso em si do que a perda do paraíso por parte do homem. Daí o porquê de a expulsão do paraíso assumir o lugar de mitologema central na gênese cristã, tornando-se o “evento determinante da condição humana e o fundamento da economia da salvação” (AGAMBEN, 2019, p. 17-19).
Tal deslocamento semântico no paradigma do jardim não teria sido possível sem a presença de certos dispositivos teológicos. Dentre eles, Agamben (2019, p. 21) elenca como sendo “o mais implacável” de todos aquele do pecado original, pois é ele que condena a natureza humana a uma corrupção impossível de ser expurgada. Com a doutrina do pecado original, levada a cabo especialmente por Agostinho, o ser humano passa a ser visto como uma existência desde sempre já culpada, pois até mesmo o mais inocente dos infantes carrega consigo a mácula do pecado original, transmitido geneticamente pelo seu primeiro ancestral, Adão. Na visão de Agostinho, apenas por meio da graça o homem pode alcançar a salvação. E com isso o filósofo da Igreja acaba opondo natureza e graça: o homem será sempre pecador, mas por meio da graça transmitida pelos sacramentos ele pode se salvar. O catolicismo torna-se, desse modo, condição essencial para sua (futura) vida eterna no paraíso.
Será um herético como Pelágio que colocará em questão esse dualismo. Segundo sua teologia, a graça seria exatamente a possibilidade de não pecar, um dom que o ser humano teria recebido de Deus e que decorreria do livre arbítrio. Seria, portanto, algo inerente à natureza humana, e essa, por sua vez, derivando daquele que a criou, não poderia ser privada de graça, pois seria algo “‘que pertence propriamente a Deus’” (AGAMBEN, 2019, p. 32-33). Enquanto para Pelágio a alma humana conserva a possibilidade de não pecar, permanecendo dessa maneira em relação com a justiça originária que possuíra no paraíso terrestre, para Agostinho se trata de extirpar qualquer ligação com a justiça edênica. Pois, se o próprio Agostinho dizia em De Genesi ad litteram que os fatos descritos em Gênesis deveriam ser interpretados em sentido próprio, literal, e não em sentido alegórico, admitir a possibilidade de não pecar no homem implicaria aceitar que o jardim – um lugar físico real na Terra – poderia ser a qualquer momento reatualizado. Contudo, o paraíso terrestre deve permanecer, segundo Agostinho, para sempre vazio, a fim de que se mantenha exclusivamente a promessa de um paraíso celeste, destinado aos eleitos (AGAMBEN, 2019, p. 42-46).
Embora a doutrina agostiniana do pecado original tenha se imposto de modo dominante no pensamento medieval, este também contou com a presença de vozes dissonantes que não entendiam a natureza humana como maculada pelo pecado. Exemplos disso são Escoto Erígena e o grande filósofo-poeta Dante Alighieri. O primeiro, negava qualquer divisão entre natureza (vida) e alma, fisiologia e psicologia, compreendendo a alma como una e indivisível. E, ainda, entendia o paraíso não como um lugar real, mas como a própria natureza humana (AGAMBEN, 2019, p. 60). Dante, por sua vez, teria descrito a divina floresta como uma alegoria do paraíso terrestre, no qual o exercício da virtude – a felicidade – coincide com o “uso da coisa amada”, isto é, coincide com um ato de amor. Por isso o paraíso terrestre para Dante – figura da beatitude terrena e da felicidade – é também o lugar da justiça original da natureza humana (AGAMBEN, 2019, p. 70-72).
Como aduz Agamben, o tema do paraíso terrestre em Dante é na verdade uma profecia acerca da liberdade do homem, discussão presente em toda a obra dantesca: “a ‘divina floresta espessa e viva’ é, desse modo, para Dante, uma profecia que concerne à possível salvação do homem per arbitrii libertatem, até alcançar aqui e agora aquela beatitude, que consiste ‘no uso da coisa maximamente amada’” (AGAMBEN, 2019, p. 85). Assim, a doutrina do paraíso terrestre como figura dessa beatitude contradiz a tese escolástica, reafirmada por Tomás de Aquino, de que não é possível para o homem nesta vida a felicidade.
Em questão nas discussões sobre o paraíso terrestre sempre esteve o problema da natureza humana. Há uma vez mais aqui, como nos diz Agamben, uma cisão, uma bipartição, que divide natureza humana e graça, de modo semelhante a outras passagens de sua obra, presentes sobretudo na série Homo sacer, nas quais o filósofo italiano revela, arqueologicamente, a função de díades, tais quais: reino e governo, zoé e bíos, nómos e anomia etc. Ambos os termos – natureza humana e graça – pressuporiam e remeteriam um ao outro, mas a natureza humana, como um resto, existiria apenas enquanto algo separado da graça. Daí a afirmação dos teólogos de que a graça seria como uma veste e, por isso, “Adão e Eva antes do pecado não se davam conta da sua nudez, não por inocência, mas porque ela era recoberta de uma veste de graça” (AGAMBEN, 2019, p. 92). Nesse processo, o dispositivo que manteria unidos natureza e graça seria o pecado, pois a natureza definir-se-ia apenas como o que resta depois do homem ter sido despido da graça. Na mesma perspectiva, sendo algo não natural, a graça afirmar-se-ia somente no seu não mais existir, por obra do pecado. Por isso Agamben afirma que “o verdadeiro sentido da doutrina do pecado original é aquele de dividir a natureza humana e de impedir que nela natureza e graça possam coincidir nesta vida. Como é evidente no título do tratado antipelagiano de Agostinho, ‘natureza’ e ‘graça’ não são outra coisa senão dois fragmentos que resultam da cisão operada pela transgressão adamítica” (AGAMBEN, 2019, p. 96). O dispositivo teológico separa o âmbito da vida do homem dos atos que ele pode realizar naturalmente. “E o faz não retirando, mas adicionando algo: a graça, de modo que, uma vez que ela tenha sido subtraída por meio do pecado, a vida e as ações humanas se transformam em pura naturalia, marcadas por lacunas e defectividade”. Ou seja, a aporia consiste na invenção da graça (como algo divino, não intrínseco à natureza humana) e na sua contemporânea exclusão pela existência do pecado. Desse modo, conforme o modus operandi da exceção, a graça é incluída e imediatamente excluída, o que faz com que a própria natureza do homem se torne, então, insuficiente (AGAMBEN, 2019, p. 100).
Nesse sentido, se voltarmos nosso olhar para os pensamentos de Erígena e Dante, veremos que eles contestam radicalmente tal doutrina. Para Erígena, Deus criou o homem no gênero animal porque quis criar nele toda a natureza: ele é em todos os animais e todos estes são no homem (AGAMBEN, 2019, p. 101). De modo semelhante, mas em tons políticos, o que é punido na Divina Comédia de Dante não é a natureza, mas as ações humanas. A natureza, segundo Dante, é – em Cristo – inocente e livre e, portanto, permanece incorruptível. Por isso, em sua visão, contrastante com a teologia escolástica e com Tomás de Aquino,2
2 Como afirma Agamben (2019, p. 101-102), tendo em vista essa posição de Dante, torna-se contraditório interpretar sua obra por meio de Tomás de Aquino e da teologia escolástica, como é feito pela tradição, pois “o paraíso terrestre de Dante é a negação do paraíso dos teólogos”.o homem pode sempre reentrar no jardim, e ali encontrar Matelda, a figura do amor, da beatitude, da felicidade e da justiça original, que podem se realizar no paraíso terrestre. No sexto e último capítulo do livro o tema que retorna à discussão agambeniana é aquele do reino. Já estudado em seu Homo sacer II,2 – Il regno e la gloria – sob a chave da economia teológico-política trinitária, o tema do reino é agora tratado em sua relação com as teorizações sobre o paraíso.
O teólogo espanhol Suárez fez indagações sobre como seria a condição humana na hipótese de Adão não ter pecado, questionando, por exemplo, como se daria a reprodução humana no estado de inocência e como os homens governar-se-iam – a si mesmos e ao mundo ao seu redor – nessa condição. Interessa particularmente a Agamben o segundo ponto, o qual foi trabalhado por Suárez com fortes influências aristotélicas. Se a comunidade doméstica, dizia o teólogo, deve existir naturalmente em estado de inocência, como pensar a existência de uma sociedade política em um lugar em que não há inimigos e a família basta a si mesma para suprir suas necessidades? Em consonância com a Política de Aristóteles, contudo, Suárez afirma que em algum momento deveria surgir uma sociedade política, porque “a união dos homens em um Estado não acontece somente por acidente ou pela corrupção da natureza, mas convém aos homens em qualquer condição e concerne à sua perfeição” (AGAMBEN, 2019, p. 104).3
.Tal união traz a necessidade de se justificar certo tipo de governo, baseado em uma situação de domínio do homem sobre o homem. Todavia, na condição paradisíaca tal não implicaria o domínio proprietário tampouco a escravidão, mas apenas o domínio de jurisdição. Do mesmo modo que o homem dos tempos medievais tinha o poder de governo sobre sua esposa, seria necessário um governante – tal qual um príncipe – para guiar os súditos. Esse poder de governo não derivaria do pecado; ele seria intrínseco à natureza da comunidade, e estaria presente, portanto, seja no estado de inocência, seja no estado de corrupção. Sujeitar-se a esse governo não faria com que os súditos fossem privados do livre arbítrio, mas consistiria, na verdade, em “uma condição perfeita de vida” (AGAMBEN, 2019, p. 104-105).
A questão que Agamben coloca aqui é saber se o paraíso terrestre constitui um paradigma político para os teólogos da cristandade, especialmente, neste caso, para o referido Suárez. A resposta do filósofo italiano a tal pergunta é negativa. No entanto, ele ressalva que “uma antiga tradição, que os teólogos não podiam ignorar, tinha colocado em relação o paraíso terrestre com o conteúdo fundamental do anúncio evangélico: a basileia tou theou, o Reino de Deus” (AGAMBEN, 2019, p. 106). Nesse sentido, em duas das três passagens em que o termo “paraíso” aparece no Novo Testamento, ele é relacionado ao reino. Como aponta Agamben (2019, p. 107-108): “quando (em Lucas, 23, 42) o malfeitor crucificado ao seu lado lhe disse: ‘Recorda-te de mim quando ireis ao teu Reino (eis basileian sou)’, Jesus responde: ‘Hoje estarás comigo no paraíso (en toi paradeisoi)’”, reino e paraíso aparecem quase como sinônimos. E, ainda, “em Apocalipse, 2, 7, o Espírito anuncia que ‘ao vitorioso’ – isto é, àquele que tendo superado a prova escatológica, pode entrar no Reino eterno – ‘farei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus’”, novamente o paraíso vem ao lado do reino. Entretanto, podemos acrescentar à discussão agambeniana o fato de que tais passagens tratam do reino como sinônimo de paraíso, mas não remetem ao paraíso terrestre. Falam, na verdade, de um paraíso extramundano. Nesse sentido, quando, por meio da voz de outro evangelista, Jesus Cristo diz que “meu reino não é deste mundo” (João, 18, 36), a interpretação do reino como sinônimo de paraíso não se afasta da exegese dos teólogos escolásticos, reafirmando a ideia de que há um paraíso celeste que não coincide com o jardim edênico.
Depois de tal aproximação, Agamben dirá que não é de se espantar o fato de que “no silêncio dos teólogos sobre o assunto, movimentos religiosos chamados de heréticos (desde o Livre Espírito que teria inspirado o tríptico de Bosch) tenham identificado o paraíso terrestre com o Reino”. E afirma ainda que entre os primeiros padres da Igreja, “a relação apresentada entre Jardim e Reino é semelhante à tradição apocalíptica hebraica (de um reino terreno que precede o fim dos tempos)” (AGAMBEN, 2019, p. 108). A explicação de Ireneu, por exemplo, afastaria a contradição de que o paraíso celeste – o reino eterno de que trata o Novo Testamento – seria diverso daquele terrestre, pois segundo a sua teologia do reino “a beatitude temporal sobre a Terra deve preceder à beatitude eterna”. Nesse sentido, o reino seria “necessário porque os homens devem reencontrar na sua própria condição terrena aquela felicidade da qual foram nela mesma privados” (AGAMBEN, 2019, p. 110-111). No entanto, nos diz Agamben, a teologia do reino de Ireneu e dos primeiros padres teria sido eliminada progressivamente com o reforçar-se da institucionalidade da Igreja. Ocorre, então, “uma negação do reino terreno”,que coincide com “a exclusão da restauração da condição paradisíaca” (AGAMBEN, 2019, p. 113).
Assim também, neutralizando a ideia de um reino milenar que, próximo ao reino messiânico hebraico, desconhece uma separação entre o porvir e o tempo de agora, grandes padres da Igreja como Agostinho acabam por inaugurar um único tempo histórico, o qual torna possível a existência da historiografia cristã (AGAMBEN, 2019, p. 115-116). Com isso, impedem qualquer aproximação com a tradição messiânica, para a qual o reino que está por ser instaurado é já presente no aqui e no agora. Agamben não deixa de notar, nesse sentido, que o mesmo Evangelho que anuncia a presença imediata do reino sobre a Terra, o relega a um tempo por vir. O reino aparece como a atualidade dos atos de Cristo neste mundo, ao mesmo tempo em que é apresentado como escathon, ou seja, o tempo último (AGAMBEN, 2019, p. 117).
Perpassando outras analogias, a conclusão a que chega o filósofo ao final do livro é que paraíso terrestre e reino são duas realidades que se originam da tentativa dos teólogos em pensar a natureza humana e a sua possível beatitude. Ambos – paraíso e reino – cindem-se em um elemento pré-histórico, que seria o Jardim do Éden, e um elemento pós-histórico, o Reino, os quais, permanecendo separados e incomunicáveis, são inacessíveis ao homem. O jardim, enviado a um arqui-passado, é desde sempre inatingível, ao passo que o Reino projetado para o futuro coincide com o reino dos céus. Mas, como nos diz Agamben (2019, p. 120), Contra essa separação forçada dos dois polos, é necessário recordar, com os quiliastas e com Dante, que o Jardim e o Reino resultam da cisão de uma única experiência do presente, e que no presente eles podem, portanto, se reunir. A felicidade dos homens sobre a Terra é tensionada entre esses dois extremos polares. E a natureza humana não é uma realidade preexistente e imperfeita, que deve ser inscrita por meio da graça em uma economia da salvação, mas é o que aparece toda vez aqui e agora na coincidência – isto é, no cair juntos – de Paraíso e Reino. Só o Reino dá acesso ao Jardim, mas só o Jardim torna pensável o Reino. Ou seja: acessa-se a natureza humana só historicamente através de uma política, mas esta, por sua vez, não tem outro conteúdo que o paraíso – que, nas palavras de Dante, é “a beatitude desta vida”.
Esse conteúdo nada mais é do que a felicidade. Assim, a questão que se abre ao final do livro é sobre esse meio (ou, melhor dizendo, esse meio-sem-fim) da política, cujo conteúdo não se diferencia da “beatitude desta vida”, isto é, da felicidade. Reconectam-se, dessa maneira, temas caros ao autor, a exemplo da política como forma-de-vida, vislumbrada sob as figuras do reino e do jardim. O esquecimento do jardim – enquanto paraíso terreno – e a preponderância do reino demonstram, assim, o modo paradigmático com que o Ocidente tem pensado a política: uma política teleológica direcionada a uma prometida “paz perpétua” vindoura, mas que só pode chegar com a morte, com a negação da vida. Pensar diversamente, reinterpretando os Evangelhos e refletindo já talvez em termos de uma teologia política radical,5 significa abrir-se à possibilidade sempre latente de que o paraíso, que nada mais é que um “cair juntos” de jardim e reino, está desde sempre aqui. Basta que, em tons benjaminianos, modificando-se esta ou aquela coisa, ele seja habitado, e as delícias do corpo-alma possam definitivamente se fundir
Referências
AGAMBEN, Giorgio. Il regno e il giardino. Vicenza: Neri Pozza, 2019.
AGAMBEN, Giorgio. Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo. Milano: Neri Pozza, 2007.
ARISTÓTELES. “Política” [Capítulo I, Livros I e II]. Trad. José Oscar de Almeida Marques. Departamento de Filosofia, IFCH-Unicamp [Online]. Disponível em: www.unicamp.br/~jmarques/cursos/1998-hg-022/politica.doc. Acesso em: 28/06/2017 BÍBLIA. Vol. I. Novo testamento: os quatro evangelhos. Trad. do grego, apresentação e notas Frederico Lourenço. Lisboa: Quetzal, 2016.
BÍBLIA. Vol. II. Novo testamento: apóstolos, epístolas, apocalipse. Trad. do grego, apresentação e notas Frederico Lourenço. Lisboa: Quetzal, 2017.
GOMES, Ana Suelen Tossige; MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. Da unidade/diferença à modalidade: a arqueologia da ontologia no pensamento de Giorgio Agamben. Kriterion, Belo Horizonte, v. 59, n. 141, pp. 651-670, set/dez 2018. https://doi.org/10.1590/0100-512x2018n14101astg MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. Representação política contra democracia radical: uma arqueologia (a)teológica do poder separado. Belo Horizonte: Fino Traço, 2019.
Notas
2 Como afirma Agamben (2019, p. 101-102), tendo em vista essa posição de Dante, torna-se contraditório interpretar sua obra por meio de Tomás de Aquino e da teologia escolástica, como é feito pela tradição, pois “o paraíso terrestre de Dante é a negação do paraíso dos teólogos”.
3 Afirmação em consonância com a máxima aristotélica segundo a qual a melhor realidade possível para uma comunidade, a comunidade política – a cidade – é o télos para o qual ela se direciona. Cite-se: “Portanto, se as primeiras comunidades são um fato da natureza, também o é a cidade, porque ela é o fim daquelas comunidades, e a natureza de uma coisa é o seu fim: aquilo que cada coisa se torna quanto atinge seu completo desenvolvimento, nós chamamos de natureza daquela coisa, quer se trate de um homem, de um cavalo ou de uma família. [1253a] Além disso, a causa final e o fim (télos) de uma coisa é o que é o melhor para ela; ora, bastar-se a si mesma é, ao mesmo tempo, um fim e um bem por excelência. Essas considerações tornam evidente que a cidade é uma realidade natural e que o homem é, por natureza, um animal político (politikón zôon)” (ARISTÓTELES. “Política” [Capítulo I, Livros I e II]. Trad. José Oscar de Almeida Marques. Departamento de Filosofia, IFCH-Unicamp [Online]. Disponível em: www.unicamp.br/~jmarques/cursos/1998-hg-022/politica.doc. Acesso em: 28 jun. 2017)
4 Tal como se vê da obra de Tertuliano, De ressurrectione (AGAMBEN, 2019, p. 112-113).
Ana Suelen Tossige Gomes – Mestra e doutoranda em Direito e Justiça pela Faculdade de Direito e Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais, com período de Doutorado-Sanduíche na Scuola Normale Superiore di Pisa (2018/2019) com bolsa da CAPES. Bolsista CAPES. Autora do livro O direito no estado de exceção efetivo (Belo Horizonte, D’Plácido, 2017).
Andityas Soares de Moura Costa Matos – Doutor em Direito e Justiça pela Faculdade de Direito e Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil) e Pós-Doutor em Filosofia do Direito pela Universitat de Barcelona (Catalunya), com bolsa da CAPES. Doutor em Filosofia pela Universidade de Coimbra. Professor Associado de Filosofia do Direito e disciplinas afins na Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG. Professor Visitante na Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona entre 2015 e 2016. Professor Residente no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares – IEAT/UFMG entre 2017 e 2018. Mais artigos em: https://ufmg.academia.edu/AndityasSoares. Endereço para correspondência: Ana Suelen Tossige Gomes/Andityas Soares de Moura Costa Matos Universidade Federal de Minas Gerais – Faculdade de Direito Av. João Pinheiro, 100; Centro, 30130-180 Belo Horizonte, MG, Brasil
The First Phone Call from Heaven – a novel – ALBOM (V)
ALBOM, Mitchell David. The First Phone Call from Heaven – a novel. New York: Harper Collins Books, 2014. 324p. Resenha de: KRISCHKE, Paulo J. A ambiguidade das redes sociais na dominação oligopólica. Veritas, Porto Alegre, v. 65, n. 1, p. 1-4, jan.-mar. 2020.
Mitchell David Albom é escritor premiado, jornalista, roteirista, dramaturgo, radialista e músico dos Estados Unidos. Seus livros já venderam mais de 39 milhões de cópias em todo o mundo. Cinco de seus bestsellers focalizam os dilemas humanos das relações com a morte. Ele estudou literatura na Universidade de Detroit e, nessa cidade, iniciou sua carreira como jornalista e escritor. Nela, também patrocina três clínicas de atendimento a famílias de baixa renda, e outras obras de assistência social, além de uma clínica do mesmo tipo nas Filipinas Outro dia lendo um romance dos Estados Unidos (bestseller do The New York Times) sobre como a internet está ampliando (ambiguamente) a dominação oligopólica nos meios de comunicação, constatei que o livro dá um exemplo de como Brasil está presente nesse processo desde muito tempo. O livro de Mitch Albom The first phone call from heaven (New York: Little Brown Book, 2014, 182p.) menciona o conhecido (e pouco comentado) incidente quando Dom Pedro II interagiu com Alexander Graham Bell na feira internacional no primeiro centenário dos EUA, Philadelphia, 1876, sendo essa a primeira autoridade a experimentar fascinado uma mensagem telefônica de seu suposto inventor – que logo patentearia o presumido invento, apoiado nesse respaldo público oficial. Albom menciona, a seguir, os vários inventores que tentavam a patente do telefone na época, mas foram suplantados por esse apoio imperial brasileiro; Dom Pedro fez essa experiência acompanhando a comissão de juízes que premiou o melhor invento da feira.
Não por acaso, Dom Pedro era também celebrado naquele tempo como a única cabeça coroada da “Tríplice Aliança” (Brasil/Argentina/Uruguai), na guerra da década anterior que dizimara a sangue-frio quase a totalidade da população masculina do Paraguai (1864-1870), ao mesmo tempo que cruelmente enganava com falsas promessas de liberdade os vastos contingentes de escravos de seu próprio exército e da marinha do Brasil. É claro que toda essa crueldade sanguinária e mistificação autoritária combinam bastante com o clima político que temos vivido nestes últimos tempos no Brasil e no mundo. Contudo, cabe ao pensador restaurar a ambiguidade usual dos fatos, processos e instituições, para que os desvios e exageros de cada época e lugar possam ser devidamente avaliados, compensados, eventualmente corrigidos e no futuro evitados preventivamente. Pois, afinal de contas, nem todos são enfermos de sadomasoquismo em busca da autodestruição e do martírio; e a mais fervente religiosidade e misticismo podem também cultivar a tolerância, a ajuda mútua, e a solidariedade entre diferentes culturas, religiões e grupos sociais.
Mas, esse romance recente sobre as mídias sociais nos EUA denuncia com eficácia o amplo conluio entre interesses e agências públicas e privadas, na promoção conjunta dessas “fake news” religiosas e político-sociais que contaminam e manipulam o senso comum. Seu tema central é a controvérsia nacional e internacional que se estabelece em uma pequena cidade, típica do meio-oeste americano, com repercussões no noticiário das redes de televisão, quando vários cidadãos locais relatam receber do “além túmulo” chamadas telefônicas de parentes próximos já falecidos, trazendo mensagens tranquilizadoras sobre seu convívio no paraíso na presença de Deus, demais antepassados, anjos etc. A opinião pública favorável que recebem de todas as partes, veiculada pela grande mídia, gera um afluxo monumental de turistas para a cidade, que passa a exigir comprovação oficial sobre a veracidade dessas mensagens “do além”.
Tal comprovação promete ser obtida em um “showmício” com milhares de participantes no estádio de esportes da cidade, quando novas mensagens do mesmo tipo serão recebidas em sequência, em “viva voz” pelos vários destinatários dos falecidos (e na presença dos vários pastores e sacerdotes locais). Sem querer estragar o suspense de desfecho desse romance, digamos apenas que o FBI surpreende ao final invadindo uma fazenda das proximidades, onde um ex-agente seu, especializado em espionagem como “hacker”, consegue recriar e transmitir no anonimato, as vozes desses “falecidos” aos destinatários… Sem dúvida, um desses destinatários se dedica a revelar por sua conta e risco toda a fraude dessa tramoia – com apoio do delegado da polícia local (também ele um dos destinatários das “mensagens” originais).
A mensagem do livro, em suma: todos podemos (mesmo as autoridades) ser enganados legitimamente, mas entre nós, às vezes, surgem indivíduos paladinos da justiça, capazes de enfrentar a corrupção generalizada – mesmo quando esteja disfarçada/manipulada pela religião ou pela ordem pública.
A ficção das histórias sobre “cowboys”, espiões e suspense policial, ficção científica etc. é de grande utilidade para avaliar o momento político, e as questões que afetam a preocupação das pessoas, e a moralidade pública e privada no âmbito do senso comum. Desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, temos visto profundas mudanças políticas internacionais, geralmente, caracterizadas por estratégias conservadoras e reacionárias, também em países da Europa e da América Latina. Com isso, as ciências humanas nem sempre percebem a ambiguidade que caracteriza esse processo. As obras de ficção costumam ser mais abertas que a reflexão jornalística ou científica, no sentido de que devem circular em um sentido mais amplo, de promoção do entretenimento entre grande número de consumidores dos bestsellers internacionais. Esse objetivo revela, muitas vezes, mudanças sutis na compreensão dos expectadores, que chegam, às vezes, a reforçar tendências maiores pré-existentes no plano subconsciente – tais como motivações de resistência e de inconformidade que podem eventualmente ganhar legitimidade concreta.
Esse romance sobre a ambiguidade das redes sociais e o controle oligopólico da política é inovador em muitos sentidos: questionando, por exemplo, a onipresença da religião e a onipotência autoritária na vida das pessoas; denunciando (outro exemplo) o autoritarismo das agências de vigilância e
de controle militar nas esferas federal, regional e local; 3. revelando, também, principalmente, a vulnerabilidade das instituições estatais e dos meios de comunicação à invasão brutal e à esperta manipulação de dados pelos “hackers” individuais, criminosos, violadores, empresários e aventureiros de toda espécie.
Mas, a convergência fabricada entre as motivações morais/religiosas e a legitimidade autoritária já têm sido, muitas vezes, denunciadas antes, geralmente, sem muito sucesso – desde as invectivas de Sócrates/Platão contra a nefasta, mas persistente influência dos sofistas. Mesmo a ênfase das obras de um John Rawls ou de um Jürgen Habermas sobre o sentido plural, e às vezes, contraditório, das bases da legitimidade democrática nos países do Ocidente, tem sido negligenciada frequentemente, seja por sua “ingenuidade antropocêntrica”, “pretensão evolucionista”, ou “ilusão presentista” (como querem as críticas radical-feministas ou as dos chamados “pós-modernos”.
Habermas (1975, p. 76) é quem classicamente tem exposto essa lacuna, desde as crises de legitimidade dos anos 1960: As estruturas motivacionais necessárias para a sociedade burguesa estão apenas incompletamente refletidas nas ideologias burguesas. As sociedades capitalistas sempre foram dependentes de condições culturais limítrofes que elas não podiam reproduzir por si mesmas; elas se alimentavam parasitariamente dos resquícios da tradição.
É importante enfatizar nesse ponto que Habermas utiliza os conceitos de tradição e de modernização no contexto dos estudos históricos sobre cultura e sociedade realizados pela “Escola de Frankfurt” – e, portanto, desde um ponto de vista inteiramente diferente da abordagem formal estrutural-funcionalista. O conceito de Habermas de ordem ou subsistema de legitimação foi construído a partir de sua ênfase na relação necessária entre legitimidade e “verdade de crença” (i.e., seu fundamento básico de legitimação na ordem motivacional). Ele afirmou sua posição em uma crítica das bem conhecidas tendências do funcionalismo estrutural a assimilar o conceito de legitimação de Weber àqueles de legalidade e adjudicação da lei.
[…] Se as decisões de acatamento obrigatório são legítimas, isto é, se elas podem ser tomadas independentemente do exercício concreto de coerção e ameaça manifesta de sanções, e podem ser regularmente implementadas mesmo contra os interesses dos afetados, então elas devem ser consideradas como o cumprimento de normas aceitas. Essa irrestrita validade normativa se baseia na suposição de que a norma poderia, se necessário, ser justificada e defendida contra a crítica. E essa suposição não é, por sua vez, automática. É a conseqüência de uma interpretação que admite o consenso e que tem uma função moralmente reconhecida […] (HABERMAS, 1975, p. 101).As ambíguas relações da tradição com a modernidade, entre a religião, a política oficial e as linguagens da ficção e a da vida comum, devem ser continuamente reexaminadas, para seguir adiante em nossa trajetória.
Referências
ALBOM, Mitch. The First Phone Call from Heaven – a novel. New York: Harper Collins Books, 324 p.
CHILTON, Stephen. Situando o pós-modernismo na perspectiva do desenvolvimento moral-cognitivo, Civitas, Revista de Ciências Sociais, Porto Alegre, n. 2, v. 2, p. 285-292, 2002. Tradução de Paulo Krischke. https://doi.org/10.15448/1984-7289.2002.2.102 HABERMAS, Jürgen. Legitimation Crisis. Boston: Beacon Press. Trad.: Thomas McCarthy, 1975.
RAWLS, John. 1992. A Justiça como Eqüidade: uma concepção política, não metafísica. Lua Nova, Revista de Cultura e Política, São Paulo, CEDEC, n.25, p. 25-59. Tradução de Regis Andrade. ttps://doi.org/10.1590/S0102-64451992000100003
Paulo J. Krischke – Pesquisador Sênior do CNPq, Professor colaborador no PPGICH da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil), e ex-professor visitante na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Recebeu recentemente recursos da Secretaria Estadual de Cultura de Santa Catarina para publicar suas memórias do exílio no Chile, Canadá e Europa – que serão divulgadas em dramaturgia a comunidades populares da Grande Florianópolis, pelo centro cultural “Transformando pela Prática”, do Rio Vermelho. Endereço para correspondência: Paulo J. Krischke Universidade Federal de Santa Catarina Campus Reitor João David Ferreira Lima Caixa Postal 476, Trindade, 88040-900. Florianópolis, SC, Brasil
Ciência da Lógica – HEGEL (V)
HEGEL, G. W F. Ciência da Lógica. Tradução de CHRISTIAN G. Ibrer e Frederico Orsini. Petrópolis; Vozes; Brgança Paulista: Editora universitária São Francisco, 2018. (A doutrina do conceito, V. 3). Resenha de: WOHLFART, João Alberto. VERITAS, Porto Alagre, v. 64, n. 3, jul.-set. 2019.
Veio a lume o livro III da Ciência da Lógica, A Doutrina do Conceito. Temos agora em nossa Língua Portuguesa e em nossas mãos a tradução completa da Ciência da Lógica, em um significativo passo para o estudo e o aprofundamento da filosofia hegeliana no Brasil. Isto significa dizer que agora podemos ler em nosso português uma das mais complexas obras filosóficas da história e da literatura universal. A tradução completa da obra é um convite à realização de seminários e congressos, à leitura direta do texto em cursos de Graduação e Pós-Graduação em Filosofia, especialmente é um convite para que os maiores conhecedores de Hegel no Brasil aprofundem os seus conhecimentos. Indiretamente, a leitura do texto hegeliano é um desafio para todo o universo acadêmico, pois se trata de um conhecimento fundamental para todas as áreas.
A tradução foi realizada por Christian G. Iber e Federico Orsini, coordenada por Agemir Bavaresco, com as colaboradoras Marloren L. Miranda e Michela
Bordignon e revisada por Francisco Jozivan Guedes de Lima. Os três volumes traduzidos, respectivamente intitulados A Doutrina do Ser, A Doutrina da Essência e A Doutrina do Conceito, integram a coleção Pensamento Humano, da Editora Vozes e da Editora Universitária São Francisco. Vai um cordial agradecimento aos tradutores e equipe tradutora pelo fantástico trabalho desenvolvido e pela contribuição ímpar à racionalidade filosófica.
A Doutrina do Conceito é o terceiro livro da Ciência da Lógica, dialeticamente significa uma síntese entre os dois volumes anteriores e aparece como centro de articulação de todo o sistema filosófico hegeliano. Ela é resultado da dura crítica hegeliana à filosofia de Kant e Espinosa, levada a cabo no final da Doutrina da Essência, especialmente na seção onde Hegel formula a relação absoluta estruturada em relação de substancialidade, relação de causalidade e interação. Como Hegel, na Doutrina da Essência, empreendeu um processo de demolição da metafísica tradicional, do transcendental kantiano e da substância spinozista, dessa crítica resulta a Doutrina do Conceito recentemente traduzida, editada e que ora resenhamos. Para compreender de forma adequada esse livro, a passagem da Necessidade para a Liberdade é a problemática básica empreendida por Hegel e sistematicamente exposta como conceito. Hegel, depois de um radical empreendimento crítico a que submeteu a filosofia clássica e a filosofia de seu tempo, formula a noção de contradição absoluta como dinamismo e como verdade de toda a realidade.
A partir do coração da Doutrina do Conceito, a referência básica para a compreensão da filosofia hegeliana é a lógica da contradição, que perpassa o pensamento, a realidade e articula o movimento.
A Doutrina do Conceito segue uma estrutura dialética tripartite, em subjetividade, objetividade e ideia. A parte sobre a subjetividade é estruturada em conceito, juízo e silogismo; a parte sobre a objetividade é estruturada em mecanismo, quimismo e teleologia; e a parte sobre a ideia é estruturada em vida, ideia de conhecimento e ideia absoluta. O conceito hegeliano não pode ser confundido com a denominação usual de conceito, segundo a qual o pensamento abstrai os objetos materiais e a realidade empírica em forma de conceito, como uma abstração do real, mas o conceito significa a força do movimento contraditório do pensamento em autodesenvolvimento e autodeterminação. De forma análoga, o conceito caracteriza a própria inteligibilidade do real em seu processo de contradição e autodesenvolvimento, portanto, não uma racionalidade conceitual aplicada às coisas, mas caracteriza a realidade mais íntima e o dinamismo mais profundo de tudo. Em relação à Essência, na qual as coisas são insuficientes nelas mesmas, razão pela qual são dispostas num sistema universal de relações, no Conceito cada determinação é a totalidade do conceito, razão pela qual a relação e a contradição constituem a estrutura de tudo.
Hegel expõe o centro de seu pensamento filosófico logo no começo da Doutrina do Conceito, precisamente enquanto conceito subjetivo, articulado nas categorias de universalidade, particularidade e singularidade. Trata-se de uma espécie de racionalidade dialética na qual as três categorias são dialeticamente integradas na exposição da genuína lógica da contradição, segundo a qual uma nega a outra, e na recíproca negação, conjuntamente se afirmam como sistema. Para Hegel, “o universal, ao contrário, mesmo quando se põe em uma determinação, permanece nela o que é. Ele é a alma do concreto, ao qual é imanente, sem impedimentos e igual a si mesmo na multiplicidade e diversidade dele” (2018, p. 68). Hegel não considera a universalidade como se fosse uma inteligibilidade transcendental oposta ao empírico e à diversidade, como na tradição kantiana, mas o universal é inseparável de sua negação e diferenciação na particularidade e na diversidade.
A universalidade não caracteriza um puro conceito separado, mas a autodeterminação na imanência da particularidade, em um processo de autoparticularização como um momento constitutivo seu. No interior da particularidade, o conceito se dá a si mesmo como um infinito processo de negação e de superação desta na negação da negação, quando se afirma positivamente enquanto conceito. O momento da particularidade, por sua vez, não é uma determinidade exteriormente acrescentada ao universal para preencher a sua indeterminação, mas caracteriza uma determinação intrínseca da própria universalidade. Para Hegel, “o particular é o próprio universal, mas ele é a sua diferença ou a relação com um outro, é o seu aparecer para fora; porém, não está presente nenhum outro do qual o particular seria diferente senão o próprio universal” (2018, p. 72). A particularidade não é o outro da universalidade, na forma de uma exterioridade vazia e posteriormente acrescentada, mas é o próprio universal na sua determinidade, na sua diferença imanente e na lógica de autodesenvolvimento e autocontradição. Dessa forma, a particularidade expõe a universalidade na sua determinidade, nas condições próprias da determinação e no momento preciso desse processo.
Na exposição hegeliana, a singularidade aparece como a síntese entre a universalidade e a particularidade, na forma do retorno da universalidade a si mesma por meio da determinidade do conceito universal. Para Hegel, “A singularidade, como resultou, já está posta pela particularidade; esta é a universalidade determinada, portanto, a determinidade que se relaciona consigo, o determinado determinado” (2018, p. 85). O retorno à universalidade por meio da particularidade não caracteriza o simples retorno à universalidade vazia do começo, mas um autodesenvolvimento dialético mais elevado na universalidade concreta da singularidade. Hegel caracteriza este momento como determinado, na dupla potencialidade da determinação, na segunda determinação positiva na qual a universalidade e inteligibilidade são devolvidas à determinação. É o determinado que se relaciona consigo mesmo na autorreflexividade. A singularidade pode ser interpretada numa dupla acepção, primeiramente na singularidade de Hegel e de Marx como síntese condensada entre a universalidade do gênero e a particularidade da espécie humana expressas na concretude da singularidade, na condição de sujeitos conscientes de si mesmos. O momento da singularidade também pode ser interpretado como universalidade e totalidade concreta, como síntese entre a universalidade do gênero humano e a particularidade do indivíduo na totalidade concreta da sociedade humana. Em um exemplo tipicamente hegeliano, a singularidade é a síntese entre a universalidade da Ciência da Lógica e a particularidade da Filosofia da Natureza na universalidade concreta da Filosofia do Espírito, contendo a totalização do movimento da lógica do sistema filosófico. Do ponto de vista estritamente lógico, a universalidade é a substancialidade intrínseca da multiplicidade da particularidade, na qual a singularidade expressa o sistema relacional no qual a universalidade e a particularidade são reciprocamente imanentes um no outro.
A teoria do juízo expõe as múltiplas formas de entrelaçamento entre o sujeito e o predicado, na perspectiva da identificação entre os mesmos.
Para Hegel, “Mas, enquanto agora o sujeito é o autossubsistente, assim aquela identidade tem a relação de que o predicado não tem um subsistir autossubsistente para si, mas, ao contrário, tem seu subsistir apenas no sujeito; ele lhe inere” (2018, p. 97). A mútua compenetração entre o sujeito e o predicado tem um desdobramento complexo e multifacetário, nas inúmeras formas de singularização e de universalização que esta lógica compreende. Numa primeira aproximação, o predicado é uma universalidade que inere, como uma substancialidade imanente, na estrutura do sujeito. Por outro lado, o sujeito caracteriza uma base real de aplicação de uma multiplicidade de predicados. A teoria hegeliana do juízo supõe uma multiplicidade de predicados e uma multiplicidade de sujeitos, todos eles implicados na mediação da cópula. Nessa implicação, a universalidade do predicado é ilimitada e a singularidade do sujeito é restrita e empiricamente determinada. Na medida em que a singularidade é uma das determinações do predicado, o sujeito singular é subsumido pelo predicado que o envolve em si mesmo. Na contramão deste movimento de inerência do predicado no sujeito, o sujeito é um sistema de predicados e de determinações concretas, transformando-se numa universalidade concreta. O predicado, por sua vez, se transforma em singularidade porque figura como uma das atribuições possíveis, enquanto preserva a sua universalidade em razão de sua inerência em múltiplos sujeitos. Dessa forma, sujeito e predicado invertem as suas atribuições fundamentais e as preservam, na medida em que o predicado não se restringe a nenhum sujeito, e o sujeito é uma síntese de uma multiplicidade de predicados, tornando-se concreto.
Assim, adentramos no terreno do silogismo. A compreensão dos silogismos é fundamental para a exposição do sistema filosófico hegeliano, pois além da formulação realizada por Hegel no coração de sua Ciência da Lógica, o faz em todas as esferas filosóficas e articula silogisticamente todo o seu sistema. Para Hegel, “Mas na razão os conceitos determinados estão postos na sua totalidade e unidade. O silogismo não é, portanto, apenas racional, mas todo o racional é um silogismo” (2018, p. 135). Hegel expõe a sua filosofia em silogismos com a finalidade de integrar a unidade e a diversidade, a totalidade e a unidade, para superar toda a forma de dualismos filosóficos e formas indiferenciadas de racionalidade. Na formulação hegeliana dos silogismos, a totalidade é o ponto de equilíbrio entre a unidade e a diversidade, pois a estrutura complexa se universaliza num sistema de relações, como uma unidade na diversidade, como substancialidade imanente ao diverso, e como diversidade na unidade, como diversidade interrelacionada na formação da universalidade concreta. Para Hegel, o silogismo não é apenas racional enquanto forma de pensamento possível, mas todo o racional é um silogismo porque a racionalidade é a integração e a mediação de múltiplos círculos de racionalidade e de realidade.
No formato de organização silogística exposta por Hegel em toda a sua obra, não há mais uma universalidade vazia contrastada à particularidade empírica, mas o silogismo é a expressão da universalidade preenchida de conteúdo, enquanto totalidade racionalmente articulada. De agora em diante, tudo passa a se transformar num sistema de mediações, no qual uma determinação ou círculo medeia na medida em que é mediado, e é mediado na medida em que medeia. As trilogias hegelianas verificáveis em toda a sua obra, tais como ser, essência e conceito; universal, particular e singular; Lógica, Natureza e Espírito; espírito subjetivo, espírito objetivo e Espírito absoluto, todas estas estruturas de racionalidade são expostas em silogismos nos mais variados formatos de mediação.
Na Doutrina do Conceito, a passagem da subjetividade para a objetividade é um momento estruturante. Na mediação da universalidade, alcançada pelo silogismo da necessidade e a consequente interiorização das determinações concretas de singularidade e de particularidade como constitutivas, o conceito é suprassumido em objetividade. Nesta dialética, a objetividade não é um momento exterior à subjetividade e a ela acrescentada, mas caracteriza o autodesenvolvimento da subjetividade em objetividade. Nessa exposição, Hegel retoma a prova ontológica, de Santo Anselmo, para afirmar que o conhecimento de Deus e a realidade de Deus não são momentos separados, como na tese kantiana da impossibilidade do conhecimento de Deus pela razão teórica, mas o conhecimento de Deus por parte do sujeito constitui momento do próprio Deus. Para Hegel, “Mas precisamente, enquanto é o objeto absoluto, Deus não se contrapõe à subjetividade como uma potência hostil e tenebrosa, mas a contém, antes, em si mesmo como momento essencial” (HEGEL, 1995, §194, Zusatz). Na passagem para a objetividade, Deus não é um objeto exterior à razão teórica e impossível de ser por ela conhecida, não é um objeto tenebroso contraposto à subjetividade finita e contingente, mas é determinado como objeto absoluto. Hegel já superou a oposição entre Deus e homem, entre absoluto e relativo, mas a subjetividade humana através da qual Deus pode ser conhecido é determinada como momento do autoconhecimento de Deus. Nessa formulação, todas as antinomias e relações assimétricas entre termos já foram superadas, porque Deus, na sua absoluticidade e totalidade, penetra tudo, perpassa tudo, interliga tudo, especialmente penetra no pensamento humano, na condição de Deus em tudo. Por outro lado, tudo se desenvolve e se relaciona em Deus como determinabilidade universal de tudo, no círculo segundo o qual tudo está em Deus. Nesta exposição, Hegel conjuga ontologia e epistemologia, na medida em que a objetividade da natureza e do mundo são racionalmente conhecidos, e o conhecimento é constitutivo da própria objetividade.
O ponto de chegada da Ciência da Lógica é a unidade dialética entre subjetividade e objetividade, alcançada na ideia. Esta esfera lógica é como um oceano no qual desembocam todas as estruturas categoriais e de racionalidade da Ciência da Lógica, estruturada por Hegel em ideia de vida, ideia de conhecimento e ideia absoluta. “O objeto, o mundo objetivo e subjetivo em geral, não devem meramente ser congruentes com a ideia, mas eles mesmos são a congruência do conceito e da realidade” (HEGEL, 2018, p. 239).
A unidade do conceito e da objetividade significa que o conceito não é mais restrito à sua formalidade meramente teórica, assim como a objetividade não é mais a exterioridade fenomênica imediata. A unidade entre o conceito, primeiro capítulo da Doutrina do Conceito, e a objetividade, segundo capítulo da Doutrina do Conceito, na Ideia significa que a objetividade corresponde ao seu conceito a ele intrínseco, e o conceito se determina na objetividade.
Dessa forma, no universo da Filosofia do real, o Estado corresponde ao seu conceito quando os cidadãos são efetivamente livres e as suas relações ético-políticas são estruturantes da vida ética e social. Uma igreja corresponde ao seu conceito quando ela é capaz de congregar os seus fiéis no amor e difundir no mundo a lógica do amor como realidade mesma de Deus.
Assim, no capítulo final sobre a Ideia, a confluência sintética entre conceito e objetividade caracteriza a imanência do conceito na realidade, a sua inteligibilidade, e marca o autodesenvolvimento da realidade no desdobramento metódico, enquanto estrutura do conteúdo. Sob o ponto de vista estrito do pensamento filosófico, o capítulo final da Ideia caracteriza o sistema da racionalidade filosófica em seu autodesenvolvimento metódico, na expressão da significação filosófica no conteúdo das estruturas macrossistemáticas da filosofia, como por exemplo, o desenvolvimento da totalidade da História da Filosofia o dos sistemas do Idealismo alemão.
A vida não é apenas o processo interno do autossentimento de si mesmo, mas é traduzida no processo vital de posição da objetividade externa da universalidade real no processo de gênero. Na exposição hegeliana, o gênero consiste na superação da restrição imposta pela exterioridade objetiva ao sujeito, pela autoposição dele mesmo no processo de gênero, no qual o relacionamento com a exterioridade caracteriza uma relação fundamental consigo mesmo. “Este universal é o terceiro estágio, a verdade da vida, na medida em que essa ainda está encerrada no interior da sua esfera. Este grau é o processo que se relaciona consigo do indivíduo, onde a exterioridade é o seu momento imanente” (HEGEL, 2018, p. 258). No processo de gênero, o sistema de objetividade não é mais estranho ao indivíduo, mas o seu próprio processo de universalização transforma a objetividade em determinação imanente sua; por outra, a subjetividade do indivíduo é a próVERITAS pria inteligibilidade da objetividade. Dentro da multiplicidade de indivíduos autossubsistentes, o gênero integra no sentimento de si mesmo do indivíduo o sentimento recíproco em relação a todos os outros, significa dizer que a coletividade é constitutiva do sentimento de si. A reflexão do gênero dentro de si mesmo produz a universalidade genérica em que todos os indivíduos são entrelaçados em relações que formam todo o sistema, como uma força intrínseca que se desdobra a todos os seres vivos. “A reflexão do gênero dentro de si é, segundo esse lado, aquilo através do qual o gênero obtém efetividade, na medida em que o momento da unidade negativa e da individualidade é posto nele – a propagação das gerações vivas” (HEGEL, 2018, p. 259). A reflexão do gênero em sua interioridade produz a efetividade no desdobramento das gerações, na negatividade preservadora da unidade fundamental e incrementa o desenvolvimento qualitativo no qual uma geração se atualiza em relação à outra. A questão de gênero formulada por Hegel na parte da Lógica compreende dois movimentos sistemáticos integrados, na unidade intrageracional da atual geração, em seu sistema de vida, e na projeção intergeracional impulsionadora do desenvolvimento e a atualização do movimento genético.
A ideia de conhecimento acontece no duplo movimento integrador das formas do analítico e do sintético. O conhecimento analítico se restringe ao imediatamente conhecido, sem a consideração de suas determinações e de seus desdobramentos. Integra apenas a forma do conhecimento, sem a consideração do seu conteúdo. Quando se considera, por exemplo, o conhecimento matemático, o momento analítico se restringe simplesmente aos números matemáticos e às suas operações, sem a aplicação à realidade quantificada a partir dessas fórmulas. Trata-se apenas do conceito de racionalidade, sem a consideração de suas estruturas reais e concretas. Na consideração da racionalidade filosófica, o conhecimento analítico se restringe às formas lógicas mais elementares, não entrando em consideração o desdobramento histórico dessa racionalidade e as mediações históricas efetivas. Esse momento integra apenas a genética originária da racionalidade, o seu momento mais indeterminado e vazio, sem a consideração de seus mais variados desdobramentos. Para Hegel, “A partir da natureza a ideia do conhecer resultou que a atividade do conceito subjetivo, por um lado, tem de ser vista somente como desenvolvimento daquilo que já está no objeto” (2018, p. 275). Por esta via, o conhecimento analítico considera o objeto em sua imediaticidade, em sua pura objetividade, como um dado apriorístico, sem a mediação da subjetividade. “O conhecer sintético visa ao compreender daquilo que é, quer dizer, visa apreender a multiplicidade de determinações em sua unidade” (HEGEL, 2018, p. 281).
Enquanto o conhecimento analítico separa as determinações como um atomismo epistemológico, o conhecimento sintético apreende a realidade na riqueza sintética das suas determinações dialeticamente integradas como uma totalidade concreta. O conhecimento sintético não aborda apenas a estrutura concreta e o sistema de interconectividade do real apreendido pela subjetividade, mas o processo de desdobramento das determinações, no desenvolvimento intersistemático em estruturas cada vez mais complexas e concretas. Trata-se de um processo de determinação do que estava indeterminado no momento analítico, numa progressiva evolução do círculo dialético do conhecimento em sempre mais extensa concretude e objetividade, e em sempre mais intensiva subjetividade e interioridade.
A Ciência da Lógica conclui com o capítulo intitulado “A ideia absoluta”. Em um dos mais difíceis textos da filosofia hegeliana, para ele desemboca toda a estrutura dialética da Ciência da Lógica em sua evolução dialética, como também abre para as outras esferas do sistema filosófico na Filosofia da Natureza e na Filosofia do Espírito. Na formulação hegeliana, a ideia absoluta não é apenas uma esfera lógica, mas uma esfera interdisciplinar e interesférica que interliga os círculos da Lógica, da Natureza e do Espírito.
Na ideia absoluta, Hegel aborda a questão do método, não como uma forma externa aplicada ao conteúdo, mas como autodeterminação racional do próprio conteúdo, no movimento da atividade absoluta. Para Hegel, “O método é, por isso, a alma e a substância e qualquer coisa é compreendida e sabida na sua verdade somente enquanto está perfeitamente submetida ao método; ele é o método próprio de cada Coisa mesma” (2018, p. 315). A ideia absoluta é estruturada por Hegel como unidade entre ideia teórica e ideia prática, entre conceito e objetividade, entre ideia de conhecimento e ideia de vida no movimento racional do próprio conteúdo. No método, o conceito é a alma impulsionadora do movimento e o conteúdo é a estrutura de objetividade, na síntese do automovimento do próprio conteúdo.
Como alma do conteúdo, a universalidade do método se determina na objetividade do conteúdo enquanto sistema de totalidade sistemática, em círculos de universalidade que são formas de autodeterminação da ideia absoluta. A Lógica, a Natureza e o Espírito caracterizam círculos diferenciados de autoparticularização da ideia que se determina em objetividade e em oposição à objetividade. Em cada círculo de autodeterminação, a ideia se universaliza, retorna a si mesma e se abre para outra esfera de efetivação, estabelecendo um sistema de totalidade em movimento, no qual ela própria é a força articuladora desta estrutura e mediadora universal.
O método caracteriza um processo de autodesenvolvimento imanente e de contínua ampliação das estruturas de objetividade, sustentado com o retorno à subjetividade enquanto reflexividade do método.
Resenhamos alguns pontos que consideramos estruturantes na Doutrina do Conceito hegeliana. Porém, ela não se restringe ao sistema e à filosofia hegeliana, mas ela é estendível aos nossos tempos. Na atualidade, partir dessa parte da filosofia hegeliana permite atribuir a ela outras funções e estendê-la para o complexo campo da realidade atual.
Hegel nos legou a ideia de contradição como estrutura fundamental do pensamento e da realidade, e a apresenta como um processo em construção em círculos de negação, de contradição e de novos níveis de afirmação. Depois de Hegel, a Doutrina do Conceito ainda é a melhor referência filosófica que temos para compreender a realidade dinâmica, complexa e contraditória. O processo de particularização e de singularização exposto no começo indicam essa lógica. A teoria do silogismo, na forma de sistemas de mediação, é um recurso lógico e epistemológico que nos abre à totalidade do mundo e seus processos.
Agora temos em mãos a tradução completa da Ciência da Lógica, de Hegel, em português. É uma das principais e mais difíceis obras da literatura universal. É uma obra que precisa ser estudada sempre, em razão de seu conteúdo e de sua significação inesgotáveis. Mesmo que ela seja estudada durante uma vida inteira, jamais alguém seria capaz de apreender toda a sua estrutura de racionalidade. Como Hegel escreveu uma Filosofia da História universal, a História universal vai manifestando o seu significado, e, coextensivamente, a Ciência da Lógica ajuda a compreender o significado profundo da História universal. Mesmo com uma vasta bibliografia já acumulada em estudos e comentários, na condição de literatura secundária, ainda estamos longe de conhecê-la satisfatoriamente.
A complexidade da obra desafia qualquer leitura, estudo e grau de conhecimento que se tenha dela, especialmente porque ela vai explicitando novos sentidos e possibilidades de interpretação. Na Doutrina do Conceito, de modo particular, aprendemos de Hegel a não aplicação de uma racionalidade a um conteúdo determinado, a não separação entre universalidade e particularidade, mas um desenvolvimento dialético que parte de dentro e se universaliza progressivamente. Essa noção de racionalidade, estendida ao campo do real, significa que o mundo não é consequência de uma força superior e exterior, mas especialmente a História universal se desdobra a partir de uma racionalidade que carrega dentro, e a própria História aprofunda essa racionalidade.
João Alberto Wohlfart- Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professor no Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE), Passo Fundo, RS, Brasil. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4126-3961. E-mail: joao.wohlfart@fabemarau.pro.br Ciência da lógica | João Alberto Wohlfart João Alberto Wohlfart1 Instituto Superior de Filosofia Berthier, Passo Fundo, RS, Brasil. Endereço Postal: Instituto Superior de Filosofia Berthier R. Sen. Pinheiro, 350 – Vila Rodrigues, Passo Fundo – RS, CEP 99070-220
A doutrina da Essência – HEGEL (V)
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A doutrina da Essência. V. 2. Equipe de Tradução: Christian G. Iber e Federico Orsini. Coordenador: Agemir Bavaresco; Colaboradores: Marloren L. Miranda e Michela Bordignon. Revisor: Francisco Jozivan G. de Lima. Petrópolis, Vozes; Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2017, pp. 271. Resenha de: WOHLFART, João Alberto. Veritas, Porto Alegre, v. 63, n. 2, p. 801-813, maio-ago. 2018.
Veio a lume a tradução do segundo volume da Ciência da Lógica intitulado “A Doutrina da Essência”, uma tradução realizada por Christian Iber, Federico Orsini, resultante de um trabalho em equipe coordenado pelo professor Agemir Bavaresco. O belo livro que temos em mãos integra a coleção de obras filosóficas denominada Pensamento Humano, editado e publicado pela Editora Vozes. Com esta tradução, os falantes de língua portuguesa e os estudantes de filosofia de todos os níveis têm em mãos uma obra fundamental do pensamento hegeliano para a leitura, abordagem em aula, produções filosóficas e aprofundamento do conhecimento da filosofia hegeliana, especialmente no Brasil. Para os que lemos uma das principais obras filosóficas da história, durante anos, no idioma do filósofo Hegel, agora temos a agradável surpresa de ter em mãos este texto difícil na nossa língua portuguesa.
Esta tradução já fora antecipada pela tradução do primeiro volume da Ciência da Lógica, a Doutrina do Ser, e a sua adequada leitura e compreensão deve ser antecipada pela leitura do primeiro volume. A Doutrina do Ser termina com o círculo categorial da desmedida, portanto na abstração e na indeterminação universal, sem que nada possa ser determinado e diferenciado em relação a outras coisas. Por este viés, a primeira questão a ser abordada por Hegel na Doutrina da Essência é a determinação e diferenciação das coisas, o estabelecimento do estatuto lógico da multiplicidade e da diversidade. Do ser para a essência qual a indeterminação universal do ser mergulha na interioridade de sua reflexão, o que resulta no revestimento do ser por determinações concretas.
Hegel, na Doutrina da Essência, não ressuscita a velha noção metafísica de essência e não se apropria da sua noção kantiana, mas submete a metafísica tradicional a uma radical crítica. Dualismos metafísicos de toda a espécie são demolidos, aplainados e integrados num mesmo círculo relacional no qual cada polaridade subsiste na outra e pela outra. De modo geral, a Doutrina da Essência pode ser interpretada como uma crítica radical, demolidora e destruidora da metafísica tradicional, dos dualismos clássicos, do pensamento moderno e das formas estáticas de pensamento. Desta forma, ao longo deste volume da Ciência da Lógica são unificados dialeticamente binômios como essência e aparência, condicionado e incondicionado, necessidade e contingência, substância e acidente, absoluto e relativo, substância e interação etc. Ao longo da exposição hegeliana, estes opostos vão sendo progressivamente integrados, dissolvidos em outros níveis de pensamento, ao mesmo tempo em que o filósofo vai expondo a mais profunda crítica filosófica até então conhecida, especialmente no processo de dissolução de estruturas consagradas da metafísica tradicional.
O livro não é apenas surpreendente no seu processo de exposição, com uma linguagem filosófica dificilmente compreensível a partir de uma simples leitura, mas surpreende com um olhar atento do índice do livro. A segunda parte que trata do aparecimento surpreende porque sinônimos como aparência e fenômeno não são mais interpretados como contrários à razão, mas a aparência se torna uma dimensão fundamental da própria razão. Neste sentido, uma das novidades fundamentais da Doutrina da Essência é a introdução, como constitutiva da razão, de uma dimensão que sempre lhe foi negada. Com esta abordagem hegeliana, não há mais nenhum fundamento inabalável para a razão, nem de ordem metafísica, ou teológica, ou lógica, mas a razão se autofundamenta no seu próprio caminho de constituição, de forma que a Lógica hegeliana não tem o recurso a uma esfera exterior a ela.
A Doutrina da Essência apresenta uma trilogia dialética constituída pela essência, pelo aparecimento e pela efetividade. Cada uma destas seções é também tripartite, na essência estruturada em aparência, nas determinações da reflexão e no fundamento; o aparecimento estruturado em existência, em aparecimento e em relação essencial; a efetividade estruturada em absoluto, na efetividade e na relação absoluta. Para traduzir em palavras simples o significado filosófico das três seções da Doutrina da Essência, a essência se refere às determinações imanentes da essência, tais como a identidade, a diferença e o fundamento; o aparecimento se refere à exteriorização da essência, especialmente na destruição da coisa, na interação entre as coisas e na relação essencial; a efetividade se refere ao substancial processo de aparecimento da razão, especialmente na lógica das modalidades e no sistema da relação absoluta, no qual conclui a Doutrina da Essência. Em toda a trajetória desta exposição, conceitos opostos vão se integrando, se alternando, e a razão como um todo se constitui através do processo de mediação. Assim, com a incorporação do aparecimento como constitutivo da razão, ela se transforma num movimento sistêmico de negação e de constituição.
A primeira seção da Doutrina da Essência trata das determinações da reflexão, especialmente a identidade, a diferença e a contradição. Talvez, nesta seção compreendemos a razão para se escrever uma Doutrina da Essência, não para legitimar a clássica noção de essência, mas para dissolvê-la por completo. Por este viés, não existe mais uma simples noção de identidade na clássica fórmula A=A, com a exclusão do outro, mas a identidade somente é tal com a inclusão da diferença. Ela somente pode ser explicada e fundamentada pela diferença, pois somente algo é idêntico pela sua diferenciação em relação à alteridade, e a diferença somente é tal diante da identidade. Na formulação hegeliana, identidade e diferença se compenetram mutuamente, pois a identidade se constitui diante da diferença, e a diferença é identidade consigo mesma e diferença em relação à identidade. Por seu curso, a identidade é diferença em relação à diferença, de modo que, identidade e diferença, cada qual, é duplamente constituída pela identidade e pela diferença. Neste raciocínio, cada uma destas determinações somente é pela outra, pois cada uma é refletida em si mesma a partir de seu outro. As várias modalidades de diferença expostas por Hegel são a diferença absoluta, a diversidade, a oposição e a contradição, pois a diferença absoluta diz respeito à relação da diferença em relação a si mesma, na medida em que absolutamente tudo estabelece relação com a sua diferença.
Hegel estabelece a unidade entre a identidade e a diferença na categoria de fundamento. Para Hegel, fundamento não significa uma base incondicionada e imóvel sobre a qual é edificada uma consequência ou uma causalidade segunda linearmente deduzida do fundamento primeiro, mas o fundamento constitui o círculo relacional entre a identidade e a diferença. O fundamento caracteriza uma espécie de totalidade relacional segundo a qual todas as coisas são idênticas consigo mesmas na medida em que se diferenciam, e tudo se diferencia na identidade. Trata-se, portanto, de uma extensão universal de interpenetração entre a identidade e a diferença, pois estas duas determinações da essência se encontram distribuídas por tudo. O fundamento, portanto, não é mais a identidade originária e absoluta de algo que exclui de si a alteridade, mas caracteriza a universal interpenetração da identidade e da diferença. Para Hegel, “a essência, na medida em que ela se determina como fundamento, determina-se como o não determinado, e somente o suprassumir de seu ser determinado é seu determinar-se” (93). Desaparece, em Hegel, a noção clássica de essência como algo determinado e específico, para dar lugar à indeterminação universal capaz de integrar os opostos como um círculo de autofundamentação universal. Neste sentido, se todas as coisas são confluência de identidade e de diferença, o fundamento constitui a estrutura universal integradora e sintetizadora de tudo.
Hegel expõe várias expressões e desdobramentos da categoria fundamento. A primeira delas é fundamento absoluto, em binômios categoriais como forma e essência, forma e matéria, forma e conteúdo. Nesta modalidade de fundamento, o primeiro é a condição e o segundo é o condicionado e a essência é o fundamento do aparecimento, da efetividade, enfim, o fundamento incondicionado de toda a Ciência da Lógica. A segunda modalidade de fundamento é fundamento determinado, expressa na necessidade de determinação geral e múltipla nas diferentes dimensões da razão e da realidade. Em outras palavras, o fundamento somente é tal na medida em que se expressa e se determina numa condição fundada, enquanto o fundamento é restringido pela condição de sua determinação. A terceira modalidade de fundamento é o fundamento completo, desdobrado no relativamente incondicionado e no incondicionado absoluto. Esta última modalidade é a bilateralidade relacional entre condição e condicionado, pois a condição se determina diante do condicionado, e o condicionado contém em si mesmo a condição.
A noção hegeliana de incondicionado absoluto não fixa uma dimensão diante da outra como polos irredutíveis e excludentes, mas desencadeia-se uma determinação recíproca entre condição e condicionado. Mesmo que não seja esta a problemática abordada por Hegel nesta seção, por exemplo, Deus somente pode ser considerado como absoluto e incondicionado se o homem o determina como absoluto na sua capacidade de pensá-lo e conhecê-lo.
A essência passa dialeticamente para o aparecimento. A noção hegeliana da essência não a deixa escondida num espaço numinoso e impenetrável, atrás das aparências, mas a essência deve aparecer na forma da diferença e da exterioridade. Desta forma, o aparecimento não significa uma expressão posterior e superficial de uma essência imóvel e incomunicável, mas no aparecer a essência se determina e põe as suas determinações racionais no processo de aparecimento. Para Hegel, “mas este ser, em que a essência se transforma, é o essencial, a existência; um ser que saiu da negatividade e da interioridade” (143). O aparecimento não é uma manifestação posterior e secundária, mas no aparecimento a essência se determina como essência, na condição dialeticamente qualificada da existência. Trata-se de um movimento de saída da interioridade abstrata e superficial, porque a existência é estruturada no equilíbrio entre a interioridade e a exterioridade, num contínuo processo de exteriorização e de interiorização, em níveis nos quais estes dois movimentos se integram e se diferenciam em novas configurações. Na noção hegeliana de aparecimento, fenômeno e existência têm em comum a lógica do movimento, porque nada mais pode ser interpretado como simplesmente dado, mas todas as determinações de racionalidade, mesmo as de caráter estritamente ontológicas e essencialistas, são resultado de um movimento de aparecimento.
A existência, tal como exposta por Hegel, pode ser considerada como uma densificação e universalização do fundamento, na dialética entre a mediação e o mediado. Mediação e mediado constituem-se reciprocamente na posição da mesma realidade. Assim, “a mediação através do fundamento se suprassume, mas não deixa o fundamento embaixo, de modo que aquilo que surge dele seria um posto, o qual teria sua essência em outro lugar, a saber, dentro do fundamento, mas esse fundamento, enquanto abismo, é a mediação desaparecida” (137). Desaparece a relação unilateral entre fundamento e fundado, entre
mediação e mediado, de modo que o que é fundado é portador da mesma fundamentação que o fundamento, ou seja, a mediação determina o mediado da mesma forma que o mediado determina a mediação. A noção hegeliana de existência, exposta nesta parte da Doutrina da Essência, forma uma espécie de abismo universal reintegrador e unificador de todos os dualismos metafísicos clássicos e kantianos, na condição de uma existência preenchida. Assim, ficou suprassumida a noção de essência enquanto fundamento da existência e do fenômeno, e o fundamento enquanto determinação primeira ficou positivado no fundamento universal. Em termos teológicos e religiosos, apenas para exemplificar, Deus não é mais uma transcendência inatingível pelo conhecimento finito, mas o abismo universal também preenchido e mediado pelo conhecimento humano.
Esta argumentação converge num aspecto estruturante no universo da Ciência da Lógica. Refere-se a um item intitulado por Hegel “a destruição da coisa”, pois ali o filósofo quebra com um dos dogmas fundamentais da velha metafísica sustentada em coisas densas, incomunicáveis e impenetráveis, e as dissolve numa espécie de configuração de relações. Coisas fixas são dissolvidas e substituídas por um movimento universal de interpenetração de matérias e de intercruzamento de movimentos de organização. De mônadas incomunicáveis, as “coisas” se transformam em polos abertos pelos quais e através dos quais outras matérias perpassam e o universo material é suprassumido num sistema universal de intercâmbio material. Assim, em todas as coisas são compreendidas múltiplas outras coisas, de forma que Hegel atualiza um fundamento clássico de racionalidade dialética segundo o qual “tudo está em tudo” e tudo está implicado em tudo. Isto expõe o princípio segundo o qual em cada coisa elementar está compreendida a totalidade, estruturada a partir da dialética do microcosmos e do macrocosmos, da elementaridade e da totalidade, do simples e do complexo etc. Para Hegel, “essa dissolução é um tornar-se determinado externo, tal como também o ser da mesma; mas sua dissolução e a exterioridade e seu ser é o essencial desse ser; ela é somente o também; ela consiste somente nesta exterioridade” (150). Para Hegel, as coisas não são constituídas na identidade própria, num conjunto de predicados que constituem o seu ser absoluto e incomunicável, mas são constituídas pela exterioridade de outros materiais e movimentos externos. Em outras palavras, uma coisa não é a identidade de si mesma, mas uma coisa é a sua própria exterioridade e diferença, em cujo movimento é muito mais forte e intensiva a heterodeterminação e heteronomia que a autodeterminação.
A Ciência da Lógica, especialmente na Doutrina da Essência, procede duplamente um caminho de destruição e de construção. Na segunda seção da Doutrina da Essência, que trata do aparecimento, Hegel destrói a essência e a aparência, mas suprassume estas determinações destruídas por uma configuração racional mais elevada e mais complexa. A pergunta é esta: qual seria a síntese mais elevada entre a essência e a aparência destruídas? Se Hegel destruiu o que sempre foi considerado como existente necessário, a essência metafísica, o que efetivamente existe? A resposta hegeliana a esta questão está no terceiro capítulo da segunda seção, a relação essencial. A relação dissolve e suprassume a essência e a aparência porque, por um lado, é constituído um sistema global no interior do qual tudo está relacionado, pois o que é fundamental em tudo e em todas as coisas são as relações que estabelecem. Nesta configuração, nada é imediatamente idêntico consigo mesmo, mas a relação é a unidade entre a referência a si mesmo e a referência a outro, pois na referência a outro se torna referente a si mesmo. Nesta sistemática, cada coisa ou sujeito está constitutivamente aberto a múltiplos outros sujeitos, e entre todas as coisas e sujeitos se estabelece um sistema de relação universal no qual todas as coisas estão relacionadas com todas as coisas, cada coisa e cada sujeito se relacionam com a totalidade e a totalidade com cada coisa, enquanto todas as coisas se constituem no interior da teia infinita e complexa que é a totalidade. Para Hegel, “ela é, portanto, algo quebrado dentro de si mesmo; mas esse seu ser suprassumido consiste no fato de que ela é a unidade de si mesma e de seu outro, portanto, um todo, e justamente por isso ela tem existência autossubsistente e é reflexão essencial dentro de si” (172).
Hegel fecha a Doutrina da Essência com a terceira seção dedicada à efetividade, qualificada como unidade dialética entre interioridade e exterioridade, essência e aparência. A efetividade não deve ser entendida como o resultado de uma reflexão anterior produtora de um efeito, mas enquanto unidade de essência e aparecimento, ela se determina como um movimento reflexivo de autodeterminação e autodesenvolvimento universais, na forma de aparecimento sistêmico e permanente. Hegel, como nas partes anteriores, estrutura esta seção na trilogia dialética
composta por “o absoluto”, “a efetividade” e “a relação absoluta”. Evidencia-se, nesta parte, uma teoria sobre o absoluto, numa densíssima exposição que vai além de todas as abordagens e formulações já realizadas até então pela História da Filosofia. Nesta construção, o absoluto é inseparável de um sistema de relações conjugada em binômios dialéticos como necessidade e contingência, substancialidade e acidentalidade, absoluto e relativo, substancialidade e relacionalidade. Para Hegel, “a identidade do absoluto é, por conseguinte, a identidade absoluta, pelo fato de que cada uma de suas partes é, ela mesma, o todo, ou seja, cada determinidade é a totalidade” (194). O absoluto não é verticalmente sobreposto ao mundo relativo e contingente, mas o absoluto é a totalidade universal internamente estruturado por um sistema de determinações no qual cada determinidade é a totalidade. Isto significa dizer que cada uma está mergulhada no abismo universal do absoluto como todas as outras, razão pela qual todas elas convergem em cada uma como configuração densificada de um sistema de relações. Vale aqui a proposição neoplatônica segundo a qual tudo está em tudo e por meio de tudo num sistema de interpenetração universal, como um movimento de singularização da totalidade e de totalização da singularidade. Para Hegel, “mas o próprio absoluto é a identidade absoluta; essa é a sua determinação, na medida em que toda a multiplicidade do mundo que é em si e do mundo que aparece ou da totalidade interior e exterior está suprassumida nele” (194). Não há uma exterioridade fora o absoluto ou uma manifestação externa rebaixada, tal como a noção criacionista cristã na qual o mundo está fora do absoluto, mas uma universalidade sistemática ilimitada que suprassume num único universo a interioridade e a exterioridade.
Dentro desta lógica, Hegel expõe o atributo do absoluto e o modo do absoluto. O atributo do absoluto não caracteriza dois lados de sua estrutura imanente, tais como o essencial e o inessencial, o númeno e o fenômeno, mas o atributo absoluto caracteriza simplesmente o absolutamente absoluto. Para Hegel, “dentro do absoluto, pelo contrário, essas imediatidades diferentes são rebaixadas à aparência, e à totalidade, que é o atributo, é posta como seu subsistir verdadeiro e único; mas a determinação, na qual ele é, está posta como o inessencial” (197). Os atributos não representam, para Hegel, diferenças qualitativas substancialmente diferentes entre si e, por consequência, incomunicáveis, mas as diferenças internas se tornam inessenciais na medida em que estão mergulhadas na mesma substancialidade universal. A curiosa inessencialidade indiferente universal é idêntica à essencialidade absoluta, pois, como veremos logo abaixo, a intercomunicação universal de todas as coisas produz uma espécie de substancialidade indiferente na qual as diferenças de coisas mergulham na indiferença global. Enquanto o atributo do absoluto produz a sua interiorização como lógica da identidade absoluta, o modo absoluto produz a exteriorização e a diferenciação, na radical cisão e contradição interna. Para Hegel, “o absoluto é a forma absoluta, a qual, como a cisão de si, é pura e simplesmente idêntica consigo, o negativo como negativo, ou aquilo que se junta consigo e somente assim é a identidade absoluta consigo, que igualmente é indiferente frente a suas diferenças ou é conteúdo absoluto; o conteúdo é, portanto, somente esta própria exposição” (199). A negação da identidade absoluta se dá na radical cisão enquanto o seu conteúdo é automanifestação, não no sentido de que o conteúdo da essência se manifesta em determinadas formas exteriores, mas no movimento de identificação da forma e do conteúdo como automanifestação absoluta. A autocontradição de si mesma enquanto autonegação passa a ser a identidade através da qual o absoluto se automediatiza consigo mesmo como exposição de si.
No capítulo segundo, Hegel expõe a lógica das modalidades, um dos capítulos muito estudados de toda a literatura hegeliana. Para Hegel, “então, como a manifestação de que não tem outro conteúdo e não é nada mais do que o fato de ser sua manifestação, o absoluto é a forma absoluta. A efetividade tem de ser tomada como esta absolutidade refletida” (205). A lógica das modalidades tem como significação fundamental a forma absoluta da manifestação, distribuída na possibilidade e necessidade formais; na necessidade relativa ou efetividade, possibilidade e necessidade reais; e na necessidade absoluta. De modo geral, Hegel não expõe uma necessidade cega que elimina a diferença, a multiplicidade, a possibilidade e a contingência, como, num outro plano, a História estaria conduzida por uma causalidade inexorável onde tudo estaria incondicionalmente predeterminado. A noção hegeliana de necessidade absoluta se dá porque passa a ser constitutiva da racionalidade a contingência e a multiplicidade. Não se trata de uma lógica que elimina a contingência, mas o que propriamente é absoluto é a ciranda e a dança das modalidades e a metamorfose de uma modalidade nas outras. Para Hegel,
“[…] suas diferenças não são, por conseguinte, como determinações da reflexão, mas sim como multiplicidade que é, como efetividade diferenciada, que tem a figura de outros autossubsistentes uns frente aos outros” (218).
Na multiplicidade, as modalidades são determinadas umas frente às outras, são reciprocamente mediadas num sistema absoluto, o que resulta na identidade absoluta internamente diferenciada na transformação da efetividade em possibilidade e da possibilidade em efetividade. Não se trata, portanto, da necessidade absoluta que elimina a contingência, mas o movimento entre a possibilidade, a contingência, a multiplicidade, a realidade e a efetividade resultam na necessidade absoluta.
Hegel conclui a Doutrina da Essência com um capítulo sobre a relação absoluta. Trata-se de um capítulo decisivo na Ciência da Lógica como um todo, no pensamento hegeliano e na literatura filosófica universal. Como Hegel expõe uma lógica da contradição, a relação absoluta aparece como a expressão máxima da contradição e da Doutrina da Essência como um todo. A descoberta fundamental da Doutrina da Essência agora se torna plena, ao conjugar dialeticamente a absoluticidade e a relatividade. Nesta lógica, a relatividade se torna absoluta em função da interrelacionalidade global de todas as coisas que constituem o sistema do absoluto propriamente dito, e o absoluto se torna relativo em função da autorrelação universal consigo mesmo na autorreflexão. A dissolução da coisa enquanto metafísica da mônada incomunicável e impenetrável resultou no conceito de relação absoluta na qual todas as coisas são essencialmente interconectadas entre si no interior da totalidade do absoluto, de forma que a relatividade tem a mesma abrangência e profundidade da absolutidade. Para Hegel, “a essência enquanto tal é a reflexão ou o aparecer; mas a essência enquanto relação absoluta é a aparência posta como aparência, a qual, como esse relacionar consigo, é a efetividade absoluta” (221). Conforme observamos acima, agora a essência não se exterioriza mais num fenômeno posterior e superficialmente relacionado ao fundamento imóvel, mas a relação absoluta aparece no movimento e aparência universal, como autorrelação absoluta e efetividade absoluta. Em outras palavras, as sólidas e dinâmicas relações entre a multiplicidade variada de coisas se universaliza no movimento e na aparência quee resulta na autorreflexividade do absoluto. Em suma, poderia se afirmar que o resultado da Doutrina da Essência é a relatividade universal, a ponto de absolutizar a relatividade, numa espécie de manifestação da efetividade absoluta igual a si mesma.
A primeira forma de relação absoluta é a relação de substancialidade efetivada na implicação de imanência entre substancialidade e acidentalidade. A substancialidade se desdobra na multiplicidade de acidentes e os acidentes se organizam na imanência da substancialidade. Para Hegel, “o aparecer é o aparecer que se relaciona consigo, assim ele é; este ser é a substância como tal. Inversamente, este ser é apenas o ser posto idêntico consigo, assim ele é a totalidade que aparece, a acidentalidade” (222). A substancialidade aparece como a autorreflexividade do aparecimento que se traduz no sistema de acidentalidades em totalização reflexiva. Nesta perspectiva, a substancialidade é a absoluta atuosidade em autocontradição de si mesmo manifestada na coextensividade entre destruição e criação, pois a força da substancialidade cria na medida em que destrói, e destrói na medida em que cria. A relação de substancialidade se transforma em relação de causalidade porque a absoluta atuosidade tem como resultado a produção do efeito. Na verdade, causa e efeito constituem a mesma realidade da autocausalidade da substância.
A Doutrina da Essência conclui com a categoria da interação. A relação de substancialidade e a relação de causalidade desaparecem e dão lugar à interação. Segundo Hegel, “inicialmente, a interação apresenta-se como uma causalidade recíproca de substâncias pressupostas que se condicionam, cada uma é, frente à outra, substância ativa e passiva ao mesmo tempo” (238). Entre as diversas substâncias estabelece-se uma interação que consiste na causalidade recíproca entre uma e outra; numa multiplicidade indeterminada de substâncias em causalidade recíproca; cada substância singular é causada pela totalidade de substâncias; cada substância individual causa a totalidade substancial. Esta multilateralidade interacional e interconectividade universal produz uma força de interação no interior da qual as múltiplas substâncias estão mergulhadas como um complexo sistema relacional. A imagem adequada para expressar este sistema é a rede, na qual cada nó representa uma substância e os fios indicam as múltiplas conexões com e entre as substâncias. Aliás, as substâncias desaparecem como autônomas e se transformam em configurações de relações por onde converge e atravessa todo o movimento interacional da totalidade do sistema. Hegel subverte a tradição ao proporcionar dinamicidade e densidade substancial às relações e transformar em fenômeno as “coisas” individuais. Para Hegel, “a necessidade é o ser porque ele é, – a unidade do ser consigo mesmo, o qual tem por si o fundamento; mas, inversamente, porque ela tem um fundamento, não é ser, é pura e simplesmente aparência, relação ou mediação” (239). As múltiplas substâncias não têm o fundamento nelas mesmas e são exteriormente relacionadas entre si, mas a relacionalidade e interrelacionalidade universal é a substância no interior da qual tudo é mediatizado com tudo. Agora, as substâncias se transformam em elos de relação e em aparências, pois são formas diferenciadas de aparecimento do mesmo sistema universal que se diferencia internamente em várias formas de densificação relacional.
Não pode ser esquecida a passagem da Doutrina da Essência para a Doutrina do Conceito. Na última parte do texto sobre a interação Hegel dá importantes pistas sobre esta passagem, caracterizada especialmente pela passagem da causalidade e da necessidade na lógica da liberdade, da autodeterminação e da intersubjetividade. Hegel mesmo aponta que o mais difícil caminho é o da passagem na necessidade na liberdade, da causalidade na autodeterminação, da substancialidade no conceito. Neste caminho dialético, a relação de substancialidade é suprassumida na universalidade do conceito, na inteligibilidade conceitual que permanece idêntica consigo mesma na multiplicidade. A relação de causalidade é suprassumida pela particularidade do conceito enquanto autodesenvolvimento e autodeterminação imanente que forma a totalidade do conceito. Nesta exposição, a universalidade é inseparável da diferenciação imanente, pois, pelo caminho inverso, a universalidade ficaria suspensa num plano transcendente e reduzida a uma mera particularidade formal e vazia. A interação é suprassumida na singularidade do conceito como um círculo que reconduz a estrutura da racionalidade dialética da particularidade para a universalidade, na condição da universalidade concreta.
A Doutrina da Essência vai muito além da sua estrutura interna sinteticamente reconstruída acima. Ela contém dentro de si uma crítica profunda e demolidora dos dualismos metafísicos tradicionais e uma crítica ao pensamento moderno, especialmente de Kant e de Espinosa. Hegel mostra que o pensamento filosófico não é constituído por monumentos fixos e determinados neles mesmos, mas todas as formas de pensamento filosófico constituem aparências de um movimento universal. Além de estabelecer a passagem dialética para a Lógica do Conceito, a Doutrina da Essência vai muito além dela, estendendo as suas luzes para as contemporâneas Teorias da Complexidade e dos Sistemas. A compreensão do mundo atual, da natureza, da sociedade e do Universo como um complexo sistema relacional, como um sistema de sistemas complexos interrelacionados, tem a sua matriz fundamental na Doutrina da Essência hegeliana. É o marco referencial da Lógica, da Epistemologia e da Ontologia de uma época, acrescido do movimento dialético e processual de constituição destes sistemas. A Doutrina da Essência pode ser considerada como a mediação fundamental entre o modelo clássico, metafísico e dogmático de pensamento e o modelo contemporâneo relativista e pragmatista de pensamento. Isto se sustenta porque Hegel constrói um sistema dinâmico dialeticamente articulado, com momentos estruturantes neste processo de construção.
João Alberto Wohlfart – Doutor em Filosofia pela PUCRS. Professor titular de Filosofia no Instituto Superior de Filosofia Berthier. E-mail: joao@fabemarau.edu.br.
Metafísica e ética. A filosofia da pessoa em Lima Vaz como resposta ao niilismo contemporâneo – OLIVEIRA (V)
OLIVEIRA, C. M. R. Metafísica e ética. A filosofia da pessoa em Lima Vaz como resposta ao niilismo contemporâneo. Coleção Estudos Vazianos. São Paulo: Loyola, 2013. 295p. Resenha de: RIBEIRO, Elton Vitoriano. Veritas, Porto Alegre, v. 63, n. 2, p. 814-818, maio-ago. 2018.
O livro Metafísica e ética de Cláudia Oliveira, professora de metafísica da FAJE, é fruto de seu doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana (Roma, Itália). Segundo a própria autora, este livro quer explicitar num grande panorama o percurso de Lima Vaz, na intenção de ser “uma introdução à sua proposta de reler a metafísica de Tomás de Aquino à luz da dialética platônico-hegeliana” (OLIVEIRA,2013,p.22). Este panorama, desenhado pela autora tem dois núcleos de atração, a metafísica e a ética na modernidade. Modernidade que Lima Vaz esforçou-se por compreender seus projetos, caminhos, descaminhos, conquistas e desilusões (OLIVEIRA,2013,p.25). Neste esforço, Lima Vaz fez em sua obra uma grande rememoração percorrendo toda a história da filosofia para pensar filosoficamente a existência humana num mundo. Mundo contemporâneo em contínua, rápida e variada transformação.
A pergunta inicial que guia a autora, em sua reflexão é muito interessante. Lima Vaz, em seu pensamento, distanciando-se da filosofia pós-metafísica, no livro “Introdução à ética filosófica 2” afirma: não há ética sem metafísica. A partir daí a autora se pergunta: existe uma relação necessária entre metafísica e ética? Nos termos da autora: “Se, por um lado, para Lima Vaz não há ética sem metafísica, por outro lado, é possívelafirmar que para ele exista metafísica sem ética?” (OLIVEIRA,2013,p.12). Aqui está, em germe, desenhado todo o percurso do livro que vai se desdobrando e encontrando dificuldades a ser analisadas. A primeira é a seguinte: o que Lima Vaz entende por metafísica? A pergunta pela ética, outro núcleo importante da reflexão foi respondida por Lima Vaz em vários livros e artigos, especialmente nos dois volumes de “Introdução á ética filosófica“. Mas, por outro lado, Lima Vaz nunca escreveu um livro de metafísica. Daí podemos perceber o valor da investigação da autora em resgatar a questão metafísica presente no pensamento de Lima Vaz. Ou, filosoficamente, resgatar a compreensão de Lima Vaz desta experiência de abertura ilimitada ao horizonte transcendente, fundamento e origem de toda experiência que o ser humano faz do próprio ser e do próprio agir.
Segundo a autora, Lima Vaz entende a metafísica num duplo sentido: um estrito e outro amplo (OLIVEIRA,2013,p.13). Em sentido estrito, a metafísica é o discurso que explicita diretamente a experiência do Uno. Em sentido amplo, é todo percurso que parte do múltiplo e se dirige ao Uno. Ora, Lima Vaz inspirado em Tomás de Aquino “estabelece a relação necessária entre a ética entendida como ontologia do agir humano e a metafísica entendida tanto em sentido estrito como em sentido amplo” (OLIVEIRA,2013,p.14). É esta relação que a autora busca elucidar. A elucidação tem como pano de fundo duas questões fundamentais sempre presentes no pensamento de Lima Vaz: (1) o problema do sentido da existência e (2) a pergunta a respeito da orientação ética para as ações humanas.
Este percurso elucidativo da autora, acerca do pensamento de Lima Vaz, tem como horizonte de realização a modernidade e a pós-modernidade. Na modernidade o desafio ao pensamento metafísico se configura na primazia da racionalidade técnico-científica e da exacerbação da subjetividade. Na pós-modernidade, o desafio é o avanço do niilismo ético e metafísico que questiona constantemente todas as tentativas de reflexão e ação. Assim, diante disso, a proposta de Lima Vaz é fazer memória do ser a partir de uma releitura dialética da metafísica de Tomás de Aquino. Didaticamente, a autora divide sua investigação em duas partes com três capítulos cada.
A primeira parte tem por título “Um percurso filosófico: ponto de partida, método e opção teórica”. Nela a autora identifica algumas questões importantes que acompanham a reflexão filosófica de Lima Vaz.
Pensar a existência e o agir humanos a partir da situação história é uma delas. A outra é pensar esta problemática a partir da abertura ilimitada ao horizonte transhistórico da Verdade e do Bem. Por isso, o primeiro desafio da autora é pensar a “Modernidade e o Niilismo” (capítulo 1). Neste capítulo, a reflexão caminha na direção de elucidar a interpretação da modernidade de Lima Vaz. Surge um enigma, o enigma da modernidade que tem que enfrentar a racionalidade moderna e a autonomia da razão técnico-científica, que se apresentam como desafios para o nosso tempo. Diante destes desafios o método filosófico de Lima Vaz é o “Método dialético” (capítulo 2). Segundo a autora, para Lima Vaz a dialética é um caminho de reflexão que parte de aporias concretas. Como método, Lima Vaz é devedor da filosofia de Platão e Hegel. Cada um destes filósofos, analisados pela autora em suas reflexões acerca da dialética filosófica em seus contextos, influencia Lima Vaz. Assim, Lima Vaz constrói seu próprio método buscando também, refletindo sobre os dualismos presentes na história, a unidade de sentido tão importante para a filosofia. Finalmente, no terceiro capítulo, a autora busca explicitar a reconstrução que Lima Vaz faz da metafísica tomista. “A opção por Tomás de Aquino” (capítulo 3) faz este trabalho importante de reler os textos sobre Tomás de Aquino; textos escritos por Lima Vaz e publicados ao longo de sua carreira filosófica. Reler e interpretá-los ajudando o leitor a compreender a importância fundamental da metafísica de Tomás de Aquino no pensamento de Lima Vaz.
Na segunda parte do livro o foco é a “Filosofia realista da pessoa” de Lima Vaz. Segundo a autora, a filosofia da pessoa de Lima Vaz é uma via alternativa ao niilismo pós-moderno, analisado na primeira parte, o qual Lima Vaz se apresenta como um crítico feroz. Esta filosofia da pessoa vaziana se apresenta como uma proposta de releitura dialética da metafísica de Tomás de Aquino inspirada na estrutura triádica da filosofia do espírito de Hegel (OLIVEIRA,2013,p.17). Ora, sendo aristotélico-tomista, esta filosofia tem um tríplice nivelamento: a pessoa humana, a pessoa moral e a pessoa absoluta. “A Pessoa Humana” (capítulo 4) deve ser interpretada filosoficamente a partir da experiência que cada um de nós faz do próprio ser. Nossa experiência, para Lima Vaz, acontece numa síntese dinâmica entre essência e existência. Nesta síntese, a pergunta fundamental que guia a busca de sentido à vida humana é: quem sou eu? Pergunta inalienável e fundamental para o ser humano e que guia também toda reflexão filosófica. Na busca de uma resposta o ser humano se descobre como ser em ato porque “aquilo que ele é por essência deve tornar-se na existência concreta” (OLIVEIRA,2013,p.18). Assim, neste percurso de indagação o ser humano se descobre como um ser paradoxal, um ser histórico. Mas, também, como não poderia ser diferente para a filosofia de Lima Vaz, um ser aberto ao horizonte transcendental da verdade. Os outros dois capítulos são, evidentemente, desdobramentos deste primeiro. “A Pessoa Moral” (capítulo 5) reflete sobre a pessoa a partir da famosa pergunta aristotélica, apropriada por Lima Vaz em sua filosofia: como convém viver? Pergunta ética por excelência ela quer apontar para a busca de significação da pessoa humana como pessoa moral. Pessoa moral que aponta, segundo Lima Vaz, contra muitas correntes filosóficas contemporâneas, para “A Pessoal Absoluta” (capítulo 6). Este sexto capítulo é o mais exigente na leitura, e para bem apreciá-lo em toda a sua potência é exigido profundos conhecimentos de metafísica, especialmente, metafísica tomista. Neste capítulo, no qual a autora demonstra seus profundos e articulados conhecimentos de metafísica, o caminho é lento e, por vezes, penoso. Diga-se de passagem, como deve ser todo caminho profundamente filosófico. A autora faz dialogar com Lima Vaz, para ajudar o leitor na compressão desta “experiência metafísica do ser absoluto que se constitui como condição de possibilidade da experiência do nosso ser como unidade dinâmica de essência e existência” (OLIVEIRA,2013,p.18), autores como J. B. Lotz (Transzendentale Erfahrung), J. Marechal (Le point de départ de la métaphysique) e J. De Finance (Existence et liberte), entre outros. Neste capítulo, Tomás de Aquino, Hegel e Heidegger são referências constantes na elucidação da experiência metafísica do Absoluto seja pela “via compositionis ou descensos“, seja pela “via resolutionis ou ascensus“. Neste percurso a autora conclui que “ao seguir o personalismo cristão, Lima Vaz também defende que o Absoluto real, afirmando em sua pessoalidade, constitui-se como fundamento último da pessoa humana. A experiência metafísica remete, pois, à experiência religiosa da Pessoa Humana” (OLIVEIRA,2013,p.270). Concluindo, para a autora “a experiência ontológica que fazemos do nosso próprio ser e agir nos remete à experiência metafísica como experiência do fundamento” (OLIVEIRA,2013,p.270).
A conclusão final da autora é de que “toda a filosofia de Lima Vaz deve, pois, ser interpretada a partir do seguinte pressuposto fundamental: ele era um cristão e sua filosofia é uma filosofia cristã. Ela nasce da experiência profunda da abertura radical ao transcendente e pretende ser tematização discursiva dessa experiência radical como resposta ao enigma de um tempo histórico” (OLIVEIRA,2013,p.273). No caso o nosso tempo histórico, onde somos convidados a responder a pergunta fundamental pelo sentido. Pergunta que nos coloca diante da realidade história, diante das aporias do pensamento, diante de nossa própria existência com os outros no mundo. Neste percurso, que parte da experiência ôntica, rumo às experiências ontológica, metafísica e religiosa; somos também nós, convencidos pela filosofia de Lima Vaz que existe uma “íntima ligação não apenas entre ética e metafísica, mas também entre metafísica e ética” (OLIVEIRA,2013,p.279). Portanto, temos aqui uma excelente reflexão filosófica que merece ser lida por todos os que se ocupam com o labor filosófico de alta qualidade em nosso país.
Elton Vitoriano Ribeiro – Professor de Filosofia – FAJE: Faculdade Jesuíta. E-mail: eltonvitoriano@gmail.com
Destino, providência, predestinação. Do mundo antigo ao Cristianismo – MAGRIS (V)
MAGRIS, Aldo. Destino, providência, predestinação. Do mundo antigo ao Cristianismo. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2014. (Coleção Ideias). Resenha de: FEILER, Adilson Felicio. Veritas, Porto Alegre, v. 60, n. 1, e47-e54, jan.-abr. 2015.
Aldo Magris é um dos mais destacados pesquisadores do gnosticismo antigo. É professor de Filosofia na Universidade de Trieste, onde ministra cursos sobre religião.
O livro começa com um Prefácio em que o autor apresenta as dificuldades que teve em traduzir sua vasta pesquisa em torno ao tema do Destino reunida na obra A ideia do destino no pensamento grego, em uma obra mais acessível e, ao mesmo tempo, com um caráter mais amadurecido, crítico e preciso. Vale recordar a inigualável riqueza das fontes reunidas pelo autor num único volume sobre um tema tão denso. Além de tratar especificamente sobre o destino, o autor realiza uma ponte com temas a ele ligados que é o da providência e da predestinação, percorrendo o universo do pensamento mítico, a tragédia grega, os pré-socráticos e o iluminismo filosófico com Platão e Aristóteles para então adentrar no providencialismo estoico e culminar na predestinação judaico cristã em Paulo e Agostinho. Entre os temas do destino, da providência e da predestinação fica patente, pela abordagem, que longe de serem considerados temas fechados em um determinismo fatalista há uma íntima conexão com a liberdade.
Destino
O fatum, o destino, não é algo isolado, mas em ligação a um vaticínio sobre o futuro, ao porvir. Daí o termo fatum derivar de Fada, a deusa
que assumiu a função de parturiente, padroeira dos obstetras, capaz de prever o fado, que é todo o percurso da vida do indivíduo. Os próprios deuses estavam submetidos ao fado, porém nesta mesma situação profetizavam o futuro, pronunciavam a sorte e enviavam aos homens o seu destino. Por isso, o destino é o enviado, que em alemão se chama Schicksal. Este mesmo destino, vaticinado pelas moiras, revela a finitude da natureza daqueles que o recebem, inclusive os deuses. Nos textos de Homero o destino, como sorte de cada indivíduo, não é tido como algo rigorosamente determinista, pois os eventos todos podem ser concebidos em movimento, dentro de um programa universal. A adoção posterior do destino pelo Cristianismo é concebida como algo normativo ou punitivo, a serviço da providência divina. Esta, contudo, não é um poder incontrolável, externo e que oprime, mas algo que está no interior de cada um, aquilo que se é e se escolhe ser.
O destino na tragédia grega tem, em Dionísio, pela dialética entre o eu e o outro, o visível e o escondido, a verdade e a aparência, a sua máxima expressão na máscara, o evento da universalidade como totalidade aberta. Este aspecto da tragédia grega é retomado pelo romantismo, no qual o ser humano “decide”, porém dentro do conjunto da lógica divina ou fatal das coisas. Mesmo na tragédia grega “Deus” e “destino” são sinônimos, mostrando que o destino não é um fator isolado, mas uma forma de manifestação do divino que se dá de maneira enigmática, numa dialética que se move da verdade à aparência: o herói trágico que, na sua emergência, se depara com o “tarde demais”. Hölderlin, um grande expoente do romantismo alemão, entende o trágico como a fusão do ser humano com a totalidade. Nietzsche, inclusive, constrói sobre a ideia do trágico uma concepção filosófica inteira. Na visão trágica hegeliana o saber aparente se deixa arrancar do seu verdadeiro para que apareça o verdadeiro em si, como natureza heroica. Em Nietzsche a tragédia sofrida não é tida como simples catástrofe, mas como algo que tem, no seu destruir-se, a sua realização. Por outro lado, Platão em seu positivismo da verdade, que é fonte da certeza, propõe uma reflexão filosófica antitrágica.
A sofia, também desempenha um papel importante na tragédia, correspondendo àquela necessidade individual de ver, ou saber sobre o mundo e si mesmo, também apresentando uma formulação conceitual do destino, ou seja, abrindo uma fenda na aparente confusão do caos da qual resulta uma sucessão de eventos preestabelecidos em uma lógica, no destino do seu concretizar-se, na fatalidade da sucessão teogônica (Ananké). Nessa fatalidade vai se atravessando limites (poros) que nada mais é senão uma experiência, Erfharung, cuja raiz é Fahrt, viagem, pois fazer uma experiência equivale a viajar até o princípio (ápeiron) e
descortinar a fysis, uma totalidade omni-abrangente, um organismo vivo que, na metáfora do círculo, é governada pelo destino para alcançar a perfeição, a integridade e o equilíbrio. No processo de alternância dos contrários vai aparecendo a totalidade na sua verdade, como aparência, eis como o espírito da tragédia heraclitiana compreende o destino. Por isso, este se caracteriza como contrários que se enfrentam, num embate que não ocorre por acaso, mas é orientado por uma lei e uma necessidade, como um princípio cósmico que define limites aos seres, colocando-os na perpétua instabilidade do conflito, em meio a um drama trágico. Este drama, para os fisiólogos se dá através de uma circularidade cósmica, que é um processo dinâmico, em que o início está ligado ao fim, denominado por Nietzsche de “eterno retorno”: a cada epiciclo findado decorre a destruição para daí dar espaço a um novo nascimento e, assim, infinitas vezes a fysis, como unidade global em movimento, vai perfazendo inúmeros epiciclos. Cada intervalo desta harmonia geral, que é uma espécie de oitava, os fenômenos serão reapresentados não exatamente como foram. Pois, pelo contrário, seria apenas mera eterna repetição do idêntico, não podendo justificar a responsabilidade ética das ações dos seres humanos. Da sequência de cada destruição segue, sempre, um desenvolvimento diferente, e não uma mera repetição. Se em Heráclito o destino se caracteriza como um princípio de regularidade física, em Parménides é uma consequência lógica estabelecida para se pensar o todo. A circularidade do retorno nos conduz à busca da verdade, não como algo a ser descoberto, mas construído e reconstruído de acordo com uma racionalidade (logos), uma necessidade (ananké) da fortuna (tyché). O estoicismo, escola sucessora da escola de Atenas, caracteriza-se basicamente como a escola do viver bem conforme o logos, cuja ordem se manifesta na natureza. Daí a necessidade de se adequar a ela, por um princípio racional universal, cuja eficácia manifesta-se como destino. O destino é, assim, uma instância superior em relação ao conflito entre liberdade e necessidade, porém não é contrário à liberdade. Contudo, há uma parte que deve ser entregue ao destino, que suportamos assim como é, frente ao qual nada se pode fazer para modificar. Constitui-se o destino, mais que uma fatalidade, um projeto de vida ao qual devemos aderir mais pelo coração que pelo cérebro. Portanto, o amor ao destino vai ao encontro da fórmula “amor fati” que utiliza com outros matizes. Discordamos dessa interpretação, pois amor fati em Nietzsche nada mais é senão amor ao destino, acolhida jubilosa.
O destino não é um mecanismo externo mediante o qual somos meros expectadores passivos, como uma potência que age contra os seres humanos; este é sim uma lógica que coliga os atos humanos espontâneos em uma totalidade; e dentro deste processo fatal o ser humano não pode
deixar de empenhar o seu papel, a sua aprovação pessoal. Por isso, o destino conta com a iniciativa humana, o seu caráter (ethos) que funciona como um princípio ativo; diante disso a liberdade é considerada como algo que se conquista cotidianamente, a cada intervalo da circularidade cósmica, que ganha sentido como parte orgânica de um todo composto pelas causas eternas entre passado, presente e futuro. Esta totalidade cósmica é o ser, que não se constrói e sim se revela, reconstrói e repete, já que está implícito desde sempre segundo o destino: a lógica que coliga os vários momentos da totalidade orgânica.
Providência
Se, para os fisiólogos, a verdade aparece por trás da aparência, movida pela força do destino, para os iluministas gregos, os modernistas da Antiguidade, a verdade não é imediata mas dado fatual que empenha competência prática: o saber e a técnica. Assim, a concepção iluminista da experiência articula três fatores: a iniciativa humana (techné), a regularidade da natureza (ananché ou fysis) e a fortuna, o acaso (tyché). Desprovida de qualquer motivação reconhecível ao raciocínio humano, (a verdadeira alma do mundo do iluminismo) essa articulação opera como um destino inato a determinar a concretização na vida, a sua índole (ethos), faz surgir a concepção nascente de providência. Se, por um lado, a técnica em tudo procura reduzir o poder da necessidade e o arbítrio da fortuna, a necessidade e o acaso, por outro, põe limites à pretensão humana de dominar o mundo, já que o ser humano está inserido em uma ordem prefixada das coisas geridas pelo destino. Contudo, o destino não é mais aquela explicação omni-abrangente, pois rivaliza com a iniciativa humana enquanto techne, que não é propriamente uma liberdade, mas o ambiente do ser humano onde este se encontra dependente. É com Sócrates, contudo, que a techne é considerada com otimismo, introduzindo no pensamento ocidental a antítese “liberdade-necessidade”. Com Platão a estrutura lógico-matemática do real toma o lugar do destino. O bem viver (a convivência civil ordenada) para Platão depende do correto equilíbrio entre techné, tyché e ananké. Para Aristóteles, antes de mais nada, é preciso distinguir o que é substância daquilo que é acidente, para assim buscar observar como e porque os respectivos acidentes vêm a suplantar a substância. O campo da fysis é constituído pelo devir, de modo que tudo é pervadido pela relação potência (dynamis) e ato (enérgeia). Neste processo de devir a dynamis é sempre uma iniciativa humana autônoma em que a necessidade está sempre subordinada à finalidade. Parece, todavia paradoxal que o conceito de Providência tenha a sua origem no contexto do iluminismo grego, em que o ser humano é a medida de
todas as coisas, pois é o mesmo ser humano que, com base nas próprias exigências, vê e provê os fenômenos naturais seguindo modalidades que lhe são intrínsecas. Em síntese, a fysis é uma projeção da techné que opera sobre a base da ananché, mesmo permanecendo sempre exposta à eventualidade da tyché. Neste aspecto, o destino se caracteriza como encadeamentos causais do logos com o cosmos e a providência divina que dispõe tudo segundo a sua vontade (plano). Assim, tudo está dentro do ciclo do destino que inevitavelmente se repete, num fluxo vital.
O destino no estoicismo, embora goze de determinismo, superando inclusive demonstrações de eventos reais, apresenta uma diferença entre a necessidade da natureza extrínseca e o “destino” como instância superior de coordenação entre fatores extrínsecos e intrínsecos, na sequência rígida e imutável de eventos passados e futuros, perpassados pelo filigrama cósmico que é o destino. Neste período da modernidade da antiguidade também a inexorabilidade do destino esteve ligado a práticas divinitórias e a astrologia (horóscopo). O nexo incindível com a astronomia imprime a fatalidade, a determinação férrea e inexorável dos eventos na terra por parte dos astros. Com isso, a vida de um indivíduo fica inteiramente preestabelecida desde o seu nascimento. Contudo, esse cunho fortemente fatalista difere da ideia de destino, pois o fatalismo coloca o indivíduo numa posição de mera passividade diante dos eventos que se sucedem. Embora a astrologia seja questionada pela sua inexorabilidade, passa a ser incorporada pela noção de providência, típica em diversas religiões.
Todas as concepções deterministas estão alicerçadas na relação causa-efeito, contudo o livre arbítrio corresponde a possibilidade de o sujeito realizá-la ou não, como é o caso do aristotelismo. Na concepção estoica, apesar de as ações humanas enquadrarem-se na lógica do destino, este não consiste numa obrigação externa, mas uma autodeterminação, em virtude da própria natureza. Assim, conseguirá atingir a serenidade para além de conflitos consigo mesmo, resultantes da incapacidade de autodeterminação. O epicurismo abre para um espaço de liberdade constituído pela techné, combinada pelo autocontrole do sujeito e pela influência da educação externa, a livre escolha humana e a causalidade do devir (tyché). Contudo, o determinismo monista estoico ao negar que o ser humano é o único responsável pelas suas ações, retira o fundamento do ser humano, favorecendo a preguiça e a submissão. Aristóteles vai enfrentar esta posição estoica afirmando que as doutrinas que minam a autodeterminação do ser humano o desresponsabilizam ocasionando consequências no plano da sociedade e do direito. Pois, nada neste mundo pode ser determinado: a própria necessidade da natureza e diversos fatores imprevisíveis se põem contra o destino. Assim, se o ser humano
é o princípio das ações, lei e destino são incompatíveis. O estoicismo fundamenta a liberdade na capacidade humana de se realizar o que é concreto. Xenócrates foi o primeiro filósofo grego a escrever sobre o destino. Segundo ele, o destino é uma normativa ética que o ser humano deve respeito, bem como respeito a sua livre escolha. O destino, aqui, limita-se à esfera da práxis moral. Mas na tese dos platônicos o destino é a lei e o ser humano é o princípio totalmente autônomo de suas ações, a sua liberdade. Contudo, entra em jogo com a noção de liberdade humana, o problema da providência divina, portanto o jogo entre liberdade e destino.
A concepção platônica de alma é chave para a compreensão da providência divina, pois esta é o princípio do movimento. É Deus quem viabiliza a prática da virtude ou o vício; a responsabilidade fica a critério da escolha humana. É este pensamento providencialista platônico-estoico que posteriormente é assumido pelo Cristianismo, e a providência entendida é também logos e destino, pois reconhecer a providência é aceitar o destino. Enquanto, para o estoicismo, a providência é a lógica interna do curso do mundo, para o platonismo é um ente externo ao mundo. Para este último, o destino está subordinado à providência. Esta mentalidade vem de encontro do Deus dos hebreus e dos cristãos, um poder que ultrapassa as forcas cósmicas, de modo que o plano divino prevê todos os acontecimentos e suas fatais consequências. Se o destino atribuído por Deus jamais poderá ser diferente, qual o espaço da liberdade humana como fator que é expressão do eu? Daqui decorre uma relação difícil entre ética e destino.
Predestinação
No contexto cristão da providência deriva-se, também, um outro conceito importante em nosso estudo, o de predestinação, que diz respeito a uma trama de coisas postas para além da esfera do ser humano; é uma decisão tomada por Deus em relação ao ser humano. Assim, tanto o destino quanto a predestinação têm que defrontar-se com o mesmo problema, o do espaço da autonomia do ser humano. Na dinâmica judaica a liberdade é reservada ao plano do reconhecimento do senhorio do Deus criador, com poder de tomar decisões, aí está o contexto da liberdade humana. Os livros de Jó e Eclesiastes conservam similaridades com a tragédia grega, segundo o qual cada coisa e cada situação tem o seu próprio tempo delimitado por um fim inevitável que fatalmente acontece. O destino que é inserido na relação entre Deus e o ser humano, é a porção atribuída como a moira (tyché). Contudo, ao lado da predestinação entra a exigência do livre arbítrio, de modo que a responsabilidade do ser humano depende unicamente de sua escolha
pela virtude e não pelo vício, virtude esta que é plantada no mesmo ser humano por Deus. Enquanto os saduceus negavam o destino, alegando que tudo estava no ser humano, os fariseus o admitiam, de modo que tudo dependia do destino e de Deus. Contudo, a ação de agir, ou não, está no ser humano. Assim, embora exista a predestinação do justo há também os méritos para os quais exige o responsável exercício da liberdade. Um gênero literário bastante difundido no séc. III a. C. é a apocalíptica, segundo a qual os anjos, seres intermediários entre os seres humanos e Deus, dirigem os destinos. As tábuas celestes são, portanto, uma metáfora típica da apocalíptica, segundo a qual no céu estão escritos os nomes dos justos desde a eternidade. Portanto, essa eleição divina dos justos inspira-se no profetismo, o pequeno resto de Israel. Neste sentido, a predestinação é a expressão fundamental da autoconsciência sectária, que instaura o destino entre o bem e o mal, produzindo assim a história. E Deus governa a história em seu domínio universal, o que corresponde ao destino. É claro que existe, nesse processo, o empenho humano, em que Deus permite que este mantenha seu agir livre. Aqui entra a Teologia do Pacto entre Deus e o ser humano, típica de antigas fórmulas qumrânicas e das cartas paulinas em que, de um lado, está a justificação e a predestinação e, de outro, a exigência rigorosa de uma práxis moral. Contudo, a justificação é apenas obra de Deus, o qual não depende de qualquer ato humano, mas sim de um reconhecimento por parte do crente na pessoa de Jesus Cristo como Salvador; e é por isso que o justo viverá pela fé, mediante a graça se inicia a ruptura com o Judaísmo, do qual deriva o Cristianismo nascente.
Em Paulo o Cristianismo tem sua marca principal, guiada pelo absolutismo da graça e a abertura a um uso seletivo da cultura grega. Desta última provém a gnose, que é o reconhecimento do ser humano em Deus e o mútuo reconhecimento no ser humano. É Cristo quem traz a salvação, ou seja, traz a gnose, mediante a fé do crente, a condição intrínseca (ousía), uma natureza, (fysis) para se elevar aos pneumáticos. Neste processo de predestinação gnóstica se exclui o ideal iluminista da autonomia do sujeito. Com o tempo o Cristianismo, pela influência do iluminismo grego e hebraico, entra num período de filosofização . Assim, como em muitas formas de gnosticismo, uma rigorosa ideia de predestinação não existe, já que a salvação depende do empenho moral do ser humano. Neste contexto, Agostinho, mediante uma releitura cristã de Platão afirma que a salvação do cristão depende da fé, pelo livre arbítrio, que é obra da graça. Assim, se a salvação é em última análise, a obra da graça, então não é possível falar em predestinação divina. Mas é uma predestinação da graça a determinar o caráter e a práxis humana e não algo exterior; sua conduta é governada pela escolha que depende
da vontade, mas é uma vontade que quer, algo que deveria ter poder para querer e não tem, e é aí que reside a sua falta original: o poder de querer. Logo, na interpretação agostiniana do Cristianismo há um nexo entre o destino (livre arbítrio) e a predestinação (da graça).
Assim, por mais que o determinismo fatalista, do qual se expressa o destino desde a mitologia, passando pela antiguidade moderna e confluindo no pensamento cristão, tenha muitas vezes sido considerado como um determinismo inexoravelmente fechado, é possível verificar que este tem dado o devido valor na autonomia do ser humano, que é a tese do autor e ao qual manifestamos nosso assentimento. Pois o destino, que é essa condição do ser humano, lançado diante do fato, exige dele que atue sobre este, um projeto de vida que acolhe o fato, um porvir, pois é assim que ele mostra o seu caráter, seu ethos. Da mesma forma, sua posição diante da providência, nada estranha ao ser humano, reconhece a parcela humana de responsabilidade e, finalmente, a postura do ser humano diante da predestinação, em que lhe é reservada a capacidade de optar livremente potenciado pela graça. Logo, o destino, a providência e a predestinação somente encontram a sua razão de ser no espaço da liberdade do ser humano, que age para constituir um projeto de vida dando seu assentimento, com amor, ao fatum.
Adilson Felicio Feiler – Doutor em Filosofia, Professor da Unisinos. Escola de Humanidades Universidade do Vale do Rio dos Sinos Av. Unisinos, 950 – Cristo Rei São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: feilersj@yahoo.com.br
Nietzsche: uma introdução filosófica – FIGAL (V)
FIGAL, Günter. Nietzsche: uma introdução filosófica. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Mauad X, 2012. Resenha de: MERTENS, Roberto saraiva Kahlmeyer. Veritas, v. 59, n. 1, p. 15-19 jan.-abr. 2014.
Em fins de 2012, foi editada a tradução de Nietzsche: uma introdução filosófica, de Günter Figal (Mauad X, 2012). Conhecida do público europeu desde a década de 1990, esta obra de fôlego, a contar dessa data, vem contribuindo com a elevação do nível das pesquisas sobre Nietzsche no exterior. Fenômeno que talvez se explique pela visada peculiar que seu autor joga sobre a filosofia de Nietzsche.
Embora apontado como um dos principais representantes da Nietzsche Forchung alemã (ao lado de Günter Abel e Volker Gehardt), Günter Figal não seria um leitor de Nietzsche no sentido estrito do termo. Formado no caldo de cultura da fenomenologia-hermenêutica, tendo sido aluno de Hans-Georg Gadamer e herdeiro direto da filosofia de Martin Heidegger (a ponto de, atualmente, ocupar a cátedra que pertencera ao filósofo na Universidade Albert-Ludwig, em Freiburg), é inevitável encontrar na interpretação que Figal faz de Nietzsche traços influentes de sua formação.
Muito mais do que exegese do texto nietzschiano, o livro deixa transparecer o esforço de partir da obra do filósofo, e das interpretações estabelecidas na fortuna crítica, para uma aproximação gradual do horizonte significativo do pensamento de Nietzsche. Assim, ao arrancar das posições, visões e conceptualizações que as leituras disponíveis oferecem-nos, Günter Figal reconstrói o cenário no qual o pensamento de Nietzsche fez-se possível, passa em revista crítica as teses consolidadas sobre tal filosofia e, por fim, descreve o que se evidencia a partir de um
Nietzsche livre dos cacoetes de algumas interpretações tradicionais. A tríade reconstrução, revisão crítica e reinterpretação (que delineia o itinerário do livro de Figal) será a mesma que oferecerá estruturação a esta resenha.
O gesto reconstrucionista é particularmente identificado no capítulo inicial. Dividido em três tópicos, no primeiro, intitulado “Sismógrafo”, o autor oferece-nos um verdadeiro inventário da recepção da obra de Nietzsche na contemporaneidade. É digno de nota que tal balanço não se restringe à cena filosófica. Figal indica como o pensamento de Nietzsche infiltrou-se nas ciências humanas e sociais por meio de Georg Simmel e de Max Weber; como os influxos das ideias estéticas do filósofo serviram de inspiração a músicos como Gustav Mahler e Richard Strauss; como o espírito da obra nietzschiana passou à literatura dos irmãos Mann (Heinrich e Thomas), de Gottfried Benn e, em especial, de Ernst Jünger. Valendo-se desta contextualização, Günter Figal indica, a partir deste último, o papel que Nietzsche desempenhara em seu tempo. Em uma época de crise, na qual a filosofia ainda se ressentia da ruína dos idealismos (para os quais Hegel e os hegelianos representavam uma espécie de aristocracia metafísica) e da ascensão bárbara do positivismo, a lucidez de Nietzsche não seria um terremoto, mas o sensor que descreve e interpreta tais abalos, ou, nas palavras de Jünger:
Ele investiga os caminhos possíveis, as rotas mais extremas sobre as quais a razão fracassará. A apreensão intelectual da catástrofe é mais terrível do que os medos reais do mundo do fogo. (…) Partir-se assim era o destino de Nietzsche: hoje é de bom tom apedrejá-lo. Do mesmo modo que depois do terremoto, as pessoas se abatem sobre o sismógrafo. Não obstante, não se pode fazer que o barômetro expie a culpa pelo furacão se não se quiser adentrar as fileiras dos primitivos.1
A metáfora do sismógrafo como indicativa do posto de Nietzsche é apenas uma das muitas tiradas felizes do ensaio de Figal neste momento propedêutico. Os tópicos que se seguem a este (a saber, “Biografia” e “Definições de posição”) reforçam pontos ali esboçados.
Sem a erudição histórica das biografias disponíveis no mercado e com uma condução que nos lembra, em certos lances, os parágrafos biográficos do primeiro volume das preleções de Heidegger sobre Nietzsche, a obra de Figal oferece-nos uma narrativa da vida e obra deste pensador. Do mesmo modo que Andler,2 Figal valoriza a juventude de Nietzsche: seu período de formação filológica na Escola de Pforta, seu convívio amistoso com o mestre filólogo F. W. Ritschl, o desgosto da carreira docente, a amizade malograda com R. Wagner, a maturação das ideias mais tenras da infância em A origem da tragédia e os primeiros fustigos por parte do seu ex-condiscípulo U. v. Wilamovitz-Moellendorff (o filólogo).
Deste bosquejo biográfico, entretanto, o que mais importa é a indicação de que Nietzsche, voluntariamente afastado da universidade e possuindo reduzido um círculo de amizades, volta-se para si tornando-se pela primeira vez presente como pensador por meio de sua escrita. Figal sustenta a tese de que, para Nietzsche, e ao contrário dos demais filósofos, “(…) o que está em questão para ele não é nem mesmo um programa filosófico que pudesse subsistir por si e seria designado por meio de seu nome (…). Nietzsche se retrai ante o desenvolvimento das ideias que poderiam ser aplicadas sem uma consideração da pessoa.”3 Caracteriza-se, assim, a concepção nietzschiana da “vida como literatura”.4
Os pontos de partida para a elaboração do que seria uma escrita de si e um si mesmo como filosofia é o que se encontrará no já mencionado tópico “Definições de posição”. É aí que o comentador (após a revisão literária das interpretações de Nietzsche que fizeram escola: Jaspers, Heidegger, Lukács, Adorno e Derrida) aponta o lugar que o filósofo de Röcken ocupa na história da filosofia: “(…) Nietzsche não pode mais ser pensado agora meramente em contraste com a tradição; se Nietzsche é o filósofo moderno por excelência e ao mesmo tempo pertence à metafísica, isso é uma prova do caráter metafísico da modernidade (…)”4 Tal afirmação causaria certamente desconforto aos acostumados a conceber Nietzsche como o arauto do pensamento não metafísico, convicto opositor da tradição. Entretanto, bem como Heidegger, Figal entende que Niezsche ainda possui ligação com a tradição filosófica justamente por depender de pressupostos e arrolar consequências de ideias e condutas próximas à metafísica.
É nesse momento que a principal tese do livro aparece, tal tese alinha a conduta de Nietzsche à figura paradigmática do Sócrates e liga seu pensamento a Platão. Em que sentido? Resposta: primeiramente, ao contar com a tradição de pensamento ocidental para colocar-se em diálogo com conceitos e questões filosóficas; depois, por sua filosofia tornar-se o que é na medida em que se diferencia da tradição, fazendo desta um outro de si, isto é: na maneira pouco canônica com a qual Nietzsche contempla o mundo e confronta-se com a metafísica, a tradição filosófica experimenta sua alteridade. Mas, para Figal, ainda que a filosofia de Nietzsche desconstrua as bases da metafísica e proponha-se em termos diversos da tradição (Figal não insinua que Nietzsche reproduza Platão), mesmo o “filosofar a marteladas” guardaria vestígios de sua natividade metafísica. Diante do caráter polêmico desta tese, o resumo pálido que esta resenha apresenta (coerentemente a sua proposta de recensão e adequando-se ao espaço que lhe é cabido), não permite que o leitor prescinda da leitura deste terceiro tópico do primeiro capítulo, bem como os diversos momentos adiantados do texto no qual a premissa ganha desdobramentos. É possível, entretanto, concordar com o comentador quanto a seu esforço por caracterizar de maneira mais rigorosa e uniforme a figura filosófica de Nietzsche, descerrar um filósofo “mais estranho, mais espantoso e mais conhecido ao mesmo tempo”.5 A transição do Capítulo primeiro aos próximos deixa transparecer, novamente, uma atitude hermenêutica. Denominado De fora, o primeiro momento apresentava as circunstâncias externas a partir das quais ingressaríamos na leitura da obra em busca de uma compreensão do pensamento de Nietzsche. Destarte, partindo das compreensões prévias que a narrativa biográfica e as interpretações autorizadas oferecem, pode ter início o caminho de intensificação de compreensões da obra-Nietzsche. É isso que se encontra no capítulo segundo, intitulado Tempo, ser e devir. O referido nome explica-se pelos tópicos encontrados nesta seção.
Em tais pontos encontramos a tematização de noções-chave do pensamento de Nietzsche, como o devir, força plástica e arte, apresentadas por meio de citações do autor de Assim falou Zaratustra. A qualificação de Figal enquanto intérprete de Nietzsche evidencia-se desde que nos deparamos com as passagens que o autor escolhe para tematizar (tal seleção, por si só, justifica uma leitura dos tópicos). Num diálogo intrínseco à obra de Nietzsche, e sem fugir ao enfrentamento das leituras mais acatadas, Figal revisa criticamente a maneira com que conceitos, temas e questões decorrentes do pensamento de Nietzsche vêm sendo apropriados. Muito do exercício de interpretação do comentador consiste em desmontar essas interpretações cristalizadas para liberar o interpretado a um horizonte no qual seja favorável a identificação do solo no qual este estaria fundado. Movimento hermenêutico idêntico é o que se repete no terceiro e quarto capítulos.
Aguardado durante toda a leitura, é no último capítulo da obra que o problema do conhecimento aparece. Sob a alcunha de Vida do conhecimento, podemos conferir a distinta interpretação que Figal dedica aos conceitos mais fundamentais do pensamento nietzschiano, ao exemplo: o super-homem (na peculiar opção de tradução como “além-do-homem”), a vontade de poder, o eterno retorno e a psicologia (conceitos homônimos aos tópicos dignos de nota no referido capítulo). Ao apontar estes conceitos como raios para o eixo que o personagem de Zaratustra constitui, Figal pode elucidar o quanto essas noções dão voz a uma doutrina da vida. Importa, entretanto, ao comentarista indicar o quanto mesmo esta doutrina em sua presumida liberdade de pensamento ainda não teria suas bases no solo tradicional do platonismo, este contra o qual o próprio Nietzsche volta-se. Tal tarefa, que parece perpassar inteiramente Nietzsche, constitui uma introdução filosófica, que se torna mais nítida na terceira porção do trabalho.
Ao longo das 248 páginas que dão corpo à tentativa de tornar compreensível a obra de Nietzsche, o livro de Günter Figal – não seria demais assinalar – possui uma linguagem tão didática quanto plástica. Tais atributos discursivos, mais do que um requinte estético, denotam não só a maturidade do pesquisador perante seu objeto de estudo, quanto a preocupação de fazer jus à prosa filosófica do incontestável estilista que foi Nietzsche.
Publicado originalmente na forma de livro de bolso sob o selo da alemã Reclam, a editora brasileira apresenta o livro com arte e editoração elegantes, reservando-lhe lugar especial no interior da Coleção Sapere Aude, que já possui outros títulos referentes a Nietzsche.
Referências
ANDLER, Charles. La Jeunesse de Nietzsche – Nietzsche as vie et as pensée. 3. ed. Paris: Rossard, 1921.
FIGAL, Günter. Nietzsche: Uma introdução filosófica. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Mauad X, 2012.
HEIDEGGER, Martin. Nietzsche I. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.
Notas
Roberto Saraiva Kahlmeyer-Mertens – Doutor em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Professor Adjunto na Universidade Estadual do Oeste do Paraná-UNIOESTE. E-mail: kahlmeyermertens@gmail.com.
O conceito de liberdade de imprensa ou de liberdade de comunicação pública na filosofia do direito de G. W. F. Hegel – KONZEN (V)
KONZEN, Paulo Roberto. O conceito de liberdade de imprensa ou de liberdade de comunicação pública na filosofia do direito de G. W. F. Hegel. Porto Alegre: Editora Fi, 2013. 462 p. Veritas, v. 59, n. 1, p. 9-14 jan.-abr. 2014.
A primera vista el tema abordado por este libro podría sugerir que el autor se ha concentrado en un aspecto muy limitado de la filosofía de Hegel, como es la libertad de imprenta y la libertad de comunicación pública. Pues bien, a medida que el lector se adentra en la obra, puede apreciar que el autor desarrolla el tema como un punto clave y certero en donde converge no sólo la concepción política de Hegel en su conjunto, sino también elementos fundamentales de su concepción metafísica y antropológica. Es por ello que Paulo Konzen comienza el examen desde la relación entre categorías metafísicas como diversidad e igualdad, considera luego la relación entre individuo y la comunidad de la que forma parte, hasta investigar el problema de la libertad y sus instanciaciones jurídicas concretas.
Un concepto que recorre todo el primer capítulo es el de diversidad humana. Este capítulo presenta una tensa oscilación entre una igualdad que se les reconoce a los hombres, en el plano del derecho abstracto, y una diversidad que acusa la naturaleza y que da lugar a una serie de desigualdades en el ámbito de la sociedad civil. El autor recorre varios aspectos de esta tensión y llega a una primera solución. Según ella, Hegel busca una integración que en cuanto tal se distancie del individualismo disolvente, pero que a su vez no se transforme en una homologación en la pura identidad, es decir la anulación de la diferencia. Konzen logra mostrar claramente en el pensamiento de Hegel la preocupación por la integración. En cambio, la diversidad llegaría solo a mostrarse como algo “no negativo”. Hasta allí sería difícil convencer a quien objetase la disolución de la significación del individuo en la comunidad. Las diferencias serían aceptadas, sí, pero como mera particularidad, no significativa. Pero esta primera formulación se enriquece luego con la elucidación del concepto de “Estado orgánico”. Explorando la analogía con el organismo, Konzen muestra diversos aspectos por los cuales la diversidad no sólo es un factor a tolerar sino elemento indispensable y funcional al todo. Un organismo viene a menos, incluso puede morir si le falta alguna de sus partes o una de ellas no cumple su función. No obstante, aun así podría objetarse qué tipo de libertad le resta a quien está atado en su significación a una función necesaria, y a qué tipo de unidad se somete toda diversidad en términos funcionales. Después de todo, el organismo es una metáfora; se trata de ver con más precisión cuáles son las implicaciones conceptuales que Hegel está dispuesto a aceptar. Creo que el autor acierta en la delimitación de esta integración y de la metáfora del organismo. La cuestión fundamental que preocupa a Hegel es que la diversidad humana, que puede manifestarse en muchas direcciones y en diversos grados, no someta a su arbitrariedad mediante la generación de desigualdades cada vez mayores, tanto materiales como culturales, el destino de quienes no se encuentran favorecidos por la naturaleza o por la formación. Lejos de buscar anular la diversidad, que como hombre de humanidades es particularmente sensible a la formación y los diversos talentos, como lo muestra Konzen a través de varias citaciones, Hegel acepta limitar el ámbito de esta diversidad sólo en la medida en que pueda llevar a una desigualdad que atente directamente a los menos provistos material y espiritualmente, e indirectamente a la consistencia de la nación o pueblo como un todo, del cual a través de distintas mediaciones abrevan, al fin y al cabo, incluso los talentos y las formaciones destacadas.
Finalmente el autor muestra como en diversos contextos Hegel ha expresado su rechazo hacia aquellos gobiernos que intentan engañar al pueblo, por lo cual una interpretación del valor que tiene para Hegel la libertad de imprenta debe contar con el rechazo de Hegel de cualquier tipo de manipulación posible de un pueblo por parte de un gobierno.
Sin embargo, Konzen ya adelanta que para que un pueblo pueda tener un discernimiento propio y correcto de la cuestión pública, lo cual es un derecho, es necesario que tenga la mayor formación (Bildung) posible. La libertad de comunicación favorece la mediación de la diversidad, en particular a través de su efecto sobre la opinión pública, como veremos luego en su relación con la formación.
La reducción de la noción de libertad de prensa como “libertad de decir y escribir lo que se quiere” es obra del formalismo, análoga a la reducción de la noción de la libertad a “hacer lo que se quiere”; el autor, atento a esta advertencia que Hegel lanza al comienzo de la observación § 319, tomará como cuestión central la elucidación del concepto de libertad de comunicación, en lugar de darla por obvia y limitar la exposición sólo al dilema de si Hegel defendía o no la libertad de imprenta. En el segundo capítulo, entonces, se adentra en la noción de libertad misma y en la importancia que tiene la Bildung para la realización de la libertad del hombre, a fin de mostrar luego cómo la publicidad colabora para dicha formación. Para ello expone al comienzo la recepción que hace Hegel de la noción de estado de naturaleza según Hobbes, noción que Hegel admite como contrafigura de la libertad. La voluntad sólo es imputable en la medida en que ha tenido oportunidad de acceso al conocimiento, en particular de la ley; la falta de formación implica la eventual reducción de un sector de la población al estado de naturaleza, es decir una situación en donde el hombre no es libre y es amenaza y hasta efectiva eliminación de la vida de sus semejantes, y esto sin imputabilidad alguna. En las complejas relaciones entre el querer y el saber, la formación permite al hombre tener un discernimiento correcto. Es por ello que la publicidad es esencial para todos los integrantes de la comunidad. La formación, gracias al saber y a la información de la que se nutre, permite mediar el interés particular con el universal, de modo que la voluntad no padece así lo universal como una imposición externa o alienante, sino como parte aceptada de sí. El autor muestra mediante el examen de la los diversos aspectos de la Bildung en la Filosofía del Derecho, cómo el pasaje del estado de naturaleza a la Eticidad, es decir de la no libertad a la libertad, no es un salto puramente político en sentido estrecho, ni un salto de la voluntad por la cual ella reprime su interés en función de un universal externo, sino que tiene su sendero interno y constitutivo en la formación de la voluntad individual, desde las instancias de la familia hasta el Estado. En esta – me atrevo a traducir – pedagogía política de la voluntad, juega un rol esencial la publicidad, la libertad de comunicación, que en la sociedad moderna se encuentra vinculada con la libertad de imprenta (Konzen, atento al texto del § 319 y también al contexto histórico, admite prácticamente como sinónimos libertad de comunicación pública y libertad de imprenta).
Se trata de formación o trabajo de la cultura (Bildung), que involucra tanto el trabajo cultural personal del individuo como de toda la sociedad, dentro de la cual se encuentra la comunicación y la imprenta. El autor explora también la incidencia de la Bildung en el ámbito de la sociedad civil, por ejemplo en cómo afecta en la participación en el patrimonio en lo que respecta a la formación profesional; y en el ámbito del Estado, por ejemplo en lo que concierne a la competencia e idoneidad de los funcionarios. De la articulación compleja de estas instancias depende el grado de cultura de una nación. Según Konzen, Hegel sostiene al respecto una suerte de círculo virtuoso, pues la libertad de comunicación pública es uno de los mejores medios para la formación cultural de un pueblo y por ende de su capacidad de discernimiento, y a su vez, a mayor grado de cultura, reina con más probabilidad un mayor grado de libertad de comunicación pública, pues es el menos probable el abuso de la libertad en cuestión.
El autor no se limita al examen de los textos y recorre en el capítulo tercero las vicisitudes biográficas e históricas en donde los textos hegelianos fueron ideados, escritos y publicados. Así sale a la luz un Hegel que fue periodista en Bamberg y sintió directa (mientras fue director) e indirectamente la censura (cuando el periódico fue clausurado, poco tiempo después de haber renunciado a su cargo). Pero sobre todo el capítulo se articula sobre la problemática que presentan los Principios de la Filosofía del Derecho, en cuanto obra sorprendida por las Resoluciones de la Convención de Karlsbad poco tiempo antes de publicarse y que se enfrenta con la paradoja de hablar de la libertad de prensa en una época de censura. Konzen afronta el examen de las posiciones principales un arco extremo de intérpretes, desde los que sostienen que los Principios de la Filosofía del Derecho son la consagración filosófica del gobierno prusiano por parte de un Hegel condescendiente, hasta quienes sostienen una dicotomía tajante entre el Hegel de la obra y el de las Lecciones; un arco que recorre numerosas variantes. Pero aquí el autor debe afrontar el problema no de si la censura afectó una de las tantas tesis de la filosofía del derecho, sino justamente a la idea misma de la libertad de comunicación pública. En el examen de las interpretaciones, Konzen encuentra la ocasión para ir presentando al lector su propia posición y sus razones. Aun cuando concede que en particular el §319 y su anotación son confusos, por momentos más bien alusivos y elípticos, sostiene que existe una esencial continuidad entre el Hegel de Bamberg y de las Lecciones de Filosofía del Derecho de 1817 y siguientes, por un lado, y la obra publicada, los Principios de la Filosofía del Derecho, por el otro.
La exposición sistemática del concepto de libertad de comunicación pública y de libertad de imprenta, y la ponderación de sus alcances y límites encuentran lugar en el capítulo final, el cuarto. Mediante un análisis exegético de los elementos decisivos del §319 y su Anotación, determina sucesivamente los elementos fundamentales del concepto. Puesto que gran parte de la exposición hegeliana procede allí mediante negación – se extiende más en señalar cuándo existe abuso de libertad de comunicación que en ofrecer una exposición en términos positivos – Konzen se sirve metodológicamente del dictum que Hegel evoca de Spinoza – toda determinación es negación – para detectar por contraste en cada instanciación de abuso que Hegel señala, el uso legítimo admitido implícitamente. Luego de un extenso relevamiento y confrontación con la bibliografía sobre el tema, el autor presenta una reconstrucción descriptiva de los elementos fundamentales de la libertad de comunicación pública. Y sostiene que la concepción hegeliana de esta instancia de la libertad converge con la que presentan las principales realidades constitucionales de los estados contemporáneos. El autor presenta, entre otros, los siguientes elementos argumentativos. Hegel sin duda no es un defensor de la libertad de imprenta en términos de libertad absoluta. Admite que puedan considerarse ilícitos los abusos. Pero en primer lugar exige una ley; los alcances y límites de la libertad de comunicación pública no pueden depender del mero arbitrio del gobierno. En cuanto a los abusos, siguiendo gran parte de la bibliografía, Konzen destaca cómo los casos que presenta Hegel son más bien casos en donde la libertad de comunicación pública es utilizada como medio para cometer otro delito ya tipificado como tal en general en los códigos, y con entidad autónoma, como ser por ejemplo calumnia e injurias, o la incitación a la revuelta. Por otra parte, el texto presenta una salvaguarda explícita de la libertad de la ciencia, que recordemos que para Hegel incluye a la filosofía como su mayor exponente. Por lo demás, en los casos donde la expresión pública puede ser potencialmente un riesgo, por ejemplo, para la seguridad de la nación, señala que debe considerarse si efectivamente ese riego existe, pues una expresión es sólo peligrosa si el contexto lo justifica. Luego, en todo lo que atañe a la aplicación de sanciones, Konzen subraya cómo Hegel es más bien restrictivo en los casos dudosos, y deja más bien a la misma opinión pública a que los regule con sus propias sanciones, como el desprecio y la atribución de insignificancia.
Pero la reconstrucción que realiza Konzen de los fundamentos en los dos primeros capítulos, no sólo sienta las bases para su posición acerca de la libertad de imprenta en Hegel, sino que también le permite trascender el contexto histórico puntual. La necesidad humana esencial de la formación, en saber y discernimiento, que requiere como uno de sus medios mejores, según Hegel, a la libertad de comunicación pública, puede según Konzen sugerir criterios para la situación actual. En líneas generales, nos puede proveer de criterios para pensar los nuevos problemas que nos acechan hoy, a diferencia de ese entonces, como ser la sobreabundancia y el exceso de información; el aplanamiento de toda información al mismo nivel de importancia, y por tanto la necesidad de un concepto crítico de información en función de la libertad humana, cuestiones hoy medulares en todo planteo de ética y legislación comunicacional. Así también la obligación que exige Hegel del Estado de respetar el ámbito de la libertad subjetiva y la privacidad, limitaría según Konzen por ejemplo la posible injerencia en los correos electrónicos, y exigiría una fundamentación muy estricta de una ley que autorizase en algunos casos su intervención.
Este libro presenta el rigor de una tesis doctoral, sobre la cual se basó originalmente, sin quedar encerrado en el carácter críptico que presentan a veces los textos académicos – sobre todo cuando se trata de Hegel – para el lector que proviene de otras ramas de la filosofía o bien de otras disciplinas como la ciencia política. A lo largo de su investigación, Konzen presenta una paciente y minuciosa labor filológica que recorre con atención el texto de la Filosofía del Derecho y las Lecciones publicadas en diversas ediciones críticas, y considera con el peso debido a los agregados (Zusätze). Considera a la Filosofía hegeliana del Derecho dentro de una lectura directa del resto de la obra de Hegel, en la cual se encuentra el Espíritu Objetivo y articula y atiende continuamente a la terminología en lengua original. El autor lee también los textos hegelianos a partir del trabajo realizado por sus predecesores, con una especial atención a las publicaciones de sus colegas en Brasil, con lo cual acerca al público latinoamericano, como es el caso de quien escribe, no sólo sus propias reflexiones y conclusiones, sino también toda la importante labor que se viene efectuando desde hace años en los círculos brasileños de estudiosos de la obra de Hegel.
Horacio Martín Sisto – Doctor en Filosofía. Profesor Adjunto de Filosofía Moderna en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) <msisto@ungs.edu.ar>. Jefe de Trabajos Prácticos de Filosofía de la Historia en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Universidad de Buenos Aires (UBA). Puán 480 – Barrio de Cabalito. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: martin_sisto@filo.uba.ar.
Hegel’s critique of Kant – From dichotomy to identity – SEDWICK (V)
SEDGWICK, Sally. Hegel’s critique of Kant – From dichotomy to identity. Chicago: Oxford University Press, 2012. 194 p. Resenha de: COSTA, Danilo Vaz- Curado R. M. Veritas, v. 59, n. 1, p. e1-e8, jan.-abr. 2014.
A obra Hegel’s critique of Kant – From dichotomy to identity, de Sally Sedgwick, pesquisadora e professora na Universidade de Illinois em Chicago, que ora se resenha, publicada pela Oxford University Press, no ano de 2012, recolhe, em sua maior parte, um conjunto de consagrados artigos publicados anteriormente pela autora em diversas revistas, coletâneas e Festschrift, a exceção dos capítulos 1 e 6 que são textos especialmente preparados para a presente edição.
Todavia, e em que pese grande parte dos capítulos já haverem, em alguma medida, sido trabalhados em momentos anteriores, os mesmos foram ampliados, incorporaram novas questões e perspectivas, o que os torna mais instigantes e interessantes, tanto para a Hegel-Forschung, como para, a Kant-Forschung. A riqueza das considerações expostas no livro é tão impressionante que cada capítulo possui uma auto-nomia que o permite ser lido em separado, mas que apenas revela todo o seu potencial hermenêutico quando compreendido na totalidade da obra.
O livro Hegel’s critique of Kant – From dichotomy to identity, divide-se em seis capítulos com o propósito de defender a hipótese1 de que Hegel oferece uma convincente crítica e alternativa à concepção de conhecimento estabelecida por Kant em seu período Crítico, nos seguintes termos:
(i) Introdução à crítica hegeliana: forma discursiva versus forma intuitiva do entendimento na filosofia crítica de Kant; (ii) Unidade orgânica como unidade verdadeira do intelecto intuitivo; (iii) Hegel e a subjetividade do idealismo kantiano; (iv) Hegel e a dedução transcendental da primeira Crítica; (v) subjetividade como parte de uma identidade original e, por fim, (vi) A petição de princípio: natureza da crítica kantiana.
A obra, que se apresenta ao público brasileiro, aglutina-se em torno de dois núcleos chaves: (1) o estabelecimento das condições de possibilidade da compreensão do projeto crítico kantiano na perspectiva que Hegel endereça suas críticas a esta pretensão; pensa-se mais especificamente nos capítulos 1, 2, e (2) o confronto entre a perspectiva hegeliana em face da estrutura da filosofia transcendental de Kant.
A autora indica que a motivação originária para a produção e preparação da presente obra colocava-se, inicialmente, na perspectiva da compreensão da crítica de formalismo vazio endereçada por Hegel ao imperativo categórico kantiano como lei suprema da moralidade, e a acusação hegeliana no escopo desta crítica das deficiências da perspectiva moral kantiana, referentes a (i) sua inefetividade para servir como um guia para a derivação de específicos deveres, e (ii) a suspeita hegeliana da incapacidade da lei prática ser eficaz em motivar nossa ação moral.
Ao tematizar as condições de efetividade da crítica hegeliana à Kant, tornou-se evidente à autora que a crítica hegeliana à Filosofia Prática de Kant desenvolvia-se sob a silenciosa perspectiva de uma crítica à sua filosofia teórica. Neste contexto de paralelismo, a crítica hegeliana centra-se numa acusação à filosofia kantiana de ser portadora de um dualismo, no qual, em ambos os domínios, separa-se a mente humana, num poder de gerar a priori conceitos e leis de modo totalmente separado dos objetos desta própria mente.2 No primeiro capítulo da obra, são examinados os recursos da teoria kantiana do conhecimento, especificamente a ideia defendida por Kant de que nosso modo de conhecimento é discursivo, no sentido de que é impossível para nós produzir objetos ou o conteúdo de nosso conhecimento empírico pelo simples uso de nossos poderes cognitivos; explicita-se a ideia kantiana de que a intuição3 não é capaz de produzir conhecimento, entendimento.
Sedgwick defende que Nas obras de seu período crítico, começando com a Crítica da Razão Pura de 1781, Kant defende a tese de que o conhecimento humano é discurso por natureza em vez de intuitivo. Enquanto discursivo, nosso entendimento é um modo dependente de conhecimento nos seguintes termos: em nossos esforços por conhecer a natureza, temos de confiar numa matéria ou conteúdo que é dado na intuição sensível.4
Avaliando a posição kantiana, Sedgwick reconstitui a linha de reflexão do Hegel de Iena, o qual era fascinado pelo papel da intuição na perspectiva kantiana, ao mesmo tempo em que imputava a Kant o erro de insistir numa absoluta oposição ou mesmo uma heterogeneidade entre nossos conceitos e o dado sensível. Neste contexto, após apresentar o ponto de partida do Hegel de Iena e suas diversas correntes interpretativas, conclui com Hegel5, mas contra Kant, que nós podemos saber o que é o conteúdo sensível do dado e utilizar a intuição na produção de conhecimentos, desde que o relacionemos em concordância com nossos conceitos.
Na esteira da crítica de Hegel em Iena a Kant, Sedgwick crê poder superar a distinção em sentido forte estabelecida por Kant entre conceitos e intuições.
No Capítulo II, Sedgwick, perseguindo a linha de crítica levantada por Hegel em face de Kant, reconstrói a inspiração subjacente a tese hegeliana exposta em Fé e Saber de uma verdadeira unidade orgânica, como sendo capaz de superar os dualismos do período Crítico kantiano. Todavia, ao fazê-lo, conclui de modo um tanto surpreendente que Hegel inspira-se, paradoxalmente, no próprio Kant.
Segundo Sedgwick, Hegel para constituir seu argumento de que a verdadeira unidade do intelecto intuitivo é uma unidade orgânica inspira-se numa ideia que ele descobre em Kant, especificamente na Crítica do Juízo. Kant, na Crítica do Juízo, desenvolve a ideia que a unidade descreve-se por uma relação na qual o todo e as partes são reciprocamente determinados. A parte depende em sua forma do todo, e este é sustentado por suas partes.
Neste contexto, Sedgwick, seguindo Hegel, defende que é possível entender a relação entre conceitos e intuições na perspectiva de uma verdadeira unidade do intelecto, um entendimento intuitivo, tal como a relação na qual o todo entende-se pelas partes e estas sustentam o todo, postulando que cada um – conceito e intuição – faz-se necessário para a natureza e a existência do outro. Conceitos e intuições de um entendimento intuitivo o são na exata medida que ao estarem separado são idênticos – desempenham um papel de mesmo nível na cognição – e determinam-se reciprocamente como modos do conhecimento.
Por fim, Sedgwick conclui que se, em Fé e Saber, Hegel não foi capaz, de fato, de apresentar uma proposta convincente ao problema da estruturação dualista proposta pelo Kant crítico, ao menos, ele não adota uma perspectiva reducionista em sua teoria do conhecimento,6 pois ao postular a perspectiva da verdadeira unidade pela analogia ao organismo, Hegel pôde superar a oposição entre o sujeito e o objeto.7 No Capítulo III, Sedgwick desenvolve a noção de que o que impede Kant de apreciar a identidade de conceitos e intuições é seu compromisso com uma forma de idealismo de tipo subjetivo e as possíveis consequências céticas desta perspectiva subjetiva. Em continuação à tematização, explicitação e crítica à concepção de subjetividade e de idealismo em Kant, Sedgwick defende que Hegel estava certo de que podemos evitar esta consequência cética8 e avançar em vista de um genuíno, ou absoluto idealismo, providenciando uma alternativa à subjetividade da teoria kantiana das formas conceituais.
A perspectiva crítica adotada no capítulo III em face de Kant acusa o idealismo transcendental da Primeira Crítica de postular a vacuidade dos conceitos face ao fato de Kant adotar uma perspectiva externalista das formas conceituais em face da intuição sensível. Tal externalismo reside no caráter adotado por Kant da absoluta aprioridade da faculdade do conhecimento em produzir os conceitos, tornando conceitos ou categorias em faculdades pré-dadas e fixas [pre-given and fixed].
Sally Sedgwick9, seguindo a crítica de Hegel, defende que a saída para as consequências subjetiva e cética do idealismo transcendental kantiano reside em desistir [to give up] do compromisso com a externa-lidade da forma conceitual, ante ao fato de que, sendo os nossos conceitos a priori, eles não podem refletir o conteúdo dado pela natureza.
A autora propõe uma nova perspectiva para a ideia kantiana de uma absoluta oposição da forma conceitual, defendendo que a opositividade da forma conceitual face a intuição reside apenas quanto à origem e à natureza e não quanto ao uso.
No capítulo IV, a autora tematiza as críticas endereçadas por Hegel ao uso da dedução transcendental kantiana, tal como elaborada na Primeira Crítica. O capítulo, em comento, inicia-se pelo tratamento especulativo kantiano à questão de como são possíveis juízos sintéticos a priori. Neste modo especulativo exposto por Kant, Hegel, segundo Sedgwick (p.100), identifica para além do esforço de Kant em determinar os limites de nosso conhecimento e providenciar uma alternativa ao ceticismo humeano, uma alternativa à própria limitação kantiana da externalidade da forma conceitual.
E é mediante a original unidade sintética da apercepção como absoluta identidade que, para Hegel e a autora, colocam-se desde Kant as pistas para a saída dos limites do projeto da Primeira Crítica. Ou seja, na unidade sintética da apercepção, os atos de síntese não são nem puras faculdades da intuição, nem puras faculdades de conceitos, ou seja, colocam-se as condições de possibilidade para superar-se a absoluta opositividade entre conceitos e intuições numa unidade sintética original.
Todavia, Kant permanece no seio das dicotomias e na heterogeneidade entre conceitos e intuições, entre sujeito e objeto, ao concluir na sequência da exposição da unidade originária da síntese que esta trata-se de uma atividade conformada pela nossa faculdade conceitual, do entendimento, em sentido kantiano, retirando sua capacidade de ser de fato uma genuína unidade sintética.10 Deste modo, Sedgwick (p. 126) mesmo reconhecendo com Hegel que a mais alta ideia da dedução transcendental kantina reside no caráter originário da unidade sintética da apercepção, acusa-a de vacuidade da subjetividade e imputa-a de uma recusa em sair do caráter externo do uso de nossos conceitos, tornando-se dependente e devedor do senso comum – por mais paradoxal que seja – pois, o caráter absoluto da razão kantiana reside exatamente no fato de que ele basta-se a si mesmo e por independência de toda atitude ordinária do senso comum.11 No capítulo V, intitulado de subjetividade como parte de uma identidade original, Sedgwick tematiza o conhecimento como um meio e de superar as formas de pensamento vazias e externas, pondo novamente o acento sob a limitação da perspectiva kantiana de uma necessidade metafísica a priori, postulando uma revisão da constituição de nossos poderes cognitivos.
Na alternativa colocada por Sedgwick, a subjetividade é posta como parte desta unidade originária, de modo a poder superar os dualismos kantianos. Todavia, a autora (p. 128 ss.) defende, neste contexto, que nossa mente e suas formas são simples produtos da natureza. Neste modelo interpretativo, ocorre uma naturalização de nossas faculdades cognitivas, entretanto tal naturalização é um reducionismo do pensamento ao próprio pensamento, um tipo de naturalismo conceitual.
Sedgwick12 defende que Hegel concorda com Kant acerca da necessária função dos conceitos e daí deriva uma conclusão internalista de que um conteúdo verdadeiramente extraconceitual não pode ter nenhum significado cognitivo para nós. Nesta leitura, o único objeto possível da cognição humana, para Hegel, seria o próprio pensamento.
Na defesa de sua tese do conhecimento como um meio, Sedgwick (p. 133 ss.) resgata o debate e a crítica de Hegel exposta na Fenomenologia do Espírito se o conhecimento como meio é um instrumento (Werkzeug) ou um meio passivo (passives Medium), e o abandono por Hegel da perspectiva da compreensão do ato cognitivo como um meio. O problema, ao contrário, é a suposição de que nos trazemos formas-de-pensamento de nossos atos, se assim o pensarmos, adverte Sedgwick, através da releitura hegeliana, nossos esforços não podem ser satisfeitos, pois é exatamente este o erro que Hegel associa à consciência natural.13 Em continuação, Sedgwick (p.158 ss.) defende a dupla dependência entre conceitos e intuições contra a artificialidade da tese da absoluta heterogeneidade, mediante a tese de que o pensamento compartilha com as paixões e os sentimentos características que não permitem enqua-drá-la como uma simples expressão da espontaneidade.
Sedgwick parece estar nos sugerindo que, em Hegel, e ela está compartilhando desta tese, não há nenhum pensamento ou a aplicação de nossas formas de pensamento que não é condicionada do modo efetivo pelas forças naturais e históricas reais, e que uma implicação desta atividade e os seus resultados não dependem inteiramente de nós.14 O capítulo VI é uma grande tentativa da autora para testar suas teses acerca dos limites do projeto crítico de Kant em face das crítica hegelianas. Um ponto fundamental, nesta instância exploratória da autora, é a acusação de que Kant não fora suficientemente crítico, e para tanto, Sedgwick (p. 166) retoma o tratamento kantiano das antinomias e conclui após expor os passos do tratamento hegeliano das antinomias, tal como exposto na Ciência da Lógica, pela insuficiência da criticidade do projeto crítico.15 The kantian philosophy as a cushion for the indolence of thought é o ultimo momento do livro de Sedgwick (p. 177 ss.), onde a autora expõe o caráter de almofada da filosofia kantiana sob o argumento de uma suposta fraqueza de seus argumentos em contraste com a aparente rigidez de suas afirmações acerca dos dualismos sujeito/objeto, conceito/intuição, do uso equívoco das faculdades racionais no tratamento das antino-mias etc.
Por fim, Sedgwick16 (p. 179-180) encerra seu sugestivo e impressionante livro sugerindo que se suas análises nos capítulos que compõem o livro estiverem acuradas, elas sugerem que do mesmo modo que os poderes do pensamento que Hegel mantém responsável pela subjetividade do idealismo kantiano, é do mesmo modo responsáveis pelo que ele considera serem as irrealistas estimativas kantianas das conquistas da crítica.
Do mesmo modo, o conjunto dos poderes e formas de pensamento que não nos deixam meios de evitar a ‘contingência’ nas relações entre nossos conceitos e coisas, reside na base da afirmação de Kant de haver ganhado um insight de características imutáveis de nossas faculdades de pensamento e de conhecimento.
Seguramente o livro de Sally Sedgwick Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, afirmar-se-á como um clássico na reflexão acerca dos destinos da Filosofia Clássica Alemã, pela clareza no tratamento das fontes, o refinamento no desenvolvimento das teses e argumentos dos autores em confronto. Tal caráter clássico, que se acredita o livro atingirá, não o exime de, em muitos pontos, as críticas levantadas pela autora ao idealismo transcendental kantiano, assim como os desenvolvimentos do idealismo hegeliano, sejam sujeitos a críticas e passíveis de revisão na própria literatura especializada.
Notas
1 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 1. “This is a study of Hegel’s critique of Kant’s theoretical philosophy. Its main purpose is to defend the thesis that Hegel offers us a compelling critique of and alternative to the conception of cognition Kants argues for in his “Critical” period (from 1718 to 1790)”.
2 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 7. “In all domains of Kant’s Critical philosophy, the culprit as far as Hegel is concerned is dualism – a dualism that divides the human mind as a Power of generating a priori concepts and laws from the separate contribution of objects wholly outside the mind”.
3 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 7. “Unlike a mode of cognition that is intuitive we have to rely in our cognitions of nature on a sense content that is independently given”.
4 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 14. “In the works of his Critical period, beginning with the Critique of Pure Reason of 1781, Kant defends the thesis that human cognition is discursive rather than intuitive in nature. As discursive, our understanding is a dependent mode of cognition in the following respect: in our efforts to know nature, we must rely on a matter or content that is given in sensible intuition”.
5 Sally Segwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 44. “At this point we have established only Hegel’s frustration with Kant for not awarding us the Power of an intuitive form of intellect”.
6 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 9. “Although Hegel’s remark in Faith and Knowledge do not explain precisely how he thinks concepts and intuitions reciprocally determine or cause one another, they lend support to the conclusion that he is not committed to a reductive account of the relation between these two components of cognition”.
7 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 56-57. “We don’t yet know just what he has in mind by this; we know only that he opposes the heterogeneity of the universal and the particular to the true or organic unity that he says is the unity of the intuitive intellect. We know that the model of organic unity, in his view, substitutes for heterogeneity the identity of the universal and the particular”.
8 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 71. “Hegel is, in other words, convinced that skepticism results from assumptions these systems share about the respective contributions of the two basics components of empirical knowledge: sensible content and subjective form”.
9 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 97. “As we have seen, the skepticism Hegel takes to plague the ‘metaphysic of subjectivity’ relies on a misguided commitment to the thesis of heterogeneity or ‘absolute opposition’. In relying on this thesis, the metaphysic of subjectivity takes for granted the assumption that human cognitions isindeed God-Like – not because, it is possible for us to literally bring the material world into being – but because, in thinking, we can abstract to a realm of pure thought, to a standpoint wholly outside or ‘absolutely opposed’ to ‘common reality’”.
10 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 11 “As Hegel points out, Kant claim that all combination or synthesis in an act of spontaneity performed by our faculty of concepts (the “understanding”). The faculty he identifies as an original synthetic unity, then, turns out not to be a genuine synthetic unity after all”.
11 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 126 “The idealisms of Kant and Fichte are moreover ultimately “subjective”. It is an implication of these systems that subjective forma is “absolutely opposed” or “external” to content in this respect: subjective forma is taken to owe nothing of its nature and origin to the realm of the empirical. For these philosophers, human reason (or “thinking”) is “absolute” in that it is capable of achieving complete “independence from common reality”.
12 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 129 “On this reading, moreover, Hegel endorses this kantian premise about the necessary role of concepts and derives from it the internalist conclusion that a truly extra-conceptual content can have no cognitive significance for us. On this reading, the only possible object of human cognition, for Hegel, is thought itself.”
13 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 137 “The problem, rather, is its assumption that since we bring thought-forms to our acts of knowing, our efforts to know cannot be satisfied. This is the mistake Hegel associates with natural consciousness. It is what he singles out as the crucial defect of its treatment of cognition as a means.”
14 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 161-162 “What Hegel seem to be suggesting, then, is that there is no thinking or application of our forms of thought that is not conditioned by and thus responsive to actual natural and historical forces. One implication of this the activity of critique, as well as its outcome, is not entirely to us”.
15 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 169-177.
16 Sally Sedgwick, Hegel’s Critique of Kant – From Dichotomy to Identity, p. 179-180. “If our analysis in these chapters is accurate, it suggests that the same account of the powers of thought that Hegel holds responsible for the subjectivity of Kant’s idealism is also responsible for what he takes to be Kant’s unrealistic estimations of the achievements of critique. The same account of the powers and forms of thought that leaves us no means of avoiding contingency in the relation between our concepts and things, is also basis of Kant’s claim to have gained insight into immutable features of our faculties of thinking and knowing”.
Danilo Vaz-Curado R. M. Costa – Professor da UNICAP/PE e Doutor em Filosofia pela UFRGS. Universidade Católica de Pernambuco. Rua do Principe, 526 – Boa Vista. 50050-900 Recife, PE, Brasil. E-mail: danilo@unicap.br; danilocostaadv@hotmail.com.
Introdução às ciências humanas – tentativa de uma fundamentação para o estudo da sociedade e da história – DILTHEY (V)
DILTHEY, Wilhelm. Introdução às ciências humanas – tentativa de uma fundamentação para o estudo da sociedade e da história. Trad. de Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. Resenha de: MERTENS, Roberto Saraiva Kahlmeyer. Veritas, Porto Alegre v. 57 n. 3, p. 223-226, set./dez. 2012.
Durante décadas, em nosso país, os estudos das ciências humanas (especialmente as sociais) se serviram das leituras de Marx ou de autores marxistas para compor massa crítica. Repertório criado, é preciso dizer que, ainda hoje, muitas das pesquisas nessa área continuam a receber orientação do referido paradigma. Sem querer apreciar a validade ou a aplicabilidade dessas matrizes em nosso momento atual (e da necessidade ou não de uma gradativa substituição por um novo paradigma para as humanidades), apenas ponderamos que, talvez pelo seu longo período de vigência, ficou inibido o interesse de pesquisadores e das editoras por outros autores representantes das demais linhas de pensamento. Sanando este débito, vemos alguns nomes e títulos clássicos da filosofia e das ciências humanas sendo traduzidos e publicados recentemente para o português do Brasil, entre eles está Wilhelm Dilthey (1833-1911) e sua Introdução às ciências humanas (1883).
Uma avaliação empírica nos permite indicar que o autor é pouco conhecido fora das rodas acadêmicas e precariamente estudado mesmo no interior delas, de sorte que a presente obra pode oportunizar um contato com as ideias deste filósofo, hermeneuta, psicólogo, historiador e pedagogo, que foi um dos primeiros a lançar um olhar lúcido sobre a inadequação dos métodos que elas importaram das ditas ciências naturais.
Para Dilthey, a metodologia das ciências naturais exerceria um efeito negativo sobre as outras, isso porque, por valer-se de compreensões hipotéticas (ou ainda, “hipostasiadas”), as ciências naturais posicionariam os objetos das ciências humanas tal como fazem com os objetos da natureza, interpretando-os como dados em sua mera aparência e duração. Desse modo, as ciências naturais (positivas) exerceriam uma ação “abstrativa” sobre o conhecimento acerca do humano. Tal ação seria decorrente da lida hipotético-positiva das ciências naturais, e tal lida oferece o risco de descaracterização da experiência humana na pauta das ciências que dela se ocupa. Nos termos do pensamento diltheyano, a ação das ciências abstrativas retira os “objetos” das ciências humanas do horizonte que lhes é próprio, na medida em que decompõe, esfacela e destrói o referido horizonte (a isso o filósofo chama de “desvivificação”).
Com essa descrição, central na Introdução às ciências humanas, a crítica às ciências abstrativas disparada por Dilthey abriu terreno para uma enxurrada de análises e desdobramentos que, em sua época (décadas finais do século XIX e iniciais do XX), chegaram a alçar até mais notoriedade do que as premissas de seu primeiro propositor. Spengler, Scheler e Spranger são apenas alguns nomes que, seguindo as pegadas de Dilthey, reforçam a premissa de que as ciências do homem, da sociedade e da história precisariam assentar-se em um solo que lhes garantisse fundamentação adequada (uma vez que esse embasamento, como já vimos, não poderia ser fornecido pelas ciências naturais, mas, antes, seria dado na humanidade das ciências do espírito).
Mas, o que, nesta tarefa de embasamento, chamaríamos de ciências da realidade histórico-social? Em que terreno se poderia lançar os alicerces das ditas ciências humanas? Onde se poderiam fundamentar as ciências do espírito de modo às mesmas não padecerem da mencionada “desvivificação”? A resposta do filósofo dada em seu livro não poderia ser mais simples: no próprio espírito, no horizonte humano, horizonte que Dilthey especifica com o termo vivência. “O ponto de partida é a vivência”. Tal sentença será repetida à exaustão ao longo das quase quinhentas páginas da obra em apreço.
Tomando por consideração as vivências (a própria vida dos fenômenos, realidade absoluta que garante a correlação entre a consciência e seus objetos em um contexto efetivamente histórico), Dilthey se serve do método hermenêutico para, com ele, reconstituir o laço que as ciências humanas possuem com o humano. Assim, uma fundamentação das referidas ciências ocorreria ao passo em que, hermeneuticamente, se possibilitaria um compreender acerca de como o conhecimento humano se faz desde o horizonte próprio ao espírito, sem que os procedimentos explicativos (abstrativos) do positivismo nisso interfiram.
O conceito de vivência, a clássica distinção entre compreender e explicar, ao lado de outros pontos que compõem bases para as ciências particularidades da sociedade e da história, são apresentados satisfatoriamente por um Dilthey ocupado em oferecer uma visão de conjunto das ciências do espírito, na conexão com uma ciência fundante necessária. Esta primeira parte da obra, por definir conceitos e métodos; delimitar o lugar autônomo das ciências da realidade histórico-social frente às ciências naturais; fornecer visões gerais sobre as ciências particularidades da sociedade e da história e distinguir entre as duas classes de ciência, é considerada por Max Weber (outro seguidor de Dilthey) o primeiro estudo sério no qual se aborda o problema metodológico das chamadas ciências humanas.
A obra, entretanto, não se limita apenas a uma apresentação deconceitos e temáticas acerca de pontos que o filósofo julgava impres-cindíveis no campo das ciências. Intuindo (semelhantemente ao Hegel da Fenomenologia do espírito) que toda ciência depende das condições de nossa consciência, Dilthey dedica a segunda parte da obra à interpretação da constituição definitiva da ciência histórica e, por meio dela, das ciências humanas em geral. Realiza-se, assim, a tentativa de fundamentar o estudo da sociedade e da história (como o subtítulo da Introdução anuncia). O que se presencia neste momento é, então, a análise dos fatos constituintes do núcleo das ciências humanas e sua correspondência com a história; história, esta, apreendida como manifestação da vida sob o ponto de vista da humanidade.
Ao longo das quatro seções que compõem esta segunda parte do livro, vemos Dilthey buscar a restauração de elementos da base histórico-material que constitui o conhecimento humano; base, essa, que teria sido tanto negligenciada pelo projeto crítico do kantismo, quanto pelo idealismo radical hegeliano. Ao retomar essas bases históricas, Dilthey tenta esclarecer que as vivências da consciência, e as visões de mundo que elas constituem em cada época, acabam por traduzir as concreções do espírito objetivo em um tempo. Isso explica a extensa narrativa historiográfica contida no tópico intitulado Metafísica como base das ciências humanas: seu domínio e sua decadência, na segunda parte do livro. No referido momento, o filósofo descreve e analisa visões de mundo dos povos antigos e de seu pensamento místico, os povos europeus modernos e seu estágio metafísico, e a dissolução da posição metafísica ante a realidade. Fica patente, ali, a admirável erudição do autor que dedica, além de leituras refinadas de Platão e Aristóteles, dezenas de páginas à filosofia medieval árabe, ultrapassando em muito as expectativas do leitor com formação filosófica média que, geralmente, não costuma ir além de notícias sobre Avicena e Averróis (fato que justifica o entusiasmo de Eugenio Imaz, seu tradutor para a língua espanhola, que reputa sua cultura “prodigiosa”, “oceânica”). Aspecto que, por si só, já é suficiente para legitimar a publicação do livro.
Avaliada sob o ponto de vista da tradução, a edição brasileira apresenta uma versão elaborada de maneira atenta à tendência dos estudos mais atuais da obra de Dilthey. Desse modo, mesmo a tradução da expressão alemã Geisteswissenschaften por “ciências humanas” (que poderia ser contestada em favor da literal “ciências do espírito”) encontra precedente nas traduções de língua inglesa e endosso junto a comentaristas especializados, que se inclinam a acatar que “ciências humanas” traz melhor a conexão de sentido da realidade histórica e social do que a nomenclatura “ciências do espírito”, na qual a noção de “espírito” facilmente pode sugerir erroneamente uma independência de homens reais. Não fosse esse argumento suficiente, a escolha se mostra editorialmente plausível, uma vez que cria maior identidade com o público de alguns dos cursos universitários brasileiros, dos denominados cursos de ciências humanas.
Roberto Saraiva Kahlmeyer-Mertens – Doutor em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Estuda o autor alemão Martin Heidegger desde o ano de 1995, tendo interesse também pela filosofia clássica alemã. Autor de Heidegger & a Educação (Autêntica, 2008). E-mail: kahlmeyermertens@gmail.com.
Filosofia e educação – DILTHEY (V)
DILTHEY, Wilhelm. Filosofia e educação. Organização de Maria Nazaré de Camargo Pacheco Amaral. Tradução de Alfred Josef Keller e Maria Nazaré de Camargo Pacheco Amaral. São Paulo: EdUSP, 2010. Resenha de: MERTENS, Roberto Saaiva Kahlmeyer. Veritas, Porto Alegre v. 57 n. 3, p. 219-222, set./dez. 2012.
No ano de 2010, foi lançado Filosofia e educação, coletânea de textos de diversas fases da obra de Wilhelm Dilthey (1833-1911)1. Diferentemen-te de Schopenhauer e de Nietzsche, o filósofo, psicólogo, pedagogo e histo-riador nascido em Wiesbaden (Alemanha) atuou principalmente no meio universitário alemão, o que explica o fato de ser pouco conhecido do gran-de público. Mesmo sem a notoriedade dos dois primeiros, seu pensamento ocupou um posto decisivo na confrontação das ideias positivistas trazidas à Alemanha pelas mãos de Taine e Spencer. Assim, no limite entre o século XIX e o XX, Dilthey encorpou, enérgica e entusiasticamente, o coro de críticas às ciências naturais e ao seu modelo positivo.
Os termos da crítica diltheyana consistem, de modo geral, na denún-cia que as ciências positivas atuam de maneira abstrativa. Deste modo, posicionam o fenômeno objetivamente, delimitam-no a ponto de abs-traí-lo de seu contexto específico, e questionam-no como um fato bruto. Para Dilthey, tal maneira de investigar é reducionista, pois, o método que supostamente obteria resultados válidos e legitimados pelo dado empírico, no fundo, promoveria um empobrecimento e, mais, um “esfacelamento” da experiência que garante o próprio conhecer pela ciência.
Tal avaliação deriva da evidência de que todo e qualquer conhecimento possível se assenta em vivências. Para Dilthey, vivência constitui a realidade absoluta da própria vida; sendo o dado resultante da interação da consciência com seu mundo. As vivências compreendem o mundo vivido, deste modo, qualquer tentativa de conhecer os fenômenos do mundo desconsiderando esta esfera vivencial incorreria no que Dilthey chamaria de “desvificação” do saber (ou o próprio esfacelamento supra referido).
1 Dilthey completa 100 anos de morte em 2011, meu esforço é não deixar o importante legado pedagógico-filosófico deste autor não passar sem uma lembrança (resenha).
Nesta sumaríssima apresentação da crítica de Dilthey à doutrina positiva e de sua influência nas ciências naturais, é possível entrever o quanto estas nos deixariam a um passo do fenômeno propriamente dito. Este quadro se agrava ainda mais quando implicado em outra classe de ciências: as do espírito, ou as ciências humanas. Dilthey percebe que também as ciências ditas humanas (em pleno viço no final do século XIX, após a queda dos idealismos filosóficos especialmente na Inglaterra, França e Alemanha), em seu modo de atuar, se servem do modelo das ciências naturais, ou seja, também atuam de modo abstrativo, desvivificado. Diante desta constatação, o filósofo entende tão necessário quanto urgente a fundamentação das ciências do homem, da sociedade e da história no solo que as vivências constituem. Dizendo de modo ainda mais claro: evitando o desvio que o método positivista consiste, Dilthey pretende enraizar as ciências da realidade histórico-social num solo compatível ao que há de humano em seu fazer.
Não seria incorreto afirmar que toda a obra filosófica de Dilthey tem, desde o início, a fundamentação das ciências particularidades da sociedade e da história como seu objetivo precípuo. Deste modo, desde os primeiros esboços programáticos de obra, passando pelos primeiros escritos até as extensões que formam a obra de maturidade, Dilthey tem em vista o referido propósito, tentando levá-lo a cabo de maneira variada e pouco sistemática.
Na coletânea em apreço, é possível encontrar extratos que caracte-rizam algumas dessas etapas. Os textos organizados por Maria Nazaré de Camargo Pacheco Amaral ilustram bem o intuito do filósofo de fundamentar as ciências do homem, da sociedade e da história. São escritos que permitem uma visão, tão clara quanto o possível, do projeto diltheyano de uma “crítica da razão histórica” e do papel que os conceitos de história e hermenêutica possuem no interior dessas.
Dividida em duas partes, inicialmente temos o que se denominou Manifestações programáticas. Primeira das três seções (ou capítulos) desta divisão, encontramos aqui o prefácio à Introdução às ciências humanas (1883), obra que muitos especialistas consideram o trabalho de Dilthey, no qual a crítica às ciências abstrativas aparece em sua formulação mais explícita. O referido texto é, sem dúvida, um bom primeiro contato com a obra do filósofo, justamente por ser nele que o leitor conhece os conceitos-chaves daquela filosofia e os contextos nos quais eles se inserem. No mesmo capítulo, também é relevante o tópico Pensamento fundamental de minha filosofia. Com este, o próprio Dilthey enfatiza os pontos que entende importantes em seu pensamento. Daí, o filósofo fixar que: a inteligência não se perfaz isoladamente do indivíduo, dependendo, portanto, da vontade humana de conhecer; que a inteligência, como um dos atos possíveis da vida, existe apenas na totalidade que a consciência integra; que a inteligência é sempre plena e real para si, sendo, portanto, a filosofia a “ciência do real”.
A segunda seção dessa primeira parte é dedicada à Fundamentação teórica do conhecimento. Nessa, mais digna de destaque do que os tópicos de psicologia, é aquele intitulado Os fatos da consciência. No presente, vemos a premissa diltheyana segundo a qual “fatos da consciência são o único material de que são feitos os objetos” (p. 49), sobre esta proposição não só se tornaria possível a fundamentação das ciências particulares da sociedade e da história, quanto se legitima a hermenêutica como método para compreensão dos atos de consciência e de seus respectivos objetos.
Com a base oferecida por esses dois primeiros capítulos, o leitor pode passar ao terceiro: Vivência, expressão e compreensão. Tão interessante quanto às seções que fornecem conceitos, esta (tocante à prática da biografia) nos permite ver como o conceito de vivência e o de história se conjugam no universo diltheyano. É verdadeiramente revelador o tópico chamado Vivência e biografia, justamente pela importância que Dilthey dá, especificamente, à autobiografia. Para o autor: “A autobiografia é a forma mais instrutiva pela qual nos vemos confrontados com a compreensão da vida” (p. 245); ainda, “a apreensão e interpretação da própria vida passam por uma longa série de estágios” e, assim: “A explicação mais perfeita encontra-se na autobiografia em que o próprio eu apreende seu curso de vida de maneira tal que chega a adquirir consciência dos substratos humanos e das relações históricas que o envolvem” (p. 248). Uma leitura atenta do tópico em apreço tornará claro o quanto o conceito de história no conjunto da obra do filósofo é decisivo, mostrando que a vulgata orteguiana segundo a qual um homem não tem essência, mas que possui a história em seu lugar, depende de uma série de preparativos até galgar esta formulação.
A segunda parte do compêndio justifica o título de Filosofia e educação, dado por sua organizadora. Dividida em duas seções, é nessa que comparecem os conteúdos da pedagogia diltheyana. Em seu primeiro capítulo, Representação estética e hermenêutica do mundo histórico, o leitor encontrará textos da fase avançada do pensamento do autor, e escritos de estética circunvizinhos aos de psicologia (majoritariamente datados entre os anos de 1888-1910). Grifamos aqui o ensaio O nascimento da hermenêutica, oriundo do volume VII das Obras Completas de Dilthey. Este tópico se mostra elucidativo ao leitor interessado em hermenêutica, dado a expor como esta ciência se desenvolveu inicialmente entre os filólogos em sua prática de descrição e busca de fundamentação de suas regras, permitindo-lhe compreender e interpretar com segurança a cultura letrada. No referido, Dilthey expõe de modo cuidadoso o modo com que esta ciência se relaciona com a lógica, a teoria do conhecimento e as diversas metodologias das ciências humanas. Com a matéria aqui apresentada, o leitor pode não apenas conhecer a genealogia do pensamento diltheyano, quanto entrever a pertinência de outros hermeneutas (Heidegger, Gadamer, Figal) na história dessa ciência.
Conceito de vida, pedagogia e ética encima o último capítulo do livro. É ali que aparecem propriamente as reflexões sobre educação. O tópico Sobre a possibilidade de um sistema pedagógico com validez universal é o que melhor traduz as preocupações pedagógicas de Dilthey. Em linhas muito gerais, é possível encontrar neste ensaio traços fundamentais para um sistema da pedagogia, sistema para o qual o diálogo com a pedagogia de Kant lhe empresta as noções de teleologia, perfectibilidade e desenvolvimento. O referido tópico é inegavelmente uma contribuição oportuna para se pensar a educação em face da filosofia (ou uma filosofia na educação). A tradução desses escritos, por dar acesso a essas fontes ao leitor brasileiro, representa não apenas a alternativa de pensar a educação brasileira quanto a oportunidade de pensar uma educação em matrizes hermenêuticas, premissa que parece interessar à professora Maria Nazaré de Camargo Pacheco Amaral, em seus trabalhos autorais.
Não resta dúvida que seja uma iniciativa louvável a publicação de uma seleta de textos de Wilhelm Dilthey, ainda mais quando essas escolhas permitem uma apresentação de suas ideias e a transparência às suas motivações. Observe-se, contudo, que alguns dos textos consignados no livro, parcialmente traduzidos, são oriundos de obras que, no mesmo ano (2010), foram vertidos integralmente para o português no Brasil, é o caso de: Introdução às ciências humanas, Ideias sobre uma psicologia descritiva e analítica e A construção do mundo histórico nas ciências humanas. Isso, no entanto, não é desdouro ao trabalho que, entre muitos méritos, possui o de conter aparatos críticos de bom nível assinados pela organizadora da edição. Tais escritos são contributos não apenas por apresentar os textos, mas por constituir uma introdução didática aos estudos de Wilhelm Dilthey, conjugando os comentários de especialistas autoridades como Georg Misch, Otto F. Bollnow e Theodor Wilhelm. Por tudo isso, Filosofia e educação é uma base ampla e significativa para a pesquisa do autor.
Roberto Saraiva Kahlmeyer-Mertens – Doutor em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.Estuda o autor alemão Martin Heidegger desde o ano de 1995, tendem interesse também pela filosofia clássica alemã. Autor de Heidegger & a Educação (Autêntica, 2008). E-mail: kahlmeyermertens@gmail.com
Fluxus Indagine sui fondamenti della metafisica e della física di Avicena, LIZINNI (V)
LIZINNI, Olga. Fluxus. Indagine sui fondamenti della metafisica e della física di Avicena. Bari: Edizioni di pagina, 2011, 679p. ISBN 978-88-7470-123-0. Resenha de: OLIVEIRA e SILVA, Paula Oliveira e. Veritas, Porto Alegre v. 57 n. 2, p. 216-220, maio/ago. 2012.
Olga Lizinni apresenta nesta obra uma análise da Metafísica do Livro da Cura (Kita b al-Sifa ) de Avicena, rastreada à luz do conceito fundamental de fluxo (fayd). Arabista e Doutora em Filosofia, Lizzini preparou, juntamente com Pasquale Porro, a primeira edição italiana da Metafísica de Avicena (Ed. Trilingue: árabe, latim, italiano. Milão 2002; 22006). A obra que publica agora sobre o conceito de fluxus (fayd) é reveladora de uma análise feita a partir do conhecimento intrínseco da língua árabe. É a partir do trabalho filológico que Lizzini desbrava a centralidade do conceito de fluxus quer na Metafísica de Avicena, quer em outras obras do filósofo árabe.
Essa volumosa obra de Lizzini está dividida em cinco capítulos, aos quais se seguem dois Apêndices, uma Bibliografia, um Índice de lugares citados e, finalmente, um Índice de autores. O capítulo primeiro, Fluxo, fluir, fazer fluir – fayd, fayada n, ifa da (p. 27-87), expõe as “primeiras notas sobre a terminologia do fluxo”. Trata-se de um levantamento de ocorrências do termo quer nos textos neoplatônicos traduzidos para o árabe pelo círculo de Al-Kindi (Plotiniana árabe: respectivamente a obra Teologia pseudo-aristotélica, a Epístola sobre a Ciência Divina e os Ditos do Sábio Grego; Procliana árabe: Elementatio Theologica e Discurso ou Livro do Sumo Bem), quer nas obras de autores que precederam Avicena, nomeadamente Al-Kindi e Al-Farabi, recolhendo ainda algumas primeiras observações sobre o tratamento aviceniano de fluxus.
O Capítulo 2 parte da definição de fayd dada por Avicena no Livro das definições (Kita b al-Hudu d), para evidenciar o alcance metafísico do termo e as questões que lhe são subsequentes. O termo fluxo é empregue para referir a procedência do mundo em relação ao Primeiro Principio ou para dar conta das aporias, de âmbito lógico-linguístico e ontológico, que envolvem essa procedência. O absoluto primado do Primeiro e a Necessidade da sua existência limitam desde logo a sua dizibilidade e compreensão. Por isso, tratar dos atributos de Deus significa considerar a derivação do mundo e, inversamente, qualificar a emanação de algo a partir de Deus implica necessariamente adscrever atributos ao próprio Deus. Escreve Lizzini: “Qualunque predicazione che vada al di là della mera esistenza di Dio implica il mondo e con esso il flusso che gli dà origine; la predicazione degli attributi divini finisce così per coincidere con lo stesso flusso”(p. 94). A questão é a de saber de que modo é possível a predicação de Deus e se esta é de fato uma predicação dele ou do que flui a partir dele. Dada a inefabilidade absoluta de Deus, Avicena considera que o silêncio, mais do que o discurso negativo ou afirmativo, é a resposta coerente ao problema da predicação do divino. A relação do Necessariamente Existente com o mundo coloca-se não a partir do próprio Primeiro, mas a partir da procura da razão última da relação que todos os existentes têm entre si. Ora, a temática do fluxo é operativa na metafisica aviceniana, precisamente para compreender essa relação. Trata-se de uma relação irrecíproca, sem correlação: “ È al interno di questo orizzonte dottrinale che le relazioni possano andare ascritte al Necessariamente Esistente: pensate como non costituenti l’essenza del Principio e rispetto ad essa esterne, esse sono causate dall’essenza del Principio e le sono posteriori, come posteriori al Primo è lo stesso flusso d’essere che da Esso si origina” (p. 97). A ideia de fluxo é por conseguinte central na compreensão da relação de Deus com o Mundo, do problema aviceniano da emanação, da identificação dos modos do existente, da instauração do mundo ou da resolução do problema da sua origem, para a compreensão da identidade de Deus e dos existentes e para o estabelecimento da diferença ontológica. Essas são, em síntese, as grandes questões sob as quais a análise do conceito de fluxo e a sua operatividade no sistema aviceniano pretende lançar luz. No que diz respeito ao Livro das Definições, conclui a autora, três são os aspectos desta doutrina que aí se evidenciam: a necessidade do fluxo, o seu caráter ontológico e o seu carácter hierárquico (p. 109). Essas características serão explicitadas e os seus conteúdos serão determinados na Metafísica do Livro da Cura. Nesta obra, a relação é analisada em termos de causalidade e, de modo particular, a partir da diferença entre o Existente Necessário e o Possível. Partindo da consideração aviceniana do fluxo como “causalidade comunicável” (p. 114), a autora explana três temas centrais da metafísica aviceniana: a relação necessidade-possibilidade (p. 114-146); a relação essência-existência (p. 147-157) e a relação de providência, no horizonte do conceito de “utilidade” em que Avicena a inscreve (p. 193-223). Lizzini leva a cabo uma verdadeira exposição da ontologia aviceniana: a noção de fluxo serve-lhe aqui de ponto de partida, mas as questões são discutidas em um horizonte que ultrapassa a delimitação do conceito em causa. A análise sobre a relação entre necessidade e possibilidade mostra bem a função heurística que essa disjunção assume na ontologia aviceniana, concretamente na concepção do existente causado (necessário por outro) e da sua relação com o Necessariamente existente. Completa essa análise o esclarecimento da estrutura ontológica do existente entre essência e existência, da diferença entre ambos os princípios e do primado da essência sobre a existência. Um último apartado do Capítulo II é dedicado à delimitação do termo fluxo: “ci usa soltanto a proposito del Creatore e delle Inteligenze” (p. 224-234). Desse modo, a autora introduz as temáticas dos três capítulos seguintes, nos quais trata respectivamente o problema do “agir divino” (Capítulo 3), a emanação do mundo sublunar (Capítulo 4) e finalmente o fluxo no mundo natural ou físico (Capítulo 4).
O Capítulo 3 analisa o primeiro momento do fluxo, isto é, a emanação do existente possível a partir do necessário, mostrando como para Avicena “la causalità del Primo non è né per volontá né per elezione, ma perchè al Primo deve essere attribuito un atto assoluto (…) per il quale neppure il termine di ‘instaurazione’ puè essere acolto senza essere redifinito” (p. 235-236). A questão em análise é a do modo de emanação das Inteligências e dos existentes a partir do Primeiro Principio ou, como nota a autora, a da resposta aviceniana à ideia teológica de criação. Nesse âmbito, discute o preciso conceito de creatio ex nihilo em Al-Kindi e em Al-Farabi (p. 248-257) e a sua limitação na ontologia emanacionista de Avicena (p. 257-270), bem como a erradicação de toda a consistência ontológica operada pelo filósofo árabe com respeito à noção de nihil. Dessa análise evidencia-se a concepção de Avicena de instauração, como aquela que corresponde a um poder absoluto de constituir algo no ser, cuja causa é o Primeiro Principio, sem qualquer mediação por um lado (é absoluto) e sem qualquer intencionalidade por outro (é necessário). Nos dois apartados que completam esse capítulo, Lizzini analisa a dimensão ética da instauração (a emanação a partir do supremo bem ou a necessária difusibilidade dele, e o lugar possível para a consideração da vontade no Primeiro) e a dimensão noética do mesmo. Fica assim delineada a mundividência aviceniana, nos seus fundamentos ontológicos, éticos, noéticos, com base na operatividade de noção de fluxo. Nos Capítulos 4 e 5, Lizzini analisa respectivamente o devir do mundo sublunar e o fluxo no mundo físico. No que se refere ao mundo sublunar, evidencia a condição universal do fluxo e a particularidade do mundo e analisa os elementos de conciliação entre ambos, com base no modo como Avicena considera a relação entre os princípios constituintes do existente – matéria e forma – e o modelo de causalidade que lhe está subjacente. Admitindo o caráter receptivo da matéria com relação ao princípio formal – e por conseguinte admitindo a necessidade do fluxo –, Avicena considera, contudo, que a forma não tem causalidade exclusiva, com relação à matéria (p. 378). Avicena revê o esquema causal aristotélico, dando lugar à intervenção de um “princípio separado” de causalidade vertical (p. 381). Nessa estrutura de causalidade e na interdependência entre fluxo e influxo se inscreve a cosmologia aviceniana determinista e a explicação para o mal, temas analisados no final deste capítulo (p. 451-483) e ainda o longo do capítulo quinto e último, bem como a sua relação com a questão do acaso (p. 514-542). O Capítulo 5 analisa a concepção aviceniana de natureza. Ao introduzir de uma causalidade celeste ou de um princípio “oltre che naturale” no processo de derivação das formas a partir do Primeiro, Avicena pretende abarcar no conceito de natureza toda a realidade, mesmo aquela que pode ocorrer de modo “supranatural”. Com base na análise desse conceito amplo de natura (tabıa) a que se segue o apartado sobre o lugar do acaso, do determinismo e do influxo no âmbito da Física de Avicena, encerra-se a parte expositiva desta obra. Seguem-se dois Anexos. O Anexo I – Terminologia contém um léxico que esclarece um conjunto de termos implicados no campo semântico da noção de fluxus (fayd), tais como emanar e influir (p. 546-570) e criação, instauração e produção (p. 570-581). O Anexo II – Tavola delle opere(p. 583-595) disponibiliza uma cronologia das obras de Avicena, deter-minada com base em uma investigação exaustiva das fontes disponíveis, cujo objetivo é resolver as ambiguidades que se verificam sobre esse assunto. A obra contém ainda uma Bibliografia, subdividida em I. Fonti ed edizioni utilizzate (para as obras gregas; obras gregas e do Pseudo-Aristóteles em tradução árabe; obras latinas e obras filosóficas e teológicas árabes; e II. Leterattura secondaria (repertórios bibliográficos sobre o corpus aviceniano, Dicionários e Estudos). Finalmente, a obra apresenta um conjunto de índices de autores (antigos; árabes, hebreus, persas e sírios; autores de áreas medievais e modernos; especialistas).
Esse extenso e denso volume de Lizzini revela a competência da autora enquanto arabista e especialista em Avicena, e é o resultado de uma imensa investigação realizada em torno da metafísica aviceniana, em todos os domínios: levantamento de fontes, abordagem histórico-filológica e genética dos conceitos implicados (fluxus e os referentes ao mesmo campo semântico), recolha da literatura secundária desde os inícios do século 20 até à literatura mais recente, leitura e comentário das principais teses em debate e das posições dos especialistas na área, sobretudo dos mais recentes.
A dispensação, em Anexo, dos instrumentos lexicais e a cronologia para a obra de Avicena, junto com as edições críticas e traduções disponíveis, são dois instrumentos de trabalho que, em domínios diferentes – conceitual e bibliográfico –, facilitam a continuidade da investigação nessa área. Este estudo esclarece a identidade e a originalidade da filosofia de Avicena e permite compreender melhor as influências por ele sofridas do pensamento grego tardo-antigo e a assimilação das teses de Avicena por parte dos medievais no Ocidente. É sem dúvida uma obra de referência incontornável no estudo da gênese e estrutura da filosofia de Avicena e da sua influência na Idade Média ocidental.
Paula Oliveira e Silva – Instituto de Filosofia. Universidade do Porto.
Bibliotheca manuscripta Petri Hispani. Os manuscritos das obras atribuídas a Pedro Hispano – MEIRINHOS (V)
MEIRINHOS, J. F. Bibliotheca manuscripta Petri Hispani. Os manuscritos das obras atribuídas a Pedro Hispano. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2011, 709p. ISBN 978-972-31-1387-7. Resenha de: OLIVEIRA e SILVA, Paula. Veritas, Porto Alegre v. 57 n. 2, p. 213-215, maio/ago. 2012.
Esta obra, que consiste em um volumoso catálogo dos manuscritos das obras atribuídas a Pedro Hispano, é resultado parcial da investigação do autor com vista à elaboração da sua dissertação de doutoramento em Filosofia Antiga e Medieval, apresentada em 2002, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Trata-se da edição de um primeiro tomo da mesma dissertação, da qual, no que se refere ao resultado da investigação codicológica, o autor anuncia ter em preparação um segundo volume (Introdução, p. XXXII). O volume organiza-se do seguinte modo: I – Introdução, II – Compendium e III – Bibliotheca manuscripta Petri Hispani. Contém ainda dois apartados de Índices: A – Pedro Hispano e B – Gerais.
Na Introdução, o autor dá conta do estado da questão acerca do que designa como “questão petrina”, a saber, a que envolve a discussão gerada pelo fato de um amplo conjunto de obras serem atribuídas a um mesmo autor de nome “Petrus Hispanus”. O autor começa por referir o percurso da investigação acerca do espólio atribuído a Pedro Hispano, desde os primeiros repertórios e estudos publicados por M. Grabmann entre 1928 e 1938 (baseando-se em estudos realizados no século 18 e 19), que fazem convergir toda a documentação manuscrita e historiográfica sobre a figura de “Petrus Hispanus” para o Pedro Hispano papa no século 13, sob nome de João XXI; até aos estudos de J. M. Cruz Pontes, que se posicionam de modo mais aberto e flexível sobre a “questão petrina”, no confronto com o legado codicológico e a informação historiográfica (cf. Introdução, p. XX-XXIII). Resultados de investigação mais recente, elaborada já por J. F. Meirinhos, colocariam abertamente em questão a tese da identificação de todos os manuscritos atribuídos a “Petrus Hispanus” com uma e a mesma pessoa, colocando a tese da possibilidade de uma diferenciação de autores. De fato, como nota, o autor já tinha publicado alguns estudos nos quais manifestava a perplexidade perante contradições biográficas e intelectuais verificadas a partir da crítica
interna dos diversos manuscritos, formalizando, em artigo publicado em 1996 na Revista Española de Filosofía Medieval, a hipótese da existência de pelo menos três autores referenciados sob o mesmo nome, e indicando a dificuldade de atribuição de um conjunto diversificado de obras a um só e mesmo Pedro Hispano. (Cf. Introdução, p. XXIV-XXV; XXIV, n. 16 e 17; p. XXV, n. 19). O autor insiste na importância, para a correcta compreensão historiográfica e doutrinal, da elaboração de inventários de manuscritos e de repertórios, como instrumentos heurísticos para o estudo dos autores medievais. Meirinhos inscreve, assim, a sua metodologia do exercício da filosofia medieval na boa prática do exercício da medievística filosófica contemporânea, para a qual é indispensável a edição crítica de textos, o constante apuramento das fontes primárias e a criação de repertórios com vista à identificação dos diversos corpora literários dos autores do período medieval. É nesse contexto que elabora e edita esse repertório dos manuscritos petrínicos, no qual sinaliza e descreve, em toda a extensão possível, os 1.033 códices aqui referenciados, cujo objetivo é permitir “que a investigação prossiga em bases mais sólidas, alargando a análise direta a uma amostra mais significativa de manuscritos, pelo menos daqueles que se identifiquem como mais importantes, quanto ao conteúdo ou data de cada um” (cf. Introdução, p. XXXI). Dado que esse estudo mostra a existência de diversos “Petrus Hispanus” no século 13, essa biblioteca de manuscritos corresponde a obras de qual deles? A resposta encontra-se na Introdução, p. XXXIII: trata-se “do português do século 13, autor de obras de lógica, comentador de Aristóteles e de Dionísio, médico em Siena, comentador da Articella, compilador de receituários, talvez alquimista, conhecido também pela sua carreira eclesiástica tendo sido bispo de Braga, cardeal de Túsculo e por fim papa sob o nome de João XXI, dignidade que Pedro Julião ocupava quando faleceu em 1277”. Nas páginas XXXVIII e XXXIX da mesma Introdução, o autor esclarece quais as obras cujos manuscritos reportará nesse catálogo e apresenta uma lista delas, esclarecendo que excluiu os documentos papais, pois o seu tratamento diz respeito mais especificamente à diplomática, constituindo um gênero literário completamente distinto (cf. Introdução, p. XL). Não obstante, inclui nesse catálogo o Bularium e os Dictamina de Bernardo de Nápoles, justificando os motivos (cf. Introdução, p. XL). No ponto 2. da Introdução, expõe elementos de caráter formal: objetivos do catálogo e metodologia utilizada (p. XLV-L) e os critérios e modelos da descrição. Por fim, indica as partes em que se encontra dividida esta Bibliotheca manuscripta (p. LVIII).
A Parte II desta obra, designada Compendium, subdivide-se em três pontos, desse modo: 1. Siglas de obras citadas (catálogos, repertórios, bases de dados e estudos); 2. Abreviaturas; 3. Sinais e convenções. Uma vez descrita a metodologia e o objeto de trabalho, bem como assinaladas as convenções utilizadas na descrição dos manuscritos, segue-se a Parte III, Bibliotheca manuscripta Petri Hispani, contendo o inventário e a des-crição detalhada dos códices investigados. A Bibliotheca encontra-seorganizada em sete apartados, como segue: 1. Códices com obras atribuídas a Pedro Hispano: descrevem-se 869 códices, 368 dos quais consultados diretamente (p. 3-516). 2. Códices perdidos ou não localizados: descrevem-se 43 manuscritos (p. 517-529). 3. Códices com referências a Pedro Hispano ou às suas obras: descrevem-se 26 manuscritos, dos quais 3 consultados diretamente (p. 531-541); 4. Códices erradamente citados como contendo obras de Pedro Hispano: descrevem-se 48 manuscritos, dos quais 15 consultados diretamente (p. 543-555); 5. Códices com atribuição a Pedro Hispano de obras de outros autores: descrevem-se 5 códices, todos consultados diretamente (p. 557-564). 6. Códices com atribuições equívocas ou por confirmar: descrevem-se 29 códices, dos quais 10 consultados diretamente (p. 565-582). 7. Códices excluídos: descrevem-se 9 códices, 1 consultado diretamente (p. 583-585). A obra inclui ainda dois apartados de Índices: A – Pedro Hispano, contendo: 1. Obras atribuídas a Pedro Hispano (p. 588-594); 2. Comentários a obras de Pedro Hispano (p. 595-604); 3. Incipitário (p. 605-614). B – Gerais, contendo: 1. Autores Antigos e Medievais (p. 615-638); 2. Obras anônimas e não identificadas (p. 639-660); 3. Incipitário (p. 661-686); 4. Códices datados (p. 687-688); 5. Dispersão geográfica dos códices por países (p. 689-690). 6. Índices dos códices (p. 691-709).
Esta obra é um instrumento de trabalho realizado mediante o exercício das mais apuradas e actualizadas técnicas codicológicas, que atualiza toda a informação de base textual de fontes para o estudo de Pedro Hispano e dos manuscritos relacionados com a “questão petrina”. Dada a riqueza codicológica aqui descrita, espera-se que esta obra dê origem à multiplicidade de estudos no domínio da filosofia medieval e nas diversas áreas de estudo que a pessoa e obra de Pedro Hispano abordam, desde a lógica, à filosofia da mente, da filosofia natural à medicina. Esse instrumento agora publicado por J. F. Meirinhos torna agora possível prosseguir sobre Pedro Hispano uma investigação documental fiável, tornando-se desde agora indispensável para o estudo da obra de Pedro Hispano, em qualquer contexto académico, em Portugal e extra fronteiras.
Paula Oliveira e Silva – Instituto de Filosofia. Universidade do Porto.
L’etica della democrazia – Attualità della filosofia del diritto di Hegel – CORTELLA (V)
CORTELLA, Lucio. L’etica della democrazia – Attualità della filosofia del diritto di Hegel. Genova/Milão: Casa Editrice Marietti, 2011. 270 p. Resenha de: COSTA, Danilo Vaz- Curado R. M. Veritas, Porto Alegre v. 57 n. 1, p. 180-190, jan./abr. 2012.
A democracia tem necessidade de uma ética? É com uma pergunta que percorre todo o prefácio que se inicia o livro do professor Lucio Cortella, o qual se desenvolve em torno de uma introdução – Moralidade e eticidade: dois conceitos chaves para aceder à concepção hegeliana da política – e quatro capítulos: 1. A liberdade e o absoluto; 2. A época da liberdade universal; 3. A eticidade realizada: a esfera do Estado e, por fim, 4. Linhas de uma eticidade pós-idealística: uma democratização da filosofia política de Hegel.
Ocorre que bem ao estilo hegeliano, o prefácio do livro possui independência e quiçá assume a tarefa de fazer o leitor dar-se conta de que é possível a pergunta de uma democracia em Hegel, algo um tanto e num primeiro olhar paradoxal, e que é também pertinente uma demanda acerca de um ethos próprio aos processos de organização política de viés democrático oriundo desde a vazante hegeliana. Estas duas indagações percorrerão, ora em maior e ora em menor medida, todo o desenvolvimento do livro.
Metodologicamente nossa resenha se dividirá em dois grandes blocos. O primeiro bloco reconstruirá a estrutura argumentativa apresentada pelo professor Lucio Cortella, expondo sua tematização, tendo sempre em vista seu objeto acerca de uma ética da democracia e como este ethos democrático pode ser exposto desde a Filosofia do Direito de Hegel. O segundo bloco de análise do livro se prenderá apresentar criticamente se o livro, que ora se resenha, realiza seu objetivo (uma ética da democracia) através de seu objeto (a filosofia do direito hegeliana).
Assim, esperamos apresentar a resenha ao mesmo tempo de forma informativa e crítica, expondo o desenvolvimento dos conceitos e meditando sobre sua pertinência ou não. Outro ponto que nos motivou a elaboração da presente resenha é suprir uma lacuna no português acerca da obra de Lucio Cortella.
Lucio Cortella é professor do Departamento de Filosofia e Bens Culturais da Università Ca’ Foscari, de Veneza, Itália, e mesmo sendo um reconhecido estudioso, na Europa, da tradição dialética, especial daquela oriunda da Escola de Frankfurt e desta à Hegel, o autor é um ilustre desconhecido entre nós.
1 Desvelando a estrutura do texto A ética da democracia: atualidade da Filosofia do Direito de Hegel
a) Há na democracia necessidade de uma ética? O autor inicia seu prefácio (p. 9) com uma constatação: Hegel não pertence à tradição do pensamento democrático. Contudo, sua reflexão conduz às mesmas aporias do pensamento democrático, que se resume a uma dicotomia a responder se: (i) as normas jurídicas são capazes de por si só regularem os processos políticos nas sociedades ou (ii) é preciso apelar a um sistema de valores compartilhado por todos no sentido de uma ética comum? As tendências democrático-liberais, segundo a análise de Cortella (p. 9-10), claramente afirmarão que é desnecessária uma ética como base da convivência social e reprocharão que tal perspectiva repousa numa indistinção entre o público e o privado, assinalando que o caráter privado dos bens não pode ser confundido com o caráter público da justiça e que a clareza nesta separação é o fundamento estável de um Estado democrático, ao mesmo tempo justo individual e socialmente sem a ocorrência da subsunção de uma esfera pela outra.
Uma outra não menos importante corrente do pensamento político democrático contemporâneo, os comunitaristas, argumentarão que as normas jurídicas são frágeis para serem tomadas em si mesmo e sem o suporte de uma ideia comum de bem e um conjunto de valores, que confiram identidade ao social, poderem constituir a estrutura político-social de uma comunidade jurídica, concluindo pela insuficiência do sistema normativo como modelo para a regulação dos processos sociais. Nesta perspectiva, qualquer compreensão da sociabilização para ser coerente deve apelar simultaneamente a normas e valores.
Lucio Cortella aponta os déficits de ambas às perspectivas, seja a dos liberais e do consequente esgarçamento social provocado pela perspectiva jurídico-abstrata, seja a comunitarista e o sempre iminente
risco de apropriação da liberdade individual pelo Estado, e aponta uma alternativa ancorada na perspectiva institucionalista, afirmando que para tanto “[…] basta individuar e tornar explícita qual ética está já incorporada e operante nas instituições do Estado democrático e por este motivo está já na base do vínculo social entre os cidadãos” (Cortella,p. 11). E é na eleição da perspectiva institucionalista de análise do fenô-meno político democrático contemporâneo por oposição tanto a liberais como a comunitaristas que Cortella (p. 12) consegue conectar o status pós-tradicional do pensamento democrático hodierno com Hegel, articulando o pano de fundo para o desenvolvimento da paradoxal tese de uma ética democrática desde Hegel.
Mas, como afirmar um institucionalismo em Hegel? Para tal tarefa, Cortella (p. 12) defende que
A eticidade hegeliana não é constituída por um sistema particular de valores, nem pretende impor ao Estado uma específica identidade histórica, nem significa a re-proposição dos vínculos comunitários. […] A ideia de Hegel é, porém, que a liberdade, uma vez dissolvida as velhas tradições e o ethos dos pais, se seja feita por sua vez ethos, isto é, tenha plantado raízes, objetivando-se num sistema jurídico, numa práxis social, em instituições políticas e civis.
Cortella postula (p. 13) que foi Hegel quem compreendeu que na Modernidade os processos de emancipação conduzem a uma tradição da liberdade, onde ser livre e reconhecer o outro como livre a partir de vínculos que são ao mesmo tempo individuais e supraindividuais, ou seja, institucionais nos permitem assumirmo-nos como humanos, e por isto, portadores de uma segunda natureza.
Para o autor, “a solução está num ethos comum e compartilhado, que seja ao mesmo tempo universal, participado por todos em linha de princípio, e concreto, isto é, já operante historicamente na prática das instituições políticas.
b) Moralidade e eticidade: dois conceitos chaves para aceder à concepção hegeliana da política Lucio Cortella (p. 19-20) inicia a introdução demarcando a impor-tância da compreensão do conceito de Sittlichkeit por oposição ao de Moralität, enfatizando que já entre os próprios gregos havia a existência no próprio ethos da distinção entre êthos (costume) e éthos (hábito). Cortella acentua, contudo, que o próprio Hegel em nota ao parágrafo 33 assinala que entre os gregos há preponderância no ethos do aspecto da morada, afastando-se os gregos de nossa compreensão da mora-lidade.
Ocorre que o próprio Cortella recoloca o papel da distinção hegeliana entre Sittlichkeit e Moralität, por ser esta aparente distinção etimológica a base de toda a reflexão hegeliana acerca da vida ética, em suas dimensões individual e política.
Esta ligação entre eticidade e a morada, bem presente em Aristóteles e após retomada por Hegel, indica uma conexão da vida ética bem diversa daquela que nós comumentemente atribuímos à esfera moral e é a verdadeira chave para compreendermos o sentido da distinção hegeliana (Cortella, p. 20).
O jogo entre a eticidade e a moralidade desempenha, na filosofia hegeliana, primeiro uma distinção semântica que demarcará as esferas de estruturação no espírito do subjetivo e do objetivo, e em seguida, na própria diferenciação das esferas o ligame que exige que a compreensão tanto do espírito subjetivo, como a do espírito objetivo, seja realizada em estreita conexão entre ambos, pois o moral e o ético são como que faces do mesmo processo de autodesenvolvimento da sociabilidade, o primeiro em sua dimensão individual e o segundo em sua perspectiva pública e social.
Cortella (p. 23) assinala, ademais, que na perspectiva desta distinção, Hegel se coloca na posição de suprassumir a perspectiva kantiana esboçada na Metafísica dos Costumes, que dividia a sociabilidade em apenas dois níveis, aqueles das relações exteriores entre os indivíduos, o direito, e aquele outro das relações interiores dos indivíduos, a virtude. Ao estabelecer que moralidade e eticidade não se opõem, mas se autopõem, Hegel eleva-se para uma perspectiva na qual as relações exteriores, o direito abstrato, pudessem junto com as relações interiores, a moralidade, se desenvolver sob a base de relações nas quais a distinção entre exterior e interior estivessem guardadas e elevadas, pois suportadas pelo movimento da cultura, coroando a sua Filosofia do Direito com a esfera da eticidade.
Neste sentido, o direito para Hegel assume a função não apenas de cuidar de questões jurídicas, mas de ser a explicitação da liberdade num mundo exterior. Cortella (p. 23) enfatiza que A noção hegeliana de direito pode-se legitimamente compreender como aquele mundo complexivo da normatividade que se eleva a partir da específica pretensão de validade indagáveis sob a base dos critérios de justiça.
E dentro desta específica distinção entre eticidade e moralidade, uma diferenciação na qual o diverso se preserva no distinto de si, que
será possível, na leitura que Cortella elabora desde Hegel, a diferença da liberdade dos antigos face à dos modernos. Modernos os quais, nós, devemos nos incluir na perspectiva posta por Cortella ao término do presente capítulo as páginas 30-31.
2 A liberdade e o absoluto
A abertura do capítulo já nos coloca face a tese forte do autor de que, em Hegel, há uma concepção coerentista da liberdade. Tal concepção rompe com as leituras que compreendiam a herança hegeliana nos quadros da Modernidade e de seu ancoramento da liberdade no primado do sujeito por oposição à natureza.
Cortella ressalta que tal oposição, própria dos modernos, entre um mundo pautado por leis mecânicas de causa e efeito, em verdade não se opõe a este outro mundo da liberdade, e que foi Hegel que, ao desenvolver “[…] a liberdade não mais pensada apenas como uma propriedade da interioridade humana e signo da sua superioridade sob a natureza, mas como lógica última do real” (p. 33), colocou as bases de uma compreensão de liberdade ampla, não restrita a compreensão de oposição entre a natureza e sua privação da liberdade e o espírito como reino da liberdade.
Em Hegel, a liberdade perpassa todas as esferas do real, pois ela é seu elemento intrínseco e constitutivo, para tanto e de modo a dar razões desta sua perspectiva, Cortella (p. 34) desenvolve como em Hegel se relacionam liberdade e ontologia.
A seção liberdade e ontologia é a reconstrução da refutação hegeliana do espinosismo, como alternativa para a compreensão desta postulada liberdade coerentista, que Cortella aponta presente em Hegel. Mas, em que consiste refutar o espinosismo e qual o papel de tal refutação? Espinosa compreende a essência como substância e necessidade. Dentro deste horizonte, a liberdade cede lugar à cega necessidade e em havendo Espinosa razão, Hegel estaria equivocado ao colocar o espírito como a verdade da natureza, pois seria a substância a sua verdade. Hegel, ao compreender, segundo Cortella (p. 35), a liberdade como o autoconhecimento do espírito, tem que refutar o espinosismo, demonstrando que a verdade da substância é o sujeito mediante a elevação da natureza ao espírito.
Cortella (p. 35) afirma, inclusive, que, em Hegel, a fundação da liberdade equivale a uma verdadeira fundação do idealismo. Uma tal identidade entre a liberdade e o idealismo em Hegel se manifesta na própria superação do espinosismo, tal qual apresentada, segundo Cortella, por Hegel na seção relação absoluta da Ciência da Lógica
através da noção de ação recíproca, a qual demonstra como a substância se autocondiciona num movimento reciprocamente ativo-passivo.
A superação da cisão entre natura naturans e natura naturata, enquanto divisão do movimento substancialmente entre o ponente e o posto, e o reconhecimento de que a verdade da substancialidade ontológica é o pensar, ou o pensamento em seu movimento reflexivo sobre si é consoante, segundo Cortella (p. 37), com a novidade do idealismo hegeliano da liberdade.
Cortella (p. 38), portanto, defende a tese de que a lógica se manifesta como o sistema categorial da liberdade, e assim é o absoluto liberdade porque suprassumiu a totalidade das determinações finitas do pensamento. O absoluto hegeliano é o próprio movimento da totalidade das determinações compreendidas em sua unidade como manifestando-se a si mesmo.
Neste horizonte epistêmico, Cortella (p. 39) afirma que “em definitivo: a liberdade (como o pensar) não é uma unidade indistinta, mas é um processo, uma multiplicidade, um percurso, no qual o êxito final mantém em si a totalidade das categorias que percorre”.
Cortella (p. 42 e s.) afirma que a primeira característica desta novaconcepção coerentista de liberdade, apresentada por Hegel, é a autorre-flexividade, a qual consiste “naquela especial relação que o pensamento tem consigo mesmo, graças a qual, referindo-se a si, determina a si mesmo e se faz independente de tudo o que não coincide consigo” (p. 42).
Este primeiro nível da liberdade se coloca na condição de ser fiel tanto à concepção aristotélica de homem livre como aquele que detém sua finalidade em si, como à noção moderna e kantiana de autonomia, segundo a qual livre é o homem que se determina de modo independente de qualquer móvil externo à razão prática.
O segundo momento da liberdade hegeliana, na interpretação de Cortella (p. 44), é a negatividade da liberdade, a qual o autor divide em negatividade absoluta e determinada. O uso de absoluto agora, neste contexto, corresponde à universalização ilimitada da negatividade, revelando sua destrutividade inerente. Contudo, a liberdade em sua absolutidade revela-se autodestrutiva; este movimento é a indução à sua determinação. O movimento da liberdade não se limita a ser a destruição de toda a exterioridade, mas sim o movimento de afirmação de si como possuído da propriedade de dar-se leis.
Neste percurso, a liberdade hegeliana se apresenta como liberdade relacional, na qual o dar-se a lei e não se determinar por nada que lhe seja exterior não implica a afirmação da autorreflexividade, mas exatamente sua suspensão, posto que o outro não é mais o que retira ou limita a liberdade, mas a liberdade mesma, em sua plenitude.
Acerca destas conclusões a que chega, Cortella (p. 56) afirma que “se Hegel corrigi os modernos e Kant negando que a liberdade seja uma propriedade do sujeito ou uma faculdade, colocando-a como uma realidade relacional e objetiva, por outro lado, também radicaliza o aspecto subjetivo dela”.
3 A época da liberdade universal
No cotejo da obra hegeliana, Cortella (p 59) identifica as raízes teológicas da concepção hegeliana de liberdade, explicitando que, em Hegel, a encarnação de Cristo implica a assunção e o ingresso no mundo histórico da liberdade de Deus, uma liberdade não apenas como ideia, pois esta não é exterior aos homens, pois estes são ideia.
Segundo Cortella (p. 60), a liberdade universal, oriunda deste evento teológico e realizada na Modernidade é um “mundo complexo de relações e práticas objetivas da qual a liberdade individual é o sustento e a alimentação”. Este complexo de relações que compõe a liberdade universal se realiza mediante três incursões no espírito objetivo: como liberdade jurídica, como liberdade interior e como liberdade social, ou liberdade externa à pessoa, consciência interna da autonomia do sujeito e liberdade do homem econômico e do indivíduo abstrato da sociedade civil.
Dentro deste contexto, toda a exposição do capítulo acerca da liberdade universal recompõe os passos dos três níveis de exercício e efetivação da liberdade num verdadeiro debate com os principais expoentes alemães da Hegel-Forschung, como Theunissen, Bubner, Horstmann, Ritter, Angehrn, Fulda, entre outros, no sentido de demonstrar o equilíbrio em Hegel e nas suas conclusões da unidade entre o descritivo e o normativo, da exposição e da crítica, do ser e da validade.
A busca desta unidade, segundo Cortella, é o que torna possível a compreensão da liberdade universal em Hegel, sem cair nos lugares comuns do quietismo ou do progressismo, entre outros chavões a que se impõe ao texto da Filosofia do Direito de Hegel.
Cortella (p. 120), no cotejo da interpretação de Theunissen, exposta em Sein und Schein, de uma proto-teoria da liberdade comunicativa em Hegel, propõe um modelo de liberdade relacional, na qual os níveis da família, sociedade civil e Estado representariam os graus da relação intersubjetiva da imediatidade, do estranhamento e alienação e da relação propriamente dita, onde assimetria e simetria se colocariam numa permanente tensão constitutiva.
Dentro deste escopo de apreensão da liberdade universal desde Hegel, Cortella (p. 128) se coloca a demanda de apresentar como a passagem da liberdade universal ao Estado, tal como por ele reconstituída
à luz da Filosofia do Direito em Hegel, é capaz de fazer jus à tensão entre liberdade individual, relacional e à própria noção de universalidade, sem cair numa eticidade perdida em seus extremos, tal como descrita, como alerta, pelo próprio Hegel, no § 1841 de sua Filosofia do Direito.
4 A eticidade efetiva: a esfera do Estado
Em Hegel, desenvolve-se uma compreensão de eticidade em termos estritamente próprios e inauditos, pois Hegel não concebe o conceito de eticidade, segundo Cortella (p. 129), “[…] fazendo o retorno ou fazendo retornar a constelação ontológica antiga, na qual ética e política fundavam-se sob a natureza e a tradição”, nem tampouco colocando em xeque os ganhos da Modernidade, os quais Cortella enuncia como sendo: a separação da ideia do bem da natureza e sua compreensão em termos da liberdade, a conexão entre bem, liberdade, e a subjetividade individual.
Todo o terceiro capítulo do livro de Cortella, que ora se prefacia é este intento de demonstrar a gênese da eticidade moderna, que Hegel apresenta na sua filosofia e que se coroa com sua apreensão conceitual da realidade, tal como exposta na Filosofia do Direito. Segundo Cortella, a eticidade seria uma espécie de metatema que perpassa toda a for-mação teológica e filosófica de Hegel, e a prova de seu argumento ele pretende demonstrar reconstruindo, em cada momento, seu percurso formativo.
Para Cortella (p. 130), na juventude, Hegel assume uma eticidade como sustentáculo à crítica do paradigma subjetivístico e à concepção kantiana baseada na universalidade da liberdade, sendo a eticidade o conceito hábil, neste período, a superar as cisões entre o indivíduo e o Estado, a liberdade e a natureza, etc. Em Iena, Cortella pondera que Hegel, ao assumir a perspectiva política aristotélica exposta na obra Política, torna-se capaz de desenvolver a eticidade como habilitada à compreensão de princípios como a natureza da polis, a prioridade do Estado com relação ao indivíduo, desenvolvendo uma perspectiva nitidamente comunitária.
Ainda em Iena, Cortella (p. 131) identifica uma mudança no paradigma da Sittlichkeit hegeliana, o qual na sua leitura consiste no abandono da perspectiva ontológica, herança da influência de Schelling e Espinosa, e que se pode identificar no próprio prefácio da Fenomenologia do Espírito e sua predileção pelo sujeito em detrimento da substância. Esta passagem
de uma perspectiva ontológica para uma perspectiva lógico-subjetiva se põe em Hegel pelo papel que desempenhará o conceito [Begriff] na economia da posterior reflexão hegeliana.
Cortella (p. 131) afirma que “a noção de conceito, a partir deste momento em diante se tornará uma das noções chaves de toda a filosofia hegeliana, possui um significado preciso mesmo nas relações da esfera político-jurídica”. Na estruturação desta nova concepção de eticidade, tal como desenvolvida por Hegel, Cortella é bastante tributário das pesquisas de Manfred Riedel, especialmente de Studien zu Hegels Rechtsphilosophie, e do famoso artigo de Riedel, Natur und Freiheit in Hegels Rechtsphilosophie.
A eticidade é apresentada se expressando como (i) a unidade entre liberdade e natureza (p. 131), (ii) unidade entre liberdade e história (p. 137), (iii) a conciliação entre universalidade e ethos (p. 144), (iv) a eticidade como uma segunda natureza (p. 146), (v) a condição de recomposição das rupturas da modernidade (p. 153), (vi) unidade prática entre sujeito e objeto (p. 160).
Não obstante este aparente caráter omnicompreensivo da eticidade, Cortella (p. 189) apresenta aquilo que ele designa como a acidentalidade do ético, o qual consiste no caráter de unidade da eticidade apenas nos limites internos ao Estado, ou seja, a eticidade se desenvolveria como um conceito intraestatal, sem condições hermenêuticas de apreender e compreender os processos externos à constituição interna doEstado.
Cortella demarca que a eticidade, tal como a compreende na Filosofia do Direito, fora dos limites do Estado, atua por recíproca exclusão, num verdadeiro fechamento nacionalístico do ethos (p. 194).
Em vista destas colocações e conclusões a que chegara, Cortella (p. 205) se coloca a tarefa de desenvolver uma alternativa de bases ainda hegeliana, mas com nítidas influências da teoria crítica de Frankfurt, à eticidade, e para tanto apresentará, no último capítulo do seu livro, as bases de uma eticidade pós-idealista.
5 As linhas de uma eticidade pós-idealística: uma democratização da filosofia política de Hegel
Para Cortella (p. 207), todo o percurso de constituição da eticidade e do complexo conceitual que ela comporta traduz-se numa verdadeira fratura da liberdade. Tal ruptura reside exatamente nos limites da compreensão hegeliana de liberdade, a qual possui como escopo os limites do Estado nacional por oposição e recíproca exclusão dos demais Estados nacionais.
Na leitura desenvolvida no citado livro, a eticidade hegeliana se mostra por demais singularística, ao reduzir-se ao estabelecimento de nexos hermenêuticos intraestatais, impossibilitando uma compreensão mais universalista da liberdade em contextos, por exemplo: supranacionais, de direitos internacionais e mesmo de demandas acerca dos direito humanos, etc.
A tese surpreendente de Cortella (p. 235) para este dilema é a compreensão da democracia como ethos, e para tanto o autor propõe que se deve Ao invés de considerar a democracia como a mais refinada técnica de distribuição do poder e da obtenção do consenso, tratar-se em verdade de repensá-la como aquela nova comunidade que é a saída do cenário das velhas comunidades tradicionais, àquelas ligadas a ponto específicos, como às memórias de grupos, aos usos e costumes […] (p. 235).
Para Cortella, é falso que inexistam no homem contemporâneo laços comunitários, pois da dissolução do ethos se seguiu a constituição de uma nova eticidade baseada em regras universais e impessoais, com as quais os cidadãos se identificam. Ainda segundo Cortella, O homem contemporâneo faz das regras impessoais do Estado de Direito o seu novo habitat, a sua nova casa. E se habituou à legalidade, à responsabilidade jurídica, à participação ativa numa esfera pública que vai para muito além dos velhos confins que caracterizam a sua casa, sua família e sua cidade (p. 235).
Para Cortella, deve-se assumir que, neste novo momento, vive-se uma espécie de eticidade democrática no seio da qual, habituada a comportamentos liberais e democráticos, se internalizam práticas e regras como virtudes republicanas. Dentro deste contexto de reapropriação das teorizações ético-políticas de Albrecht Welmmer, Cortella (p. 242) afirma que é possível democratizar Hegel e responder a estas novas demandas da contemporaneidade.
Para Cortella, a configuração político democrática não pode admitir a imunização das instituições da tomada de distância crítica dos cidadãos e da sua possível transformação, ou seja, é preciso pensar a compatibilidade entre os comportamentos democráticos com a inexistência de uma substância ética, subtraída das condições da crítica, e é este ponto do modelo hegeliano que deve ser reconsiderado. Pois, segundo Cortella, “o ponto de ruptura fundamental entre a ideia de um ethos democrático e a concepção hegeliana do Estado reside naquela caracterização substancialística da esfera ética que em Hegel desempenha uma função central” (p. 243).
Para Cortella, este novo ethos, constituído após a queda daquele baseado numa concepção naturalística e substancial da tradição, se configura pela primazia do ser construído e pela sua artificialidade, resultante dos processos culturais de formação, logo esta segunda natureza, não é mais natureza, mas convenção. Nisto resulta o caráter pós-tradicional deste novo ethos.
Para tanto, Cortella constrói sua perspectiva pós-tradicional do ethos pela assunção das seguintes notas como lhe sendo constitutivas:a) formalidade, b) pluralismo, c) universalidade e d) deflacionamento da dimensão político estatal. Em tal perspectiva, o ethos pós-tradicional seria capaz de efetivar tanto a autenticidade individual como a justiça universal.
Todavia, nos diz Cortella com Christoph Menke2 que os conflitos entre autonomia e autenticidade à luz das escolhas individuais deve ser resolvido de modo plural e diferenciado, em certa medida assumindo individualmente a Ideia moral de bem como critério de orientação das escolhas.
Cortella assume, para tanto, uma concepção de comunidade de valores (Wertgemeinschaft) pós-tradicional, fundada sobre a liberdade dos singulares, na qual estes acedem livremente, bem como na qual a escolha dos valores e dos planos de vida aos quais querem aderir também o são livres.
Neste contexto, a democracia é menos um modo de organização política e mais uma cultura de valores consensualmente estatuídos e livremente aceitos e reconhecidos.
À guisa de conclusão
A presente obra, que se apresentou em formato de resenha, estabelece a instigante tese de apropriação de Hegel, sem contudo querer atualizá-lo, mas partindo de algumas de suas intuições e desenvolvimentos, assim como de várias de suas conclusões, a fim estabelecer um marco de compreensão razoável para complexos fenômenos da contemporaneidade, mais especificamente a possibilidade de se estabelecer uma ética da democracia em bases não substancialistas.
Apenas por este motivo, a obra possui méritos que lhe irão garantir, por longo período, a sua permanência nos debates políticos e filosóficos acerca das tão conflituosas relações entre o indivíduo, o Estado e a comunidade.
Notas
1. HEGEL. Filosofia do Direito, § 184: “Es ist das System der in ihre Extreme verlorenen Sittlichkeit”.
2. MENKE, Christoph. Tragödie in Sittlichkeit (1996) e, também, Liberalismus in Konflikt (1993).
Danilo Vaz-Curado R. M. Costa – Professor da UNICAP. Doutorando em Filosofia na UFRGS. E-mail: danilo@unicap.br ou danilocostaadv@hotmail.com
Las voces de la igualdad. Bases para una teoría crítica de la justicia – PEREIRA (V)
PEREIRA, Gustavo. Las voces de la igualdad. Bases para una teoría crítica de la justicia. Montevideo: Ed. Proteus, 2010. 288 p. Resenha de: VOLKMER, Sérgio Augusto Jardim. Veritas, v. 56, n. 3, p. 191-196, set./dez. 2011.
Quais as vozes, isto é, as teorias de justiça mais capacitadas a fornecer uma boa fundamentação, um adequado critério de análise das situações de injustiça e uma eficiente força normativa, atendendo assim às demandas por justiça nas sociedades contemporâneas, tanto no nível institucionalizado, quanto no nível não institucionalizado da cultura, da moral pessoal e das relações interpessoais? Que meios são os mais adequados para promover os anseios por igualdade, oportunidade, liberdade, autonomia, participação e comprometimento próprios de nosso tempo? Que prioridades devem nortear os investimentos sociais e ações concretas na esfera política que promovam a justiça e a igualdade e, ao mesmo tempo, que consolidem a adesão ativa de todos – e de cada cidadão – à promoção de uma cultura cujo princípio ético fundamental, que se manifeste tanto nas instituições quanto na moral pessoal, seja o de uma sociedade fundada sobre a ideia – e os sentimentos relacionados – de “eticidade democrática”? No livro “As vozes da igualdade” (“Las voces de la igualdad. Bases para una teoría crítica de la justicia”. Ed. Proteus, 2010. 288 páginas – Ainda sem tradução para o português), o Prof. Dr. Gustavo Pereira, da Universidad de la Republica, Uruguai, procura analisar estas questões investigando as principais teorias de justiça contemporâneas que pretendem respondê-las e apresenta sua proposta de um caminho para a fundamentação de uma teoria crítica de justiça renovada, mais abrangente, que ofereça meios mais adequados e eficazes para promover a justiça social e desenvolver as capacidades humanas necessárias para a construção de uma “eticidade democrática”. Por fim, o autor apresenta uma investigação do que considera algumas das principais capacidades humanas e meios institucionais e não institucionais para construir uma eticidade democrática.
Um dos princípios fundamentais que sobressai nas vozes das atuais teorias de justiça é o que Gustavo Pereira chama de um “ideal normativo irredutível” – e poderíamos dizer, também, ‘inegociável’ – das sociedades contemporâneas: o “ideal igualitário”, a autocompreensão e a expectativa intersubjetiva que as pessoas têm como “seres a quem se deve um igual tratamento e a concomitante exigência de ser assim tratado” (p. 14), abrangendo assim as dimensões éticas do dever-ser ideal e do ser efetivado e objetivo. Autocompreensão esta fortemente desenvolvida a partir da Modernidade, de nossa condição de pessoas como fins em si mesmos e nunca meios para outra coisa, valor sem preço, no que reside aquilo que Kant chamou de dignidade, valor incomparável e, portanto, supremo de cada pessoa.
Duas vozes alternantes, ora concorrentes, ora consoantes, ambas fundadas sobre uma ideia de igualitarismo, porém com critérios e vieses práticos distintos, porque de fato partem de princípios e fundamentações normativas distintos, que sobressaem no cenário contemporâneo da discussão sobre teoria da justiça e propostas ético-políticas, são expostas e analisadas no Capítulo I desta obra: de um lado, a teoria fundamentada sobre o ‘princípio de redistribuição’, defendida por Nancy Fraser. De outro, a ‘teoria do reconhecimento’, proposta por Axel Honneth.
O autor, ao analisar ambos paradigmas e apresentar suas insuficiências e possíveis correções internas, e ainda caminhos para uma nova proposta que cubra as lacunas de ambos, mostra que, se analisarmos enfocando as características mais marcantes e salientando as peculiaridades e diferenças de cada modelo, podemos chegar a uma caracterização do que distingue mais claramente um modelo do outro. No entanto, há também aspectos que se interseccionam ou se sobrepõem, e mesmo tentativas de incorporar princípios e critérios da parte de um modelo sobre o outro. De todo modo, há que atentar para alguns fatores de risco na tentativa de corrigir as lacunas: a assimetria entre os conceitos de justiça e de reconhecimento, isto é, o risco de a justiça distributiva ser interpretada de certo modo como um mero agregado em uma teoria da justiça; o risco de que a proposta baseada no princípio de reconhecimento resulte em uma visão demasiado compreensiva que afete as liberdades individuais; o risco de interpretar a história simplificadamente como uma alternância periódica entre os dois modelos; o problema de fazer depender o princípio de uma determinada antropologia e, com isso, dificultar a justificação do caráter de obrigatoriedade das normas.
No que toca às distinções, no paradigma da distribuição, sustentado por Fraser, cuja linhagem é compartilhada pelas correntes de corte liberal, a ênfase da teoria da justiça assenta sua fundamentação, critérios e base de informação sobre aspectos de caráter sócio-econômicos, e o princípio de normatividade estabelece-se sobretudo na dimensão institucional jurídico-política.
Na teoria do reconhecimento, Honneth pretende introduzir uma mudança de paradigma, se bem que não rejeitando absolutamente o princípio da justiça distributiva. Para Honneth, o primeiro e mais forte princípio que sustenta a justiça em geral e, portanto, também a possibilidade da justiça distributiva, é o princípio do reconhecimento. Isto significa mudar radicalmente a fundamentação e o ponto de partida. O movimento de consolidação ética mais forte e eficiente não se dá da esfera institucional para o âmbito da moral pessoal e dimensões afetivas intersubjetivas. Ao contrário, a força de adesão à norma tem seu maior sustento no nível pessoal e intersubjetivo, nível dos afetos compartilhados e do reconhecimento mútuo. É esse reconhecimento partindo do nível afetivo o que dá força racional às normas e efetividade às ações institucionais, também na dimensão econômica e política da justiça distributiva. Esta dimensão relacional expressa a matriz hegeliana da teoria. O aspecto kantiano aparece no seu acento crítico, formal e no ponto de partida subjetivo e intersubjetivo, que culmina, segundo seus críticos, na fraca capacidade de objetivação e dificuldade de efetivação.
Na comparação destes dois modelos, aparecem suas virtudes, argumentos fortes e debilidades. No capítulo II, Gustavo Pereira propõe um caminho para identificar a melhor proposta de fundamentação da teoria crítica da justiça, isto é, que atenda à exigência posta pelos frankfurtianos de que uma tal teoria seja capaz de oferecer um diagnóstico crítico eficiente da realidade social (p. 86), para o que considera os dois modelos citados, enfatizando e incorporando suas virtudes, e pretendendo apresentar propostas para corrigir suas deficiências, tanto quanto isto seja possível. Em alguns aspectos, é preciso mesmo desenvolver maior fundamentação onde não há suficiente. No modelo da justiça distributiva, o aspecto normativo é mais fortemente enfatizado, se bem que carecendo um tanto em fundamentação filosófica. A capacidade de atender aos anseios e às dimensões mais pessoais, ao nível dos microcosmos do cotidiano e das particularidades, a capacidade de atentar para as diferenças mais sutis, ficam um tanto a desejar. No modelo da ética do reconhecimento, Honneth amplia a base empírica exigida por Habermas; contempla dimensões mais profundas do ser humano, o cotidiano dos afetos e das relações intersubjetivas, a dimensão da moral pessoal, dos sentimentos e das emoções; porém, carecendo de uma antropologia política, a dimensão normativa e a aplicabilidade prática da justiça apresentam-se com consideráveis debilidades (p. 92-93).
Tanto Honneth quanto Fraser incorporam dimensões de justiça e de reconhecimento para garantir direitos iguais, igualdade de cidadania, distribuição de bens e recursos, e o reconhecimento diferencial de qualidades e capacidades. Gustavo Pereira apresenta alguns pontos marcantes a fortalecer. Por um lado, há que se promover um ponto de vista que transcenda e encarne mais na realidade social, formada por indivíduos, valores pessoais e costumes, que pressione mais além da ordem social instituída vigente. O critério da paridade participativa proposto por Fraser tem um alcance mais objetivo e material, mas descurando de certo modo a dimensão intersubjetiva. Por outro lado, no aspecto da teoria crítica da justiça tal como proposta por Honneth, em que um critério fundamental é o conceito de autorrealização – a um só tempo princípio, thelos e critério de averiguação – há que se ir mais a fundo na investigação das possibilidades de tratamento igualitário, dos conceitos de ‘vida boa’ e de autorrealização, para assegurar a viabilidade de se constituir a partir destes conceitos uma base de informação objetiva e a aplicabilidade da norma. A capacidade de transcendência do estado de coisas socialmente instituído e a amplitude crítica na teoria de Honneth é mais potente, mas a normatividade e a institucionalização em Fraser são mais objetivas, aplicáveis e fortes.
A chave para interpretar e corrigir as distorções das teorias está no conhecimento da base de informação adotada em cada modelo. A base de informação de Fraser considera, sobretudo, os aspectos econômicos e institucionais. A base de informação de Honneth pretende atingir o conhecimento de esferas de acentuado caráter particular e diferenciadas, como as esferas dos valores pessoais e de grupos, as necessidades de reconhecimento afetivo e as dimensões emocionais da vida social, o que por si só exige uma investigação exaustiva, o mais ampla possível, e em permanente crítica e reformulação dos quadros descritivos e interpretativos dos diversos fenômenos, conflitos e ações sociais.
O professor Gustavo Pereira sintetiza os aspectos fundamentais que deve ter uma teoria de justiça ao mesmo tempo crítica e aplicável: – como princípios: os ideais igualitários, isto é, baseados na ideia de igual dignidade; a consideração da dimensão intersubjetiva expressa no reconhecimento recíproco dos valores, capacidades e vulnerabilidades pessoais, e também das situações de vulne-rabilidades estruturais – o que leva aos princípios derivados de justiça distributiva e justiça compensatória; contar com um substrato cultural de valores, crenças e fins, se bem que diferenciados, mas concordes tendo em vista o princípio prático fundamental da eticidade democrática; uma reflexão permanentemente aberta, com base numa ética do discurso ao molde habermasiano, sobre as ideias de autorrealização, vida boa e bem; uma fundamentação filosófica de corte pragmático-transcendental ao modo de Apel, onde a possibilidade e efetividade permanente do discurso é o motor e o thelos, o princípio atrator da razão prática, sustentado colateralmente por uma fundamentação deontológica que garanta a possibilidade de normatividade e institucionalização; – para a análise e crítica do fenômeno social: uma base de informação ampla, sobre os aspectos econômico-distributivos, políticos, e também sobre as capacidades, qualidades e valores pessoais a serem cultivados cujo sentido teleológico é a emancipação, a participação nas deliberações, o sentimento interno e ao mesmo tempo a prática de ser cidadão, sentimento de pertença e de responsabilidade, enfim, a autorrealização e o cultivo de uma ideia de justiça fundada sobre o princípio de eticidade democrática. A eticidade democrática é, assim, o conceito que sintetiza o valor maior a ser promovido, o conceito fundamental de bem a ser buscado com base nesta teoria da justiça.
Por fim, no capítulo III, Gustavo Pereira apresenta ainda alguns elementos de sua proposta para a construção efetiva de uma eticidade democrática, com uma investigação das principais capacidades humanas, recursos e meios necessários, a seu ver, para tal fim. Estes meios e capacidades apresentados na proposta do autor estão em correlação, mas não exaustivamente, com a tripla estrutura do conceito de “mundo da vida” (p. 199), de Habermas, o “horizonte em que os agentes comunicativos se movem já desde sempre” (p. 182), apresentada no capítulo anterior. Esta estrutura é expressa em três níveis: cultura, sociedade e personalidade. Segundo Cohen, estes podem ser bem expressos em dois níveis: o nível institucional, das ações em sociedade; e o nível cultural-linguístico, que envolve o mundo da cultura, o mundo pessoal e interpessoal, e a relação entre ambos. As propostas ético-políticas, portanto, devem enfocar estas três dimensões: ser propostas que possibilitem a institucionalização normativa; e que se expressem no espaço não institucional da cultura e dos valores pessoais e das relações intersubjetivas parti-culares.
Assim, algumas das capacidades humanas necessárias são: emancipação política e econômica; autonomia moral, participação na razão pratica pública e responsabilidade; emoções e sentimentos cívicos, como estima, compaixão, gratidão, piedade; perdão, pertença, empatia, abertura à alteridade e à diferença; virtudes cívicas, como sentido crítico, solidariedade, disposição de abertura ao diálogo, e capacidade de “autocoação”, isto é, de comprometer-se desde sua própria racionalidade prática à participação ativa plena.
Gustavo Pereira propõe alguns meios pra atingir o fim proposto, que aqui resenhamos apresentando segundo as seguintes dimensões:
– na dimensão material, própria do enfoque da justiça distributiva, trata-se de garantir o acesso igualitário aos bens fundamentais: alimentação, educação, habitação, estabilidade financeira, oportunidade de trabalho, possibilidades de autorrealização; – na dimensão institucional: preservação fundamental de um contexto relacional aberto de discurso e reflexão; capacidade política de detecção das situações de vulnerabilidade social e de ações distributivas e compensatórias capazes de reduzir os diferentes graus de vulnerabilidade e dependência; o papel do direito como promotor do cultivo da eticidade democrática; – na dimensão teórica: revisão permanente da própria teoria crítica da justiça e das bases de informação consideradas; – na dimensão cultural: cultivo das capacidades humanas citadas; promoção da abertura à alteridade e às diferenças, e da reflexão sobre conceitos de justiça, bem e vida boa, através das narrações, literatura, etc.; aprendizagem das capacidades fundamentais; aprendizado emocional; e ainda a necessária preservação de um devido espaço de dissenso.
O leitor encontrará na obra uma exposição mais detalhada e aprofundada sobre estas capacidades e meios para a construção de uma eticidade democrática, aqui resenhados. Como observa o próprio autor, porém, não pretende com isso uma expressão exaustiva e definitiva de capacidades e meios, uma vez que um dos princípios teóricos é resguardar uma provisoriedade e uma incompletude inerentes à teoria crítica de justiça (p. 150), que possibilita sua permanente revisão e complementação, assim como dos critérios e, consequentemente dos meios propostos em consonância. O que pretende com a obra, sobretudo, é apresentar uma proposta de possíveis caminhos a seguir para atingir efetivamente estes fins.
Sérgio Augusto Jardim Volkmer – Doutorando. PPG em Filosofia da PUCRS. E-mail: sergioajvolkmer@hotmail.com
Ideias sobre uma psicologia descritiva e analítica – DILTHEY (V)
DILTHEY, Wilhelm. Ideias sobre uma psicologia descritiva e analítica. Trad. Marco Antonio Casanova. Rio de Janeiro: Via verita, 2011. Resenha de: MERTENS, Roberto Saraiva Kahlmeyer. Veritas, Porto Alegre v. 56 n. 3, p. 187-190, set./dez. 2011.
Em 2011, celebra-se o centenário de morte de Wilhelm Dilthey (1833-1911). Para esta data, no Brasil e no exterior, editoras e universidades vêm se mobilizando, desde o ano passado, para organizar novas edições e eventos acadêmicos sobre o filósofo alemão. Associados à Fundação Fritz Thyssen em Colônia, Alemanha, tradutores de diversos idiomas vêm vertendo a obra para o inglês, o russo e o japonês. Também traduções para o português estão sendo preparadas no Brasil.
Em nosso país, trabalhos de diferentes fases da obra de Dilthey já foram traduzidos por editoras de expressão. Até o momento, o resultado dessas publicações é um desenho sincopado da produção do autor que foi, além de filósofo, hermeneuta, psicólogo, historiólogo e pedagogo. Com todas as lacunas, entretanto, tal política editorial ainda nos é mais favorável do que a situação de penúria que enfrentávamos até a presente data, quadro em que eram quase ausentes as traduções confiáveis de Dilthey. Sem o interesse de avaliar o estado da arte das pesquisas sobre Dilthey (tarefa ampla que não seria pertinente em uma resenha), nos limitamos a indicar que a flagrante carência de estudos críticos no Brasil (lacuna que, muito mais do que uma hipótese, é uma evidência empírica) fez com que o esforço de recepção do pensamento desse autor, em nosso país, se limitasse praticamente à aplicação do método diltheyano pelo historiador Octávio Tarquínio de Sousa na redação de suas biografias e, muito posteriormente, em alguns rodapés de José Guilherme Merquior.
Formada de trabalhos heterogêneos, é lugar comum indicar que a obra de Wilhelm Dilthey é assistemática desde sua juventude; mas, essa característica não nos impede de ver um interesse comum que perpassa todos os escritos do alemão. Consideremos, por exemplo, o ensaio Ideias sobre uma psicologia descritiva e analítica, que se trata de uma obra tardia, escrita entre os anos de 1892-94 e revista em 1907-08. Tal trabalho é costumeiramente lido ao lado dos escritos literários de Dilthey (sobretudo seu Vivência e poesia), tema que comparece na obra de maturidade do autor (final da década de 1880). Por apresentar as bases psicológicas e
teóricas do conhecimento do pensamento de Dilthey, o ensaio em questão também é utilmente recomendado como introdução à obra A construção do mundo histórico nas ciências humanas, de 1905 (o que não constitui nenhum anacronismo, haja visto as datas de redação e revisão do texto de psicologia). Toda essa equivalência deve-se ao fato das referidas obras terem o mesmo pano de fundo e motivação.
Com a derrocada dos idealismos no fim do século XIX, o que vemos é uma tendência ao positivismo. Ante a drástica crise de paradigmas que grassava, chegou-se a acreditar que apenas um recurso às ciências positivas poderia garantir o acesso a um conhecimento válido. Deste modo, a filosofia parecia não ter outra escolha senão subordinar-se à ciência, rejeitando sua vocação metafísica e tornando-se, pois, algo assim como epistemologia. Destarte, em uma época na qual a sociologia é criada e a antropologia e a psicologia avançam com vigor, traz perplexidade constatarmos que o saber pretensamente rigoroso de tais ciências se encontra atrelado aos princípios e métodos das ciências positivas.
Entendendo que o idealismo foi deposto, mas que o positivismo também não constitui solução, a resposta a essa falta de alternativa é dada por Dilthey de maneira combativa e entusiástica. No interior de sua “filosofia da vida”, especialmente nas bases lançadas em Introdução às ciências humanas (1883), o filósofo propunha uma fundamentação das referidas ciências num solo próprio ao espírito e, antes, denunciando a atuação abstrativa e autonomizante que ciências naturais exerciam sobre as humanas. Segundo Dilthey, as ciências abstrativas, em seu modo de agir, cindem o fenômeno da vida, convertendo-o em objeto. Tal objeto, porém, apareceria isolado num campo de investigação sem conservar seu nexo com a própria vida. Quer dizer, para que as ciências abstrativas possam apontar um fenômeno como objeto de pesquisa, é preciso que todo o contexto do mundo vivido (isto é, o horizonte em que se dá a realidade absoluta das vivências) seja negligenciado, daí Dilthey afirmar que a abstração “desvivifica” o conhecimento.
É com base nessa premissa que o filósofo estabelece a clássica distinção entre o fazer das diferentes ciências: as naturais, abstraindo o fenômeno de seu horizonte total, isolam-no, determinam-no e explicam-no, sendo seu conhecimento retirado do que estava implícito em hipóteses (literalmente, um ex-plicare); as humanas, por sua vez, tomariam (ou deveriam tomar) o fenômeno em seu horizonte de modo a abranger ou compreender (no sentido estrito do termo latino comprehensio) seu todo, seriam, portanto, compreensivas.
A tentativa de uma fundamentação das ciências humanas (espe-cialmente as sociais e as históricas) conserva, ao longo do tempo, suas principais características e pressupostos, sofrendo reformulações de
pouca monta. Isso é o que vemos na obra Ideias sobre uma psicologia descritiva e analítica, apontada como extensão do projeto hermenêutico diltheyano que apresenta os termos da psicologia descritiva analítica, no que tange a análise das vivências do saber, a amplitude da captação de seus objetos, os valores e propósitos aos quais correspondem à descrição e análise da atividade psíquica, pontos basilares aos estudos posteriores, referentes à constituição do mundo histórico.
Embora em forma de ensaio, a obra, em nove capítulos, aborda (com até mais didática do que outros escritos do mesmo autor), primeiramente, a tarefa de fundamentação das ciências do homem, da sociedade e da história pela psicologia; após, distingue a psicologia explicativa da descritiva analítica, a estrutura, o desenvolvimento de diversidade da vida psíquica.
Entre os referidos capítulos, chamemos atenção para o primeiro. Nele, Dilthey mostra a necessidade de uma fundamentação psicológica das ciências da realidade histórico-social, mas, antes, esboça a maneira com a qual atua a psicologia científica (apresentação que vale, extensivamente, para as ciências positivas). Além de nomear estudiosos do homem comprometidos com o modelo positivista (Spencer e Taine), Dilthey indica que a psicologia científica seria explicativa, lógico-causal, dedutiva, materialista e hipotética. Uma esclarecedora reflexão acerca do modelo hipotético, paradigmático das ciências positivas, é dada ao leitor, que passa a entender a hipótese não apenas como um componente metodológico do conhecimento, mas como uma “hipostasia do real”, obstáculo epistemológico que denuncia inconsistência no próprio modo de conhecer das ciências. Tal inconsistência é ilustrada pelo próprio Dilthey quando assevera que, no conhecer pela ciência, “somos banidos para o interior de uma nuvem de hipóteses, para as quais não há nenhuma esperança de que se possa comprová-las a partir de fatos psíquicos” (p. 28). Tal afirmativa nos mostra que mesmo a explicação da natureza dependeria de uma compreensão fundamentada no psiquismo.
Também digno de atenção é o capítulo dois, no qual, por meio da distinção entre a psicologia explicativa e a descritivo-analítica, apresenta-se a interface que a filosofia do século XVIII possui com a psicologia do XIX. Daí, Dilthey desfiar o roteiro que nos leva de Wolf a Kant e, deste, à psicologia de Drobisch, passando pela de Herbart e de Waitz.
Possuidor de muitas intuições luminosas ao longo de suas 152 páginas, o ensaio de psicologia de Dilthey nos reserva, em seu oitavo capítulo, a confirmação de uma suspeita que se insinuava desde o primeiro momento, a influência que o autor exerceu sobre os autores vinculados às ditas “filosofias da existência”. Ao ler a passagem transcrita logo adiante nesse tópico referente ao desenvolvimento da vida psíquica, se faz
possível imaginar o quanto as ideias de Dilthey constituíram êmulo aos estudos de Scheler, Heidegger e Jaspers: “Não se poderia compreender o desenvolvimento do homem sem a intelecção do nexo amplo de sua existência: sim, o ponto de partida de cada estudo do desenvolvimento é essa apreensão do nexo no homem já desenvolvido e a análise desse contexto” (p. 125). O que se delineia aqui é a missão assumida por alguns pensadores do século XX em reconhecer o que há de incomensurável na existência humana.
Sob o selo da Via verita (editora que, na contramão dos apelos mercadológicos, possui um projeto editorial que pretende viabilizar versões de textos de relevo para o pensamento filosófico no século XXI) e com tradução de Marco Antonio Casanova, a edição brasileira pode ser criticamente avaliada, aqui, sob o ponto de vista da tradução: constata-se que ela apresenta uma versão elaborada de maneira atenta à tendência dos estudos mais atuais da obra de Dilthey. Por isso traduzir a expressão alemã Geisteswissenschaften por “ciências humanas” (em vez da literal “ciências do espírito”), apoiando-se em traduções precedentes para a língua inglesa e encontrando endosso junto a comentaristas especializados que se inclinam a acatar que “ciências humanas” traz melhor a conexão de sentido da realidade histórica e social do que a nomenclatura “ciências do espírito” (na qual a noção de “espírito” facilmente pode sugerir erroneamente uma independência de homens reais). Deste modo, por suas opções e acuro terminológico, a tradução brasileira se mostra claramente superior à portuguesa, apresentada sob o título: Psicologia e Compreensão – Ideias sobre uma psicologia descritiva analítica (Edições 70).
Roberto Saraiva Kahlmeyer-Mertens– Doutor em Filosofia pela UERJ. Professor Adjunto naUniversidade Cândido Mendes (UCAM) e no Centro Universitário Plínio Leite. E-mail: kahlmeyermertens@gmail.com
Obras filosóficas e políticas – ABU NASR AL-FARABI ABU NASR AL-FARABI (V)
ABU NASR AL-FARABI ABU NASR AL-FARABI. Obras filosóficas e políticas. Edição e tradução de Rafael Ramón Guerrero. Madri: Editorial Trotta/Liberty Fund, 2008, 252 p. Resenha de: LEITE, Thiago Soares. Veritas, Porto Alegre v. 54 n. 3, p. 204-205, set./dez. 2009.
Al-Farabi, o “Segundo Mestre” (al-mu‘allim al-tani), é um dos mais importantes filósofos medievais. É com ele que se inicia o processo de desenvolvimento a que a filosofia grega foi submetida no meio islâmico. Sua influência nas obras de ibn Sl n a, ibn Ba jja e Maimônides é inegável. De igual importância é sua influência na filosofia medieval latina.
Al-Farabi é conhecido por adotar uma plotinização da metafísica aristotélica e tentar uma harmonização entre a filosofia platônica e a aristotélica, tentativa essa que encontramos presente, por exemplo, em Alberto Magno. Além disso, é de al-Farabi a famosa tese, e erroneamente atribuída a ibn-Sina, acerca da distinção real entre essência e existência, cuja importância para as discussões da metafísica latina medieval é por demais conhecida. Também encontra-se na obra do filósofo árabe a definição do homem como animal social e político, definição essa que ganharia destaque na filosofia de Tomás de Aquino.
Não obstante isso, al-Farabi é um virtual desconhecido para os leitores em língua portuguesa. O que dele foi publicado no Brasil é praticamente nada se comparado ao volume de traduções nas demais línguas européias.
O volume ora apresentado por Ramón Guerrero contribui para tornar al-Farabi mais conhecido entre nós brasileiros. Traduzidas para a língua espanhola, três são as obras apresentadas na edição. Todas podem ser classificadas como “filosófico-políticas” e possuem em comum a preocupação central nos temas da associação política e da melhor forma de comunidade, partindo sempre de uma perspectiva política.
A primeira intitula-se Libro de la Política (Kitab al siyas a al-madaniyya), também conhecida como Los principios de los seres (Mabad i’ al-mawyu d at ).
Divide-se em duas partes, a saber: De los principios de los seres e De la política.
Partindo do pressuposto farabiano, segundo o qual a felicidade só é alcançada mediante o conhecimento teórico da estrutura do universo e o agir concorde a ele, al-Farabl expõe os princípios dos seres, que são em número de seis: a causa primeira; as causas segundas; o intelecto agente; as almas; forma e matéria; substancias incorpóreas e substancias materiais. Feito isso, o filósofo pode, então, abordar os seres especificamente. A ordem é a seguinte: o ser primeiro; as causas segundas; o intelecto agente; os corpos celestes; os seres possíveis.
205 Terminada a parte metafísica, inicia-se a parte propriamente política.
Nela, al-Farabi aborda três tópicos: as associações próprias das cidades; a felicidade; os diferentes tipos de cidades.
Duas questões devem, por tanto, ser postas em relevo. A primeira, endógena ao pensamento farabiano, é a inserção da metafísica à política.
Com efeito, o conhecimento metafísico é condição de possibilidade da política, tal qual essa é o fim daquela. A segunda, trata-se do paralelo existente entre a Politica e sua obra mais conhecida, a Princípios das opiniões dos habitantes da cidade virtuosa (Mabadi’ ara ahl al-madl na al-fadila), paralelo esse já sinalizado por Ramón Guerrero em sua Introducción.
A segunda obra traduzida intitula-se Libro de la religión (Kitab almilla).
Se, em Politica e em Opiniões, al-Farabi definiu as condições de estabelecimento da cidade virtuosa, seu governo pelo filósofo e sua regência pela filosofia, em Libro de la religión, o filósofo árabe parece reconhecer que tal projeto carrega em si um quê de utopia e volta-se para a necessidade da religião na cidade virtuosa: ela é, com efeito, a única garantia que os cidadãos têm de obter a felicidade. Nesse sentido, al-Farabi investiga a natureza e as características que deve possuir a religião da cidade virtuosa. Dito de outra maneira, se, em Politica e em Opiniões, al-Farabi apresenta sua teoria sobre a formação da cidade virtuosa, em Libro de la religión, a investigação se dá acerca das regras e os princípios que o governante da cidade virtuosa deve conhecer e seguir.
A terceira e última obra traduzida, Artículos de la ciencia politica (Fusul [al-‘ilm] al-madani), trata-se, como o próprio título já indica, de uma coletânea de artigos colhidos nas obras de autores antigos. Seu conteúdo expõe, como era de se esperar em uma obra do tipo, diversos temas, tais como a causa primeira, a estrutura metafísica do universo, as características da cidade virtuosa, a definição de felicidade. Percebe-se, mais uma vez, a interligação entre metafísica e política no pensamento de al-Farabl. Por fim, resta dizer que a edição é muito bem cuidada. Tanto a introdução de Ramón Guerrero quanto sua tradução são ricamente anotadas. O volume contém também uma bibliografia selecionada, o índice onomástico e o analítico, ferramentas indispensáveis para um pesquisador.
Thiago Soares Leite
Acessar publicação original
Textos sobre poder, conhecimento e contingência – SCOTUS (V)
SCOTUS, João Duns. Textos sobre poder, conhecimento e contingência. Tradução, introdução e notas de Roberto H. Pich. Porto Alegre: Edipucrs/Edusf, 2008, 508 p. (col. Pensamento Franciscano, XI). Resenha de: LEITE, Thiago Soares. Veritas, Porto Alegre v. 54 n. 3, p. 202-203, set./dez. 2009.
Inserindo-se nas celebrações do VII centenário de falecimento de João Duns Scotus, vem a lume a obra João Duns Scotus. Textos sobre poder, conhecimento e contingência, compondo o décimo primeiro volume da já tradicional coleção Pensamento Franciscano.
Após haver traduzido o Prólogo da Ordinatio (JOÃO Duns Scotus. Prólogo da Ordinatio. Porto Alegre: Edipucrs, 2003, 456 p. – col. Pensamento Franciscano, V) e a questão 15 do livro IX das Quaestiones super libros metaphysicorum Aristotelis (Veritas 53/3 (2008), p. 118-57), o Prof. Dr. Roberto Hofmeister Pich (PUCRS) apresenta sua tradução das três versões dos textos de Duns Scotus sobre os temas “poder”, “contingência”, “conhecimento divino” e “liberdade”, a saber: Lectura I, d. 39-45; Ordinatio I, d. 38-48 (no lugar destinado à d. 39, encontra-se a tradução do apêndice A – Segunda parte da trigésima oitava distin203 ção e trigésima nona distinção) e Reportatio parisiensis examinata I, d. 38-44.
Como é sabido, Lectura I, d. 39-45 constitui-se na parte final do comentário ao livro primeiro das Sentenças de Pedro Lombardo, elaborado por Scotus com a finalidade de docência em Oxford. Já Ordinatio I, d. 38-48 representa a “ordenação” dos textos de Lectura com o objetivo, diríamos hoje, de publicação. Nesse sentido, os textos de Ordinatio seriam a revisão que Scotus iniciara em Oxford e continuara em Paris. Por fim, o terceiro bloco de textos traduzidos (Reportatio parisiensis examinata I, d. 38-44) reporta as anotações de aula de alunos e discípulos que ouviram as preleções de Scotus em Paris e, por ele, examinadas e aprovadas.
Tal coletânea consiste em um projeto único no mundo e tornar-se-ia um cânone no meio scotista mundial caso os textos latinos acompanhassem a tradução, o que caracteriza um primeiro demérito da edição. Pode ser considerado um segundo demérito a ausência de uma revisão mais detida.
Não obstante os problemas acima citados, o volume está repleto de méritos. O primeiro é o já citado fato de, nele, se encontrarem traduzidas as três versões dos textos de Scotus. O leitor que não esteja familiarizado com as obras da Scotus poderá se situar na coletânea de textos apresentada através do Prefácio, escrito por Pich.
Ao Prefácio, segue-se o segundo mérito do volume, a saber: um extenso estudo sobre os temas “contingência” e “liberdade”, no qual Pich, para explicar a tese do Doctor Subtilis sobre o indeterminismo da vontade, realiza uma descrição do que denomina “modo de causalidade do ato da vontade” e “modo de realidade do ato volitivo”. É também digno de nota a bibliografia apresentada ao fim do estudo por ser, ao que tudo indica, a mais atualizada sobre o tema.
Um terceiro mérito consiste na apresentação da estrutura de cada distinção traduzida. Tal modus operandi, que já se tornou característico das traduções de Pich, permite uma rápida visualização do modo como o assunto será desenvolvido por Duns Scotus.
Quanto à tradução, a competência de Pich é inegável. Seu conhecimento sobre os temas abordados por Scotus se faz ver ao longo da tradução, de modo que, por muitas vezes, o tradutor transfere uma clareza tal ao texto que seu original latino carecia. A fluidez da tradução é tamanha que um leitor sem acesso aos originais latinos dificilmente entenderá o porquê Scotus ser conhecido como o Doctor Subtilis.
Enfim, trata-se de uma excelente homenagem a esse filósofo tão pouco conhecido e estudado em nosso país.
Thiago Soares Leite
Acessar publicação original
Raimundus Lullus – An introduction to his Life, Works and Thought. Corpus Christianorum – Continuatio Mediaevalis, v. 214 – FIDORA; RUBIO (V)
FIDORA, Alexander; RUBIO, Josep E. (ed.). Raimundus Lullus – An introduction to his Life, Works and Thought. Corpus Christianorum – Continuatio Mediaevalis, v. 214. Turnhout: Brepols, 2008, 564 p. Resenha de: DE BONI, Luis Alberto De Boni. Veritas, Porto Alegre v. 54 n. 3, p. 199-202, set./dez. 2009.
O presente volume faz parte, como suplemento, da edição da obra latina de Raimundo Lúlio, cuidada pelo Raimundus Lullus Institut da 200 Universidade de Freiburg. Organizado por dois competentes lulistas, Alexander Fidora e Josep E. Rubio, o volume foi todo ele traduzido para o inglês, tornando-se assim de fácil leitura para a quase totalidade dos estudiosos.
Como o próprio título indica, a obra está dividida em três partes, sendo que a última também se subdivide em outras tantas. São elas: I – Life. Fernando Domínguez e Jordi Gayá; II – Works. Fernando Domínguez; III – Thought – The Art. Josep Enric Rubio; III.A – The Natural Realm. Josep Enric Rubio; III.B – The Human Realm. Marta M. M. Romano e Óscar de la Cruz; III.C – The Divine Realm. Jordi Gayá.
Boa parte dos filósofos e teólogos medievais ocidentais teve uma vida relativamente curta (Rogério Bacon e Alberto Magno são honrosas exceções), e o decorrer dela conheceu percalços – e até mesmo condenações por parte da Igreja –, que se podem classificar de ‘previsíveis’. Além disso, até final do século XIII, todos eram clérigos e escreveram em latim.
Quando, porém, nos voltamos para Raimundo Lúlio, tudo se modifica. Ele foi daqueles poucos que teve um longa vida de 84 anos (1232-1316), durante os quais teve algumas experiências – e dissabores – que os teólogos de seu tempo não conheceram, tais como a prisão e os maustratos por parte dos muçulmanos do norte da África, um naufrágio bem como a visita aos lugares santos. Enquanto a totalidade dos teólogos do século XIII era composta por clérigos celibatários, Lúlio foi casado por cerca de 18 anos (1257-1275). Deixou a família após ter visões de Deus que o chamava para grandes obras em prol da fé, mas jamais esqueceu os seus, sendo que em testamento, no final da vida, legou bens para o filho e a filha que tivera. Seu ardor missionário e sua devoção à causa da Igreja não o levaram, contudo, a ordenar-se sacerdote, sendo, pois, um dos iniciadores do movimento laico que se desenvolveu principalmente no século XIV. Outra de suas peculiaridades foi a de haver escrito boa parte de sua vasta obra em língua catalã. Num mundo em que o latim era a língua acadêmica, isso foi uma inovação de grande alcance, que nós, mais de sete séculos depois, nem sempre avaliamos devidamente.
Lúlio foi o primeiro pensador medieval a valer-se de uma língua que não o latim, e o catalão foi, pois, a primeira língua moderna a ser utilizada na composição de textos filosóficos e teológicos. Pouco depois, Mestre Eckhart estaria usando o alemão e Dante, o italiano.
Nascido em Barcelona, de uma nobre família catalã, foi ainda pequeno para a ilha de Mallorca, conquistada aos mouros por Jaime I de Aragão 201 em 1229. Após a mudança de vida, durante nove anos viveu em Mallorca, onde esteve em contato com os frades franciscanos, Anos depois, estando em Montpellier, convenceu o rei de Aragão a fundar uma escola para preparação de missionários, na qual era ensinada a língua árabe.
Parece ter sido a primeira iniciativa, na Idade Média, de criar escolas de línguas para os que se preparavam para as missões entre os infiéis.
Esta preocupação ele, já ancião, haveria de levar ao Concílio de Vienne, e lá a viu coroada de sucesso, graças ao decreto conciliar que instituía escolas para as línguas hebraica, árabe e caldaica na Corte Pontifícia e nas universidades de Paris, Oxford, Bolonha e Salamanca, ficando os professores obrigados não só ao ensino, mas também à tradução de obras daquelas línguas para o latim.
Solitário, em grande parte autodidata, com algumas ideias um tanto afastadas daquelas vigentes em seu tempo, aprendeu, às próprias custas, como é difícil a um indivíduo ser ouvido pelos detentores do poder e fracassaram as primeiras tentativas de contato com a Cúria Romana, com o rei da França e com a Universidade de Paris. Apesar disso, prosseguiu em sua missão, percorrendo cidades e países com ardor de um missionário, com vistas a promover uma nova cruzada e a converter os infiéis. Teve três longas estadias em Paris; por inúmeras vezes residiu em Montpellier e em Mallorca; em sua aventura missionária atuou em Nápoles, na Sicília, em Gênova, em Pisa, em Chipre, na Ásia Menor, em Lyon, em Barcelona, em Roma e tantos outros lugares. Por três vezes navegou ao norte da África (a última das quais um ano antes do falecimento) a fim de pregar o Evangelho, conheceu naufrágio e prisão.
Durante todo esse peregrinar, jamais deixou de escrever. Os inventários atuais apontam 280 obras de sua autoria. Isso significa que foi o mais fecundo, ao menos quanto ao número de títulos, entre todos os pensadores medievais.
A obra de Raimundo Lúlio centrou-se toda ela, de certo modo, na Ars compendiosa inveniendi veritatem, como ele a chamou na primeira redação que dela fez, em 1274. Por outras 12 vezes voltaria a ela, a última das quais, 35 anos depois. Corrigiu-a, modificou-a, completou-a e, graças a esses esforços de aperfeiçoamento, obteve o reconhecimento de seu trabalho pela universidade de Paris e pela posteridade. Entretanto, ao contrário dos procedimentos dos demais medievais, ele jamais apresentou as fontes em que se inspirou, nem apelou para auctoritates, como seria de esperar de um trabalho acadêmico em sua época.
Tomando a Ars como de inspiração divina, ele tinha certeza absoluta de que ela era um método capaz de fazer com que as convicções religiosas divergentes das três religiões do livro (Judaísmo, Cristianismo e Islamismo) poderiam convergir para a verdade única do Cristianismo.
202 “A arte foi concebida como um discurso totalmente auto-referencial, isto é, como um método para chegar à verdade a partir das premissas comuns aceitáveis por todo o judeu, cristão ou muçulmano instruído, e que procede pela via das ‘razões necessárias’” (p. 244). Ela não parte, pois, do específico de cada religião, não coloca como premissa, por exemplo, os dogmas cristãos da Trindade e da Encarnação, mas sabe que, dentro dos devidos procedimentos racionais, a partir das verdades por todos aceitas, demonstra-se ao final, de modo irrefutável, também a Trindade e a Encarnação. “O segredo da Arte, portanto, consiste na demonstração de que a cosmovisão, aceita por todos, implica a visão cristã de Deus, de tal modo que nem a Trindade, nem a Encarnação podem ser negadas sem contradição da ordem cósmica” (p. 245).
Lúlio estava ciente de que a Arte ia além de Aristóteles e dos escolásticos de seu tempo, porque ia além da dialética escolástica e também da metafísica aristotélica, na medida em que ela era capaz de demonstrar os princípios também para as ciências particulares.
Com rara felicidade e com clareza os autores mostram, enfim, como a Ars vê, a seu modo, aquilo que é abrangido pelo conhecimento humano: o mundo, o homem e Deus.
Luis Alberto De Boni
Acessar publicação original
Estudos de Filosofia Medieval: autores e temas portugueses – MEIRINHOS (V)
MEIRINHOS, José Francisco. Estudos de Filosofia Medieval: autores e temas portugueses. Porto Alegre: Est. Edições, 2007, 270 p. Resenha de: D’AMICO, Claudia. Veritas, Porto Alegre v. 54 n. 3, p. 196-199, set./dez. 2009.
En el ámbito de los estudios medievales iberoamericanos, la figura de José F. Meirinhos, investigador del Gabinete de Filosofía Medieval de la Facultad de Letras de la Universidad de Porto, es bien reconocida.
Este volumen, editado en Porto Alegre, reúne 15 estudios publicados entre 1993 y 2005 tanto en revistas especializadas como en actas de congreso o en volúmenes de homenaje. Todos tienen en común el rigor que caracteriza las investigaciones de J. F. Meirinhos: el contacto directo con los manuscritos, el prolijo manejo de las ediciones críticas, y la presentación de un excelente status quaestionis fruto de una lectura crítica de la literatura especializada tanto clásica como actualizada.
La diversidad de intereses que reflejan los títulos de los estudios, se unifican en la procedencia de los autores tratados, todos ellos portugueses o del actual territorio portugués. Así pues, como indica el autor, este volumen no constituye una presentación sistemática del período sino que ofrece textos “escritos em circunstâncias diversas, para analisar problemas concretos, ou para fazer o ponto da situação dos conhecimentos sobre alguns dos pensadores portugueses medievais mais importantes” (p. 7).
El criterio de ordenamiento interno es cronológico conforme al período medieval que se trate: el primer texto trata sobre Martinho de Braga, evangelizador del siglo VI y el último sobre Dinis de Lisboa, muerto en 197 el siglo XIV. De este modo, José F. Meirinhos nos invita a recorrer ocho siglos de historia del pensamiento portugués, con un salto al extenso período esteril entre los siglos VIII y XII.
La difusión del cristianismo en Lusitania se da fundamentalmente durante el período patrístico, que se extiende desde el siglo IV hasta el siglo VIII. En este tiempo, es posible identificar gran cantidad de autores portugueses, el primer trabajo del volumen se dedica a uno de ellos y lleva por título: “Martinho de Braga e a compreensão da natureza na Alta Idade Média (séc. VI): símbolos da fé contra a idolatria dos rústicos”.
En este trabajo, publicado en 2005, Meirinhos presenta a un personaje singular que es un evangelizador y, al mismo tiempo, un divulgador del pensamiento de Séneca. La obra de Martinho de Braga que tiene como fin corregir a los rústicos y reorientar sus propias creencias, pone en evidencia que la tarea pastoral en estos tiempos fundacionales involucra una concepción no sólo acerca de Dios sino también de la naturaleza. A continuación, un grupo de textos – publicados en diversas ocasiones – presenta el panorama de los estudios durante el siglo XII. El autor pone en evidencia que el renacimiento y la renovación cultural que se daba en algunos centros europeos, es mucho más tenue en Portugal donde la predominancia de la orden benedictina sigue siendo decisiva. Sin embargo, en ese marco y como parte de la renovación cultural se destaca por una parte, la existencia de autores portugueses que contribuyeron a la tarea de traducción de textos del árabe al latín; por otra, la fundación de dos nuevos monasterios y sus respectivas bibliotecas: el de San Agustín de la Santa Cruz de Coimbra y el monasterio cisterciense de Alcobaça. Entre los traductores, sin duda el más destacado ha sido João de Sevilla e de Lima († 1157) cuya identificación ha sido objeto de muchas discusiones que se reproducen en el estudio “A ciência e filosofia árabes em Portugal. Joâo de Sevilla e de Lima e outros tradutores” (1997). El traductor vertió del árabe al latín obras o extractos de obra de medicina, matemática, astrología, magia, astronomía, dos textos sobre el astrolabio y la obra de Qusta ibn Luqa De differentia spiritus et animae, que figuraba entre el corpus vetustius de Aristóteles como parte de los libri naturales. Respecto de los monasterios citados como nuevos centros de saber y de los manuscritos que allí se conservan y son testimonio de la estructura de las artes y la ciencia del período, J. F. Meirinhos ofrece “A filosofia no século XII em Portugal: os mosteiros e a cultura que vem da Europa” (2000); “Doutrina sagrada, artes liberais e ciência escolástica em manuscritos de Santa Cruz de Coimbra” (2001) y “Desenhar o saber.
Um esquema das ciencias do século XII num manuscrito de Santa Cruz de Coimbra”, este último publicado originalmente en francés en el 2005 en el volumen de homenaje que el propio Meirinhos preparara para quien 198 ha sido por mucho tiempo Presidente del Gabinete de Filosofía Medieval al que pertenece, la Prof. Maria Cândida Pacheco.
A continuación se entregan dos grupos de trabajos sobre dos autores ligados a la tradición portuguesa, ambos profusamente estudiados por J.
Meirinhos: San Antonio de Lisboa y Pedro Hispano. Fernandus Matini – nacido en Lisboa en 1190, muerto en Padua en 1231 y nombrado Antonio por adopción como fraile franciscano –, es sin duda uno de los portugueses medievales más reconocidos como predicador, filósofo y teólogo. El estudio “S. Antonio de Lisboa, escritor. A tradição dos Sermones: manuscritos, edições e textos espúrios” (1997) ofrece una detallada lista de todos los manuscritos conservados de sus Sermones, una lista de las predicaciones perdidas, una historia de la transmisión de los manuscritos, a lo cual se agrega la mención de ediciones, traducciones y apócrifos de las predicaciones del franciscano. Este trabajo de J. F. Merinhos resulta imprescindible para quien quiera estudiar seriamente la obra de S.
Antonio y resulta, al mismo tiempo, un modelo para los estudiosos del pensamiento medieval que aborden la compleja reconstrucción de las fuentes primarias. Los estudios “Da gnoseologia à moral. Pragmática da pregação em S. António de Lisboa” (1993) y “A theologia em S.
António e a definição agustiniana de dialectica” (1995), muestran que si bien no se puede afirmar que hay en S.Antonio una presentación sistemática de los temas filosóficos y teológicos, es posible ver a través de su labor de predicador un análisis del lenguaje y una gnoseología en relación a la acción, y una teología entendida como una aprehensión de la doctrina bíblica que tiene en su centro también en una antropología moral.
Cinco estudios están dedicados a Pedro Hispano, el notable lógico, filósofo, médico del siglo XIII, de activa vida política y eclesiástica. Los dos primeros “Petrus Hispanus Portugalensis? Elementos para uma diferenciação de autores” (1996) y “As obras atribuídas a Pedro Hispano” (2005), ponen de manifiesto la complejidad del corpus del Hispano, no sólo por su gran diversidad temática sino también por las lagunas en la reconstrucción de su obra y de su propia vida, lo cual pone en duda muchas veces su identidad. J. F. Meirinhos muestra cómo a partir de los trabajos de Martin Grabmann alrededor de 1920, se concluye que Pedro Hispano es mucho más que el autor de las Summae Logicales y del texto médico Thesaurus pauperum. Así ofrece todo lo que se ha descubierto desde entonces en un abundante catálogo de obras atribuidas a él que, en el primer estudio, organiza temáticamente y, en el segundo, organiza de acuerdo a su autenticidad reconocida o a su carácter de obra perdida o espúrea. Ofrece allí mismo una breve bibliografía de ediciones e estudios histórico-críticos. Análogamente a lo que advertimos en la mención del 199 estudio de 1997 dedicado a Antonio de Lisboa, este trabajo sobre la obra del hispanense resulta un instrumento imprescindible para el estudioso de este autor. En “Pedro Hispano e a lógica” (1999) se muestra claramente los aportes que Pedro Hispano realiza en relación con los desarrollos de la lógica antigua y medieval, tomando en cuenta el lugar que ocupa la lógica en la estructura del saber de la Edad Media. Asimismo en “Métodos e orden das ciências no Coméntario sobre o De anima atribuído a Pedro Hispano” (1998), y “Conhecimento de si e linguagem interior. Agostinho, Joâo Damasceno e Avicena na Scientia libri de anima de Pedro Hispano Portugalense” (2003), J. F. Meirinhos pone de manifiesto nuevamente la capacidad de ubicar el tratamiento puntual de una temática del autor en el marco más general de los profundos cambios de su tiempo, la práctica universitaria y la tradición de la cual se nutre.
Por último, se incluyen dos estudios que, en distintos sentidos, nos refieren la efervescencia de la cultura portuguesa hacia finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV. Uno sobre Pedro Julião: “O papa João XXI e a ciência do seu tempo” (2005). Pedro Julião, uno de los personajes más importantes del siglo XIII, nació en Lisboa entre 1205 y 1220, y fue convertido en Papa en 1276. A través del recorrido de su formación y de la evaluación del papel que desempeñó la ciencia en su propia vida, se logra entender porqué como Juan XXI fue un defensor de los saberes y la ciencia de su tiempo. Por último, el estudio inédito “O médico, teólogo e tradutor Afonso de Dinis de Lisboa († 1352)”, ofrece la biografía, la lista de obras conocidas y las traducciones de quien fuera llamado “erudito universal”.
El volumen se cierra con tres Índices: uno de manuscritos, otro de autores antiguos y medievales, otro de autores modernos y contemporáneos mencionados, que resultan una excelente guía para la búsqueda de datos de interés en una obra de notable erudición.
Claudia D’Amico
Acessar publicação original
Autores lusófonos – João Duns Scotus 1308-2008 – DE BONI (V)
DE BONI, L. A. (org.). Autores lusófonos – João Duns Scotus – 1308-2008. Porto Alegre/Bragança Paulista: EST/Edipucrs/Edusf, 2008, 382 p. Resenha de: DIAS, Cléber Eduardo dos Santos. Veritas, Porto Alegre v. 54 n. 3, p. 193-196, set./dez. 2009.
No ano de 2008 celebrou-se o sétimo centenário da morte de João Duns Scotus, o mais brilhante dos pensadores franciscanos medievais.
Entre as muitas atividades acadêmicas, que aconteceram pelos mais diversos países, cabe mencionar o volume em tela, no qual 21 autores lusófonos se fazem presentes. Organizado pelo Prof. Luis Alberto De Boni, trata-se, sem dúvida, da obra mais importante sobre Duns Scotus redigida em língua portuguesa e, assim penso eu, haverá de decorrer muito tempo antes que algo semelhante venha a ser produzido. Trabalharam como co-organizadores: Cléber E. S. Dias, Joice B. da Costa, Roberto H. Pich e Thiago Soares Leite. Antes de prosseguir este comentário, cito o nome do autor e o título de todos os textos, seguindo sua sequência interna: – João Lupi (Florianópolis): Contexto cultural da primeira formação acadêmica de João Duns Scotus. – Guilherme Wyllie (Cuiabá): A falácia de petição de princípio em Duns Scotus. – Carlos Eduardo Loddo (Montreal): Duns Scotus e os universais lógicos nas Quaestiones in Porphyrii Isagogem. – Frei Sinivaldo Tavares (Petrópolis): A teologia e seu método no prólogo da Ordinatio de Duns Scotus. – Carlos Arthur Nascimento (São Paulo): João Duns Scot e a subalternação das ciências. – Roberto H. Pich (Porto Alegre): Duns Scotus sobre a credibilidade das doutrinas contidas nas Escrituras. – Maria Leonor Xavier (Lisboa): João Duns Escoto e o argumento anselmiano. – Joaquim Cerqueira Gonçalves (Lisboa): A questão da Onto-Teologia e a Metafísica de João Duns Escoto. – César Ribas Cezar (São Paulo): Teologia positiva e Teologia negativa em Duns Scotus. – Pedro Leite (Porto Alegre): A crítica de Ockham à noção de natureza comum de Scotus. – Thiago Soares Leite (Porto Alegre): Os transcendentais em Duns Scotus. – Antonio Pérez-Estévez (Maracaibo): Duns Scotus e sua metafísica da natureza. – Maria Manoela Brito Martins (Porto): A noção de individuação em São Tomás e Duns Escoto. – Pedro Parcerias (Porto): Duns Escoto e o conceito heterogeológico de Tempo. – José Rosa (Beira-Baixa): Da relacional antropologia franciscana. – Alfredo Culleton (Unisinos): A lei natural em Duns Scotus. – Luis A. De Boni (Porto Alegre): Duns Scotus: a Política. – André Alonso (Niterói): Reditio iterata: Scotus e as bases antropológicas da ressurreição. – José Meirinhos (Porto): Escotistas portugueses do século XIV. – Mário Santiago de Carvalho (Coimbra): Duns Escoto na tradição portuguesa do século XVII. –
Examinando a ordem dos textos, percebe-se que os organizadores seguiram, na medida do possível, os caminhos da obra de Scotus, colocando inicialmente os textos referentes à lógica e, a seguir, tomam a Ordinatio como guia. Todos os textos são importantes, e não cabe aqui tentar fazer uma classificação entre eles. Limito-me, apenas, a mencionar alguns, em parte pela forma de abordagem, em parte por chamarem ao debate o pensamento moderno e alguns pela relativa raridade do tema.
O artigo de Guilherme Wyllie, tratando da questão lógica conhecida como “falácia da petição de princípio”, parte da caracterização desta como sendo uma “falácia caracterizada como um argumento em que as premissas pressupõem a verdade ou admissibilidade da conclusão” (p. 15). O autor, valendo-se de inúmeros estudos contemporâneos, provenientes na maioria do mundo anglo-saxônico, mostra que, por vários motivos, tal definição não se sustenta, e passa, então, a analisar este tipo de falácia a partir de Aristóteles, o primeiro filósofo que a estudou detalhadamente. Este a examinou tanto sob o aspecto epistêmico, que postula o conhecimento das premissas independentemente do conhecimento da conclusão, quanto sob o aspecto dialético, o qual afirma que existe tal falácia quando são transgredidas certas regras do debate.
Passando do pensador grego para Duns Scotus, Wyllie afirma que Scotus não redigiu um tratado específico sobre a falácia, mas a conhece muito bem e, a partir dos textos dele, fica claro que a analisa sob o aspecto epistêmico, “segundo o qual, um argumento acometido pela presente falácia, é válido e pretende provar a respectiva conclusão, embora não o faça, por força da ausência de premissas necessárias e auto-evidentes”
Também na área de lógica é importante e, em parte, inovador, o artigo de Carlos Eduardo Loddo, que se ocupa com os universais lógicos nos comentários de Scotus a Porfírio. Loddo observa que há um consenso no modo de considerar os universais lógicos, ou segundas intenções, em Scotus, como entidades puramente semânticas. Para uns, diz ele, as intenções primeiras de Scotus são classificadas como as coisas reais, enquanto as intenções segundas são conceitos aplicáveis diretamente a estas coisas. Com isso, só as intenções primeiras se referem à metafísica, ficando as intenções segundas classificadas como tema de uma semântica pura. Para outros, já as intenções de primeira ordem são consideradas como conceitos aplicáveis às coisas naturais, ficando as de segunda ordem como conceitos aplicáveis aos conceitos de primeira ordem. Neste caso, os conceitos de ambas as ordens acabam transformados em representações subjetivas, que dispensam qualquer isomorfia entre os termos linguísticos e as coisas e acaba-se tendo uma semântica muito próxima ao nominalismo (p. 25-27). Em sua crítica, longamente desenvolvida, o autor propõe uma interpretação alternativa do texto escotista, mostrando que nele transparece o realismo do frade franciscano, inclusive e muito especificamente, com respeito aos universais lógicos. Para tanto, o jovem autor discorda, sem temor, de alguns dos mais célebres escotistas da atualidade, aos quais critica pelo fato de, em muitos casos, fazerem aproximações muito fáceis entre o pensamento medieval e o contemporâneo, principalmente aquele de proveniência analítica. Com isso ele não está negando a possibilidade e a importância de interfaces entre eles, mas é necessário ver quais delas são pertinentes e quais não passam de anacronismo, pois, “as comparações paralelas, tanto quanto as transversais, se operadas demasiado rapidamente na historiografia filosófica, conduzem ao erro” (p. 29).
Chama a atenção também o artigo de Sinivaldo Tavares a respeito da importância do Prólogo da Ordinatio. Esse texto, que não é apenas o prólogo de uma obra, mas uma espécie de Discurso sobre o Método de um teólogo medieval, podendo-se, se examinado a fundo, perceber que nesse texto recuperam-se elementos dos debates acadêmicos das décadas anteriores, principalmente os referentes à pergunta sobre o lugar da Teologia e das demais ciências no conjunto dos saberes. Scotus, como bem observa o autor, desce a minúcias, vai ao fundo nas distinções, mas não se perde nelas; pelo contrário, a cada passo vai brilhando sempre mais a originalidade e a profundidade do pensamento escotista. A conclusão que aqui mais interessa é de uma posição nova, entre teólogos, a respeito da posição da Teologia no conjunto dos saberes. “Duns Scotus se revela um autêntico defensor do pluralismo epistemológico. (…] Scotus propõe com traços firmes e claros a autonomia dos saberes em um ambiente cultural marcado por uma sadia pluralidade” (p.105). Isto era o oposto do que defendiam quase todos os teólogos de seu tempo, para os quais as demais ciências estavam subalternadas ou reduzidas à Teologia. Com razão o autor fala de algo como uma “epistemologia débil” escotista, que, por razões históricas diferentes, foi suprimida dos círculos académicos católicos, mas que hoje se abre para o diálogo com a sociedade contemporânea.
Entre os demais artigos, que percorrem praticamente todo o leque de interesses de Scotus, cabe recordar dois deles também por uma nota trágica: seus autores (António Pérez-Estévez e Pedro Parcerias) não estavam mais presentes entre nós quando o volume foi publicado.
Para brasileiros, mas também para portugueses, são importantes os textos de Mário Santiago de Carvalho e José Meirinhos, estudando o importante significado do escotismo em Portugal. O vigésimo primeiro artigo, de Cléber Eduardo dos Santos Dias, é um levantamento de tudo o que foi publicado por escotistas lusófonos durante cinco séculos.
Num trabalho de paciência, que poderia ser classificada de beneditina, Cléber Eduardo pesquisou as mais diferentes fontes, correspondeu-se com inúmeros especialistas e fez descobertas inesperadas, em cujo final surgiram 323 títulos.
Enfim, cabe uma palavra especial ao Prof. De Boni. Esse exímio medievalista definiu a ‘universidade como a casa da razão’. Sua organização teórico-metodológica dos artigos de Duns Scotus confirma, mais uma vez, sua crença no debate de idéias e aproximação de saberes.
Sílvia Contaldo
Acessar publicação original
Uma introdução à filosofia- PAVIANI (V)
PAVIANI, Jayme. Uma introdução à filosofia. Caxias do Sul: Editora da UCS, 2014. 107 p. Resenha de: RODRIGUES, Maria Inês Tondello. Veritas, Porto Alegre, v. 60, n. 2, p. 401-404, maio-ago. 2015.
Propondo uma viagem à História da Filosofia, a obra Uma introdução à filosofia (EDUCS, 2014, 107 p.), de autoria do professor e pesquisador Jayme Paviani, evidencia a presença constante de conceitos e questões filosóficas na ciência e nas atividades humanas. Ao iniciar cada capítulo, o autor faz uma citação que se aproxima do tema a ser abordado. Num texto que trata de Filosofia, não poderiam faltar referências a pensamentos filosóficos como os de Platão, Aristóteles, Agostinho, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Husserl, Jauss, Habermas, Merleau-Ponty, Popper, Gadamer, Levinas, Deleuze, Foucault, entre outros.
Jayme Paviani nasceu em Flores da Cunha, em 4 de junho de 1940. Em 1951 iniciou os estudos no Seminário Nossa Senhora Aparecida em Caxias do Sul, cidade que adotou desde então. Em 1999 recebeu o título de cidadão caxiense. Licenciado em Filosofia, Bacharel em Direito e Doutor em Letras, exerce a docência há quase cinquenta anos. Foi professor na Unisinos e na PUCRS, há mais de quatro décadas atua na Universidade de Caxias do Sul, atualmente estando vinculado aos Programas de Pós- Graduação Mestrado em Filosofia e Mestrado em Educação. Escreveu mais de vinte livros relacionados à filosofia e seus pensadores; no ano de 2002 publicou o livro de crônicas O pomar e o pátio, e reuniu seis livros de poemas no volume As palavras e os dias. É autor, ainda, de inúmeros capítulos de livros, artigos e ensaios em revistas científicas.
Usando uma linguagem acessível e bastante didática, Paviani desenvolve sete capítulos, além da apresentação, todos com um foco singular e sugestivo para uma busca por aprofundamento. No primeiro capítulo, A filosofia e o filosofar: propostas pedagógicas, o professor propõe uma reflexão acerca da função e da presença da filosofia na história e na sociedade. Esclarecendo que a filosofia precisa justificar sua natureza, cita seis aproximações para pensar sobre sua origem, natureza e função: o que é a filosofia; como ter acesso à filosofia; porque, o que e para que pensamos; o que é o homem; filosofia e ciência andam juntas; e reconhecimento de si no outro.
No segundo capítulo, A história da Filosofia: o texto e sua recepção, estabelece relações entre a obra literária e a obra filosófica. Relaciona a teoria da recepção de textos, aplicada à história da literatura com o entendimento da história da Filosofia. Esclarece que uma metodologia recepcionista requer adaptações e implica em mudanças de procedimentos.
Tratando de examinar como a obra é e foi recebida, “possibilita examinar as concretizações das ideias e dos conceitos filosóficos no tempo e no espaço” (grifo do autor, p. 31). A recepção tem carência em seu método que é parcial e incompleto, exigindo outros procedimentos científicofilosóficos, por isso tem seu ponto forte na interpretação. Sugere o uso deste instrumento da recepção para experimentar o ato de filosofar, integrado nas diferentes leituras oferecidas pelos textos filosóficos.
Conhecimento e linguagem: os acessos à realidade, o terceiro capítulo inicia dizendo que “conhecimento, linguagem e realidade são conceitos, âmbitos e dimensões de um fenômeno complexo e objeto de investigação de diferentes disciplinas consolidadas na história da filosofia” (grifo do autor, p. 37). O autor cita a questão ontológica que envolve concepção metafísica e realidade, indagações do humano que questionam as dimensões do ser; a questão epistemológica que analisa o conhecimento, sua origem e desenvolvimento. Fala da dialética e da lógica e das relações entre ciências e teorias da verdade. A linguagem é condicional para o avanço dos estudos do conhecimento, por isso traz leituras e conceitos definidos por diferentes pensadores, entre eles: Humboldt e a linguística, Wittgenstein e um conjunto de atividades, Husserl e um sistema de sinais reinterpretáveis, Heidegger e a analítica existencial.
O capítulo, Ética, educação e sociedade: o elo indissolúvel, pelo próprio título demonstra no tema central sua necessidade de analisar o agir humano que exige uma postura crítica. O autor explicita as relações entre ética e moral, ética e pós-modernidade, ética e educação e a escola e a educação moral. Contudo, percebo como foco principal desse capítulo, o estudo das teorias éticas, entre elas as da tradição ocidental e as tendências das teorias contemporâneas. Resumidamente, porém de forma clara, expõe a ética das virtudes, de Platão; a ética do dever, de Kant; e a ética consequencialista, de Bentham e Mill dentro das teorias tradicionais.
Nas tendências das teorias apresenta o discurso, de Habermas e Apel; a alteridade, de Levinas e Ricoeur; a responsabilidade, de Hans Jonas; a finitude, de Heidegger; a imanência, de Deleuze e Guattari; o cuidado de si, de Foucault; a autenticidade de Charles Taylor; e a justiça de Rawls.
No quinto capítulo, A gênese da biopolítica: vida nua e estado de exceção, é estabelecida uma relação entre vida e política por meio de quatro subitens. Vida, poder e biopolítica trata da vulnerabilidade da vida e do poder exercido sobre a vida das pessoas, traz um pouco de história para mostrar que as transformações sociais não acontecem de forma rápida. Vida nua e homo sacer analisa as diferenças entre vida animal e humana refletindo sobre pensamentos e atitudes. A política como uma ética trata da rede proposta pelas relações entre filosofia, ciência, ética e política sugerindo que “a função da biopolítica é a de recolocar a vida biológica no centro dos cálculos do Estado moderno” (p. 73). O bando e o campo de concentração, diz que “a política é a passagem do viver para o viver bem” (p. 74) refletindo sobre o conceito de “bando” e usando o termo “campo” a partir da realidade dos campos de concentração nazistas. O autor nos remete a pensar sobre consciência como tarefa da filosofia e da ciência.
O artístico e o estético: dimensões entrelaçadas é o capítulo em que afirma a necessidade de relação entre os dois conceitos. Inicia com uma revisão histórica para propor pensar sobre o estético e o artístico, o estético e o ético, o artístico e o técnico, a metafísica do belo e a vivência da arte e do belo. Qual o significado de arte, de beleza, de estética, se “o próprio ser humano traz consigo um rastro de mistério” (p. 90). Sugere um pensar de forma diferente os conceitos e remete a analisar conflitos e relações entre o natural e o artístico.
Para finalizar, Filosofia e Literatura: traços comuns e diferenças, traz aproximações e distanciamentos entre os textos filosóficos e os literários.
Analisando especificamente a linguagem escrita, Paviani trata filosofia e literatura como realizações autônomas e distintas ressaltando suas especificidades. O filósofo, o escritor e o texto é o tópico que analisa as diferenças entre as formas de escrita que podem identificar o tipo de texto. Traços literários na obra filosófica e traços filosóficos na obra literária são os títulos que analisam as características de cada tipo de obra. Estilo e filosofia mostra que o escritor tem forma de escrever e de se expressar, assim a linguagem usada estabelece seu modo de pensar.
A prosa do mundo fala do livro inacabado de Merleau-Ponty; com o mesmo título, o autor “mostra que o escritor se concebe numa linguagem estabelecida” (p. 101).
Uma introdução à Filosofia é um livro bem escrito e com uma linguagem clara como é apontado pelo autor que essa forma de comunicação deve ser. Demonstra coerência entre o texto escrito e o conteúdo apresentado.
Segue uma sequência na relação que estabelece entre os conceitos fundamentais e as sistematizações do conhecimento. A obra traz, como indica o título, uma introdução ao estudo da Filosofia sem aprofundar qualquer questão. Contudo, indica as diversas possibilidades de aprofundamento sugerindo as interligações entre as formas de pensar o conhecimento. Por isso, o texto pode ser endereçado aos leitores que tenham interesse nesse saber que ganha espaço no meio educacional e na forma de pensar a pesquisa científica.
Para concluir, trago o pensamento descrito pelo professor Paviani que, para entender o saber humano é preciso estudar filosofia e para isso é necessário ler os clássicos. Com certeza, isso é fundamental. Contudo, nessa obra o autor alcançou seu objetivo, descrito na apresentação: “abrir as portas ao leitor para que ele perceba a riqueza de aspectos desse saber teórico, distinto do saber comum vizinho da ciência e da tecnologia” (p. 7). A partir de Uma introdução à Filosofia, o leitor se lançará num emaranhado de questões que lhe encaminharão a novas buscas. As portas se abriram, vamos entrar…
Maria Inês Tondello Rodrigues – Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado em Educação, da Universidade de Caxias do Sul, com pesquisa na Linha de História e Filosofia da Educação. Possui Licenciatura em Pedagogia e Especialização em Educação de Jovens e Adultos – EJA, ambas pela Universidade de Caxias do Sul. Endereço postal: Programa de Pós-Graduação em Educação Universidade de Caxias do Sul Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 – Cidade Universitária 95070-560 Caxias do Sul, RS, Brasil.
Veritas
Veritas – Revista de Filosofia da PUCRS (1995) é a primeira revista da instituição, criada em 1955. Inicialmente, era Revista da Universidade, tornando-se, com o passar do tempo, a Revista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.
Atualmente, é a revista do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, indexada nos principais sistemas, nas plataformas e bases de dados nacionais e internacionais. Sua periodicidade é quadrimestral e recebe colaborações na área de Filosofia, segundo a temática do respectivo número, e contribuições interdisciplinares.
Veritas é uma ublicação de pesquisas em Filosofia e em áreas interdisciplinares que contribuam para a reflexão contemporânea, bem como para o aperfeiçoamento do processo de pesquisa e a divulgação científica, tendo em vista a criação de redes de conhecimento entre instituições de pesquisa e comunidade acadêmica a serviço da sociedade.
ISSN 1984-6746
Acessar resenhas publicadas em Veritas