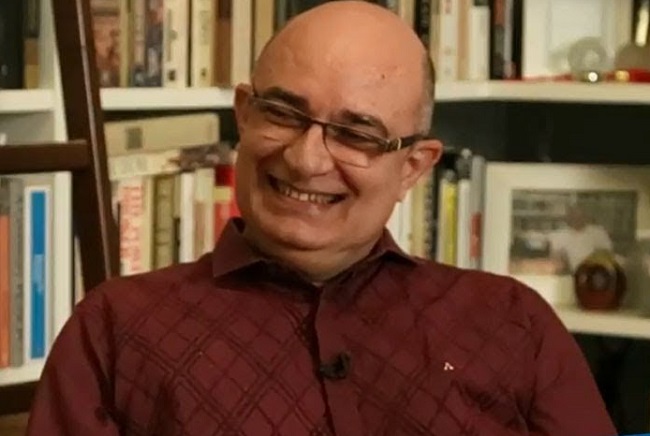Posts com a Tag ‘Textos de História (THr)’
História: a arte de inventar o passado | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
Durval Muniz Albuquerque Jr. Foto: TV Afiada /
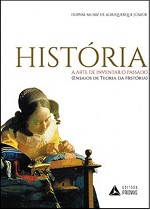 O livro História: A arte de inventar o passado, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, é a reunião de 16 artigos do autor sobre a escrita da história, ou mais precisamente, sobre o ofício do historiador na contemporaneidade.
O livro História: A arte de inventar o passado, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, é a reunião de 16 artigos do autor sobre a escrita da história, ou mais precisamente, sobre o ofício do historiador na contemporaneidade.
O livro foi dividido em três partes: na primeira parte, o autor estabelece as relações da história com a literatura e o lugar (ou lugares) que os mesmos ocupam; na segunda parte, dedica-se a refletir sobre as idéias de Michel Foucault e sua pertinência para o trabalho historiográfico e na terceira parte, Durval agrupou seis ensaios, que embora tenham temas diferentes, têm como eixo a reflexão sobre a escrita (ou escritas) da história.
O autor abre o livro com uma belíssima introdução na qual primeiramente fala da recorrência cada vez maior da palavra invenção em várias áreas do saber e de como essa assinala uma mudança paradigmática. A partir daí, o autor estabelece uma analogia entre o ofício do historiador e “a terceira margem do rio”1 do conto de Guimarães Rosa. Segundo Durval, entre as celeumas criadas em torno da História Social versus História Cultural, localizando a História Social ao lado da materialidade, da objetividade, da realidade do fato histórico e a História Cultural ao lado do simulacro e do discurso, o historiador, com a ajuda da literatura, deveria se posicionar em uma terceira via, uma terceira margem. Leia Mais
Diário da Campanha Naval do Paraguai / Manuel C. Rocha
O diário cuja resenha ora apresentamos, o qual abrange o período de 08 de fevereiro a 31 de dezembro de 1866, é de autoria do Capitão-Tenente Manuel Carneiro da Rocha, que pertenceu ao Estado-Maior do Vice-Almirante Joaquim Marques Lisboa, conhecido como Visconde de Tamandaré; ambos foram combatentes na Guerra do Paraguai (1864-1870), evento que envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai.
A Guerra do Paraguai foi um momento específico da história nacional no qual um inimigo externo, mas também forjado, colaborou em certa medida para a valorização de qualidades e atributos, tais como: coragem, bravura e heroísmo. Os estímulos para a luta foram criados em função do embate contra um adversário que se mostrava aos olhos do governo imperial como desumano e cruel.
Os diários e memórias escritos durante a Guerra do Paraguai (1865- 1870) são ricas fontes para a interpretação da identidade nacional brasileira no século XIX, revelando condutas e comportamentos dos homens da Esquadra brasileira em luta contra o Paraguai. Ao investigá-los, nos deparamos com a instigante discussão sobre as múltiplas manifestações, representações e apropriações do conceito tempo. As fontes informam não somente o desenrolar do tempo histórico (cronológico), mas, também, atrelam o tempo da natureza à lógica e ao desenrolar dos combates.
Manuel Carneiro da Rocha nasceu na Bahia em 1833. No ano de 1865 é nomeado ajudante-de-ordens do comandante em Chefe da esquadra em operações no Rio do Prata. É destacado para o comando da embarcação Itajaí, em 1866, sua missão: organizar expedições de reconhecimento ao Alto do Rio Paraná. Em 1889, é promovido ao posto de Contra-Almirante, dirigindo a Escola Naval no anos de 1890 a 1892; vinculado ao Quartel-General da Marinha com o posto de Vice-Almirante. Seu falecimento deu-se em 1894.
O Diário de Campanha Naval do Paraguai: 1866 apresenta uma introdução e algumas anotações do Capitão-de-Mar-e-Guerra, Lauro Nogueira Furtado de Mendonça, que sintetiza os temas e os objetivos de Manuel Carneiro da Rocha ao descrever os acontecimentos vistos durante as contendas navais do conflito platino.
Lauro Nogueira ressalta a importância destas memórias para o estudo da guerra: as idas e vindas das embarcações; o tratamento nem sempre eficaz aos enfermos e feridos; a luta feroz dos homens contra as intempéries da natureza. Manuel Carneiro evidencia as tensões e as angústias dos combates, a ansiedade das esperas e o desencontro das informações; reforçando o combate às chatas paraguaias, espetáculo nem sempre tranqüilo do estrondar dos canhões, a tristeza pela perda de amigos e companheiros de guerra. Ou seja, seu Diário colabora para a enunciação dos elementos cotidianos do conflito, se convertendo em rica documentação para a análise dos encaminhamentos históricos da Guerra do Paraguai.
Além da descrição e comentários das fainas executadas nos rios paraguaios, Rocha apresenta alguns dados estatísticos relativos aos alcances de alguns tipos de canhões utilizados pelos navios brasileiros, três mapas com o número de combatentes mortos, feridos e extraviados durante a primeira quinzena do mês de abril de 1866. Há também uma listagem das embarcações utilizadas durante o período de sua atuação na guerra.1 O diário descreve a atuação da Marinha na guerra durante o período de 08 de fevereiro a 31 de dezembro de 1866. Os escritos de Manuel Carneiro contêm informações de cunho privado, detalhes sobre a composição e organização da Esquadra, além da descrição minuciosa do cotidiano naval no decorrer do período relatado. Sendo assim, esta fonte apresenta uma série significativa de elementos sociais, econômicos, políticos e culturais pertinentes para o entendimento de alguns rumos históricos da Guerra do Paraguai (1864-1870).
Vale ressaltar que a interpretação desta fonte se apóia sobre dois patamares analíticos. Em primeiro lugar, tentar perceber a fronteira que sugere a união entre duas dimensões temporais: do tempo histórico e do tempo natu relações sociais cotidianas que pareciam fomentar atitudes e comportamentos específicos.
Ao indicar a convivência entre o tempo cronológico (guiado pela história) e o tempo natural (orientado pela ação da natureza), devemos considerar as facetas das experiências que envolvem o próprio conceito de tempo e como a fonte pesquisada apresenta a relação entre estas dimensões e como os atores sociais as recepcionaram.
Manuel Carneiro da Rocha indica a importância que as manifestações da natureza tinham para a tripulação dos navios em guerra. O autor não parece dissociar os acontecimentos históricos da lógica natural, indicando a possível força com que a natureza interferia nas experiências vividas no front.
O tempo histórico desenrolava-se e incidia sobre a vida dos combatentes, direcionando condutas a partir dos sentidos e ações que a guerra ia ganhando.
A longa duração do embate competiu para a adoção de comportamentos e atitudes no interior dos navios. Como exemplo, as reclamações contra a longevidade e insalubridade dos combates e a presença constante de doenças geravam certo desânimo entre os embarcados.
A descrição do quadro natural e dos significados que a natureza atribuía à vida dos tripulantes foi preocupação constante do capitão Rocha. As condições climáticas e a relação que os combatentes navais estabeleciam diariamente com a natureza se transformaram em tema presente em quase todos os dias relatados pelo autor do diário.
A natureza parecia interferir de maneira significativa sobre o dia-a-dia dos embarcados. Manuel da Rocha utiliza-se de linguagem metafórica para descrever as condições climáticas da noite de 21 de fevereiro de 1866, comparando as alterações do tempo natural a uma rajada de balas, no prenúncio, considerado perigoso, de chuva intensa. Para tanto, os combatentes colocaramse de prontidão em posições de luta, pois as intempéries naturais, de acordo com Rocha, eram consideradas inimigas dignas de respeito.
Nossa fonte foi elaborada a partir do uso de linguagem específica e recorrente entre os pares da Marinha brasileira durante o conflito. A linguagem se convertia em fator de comunicação e parecia agregar alguns homens em torno de elementos comuns e da construção de espaços compartilhados.
A linguagem cotidiana utilizada pelos combatentes navais foi constitutiva das relações sociais estabelecidas a bordo dos navios. As “maneiras de falar” acumulavam experiências históricas elaboradas com o intuito de diferenciar aspectos da corporação Marinha de outros segmentos sociais. A linguagem maruja fornecia arcabouços concretos para a possível construção de uma identidade marinheira que se fazia considerando um corpo lingüístico peculiar.
A especificidade da linguagem usada pelos profissionais da Marinha brasileira no front evidencia-se ainda mais com os vocábulos que serviam para caracterizar o meio ambiente e a natureza que os circundava. O relacionamento dos homens da Esquadra com o tempo natural mostrava-se marcante e freqüente.
As relações sociais estabelecidas nos espaços cotidianos também pareciam considerar a proximidade dos homens do mar com as lógicas naturais.
Tal cenário aparece nos escritos de Manuel Carneiro da Rocha quando descreve as bruscas mudanças climáticas ocorrida nos rios platinos. Num primeiro momento, tendemos a direcionar as análises afirmando que o clima se converteu em empecilho dificultador das ações a bordo, pois parecia abater os ânimos dos embarcados. O autor do Diário não apresenta indícios claros de que as reviravoltas naturais realmente pudessem ocasionar grandes perdas e derrotas.
Manuel Carneiro da Rocha descreve a necessidade de uma embarcação buscar carne em terra como o objetivo de alimentar a guarnição do navio.
Apesar da “trovoada”, os tripulantes ignoraram os avisos da natureza e procuraram cumprir a missão que lhes foi atribuída, apesar do espanto revelado pelo autor que por vezes estranhava a escuridão do céu e a quantidade significativa de chuvas que acometiam a região.
Importante notar que as dificuldades impostas pelas ações da natureza no ambiente de luta chegam a gerar no autor uma predileção pelos estampidos dos canhões e pelo tilintar dos fuzis em detrimento aos sons causados por raios e trovões. Neste momento, Manuel Carneiro indica uma dose de pessimismo com relação aos rumos que a guerra ia trilhando.
Além dos altos índices de chuvas, o diário de guerra apresenta a preocupação de seu autor com a hidrografia da região platina. O espaço fluvial paraguaio se mostrava inadequado à navegação dos navios brasileiros; os mesmos possuíam grande calado e não foram bem adaptados para atuarem em rios. Novamente, nosso narrador aponta algumas queixas com relação ao cenário natural durante os combates. Desta vez, o motivo registrado gira ao redor das poucas condições de navegabilidade dos rios do Prata.
Além dos altos índices de chuvas, o diário de guerra apresenta a preocu pação do seu autor com as características dos rios platinos. O espaço fluvial paraguaio se mostrava inadequado à navegação dos navios brasileiros, pois os mesmos possuíam grande calado e não foram bem adaptados para atuarem em rios. O narrador reitera queixas com relação ao cenário natural durante os combates. Desta vez, o motivo apresentado gira ao redor das baixas condições de navegabilidade dos rios platinos.
O diário analisado informa um detalhe logístico considerado por seu autor como imprescindível para o alcance do sucesso nas batalhas: a boa navegabilidade na região do conflito. Sendo assim, Manuel Carneiro da Rocha desejava que as chuvas aumentassem o volume das águas nos rios platinos, ma parecia torcer contra o excesso das precipitações climáticas que poderiam trazer problemas para os embarcados.
Vale reafirmar que os entrelaçamentos das manifestações naturais e dos comportamentos verificados a bordo dos navios podem ser refletidos a partir das relações sociais cotidianas, ou seja, diuturnamente eram criadas e/ou recriadas convivências, reciprocidades, desligamentos e afastamentos, considerando o ritmo diário que o evento guerra ia pouco a pouco adquirindo.
Nosso intuito com estas reflexões é contribuir para a análise da Guerra do Paraguai pautado no reconhecimento que o tempo da natureza e o tempo histórico andavam de mãos dadas e atuavam decisivamente nas tomadas de decisões de alguns atores históricos como é o caso do próprio Manuel Carneiro da Rocha.
Ao aventar o entrelaçamento do tempo natural com o tempo histórico na fonte analisada, gostaríamos de sinalizar para a construção de entendimentos específicos com relação à lógica temporal. O autor do diário insiste em comunicar a força com a qual a natureza orientava os feitos dos atores envolvidos nos embates. Na fonte pesquisada, natureza e história confundem-se, os guarnecidos percebem o desenrolar dos dias e das noites orientados pelos desígnios e “caprichos” naturais.
A tentativa deste labor foi alvitar reflexões sobre a Guerra do Paraguai (1864-1870) que possam contemplar matizes históricas múltiplas e variadas, não se atendo somente às descrições minuciosas de feitos militares e de batalhas.
A faina se faz em torno da exigência não menos audaciosa de vociferarmos o passado, de fornecer visibilidades aqueles ou aquelas que outrora foram silenciados e/ou emudecidos, numa atividade igualmente complexa de construção discursiva e plausível sobre a história, na qual apontamos nossas próprias e mais íntimas visões e apreciações sobre as experiências um dia vivenciadas.
Thiago Gomes de Araújo – Doutorando em História na UnB. Professor-Coordenador nas Faculdades IESA – DF.
ROCHA, Manuel Carneiro da. Diário da Campanha Naval do Paraguai: 1866. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da Marinha, 1999. 351p. Resenha de: ARAÚJO, Thiago Gomes de. Textos de História, Brasília, v.17, n.1, p.191-196, 2009. Acessar publicação original. [IF]
La insubordinación fundante: breve historia de la construcción del poder de las naciones / Marcelo Gullo
La insubordinación fundante, de Marcelo Gullo, é obra que se propõe original em pelo menos dois aspectos: a perspectiva analítica e a criação de conceitos. Para tanto, percorre a trajetória dos casos de sucesso no processo de desenvolvimento econômico e construção do poder nacional, desde o século XIV – Portugal, Espanha, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha, Japão e China –, em uma perspectiva periférica; e propõe novos conceitos para serem aplicados aos atuais países emergentes, principalmente o de umbral de poder. Nos últimos capítulos, o autor analisa a presença de novos atores no jogo político internacional e os desafios que se lhes apresentam na busca pelo desenvolvimento socioeconômico, e desenvolve análise prospectiva, incluindo a atual posição dos Estados Unidos no cenário internacional. Dessa forma, Gullo se lança em um estudo de caráter multidisciplinar, situado na interface da História Moderna e Contemporânea com a Economia Política e a Teoria do Desenvolvimento.
No prefácio do livro, Hélio Jaguaribe destaca que o conceito de periferia utilizado pelo autor apresenta duas dimensões, a de uma perspectiva e a de um conteúdo, ou seja, de um autor sul-americano que analisa as condições de possibilidade de um país periférico deixar de sê-lo. Ao longo do texto, a tese central – que todos os processos de crescimento comercial e/ou industrial exitosos resultaram da conjugação de uma atitude de insubordinação ideológica em relação ao pensamento dominante com um impulso estatal eficaz – é construída em perspectiva comparada. Aproxima-se, assim, de forma explícita, da interpretação cara ao neoestruturalismo econômico latino-americano referente às estruturas hegemônicas de poder e à necessidade de superá-las.
Na realização do duplo intento do autor, os dois primeiros capítulos, de natureza essencialmente teórica, discutem a teoria da subordinação e o conceito de umbral de poder. A teoria da subordinação considera que a igualdade jurídica entre os Estados é uma ficção e que as regras criadas no jogo do sistema internacional expressam os interesses das grandes potências, disfarçados na forma de princípios éticos e jurídicos universais. Para enfrentar as estruturas hegemônicas e as regras do jogo internacional, os países periféricos precisariam acumular recursos de poder e alcançar o umbral que se redefine a cada conjuntura histórica distinta. Por exemplo, Portugal e Espanha alcançaram o papel de pioneiros na expansão europeia dos séculos XV e XVI por intermédio da capacitação tecnológica, da vantagem estratégica (a opção por buscar outra rota para as Índias que não o Mediterrâneo) e do impulso estatal, com base na organização administrativa do Estado moderno e da racionalidade que o sustentava. Em linhas gerais, foi o mesmo processo seguido pelo Japão com a Revolução Meiji e com a China das últimas décadas do século XX e início do XXI.
Quanto ao conceito de umbral de poder, Gullo o conceitua como o quantum mínimo de poder necessário para se alcançar o desenvolvimento socioeconômico e a construção da potência, abaixo do qual cessa a capacidade de autonomia de uma unidade política. Em outras palavras, é o poder mínimo que necessita um Estado para não cair na subordinação, em um momento determinado da história. Os Estados que, historicamente, se transformaram em potência obtiveram em determinado momento o quantum mínimo de poder para atuar de maneira autônoma no cenário internacional e projetar o seu poder. Na verdade, do estudo aprofundado da história da política internacional se revela que, na origem do poder nacional dos principais Estados que conformam o sistema internacional, se encontra sempre presente o impulso estatal. Por impulso estatal entende o autor todas as políticas realizadas por um Estado para criar ou incrementar quaisquer dos elementos que conformam o poder desse Estado. Com efeito, o conceito de impulso estatal envolve todas as ações levadas a cabo por uma unidade política para estimular o desenvolvimento ou o fortalecimento dos elementos de poder nacional. O exemplo utilizado como paradigmático pelo autor foi a Lei de Navegação inglesa, de 1651, segundo a qual era permitido importar somente mercadorias transportadas em navios ingleses que estivessem sob comando inglês e cuja tripulação fosse de maioria inglesa. Assim, ao tratar da noção de impulso estatal, Gullo se aproxima nitidamente da corrente realista das relações internacionais, em diálogo indireto com o historiador Edward Carr e seus ensinamentos na obra Vinte anos de crise, publicada originalmente na conjuntura do início da Segunda Guerra Mundial.
Nos capítulos 3 a 9, são percorridas as experiências dos países bem sucedidos em seu processo de desenvolvimento, com a preocupação voltada para o momento no qual tais Estados decidiram pela insubordinação diante da ideologia predominante em determinada época e, por meio de forte ação estatal, envidaram esforços no sentido da construção do poder nacional. O mais importante exemplo contemporâneo de processo de construção do poder nacional é o da China que, a partir de Deng Xiaoping, iniciou uma mudança metodológica e, na visão do autor, não uma ruptura com o passado, na busca da construção – ou reconstrução – do poder da nação chinesa.
No caso da China, a ênfase da análise recai sobre a figura política de Sun Yat-Sen que, nascido em 1866, se converteu progressivamente, após a revolta nacionalista dos Boxers (1900-1901), na figura chave dos revolucionários chineses que lutavam contra a monarquia Manchú e na defesa da democracia e do fim da dependência chinesa em relação às potências estrangeiras.
A revolução contra a monarquia eclodiu em outubro de 1911 e, no início do ano seguinte, uma assembleia constituinte elegeu Sun Yat-Sen como presidente da nascente República da China. No entanto, o general pró-monarquia Yuan She-Kai, com um golpe de mão, provocou a renúncia de Sun Yat- Sen e assumiu o cargo de presidente.
Foi após esses episódios que Sun Yat-Sen desenvolveu um conjunto de concepções que afirmavam que uma revolução, para ser vitoriosa na China, precisaria da aproximação com operários, camponeses e com a burguesia nacional. Tais ideias orientaram, sob sua liderança, a fundação do Kuomintang – partido nacional e popular – que aspirava organizar uma frente única para a libertação da China, mas que enfrentou uma conjuntura interna politicamente caótica. Sun Yat-Sen faleceu em 1925 e deixou o Kuomintang firmemente organizado como um partido policlassista, dotado de um exército eficaz e reforçado pelos comunistas. Sua doutrina política, porém, encontrou terreno fértil para se desenvolver, tendo por base a ideia dos três princípios, utilizada pela primeira vez por Sun Yat-Sen em 1905 e significando a integração, em um mesmo projeto político e revolucionário, de suas teses sobre o naci que tais princípios devem ser adaptados a cada conjuntura histórica.
É nesse sentido que Marcello Gullo sustenta que a influência de Sun Yat-Sen chega a Mao Zedong e seus sucessores, sob o princípio da adaptação da teoria à realidade e não a realidade à teoria. A trajetória do modelo chinês de desenvolvimento, desde sua abertura no final da década de 1970, confirma a presença dos três princípios e revela extraordinária capacidade de adaptação a cada conjuntura histórica, além de um modelo planejado e gradual de desenvolvimento. Se até os anos noventa o governo chinês orientou a maior quantidade de capitais estrangeiros para a produção em setores intensivos em mão de obra, a partir de então, tratou de orientá-lo para os setores intensivos em capital e tecnologia. A nova estratégia ficou conhecida como desenvolvimento em paralelo, que consiste em desenvolver simultaneamente a indústria “tradicional” e a intensiva em conhecimento.
São esses exemplos de desenvolvimento econômico que, analisados em perspectiva histórica, podem auxiliar países emergentes, como os latinoamericanos, a encontrar seus próprios caminhos. Para tanto, Gullo sugere que líderes políticos, jornalistas especializados e estudiosos das relações internacionais na América Latina devem procurar ultrapassar a agenda, o debate e o vocabulário produzidos nos grandes centros de excelência acadêmica dos Estados Unidos. Significa pensar as relações internacionais desde a periferia latino-americana, para gerar ideias, conceitos, hipóteses e, certamente, um vocabulário próprio, capaz de dar conta da nossa própria realidade e dos nossos problemas específicos no sistema internacional. Na visão do autor, o pensar desde a periferia não deve levar à repetição das lamentações do passado, mas à ação no sentido da superação da condição periférica. Nosso debate teórico principal deveria ser cómo alcanzar el nuevo umbral de poder.
É justamente em sua análise prospectiva que Gullo deixa de contemplar o que tem sido o debate regional mais recente, voltado para a discussão em torno da existência ou não de consensos nacionais em relação ao tema do desenvolvimento e, no caso de resposta afirmativa, a discussão sobre os limites políticos enfrentados pela maioria dos países latino-americanos em seus esforços de desenvolvimento econômico e social. Gullo não aborda a questão das alternativas de desenvolvimento apresentadas por países como Bolívia e Equador, tomando o desenvolvimento econômico como um valor em si, principalmente quando o toma apenas como caso de crescimento e não de desenvolvimento em seu sentido amplo.
Outro aspecto a ser destacado é o fato de o autor não fazer referências a uma obra muitíssimo próxima da sua, o livro Chutando a escada, de Ha-Joon Chang (CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. São Paulo: Editora UNESP, 2004). Chang analisou a trajetória histórica de potências como a Grã-Bretanha e retirou dessas experiências algumas lições, principalmente a necessidade de se rever algumas das ideias fartamente divulgadas na década de 1990, como a de que os países em desenvolvimento têm que seguir as sugestões dos desenvolvidos, a de que devem fazê-lo porque é o desejo dos investidores internacionais e a de que há um “padrão mundial” de desenvolvimento institucional das nações.
O diálogo com Chang daria condições a Gullo de aprofundar a dimensão institucional do desenvolvimento, tanto nos aspectos que freiam o desenvolvimento dos países periféricos quanto na busca de alternativas.
Não obstante as observações acima, La insubordinación fundante – livro premiado em Buenos Aires como melhor livro de 2008 – é obra original que consegue cumprir os objetivos de sustentar uma visão sul-americana dos casos históricos de êxito no processo de desenvolvimento e de propor novos conceitos nos estudos sobre o desenvolvimento. Os conceitos de umbral de poder e de insubordinação fundante trazem, indubitavelmente, novo vigor ao tema do desenvolvimento latino-americano.
Carlos Eduardo Vidigal – Professor Adjunto do Departamento de História da Universidade de Brasília.
GULLO, Marcelo. La insubordinación fundante: breve historia de la construcción del poder de las naciones. Buenos Aires: Biblos, 2008. Resenha de: VIDIGAL, Carlos Eduardo. Textos de História, Brasília, v.16, n.2, p.307-311, 2008. Acessar publicação original. [IF]
Tan lejos de Dios… Ensayos sobre las relaciones del Caribe con Estados Unidos | Antonio Gaztambide-Géigel
Tan Lejos de Dios… é o instigante título do livro de Antônio Gaztambide, uma co-edição, lançada simultaneamente (2006) em Porto Rico e Cuba. O historiador, no prefácio, completa a expressão que dá nome ao conjunto de ensaios: “Tan lejos de Dios… y tan cerca de los Estados Unidos”.
A anedota política tem origem mexicana, onde era precedida de um lamento: “Pobre México…”. Difundida em outras sociedades, a expressão reflete a experiência caribenha em sua dimensão de região. A proximidade com o poderoso vizinho tem influência na dinâmica de identidades e trocas regionais, fato diretamente relacionado às definições de Caribe. Reside aí a maior originalidade da abordagem, pensar o Caribe como categoria histórica. O livro se desdobra, então, num duplo movimento, investigar as políticas norteamericanas para a região no contexto das contradições internas àquele país, e, desde um lugar de fala demarcado, nuestra región, nela descortinar relações políticas e simbólicas, com ênfase no século passado. Tarefa cumprida com a autoridade de quem, como educador e pesquisador acostumado a construir pontes entre insularidades, conhece muito bem aquelas águas.
O primeiro ensaio, “A invenção do Caribe a partir de 1898”, nos remete à questão das concepções colonialistas, desde afuera, mas também à apropriação e redefinição conduzida regionalmente, desde adentro. A invenção tardia do Caribe seria resultado de arrafjos naquela “fronteira imperial”, que culminaram na hegemonia estadunidense. Não que a palavra fosse nova, havia sido empregada já por Colombo, para distinguir etnias que ‘resistiam à conquista’ e depois por ingleses (caribby). Porém, Antilhas e West Indies eram as designações mais comuns em diferentes concepções da região até o século XX. A partir daí emerge o signo Caribe e, no sentido de suas múltiplas definições, é que Gaztambide nos sugere pensar em muchos Caribes.
Duas tendências são discutidas no viés geopolítico. A primeira marca o período da intervenção militar norte-americana, iniciada com a ocupação de Cuba, ao fim da “Guerra Cubano-Hispano-Estadunidense” (p. 214) e com a anexação de Porto Rico. Este Caribe, aceito por boa parte da historiografia, reunia a princípio as Antilhas (quatro ilhas maiores) e o continente, de Belize ao Panamá, e, depois de 1945, todo o Caribe insular. A outra tendência propõe pensar um Grande Caribe, com a presença de México, Colômbia, Venezuela, originada em parte por interesses intrarregionais, mas também desde afuera, como ilustra a “contra-ofensiva” dos EUA sobre a Cuenca del Caribe. De maior complexidade são as definições menos territorializadas, o Caribe “etnohistórico” e o “cultural”. Trata-se de relações entre as Antilhas, sobretudo as hispanófonas (Cuba, República Dominicana e Porto Rico) e as repúblicas das West Indies, antes colônias inglesas, neerlandesas ou francesas, sempre associadas às Guianas e a Belize. No interior de cada um desses universos e entre eles, a afirmação de uma identidade caribenha permanece coftroversa: basta indicar que para uma dúzia de tarritórios a descolonização sequer se completou.
Os ensaios “A geopolítica do antilhanismo de fins do século XIX” e “Identidades internacionais e cooperação regional no Caribe” ampliam o debate anterior, sem perder de vista que as palavras “estão carregadas de histórias e, portanto, de ideologias e discursos, de imaginários”. Somos apresentados ao pensamento republicano e antilhanista de Ramón Betances e Eugenio Hostos, nascidos em Porto Rico, e às idéias do poeta e revolucionário cubano José Martí; ambos lutaram pela emancipação de Porto Rico e de Cuba. A proposta de Confederación de las Antillas surgiria em manifesto pioneiro de Betances, de 1867, logo partilhada, com nuanças, por Hostos. De um antilhanismo concebido para Cuba, República Dominicana, Porto Rico e Haiti, caminhava-se para a categoria Hispano-América; tendiam a excluir o Brasil, uma monarquia escravista. José Martí propõe uma categoria particular, Nuestra América. Ele postula, a partir da rejeição de modelos sociais e raciais derivados das metrópoles, a independência política e econômica diante da Europa e dos Estados Unidos. Mais tarde, Martí teria uma práxis mais antilhanista, com a fundação do Partido Revolucionário Cubano, em 1892.
As relações internacionais entre Estados Unidos e Caribe são o tema dos demais ensaios. Gaztambide defende uma história internacional que transcenda os espaços governamentais e a diplomacia, incluindo “classes, interesses e grupos culturais e étnicos” que atravessam as fronteiras nacionais.
O terceiro e o quarto estudo situam essas relações a partir da irrupção dos EUA como potência colonial ultramarina no fim do século XIX, passando pela(s) Política(s) de Boa Vizinhança, até 1945. As resistências internas não conseguiriam impedir a ambigüidade de um discurso anticolonial acompanhado de freqüentes agressões aos países vizinhos, tais como as intervenções no Haiti (1915) e na República Dominicana (1916). A luta pelo poder econômico e político sobre o Caribe continuaria mesmo sob a face da Buena Vecindad. Poucos “tratados de reciprocidade” repercutiram, de fato, nas economias do Caribe, mas o governo de Roosevelt, a partir da entrada na segunda grande guerra, ampliou a cooperação cultural e militar, “aparentando apoiar um sistema formal de Estados iguais” (p. 127).
“Hacia una historia social de las relaciones latinoamericanas” e “Estados Unidos, la idea de desarrollo y el Gran Caribe”, por sua vez, são parte, como se anuncia, de um próximo livro: “Camino al Desarrollismo”. Constituem uma análise profunda dos embates no interior da elite que conduz a política exterior norte-americana, e da transição para o imperialismo hegemônico.
Os confrontos entre corporações predominantemente nacionais, de um lado, e a burguesia internacional do Nordeste dos EUA, mais voltada para as articulações multinacionais, de outro, refletiam posições diferentes quanto à industrialização do continente. Nessa época, vemos surgir a política do “Bom Sócio”, nome genérico que se dá a vários ajustes a partir da Guerra Fria, marcada pelo combate ao desenvolvimento independente e ao comunismo, que implicaram ora em intervenções abertas, ora em apoio encoberto a regimes ditatoriais. Também surgem iniciativas no sentido de construir um modelo de desenvolvimento periférico. O autor destaca aí a trajetória da Comissão Econômica para América Latina (CEPAL), criada em 1948. O segundo livro de Gaztambide, certamente, trará análises ainda mais valiosas sobre esses fenômenos, centrais para uma história contemporânea do Caribe.
Trata-se, por tudo isso, de leitura proveitosa para os estudiosos das relações internacionais e da história caribenha. Os historiadores brasileiros, mais acostumados a olhar o Caribe desde o Brasil,1 provavelmente sentirão falta da presença brasileira no cenário das relações internacionais abordado pelo autor. Particularmente, na discussão sobre o Caribe cultural, baseada na concepção de Charles Wagley de esferas culturais americanas. Uma dessas esferas, relativa às heranças da empresa açucareira escravista (plantation), em que se inclui o Brasil, é adotada no livro para fundamentar a definição do Caribe como “Afro-América”. Embora outros autores pensem o Caribe nessa dimensão ampliada, Gaztambide enfatiza que seu entendimento do Caribe cultural é como “Afro-América Central”: ao sul dos Estados Unidos e ao norte do Brasil, “porém sem incluí-los” (p. 53). A pesquisa histórica, de outro modo, vem revelando, cada vez mais, os “matizes caribenhos” (cf.Maria T. Negrão de Mello) de realidades brasileiras, no passado e no presente.
A perspectiva cultural será enriquecida, como penso, quando integrar o Brasil na compreensão desses muchos Caribes. Afinal, Tan lejos de Dios nos alerta para a impossibilidade de uma definição inequívoca de Caribe. O mais importante para fazer avançar o debate será o esclarecimento, em cada contexto, de que Caribe se está falando e por quê.
Notas
1 Refiro-me, especialmente, aos inúmeros diálogos entre o Brasil e o Caribe presentes em alguns livros recentes e na Revista Brasileira do Caribe, organizados pelo Centro de Estudos do Caribe no Brasil, com a participação de pesquisadores como Olga Cabrera, Jaime de Almeida e Maria T. Negrão de Mello, entre outros.
Alex de Oliveira – Doutorando do PPGHIS/UnB.
GAZTAMBIDE-GÉIGEL, Antonio. Tan lejos de Dios… Ensayos sobre las relaciones del Caribe con Estados Unidos. San Juan: Ediciones Callejón; La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, 2006. Resenha de: OLIVEIRA, Alex de. Tan lejos de Dios. Textos de História, Brasília, v.16, n.1, p.189-192, 2008. Acessar publicação original. [IF]
Camaradas, Clientes e Compadres. Colonialismo, socialismo e democratização em São Tomé e Príncipe / Gerhard Seibert
Aqui está um estudo sobre um pequeno país africano de língua portuguesa, pouco conhecido no Brasil. Apesar de em tempos idos termos tido uma relação bem forte com este arquipélago, hoje pouco sabemos sobre São Tomé e Príncipe. Sua história contemporânea traz em si uma vertente do que o mundo tem sido desde os tempos de extremadas bipolaridades estendendo-se à globalização atual. Estudar o arquipélago de São Tomé e Príncipe, nas suas experimentações do socialismo e, mais recentemente, de convívio com neoliberalismo, requer um estudo de grande fôlego. Ao estudar essas etapas da história são-tomense recente, o autor, Gerhard Seibert, se propõe analisar o curso da mudança política e seu impacto sócio-econômico.
E ele vai mais longe, focalizando especialmente a transição do socialismo de partido único ao chamado sistema pluripartidário. A intenção, diz Seibert, é avaliar essas mudanças à luz da cultura política local existente.
Para trilhar esse percurso o livro inicia com uma longa retomada da história remota, desde o período da abertura atlântica, com a chegada dos portugueses às ilhas. Como se deu a formação das suas populações e as suas diferenças em relação aos africanos continentais, são pontos cruciais para entendermos a peculiaridade são-tomense. Uma sociedade nascida mestiça, no fluxo das chegadas de africanos e portugueses. Quanto ao tipo de população branca que migrou para o arquipélago, com certeza não há grandes diferenças se comparada com aquela que foi para Angola, Moçambique e Guiné. Há uma grande semelhança com Cabo Verde, ambas são sociedades com pendor insular. Os são-tomenses, com um traçado social diferenciado entre forros, angolares, tongas, cabo-verdianos, constituem um painel de diversidade social no arquipélago. Todos, bem ou mal, foram confrontados com as formas de trabalho forçado nas plantações de açúcar primeiro, e cacau depois, nas fases diferenciadas do colonialismo português implantado no arquipélago.
O livro está sempre pontuado, ao caracterizar o arquipélago, pela comparação com as ilhas do Caribe em termos de população, comércio e situação política, resultando da comparação um menor desenvolvimento econômico e maior instabilidade política e social nas ilhas africanas.
Em julho de 1975 nasceu o Estado independente de São Tomé e Príncipe sob a presidência de Manoel Pinto da Costa, liderando o Movimento pela Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP). Mas a luta pelo poder dentro da cúpula do partido foi levando o modelo político para uma tendência radical socialista. Por outro lado, a manutenção da velha economia de plantação, agora gerida pelo Estado, apenas exacerbou as discrepâncias sócioeconômicas.
Antigos conflitos entre forros e trabalhadores das roças (grandes plantações) persistiram, fossilizando mais ainda as diferenças entre os forros e os trabalhadores migrantes africanos.
A atitude do Estado, investido de todas as funções que levariam à prosperidade ocupando o lugar de empresário de todas as atividades do país, não funcionou. A falta de pessoal com formação mínima para desempenhar os cargos administrativos justifica, junto com os demais fatores, o fraco desempenho econômico. Embora os direitos de todos fossem iguais, pondo fim à era colonial de cerradas barreiras socioculturais, restava ainda integrar as populações das plantações aos grupos citadinos, preferencialmente alocados nos cargos administrativos. A disputa pelos recursos do Estado por e posições dentro do Partido levou, cada vez mais, a um poder centralizado e ao encastelamento dos parentes e familiares do presidente nos principais postos de poder. Tudo isso mostrava a ineficiência organizacional e institucional do governo.
A ÉPOCA DA VIRADA
Depois de dez anos de regime de partido único, São Tomé e Príncipe inaugurou, entre as jovens nações africanas, o pluripartidarismo. A aproximação com o bloco de países ocidentais incluiu retomar o diálogo com os dissidentes do regime e a abertura da economia. Uma direção indispensável foi o projeto de “reajustamento estrutural”, um programa concebido pelo Banco Mundial e pelo FMI visando o desenvolvimento econômico para o período da década de 90. O governo são-tomense não alcançou as metas estipuladas pelos organismos internacionais. O autor enfileira uma série de razões: desde as debilidades institucionais e as expectativas por demais pretensiosas, até a cultura política do clientelismo, a corrupção endêmica, a escassez de pessoal qualificado. Tais razões, anota ele, podem explicar o fracasso dos governos sãotomenses na efetivação da prosperidade anunciada. Apesar da ajuda externa e dos empreendimentos de nações estrangeiras, que são propalados medidores dos organismos internacionais, o crescimento econômico real não aconteceu.
A população continua em estado de pobreza e o aumento da dívida externa é o fato mais concreto desde 1991. São Tomé e Príncipe continua a ser um país pobre com um Produto Interno Bruto de 41 milhões de dólares (dados de 1996).
Mas, se aquelas questões citadas acima explicam o fracasso dos empreendimentos para chegar à prosperidade em São Tomé e Príncipe, como explicar a presença desses mesmos fatores negativos por toda a África? Posso repetir aqui a pergunta de um embaixador africano em uma reunião de comemoração do dia da África na UnB: será que os africanos não se adaptaram à modernidade? Ou, indo mais longe, o que explicaria o fracasso do FMI e do Banco Mundial também em outros cantos do mundo, como a Rússia, Argentina e por toda África? O livro de Seibert não tenciona responder as estas perguntas, mas a outras de menor alcance, porém nem por isso de menor importância.
Ele procura a explicação da complexidade da crise desse país africano pela perspectiva da cultura política. Analisa a disputa partidária e a consistência de seus programas, o debate e o desempenho na campanha eleitoral, os tipos de candidatos, assim como as expressões políticas nos diferentes partidos. Chega a concluir que as diferenças são poucas e que “as relações patrono-cliente têm desempenhado um papel importante na disputa partidária”. Uma atitude personalista na política tem predominado no jogo da disputa pelo poder.
Assinala também, nesse campo, o quanto o fazer político em São Tomé e Príncipe ainda é uma atividade masculina, com um reduzido percentual de participação feminina.
Mas apesar disso, o cenário político mostra transições pacíficas e derrotas de candidatos com desempenho insatisfatório no teste das urnas.
A leitura deste livro permite um mergulho no universo africano e no mundo contemporâneo com suas questões candentes, e nos propõe repensar o nosso lugar na globalização.
Selma Pantoja – UNB, Universidade de Brasília.
SEIBERT, Gerhard. Camaradas, Clientes e Compadres. Colonialismo, socialismo e democratização em São Tomé e Príncipe. Lisboa: Veja, 2002. Resenha de: Pantoja, Selma. Textos de História, Brasília, v.16, n.1, p.185-187, 2008. Acessar publicação original. [IF]
Timor-Leste Por Trás do Palco / Kelly C. Silva e Daniel S. Simão
Publicado recentemente, o livro “Timor-Leste Por Trás do Palco – Cooperação Internacional e a Dialética da Formação do Estado” é ruma coletânea de textos produzidos por autores com as mais diversas formações e experiências na área de cooperação internacional, e produto do seminário internacional Cooperação Internacional e a Construção do Estado em Timor- Leste. O livro apresenta uma crítica às práticas da cooperação como instrumento de poder e de suas relações com as conjunturas históricas, poderes e culturais locais pré-estabelecidas, bem como os problemas decorrentes da atuação de diversas organizações na região.
Os autores organizadores possuem formação na área de antropologia, e realizaram uma intensa pesquisa de campo em Timor Leste. Algumas questões principais são lançadas ao longo da obra, e na tentativa de respondêlas, os textos trazem à tona as inúmeras facetas e os problemas derivados do campo da cooperação internacional e de sua atuação na reconstrução de um Estado.
Um das questões abordadas que instigam a reflexão do leitor é a atuação dos organismos internacionais no Timor-Leste, vista por algum tempo como exemplo fantástico de como uma cooperação internacional deve se dar, e que se transforma – a partir de uma crise militar – em um modelo de Estado fracassado. Essa é a idéia que a obra tenta refutar. Nenhum dos extremos deve ser tido como verdadeiro. Não se trata de um exemplo de perfeição, mas também não se trata de um modelo totalmente equivocado e implodido com tal crise. Os problemas, segundo alguns dos textos, são provenientes de dificuldades que estão presentes em qualquer outro tipo de atuação internacional, e os fatos acorridos não depõe contra toda uma construção positiva decorrente dos projetos empreendidos pelas organizações atuantes.
Ao identificar os problemas, o livro aborda questões fundamentais para a compreensão dos erros e acertos e porque não dizer, para correção e elaboração de novos projetos nas áreas de relações internacionais, política interna e externa, atuações militares – sobretudo da Força de Paz, com intensa participação brasileira – e projetos culturais na reconstrução de um Estadonação.
O livro, composto de vários artigos, é dividido em três partes. Na primeira delas, intitulada “Timor-Leste: passado, presente e futuro.”, procedeuse à uma análise do período que vai do início da ocupação colonial portuguesa até o acirramento da crise no país, passando diferentes momentos do longo período e principalmente pelos problemas causados pela exploração, pelos problemas das tentativas de descolonização, culminando com a crise militar e com a sua solução através da intervenção internacional.
Os portugueses estiveram presentes desde as conquistas do século XVI, de modo que, na reconstrução do país, tema principal do livro, torna-se imprescindível o papel da presença do passado colonial português, pois são inúmeros e importantes os laços estabelecidos entre a cultura portuguesa – bem como as influências intercontinentais inerentes a ela – e as populações locais.
Em 1975, a Indonésia anexou o Timor-Leste ao seu território. Como resistência, houve a formação de guerrilhas armadas e redes clandestinas de combate ao invasor, além da resistência diplomática formada por exilados na Austrália, Moçambique e Portugal. Em 1999 a Organização das Nações Unidas (ONU) propõe uma espécie de consulta popular para definir a anexação. Com resultado contrário, dá-se uma retirada em meio a massacres e a destruição de grande parte da estrutura física do país.
Em busca de uma solução, a ONU interveio através da UNTAET/ United Nations Transitional Administration in East Timor (Administração Transitória das Nações Unidas no Timor Leste), que incluía uma administração civil juntamente com uma força de paz, na tentativa de reconstrução e instauração de um governo autônomo. Além da ONU, outras organizações internacionais passaram a auxiliar neste processo, por exemplo, Banco Mundial, Banco de Desenvolvimento Asiático, Missões religiosas, ONGs, etc…
O segundo capítulo, sob o título “Timor-Leste e a cooperação internacional. Economia, política e administração pública”, é composto de artigos que remetem aos problemas da interferência externa nas questões econômicas e políticas do país, explicitando aspectos positivos e negativos de tal cooperação. São levantadas nessa parte, questões como o papel das instituições monetárias e bancárias, da jurisdição e outros campos da administração pública, além do modo como é tratada a educação e a cultura na reconstrução do país.
A interferência internacional no campo econômico, político, e sobretudo quando procura estabelecer um processo eleitoral, torna seu papel delicado.
Uma das autoras (organizadora) do livro, em entrevista ao Jornal Folha de São Paulo, afirmou que Portugal apoiava determinado candidato, ligado à FRETILIN, às eleições, enquanto os interesses australianos estavam destinados a outros candidatos.
Tal afirmação gerou desconforto em Portugal, e provocou a seguinte carta em resposta às afirmações da pesquisadora: “Li, com interesse, a entrevista hoje (10 de abril) concedida à “Folha de S. Paulo” pela Professora Kelly Silva, da UnB, a propósito do processo eleitoral em Timor- Leste. Sem querer retirar legitimidade à livre interpretação desenvolvida nesse texto sobre o posicionamento e motivações das diferentes forças em confronto, não posso deixar de discordar sobre a alusão que nela é feita ao papel de Portugal nesse contexto, e que o título escolhido sublinhou. O meu país tem demonstrado, ao longo de décadas, um empenhamento inquestionável, e unanimemente reconhecido, em favor do reforço das instituições democráticas timorenses. Isso pressupõe o natural respeito por quaisquer resultados que decorram do respectivo funcionamento. Procurar ligar a posição oficial portuguesa a qualquer facção política em Timor-Leste configura um processo de intenções que, em absoluto, rejeitamos, por não ter apoio em quaisquer factos concretos. Embaixador Francisco Seixas da Costa”1 As acusações não incluíam apenas Portugal, pois na mesma entrevista ela afirmou que havia claros interesses da Austrália em manter a fragilidade política no Timor, para facilitar a exploração de petróleo, bem como manterse em uma posição estrategicamente favorável do ponto de vista militar.
Não vem ao caso tomar uma posição em defesa de um dos lados. Porém, o que se assinala é que o envolvimento da comunidade internacional nas questões referentes ao país nem sempre são desvinculados de interesses econômicos e políticos. Daí a importância de uma regulação e verificação de um órgão superior quando se trata do problema da cooperação internacional.
Na terceira e ultima parte, intitulada “Construção do Estado”, são levantadas questões ideológicas relativas ao papel dos órgãos internacionais na reestruturação dos poderes e autoridades, e a publicação finaliza com uma série de discussões sobre a eficácia da cooperação concedida e as dificuldades enfrentadas pela comunidade internacional.
Apesar de ser uma coletânea com diferentes abordagens, o livro parece defender uma tese: a experiência no Timor-Leste não pode ser vista como um exemplo de extrema eficiência e eficácia, como foi divulgado e se sustentou por algum tempo, mas também não se trata de um total fracasso na formação do Estado através da cooperação internacional, como passou a ser visto após a crise militar. Trata-se, segundo os autores, de uma iniciativa com erros e acertos, com sucessos e insucessos, que devem ser analisados num contexto problemático que apresenta mudanças durante o processo de reconstrução do país. Outro ponto levantado está no fato do país ter grande diversidade cultural e conjunturas históricas específicas, o que torna o papel da cooperação internacional complexo e desafiador.
O livro aponta, não apenas nesta parte, mas em sua totalidade, para pontos positivos e negativos da cooperação internacional. Uma das críticas está no conflito idiomático que instalou-se no sistema judiciário do país. O anglo-saxão usado pela cooperação internacional passou a ter que conviver com o português e com o indonésio, além das dezenas de dialetos locais.
A cooperação internacional é vista como um instrumento político que interfere no destino político do país. Deve, portanto, ser analisada criticamente, pois ao invés de resolver problemas, corre o risco de gerar outros, maiores que os existentes, aumentando as injustiças, privilegiando grupos específicos em detrimento de outros. Ao analisar criticamente o papel de tal cooperação, não só em Timor Leste, mas em outros países, a leitura do livro sugere pensar em que medida ela ocorre de modo desinteressado e realmente comprometido com a reconstrução do país, ou seja, que aspectos a tornam um problema em certos campos de atuação.
Notas 1Carta enviada ao Jornal Folha de São Paulo e publicada também no site: http://timor-online.blogspot.com/2007_04_13_archive.html Acesso: 22 nov. 2007
Fabiano Luis Bueno Lopes – Doutorando em História na Universidade Federal do Paraná.
SILVA, Kelly Cristiane; SIMÃO, Daniel Schroeter. Timor-Leste Por Trás do Palco: Cooperação Internacional e a Dialética da Formação do Estado. Belo Horizonte: UFMG, 2007. Resenha de: LOPES, Fabiano Luis Bueno. Textos de História, Brasília, v.15, n.11/2, p.291-294, 2007. Acessar publicação original. [IF]
Bruxaria e Superstição num país sem caça às bruxas / José P. Paiva
As práticas mágicas no Brasil foram até agora bem pouco exploradas, o que não acontece com relação à Europa, onde o tema tem sido insistentemente trabalhado. Uma provável razão para isso pode ser encontrada no texto do Professor Pedro Paiva, da Universidade de Coimbra, que parte de uma problemática interessante: ele quer saber o porquê de em Portugal, apesar de encontrarem-se reunidas todas as condições para a deflagração de uma violenta “caça às bruxas”, esta efetivamente não ocorreu. C) problema colocado é ousado e interessante, sobretudo porque inverte expectativas alimentadas por tantos trabalhos historiográficos que enfatizam a violência deste processo em várias partes da Europa.
O estudo parte da constatação de que em Portugal houve “dezenas de milhar” de denúncias de práticas mágicas e supersticiosas consideradas ilícitas; que estas eram muito semelhantes às perseguidas no resto da Europa; que os Tribunais inquisitoriais, episcopais e régios tinham competência e meios para perseguir seus agentes (feiticeiros, bruxos, curandeiros); que os doutos conheciam bem a doutrina do diabolismo que inspirou grande parte da repressão às bruxas em outros contextos e que estes eram considerados os pré-requisitos necessários para que a eclosão da repressão aos agentes mágicos ocorresse, como de fato ocorreu na Europa Central e do Norte entre os inícios do século XVI e final do XVII.
Como o Brasil, à época, era simplesmente a América portuguesa, as respostas encontradas por ele para a brandura da repressão às práticas mágicas servem também para explicar o caso deste, apesar das peculiaridades da situação colonial.
Para ele, a brandura da repressão portuguesa pode ser localizada na confluência de uma série de fatores, dentre eles, a formação intelectual conservadora, de cunho Tomista, predominante ali, que não concedia ao diabo a relevância dada por outras tradições teológicas e que resultava em uma menor difusão e utilização dos tratados de demonologia. Este elemento seria responsável, porém, pela manutenção da forte crença em poderes sobrenaturais por um tempo maior, pois, até meados do século XVIII, não permitiu a penetração do pensamento científico, responsável pela consolidação de uma doutrina totalmente cética em relação à existência de fenômenos como a bruxaria.
Outro fator ao qual Paiva atribui importância seria o poder e solidez da Igreja, pois, em Portugal, esta não teria passado pelas crises vividas em quase toda a Europa durante o Antigo Regime. A tradição antijudaica também seria um fator explicativo, pois a canalização das atenções do principal agente repressor das práticas mágicas para as atividades dos cristãos novos teria reduzido a severidade para com estas. Ele realça ainda o esforço de evangelização, principalmente após Trento, voltado para as culturas populares. A Igreja portuguesa passou a editar com freqüência os catecismos, a colocar em prática as visitas pastorais recomendadas, a realizar missões, a estimular a confissão e a se preocupar mais com as prédicas dos sermões. Tudo isso passou a ser feito em um ritmo cada vez mais acelerado, além de passarem a ler, durante as missas, as normas inscritas nas Constituições diocesanas. Enfim, encetaram uma vasta campanha visando atender às recomendações feitas pelo Concilio de Trento.
O último aspecto considerado por Paiva como importante para explicar a brandura da repressão portuguesa, se localizava não nos inquisidores, mas nos próprios acusados, pois, segundo ele, para os rústicos era inconcebível realizar um pacto com o diabo e renegar o seu Deus, dois dos elementos indispensáveis à condenação à pena capital: a fogueira. Sua explicação para isto é de que a crença em Deus e a aversão ao Diabo estariam profundamente enraizadas na crença popular.
Paiva afirma que apesar de não ter havido caça às bruxas em Portugal, isso não significa que não tenha ocorrido “um controlo dos agentes de práticas mágicas”, resultando num número elevado de condenações. Para ele, a Igreja e a Inquisição, que se ocuparam destas questões, não as colocaram em posição central e as reflexões mais profundas produzidas sobre o tema versam sobre a doutrina do pacto diabólico, que em última instância, definia se a ação era herética ou não. A heresia era o que interessava e que definia a gravidade do fato.
Analisando o relativo ceticismo das elites intelectuais portuguesas ele diz acreditar que este “decorria de uma interpretação das limitações do poder do Diabo face à omnipotência divina” ao que “Juntava-se uma sensação de proteção divina e eclesial, face aos poderes do diabo e de seus aliados”. A conseqüência desta postura foi não ter surgido em meio às elites portuguesas reações de pânico e pavor tão comuns em outros países, o que ele atribui à confiança dos fiéis nos remédios que a Igreja disponibilizava para o combate destes males.
Um diferencial entre o que ocorria na Metrópole e o que se passava na colônia americana é que a cristianização ali já tinha alcançado um patamar de aceitação bastante elevado, apesar da imperfeição da catequese realizada até então.
A inexistência de luta entre duas concepções cristãs — popular e erudita – não exigiu um aprofundamento da pregação contra o demônio, coisa, aliás, colocada em prática de maneira muito freqüente na colônia para atemorizar os negros e índios e induzi-los a buscar remédio para sua salvação na doutrina da Igreja.
Apesar da perseguição aos mágicos não ter sido colocada como prioridade durante os séculos XVI e XVII, não tendo gerado, portanto, uma corrente persecutória muito acirrada em direção a eles, o assunto foi colocado sistematicamente em discussão pelos Editos da Fé. Esta colocação se devia à situação vivida em outros locais onde a insegurança foi maior devido à maior penetração da reforma protestante, gerando uma intolerância e uma severidade sem limites e onde os soberanos encontravam resistências à implantação de seu poder.
A crença na existência e presença de bruxos, feiticeiros, curandeiros e supersticiosos, em Portugal, é comprovada pelo número de denunciados por essas práticas ao Santo Ofício, indicando a incidência da mentalidade ligada ao sobrenatural e às explicações mágicas do mundo vigentes no restante da Europa e territórios freqüentados pelos europeus. O que muda é a relaüva tranqüilidade com que as autoridades reagiam a elas, deixando sem investigação e castigo uma parte considerável das pessoas denunciadas.
Apesar da brandura, lembra Paiva, alguns momentos de pico podem ser observados com relação à repressão às práticas mágicas em Portugal. Observa que a partir de 1620 passa a haver um interesse maior por estes casos, resultando em uma elevação do ritmo de repressão, mas que após a Restauração ele teria sido estancado.
Aponta ainda dois outros momentos de intensificação: um instalado a partir de 1680 e outro a partir de 1710, este mais voltado para a repressão de curas supersticiosas. De acordo com os dados de sua pesquisa (ele trabalhou o período compreendido entre 1600 e 1774), a maior parte dos mágicos processados pelo Santo Ofício era de origem rural e as principais acusações que pesavam sobre eles eram de práticas curativas e, em menor escala, de malefícios. Os de origem urbana, minoritários, eram normalmente acusados de inclinar vontades e adivinhação.
Em decorrência destes dados o autor se lançou à análise microscópica de uma paróquia rural: São Martinho do Bispo, passando pelo levantamento de dados geográficos e econômicos da localidade, por uma tentativa de reconstrução do cotidiano daquela aldeia e fechando com uma tentativa de análise da dinâmica de uma acusação de bruxaria. Apesar de ser um capítulo que se propunha a dar uma idéia do padrão dos locais onde casos de bruxaria poderiam ter eclodido, não se localiza nele o ponto forte do livro. Seu maior mérito é o de encontrar uma explicação plausível para a convivência relativamente pacífica, ocorrida em Port ugal, entre uma legislação altamente repressiva e uma ação relativamente benevolente de todas as instâncias que possuíam foro sobre a questão – inquisitorial, eclesiástica e real — com relação aos agentes de práticas mágicas.
Helen Ulhôa Pimentel – Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).
PAIVA, José Pedro. Bruxaria e Superstição num país sem caça às bruxas. 1600- 1774. 2a ed. Lisboa: Notícias, 2002, 397p. Resenha de: PIMENTEL, Helen Ulhôa. Textos de História, Brasília, v.14, n.1/2, 2006. Acessar publicação original. [IF]
Ganarse el cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en Colômbia / Luis J. O. Mesa
O grupo de pesquisa Religión, Cultura y Socieáad, criado em 1998 em Medellín quando ali se realizou o X Congresso de História da Colômbia, propõe-se pensar historicamente os problemas da sociedade colombiana segundo padrões universais de conhecimento, partindo de perspectivas culturais, com ênfase nas manifestações religiosas. Considerando que as guerras e a Igreja Católica constituem duas chaves decisivas para a compreensão histórica, como fatores de longa duração operando no centro da lenta, gradual e violenta formação nacional do país, o grupo criou a linha de pesquisa “Guerras civis, religiões e religiosidades na Colômbia, 1840- 1902”. Ganarse el Cielo… é parte e resultado de uma série de atividades acadêmicas de pesquisadores colombianos e estrangeiros, privilegiando abordagens voltadas para as sociabilidades, vida cotidiana, iconografia, literatura, educação, memórias, recrutamento, eleições e formas de religiosidade, e indagando de que maneira indivíduos e grupos sociais viveram esta longa seqüência de guerras civis, como participaram, como as interpretaram, escreveram e representaram.
No preâmbulo, Diana L. Ceballos Gómez pergunta: por que a Colômbia parece irremediavelmente mergulhada no conflito? Por que, pelo menos desde o último quarto do século XIX, aí ocorre o emprego desmedido da força, dos meios políticos violentos, contrastando com a relativa estabilidade da maior parte dos países latino-americanos? Por que a violência parece ser o sangrento fio condutor da história colombiana? Após resenhar várias tentativas de resposta a tais angustiantes questões, Diana Ceballos indica a tipologia das guerras civis proposta por Peter Waldmann e Fernando Reinares como um instrumento a ser levado em conta.1 Entre 1830 e 1902, houve em território colombiano 9 grandes guerras civis generalizadas e 14 guerras localizadas; e, desde o assassinato do dirigente liberal Jorge Eliecer Gaitán, em abril de 1948, há guerrilhas em atividade no país.
No primeiro capítulo, “Guerras civiles e Iglesia católica en Colômbia en la segunda mitad dei siglo XIX”, Luis Javier Ortiz Mesa sistematiza teorias e concepções da guerra e da guerra civil, faz um balanço dos estudos sobre guerras civis e Igreja na formação da nação colombiana, e conclui com uma interessante comparação entre duas maneiras de fazer a guerra, contrapondo as regiões do Cauca (capital: Popayán) e Antioquia (capital: Medellín). As guerras civis e a intolerância religiosa foram fatores de polarização entre os colombianos e de exclusão de aspirações de grupos sociais cujos projetos de vida (“comunidades vividas”, cf. Eric Van Young2) não foram incorporados na formação das “comunidades imaginadas” pelas elites; mas, contraditoriamente, assim mesmo foram duas chaves de construção e integração do Estado e da Nação. A guerra é destruição, mas também é simultaneamente construção,3 e é festa de morte e de vida: Festa da comunidade finalmente unida pelo mais entranhado dos vínculos, o indivíduo finalmente dissolvido nela; capaz de dar tudo, até sua vida. Festa de poder-se afirmar sem sombras e sem dúvidas diante do inimigo perverso, de crer ingenuamente ter a razão, c de acreditar ainda mais ingenuamente que podemos dar testemunho da verdade com o nosso sangue.
A comparação entre os modos de fazer a guerra no Cauca e em Antioquia é particularmente interessante. Popayán, berço dos célebres caudilhos rivais Tomás Cipriano de Mosquera e José Maria Obando, foi o foco mais ativo das guerras civis até 1876, quando passam a triunfar na guerra os conservadores apoiados no modelo político da Regeneração e na profissionalização do exército. No Cauca, centro da mineração de ouro no período colonial, em crise desde a segunda metade do século X V I I I , a quebra dos laços de sujeição dos escravos e dos índios, a desarticulação do eixo hacienda-mina, a fragmentação regional — ascensão de Cali, proliferação de novos municípios no Vale do Cauca, expansão das fronteiras internas – favoreceram a emergência da guerra como meio de vida para muitas milícias de gente subalterna dispostas a acompanhar velhos ou novos caudilhos, geralmente de corte liberal. A sociedade antioquenha, com grupos de intermediação mais amplos e dotados de melhores condições econômicas e sociais (garimpeiros, pequenos e médios comerciantes, tropeiros, rede escolar mais extensa), era mais coesa e sua composição socio-racial mais homogênea que a caucana; seus circuitos comerciais articulavam eficazmente a mineração, a agricultura e a pecuária. Aí predominaram o conservadorismo, a Igreja e a família nuclear, e a guerra se fazia somente até certos limites, evitando-se maiores riscos de devastação, saques e endividamento.
No segundo capítulo, “La Constitución de Rionegro y el Syllabus como dos símbolos de nación y dos banderas de guerra”, Gloria Mercedes Arango de Res trepo e Carlos Arboleda Mora examinam o liberalismo radical da Constituição de 1863 e o integrismo do Syllabus do papa Pio IX, de 1864, como as duas modalidades possíveis de construção do Estado-Nação e da modernidade na Colômbia do século XIX: nação-cristandade ou nação liberal; modernidade tradicionalista, teocêntrica, controlada pelo clero, ou modernidade liberal, antropocêntrica, autônoma e legalmente ordenada. As divergências acerca da liberdade religiosa, do casamento civil, da presença dos jesuítas, da tutela estatal dos cultos, da desamortização, da educação laica, etc, começam com a independência, radicalizam-se no período 1861-1885 (separação entre a Igreja e o Estado) e quase silenciam por muitas décadas a partir de 1886/1887 (Regeneração e Concordata). A Colômbia vive ainda hoje sob o peso opressivo de um imaginário social extremamente belicoso, difundido pelos órgãos de imprensa do século XIX, que estigmatiza e exclui o opositor, tomado não como adversário, mas como um inimigo a abater.5 Também aqui, a comparação entre Antioquia e o Cauca é muito elucidativa.
Diana Luz Ceballos Gómez analisa, no capítulo 3, a iconografia colombiana das guerras civis do Oitocentos, dialogando com a perspectiva antropológica de Jack Goody sobre a imagem.’ Um CD-Rom com um conjunto precioso de imagens e de mapas históricos acompanha o livro. Juan Carlos Jurado Jurado trata de “Soldados, pobres y reclutas en Ias guerras civiles colombianas” e “Ganarse el cielo defendiendo la religión. Motivaciones en la guerra civil de 1851”. Seguem alguns estudos de caso sobre a guerra de 1876: Margarita Árias Mejía, “La reforma educativa de 1870, la reacción dei Estado de Antioquia y la guerra civil de 1876”; Paula Andréa Giraldo Restrepo, “La percepción de la prensa nacional y regional de Ias elecciones presidenciales de 1875 y sus implicaciones en la guerra civil de 1876”; Gloria Mercedes Arango de Restrepo, “Estado Soberano dei Cauca: asociaciones católicas, sociabilidades, conflictos y discursos político-religiosos, prolegómenos de la guerra de 1876”; e Luis Javier Ortiz Mesa, “Guerra, recursos y vida cotidiana en la guerra civil de 1876-1877 en los Estados Unidos de Colômbia”.
A última guerra civil do século X IX (1899-1902), conhecida como a Guerra dos Mil Dias, é abordada pelo viés das memórias publicadas por ex-combatentes em duas conjunturas distintas (início do século, conservador; anos 30, hegemonia liberal) por Brenda Escobar Guzmán. Ana Patrícia Ángel de Corrêa apresenta “Actores y formas de participación en la guerra vistos a través de la literatura”; Gloria Mercedes Arango de Restrepo destaca “Las mujeres, la política y la guerra vistas a través de la Asociación dei Sagrado Corazón de Jesus. Antioquia, 1870- 1885”. O volume se completa com um ensaio de Carlos Arboleda Mora sobre o pluralismo religioso na Colômbia.
Esta obra coletiva do grupo de pesquisa “Religión, cultura y sociedad” de Medellín, sobre a religião e as guerras civis do século X IX colombiano, é mais uma indicação da excelente qualidade da historiografia colombiana contemporânea, que acompanha as inquietações das demais disciplinas das ciências humanas e de toda a sociedade a propósito do problema crônico da violência. Além de Bogotá, que concentra o maior número de cursos universitários, pesquisadores e editoras, a historiografia acadêmica produzida em três capitais de departamentos: Medellín, Barranquilla e Cali, se destacam com maior visibilidade e merecem melhor divulgação no exterior. Sem maior espaço para prolongar esta resenha, cabe assinalar que os autores de Ganarse el cielo têm o privilégio de contar entre seus modelos de vida (e não somente de trabalho intelectual) com dois brilhantes historiadores precocemente desaparecidos: Germán Colmenares (1938-1990) e Luis Antônio Restrepo Arango (1938-2002).
Notas
1. WALDMANN, Peter e REINARES, Fernando (orgs.) Sociedades en guerra civil. Conflictos violentos de Europa y América Laúna. Barcelona: Paidós, 1999.
2. VAN YOUNG, Eric. Los sectores populares en el movimiento mexicano de independência, 1810-1821. Una perspectiva comparada, em URIBE URÁN, Victor Manuel e ORTIZ MESA, Luis Javier, (orgs.), Naciones, gentesj territórios. Ensayos de historia e historiografia comparada de América Latina y el Caribe. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2000.
3. Esse tema é tratado em detalhe no capítulo 10 por Luis Javier.
4. ZULETA, Estanislao. Elogio de la dificultady otros ensayos. Cali: Sáenz Editores, 1994.
5. V. a este respeito ACEVEDO CARMONA, Darío. La mentalidad de Ias elites sobre la violência en Colômbia (1936-1949). Bogotá: El Âncora, 1995.
6. GOODY, Jack. Contradicciones j representaciones. La ambivalência hacia Ias imágenes, el teatro, la ficción, Ias relíquias y la sexualidad. Barcelona: Paidós, 1999.
Jaime de Almeida – Universidade de Brasília
ORTIZ MESA, Luis Javier et ai. Ganarse el cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en Colômbia, 1840-1902. Medellín: Universidad Nacional de Colômbia, 2005. Resenha de: ALMEIDA, Jaime. Textos de História, Brasília, v.13, n.1/2, p.245-249, 2005. Acessar publicação original. [IF]
Brasil fora de si: experiências de brasileiros em Nova York / José C. S. B. Meihy
Desde a última década, o tema Migrações Internacionais tem tido cada vez mais destaque na imprensa nacional e internacional através de notícias, reportagens especiais e, mais recentemente, da telenovela. A cada dia novos números e informações são divulgados, mostrando faces até então desconhecidas do fenômeno emigratório.
No Brasil, o tema vem sendo estudado por pesquisadores de diferentes universidades, o que tem colaborado para a ampliação do número de livros sobre o assunto.
Entre os estudos publicados recentemente sobre as Migrações Internacionais, um dos mais instigantes é, sem dúvida, o do historiador e professor da Universidade de São Paulo, José Carlos Sebe Bom Meihy.
Lançado em 2004 pela Parábola Editorial, Brasil fora de si: experiências de brasileiros em Nova York, é o resultado de mais de cinco anos de pesquisas e de milhares de horas de convívio do autor junto a brasileiros residentes na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ao todo foram cerca de 700 entrevistas gravadas com emigrantes oriundos de diferentes regiões do Brasil.
O que fazem estes brasileiros na quarta maior cidade do mundo? Como chegaram até ela? Como se relacionam com os espaços da cidade e seus diversos habitantes? Como vêem o Brasil a partir dos Estados Unidos? Para responder a estas e outras perguntas, José Carlos Bom Meihy busca, através da história oral, “dar ouvidos” aos sujeitos envolvidos no processo emigratório. Segundo ele, seu principal diálogo não foi com a historiografia, mas sim com vidas plenas de contradições, de “certezas provisórias” e pontilhadas de “mas”. De fato, ao longo do livro não há aquelas intermináveis citações ou mesmo diálogos codificados com outros autores, os quais aparecem com freqüência em muitos escritos acadêmicos.
Nas quatro partes que compõem o livro, ganham voz inúmeros personagens que, em sua maioria, enfrentam diariamente os desafios de viver na ilegalidade, fugindo o tempo todo dos agentes da Imigração Americana. Boa parte destes brasileiros ou “brasucas”, conforme os designa Bom Meihy, tem dificuldades em aceitar a sua condição de imigrantes, preferindo se dizer “de passagem” ou “em trânsito”, mantendo a idéia de um “retorno iminente” e desenvolvendo uma “saudade crônica” do Brasil, que só é aliviada nas gerações que se sucedem, as quais crescem com outros problemas.
Segundo o autor, falta a estes “brasucas” coragem de assumir que suas experiências fora do Brasil extrapolam os limites da aventura episódica e se constituem em um processo emigratório de grandes proporções. Esta falta de “consciência emigratória” deve-se em parte à tradição de que imigrantes foram os europeus e demais grupos que chegaram no Brasil especialmente no século X IX e não os atuais imigrantes que são brasileiros de nascimento e de aceitação irrestrita.
Muitos destes novos imigrantes, segundo Bom Meihy, deixaram o Brasil no final dos anos 80 e início dos anos 90 em meio a planos econômicos e políticas de governo fracassados. A maioria deles recebeu influência de notícias que mostravam o exemplo de pessoas que alcançaram sucesso ao sair do país. Estas notícias, em um contexto mundial de crescente desemprego, acabaram surtindo muito efeito. No entanto, somente as notícias e as razões econômicas não explicam a presença de brasileiros em Nova York. Conforme mostra o autor através de suas entrevistas, existe uma teia complexa de justificativas que extrapolam as macro-explicações acadêmicas.
Entre as estratégias usadas atualmente por milhares de migrantes para entrar em território estadunidense estão os “vistos de entrada”, a fronteira com o Canadá e, principalmente, a fronteira do México, onde age uma rede de coiotes transportando migrantes de um lado ao outro. Destas estratégias, Bom Meihy destaca em seu livro o uso sistemático do visto de turista como uma das formas mais utilizadas até 2001, quando ocorreram os atentados de 11 de Setembro. Após entrarem nos Estados Unidos como turistas, muitos migrantes ali permaneciam depois de vencidos os prazos, colocando-se na condição de ilegais ou regularizando sua situação através da mudança para a condição de estudante, conseguindo autorização de trabalho ou arranjando casamentos de fachada. Depois do 11 de Setembro, no entanto, aumentaram as dificuldades para entrar naquele país.
Da mesma forma, aumentou o número de brasileiros presos ao tentar atravessar clandestinamente a fronteira via México.1 De todas as cidades destino nos Estados Unidos, uma das que mais possuem brasileiros é Nova York. É esta também uma das cidades menos estudadas por pesquisadores brasileiros interessados em entender o processo de deslocamento Brasil-Estados Unidos, segundo Bom Meihy.
Nova York constitui um “expressivo campo de provas” que acolhe multidões de diferentes países. É nela que há a “reinvenção de nichos culturais” materializada em restaurantes, lojas, mercados, escolas, hospitais e igrejas que servem para afirmação e constituição de identidades de grupos étnicos, num jogo de resistência e negociação em que, ao invés da cópia perfeita, os imigrantes se valem de um “arremedo” da cultura do seu país. No caso dos brasileiros de Nova York, isto ocorre, entre outros lugares, em um espaço chamado Uttle Brasil, nome dado à rua 46, no centro de Manhattan, onde acontecem anualmente as comemorações do Sete de Setembro.
Na segunda parte do seu livro, intitulada Sobreviver e Sobre o Viver, o autor mostra que o trabalho é um dos temas recorrentes quando o assunto é a manutenção dos brasileiros nos Estados Unidos. Nesse país, a aceitação da mudança de profissão e da condição de trabalho antes exercido é uma condição incontornável para aqueles que estão determinados a ficar. “Os brasucas, como também outros participantes de fluxos imigratórios, quase sempre, partem do princípio de que, pelo menos em uma fase introdutória, têm de aceitar a mudança de função, fazendo o que aparecer”. Assim, advogados lavam pratos, engenheiros entregam pizza, assistentes sociais fazem faxina, dentistas viram dançarinas.
Os depoimentos colhidos pelo autor, ao mesmo tempo em que mostram a tentativa de superação das dificuldades enfrentadas, também denunciam o lado trágico da emigração: longas jornadas de trabalho sem direito a descanso, subemprego e, em alguns casos, formas de trabalho escravo. O índice dos que falam inglês é baixíssimo. Por isso, muitos têm que se submeter a outros brasileiros, limitando-se a “trabalhos silenciosos” em que se pode fazer algo sem muitas palavras.
O envio de dinheiro para os que ficaram no Brasil é uma das práticas mais comuns entre os imigrantes. Há os que remetem dinheiro porque têm e querem, e os demais que, mesmo não podendo, acabam por fazer sacrifícios inacreditáveis “tanto para satisfazer a fantasia dos familiares quanto pela própria incapacidade de admitir o fracasso”.
Entre os trabalhos exercidos por brasileiros em Nova York e que foram estudados por Bom Meihy estão os de engraxate, empregados de restaurantes, motoboys, pedreiros, jardineiros, dançarinas e dançarinos e a faxina. Em cada um desses casos, o autor revela vidas em meio à compra e venda e disputas por “companhias” ou pontos de trabalho, “aluguel de empregos”, com subcontratação entre os próprios brasileiros, envolvimentos com redes internacionais de prostituição, além de inúmeros outros desafios.
Na terceira parte de seu livro, o autor faz um exercício metodológico de costura de histórias de vida distintas. Nesta parte, assim como nas anteriores, alguns depoimentos são transcritos na íntegra, dando ao leitor a possibilidade de conhecer mais do que apenas fragmentos de entrevistas. No entanto, para além dos depoimentos orais, agora também são utilizados outros documentos, como são os casos das cartas e do diário de uma jovem brasileira a que o autor teve acesso.
J á na quarta e última parte do seu trabalho, Bom Meihy mostra a situação dos brasileiros nos Estados Unidos após o 11 de Setembro. Nesta parte, ele trata, entre outros assuntos, daqueles que decidiram voltar ao Brasil e mostra que muitos retornados percebem que tudo mudou e, em muitos casos, que se equivocaram ou tiveram uma “saudade traída”, como afirmou um dos entrevistados, quanto ao que imaginavam que iriam encontrar na volta ao país de origem. Depois disso, já não conseguiam ficar “nem lá, nem cá”, pois suas identidades, memórias e percepções sobre ambos os espaços foram abaladas. Na opinião do autor esta é a dura realidade de uma comunidade “transterrada e em febril transe cultural”, cujas memórias estão “em constante ebulição”.
O autor conclui seu trabalho criticando o que ele chama de “clã intelectual”, ou seja, aqueles que se preocupam apenas com o debate teórico, deixando de lado experiências vivas do fenômeno emigratório.
Brasilfora de si é, sem dúvida, um convite à reflexão e mudança de atitude, tanto por parte de historiadores e demais pesquisadores, quanto por parte de governos e autoridades públicas que sistematicamente têm fechado os olhos e ouvidos para o dilema de milhares de seres humanos que deixaram e continuam deixando o nosso país.
Notas
1 Somente entre outubro de 2004 c março de 2005, de acordo com reportagem do jornal Correio Bra^iliense, publicada em 24 de abril deste ano, foram mais de 10 mil brasileiros presos, muitos de uma mesma família, inclusive crianças.
Adriano Larentes da Silva – Universidade Federal de Santa Catarina MEIHY, José Carlos S. B. Brasil fora de si: experiências de brasileiros em Nova York. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. Resenha de: SILVA, Adriano Larentes. Textos de História, Brasília, v.13, n.1/2, p.239-243, 2005. Acessar publicação original. [IF]
Chiclete eu misturo com banana. Carnaval e cotidiano de guerra em Natal / Flávia S. Pedreira
Marcos Silva – Universidade de São Paulo.
PEDREIRA, Flávia de Sá. Chiclete eu misturo com banana. Carnaval e cotidiano de guerra em Natal (1920-1945). Natal: EdUFRN, 2005. Resenha de: SILVA, Marcos. Textos de História, Brasília, V.13, N.1/2, p.233-238, 2005. Acesso apenas pelo link original. [IF]
A África e os africanos na formação do mundo atlântico / John Thornton
Uma das principais lições da exposição sobre a arte africana realizada no ano passado, que apresentou ao público brasileiro uma parte do acervo do Museu Etnológico de Berlim, foi a de mostrar que a África subsaariana, região de profundas ligações com o Brasil e de onde vieram muitos de nossos ancestrais, era formada por sociedades com um alto nível tecnológico e artístico. Isso foi revelado quando se deparava, com certa dose de emoção, com as esculturas em bronze, latão e mesmo terracota, produzidas nos reinos dos lundas, em Ifé, no Benin e nos Camarões, entre os séculos X I I I e XIX, ou quando se observava os registros históricos feitos na perspectiva dos africanos sobre os primeiros tempos de contato, deixados nas placas que revestiam o palácio do Benin e nas quais estavam reproduzidas as imagens dos portugueses recém-chegados.
O mérito da obra de John K. Thornton, A África e os africanos na formação do mundo atlântico (1400-1800) —cuja tradução há muito aguardada f o i , sem dúvida, bem vinda— é o de tratar de maneira eqüitativa os mundos que se encontram a partir da expansão marítima ibérica, nos inícios da modernidade. Referência obrigatória para os estudos sobre as relações entre a América, a Europa e a África pré-colonial, as teses de Thornton contribuem para que seja ampliado o entendimento do papel das sociedades africanas na formação do complexo intercontinental atlântico.
E tema que nos interessa de maneira particular. Não só a América Portuguesa foi constituída como parte do mesmo processo, como a escravidão africana f o i o eixo em torno do qual a sociedade brasileira se desenvolveu durante pelo menos três séculos de história. Por este motivo, as conexões entre a África e o Brasil tem sido a tônica de importantes estudos sobre a sociedade do Brasil colonial e imperial —de Pierre Verger a José Honório Rodrigues e Maurício Goulart e, mais recentemente, João José Reis, Luis Felipe de Alencastro, Manolo Florentino, Alberto da Costa e Silva, Selma Pantoja e Roquinaldo Ferreira, só para mencionar alguns. Alargando os horizontes da pesquisa sobre um período crucial das histórias dos dois lados do oceano, a preocupação que Thornton compartilha com estes autores é a de tratar as sociedades africanas como parte integrante e ativa da constituição do Atlântico Sul; o ponto de partida é o rompimento com os vieses eurocêntricos, de fundo colonialista e racial, que deixaram marcas profundas nos estudos históricos e que precisam ser constantemente revistos.
A obra f o i publicada em 1992, por este historiador responsável por um conjunto expressivo de trabalhos sobre diversos aspectos da história da África subsaariana. Especialista nas sociedades centro-ocidentais, analisou desde estruturas políticas e conflitos do mundo pré-colonial às figuras femininas de projeção histórica como a rainha Njinga (ou Nzinga), do reino de Ndongo-Matamba, em luta pelo reconhecimento de seu poder político, e a profeta D . Beatriz Kimpa Vita, líder dos antonianos que sonhava, nos finais do século X V I I , com a restauração do reino do Kongo. Perseguiu, além disso, em artigos publicados nas principais revistas internacionais, imbricações entre dinâmicas africanas e movimentos ocorridos na América, perscrutando a presença de ideologias políticas e estratégias militares africanas em movimentos de escravos, como na Revolução de São Domingos de 1791, e na Revolta de Stono, nos Estados Unidos, em 1739. Temas audaciosos que abrem novas perspectivas não só para o entendimento dos nexos entre os dois continentes como para o significado amplo da diáspora africana.
O trabalho em questão encontra-se dividido em duas partes. A primeira examina aspectos das sociedades africanas substanciais para se entender a relação com os europeus e o envolvimento progressivo destas no comércio de escravos. Após pontuar características da navegação e da expansão atlânticas do século X V , acompanha a natureza dos laços estabelecidos entre parceiros comerciais (africanos e europeus), analisando o rol de mercadorias trazidas à costa, em grande parte artigos supérfluos ao gosto dos dignitários africanos e de suas cortes. N um movimento analítico similar, mas com implicações contrapostas à idéia da vitimização do continente, considera que a inserção das sociedades da África no tráfico atendeu a dinâmicas internas, mobilizou uma rede de intermediários locais e fortaleceu o poder de elites e de senhores da guerra. Estabelecendo as correlações entre armamentos-guerras- escravos, Thornton deixa no ar, no entanto, uma questão substancial: considerando o século X V I I I , indaga-se até que ponto as sociedades africanas, antes soberanas, tornam-se prisioneiras de um circuito do qual dificilmente conseguem sair. A não ser quando, a partir dos inícios do X I X , os europeus mudam de perspectiva e passam a questionar a própria continuidade do tráfico. Mas, política que preconizava, de fato, um outro e mais formidável ataque.
A segunda parte trata dos africanos em diáspora e aprofunda temas relativos às mudanças que introduziram nos territórios coloniais para os quais foram levados. A começar pela fisionomia de muitas das cidades americanas que mais se assemelhavam a Guinés transplantadas do que a mundos de colonização branca. Embora não ofereça, nesta parte, a mesma densidade de informações que na anterior, a interpretação de Thornton é sugestiva, pois se orienta a importantes direções. Uma delas pontua os movimentos da escravidão na perspectiva do conjunto das colônias na América, nas ilhas atlânticas e no Caribe. Sem perder de vista as singularidades de cada uma das sociedades, acompanha as condições de vida e de trabalho dos escravos nos engenhos de açúcar do nordeste brasileiro, nas plantations antilhanas e no sul dos Estados Unidos, bem como nas haáendas da América Espanhola e oferece ao leitor um quadro das diferenças e recorrências existentes entre os mundos da escravidão americana.
Numa outra direção analítica, o autor destaca a diversidade africana que se transfere para a América não só por meio de culturas transformadas pela diáspora, como por meio de agrupamentos étnicos criados pela escravidão.
Assinala que escravos e forros de uma mesma nação —tal como estes agrupamentos foram chamados nas fontes portuguesas, bem como de terre nos documentos franceses e de country, nos de língua inglesa — trabalhavam juntos ou próximos, encontravam-se com freqüência em cerimônias das irmandades religiosas e nas reuniões de sociedades secretas, e consolidavam uniões matrimoniais, relações de compadrio e parentelas amplas. Entre estas nações, Thornton sublinha grupos como os minas, os nagôs, os lucumis, os congo-angolas e os bambaras que, de fato, não existiam como tais no continente africano, mas que se tornaram referência para a organização dos africanos e dos afrodescendentes no Novo Mundo. Nesse aspecto particular, suas interpretações decorrem da premissa — inovadora para a época em que o livro f o i escrito — de que o tráfico não f o i exclusivamente um elemento de dispersão e ruptura. A o contrário, na ótica de conceitos interpretativos amplos como o de grupos de procedência e de zonas culturais, concentrou determinados grupos em regiões e épocas históricas específicas.
Na área de conhecimento histórico num campo relativamente recente, Thornton não se exime de estabelecer polêmicas ao longo das argumentações. Discute com Walter Rodney os efeitos das ações européias sobre o desenvolvimento africano pré-colonial e o sentido de ruptura social atribuído ao tráfico; com Paul Lovejoy, a natureza da instituição da escravidão na África; com Sidney Mintz e Richard Price, a fisionomia das culturas escravas.
Além disso, suas colocações oferecem aos leitores a oportunidade de refletir sobre a produção historiográfica brasileira que amplia o debate sobre relações étnicas, identidades afro-brasileiras e nações diaspóricas —entre outros, os trabalhos de João José Reis, Mary Karash, Robert Slenes, Mariza Soares, Maria Inês Cortês de Oliveira, Luis Nicolau Pares, Lorand Matory etc. Produção que sublinha, acima de tudo, a propriedade de serem historicizadas as trajetórias de africanos e afrodescendentes na diáspora.
Sem minimizar a importância da publicação, é necessário considerar dois percalços. O primeiro diz respeito à extensão cronológica dada ao estudo em sua segunda edição (de 1998 e base para a tradução brasileira), que levou até 1800 os marcos da edição de 1992, limitados ao período de 1400 a 1680. Dada a complexidade do tema, acredito que a ampliação para o longo século XVIII mereceria explanações mais profundas não plenamente contempladas no capítulo adicional — o 11, “Os africanos no mundo atlântico do século XVIII”. O segundo refere-se a imprecisões da tradução que poderia ter sido feita com mais cuidado. Só para exemplificar, chamo a atenção para a tradução literal de New-Christians por “novos-cristãos” (pp. 435,242); a denominação da Escola dos Annales como “Escola dos Anais” (p. 44); ou a expressão the English-speaking world (p. 321 da 2a . ed. norte-americana) como “no mundo do inglês falado” (p. 415).
Num mercado editorial carente, a disponibilidade para o público brasileiro da tradução de África e os africanos naformação do mundo atlântico deve ser dimensionada, por f i m , à luz de uma proposta programática ampla, acompanhando o estudo de parte dos temas exigidos pela Lei 10.639/03. O livro de John Thornton oferece, sem dúvida, um ótimo começo para se problematizar os novos conteúdos.
Maria Cristina Cortez Wissenbach – Professora do Departamento de História da Universidade de São Paulo.
THORNTON, John K. A África e os africanos na formação do mundo atlântico (1400-1800). Tradução Marisa Rocha Morta; Coordenação editorial Mary dei Priore; Revisão técnica, Márcio Scalercio. Rio de Janeiro, Editora Campus / Elsevier, 2004, 436 páginas. XVIII. Resenha de: WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Textos de História, Brasília, v.12, n.1/2, p.223-227, 2004. Acessar publicação original. [IF]
Women in African Colonial Histories / Jean Allman, Susan Geiger e Naknyike Musisi
Esta colectanea tem como objectivo ampliar o nosso conhecimento sobre um tema que nas últimas décadas tem atraído cada vez mais a atenção de africanistas dedicados aos período colonial, nomeadamente nas áreas de história social e a antropologia. Focando a actuação de mulheres cujas vidas foram profundamente afectadas pelo colonialismo, o livro preenche uma grande lacuna. Era urgente lançar um olhar sobre aspectos que raramente são tratados na literatura, não obstante a existência de arquivos ainda pouco explorados dos ex-colonisadores e nos países africanos agora independentes.
Além disso, está por aproveitar um sem número de testemunhos oculares que viveram o tempo colonial, e cujas estórias ainda ficam por gravar. As coordenadoras desta colectanea, todas specialisadas na história de mulheres em África, e baseados nos E U A e em Uganda, têm conseguido reunir um notável conjunto de textos. Dividido em três partes, dedicadas respectivamente a ‘encontros e alianças’, ‘percepções e representações’, e ‘reconfigurações e contestações de poder’, abrangem uma banda larga de assuntos relacionados com o tema. Nas suas contribuições os treze autores passam em revista o passado colonial em várias zonas do continente, na altura sob a tutela de Portugal, Bélgica, França e Reino Unido, à partir dos meados de oitocentos até os anos setenta de novecentos. As mulheres africanas aparecem em vários papeis: como rainhas mãe e princesas de dinastias; como mães, esposas, parceiras e divorciadas, como parideiras e trabalhadores, como comerciantes, migrantes e viajantes, e como emancipadoras e rebeldes.
Apesar de oferecer um tão vasto panorama, o leitor nunca se perde. Enquanto a introdução permite enquadrar os textos nas correntes actuais do estudo das relações de gênero, cada secção traz também uma curta apresentação. Os artigos, bem cuidados, contêm abundantes notas e referências, cujo formato obedece a tradição acadêmica anglo-americana. Têm em comum uma ênfase em metodologia e historiografia, num estilo que tanto tem marcado as obras de autores associados ao estudo, vincadamente interdisciplinar, das relações de gênero. Procura-se sempre atravessar fronteiras, no que diz respeito a espaços geográficos e sociais, e ao questionamento de pré-conceitos e a abertura de novos caminhos através das vozes de mulheres, muitas vezes ouvidas, registadas ou divulgadas pela primeira vez. Personalizar a história sem perder de vista a sociedade no seu todo não é, como se sabe, uma tarefa fácil, já que exige um conhecimento que vai muito além de uma mera consulta arquivística ou de algumas entrevistas a que historiadores ou antropólogos costumam-se limitar. Alias, o tema obriga a este esforço maior, precisamente porque as mulheres e as suas vidas não estão ‘à mão’, à superfície, fácil de apanhar numa investigação rápida e incisiva. Como os encontros que descrevem com o colonialismo e os seus representantes tem essencialmente a ver com hierarquias e poderes instalados, o tratamento adequado das fontes é essencial.
Daí a importância de incluir excertos de documentos ou testemunhos orais que nos permitem situar as mulheres como pessoas e partilhar uma fase marcante das suas vidas. Tanto o investigador como o leitor se confrontam com um imaginário que implica também questionar o dito e o não dito, ler entrelinhas e cruzar dados para reconstruir situações e contextos. O caso de uma mulher moçambicana, que fala da sua relação com um colono, a conversa entre uma mulher e uma missionária em Botswana, o relato de uma parteira sobre o seu encontro com um médico francês, o testemunho de uma mulher em Gana acusada de adultério perante o juiz, o protesto de uma mulher congolesa contra a atitude do seu marido, as estórias de mulheres sulafricanas que migraram para Rodésia, a resistência passiva de mulheres contra inspecções médicas obrigatórias, a ignorância de autoridades perante a hierarquia bicéfala de mulheres e homens em Buganda, as estratégias de mu lheres no contexto das relações conjugais a seguir a introdução da cultura de cacau na Costa de Ouro, as metáforas usadas pelas mulheres Ibo que lutaram contra a perda de direitos em Nigéria, a radicalização de mulheres nos movimentos nacionalistas na Guiné francesa e os desafios por que mulheres guerrilheiras passaram em Zimbabwe, todos estes fragmentos formam peças de um puzzle colorido e fascinante.
O resultado é francamente positivo, mostrando como o estudo sobre mulheres africanas avançou a passos largos em poucas décadas. Faz falta sim, nesta grande diversidade, um fio condutor além do ‘‘disempoverment’ e reacções de mulheres, que nos ajude a contextualizar a grande diversidade das estórias. Folhando as páginas, é notável o abrir de um espaço, outrora marginalizado, cada vez maior onde mulheres se exprimem e actuam como actores autônomos com uma dinâmica muito própria, explorando estratégias, vontades e sentimentos. Ao mesmo tempo, há aspectos das relações de gênero que ficam por esclarecer por causa da ênfase casuística, sobretudo no plano teórico relacionada com a agência feminina. Embora, o contingente feminino já não apareça como vítima, como na segunda onda do feminismo nos anos setenta, mas como pessoas e personalidades com corpos e vozes, perguntamo-nos: onde estão os relatos de mulheres vindas de espaços lusófonos? Será que estas correntes inovadoras passaram despercebidas em Portugal e nos PALOP? Não é por acaso que a única excepção é Moçambique, rodeado por países anglófonos, cuja história tem sido alvo de atenções crescentes durante as ultimas duas décadas, também do ponto de vista de gênero.
Estas lacunas deviam fazer nos pensar, e ver como acrescentar peças que dizem respeito a estas zonas na historiografia e antropológica africana. É urgente, por causa da passagem do tempo e do envelhecimento de potenciais informantes, iluminar as vidas de mulheres – e homens – em Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, e São Tome num passado ainda muito recente. Oportunidades não faltam para acabar com estes grandes hiatos: os respectivos arquivos destes países, e em Portugal, contêm um sem f im de documentos que envelhecem em prateleiras poeirentas. Muito ainda tem que ser feito para acabar com este déficit, que é uma responsabilidade de todos nós, e valorizar a memória colectiva e pessoal daqueles que até agora não tiveram o privilégio de serem ouvidos.
Philip J. Havik – Professor da Universidade de Leiden, Holanda.
ALLMAN, Jean; GEIGER, Susan & MUSISI, Naknyike (coords.). Women in African Colonial Histories. Bloorrúngton, Indiana Universiiy Press, 2002. 338p. Resenha de: HAVIK, Philip J. Textos de História, Brasília, v.12, n.1/2, p.229-231, 2004. Acessar publicação original. [IF]
Pioneiros Africanos. Caravanas de carregadores na África Centro-Ocidental / Beatrix Heintze
Heintze é autora de obras bem conhecidas sobre a história angolana, mais dedicada às grandes expedições dos alemães ao interior da África Central Ocidental, além de uma série de artigos sobre a região, em alemão, inglês e português. Na década de 1980, publicou a coletânea documental do governador português em Luanda, no século XVII, Fernão de Sousa2. Este foi um trabalho primoroso com uma cuidadosa transcrição, genealogia e notas dos documentos do governador e os manuscritos se encontram na biblioteca da Ajuda, em Lisboa. Essa historiadora alemã vem publicando sobre os povos dessa região desde 19703. Com mais de cinqüenta escritos, entre artigos, ensaios e livros, pode-se dizer que tem dado contributo do mais relevante para a construção da história angolana.
Neste livro, a autora, diferentemente dos estudos anteriores, pretende evidenciar não os exploradores e comerciantes europeus, mas, como diz, os “invisíveis” participantes africanos e luso-africanos nas caravanas. “Os Pioneiros” é um livro solidamente ilustrado com belíssimas fotografias, bons mapas com as rotas das caravanas, um glossário com termos africanos, um apêndice com a bagagem de uma expedição alemã de 1879, uma lista dos títulos dos soberanos da Lunda, região para onde se direcionavam a maior parte das expedições, além de enumerar as estações da expedição de Henrique de Carvalho.
A obra está estruturada em três partes, a primeira, ‘Tara a História de uma Aproximação Européia”; a segunda ‘Esboços Bibliográficos” t a terceira, “Comerão, Investigação e Comunicação na África Central Ocidental”.
O primeiro item, da primeira parte do livro, trata do tema da África “virgem”, quando o continente era visto como sem história, constituído de uma narrativa imutável ao longo do tempo. Estas terras africanas “virgens” estavam por “descobrir”, seriam eles, os europeus, os “descobridores”. Essas construções imaginárias exerceram tamanha atração no século XIX, que levaram para a África Central Ocidental quase trinta expedições num curto tempo de treze anos. Contudo, a autora explica que apesar de ter em mente essas idéias, de terras por descobrir, os exploradores rapidamente viam seus ideários esvaecer ao pisar as terras africanas. Ficavam a saber, ou acabavam por reconhecer, que eram territórios coalhados de rotas, formando redes interligadas complexas, comerciais. Os africanos e os luso-africanos possuíam um amplo conhecimento das rotas e por elas transitavam há muito tempo.
Apesar de tudo, a África real ficava encoberta pela imaginada. Se assim não fosse, como esses exploradores tornariam-se os famosos “descobridores”, com ares científicos e aventureiros na Europa? No item seguinte, a autora nos apresenta os carregadores, intérpretes e guias, do ponto de vista dos exploradores e comerciantes nas suas caravanas, chamados de ralés, ladras, descaradas, desavergonhadas, indolentes, covardes e, quase de forma unânime, adjetivados de traiçoeiros. Um retrato profundamente negativo do africano. Mas por vezes alguns “nativos” foram agraciados com adjetivos como generosos, inteligentes e de confiança. Na terceira e última seção da primeira parte do livro, em “As interpretações Históricas Depois de Cem Anos”, a autora faz um perfil do seu tema, as caravanas de carregadores e o seu lugar nos relatos históricos, insere essas atividades no contexto, desde o fim do tráfico atlântico de escravos, passando pelo comércio do marfim até o fluxo econômico da borracha. Mapeia, de forma exaustiva as rotas, as direções que tomavam essas caravanas e por fim faz uma caracterização dos ambaquistas. Esses africanos, que se apropriaram da escrita, língua e vestes portuguesa, são classificados pela autora como luso-africanos, mestiços.
A segunda parte do livro é, sem dúvida nenhuma, a narrativa mais original do texto da Heintze. Ao tentar refazer os percursos dos agentes africanos nas caravanas, no primeiro item, descreve a família Bezerra, uma das mais conhecidas da região e que teve suas gerações dedicadas a estas atividades. Logo em seguida, destaca a saga de Germano de José Maria, que foi, na sua trajetória um escravo, depois um “criado” livre e chegou a guia e intérprete das caravanas dos alemães.
Na terceira parte do livro, no primeiro item, com o título, ‘Brancos’, negros: os ambaquistas, numa clara indicação das idéias do artigo, já clássico de Jill Dias, a autora enfatiza o caráter ambíguo desse grupo chamado ambaquistas.
No segundo item, descreve como se organizavam as caravanas, como funcionava o recrutamento e quem era recrutado, de onde partiam, fazendo uma prospecção geográfica do tema. Do contexto comercial da região, são dimensionadas as caravanas, para que o leitor possa ter idéia do número de pessoas que participavam e as diferenças, que a autora faz, entre caravanas de comerciantes e de exploradores. Aos detalhes, a autora, fornece-nos os tamanhos dos tecidos e os tipos de medição usados no interior da África Central, e quanto de peso levavam os carregadores, os fardos do homem negro, e nos descreve a melhor época para se fazer a viagem. Abre o terceiro item apresentando-nos mercadorias e rotas das expedições.Como tinha prometido, chega-se ao cotidiano nas caravanas e o item final, a caravana como meio de divulgação e comunicação das noticias.
Aparentemente a historiadora alemã cercou de todos os lados seu objeto, deu conta de todos ângulos da narrativa, abordando todas as partes sem deixar frestas. Vejamos.
Heintze, logo na apresentação, explicita sua intenção de abordar os “Pioneiros africanos” dos ângulos dos exploradores, das biografias dos chefes, dos intérpretes e carregadores. Assinala, contudo, que por serem as fontes relatos de viagens dos europeus, fica impossível uma mudança de perspectiva.
Mas avisa em seguida, “os relatos dos exploradores do século XIX serão aqui contrastados com estudos científicos dos séculos XIX/XXI”. As fontes utilizadas pela autora foram, como ela mesma diz, a monumental obra de Henrique de Carvalho, mas ela cita, além da obra do viajante português, os trechos de obras dos exploradores alemães (Buchner 1879, Wissmann 1891, Pogge 1883). Na terceira parte do livro, “As interpretações Históricas Depois de Cem Anos”, suas analises são baseadas nos trabalhos de Vellut (1972); Dias (1998) e Heywood (1984), obras já bem conhecidas sobre a região e população da África Central Ocidental.
No início do livro a autora afirma que os saberes sobre os caminhos, rotas preferências, épocas possíveis para viagens, foram informações retiradas dos guias, intérpretes e carregadores africanos e que, sem tais conhecimentos, teria sido impossível as caravanas européias existirem. Ao longo do livro, porém, ela caracteriza os agentes africanos segundo os adjetivos nomeados pelos exploradores/comerciantes europeus, sem nenhuma preocupação em analisar, ou sugerir o que seriam esses “africanos traiçoeiros” que as fontes tanto nomeavam. Ao descrever alguns poucos africanos chamados, pelos exploradores/comerciantes, de “inteligentes”, o texto sugere ser esse termo sinônimo de colaborador. Os dados essenciais eram fornecidos pelos guias e intérpretes africanos, desde estratégias de como tratar e ser relacionar com os sobas (chefias locais), até conseguir permissão de atravessar suas terras. Era uma verdadeira arte, cumprir os rituais de troca de presentes, de visitas e as longas esperas para se obter a licença e chegar a ganhar sua confiança.
Alguns exploradores/comerciantes chegaram a se transformar em amigos dos sobas, tudo isso graças a intermediação dos guias, intérpretes e carregadores africanos. Então, quem são esses “traiçoeiros” e uns poucos “inteligentes” dos quais todas expedições dependiam ? Uma pena que Heintze não tenha usado “estudos científicos dos séculos X IX / XXI ” para trabalhar conceitos já tão conhecidos como, das identidades, fronteiras, estratégias sociais, mestiçagem e cultura atlântica no tratamento desses segmentos sociais que hoje nos parece muito mais flexíveis do que simples rótulos, portugueses mestiços. Embora, as fontes sejam européias, não estamos condenados a uma mono visão.
Por se achar impossibilitada de ver, pelas fontes européias, a autora passa batido nos casos de verdadeiros enredo de dramas amorosos nas caravanas.
Ficam de soslaio, necessitando um olhar mais alongado, os músicos africanos e seus instrumentos, que sempre acompanhavam as caravanas. E os ambaquistas, com tantos dados fornecidos pelas fontes, afinal como eram? Surpresos, ficamos nós, da autora achar conflitante os ambaquistas apresentarem comportamentos tão lusitanos e ao mesmo tempo tão africanos. São ângulos que podem ser vistos por outras fontes, européias, que não só os textos dos exploradores/comerciantes. Aí sim, tem-se a possibilidade de uma mudança de perspectiva!
Notas
1 Simultaneamente saiu outra edição em Lisboa, HEINTZE, Beatrix. Pioneiros Africanos: caravanas de carregadores na África Centro-Ocidental (entre 1850 e 1890). Lisboa: Caminho (Coleção Estudos Africanos), 2004.
2 Fontes para a História de Angola do século XVII. Memória, relações e outros manuscritos da coletânea documental de Fernão de Sousa (1622-1635). Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMGH, Stuttgart, 1985, V. 1; em 1988, lança o volume 2, com as cartas e documentos oficias da coletânea (1624-1635).
3 Beitrage zur Geschichte und Kultur der Kisama (Angola). Paideuma 16,1970, pl59- 186. (segundo lista fornecida pela própria autora com todas as suas obras publicadas).
Selma Pantoja – Professora do Departamento de História da Universidade de Brasília.
HEINTZE, Beatrix. Pioneiros Africanos. Caravanas de carregadores na África Centro-Ocidental (entre 1850 e 1890). Luanda, Nzila, 2004. . Resenha de: Textos de História, Brasília, v.12, n.1/2, p.233-237, 2004. Acessar publicação original. [IF]
Uma História da Justiça / Paolo Prodi
Paolo Prodi é atualmente catedrático de História Moderna da Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de Bolonha, Itália. Sua trajetória dentro do panorama da historiografia ultrapassa as fronteiras italianas e é impossível pensar na história das instituições e do direito sem recorrer a seus trabalhos fundacionais, sobretudo II sacramento deipotere. II juramento político nella storia costitu^ionak deliOcádente (1992) e //soiranopontefice (1998).- A obra que nos propomos resenhar aqui é uma continuação desses estudos anteriores, publicada na Itália, pela editora Mulino, em 2000, e traduzida para português, em 2002. Prodi passeia o conceito de justiça pela linha do tempo, revelando uma análise dialética entre as normas jurídicas e as normas morais, mas profundamente vinculada à história da cultura do Ocidente.
Sua pretensão, anunciada logo nas primeiras linhas da introdução, “é fazer uma reflexão histórica sobre o modo como a justiça foi vivida e pensada no nosso mundo ocidental, sobre uma tradição que faz parte do nosso patrimônio civilizacional e que agora estará, talvez, a extinguir-se” (p.13). Mais do que tecer uma teoria da justiça, o que Prodi se propõe é a colocar problemas que nos permitam compreender como chegamos até aqui, ou seja, à crise atual do direito.
Recuando à Grécia antiga, lembra que a consciência do cidadão coincidia substancialmente com a ordem objetiva do cosmos, uma vez que a polis era, ao mesmo tempo, Estado e Igreja. Já no mundo hebraico, a justiça será subtraída ao poder civil e colocada na esfera do sagrado. Em Israel, o pecado, como culpa aos olhos de Deus, desvincula-se do delito, este apenas compreendido como violação das leis dos homens.
A partir da Idade Média, Prodi reconstrói o embate entre o foro interno e o externo, por um lado, e o foro penitencial e o foro judicial, por outro. Uma configuração criada pelo direito canônico medieval, que “produziu uma confusão-fusão entre penitência, excomunhão e direito penitencial eclesiástico, com conseqüências até hoje na vida da Igreja e da sociedade civil” (p.108). O objetivo, por parte da Igreja, era fornecer à sociedade um sistema integrado de justiça. O fracasso da proposta afastou o perigo do monopólio eclesiástico nesta área, mas inaugurou “o caminho para o pluralismo dos ordenamentos jurídicos concorrentes, para o “utrumque ms” e para a distinção entre o foro eclesiástico e o civil, mas também para uma nova relação entre a lei humana (civil e eclesiástica) e a consciência”(p.109). Assim, o direito canônico encarna cada vez mais o lado humano e perde sua essência divina, passando a disputar os mesmos espaços dos outros direitos seculares.
Portanto, é fundamental recuar à Idade Média, para ver como se chega à idéia do dualismo entre o poder temporal e o espiritual e como esta percepção é matricial para se alcançar posteriormente “um equilíbrio dinâmico entre a união sagrada do juramento e a secularização do pacto político” (p.14). Neste caso valeria mesmo a pena recuar aos primórdios do Cristianismo para compreender como Igreja e Estado se separam, formando aquilo que Rosenzweig chamou de “grande duplo sistema” (p.109). Um dualismo que supõe a estreita convivência entre as duas esferas e não uma separação propriamente dita. Hoje, em plena vigência do poder secular, esquecemos amiúde que ele próprio encerra essa dualidade e que o Estado era tão cristão quanto a Igreja.
Além da dualidade entre o plano celestial e o terreno, surge um outro, o da Igreja, que não pode pretender arrogar-se a justiça divina, mas que tampouco está ao nível da justiça dos homens. Na realidade, ela vai estabelecer as pontes entre a justiça dos homens e a de Deus, desenhando o próprio espaço junsdicional, e emergindo da simbiose excessiva entre o poder tem poral e o espiritual dos primórdios do feudalismo. Aqui nasce a Respublica Christiana.
Este é o momento institucional mais emblemático da civilização ocidental, chegando-se mesmo a pensar em uma “revolução papal”. A grande questão é que apesar de que a Igreja se converta em uma instituição autônoma, jamais conseguiu o monopólio sagrado do poder. A competição e a cooperação se estabelecem com as cidades, as monarquias, as universidades, numa dialética que é o alimento da política da Respublica (p.64). Aqui está a chave para compreender toda a conflitividade junsdicional que arranca na Idade Média e atravessará todo o Antigo Regime. E esta concorrência que livrará o Ocidente da teocracia ou do cesaropapismo e que lhe permitirá viver no futuro as experiências liberais e democráticas.
Os embates em torno à jurisdição, ou ao foro são o resultado dessa maneira tão judaico-cnstã de construir a justiça. A assembléia dos fiéis (ecclesiae) converte-se num foro alternativo ao poder político, posto que ela tem autoridade para mediar o perdão da divindade. Essa assembléia institucionalizada na Igreja é herdeira desse foro – agora “foro eclesiástico” – que compete, complementa e legitima a justiça humana. Uma estrutura jurídica análoga à secular, sem a qual esta não se sustenta. Todas as instâncias do poder reconhecem- se como agentes ativos de uma “respublica sub Deo” e no exercício de suas funções são orientadas por uma ética inspirada na autoridade divina, o que explica que sempre se busque a convergência entre o foro externo e o interno.
Prodi mostra, ao longo de nove capítulos, que a construção do direito no mundo ocidental está assentada na dialética entre ética e direito, consciência e lei, pecado e delito, dando-lhe um perfil dinâmico e sempre atual. Entretanto, quando o direito positivo tende a normatizar e regular toda a vida social, e se ilude de que é capaz de resolver todos os problemas e conflitos, tornando-se absoluto, instala-se a crise. Cada vez mais, surgem problemas em tomo às regras positivas – que nunca são suficientes -, exige-se a especialização da autoridade. Um espesso tecido legal é invocado para cobrir todos os aspectos da vida cotidiana, e as leis transformam-se em camisa de força, engessando a dinâmica da sociedade. Prodi se interroga como será possível garantir a sobrevivência da civilização jurídica ocidental sem contar com as distintas normas morais que, desvinculadas do direito positivo, garantiram ao ocidente, no passado, o oxigênio necessário à sua revitalização. O pluralismo dos ordenamentos medievais deu lugar a um confronto entre um direito inexoravelmente amarrado ao poder e uma norma moral que agora já não consegue encontrar um espaço que vá além da consciência.
Esta História da Justiça de Paolo Prodi é uma obra indispensável, um instrumento fundamental para compreender como chegamos a esta encruzilhada: uma justiça que se deixou engolir pelo reducionismo da norma e do nominalismo. Uma justiça inoperante, cujo artífice está tão inebriado com a própria criatura, que não consegue mais percorrer o caminho filosófico que lhe dava sentido: do ser aos conceitos, dos conceitos aos termos. A justiça está agora amarrada unicamente aos termos e os “operadores de Direito” já não conseguem estabelecer a conexão entre este nominalismo, a realidade e o objetivo que a gerou. Por outro lado, perdida a dimensão plural das normas e das sedes de juízo, compromete-se o futuro liberal e democrático da sociedade.
Maria Filomena Coelho Nascimento – Pesquisadora associada ao Programade Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília.
PRODI, Paolo. Uma História da Justiça: do pluralismo dos tribunais ao moderno dualismo entre a consciência e o direito. Lisboa: Editorial Estampa, 2002, 494p. Resenha de: Textos de História, Brasília, v.11, n.1/2, p.247-250, 2003. Acessar publicação original. [IF]
Metahistory. The Histórica, Imagination in Nineteenth-Century Europe / Hayden White
O papel da historiografia na construção social da cultura e, por conseguinte, na conformação da identidade dos integrantes dos respectivos grupos é um tema relevante na reflexão histórica contemporânea.
O ponto fulcral para a contribuição historiográfica ao processo de construção das identidades está no pensamento histórico e nas formas culturais de fixação deste pensamento. Esse tema tem ocupado debates e colóquios pelo mundo afora, além de conduzir a um grande número de publicações, desde a década de 1980.
Destacar e explicar o caráter multifacetado e mutante dos modos de expressão histórica do pensamento identificador da individualidade e da sociedade foi um dos objetivos principais do modelo narrativista inaugurado pelo livro de Hayden White, Metahistory. The Histórica/ Imagination in Nineteenth- Century Europe} Rapidamente essa obra veio a ser considerada como o sinal de uma mudança de paradigma na historiografia contemporânea, com a pretensão de ter superado ingenuidades passadas quanto à isenção metódica da história. A idéia é a de que o pensamento histórico de cada geração (mesmo dentro de uma “mesma” cultura) elabora seu modo próprio de ler e reler seu tempo e seus textos, a exemplo das teorias literárias estruturalistas, semióticas, desconstrutivistas, formalistas, intertextualistas, analíticas do discurso, enfim pós- e até mesmo pós-pós-modernas. O “choque” provocado pela teoria narrativista, ao pôr em evidência os limites da ciência histórica — questão que o paradigma “libertário” do modelo positivista e do seu culto às fontes, em sua influência sobre os modos de fazer história desde meados do século 19, havia amplamente ignorado. Um exagero parece ter acarretado o outro. As reações à teoria de Hayden White foram muitas. Aqui não se busca examinar este debate, mas registrar um de seus efeitos benéficos. A conside ração da diversidade historiográfica como um ganho para a produção do pensamento histórico e de sua inserção cultural em um mundo cada vez mais interativo e interdependente decorre, ao menos em sua valorização recente, deste debate, prevalente nos últimos vinte anos. Não há nisso apenas a (re)descoberta do outro como identidade própria (e não sempre reduzido à do observador ou a ela submetido), mas igualmente uma revalorização do recurso à teoria da história como sistema de equacionamento dos inúmeros fatores que constituem o “objeto” da análise social, inclusive no caso da história.
A coletânea editada por Jôrn Rüsen e Sebastian Manhart, Geschichtsdenken der Kulturen — Eine kommentierte Dokumentation (O pensamento histórico nas culturas — uma documentação comentada, Frankfurt/Main, Alemanha: Humanities On Line, 2002) tem por objetivo imediato abrir acesso, a todos os interessados, aos espaços culturais em que a memória e a narrativa, como constituintes do pensamento histórico, contribuem para a construção das identidades. Os dois primeiros volumes dessa colerânea trazem textos e comentários do espaço sul-asiático: Südasien — Von den A.nfàngen bis %ur Gegenwart (Ásia do Sul — dos primórdios ao presente). Stephan Conermann edita, introduz e comenta a visão muçulmana do século 13 ao século 18 (Die muslimische Sicht, 2002, ISBN 3- 934157-22-X, 350 p.), e Michael Gottíob faz o mesmo com o pensamento moderno da Ásia do Sul, de 1786 até os dias de hoje {Historisches Denken im modernen Südasien, 2002, ISBN 3-934157-23-8, 474 p.). Um terceiro volume encontra-se em preparação, versando sobre poética histórica indiana, a cargo de Georg Berkemer (Vom Rigveda %ur historischen Versdichtung — Hinduismus, Jinismus, Buddhismus und orale Traditionen, 2003, ISBN 3-934157-30-0, 344 p.).
A inspiração culturalista e historiográfica dessa coletânea deve seu impulso principal à teoria crítica da história elaborada por Rüsen,2 desde seu tempo como professor na Universidade de Bochum, mas fundamentalmente nos projetos que dirigiu no Centro de Pesquisa Interdisciplinar da Universidade de Bielefeld (ZiF, Bielefeld, Alemanha) e nos que dirige há quase dez anos no Instituto de Ciências da Cultura (Kulturwissenschaftliches Instituí), em Essen. Rüsen é certamente um dos principais autores contemporâneos de teoria e metodologia da história. Seu diálogo internacional é amplo e sua preocupação com a tarefa esclarecedora do pensamento histórico como fator de resgate da autonomia crítica dos indivíduos e como fator de entendimento multicultural são mundialmente reconhecidos Um dos desafios enfrentados por Rüsen está na forte pressão que o paradigma ocidental da ciência história vem sofrendo, nos últimos anos. Exige- se desse paradigma e de seus praticantes a revisão de seus fundamentos, não apenas por causa dos avanços significativos e da inovações de sua especialidade, mas igualmente pela consciência crescente de que o sistema ocidental de interpretações, predominante até o presente, está sendo cada vez mais posto em cheque pelas tradições historiográficas não-ocidentais, amplamente ignoradas, subestimadas ou menosprezadas. Apesar de o conhecimento das culturas não-européias ter progredido gradualmente — o que se deve também ao fato de que o circuito de influências da globalização produz efeitos reversos sobre os centros de irradiação da pressão econômica, comercial ou culrural — o conhecimento das múltiplas formas não-ocidentais de lidar com o passado ainda continua sendo absorvido de modo apenas superficial, tanto na ciência histórica como no senso comum. A perspectiva da historiografia ocidental continua claramente hegemônica, e até a história da historiografia permanece concentrada na historiografia ocidental desde os gregos (uma espécie de eurocentrismo expandido). Uma provável causa desse déficit cognitivo não se reduzia à mera falta de interesse pelas formas de pensar e de exprimir-se não-ocidentais, mas pode estar nas grandes dificuldades em se ter acesso aos textos básicos dessas culturas. As dificuldades mais freqüentes são duas: a barreira da língua e a inexistência de corpora sistematizados.
A falta de conhecimento acerca da relevância de determinados textos e das relações entre os diferentes gêneros textuais dificulta igualmente a compreensão de seus discursos quando não se está por dentro das respectivas ciências especializadas (por exemplo: sinologia, arabologia, indologia e assim por diante). A diversidade das tradições historiográficas, cujo significado somente se alcança no contexto da respectiva história social, religiosa e discursiva, tampouco vem a ser apreendida e avaliada adequadamente sem a intermediação de especialistas.
A edição comentada de textos “O pensamento histórico das culturas” contribui para diminuir os obstáculos referidos ao estudo dos discursos historiográficos não-ocidentais e para criar um acesso às formas mais representativas do modo de lidar com o tempo, com a lembrança e com a história, fora do âmbito eurocêntrico. A coletânea procura fornecer ao leitor um primeiro panorama de diversos textos de diferentes feituras, de modo a permitir construir uma representação adequada das respectivas tradições historiográficas. O período coberto vai dos primeiros inícios das tradições orais e escritas na forma de lendas religiosas, anais tribais, crônicas da corte ou do Estado, até os textos cada vez mais marcados pelo modelo da historiografia ocidental (ou a ela opostos, a partir de um passado recente).
Os critérios adotados pelo procedimento de seleção têm, obviamente, uma conseqüência inevitável: de um corpus sempre cada vez maior só se pode apresentar uma parte relativamente pequena. Ademais, quase sempre é preciso fazer a primeira tradução na história desses textos em uma outra língua, além de os ordenar e comentar cientificamente. A escolha e o comentário dos textos vão, pois, bem além do âmbito de uma única ciência especializada.
A edição destina-se tanto ao especialista em história ou outras ciências sociais da cultura como aos demais interessados, abrindo-lhes o acesso à história e à cultura das regiões em questão. Até os dias de hoje, não há, em inglês, francês ou alemão, nenhuma coletânea de fontes históricas dessas culturas. Para o público de língua neo-latina, como o leitor do português, a barreira da língua continua, mesmo se forma relativa, na medida em que o alemão não é um idioma correntemente praticado. Mas a barreira diminui, certamente, pois é ainda mais difícil encontrar quem possa ler e comentar textos em mandarim, hindu ou japonês.
O conceito diretor da coletânea, “pensamento histórico”, tem por intenção dar conta do amplo espectro das mais diversas maneiras e práticas de refletir sobre a experiência do tempo, o relacionamento com o tempo e as atribuições de sentido ao passado. A antologia reúne, por conseguinte, além de excertos da historiografia dinástica chinesa e dos discursos mais recentes sobre a especificidade científica da concepção indiana de história desde a independência, inscrições chinesas em ossos de oráculo ou em tablitas indianas, lendas de templos budistas, epopéias persas ou ainda trechos de romances populares árabes. A grande quantidade de gêneros literários, assim como sua classificação e seu comentário permitem apreender a amplitude dos modos de lidar com o passado, fora das tradições que nos são familiares. Pode-se desvelar, assim, a evolução constante de determinados gêneros literários, por vezes ao longo de séculos, e sua diferenciação, influência recíproca e mescla.
Ter colocado lado a lado conteúdos e linhas de tradição diversas permite também elaborar uma primeira representação da complexidade das respectivas culturas e relações sociais, determinantes dos processos de intercâmbio intercultural contemporâneo, no plano regional como global.
O plano geral da obra inclui ainda duas outras coletâneas já em andamento: sobre a China e sobre os países centrais do islamismo. Nas três coletâneas fica claro que a periodização estabelecida pelos autores foge do eurocentrismo, que colocaria o domínio colonial e a independência com marcos delimitadores. As obras procuram inserir-se em referências cronológicas internas aos textos e às culturas em que foram concebidos — embora, obviamente, as datas obedeçam ao calendário gregoriano hoje universalmente praticado na vida civil. Uma vantagem está em que as obras estão disponíveis também em formato eletrônico (www.humanities-online.de). E de se recomendar a todo interessado em abrir seus horizontes e conscientizar-se da diversidade social e cultural do mundo — mais importante talvez do que sua pasteurização “globalizada” — que faça uso dessa(s) coletânea(s), enriquecendo sua própria cultura com o aprendizado dos idiomas que lhes dão acesso — que seja começando pelo alemão.
Notas
1 O edição original, em inglês, foi publicada em 1973 pelajohns Hopkins University Press (Baltimore e Londres). Como em diversos outros países, o livro de H. White só veio a ser traduzido no Brasil em 1992 (EDUSP), omitindo-se no título em português de que se trata da imaginação histórica na Europa do século 19. A polêmica suscitada pela obra talvez explique a opção os editores. Com efeito, Metabistory tornou-se um clássico do assim chamado pensamento pós-moderno acerca da historiografia, a ponto de duas das mais importantes revistas dedicarem números especiais ao tema: History and Tbeory (vol, 19,1980) e Storia delia Storiografta (vols. 24 e 25,1993 e 1994).
2 A Editora da Universidade de Brasília já publicou o primeiro volume da teoria da história de J. Rüsen: Razão Histórica, 2000). Os dois volumes que completam o tríptico deverão ser publicados em 2003.
Estevão C. de Rezende MARTINS – Universidade de Brasília.
WHITE, Hayden. Metahistory. The Histórica/ Imagination in Nineteenth-Century Europe. Johns Hopkins University, 1973; RÜSEN, Jörn; MANHART, Sebastian (Ed.). Geschichtsdenken der Kulturen — Eine kommentierte Dokumentation (O pensamento histórico nas culturas — uma documentação comentada). Frankfurt/Main: Humanities On Line, 2002. Resenha de: MARTINS, Estevão C. de Rezende. Pensamento histórico, cultura e identidade. Textos de História, Brasília, v.10, n.1/2, p.214-219, 2002. Acessar publicação original. [IF]
A idéia de Europa – uma perspectiva histórica / Maria M. Ribeiro
Os estudos europeus tomaram um impulso notável nos últimos vinte anos. Se a construção da integração européia é objeto, há cerca de cinqüenta anos, de análises econômicas, políticas e comerciais, a perspectiva histórica e historiográfica ganhou espaço após a queda do Muro de Berlim.
Com efeito, a superação da fratura bipolar característica da Guerra Fria trouxe conseqüências interessantes para a reflexão acerca da Europa. A Europa ocidental esteve inserida numa lógica de opção atlântica e ocidental cujo fundamento foi a oposição entre democracia e socialismo, com seus desdobramentos econômicos e militares. As longas tradições européias — matrizes do mundo, pode-se dizer em risco de exagero — estiveram em surdina enquanto os “grandes” (Estados Unidos e União Soviética) polarizavam a atenção de todos, em manobras táticas de constante adiamento do apocalipse.
A modificação da correlação de forças na década de 1990 provocou uma intensificação do interesse pela história e pela cultura européias como fatores de identificação, coesão e estruturação da unidade política supra-nacional que se formava desde meados dos anos 1950: a União Européia. A realização da unidade européia evoluiu, na consideração das ciências sociais, de um exercício comercial e estratégico, reservado aos governos e aos juristas, para um elemento crucial de auto-afirmação e de personalidade política historicamente relevante.
Autores favoráveis (eurotimistas) como desfavoráveis (euro-céticos) aos processos de integração européia passaram a se contrapor, em particular no plano político-institucional — sobretudo por causa da crise que esses processos acarretaram na concepção e na prática dos estado-nação. As alianças comerciais e políticas, assim como o lento processamento de uma longa história de rivalidades e contraposições intra-européias, trouxeram um ritmo vagaroso ao progresso da integração européia, mas não a impediram nem a fizeram regredir. A análise histórica dos fatores que concorrem para essa construção tem conduzido à produção crescente de pesquisas e estudos historiográficos que se debruçam sobre três pontos de reflexão: a idéia de Europa, a identidade européia e os processos efetivos da construção institucional da unidade européia pós-1945.
Nesse contexto reflexivo destacam-se, no espaço de língua portuguesa, as obras da professora Maria Manuela Tavares Ribeiro, da Faculdade de Letras e do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20), da Universidade de Coimbra. Grande animadora dos estudos europeus em Portugal, Ribeiro co-organiza, com diversas outras universidades européias (Siena, Salamanca, Atenas, Granada, Swansea, Cracóvia, Estrasburgo, Hannover) um respeitado curso de Master in European Studies, centrado no processo da construção européia. Maria Manuela Ribeiro publicou, em 2003, A idéia de Europa — uma perspectiva histórica (Coimbra: Quarteto, 2003, 972- 8717-84-9, 190 p.).’ Dotado de meridiana clareza, A idéia de Europa — uma perspectiva histórica é um notável guia reflexivo do itinerário percorrido pela concepção de “Europa”, para além de sua mera fixação geográfica, no campo do pensamento e da cultura. Em seis capítulos, divididos em duas partes, a autora conduz o leitor pela emergência da idéia de Europa (parte I), por sua evolução e crise (parte I I , caps. 1-11) e por suas transformações recentes (parte I I , caps. III-V).
A reflexão é instigante e não mascara as crises por que passou o Velho Continente, destacando, contudo, a persistência salutar da perspectiva utópica da construção européia, que afinal vem-se realizando desde meados dos anos 1950 — resultado da consciência coletiva tanto dos conflitos quanto da necessidade de os superar de uma vez por todas.
O olhar analítico da autora se projeta à Antigüidade e à formação do espaço político e cultural helênico para localizar as raízes virtuais da idéia de Europa como topos físico e mental. Se os séculos que se sucederam até o século 20 mostraram a fragilidade dos processos de homogeneização e liderança entre os europeus — soberanos e Estados — a referência a um denominador comum é constante. O conflito entre as interpretações do patrimônio cultural europeu e a concorrência — amiúde violenta — pela hegemonia no Velho Continente são examinados com pertinência e lucidez, indicando a contradição entre o humanismo valorativo e a rudeza dos embates por preeminência entre os contraentes europeus.
Sob o elegante título de “A primavera da Europa”, Maria Manuela Tavares Ribeiro alinha as grandes tradições que emergiram da longa história de rivalidades em que os europeus estiveram mergulhados, por centenas de anos, afastando-se uns dos outros ao optarem (ou serem forçados a optar) por crenças excludentes, nações estranhas, estados combatentes. O trauma do horror, chegado a seu clímax com 2a Guerra Mundial, e a experiência também traumática de viver no clima da Guerra Fria, conduziram não apenas a uma espécie de “exame de consciência” das lideranças políticas e sociais, mas igualmente ao renascimento do pensamento comum, à “primavera” de expectativa e de esperança, ao menos para os próprios europeus. Um preço ainda está por ser pago — ou está a ser pago: a crise da identidade, por tanto tempo ancorada na exclusão do outro (mesmo se co-europeu), e a tentação umbilical de pensar agora somente em si (uma sorte de egoísmo político que, de francês ou alemão, inglês ou italiano, passaria a “europeu” — ainda refém da mesma lógica de estranhamento prático contraposta às boas palavras teóricas). A exposição de Maria Manuela Tavares Ribeiro representa uma demonstração sólida do interesse que há em praticar a reflexão historiográfica para equacionar os fatores da experiência do tempo que marcam a consciência e a cultura histórica.
A reflexão de fundo é acompanhada por um plano pormenorizado de um curso sobre a idéia de Europa (p. 83-96) e por duas vastas bibliografias: uma sistematizada de acordo com o plano de curso (p. 97-138) e outra, geral, sobre a Europa em geral (p. 139-177). Dois índices (onomástico e remissivo) completam o trabalho, de grande utilidade para o leitor. Este livro de Maria Manuela Tavares Ribeiro é um grande instrumento de trabalho para o estudioso dos temas europeus na contemporaneidade, compondo a acuidade da reflexão sobre o complexo tema da noção de Europa e da identidade européia, como questão subjetiva e coletiva, com a limpidez didática em que está lavrado o texto. Um elemento adicional merece destaque: a autora não negligencia de apontar os desafios que ainda esperam a União Européia (entrementes tomada pela Europa como um todo…) no plano político como no cultural e individual. Com efeito, a redefinição da identidade de si, dos cidadãos, e a da Europa — como unidade política — , requerem complexo processo de reorganização mental, por parte das pessoas e dos dirigentes. A contribuição historiográfica de uma reflexão desta qualidade indica como a questão européia já não mais pode ser tratada apenas como um item da agenda interestatal ou intergovernamental, como foi o caso durante os seus primeiros quarenta anos e como a evolução recente das negociações em torno de uma constituição para a Europa demonstrou. O formalismo ainda eivado de um nacionalismo tardio tende a ser superado, mesmo se o processo tenha de ser lento e gradual, desde que seja constante.
Outros trabalhos organizados por Maria Manuela Tavares Ribeiro merecem aqui menção, para a melhor ilustração do leitor. Lembre-se em primeiro lugar a coleção “Estudos sobre a Europa” (de que o volume comentado acima é o terceiro), cujos dois primeiros volumes reúnem estudos relevantes para conhecer a diversidade da reflexão na Europa e sobre ela: Olhares sobre a Europa (vol. 1, 2002) e Identidade Européia e Mulriculturalismo (vol. 2, 2002). Iniciada em 2001, esta coleção é publicada pela Editora Quarteto, de Coimbra. Importa ainda recomendar à leitura do interessado a revista Estudos do Século XX (ISSN 1645-3530), fundada pelo CEIS20 em 2001, que tem Maria Manuela Tavares Ribeiro na direção, como coordenadora. O primeiro número da revista está dedicado ás “Estéticas do Século” (2001) e o segundo, organizado por Maria Manuela Tavares Ribeiro, tem por eixo “Europa-Utopia — Europa-Realidade” (2002), confrontando nesse binômio a dialética que move os europeus, apesar deles mesmos.
Essas publicações, e a qualidade das reflexões que veiculam, mostram ao leitor a amplitude do interesse que a Europa suscita entre os historiadores e o cosmopolitismo crescente da academia portuguesa, na qual se destacam o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20) e a produção científica e pedagógica de Maria Manuela Tavares Ribeiro.
Estevão de Rezende MARTINS – Universidade de Brasília.
RIBEIRO, Maria Manuela. A idéia de Europa – uma perspectiva histórica. Coimbra: Quarteto, 2003. 190p. Resenha de: MARTINS, Estevão C. de Rezende. Europa: uma idéia em mutação? Textos de História, Brasília, v.10, n.1/2, p.221-224, 2002. Acessar publicação original. [IF]
Le retour des ancêtres. Les Indiens Urus de Bolivie/ XXe XVe siècle
Algum dia se fará um balanço da influência do historiador francês Nathan Wachtel sobre nossa visão da história da América. Seu primeiro livro, La vision des vaincus, de 1971, embora ainda não traduzido no Brasil, tem sido lido no original e especialmente na edição espanhola Los vencidos.1 Há marcas visíveis desta leitura em manuais de história da América que incorporaram, com maior ou menor profundidade, a proposta de uma ‘História dos vencidos’. Já o artigo ‘A aculturação’, publicado em Faire de 1’Histoire,2 circula mais freqüentemente entre professores e estudantes de história da América nas universidades brasileiras. Nele, Nathan Wachtel prolongava as reflexões de um de seus mestres, Alphonse Dupront, adotando o conceito e a problemática da aculturação para ultrapassar o eurocentrismo na história da América.
Vinte anos depois, Nathan Wachtel reaparece com esta obra monumental. Seu primeiro livro propunha uma história pelo avesso, revirando ao contrário a capa eurocêntrica da história. Agora, apresenta-nos ura novo desafio igualmente surpreendente: História regressiva, tal como o fez Marc Bloch pela primeira vez em 1931 em Les caracteres originaux de Vhistoire rurale française (que só foi publicado em 1955).
Trata-se de, partindo daquilo do passado que ainda vive no presente, buscar reconstituir o processo do devir, com suas repetições, suas latências, lacunas e inovações, mas sem cair na tentação da descoberta das ‘origens’. Fazer história regressiva, neste caso, significa começar pela abordagem etnográfica de uma pequena aldeia no altiplano boliviano, a quatro mil metros de altitude, onde vivem cerca de mil indígenas chipayas. Nathan Wachtel está em contato intermitente com Chipaya e outros vilarejos urus desde 1973. Membro da Escola de Altos Estudos, filiado ao Instituto Francês de Estudos Andinos, ao Instituto de Estudos Avançados de Princeton e ao Centro de Pesquisas sobre o México, América Central e os Andes (Cermaca), apropriou-se da riquíssima experiência de autores como Claude Lévi-Strauss, Alfred Métraux, Ruggiero Romano, John Murra, Tom Zuidema, Enrique Tandeter, Gilles Rivière, Teresa Gisbert, Jan Szeminski, Maria Rostworowski, Frank Salomon, Carmen Bernand, Thierry Saignes, Steve Stern, Alberto Flores Galindo e outros especialistas com quem convive.
Na primeira parte do livro, ‘Múmias viventes’, Nathan Wachtel projeta ao longo de seis densos capítulos um aguçado olhar antropológico sobre a organização social dos chipayas, procurando a lógica invisível que a rege e que está escrita no seu próprio território, no sistema de parentesco, na língua, no calendário, nos deuses e demônios, nos ritos, na memória e nos sonhos de seus membros. Jogos de espelhos que ora se multiplicam, ora se distorcem, a visão chipaya do mundo é quadripartida, isto é, duplamente dualista, e nisto não se diferencia da cultura aymara que a envolve por todos os lados e a penetra em várias formas. Os aymaras os chamam com desprezo Chullpa-puchu (restos dos primeiros homens), e Alfred Métraux foi levado a pensar que os chipayas seriam, efetivamente, algo como um povo fossilizado perpetuando traços arcaicos da organização social. Mas Nathan Wachtel, atento às diferenças de língua e de vestuário, leva a sério uma distinção essencial: os chipayas e outros grupos urus insistem em caracterizar-se como homens dágua, por oposição a todos os outros homens secos.
Tempo a contrapelo’ na qual todas as informações recolhidas e sistematizadas conforme os procedimentos da antropologia estrutural são submetidas ao teste de um paciente e erudito trabalho de pesquisa nos arquivos da Bolívia, Peru, Argentina e Espanha. Se o historiador lê com alguma dificuldade a primeira parte, cada um dos sete novos capítulos é uma caixa de surpresas. Página por página, os horizontes se alargam. Os urus, ‘homens d’água’, vão se revelando como um importante bolsão de pescadores-coletores instalados ao longo do eixo aquático que liga ainda hoje os lagos Titicaca, Poopó e Coipasa, numa extensão de cerca de oitocentos quilômetros entre as duas grandes linhas de cordilheiras. Numa de suas incursões mais apaixonantes ao fundo do poço escuro do passado uru, Nathan Wachtel encontra alguns indícios que apontam para o horizonte cultural de Tiahuanaco, um império desaparecido séculos antes da hegemonia aymara, e depois inca, na região.
Os urus ou homens d’água eram cerca de oitenta mil indivíduos, quase 25% da população indígena do altiplano, à época da conquista Nada permite crer na existência de uma identidade uru àquela altura: na verdade, desde a noite dos tempos estavam em ação processos de aculturação entre as populações andinas, dentre os quais o mais conhecido foi a política de colonização adotada pelos incas (mitimas). A heterogeneidade dos urus tem sua principal razão de ser na diversidade de situações produzidas em seus contatos com os homens secos, isto é, com grupos sedentários dedicados à agricultura e ao pastoreio. Existe, portanto, uma longuíssima história de ‘evaporação’ (que em geral é sinônimo de aymarização) de homens d’ágiia, toda pontilhada de resistências, recuos e reestruturações.
Nathan Wachtel reconstitui, recorrendo a fontes de todos os tipos, as grandes conjunturas da história uru a partir da montagem dos dispositivos coloniais na região. Forçados a se sedentarizar e constituir aldeias, submetidos à encomienda, os vencidos dos vencidos, uma vez que seus senhores imediatos eram os caciques aymaras. Na memória uru, estes foram tempos de escravidão e de morte: além do trabalho mais humilde e pior remunerado, sofreram as vagas de epidemias que dizimavam a maioria das populações andinas.
A sorte dos urus oscilou conforme algumas variáveis: épocas de abundância ou de escassez de mão-de-obra nativa, ritmo da produção de prata e mercúrio nas minas, diferença entre os preços na Europa e na América, campanhas de evangelização e de extirpação de idolatrias, ressecamento dos lagos, aquisição de novas técnicas etc.
A grande indagação do livro é a identidade dos chipayas, esse vilarejo uru criado pelo vice-rei Toledo na década de 1570, que o autor visitou pela primeira vez em 1973 e que, nove anos depois, quase não reconheceu. A rapidez das mudanças provocadas pela introdução de novas seitas religiosas na aldeia, quebrando uma estrutura secular que pareceria, aos menos atentos, imemorial, é apenas mais uma grande ruptura. Caso um chipaya adulto de 1600 retornasse à sua terra em 1660, encontraria praticamente a mesma dominação aymara sobre o seu povo, e estranharia apenas a sua cristianização superficial. Voltando novamente em 1720, nosso chipaya ressuscitado desconheceria os nomes de família de seus descendentes, o seu novo sistema de parentesco, o seu sistema sincrético de crenças, e surpreender-se-ia com uma crescente tendência à emancipação da servidão. Sessenta anos mais tarde, em 1780, à época das grandes revoltas de Túpac Amaru e de Túpac Catari e da generalização da condição indígena, nosso fantasma chipaya teria ainda maior surpresa diante da consolidação dos direitos territoriais da aldeia, do funcionamento regular do sistema de cargos articulando a circulação dos bens, da afirmação segura de uma identidade uru.
No início do século XX, uma revolução agrícola, resultante da aplicação exclusiva da lógica indígena à solução do problema do ressecamento progressivo do lago Coipasa, elevou o padrão de vida e estabilizou o sistema social dos chipayas que Nathan Wachtel iria encontrar em 1973. Já em 1982, os deuses estavam proscritos, as festas suprimidas, rivalidades religiosas cindiam perigosamente as quatro metades da aldeia. Porém, numa última noite, Wachtel é convidado para uma cerimônia clandestina de culto aos ancestrais: sinal de que a identidade uru permanece viva em um segmento da comunidade chipaya e de que o futuro permanece em aberto.
A complexidade e profundidade da obra a fazem duplamente importante como antropologia e como historiografia. Esperamos que esta breve resenha estimule a curiosidade por um livro que descortina horizontes até há pouco insondáveis na história da América. História a contrapelo feita com um rigor metodológico e uma erudição pouco comparáveis, Le retour des ancêtres é tão comovente em sua procura de abertura para a enigmática alteridade de um pequeno povo indígena desprezado até pelos outros índios, que muitos leitores acompanharão Nathan Wachtel até as lágrimas em determinadas passagens que só puderam ser escritas como fina literatura — crônica da busca de um tempo perdido que permanece vivo à espera de quem o queira saber ler.
Jaime de Almeida – Universidade de Brasília. Departamento de História.
WACHTEL Nathan. Le retour des ancêtres. Les Indiens Urus de Bolivie, XX* XVf siècle. Essai dfhistoire régressive. Paris: Gallimard, 1990. 690 pp. Resenha de: ALMEIDA, Jaime de. Textos de História, Brasília, v.4, n.1, p.154-158, 1996. Acessar publicação original. [IF]
Domes du XIV Siècle / Georges Duby
No início do nosso século, Henri Berr chamava a atenção para o fato de que a história não poderia ser somente um exercício de erudição. Dava-se início, então, a um profícuo debate em torno da Revue de Syuthèse, reunindo sociólogos, economistas, geógrafos, historiadores e psicólogos. Participante deste seleto grupo, Lucien Febvre foi aí influenciado de forma decisiva pelo próprio Berr e pelo economista Simiand.
Em 1929, juntamente com Marc Bloch ele criou os Annales, que se transformaram ao longo dos anos numa das vertentes mais importantes da historiografia contemporânea.
Do período em que a economia dominava sob a batuta de Braudel, aos estudos que a destronaram marcados pela influência de Lévi-Strauss e Foucault, a historiografia francesa deu amplas demonstrações do seu vigor. Mas não parou aí. Com o mesmo vigor que se estudou ou se estuda as mentalidades e a cultura, que se aponta para as dimensões do imaginário e do simbólico, insiste-se na importância da narrativa e no regresso — em outras bases que não as do positivismo novecentista — da biografia e da história política.
Talvez nenhum historiador na França espelhe tão bem a trajetória percorrida pela historiografia francesa nesta segunda metade do nosso século, como Georges Duby. De la société aux Xí et Xlf siècles dons la région mâconnaise (1953) a Dames du XIT siècle (1995), os mais de dez títulos que compõem sua obra sugerem o percurso do historiador que atualiza sempre, de forma surpreendente, objeto e método.
Este seu último livro lançado no início deste ano, primeiro de uma série de três nos quais pretende a partir do uso de diferentes fontes se ocupar do lugar que a sociedade medieval destinava às mulheres, Duby mais uma vez nos oferece uma combinação perfeita de erudição e criatividade.
A pesquisa feita sobre Heloísa, Eleonora, Isolda e as outras damas não resulta em absoluto em estudo biográfico nos moldes tradicionais. Reforçando o tom narrativo já anunciado anteriormente em outras obras, como Guilherme, o marechal, Duby serve-se habilmente da vida dessas damas para penetrar nas estruturas mentais da sociedade feudal e realizar um delicioso estudo dos costumes que indicam, por sua vez, o sistema de valores imposto na época às mulheres. É do sexo, da relação entre os sexos, ou mesmo da ‘guerra’ entre homens e mulheres, do código criado pela Igreja para normatizar e enquadrar essa relação que trata o livro.
A idéia de que o sexo era a fonte do pecado encontrava- se impregnada no fundo das consciências, tornando o desejo carnal naturalmente temido. Situada neste sistema de valores, a mulher era percebida como uma criatura ‘essencialmente má’ por ter introduzido no mundo o pecado. Presa fácil, porque frágil, o demônio dela se serviria para desencadear o mal e a desordem social. A tentação representada no corpo da mulher e o casamento são o eixo comum em torno do qual giram as vidas dessas damas: mulheres da aristocracia, destinadas já na adolescência ao casamento, escandalizam a sua época por desafiarem o sétimo sacramento instituído pela Igreja no século XII. Toda uma lenda as envolve, mas Duby, partindo de fontes escritas diversificadas — cartas, sermões, literatura —, estabelece uma comparação entre o nosso olhar e o dos seus contemporâneos. Existe, adverte ele, uma grande diferença entre a Isolda de Wagner, ou do filme de Cocteau, e a Isolda do século XII. Enquanto demonstra que no casamento a Igreja não buscava somente o controle social, mas também o político, porque passava a intervir no casamento dos reis, Duby não perde de vista os demais aspectos da reforma eclesiástica que normatizam a sociedade.
Se Eleonora é pretexto para demonstrar a intervenção da Igreja na política, o estudo do culto de Maria Madalena exemplifica que a reabilitação da mulher é possível pela submissão ao homem. Ao estabelecer obviamente a concepção do casamento para a aristocracia condenando o incesto e a poligamia, a Igreja organiza também a si mesma, impondo ao clero a continência. Mas não só. A problemática das relações do trabalho intelectual com as coisas mundanas, sobretudo o sexo, é também abordada por Duby na minuciosa e erudita pesquisa que realiza nas cartas trocadas entre Heloísa e Abelardo.
Enquanto escreve, Duby introduz o leitor nos procedimentos de sua pesquisa. Já no início chama a atenção para a dificuldade de escrever sobre as mulheres devido à especificidade dos testemunhos existentes que fazem com que, segundo sua palavras, o historiador avance, ‘penosamente’, sobre um ‘terreno difícil’. Consciente da suas limitações, esclarece que aquilo que pretende mostrar não é o ‘realmente vivido’, visto que este é inacessível. A sociedade, para ele, possui suas defesas e só exibe de si mesma aquilo que julga bom exibir. A preocupação em regulamentar a relação entre os sexos aparece abundantemente nos testemunhos de toda natureza, mas é na literatura para divertir que Duby vai pinçar a negação do sistema de valores que subordinava a mulher ao homem. Em Tristão e Isolda ele vê a representação das fantasias da gente da corte, mas lembra que a bela Isolda, adúltera, é estéril, e que, como no século XII a mulher só encontra sua plenitude na maternidade, a punição evitaria, assim, o nascimento de bastardos. No romance de Chrétien de Troyes, onde ostensivamente os personagens Fênix e Cligès são a antítese de Tristão e Isolda, Duby nos reserva uma surpresa: Chrétien de Troyes valoriza e exalta o valor do casamento, tendo o amor como prelúdio; há, portanto, uma mudança na representação da relação entre os sexos e reconhece que, embora tenha combatido duramente a hipótese de uma promoção da mulher na época feudal — Heloísa e Eleonora são mulheres frágeis —, as figuras femininas de Chrétien de Troyes que conduzem a trama do romance indicam ao historiador uma nova direção na relação entre os sexos.
Composto em 1176, o romance pressupõe uma modificação dos costumes da alta aristocracia em um momento em que no norte da França a economia mercantil decola, as guerra perdem a sua intensidade, modificando a política matrimonial das linhagens e tornando o casamento o grande vencedor.
Independentemente da sua natureza — cartas, sermões, literatura —, Duby lembra que a composição do texto obedecia a regras predeterminadas (não se escreve uma carta no século XII, como nos nossos dias) e insiste que tais narrativas constituem de forma análoga à hagiografia um exemplo a ser lido em alta voz, reforçando, assim, o papel da oralidade na sociedade medieval. Enquanto a força de alguns textos garantiu a sua transmissão e mesmo a perpetuidade, outros caíram no esquecimento, como o relato da vida de Juette, uma jovem visionária que viveu em 1172 em Huy (atual Bélgica). Juette exerceu forte influência sobre as mulheres, levando-as a resistir ao desejo carnal e, conseqüentemente, ao homem e ao casamento. A multiplicação nesta região das comunidades de reclusão preocupou a sociedade. O exemplo de Juette não era bom. A visionária foi esquecida.
Maria Eurydice de Barros Ribeiro – Universidade de Brasília. Departamento de História.
DUBY, Georges. Domes du XIV Siècle. Heloíse, Aliénor, Iseut et quelques autres. Paris: Gallimard, 1995. Resenha de: RIBEIRO, Maria Eurydice de Barros. Textos de História, Brasília, v.3, n.1, p.150-153, 1995. Acessar publicação original. [IF]
Geschichte sehen / Jörn Rüsen
Ver a história é o título de uma obra coletiva, organizada por Jõrn Rüsen, Wolfgang Ernst e Heinrich Theodor Grütter (Geschichte sehen. Beitràge zur Àsthetik historischer Museen. Pfaffenweiler: Centaurus, 1988, 171+XXV pp.), que debate as questões referentes à apresentação de conteúdos históricos em museus e sua função social-pedagógica. A representação mental da memória e da consciência históricas é analisada desde a perspectiva do ideário presente nas mentalidades e nas organizações sociais que se pensam e expõem, mediante critérios de escolha de temas, objetos, textos e espaços.
Encenar a história como um espetáculo, como um espelho, torna-se um problema teórico e metodológico que ultrapassa o âmbito do gosto, da afetividade, da emoção. A conjuntura da construção da identidade e da especificidade dos grupos sociais mediante a elaboração da consciência histórica toma, na decisão de fazer museus e de preservar indícios [como no conservacionismo arqueológico], uma dimensão que mescla critérios político-administrativos e posições teórico- metodológicas. O mesmo vale para as exposições temporárias, da qual é exemplo a organizada em Munique, de 22 de outubro de 1993 a 27 de março de 1994, sobre München – Hauptstadt der Bewegung (Munique —A capital do movimento), cujo catálogo (485 pp.) não é uma mera descrição de peças expostas e logradouros da cidade, mas um livro de reflexão sobre a realidade social e econômica da Alemanha e sobre a consciência alemã na primeira metade do século XX, que levou (ou tornou possível que se levasse) ao surgimento do nazismo e à consagração da capital da Baviera como a capital do “movimento”. Numa e noutra obra reflete-se de modo esclarecedor sobre as três dimensões da cultura histórica: a política, a científica e a estética, ou seja: o poder, a verdade e a beleza, indispensáveis à qualificação social de histórias que tencionam ter efeito sobre a realidade concreta dos homens.
Ver a história exprimiria, assim, a sintonia suposta (e esperada) entre o mostrado (ou escrito) e o observador (ou leitor), na medida em que as três dimensões encontrariam, na exposição e na compreensão, inteligência comum.
A preocupação com a enunciação e a exposição do pensamento histórico enquanto formador e formulador de identidade social é uma constante na segunda metade do século XX. Os historiadores de língua inglesa e alemã sempre manifestaram interesse especial pelas questões teóricas e metodológicas.
Desde os anos 1960 vem sendo intensa a dedicação a essas questões, em particular ao desenvolvimento da história social e das idéias. A renovação também da história política a que os Anna/es e seus descendentes decerto não são estranhos — reforçou essa tendência. A constituição da história como ciência social e a garantia de sua cientificidade foram objeto de textos que marcaram de forma indelével a prática da ciência histórica no espaço de língua alemã (e mesmo inglesa), como Geschichte ais Sozialwissenschaft, editada pelo historiador social alemão Hans-Ulrich Wehler, em 1973. O crescimento da reflexão teórica sobre os fundamentos da história acelerou-se nos anos 1970 com a formação de amplo grupo de trabalho reunindo filósofos, historiadores, sociólogos, literatos, antropólogos, politólogos e outros (não apenas alemães, mas também ingleses e americanos). Do trabalho desses especialistas resultou uma série de seis volumes de excepcional qualidade, sob o título geral de Theorie der Geschichte, publicado pela dtv wissenschaft, de Munique, entre 1974 e 1990, com os seguintes temas: “Objetividade e partidarismo na ciência histórica”, “Processos históricos”, “Teoria e narrativa na história”, “Formas da historiografia”, “Método histórico” e “Todo e parte”. A tônica desses trabalhos está na pluralidade de abordagens e na interdisciplinaridade, em torno do eixo sistematizador da história social. Jõrn Rüsen, um dos principais formuladores da teoria contemporânea da história, publicou — entre 1983 e 1989 — a mais completa síntese em teoria e metodologia da ciência histórica, sob o título geral de Elementos de uma teoria da história e em três partes: Fundamentos da ciência histórica, Reconstrução do passado: os princípios da pesquisa histórica e Fíistória viva: formas e funções do saber histórico (Gõttingen: Vandenhoek & Ruprecht).
Rüsen concentra-se no caráter racional e seletivo, valorativo e orientador que a elaboração do conhecimento histórico, sob o rigor do método e da pesquisa empírica controlada, possui.
O principal foro de repercussão e valorização das opções teóricas e metodológicas da ciência histórica vem sendo, desde 1962, a revista History and Theory (Wesleyan University, Middletown, Conn., EUA), que tem hoje, entre seus editores, I. Berlin, R. Koselleck, J. Rüsen, A. Danto, J. Passmore, P. Veyne, W. Dray, H. White e J. Topolski. A contribuição da revista para a libertação da ciência histórica de sua fase empirista, descritiva, foi decisiva. Inúmeros equívocos clássicos, como o da confusão entre estilo narrativo e desqualificação da história como ficção pararomanesca, puderam ser desmascarados e superados nas páginas de Hayden White, por exemplo.
Conexo com a questão teórica e com a perspectiva social- pedagógica da exposição do juízo histórico descritivo e explicativo, há um importante aspecto adicional que se destacou, nos últimos quinze anos. Também ele tem a ver com o produto historiográfico constituído e com seu efeito social na comunidade. Trata-se do caráter didático-pedagógico do saber histórico. Com o Manual da didática da história (Handbuch der Geschichtsdidaktik. Düsseldorf: Schwann, 1a edição: 1979; 3a edição: 1985), organizado por K. Bergmann, A. Kuhn, J. Rüsen e G. Schneider, busca-se ultrapassar a freqüente torre de marfim em que a história se encastela, para dar à historiografia uma dimensão a que não pode ficar alheia: a de co-autora da identidade e do processo de constituição dos grupos sociais. Assim, o Manual abre com a apresentação da história como meio ambiente mental dos homens em sociedade, passa por sua consolidação como ciência de rigor, debate longamente o papel e a função da história no ensino escolar e na preparação de seus docentes e conclui pela análise da presença da história no espaço público fora das trincheiras formais das escolas e das universidades. Esse tipo de reflexão potencializa o papel social do conhecimento histórico na perspectiva de sua relevância para a definição mesma do agente racional humano no contexto de seu mundo (de seu espaço de vida, de pensamento, de ação): pensar-se a si próprio e a seu mundo, historicamente, é constituir-se e a ele. A realidade (re)construída pelo saber histórico revela, assim, o caráter antropológico do mundo pensado, descrito e explicado. Sentir a história dessa forma, tomar-lhe o pulso, é — para um número crescente de historiadores — uma tarefa que vai além da pesquisa e da elaboração de uma monografia.
A queda do muro de Berlim e a súbita necessidade de (re)encontrar-se o sentido e a direção dos alemães em sua vertiginosa história contemporânea ofereceram ocasião para um sem-número de estudos e publicações. Muitos relevam análise política e das relações internacionais. Um, contudo, da registra o quanto essa circunstância da vida da Alemanha fez recrudescer o interesse pela história, já que o passado e o presente da sociedade alemã e de seu contexto social, político e econômico são tão carregados de episódios complexos e de repercussão mundial. Interesse an der Geschichte (Interesse pela história. Org. por Frank Niess. Frankfurt—Nova York: Campus, 1989, 144 pp.) acolhe posições de historiadores alemães de renome, que se dedicam a esmiuçar a complicada relação, para os alemães, entre consciência, explicação histórica e responsabilidade social coletiva. A “catástrofe alemã” do nazismo e da ruptura social subseqüente à “organização” da guerra fria, cuja fronteira cortava a Alemanha em duas, constituíra-se em um ponto nevrálgico da consciência histórica que, após inúmeras polêmicas, desembocou na maior delas, em 1986. Esta ficou conhecida como o Historikerstreit (a polêmica dos historiadores), cujo teor foi a superação de um tipo de ser alemão e de fazer-lhe a história que rompesse com o período 1933-1945. A “catástrofe alemã” (W.Schulze), o “aprendizado da história” (K.-E. Jeismann), a história como “objeto de exposição” (G. Korff), a mulher na história e a história das mulheres (G. Bock), o esclarecimento [no sentido do fluminismo] e a instituição do sentido (H.-U. Wehler), a continuidade e a ruptura da identidade (J. Rüsen) e outros temas candentes fizeram da história, para o dia-a-dia dos alemães, algo de interesse prático e imediato, conquanto ainda não ao ponto de tornar os livros de história tão lidos “popularmente” (não confundir com vulgarização ou pseudohistória) como na França. O componente histórico, como elo de coesão e estruturação da consciência de si, aparece, assim, como o interesse mesmo de sua constituição racional, individual e social: “Uma ciência histórica orientada por idéias da Aufklárung, formuladas em sintoma com a atualidade, pode contribuir para enunciar um saber orientador racional, fundado historicamente” (H.-U. Wehler).
Ficam referidas aqui, pois, algumas leituras que trazem contribuição renovadora e inovadora para o campo da ciência histórica e de seus desdobramentos, para bem além do espaço lingüístico alemão. Há certa dificuldade, para nosso público, em ponderá-las, justamente por se tratar de livros publicados em alemão, língua de uso pouco freqüente entre os historiadores no Brasil. Alguma coisa das contribuições desses autores tem versão inglesa (traduções integrais e, no mais das vezes, artigos publicados na History and Theory), o que pode ajudar no acesso aos textos.
Nota
1. A produção historiográfica contemporânea é tributária da revolução metodológica original e originária da escola dos Annales; como aqui não se dá notícia específica dela, remete- se, para um balanço sucinto e sob as categorias derivadas da investigação da superação do Antigo Regime, a Peter Burke: A Escola dos Annales 1929-1989. A Revolução Francesa da historiografia. São Paulo, Editora UNESP, 1991 (orig. francês: 1990).
Estevão C. de Rezende Martins – Universidade de Brasília.
RÜSEN, Jörn; WOLFGANG, Ernst; GRÜTTER, Heinrich Theodor (Org.). Geschichte sehen. Beitràge zur Àsthetik historischer Museen. Pfaffenweiler: Centaurus, 1988, 171p. Resenha de: MARTINS, Estevão C. de Rezende. Ver, sentir, fazer a história. Textos de História, Brasília, v.2, n.4, p.175-180, 1994. Acessar publicação original. [IF]
La decouverte de l’Amèrique? Les regards sur Vautre à travers les manuels scolaires du monde / Pierre Ragon
Situada em local onde havia uma antiga livraria brasileira de oposição à ditadura, em Paris, a editora/livraria L’harmattan encontra-se entre as quinze primeiras editoras francesas. Criada em 1974, voltada sobretudo para as ciências humanas, L’harmattan concede ao denominado “Terceiro mundo” um espaço privilegiado, que começou pelas publicações que tratavam da África e do Brasil. Atualmente, ela cobre toda a América Latina e oferece ao público cerca de seiscentos títulos novos por ano. A maior parte dessas publicações permanece, no entanto, ignorada pelo público brasileiro. Nesse sentido, é interessante salientar dois trabalhos publicados por ocasião das comemorações do V Centenário do descobrimento da América.
O primeiro é La decouverte de l’Amèrique? Les regards sur Vautre à travers les manuels scolaires du monde (1922). O organizador é Javier Pérez Siller, sociólogo e historiador mexicano, professor da Universidade Nacional do México, que tomou como ponto de partida o fato de ser o descobrimento da América um dos poucos acontecimentos históricos considerado como patrimônio universal. Em todos os países do mundo, as crianças aprendem que em 1492 Cristóvão Colombo descobriu a América. Com isto, Javier Pérez Siller lançou um desafio a um grupo de pesquisadores das mais diversas nacionalidades: demonstrar como o descobrimento da América foi representado nos manuais escolares. Foram pesquisados 150 manuais escolares em uso em setenta países.
O grande mérito e originalidade desse livro de agradável leitura encontra-se na sua proposta. Javier Pérez Siller reuniu pesquisadores da Alemanha, França, Grécia, Portugal, Venezuela, Colômbia, Camarões e Marrocos, dentre outros países.
O trabalho permite, assim, uma leitura comparativa a respeito dos descobrimentos, nos manuais escolares, das diversas partes do mundo, rompendo com a visão europeocentrista.
A inspiração do organizador não é difícil de adivinhar. Muitos certamente lembrar-se-ão, imediatamente, de Marc Ferro em Comment on raconte l ‘histoire aus enfants a travers le monde entier ( Paris, Payot, 1986) e em L ‘histoire sous surveillance (Calmann-Levy, 1985). Muito antes das comemorações do V Centenário do descobrimento da América, Ferro já denunciava as conseqüências de uma visão teleológica e europeocêntrica da história. Prefaciando a obra organizada por Péres Siller, Ferro adverte que “não se trata de um catálogo”, mas de uma confrontação entre as diferentes visões da história, a partir de um observatório particular”. A leitura do livro reafirma as observações de Marc Ferro.
A descoberta da América, como acontecimento que se representa, submete-se a um jogo complexo que envolve aspectos nacionais, internacionais, culturais e étnicos. Lamentavelmente, embora trabalhos como este questionem a história europeocentrista, os manuais escolares continuam perpetuando uma história centrada nos valores europeus ocidentais. Resta ao menos refletir entre a distância que no Brasil separa a produção acadêmica da produção do manual escolar.
O segundo livro, Les itidiens de la découverte. Evangélisation, mariage et sexualité (1992) é de autoria de Pierre Ragon, jovem historiador interessado em história religiosa da América Latina na época moderna e professor da Universidade de Paris X — Nanterre. Pierre Ragon segue bem de perto, nesse trabalho que trata do México pós-conquista, a trilha aberta já há alguns anos pela historiografia francesa, que aproxima a história da antropologia. O autor propôs-se a analisar o encontro de duas culturas, concedendo a evangelização o papel de transposição dos valores europeus — moral e concepções de vida — para a sociedade ameríndia completamente desconhecida.
Na abordagem dessa transposição, o autor elegeu o estudo da introdução do casamento cristão entre os índios. Ragon não restringiu o seu trabalho a um estudo de história religiosa. Com a análise do casamento, penetrou na sociedade indígena, desvendando os laços mais elementares ali existentes.
No contexto da colonização espanhola deteve-se no exame da complexa passagem de uma sociedade “paga” à cristandade, destacando com perspicácia como, aos poucos, o casamento e a sexualidade foram se tornando prioritários para os evangelizadores, uma vez que pelo casamento cristão era possível normalizar a vida dos indígenas, segundo uma fé que eles passavam a adotar. O autor insiste ainda na “abertura de espírito” de grande parte dos religiosos que aceitaram muitas das instituições indígenas, viabilizando assim a implantação das novas normas de vida. Integrando a reflexão teológica aos costumes desses povos desconhecidos, buscavam no pensamento de São Tomás de Aquino (definição do casamento e concepção da lei natural) a defesa da validade das uniões indígenas.
De forma interessante, num estilo elegante, Ragon mostra como os religiosos foram além da reflexão intelectual, lançando-se na prática a uma tarefa pedagógica que inicialmente procurou o apoio das elites indígenas, intervindo nos conflitos pelo poder, contando com o apoio feminino, enfrentando resistências e, finalmente, modificando e impondo com o casamento cristão uma reestruturação do sistema de alianças políticas, anteriormente fundadas na poligamia.
As fontes utilizadas pelo autor revelam a seriedade e a profundidade do trabalho, que não se contentou com análises superficiais. Foram pesquisados tratados de teologia, processos da Inquisição, exposições, questionários, catecismos, manuais de confissão e a correspondência dos missionários. A obra possui quatro capítulos, nos quais Ragon discorre sobre a definição dos casamentos indígenas, os teólogos do Novo Mundo e a escolástica medieval, as novas regras de comportamento e, finalmente, a evolução das relações matrimoniais e o impossível controle das condutas. O livro é ainda enriquecido por um léxico, anexos, esquemas, gráficos e fotografias.
A retomada das teses clássicas da filosofia tomista pelos missionários do século XVI e a amplitude da cristianização na América diminuem certamente as fronteiras temporais que separam a Idade Média dos tempos modernos. Javier Guerra, no prefácio ao livro de Ragon, afirma que ‘”nosso conhecimento desses fenômenos no México pode esclarecer, por analogia, os processos de aculturação que se produziram antes, na Europa, quando da cristianização dos germanos, dos eslavos e dos escandinavos”.
Maria Eurydice de Barros Ribeiro – Universidade de Brasília.
SILLER, Javier Pérez. (Org). La decouverte de l’Amèrique? Les regards sur Vautre à travers les manuels scolaires du monde. 1922; RAGON, Pierre. Les indiens de la découverte. Evangélisation, mariage et sexualité. 1992. Resenha de: RIBEIRO, Eurydice de Barros. V Centenário do descobrimento da América. Textos de História, Brasília, v.2, n.4, p.182-184, 1994. Acessar publicação original. [IF]
Ao Sul do Corpo. Condição feminina, maternidades e mentalidade no Brasil Colônia / Mary Del Priori
A obra Ao Sul do Corpo. Condição feminina, matemidades e mentalidades no Brasil Colônia, de autoria da historiadora Mary DEL PRIORI, publicada por J o s é Olympio e EdUnB, em 1993, cobre uma enorme lacuna existente para o estudo da condição feminina na Colônia, povoada sobretudo por “mestiças” e marcada pelo entrecruzamento de etnias diversas, caracterizadas pela alteridade: brancas, negras e índias. Além de demonstrar grande trânsito com a bibliografia internacional, a autora realizou excelente pesquisa de documentos, muitos deles certamente inéditos: fontes manuscritas e impressas (Arquivo Nacional e do Estado de São Paulo e da Cúria Metropolitana de S ã o Paulo; Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e de Lisboa; Arquivo Nacional da Torre do Tombo).
DEL PRIORI referencia sua reflexão no processo civilizatório europeu de normatização da mulher que atinge toda a cristandade ocidental, sobretudo a partir do Concilio de Trento (1545-1563), e que é elemento central do movimento de reorganização das funções do corpo, dos gestos e dos hábitos, traduzidos em condutas individuais, as quais deveriam refletir a pressão organizadora moderna dos jovens Estados burocráticos sobre toda a sociedade. Ou seja, tratava-se da privatização do eu e, simultaneamente, da apropriação privada dos meios de produção. Esta nascente ética sexual assentada no adestramento, sobretudo da mulher, fez-se, nos trópicos, a serviço do processo de colonização.
Tratava-se de organizar as gentes e o povoamento da Colônia marcada nos três primeiros séculos pelos fluxos e refluxos humanos, isto é, por uma convulsiva mobilidade, especialmente dos homens. Em lugar de condutas individuais (noção de privacidade do eu), identifica-se, no p e r í o d o , uma enorme disponibilidade sexual contaminada pela exploração sexual do escravismo, por um amolengamento moral e, como diria Caio Prado Jr. em Formação do Brasil Contemporâneo, por “falta de nexo moral” e “irregularidade de costumes”. Predomínio de ligações consensuais, chamadas de “tratos ilícitos”, de filhos gerados em amasiamento de brancos com í n d i a s e em concubinato (trazido pelos portugueses e amplamente divulgado nas classes subalternas) e de famílias matrifocais: a mãe integradora de seu fogo doméstico, ou seja, mantenedora, gestora e guardiã dos seus e de outros filhos ilegítimos.
A reflexão sobre o processo de normatização e adestramento da mulher na Colônia é feita, sobretudo, a partir da análise dos discursos e práticas da Igreja e dos médicos. A ação moralizante da Igreja após o século XVI, que teve como alvo o combate às sexualidades alternativas, o concubinato, as religiosidades desviantes e a valorização do casamento e da austeridade familiar, vai se erigir na Colônia por razões do Estado: necessidade de povoamento das capitanias, de segurança e de controle social. As mães, em sua função social e psicoafetiva, transformam-se no período em estudo, num projeto do Estado e principalmente a Igreja encarregarse- á de disciplinar as mulheres da Colônia, fazendo-as partícipes da cristianização das índias. Os filhos nascidos fora do casamento comprometiam a ordem do Estado Metropolitano, pois implicavam no incremento de “bastardos” e “mestiços”, colocados pelo p r ó p r i o sistema nas fímbrias da marginalidade social As mães, chefes da maioria das casas e das famílias – mantenedoras de seus fogos domésticos -, foram eleitas como responsáveis pela interiorização dos valores tridentinos. O casamento insolúvel, a estabilidade conjugai, a valorização da família legítima – espécie de fermento da cristandade -, apresentadas como recompensa e reconforto frente à generalizada situação de abandono por parte dos homens-maridos-companheiros- pais.
O modelo europeu é trasladado à Colônia, pois aqui, no “trópico dos pecados”, morava por excelência, o Diabo. Daí a maior necessidade de ordenação e de normatização. O alvo preferido foram as mães solteiras pois estas não conheciam as benesses do casamento.
A maternidade passa a ser a remissão das mulheres e o preço da segurança do casamento o “portar-se como casada”. A identidade da mulher que se constituía de uma gama de múltiplas funções (mãe de filhos ilegítimos, companheira de um bígamo, manceba de um padre, etc.), deveria passar a introjetarse apenas nas relações conjugais.
A Igreja contou, para a implantação de tal projeto, com a fabricação generalizada da culpa (Pastoral de culpabilização dos fiéis), do medo (Pedagogia do medo), da vitimidade e da intensificação da polaridade mãe-santinha X puta. Esta última tornou-se o bode e x p i a t ó r i o do projeto de normatização, enquadrável enquanto tal toda a mulher que não se “portasse como casada” e como “mãe-santinha”: ambigüidade dos papéis de lascívia e pobreza que confundiam a vida sexual irregular com prostitutas, identificadas ainda no século XIX pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro com “cancro”, “chaga”, “úlcera” e “gangrena”.
As não casadas e o aborto associados à luxúria, ao de mônio, ao inferno. O parto sem dor como parto sem pecado: maior devoção, melhor parto. O filho imperfeito, resultado da prática do sexo em dias proibidos ou com animais, ou então resultado da “imaginação feminina”. Os filhos gerados fora do casamento, comparados à “imperfeição da cristandade” e “aleijados da natureza”.
Destacam-se a eloqüência dos sermões difundindo a idéia de mulher como naturalmente sereia, diaba e perigosa e impondo a devoção a Nossa Senhora com vistas a comportamentos ascéticos, castos, pudibundos e severos, a l ém do culto à virgindade e o confessionário como instrumento potente de controle de intenções.
Por sua vez, o discurso normativo médico sobre o funcionamento do corpo feminino apoiava o discurso da Igreja na medida em que indicava como função natural da mulher, a procriação. Fora desta, restava-lhe o lugar da exclusão: a melancolia ou a luxúria. Ao estatuto biológico da mulher, o discurso médico procurava associar outro, moral e metafísico: esta tem um temperamento comumente melancólico, é um ser débil, frágil, de natureza imbecil e enfermiça.
O critério do útero como regulador da saúde física e mental da mulher irradiava-se da Europa do Antigo Regime, difundindo a mentalidade de que a mulher era física e mentalmente inferior ao homem. A concepção e a gravidez como rem é d i o para todos os “achaques femininos”. A medicina comprazia-se, ainda no século XVIII, em enxergar nos males físicos, sinais de transgressão sexual. Assim, histeria guardou o nome grego de ú t e r o (hyster) e um corpo h i s t é r i c o era denotativo de desordem moral.
A menstruação era associada à magia, transformações e veneno, atualizando as proposições de Santa Hildegarda de que aquela era um castigo decorrente do pecado original. Este sangue envenenado tinha o poder de estragar o leite, vinho, colheitas e metais: pelo excesso de secreções e odores a mulher devia se isolar em seu cotidiano.
Se menstruada a mulher era ameaçadora e grávida vulnerável, conclui-se pela urgência de novas matemidades. A autora localiza, inclusive, anotações médicas indicando o mal-estar dos homens diante das feiticeiras, capazes de adoecê-los, mas também de curá-los com seu sangue poderoso.
Só a partir de 1750 os médicos vão substituir o temor pelo cuidado. Apenas no final do século XVIII identificam-se modestos avanços da medicina no sentido de identificar outras razões para enfermidades femininas que não o clima ou a vida pecaminosa – os terríveis males da “madre”.
A importância da lactação passa a ser percebida tanto por doutores, quanto pela Igreja como um dever moral, desde o século XVI. A partir daí instaura-se o combate às amas-deleite: cada vez mais o aleitamento torna-se um dever e parte fundamental do processo de sacralização do papel da mãe.
Assim, no século XVIII localiza-se uma nova representação da Nossa Senhora do Bom Parto: uma mulher feliz com filhos nos braços e não mais grávida.
Por sua vez, se a puta era o bode expiatório do projeto de normatização, a partir do século XIX será o bode expiatório também do processo de higienização da sociedade. Tratava-se de higienizar a noção de sexualidade: exaltação da sexualidade conjugai, na medida em que o prazer em excesso e a ausência de finalidade reprodutora passam a ser condenados pela medicina como doença física e moral.
Fundamental no processo, localizar o papel do marido: cabeça da mulher, que cuida para que ela cumpra os encargos da profissão cristã. Para evitar as tentações ela devia ser obrigada a obedecê-lo por preceito divino, nem cabelo cortar sem sua autorização. As mulheres deveriam ser fiéis, submissas, recolhidas e sobretudo fecundas. O marido passava a ser o único elo de ligação com o mundo. Assim, aquele torna-se uma espécie de porta-voz das demandas de adestramento propostas pela Igreja, a l ém de ser motivo para um sutil processo de culpabilização, pois em torno dele se mostraria uma estratégia de gratidão escravizante. Os maridos deveriam ser dominadores, voluntariosos, insensíveis e egoístas no exercício da vontade patriarcal.
Assim, pode-se pensar que o processo de adestramento, ao colocar os maridos, os filhos e os pais ocupando determinadas posições em relação às mulheres, disciplina o próprio gênero masculino, construindo, conseqüentemente, uma nova identidade masculina. Por sua vez, ainda que a autora destaque o projeto matrimônio-maternidade enquanto concebido como espaço normatizador, n ã o aponta a sua contra face que é a ligação com a paternidade, matrimônio-paternidade. O silêncio das fontes sobre a paternidade é denunciador da própria incerteza e da dificuldade de naturalização da mesma. Isto se deve, em boa medida, pela sinonimização que é feita da categoria de g ê n e r o ora por sexo, ora por mulher. Neste sentido, o conceito é desvirtualizado, pois não se remete à dimensão relacionai, fundante do mesmo.
Outro aspecto a considerar é a questão da misoginia. Na verdade a autora atribui às mentalidades populares a missão “…de guardiã da misoginia” (pg.334). No entanto, no conjunto mesmo do texto, percebe-se que a misoginia é transversal a todos os segmentos sociais. Todos os saberes que as bruxas tinham sobre o corpo feminino causavam pânico, e foram responsáveis pela instauração da Caça às Bruxas. Obviamente a condenação das mesmas deveu-se à Igreja e à nobreza e n ão às classes populares. Ao contrário, estas recorriam, nas suas necessidades fundamentais, às feiticeiras, simultaneamente chamadas de fadas, quando seus conhecimentos e práticas davam resultados.
Assim, a misoginia n ã o pode ser atribuída fundamentalmente às mentalidades populares, conforme exprime a autora. Ao contrário, apesar de se referir inúmeras vezes ao Diabo, parece n ã o considerar que a T o l i t i z a ç ã o do Diabo” deu-se na Europa, simultaneamente, como mecanismo de resistência dos oprimidos e como mecanismo de dominação por parte da Igreja e das elites, processo de lutas que eclodirá na Caça às Bruxas, sobretudo nos séculos XVI e XVII. Assim, a proximidade da q u e s t ã o referida à misoginia, bem como do p r ó p r i o processo de normatização da mulher, com a questão das feitiçarias, do Diabo e da Caça às Bruxas é evidente. Porém disto a autora n ã o se ocupou.
Enquanto historiadora, poderia ter realizado uma excelente análise, ainda que para melhor referenciar-se, do próprio movimento desencadeado na Europa no p e r í o d o estudado: o Racionalismo, colocando todos os homens e mulheres como iguais e que seguirá convivendo com a misogina ancestral.
A mulher continuará pecadora, lasciva, demoníaca, etc, embora igual ao homem perante Deus e perante a Lei. O projeto de normatização e adestramento, objeto de estudo da pesquisadora, é o exemplo mais bem acabado desta ambigüidade.
Esta lacuna é de certa forma compreensível, quando a autora não se permite falar pela maioria: n ã o explicita os segmentos sociais a que se remete. Isso faz supor que fale por todos, mas é a partir do lugar das elites que sua fala é construída.
Pode-se exemplificar através da atribuição que Del Priori indi ca (p.37) às mães no que tocava à responsabilidade pelo ensino das primeiras letras aos filhos. N ã o se pode esquecer que a maioria da população, no p e r í o do considerado pelo estudo, era analfabeta.
Neste sentido, observa-se ainda que a autora, embora expresse conhecimento exaustivo da literatura francesa, e uma lógica narrativa enunciativa foucaultiana, não cita este autor (Foucault), em sua bibliografia, e ao mesmo tempo, n ã o consegue realizar, à semelhança do mesmo, o estudo processual da construção e da expansão nos diferentes segmentos sociais do projeto que trata de se tornar hegemônico.
A virtude mais frutífera da obra para a historiografia da mulher é a comprovação de “… que existiam, sim, fontes para a história da mulher no p e r í o do colonial…” (p.15). Essa comprovação implicou num volumoso trabalho de busca e organização de novas fontes, bem como uma originalidade expressiva no tratamento das fontes j á conhecidas.
Também descreve com agudez a rede de solidariedades e de micro poderes e saberes que as mulheres desenvolvem e se envolvem durante o p e r í o do colonial, mas não consegue perceber as tensões geradoras de resistências neste processo.
Desta forma, Del Priori reforça o pensamento tradicional, ainda dominante, do feminino e das mulheres incorporadas historicamente como objetos e não como sujeitos.
É lamentável, portanto, que o olhar que localiza e investiga as mulheres continue a ser o olhar que vê e fala pelas mulheres dando luz às suas passividades, n ã o visibilizando nem buscando (pg.335) suas opções, práticas, gritos e projetos.
Nesta direção, exemplificando, podemos lembrar que a pesquisadora não assume a promiscuidade e as relações não legítimas como projetos possíveis de resistência por parte de uma grande maioria de mulheres. Simultaneamente, não consegue explicitar como estas assumem o matrimonio-maternidade como projeto próprio, sendo que, segundo ainda a própria autora, o destino das mulheres-mães casadas era quase trágico (pg. 63).
A “irregularidade de costumes”, o fluxo contínuo, sobretudo de homens, as mulheres mantenedoras de seus fagos domésticos, mães de filhos de muitos pais, nunca deixou de ser uma constante, principalmente entre os pobres aqui e em outras colônias. Na atualidade, na América Latina, h á 25 milhões de lares chefiados por mulheres.
O fato do projeto normatizador ter se tornado hegemônico para as elites e as classes médias brasileiras com linhagens e/ou patrimônios a salvaguardarem não nos permite pensar que estes milhões de mulheres chefes de família foram “deixadas para trás” e a elas atribuir unilateralmente a solidão, a humilhação, o abandono e a violência (noções que transversalizam todo o texto).
E o olhar católico que parece não permitir o olhar e a análise críticos do dado destacado pela investigadora (pg. 51 e repetido na pg. 175), de que em Minas Gerais no século XIX ainda havia um predomínio de famílias matrifocais – cerca de 45% do total, sendo que 83% destas nunca haviam se casado.
A promiscuidade e o casamento não sacramentado podem ter sido e continuar a ser um projeto para muitas mulheres. Por que não? Por que olhá-las apenas a partir da vitimidade? Neste sentido, o olhar da autora coincide com o olhar do projeto normatizador da Igreja-Estado, apoiados pela j u r i s p r u d ê n c i a e pelo discurso médico. E que é, por excelência, o olhar masculino racional-universalizante. E um dos inú meros avanços possibilitados pela perspectiva de g ê n e r o é a construção de outros olhares e de outros lugares de fala, que rompam com aquele, ainda hegemônico no pensamento ocidental moderno.
Deis Siqueira – Doutora em Sociologia e professora na UnB, Lourdes Bandeira – Doutora em Sociologia e professora na UnB e Silvia Yannoulas – Mestre em Sociologia.
DEL PRIORI, Mary. Ao Sul do Corpo. Condição feminina, maternidades e mentalidade* no Brasil Colônia. Brasília, Rio de Janeiro: Editora da UnB, José Olímpio, 1993. Resenha de: SIQUEIRA, Deis; BANDEIRA, Lourdes; YANNOULAS, Silvia. Textos de História, Brasília, v.2, n.3, p.148-157, 1994. Acessar publicação original. [IF]
Way of Death. Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade / Joseph C. Miller
Algum dia, seria oportuno avaliar o impacto das efemérides sobre a produção historiográfica. Poder-se-ia relacionar a comemoração dos trezentos anos da Revolução Puritana e o estabelecimento de um novo padrão na historiografia marxista inglesa? O ano de 1976 impôs o tema da festa, talvez em função do segundo centenário da Revolução Americana, talvez pelo anúncio da intenção do rei da Espanha de comemorar com grande gala o V Centenário da América, ou visando desde então as comemorações, então algo longínquo, de 1989 1.
Já no Brasil, o centenário da abolição oficial da escravatura propiciou uma relação bastante extensa de obras publicadas pelas editoras nacionais, que logo passaram a acompanhar, um pouco mais timidamente, a explosão editorial francesa do segundo centenário da Grande Revolução. Hoje, estamos comemorando o V centenário de um encontro de, pelo menos, três mundos. Os historiadores, o mercado editorial, a festa convertida em comemoração…Haveria, sim, muito a perguntar.
Way ofDeath, publicado nos Estados Unidos em 1988, merece uma edição brasileira, independentemente da sazonalidade do mercado editorial. Resenhá-lo aqui é contribuir com outros artigos que inserem a África no V Centenário.O livro se desdobra em cinco partes: começa pela África (Parte 1.
África: nascimento e mortes, 5 capítulos, 166 pp.); discute a estrutura e a dinâmica do tráfico negreiro (Parte 2. Traficantes: em trânsito, 6 capítulos, 269 pp.); examina a participação brasileira no tráfico angolano (Parte 3. Brasil: a última parada, 3 capítulos, 86pp.); passa em revista os interesses portugueses envolvidos com o tráfico e com o controle do território angolano (Parte 4. Portugal: mercadores da morte, 4 capítulos, 118pp.); e conclui propondo a abordagem do sistema econômico mundial da época mercantilista, a partir da experiência africana de contato com a morte (Capítulo 19. “A economia da mortalidade”,35pp.).
O texto é de fácil leitura, discorrendo com clareza sobre temas complexos como demografia, sistemas africanos de parentesco, ecologia, economia política, etc. Mantendo um contato profundo, embora não-formalista, com os especialistas de cada área de conhecimento, Joseph Miller explora os arquivos portugueses, angolanos e brasileiros. O autor tem larga experiência neste campo, que lhe permite aproximar-nos do que poderia ser o ponto de vista do escravo na historiografia do tráfico negreiro. Com grande sensibilidade na reconstituição da experiência vivida pelos escravos, Joseph Miller passa à distância de uma abordagem maniqueísta e incorpora a dinâmica das sociedades africanas de Angola à História. Seu grande mérito é o de buscar um meio de ultrapassar o molde etnocêntrico dos discursos universais, ao propor uma antropologização da Economia Política.
No cenário historiográfíco brasileiro, está fortemente instalada – especialmente desde a publicação de O escravismo colonial, de Jacob Gorender (1978) – uma inclinação compreensivelmente oposta. Num movimento pendular, de crítica a uma certa teleologia de inspiração eurocêntrica implícita em obras que vinham até então definindo o padrão da melhor historiografia brasileira, tomou-se importante contestar o modo de pensar o período colonial brasileiro como capítulo de uma História Universal da Acumulação Capitalista. Assim, passouse freqüentemente a pensar tal período, prolongado até 1888, nos termos do livro de um Modo de Produção Inteiramente Novo, e se explicitou todo um programa de estudos voltados para a descoberta e experimentação das leis de uma Economia Política da escravidão colonial. E importante ressaltar que esta proposta teórica considera também, sobretudo nas obras do historiador Ciro Flamarion Cardoso, o peso das determinações externas, a dinâmica da articulação entre diferentes modos de produção em escala continental e mundial.
Por sua vez, claramente situado naquela tradição intelectual associada às teses de Fernand Braudel e Emmanuel Wallerstein, Way ofDeathalarga os horizontes trazendo à cena a historicidade da África Central, as estratégias de troca e acumulação adotadas pelos grupos dominantes das sociedades africanas, a importância decisiva das milícias luso-africanas comandadas pelos capitães-mores na conquista de territórios e no controle das rotas terrestres do tráfico angolano, as alternativas possíveis de negociação envolvendo as formações políticas africanas, os luso-africanos, as autoridades coloniais, os grupos concorrentes no tráfico oceânico (portugueses, pernambucanos, baianos, cariocas, franceses, ingleses, holandeses …).
Estreitando o diálogo entre a História e a Antropologia, Joseph Miller retoma o tema da economia-mundo numa perspectiva sicrônica, propondo uma Etno-Economia Política em que a categoria riqueza se aplique ao processo de acumulação europeu e africano: riqueza em dinheiro, riqueza em gente.
Incorporando à compreensão do período a importância da manipulação dos sistemas de parentesco e dependência pessoal na constituição das unidades políticas centro-africanas, o autor faz mais que acrescentar um novo Continente à nossa visão histórica do mundo, pois abre nossos olhos para a percepção da onipresença da morte. Assim, visto a partir da experiência vivida por milhões de africanos – tal como daquela de milhões de ameríndios, correlação que o livro não considerou – , o processo de unificação da História deixa de ser visto apenas como processo de acumulação capitalista ou de expansão da civilização européia, e aparece também como tragédia: o horror. Particularmente conturbadora é a descoberta da manipulação do fator “tempo” nos negócios negreiros: a deliberada lentidão dos compradores forçando a baixa dos preços pedidos pelos vendedores, enquanto os cativos amontoados nos entrepostos costeiros angolanos vomitam, defecam, agonizam e morrem.
Na conclusão, à pág. 683, Joseph Miller encara de frente a questão levantada por Stuart Schwartz na Cambridge History of Latin America: como caracterizar o Brasil ColonialPUm modo de produção escravista colonial autônomo, ou uma seção dependente de um modo de produção capitalista mundial? A resposta depende, pelo menos em parte, da escala escolhida pelo pesquisador. Pois bem, Way ofDeath focaliza o tráfico negreiro organizado pelo capitalismo mercantil, o que implica a adoção de uma escala pouco apropriada para o estudo das condições estruturais da colônia portuguesa na América. Por outro lado, na mesma passagem, o autor expõe suas reticências frente à tese holística do sistema mundial, concebida por Wallerstein, e considera com simpatia os argumentos “localistas” apresentados por Sidney Mintz.
A obra focaliza o tráfico negreiro angolano entre 1730 e 1830, destacando estruturas e processos que envolvem diretamente aspectos essencciais da história econômica-social de Portugal, Brasil e Angola. O tratamento privilegiado de Angola se explica pela decisão do autor, que examinou apenas o tráfico terrestre africano e o grande tráfico oceânico, deixando de acampar as rotas terrestres e costeiras do tráfico na América, nas ilhas atlânticas, etc.
As fontes consultadas são as dos grandes arquivos portugueses, freqüentados há cerca de vinte anos por Joseph Miller, e aquelas do Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e Instituto Histórico e Geográfico no Rio de Janeiro, além do Arquivo Histórico de Angola, em Luanda.
A bibliografia consultada é vastíssima e permite ao autor manifestar-se a propósito das grandes questões teóricas da historiografia relativa à escravidão e ao mercantilismo. Seria oportuno, quando de uma edição brasileira, acrescentar uma discussão mais direta com a corrente histeriográfica brasileira identificada com a tese do Modo de Produção Escravagista Colonial e com certos autores contemporâneos muito citados pela referida corrente, como Wittold Kula e Perry Anderson.
Enfim, Way ofDeathé um convite para se repensar um dos problemas cruciais de nossa historiografia: respeito à historicidade das diferentes regiões que integram o sistema econômico mundial do século XVIII, e re-elaboração da própia noção de sistema econômico mundial, assentando-o numa definição etno-histórica de capital, enfatizando o papel decisivo das instituições de crédito em todas as etapas da trajetória histórica do Capitalismo. Porém, mais que tudo, ler Joseph Miller é ouvir as vozes de um silêncio aterrador: é como fitar os olhos de algum flagelado etíope hoje na televisão, à hora do jantar, e ver a morte.
Nota
1 V., editados em 1976, OZOUF, Mona. Lafêterévolutionnaire -1789- 1799. Gallimard; BERCE, Yves. Fête et revolte Hachette; VOVELLE, Michel. Les métamorphoses de la fête en Provance de 1750 à 1820; Aubier-Flamarion; os n s 1 e 2 do vol III da revista Cultures da UNESCO (Festival and Carnival: the major traditions, e Festivais and Cultures) ; os dossiê da revista Autrement n°7, novembro (La Fête, cette hantise…).
Jaime Almeida – Doutor em História e professor da UnB.
MILLER, Joseph C. Way of Death. Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade. 1730-1830. Madison. The University of Wisconsin Press. 1988. Resenha de: ALMEIDA, Jaime. Textos de História, Brasília, v.2, n.3, p.157-162, 1994. Meio de Vida – Caminho da Morte. Acessar publicação original. [IF].
Textos de História | UnB | 1993-2009
Textos de História (Brasília, 1993-2009) foi um periódico acadêmico do Programa de Pós-graduação em História da UnB. A revista publicou artigos e resenhas bibliográficas.
Periodicidade semestral.
L’Economie de l’Afrique / Philippe Hugon
Como a economia da África evoluiu da época colonial ao período da independência? Por que sua produtividade econômica se encontra em fase de estagnação? Quais os efeitos da intensa competividade internacional dos últimos anos sobre as debilitadas estruturas econômicas do continente? Os instrumentos tradicionais da análise econômica são eficazes diante dos desafios interpretativos que são impostos pelas novas condições econômicas da África? Por que as trajetórias econômicas de seus países são tão diversas entre si? A África, enfim, recusa o desenvolvimento? Essas, entre outras relevantes questões, constituem os pontos de partida do professor de economia de Universidade de Paris-X (Nanterre), Philippe Hugon, para a produção do sua obra, em formato de “livre de poche”, com a profundidade do especialista que tem o sentido do grande público leitor. Contando com a experiência da direção do Centre de Recherche en Economie du Dévelopment (CERED) e a autoria de muitas obras dedicadas à análise do desenvolvimento na África; com a vivência de inúmeras consultorias internacionais; e com as lições de dez anos como professor em diferentes países africanos (principalmente nos Camarões e em Madagascar), Hugon apresenta ao leitor uma obra condensada e rica.
Qualquer autor que pretenda produzir uma obra de síntese sobre o tema da economia africana enfrentará um desafio delicado. Há a dificuldade de delimitar o essencial, mesmo quando se pretende, como foi o caso na obra de Hugon, abordar exclusivamente a África ao sul do Saara. É que o subcontinente é uma terra de contrastes: nove grandes regiões, com 45 países, dos quais 35 possuem menos de 10 milhões de habitantes e 15 são enclaves. Todos eles abrigados sob um PIB da ordem de 230 milhões de dólares, em 1990, o mesmo do México ou dos Países Baixos. Somam cerca de 520 milhões de habitantes e representam, sem a África do Sul, 10% da população mundial, 2% do PIB, 1,7% das exportações e menos de 1% do valor agregado industrial do mundo. Abordar, portanto, essa diversidade no quadro da economia mundial é uma tarefa que impõe um tremendo esforço de síntese. Philippe Hugon dá provas da sua capacidade de construtor de sínteses através desta obra recém lançada.
Existem ainda as dificuldades metodológicas. Os utensílios da análise econômica devem ser aplicados linearmente ao continente? Ou devem ser questionadas as categorias da análise econômica a partir das particularidades africanas? Há uma complexa especificade africanista que deve ser compreendida, ao mesmo tempo que há legitimidade da economia. As perspectivas da longa-duração e os regimes de acumulação e de crise devem ser privilegiados sobre os quadros de equilíbrio e dequilíbrio de preços e quantidades? Para Hugon, a economia do desenvolvimento não deve ser somente a aplicação de um campo particular dos instumentos da análise econômica universal. E l a deve ser também um espaço de questionamento da “caixa preta” das estruturas sociais e dos mecanismo particulares dos países com herança colonial. Esse é exatamente o caso africano. Assim, a análise da economia do desenvolvimento africano não pode prescindir da História e dos enfoques econômicos de longa duração que permitem vislumbrar a gênese de parte das grandes questões sugeridas pela atualidade africana.
A partir das duas perspectivas anteriores, Hugon divide sua obra em três grandes unidades. Na inicial, apresenta a evolução estrutural da economia, da época mercantilista às crises contemporâneas. Em uma perspectiva macroeconômica, o autor trata o tema da colonização direta do continente, de 1870 a 1960, depois de uma abordagem bastante breve, mas convincente, dos séculos do tráfico mercantilista. Há também nessa unidade uma interessante análise das disfunções e desequilíbrios setoriais constituídos com o processo colonial na África.
Três temas extremamente reinteressantes encerram a referida unidade: a crescente marginalização internacional do continente, a crise comercial e o endividamento permanente. Lembrando Raffinot, o autor afirma claramente que “a África sub-saárica ficou, ao longo dos anos 80, presa à engrenagem do endividamento permanente.” (p. 48) A segunda unidade aborda as questões da racionalidade socio-econômica da economia do desenvolvimento africano. O autor busca atacar a antinomia colonialista da chamada irracionalidade do homo africanas contra a racionalidade do homo economicus. Mas isso não significa que não se deva buscar especificidades no comportamento econômicos dos agentes econômicos africanos. Hugon não deixa de discutir a lógica da minimização dos riscos, típica dos agentes econômicos africanos. O pouco investimento, o desinteresse pela educação e a tendência à diversificação seriam características bastante relevantes para a instabilidade e a incerteza econômica.
Ainda nessa segunda unidade, vale observar a análise de Hugon sobre a informalização da economia africana. Tema de grande interesse para o leitor brasileiro, a economia informal permanece como uma reminiscência pré-colonial, e colonial com grande significado no sistema econômico.
A terceira unidade do livro talvez seja a que mais chama a atenção. Hugon aborda o tema das políticas econômicas a do tadas e suas trajetórias históricas. Abordando desde as políticas liberais, de ajustamento ou de intervenção, o autor mostra seu ceticismo em relação à eficiência de tais políticas no contexto africano. Ao longo da histórica econômica do continente, elas não teriam conseguido enfrentar plenamente ou solucionar os principais desafios econômicos da África.
Outro aspecto interessante observado é a diversidade das trajetórias históricas dos diferentes modelos de política econômica. Os principais pólos regionais, em torno dos quais houve certo nível de desenvolvimento econômico, são analisados, a saber: a África do Sul, a Nigéria e a África Ocidental de expressão francesa.
Para concluir, Hugon discute perspectivas. Em uma visão bastante menos pessimista do que a maioria dos textos recentes sobre a economia da África, o autor não deixa de reconhecer a viabilidade do continente. Criticando o afro-pessimisme, Hugon acredita que será possível a saída do fundo do poço, desde que os países africanos, através de um esforço político brutal das suas elites, encontrem algum caminho menos tortuoso para o desenvolvimento.
José Flávio Sombra Saraiva
HUGON, Philippe. L’Economie de l’Afrique. Paris, Editions La Découverte, 1993. 124p. Resenha de: SARAIVA, José Flávio Sombra. Textos de História, Brasília, v.1, n.2, p.154-157, 1993. Acessar publicação original. [IF
O Rio de Janeiro e a Conjuntura Atlântica / Corcino M. dos Santos
Fruto de esmerada pesquisa, “O Rio de Janeiro e a Conjuntura Atlântica” situa-se na linha de pesquisa científica percorrida e iniciada pelos historiadores franceses Fernand Fruto de esmerada pesquisa, “O Rio de Janeiro e a Conjuntura Atlântica” situa-se na linha de pesquisa científica percorrida e iniciada pelos historiadores franceses Fernand Dividido em três capítulos, ordenadamente, o autor nos passa uma nítida noção da importância do Oceano Atlântico, da posição geográfica do Porto do Rio de Janeiro e das condições de seu aportamento. Num segundo momento, temos elencado o movimento de embarcações e de mercadorias chegando-se a questões de ocupação do solo e de estrutura fundiária, até às condições da Alfândega do Porto do Rio de Janeiro. O Capítulo III trata da navegação de longo curso e comércio internacional.
O livro é ainda leitura imprescindível para todos aqueles estudiosos dos primórdios do africanismo no Brasil. Assim, pontos como a mortandade de escravos em viagem, o comércio com portos de escravos e o atraso de Angola em benefício do Brasil são pormenorizadamente descritos. Um outro item importante é o comércio com as colônias espanholas do rio da Prata e a questão das fronteiras: “O vice-rei D. Nicolas de Arredondo se preocupou muito mais com as fronteiras por considerá-las grandes caminhos para o Brasil. Visava evitar a saída de prata, gado, couros, cavalhadas e mulas e ao mesmo tempo conter a introdução de mercadorias de contrabando” (p.183), bem como o comprometimento do “coronel Rafael Pinto Bandeira, processado pelo seu grande envolvimento com os espanhóis” referente à “prática constante do contrabando público” (p.191).
Três anexos referentes à relação dos gêneros e fazendas próprias do consumo do rio da Prata e Reino do Peru; produção da América Meridional, via Montevidéo e Bueno Aires com os preços correntes à época e a pauta da Alfândega do Rio de Janeiro de 1766-1799, encerram o volumoso estudo.
O resultado do trabalho de Corcino Medeiros dos Santos é analítico, lúcido e interpretativo, enriquecendo os estudos sobre o fortalecimento do capitalismo moderno, produção e circulação de riquezas. Com belíssima capa de Victyor Burton, ilustrada com vista de uma esquadra inglesa na Baía de Guanabara (séc. XVIII), editado pela Expressão e Cultura, constitui um magnífico exemplo de tentativa do que George Lluppert denominou de “1’idée de lliistoire parfaite.”.
Luciara Silveira de Aragão e Frota.
SANTOS, Corcino Medeiros dos. O Rio de Janeiro e a Conjuntura Atlântica. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1993. Resenha de: ARAGÃO E FROTA, Luciara Silveira de; Textos de História, Brasília, v.1, n.2, p.157-160, 1993. Acessar publicação original. [IF]