Posts com a Tag ‘Routledge (E)’
Far-right revisionism and the end of history: alt-histories | L. D. Valencia-Garcia
Francisco Vázquez García | Foto: Universidad de Cádiz
A emergência de governos populistas e autoritários, como o de Donald Trump (2016 – 2021) e o de Jair Bolsonaro (2018 – 2022), bem como a repercussão e uso político das fake news, trouxeram ao debate questões fundamentais sobre a chamada “nova direita” e suas características organizativas, ideologias e práticas. Com a Pandemia da Covid-19, a noção de negacionismo ganhou destaque no debate público, na mídia, no meio acadêmico, referindo-se a determinados discursos de rechaço da ciência e da manipulação dos fatos, resgatando algumas das características de ilações e falsificação de fatos históricos que Pierre-Vidal Naquet, em seu Os Assassinos da Memória, atribuía aos revisionistas/negacionistas do genocídio hitlerista. Embora essas evidências estejam muito mais relacionadas a um debate do campo científico — ao endossar uma postura anticientífica próxima daquela iniciada nos anos 2000 quanto ao negacionismo do HIV/AIDS e das mudanças climáticas, e agora, em relação a Pandemia da Covid-19 — é no debate historiográfico que se pode perceber sua amplitude e interlocução política. A obra Far-right revisionism and the end of history: alt/histories, editado por Louie Dean Valencia-Garcia, se faz de suma importância para a compreensão do contexto em que é produzido o discurso negacionista, os diversos grupos da extrema-direita por todo o mundo e, sobretudo, a contribuição de historiadores revisionistas para a construção da chamada alt-history.
Composta por 20 artigos, a coletânea explora amplamente as configurações de uma história alternativa (alt-history) construída por grupos de extrema-direita em contextos como o da Espanha, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Alemanha, Itália, Iugoslávia e Canadá. O que apresentam em comum? Para além da presença de retóricas que conduzem a práticas antidemocráticas de movimentos sociais e da opinião pública, uma característica inicial evidenciada na composição desses casos são as polêmicas geradas na abordagem de temas e personagens históricos. A partir disso, constatam-se as tentativas de recusa da história estabelecida e o oferecimento de uma suposta nova versão dos fatos, conhecida apenas por doutos especialistas ou por aqueles (especialistas ou não) que, na contramão dos consensos estabelecidos, se oferecem como vozes dissonantes. Uma primeira definição de alt-history, portanto, é aquela que fomenta: Leia Mais
Gold, Festivals, and Music in Southeast Brazil: Sounding Portugueseness | Barbara Alge
Barbara Alge | Imagem: Goethe Universität
O livro da etnomusicóloga Barbara Alge, Gold, Festivals, and Music in Southeast Brazil: Sounding Portugueseness, baseia-se numa etnografia da Festa de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do pequeno vilarejo de Morro Vermelho, um distrito de Caeté, Minas Gerais, e antigo centro de mineração que remonta ao início do século XVIII. Por meio de seu relato, a autora aborda diversos temas relacionados a debates contemporâneos na etnomusicologia e ciências sociais de modo geral, tais como: conceitos de raça e relações raciais; colonialidade e pós-colonialidade; patrimonialização; processos civilizatórios entre outros. Estas discussões têm, como pano de fundo, uma festa popular católica celebrada, em Morro Vermelho, supostamente a mais de 300 anos.
Desde quando Francisco Curt Lange fez suas primeiras investidas nas cidades históricas de Minas, a música colonial mineira tem sido investigada por diversos pesquisadores, como Paulo Castagna, José Maria Neves, Maurício Monteiro, Maurício Dottori entre outros. No entanto, talvez por sensibilidades musicais análogas às de Mário Andrade quando se deparou com os corais e orquestras das cidades históricas, a performance contemporânea de repertórios sacros ainda preservados por músicos locais foi, de modo geral, ignorada, com raras exceções (ver, por exemplo, LARA MELO, 2001; NEVES, 1987; REILY, 2006; 2011). É verdade que muitas destas corporações musicais envolvem participantes sem ou com pouco treinamento musical formal, evidenciando particularidades nas afinações e técnicas performativas. Mas, como este livro revela, estas performances apontam para valores estéticos e para a forma como estes valores estão implicados nas relações de classe e raça locais, relações estas implementadas e enraizadas, junto com o projeto civilizatório da colonização. Leia Mais
Global Classics | Jacques Bromberg
Jacques Bromberg | Imagem: University of Pittsburgh
Na primeira semana de fevereiro de 2021, a The New York Times Magazine publicou um (já célebre) perfil de Dan-El Padilla Peralta, latinista estadounidense negro de origem dominicana, que escancarava os compromissos do campo de Classics – ou Estudos Clássicos, a partir de seu paralelo brasileiro – com o colonialismo e o racismo (POSER, 2021). O título da reportagem era sintomático acerca das implicações do debate: “Ele quer salvar Classics da branquitude. O campo conseguirá sobreviver?”. O texto gerou debates em diversos lugares e veículos do mundo, da imprensa grega (IOANNIDIS, 2021), acostumada a discutir a centralidade econômica do turismo histórico, a mesas redondas de antiquistas brasileiros (GT DE HISTÓRIA ANTIGA, 2021), marcados pelos intensos debates sobre o lugar da Antiguidade no ensino de História no Brasil.
O perfil e as subsequentes entrevistas de Dan-El Padilla Peralta permitiram que sujeitos de diferentes partes do mundo percebessem as tensões e contradições do (afluente) campo universitário estadounidense. Visto do Brasil, o debate tornava evidentes tanto os paralelos, como por exemplo a importância da “tradição greco-romana” na formação das elites escravistas e de uma identidade europeia, quanto os contrastes, como na quantidade de instituições universitárias e de financiamento acadêmico, ou ainda na experiência social do imperialismo a partir de posições antagônicas. Este jogo de paralelos e contrastes se explica pela história recente do Brasil. A partir da redemocratização dos anos 1980, a historiografia brasileira iniciou um movimento de revisão profunda de seus pressupostos eurocêntricos, o que motivou o surgimento de perspectivas alternativas, como as histórias dos grupos populares e subalternos, das relações de gênero, dos usos do passado ou dos processos globais de integração. O debate em torno das críticas de Padilla Peralta, então, apontava para o surgimento, nos Estados Unidos, de uma ainda marginal crítica aos compromissos eurocêntricos e elitistas do campo. Num curioso caso de “vantagem do subdesenvolvimento”, antiquistas brasileiros puderam “anacronizar” a academia estadounidense, assistindo a um debate intenso ali, mas já datado aqui. Leia Mais
The First World Empire: Portugal/ War and Military Revolution | Heler Carvalhal, André Murteira e Roger Lee de Jesus
Croquis do sítio e ordem de batalha de Alcântara diante de Lisboa, por mar e terra. Detalhe de capa de “The First World Empire: Portugal, War and Military Revolution” | Imagem: Wikipedia
Time and the Rhythms of Emancipatory Education. Rethinking the Temporal Complexity of Self and Society | Michel Alhadeff-Jones
Michel Alhadeff-Jones | Imagem: Rythmic Intelligence
Michel Alhadeff-Jones is a young researcher who lives between Geneva (Switzerland) and New York (USA). Despite his youth, this book is an essay of impressive maturity. This work, published in the prestigious Routledge publishing house, constitutes an important contribution in the field of education and beyond; it will from now on be an unavoidable reference among researchers, educators and managers who deal with time field and educational rhythms, due to the depth, originality and rigor of its analyses and proposals.
Alhadeff-Jones has an interdisciplinary and extensive background that has facilitated the promising task that has led to this work. In fact, he has been trained in Geneva, Paris and New York. From this perspective, it is important to highlight their knowledge and mastery of time issues in French and English. Here we find an additional value of this work: to put into dialogue the traditions of research developed in French and English, creating fertile intersections and crossroads between both contexts, and thus overcoming this tendency of reciprocal ignorance between the English and French languages, which still survives today. Leia Mais
Politics as a Science: A Prolegomenon | Phillipe C. Schmitter, Marc Blecher
Distinct methodological approaches to studying political phenomena are at the core of the growing discussion in Political Science as a discipline, despite this debate dating back decades (GOODIN, 2011). Schmitter and Blecher summarize this topic in “Politics as a Science: A Prolegomenon” in the first of seven chapters of the book. To infer is a huge challenge due to the complexity of politics. How can we measure power? There is no single answer to this question. There are many ways to achieve this goal. The authors argue that one method to solve questions such as this is to analyze the rules’ functions and the practices of human social life. Leia Mais
Cultural Heritage and the Future | Cornelius Holtorf, Anders Högberg
A obra Cultural Heritage and the Future, editada pelos arqueólogos Cornelius Holtorf e Anders Högberg, conta com a contribuição de 19 autores especializados em diversas áreas das Humanidades relacionadas ao estudo de patrimônio e tem como público-alvo profissionais, acadêmicos e estudantes dos campos de museologia e estudos patrimoniais, arqueologia, antropologia, arquitetura, estudos de conservação, sociologia, história e geografia. Embora esses campos estejam citados na primeira página do livro, o seu conteúdo vai além, podendo ser lido por qualquer pessoa que se interesse pela memória humana e o futuro dela: mesmo não tomando para si essa responsabilidade, o livro também pode ser lido como uma contribuição (muito relevante) aos estudos sobre o Antropoceno. Leia Mais
The European Illustrated Press and the Emergence of a Transnational Visual Culture of the News/ 1842-1870 | Thomas Smits
1 O livro em apreço tem origem na tese de doutoramento do autor, defendida em 2019 na Radboud University, tendo sido publicado em 2020 como parte integrante da série Routledge Studies in Modern European History. A obra foi desenvolvida entre acervos físicos, com periódicos que não existem na versão digital, e a busca de palavras-chave em acervos digitais. Bem como já destacado por Laurel Brake e James Mussel, a análise de Smits atenta para a importância de se considerar os dois tipos de acervo, uma vez que o digital fornece um acesso limitado ao passado, mas ao mesmo tempo enseja uma ampliação significativa dos estudos a serem realizados.1 Sendo assim, trata-se de um livro que apresenta uma interessante discussão historiográfica sobre o uso de fontes primárias.
2 Nos anos 1950, os historiadores começaram a considerar como fonte as imagens produzidas na imprensa do século XIX. Tal tendência se intensificou nos anos 1980, com estudos focados no caráter nacionalista e identitário das imagens. Segundo Smits, entretanto, é preciso ir além desta perspectiva e considerar o caráter transnacional dos jornais ilustrados. A base da argumentação do autor está no conceito de história transnacional de Jürgen Osterhammel,2 sendo os periódicos vistos como pontos de comunicação entre espaços nacionais. Por isso, o livro analisa os três principais jornais em circulação entre 1842 e 1870: Illustrated London News, l’Illustration e Illustrirte Zeitung, de procedência britânica, francesa e alemã, respectivamente. Em seguida estende a análise para outros 40 jornais de diversos países ao redor do mundo, a fim de entender como os leitores olhavam para as mesmas imagens. Leia Mais
Cultural Diplomacy and the Heritage of Empire: Negotiating PostColonial Returns | C. Scott
Com o final da Segunda Guerra Mundial a Europa estava arrasada. O que antes era considerado o continente mais poderoso do mundo, agora declinava em destruição, mortes e perda em diversos âmbitos, inclusive de status. O mundo pós-Segunda Guerra seria intensamente transformado e revelaria a bipolarização entre o Oriente (liderado pela União Soviética) e o Ocidente (com Estados Unidos e seus aliados), ambos na tentativa de dominar o centro das decisões políticas e econômicas mundial.
Nesse interim, surgiam instituições intergovernamentais importantes como: a Organização das Nações Unidas (ONU) que, desde então, tomou para si a responsabilidade de evitar que outros conflitos como as Grandes Guerras voltassem a ocorrer, trabalhando incansavelmente pela manutenção da paz entre Estados e Nações desde a sua fundação2 ; e, os Tribunais Militares Internacionais (TMI), cortes constituídas por um painel de juízes advindos de cada um dos países Aliados que saíram vitoriosos na guerra. Os Tribunais Militares Internacionais foram criados para julgar crimes de guerra, violações contra a paz, contra a humanidade, e conspirações ligadas a esses tipos de delito, tais como: o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente (The International Military Tribunal for the Far East ou IMTFE, em inglês), também conhecido como Julgamento de Tóquio ou Tribunal de Crimes de Guerra de Tóquio3 , e o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, na Alemanha – este último, inclusive, serviria como base para a criação do Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia, na Holanda, que julga crimes contra os direitos humanos. Leia Mais
The Political Portrait: Leadership/Image and Power | Luciano Cheles e Alessandro Giacone
Luciano Cheles e Alessandro Giacone, 2018 | Foto: L’Italie en direct
Il ritratto, esordiscono i curatori, ha sempre giocato un ruolo importante nella comunicazione politica, conferendo al leader una sorta di ubiquità. In questo senso, è certamente sorprendente che i contributi storiografici su questa sorta di immagini siano piuttosto limitati e, spesso, inseriti nel contesto più ampio della propaganda visuale, o come ausilio alla propaganda tout-court. Se è vero, infatti, che molti ritratti di leader sono ben impressi nelle nostre coscienze collettive, e in certi casi addirittura divenuti delle icone pop (tra gli esempi più recenti, i poster di Obama realizzati da Shepard Fairey), le loro analisi in prospettiva storica sono, tuttora, limitate1.
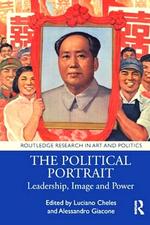 Il volume, curato da Luciano Cheles, già professore di italianistica all’Università di Poitiers, e Alessandro Giacone, professore associato di Scienze Politiche all’Università di Bologna, vuole contribuire a colmare questa lacuna, raccogliendo un numero, consistente, di contributi focalizzati su questa specifica forma di propaganda visuale. Contributi che, pur con un certo sbilanciamento verso alcuni contesti, forniscono un’ampia panoramica, sia dal punto di vista della distribuzione cronologica e geografica, sia dell’interdisciplinarietà degli approcci. Uno dei punti di maggiore interesse del volume è la netta prevalenza di casi di studio riguardanti democrazie, soprattutto nelle loro fasi di transizione e trasformazione. Il ritratto del leader, questa una delle idee che sembra accompagnare l’intero volume, riflette non solo l’immagine del politico, ma anche il contesto del paese in oggetto. Leia Mais
Il volume, curato da Luciano Cheles, già professore di italianistica all’Università di Poitiers, e Alessandro Giacone, professore associato di Scienze Politiche all’Università di Bologna, vuole contribuire a colmare questa lacuna, raccogliendo un numero, consistente, di contributi focalizzati su questa specifica forma di propaganda visuale. Contributi che, pur con un certo sbilanciamento verso alcuni contesti, forniscono un’ampia panoramica, sia dal punto di vista della distribuzione cronologica e geografica, sia dell’interdisciplinarietà degli approcci. Uno dei punti di maggiore interesse del volume è la netta prevalenza di casi di studio riguardanti democrazie, soprattutto nelle loro fasi di transizione e trasformazione. Il ritratto del leader, questa una delle idee che sembra accompagnare l’intero volume, riflette non solo l’immagine del politico, ma anche il contesto del paese in oggetto. Leia Mais
Madness in Cold War America | Alexander Dunst
Alexander Dunst | Foto: Netherlands American Studies Association
 Alexander Dunst é professor assistente de Estudos Americanos na Universidade de Paderborn, na Alemanha, atuando no Departamento de Inglês da referida instituição. Intitula-se “historiador cultural da América do século XX” com foco de pesquisa sobre o período da Guerra Fria, utilizando como fontes os discursos e as narrativas culturais presentes na literatura e cinema. Em 2010, Alexander Dunst concluiu seu doutorado em Teoria Crítica na Universidade de Nottingham, com a tese intitulada Politics of madness: Crisis as Psychosis in the United States 1950 – 2010, publicada em 2017, por meio da editora Routledge, com o título Madness in Cold War America. Essa obra, composta por 6 capítulos e 173 páginas, está resenhada no presente texto com criticidade a partir da minha leitura. Leia Mais
Alexander Dunst é professor assistente de Estudos Americanos na Universidade de Paderborn, na Alemanha, atuando no Departamento de Inglês da referida instituição. Intitula-se “historiador cultural da América do século XX” com foco de pesquisa sobre o período da Guerra Fria, utilizando como fontes os discursos e as narrativas culturais presentes na literatura e cinema. Em 2010, Alexander Dunst concluiu seu doutorado em Teoria Crítica na Universidade de Nottingham, com a tese intitulada Politics of madness: Crisis as Psychosis in the United States 1950 – 2010, publicada em 2017, por meio da editora Routledge, com o título Madness in Cold War America. Essa obra, composta por 6 capítulos e 173 páginas, está resenhada no presente texto com criticidade a partir da minha leitura. Leia Mais
State violence, torture, and political prisoners: on the role played by Amnesty International in Brazil during the dictatorship (1964-1985) | Renata Meirelles
Renata Meireles | Fotomontagem: RC/coldwarbrazil.fflch.usp.br
 Em 2010, Samuel Moyn publicou aquele que seria seu principal livro sobre os direitos humanos: The last utopia: human rights in history. Nas palavras do historiador, se “os direitos do homem tinham relação com a reunião de um povo em torno de um Estado, e não com estrangeiros que podiam criticar outro Estado por suas violações” (Moyn, 2010, p. 26 [tradução do autor]), a primeira definição não mais se aplicaria ao mesmo conceito um século e meio depois de sua invenção nos Estados Unidos e na França revolucionários.
Em 2010, Samuel Moyn publicou aquele que seria seu principal livro sobre os direitos humanos: The last utopia: human rights in history. Nas palavras do historiador, se “os direitos do homem tinham relação com a reunião de um povo em torno de um Estado, e não com estrangeiros que podiam criticar outro Estado por suas violações” (Moyn, 2010, p. 26 [tradução do autor]), a primeira definição não mais se aplicaria ao mesmo conceito um século e meio depois de sua invenção nos Estados Unidos e na França revolucionários.
A grande mudança aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, e mais intensamente ao longo da Guerra Fria, quando, nos anos 1970, a política internacional transformou-se em disputa pelo que então se queria entender por emancipação humana, ou por conquista de novas liberdades, quer no sentido anticolonial, quer no sentido da democracia repensada, restaurada, ampliada. A novidade do conceito de direitos humanos estava no ato de se acreditar que era mesmo possível agir-se para a elevação política e moral da humanidade, sem as limitações das fronteiras nacionais, se intervindo nos Estados de forma que seus governos, criticados externamente, respondessem por seus atos e promovessem mudanças positivas. Leia Mais
Power in the Village: Social Networks/ Honor and Justice among Immigrant Families from Italy to Brazil | Maíra I. Vendrame
O livro de Maíra Vendrame, agora publicado em inglês, é uma versão reduzida de sua tese de doutoramento em história defendida em 2013 na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O estudo tem como fio condutor a trajetória do padre Antônio Sório, imigrante italiano que se instalou no núcleo colonial de Silveira Martins, Rio Grande do Sul, na década de 1880. Quase vinte anos depois, em 1900, o sacerdote faleceu em decorrência de um grave ferimento no “baixo ventre”. A “morte trágica” gerou várias versões explicativas na comunidade, as quais foram utilizadas por Vendrame como motivação para adentrar no universo camponês e investigar os costumes do grupo. Desse modo, a morte de Sório aparece como pretexto para pesquisar temas mais amplos, como a emigração da Itália, questões de honra familiar e práticas de justiça camponesas que podiam ou não se relacionar com a justiça do Estado.
As versões sobre a morte do padre são apresentadas já no primeiro capítulo, intitulado Versions of a tragedy. Na noite em que Sório ficou ferido, ele estava em uma das ruas do núcleo colonial, a cavalo, provavelmente retornando para casa. As explicações que circularam entre a população de Silveira Martins defendiam que o sacerdote teria sofrido uma queda do cavalo ou sido vítima de uma emboscada com motivações políticas ou vingativas. Aqueles que afirmavam que havia ocorrido um crime político, sustentavam como mandante a maçonaria, pois essa se encontrava presente na comunidade e travava um conflito de ideias com Sório, defensor e representante da Igreja Católica. Por outro lado, as pessoas que acreditavam em um crime de vingança, declaravam que o pároco havia desonrado uma jovem do lugar. Como não foi aberto um processo judicial para investigar o ocorrido, que talvez pudesse apontar para uma única explicação, os diferentes relatos registrados em entrevistas orais, publicações periódicas e de padres e imigrantes locais, oferecem um horizonte de possibilidades. Leia Mais
Madness in Cold War America | Alexaner Dunst
Alexander Dunst é professor assistente de Estudos Americanos na Universidade de Paderborn, na Alemanha, atuando no Departamento de Inglês da referida instituição. Intitula-se “historiador cultural da América do século XX” com foco de pesquisa sobre o período da Guerra Fria, utilizando como fontes os discursos e as narrativas culturais presentes na literatura e cinema. Em 2010, Alexander Dunst concluiu seu doutorado em Teoria Crítica na Universidade de Nottingham, com a tese intitulada Politics of madness: Crisis as Psychosis in the United States 1950 – 2010, publicada em 2017, por meio da editora Routledge, com o título Madness in Cold War America. Essa obra, composta por 6 capítulos e 173 páginas, está resenhada no presente texto com criticidade a partir da minha leitura. Leia Mais
Liberating Histories | Claire Norton, Mark Donnelly
Experimentamos un tiempo de incertidumbre, marcado por lo que algunos han denominado un cambio sin precedentes. La situación condicionada por problemas de precariedad económica, conflictos raciales y el ascenso de las nuevas derechas exige una constante reformulación de las formas bajo las cuales “observamos” los pasados y las circunstancias que nos impelen a interactuar con ellos en términos éticos y activos. Leia Mais
Intellectuals In The Latin Space During The Era Of Fascism: Crossing Borders | Valeria GAlimi e Annarita Gori
Na década de 2010, especialmente após a onda internacional de protestos que teve início com a Primavera Árabe em 2011, tornou-se clara uma ascensão de movimentos, ideologias, culturas políticas, partidos e governos de extrema-direita, alguns abertamente (neo)fascistas, com um poder de influência sobre a política europeia que não era visto desde os anos 1930 (Löwy 2015, 653). Nos Estados Unidos, o cenário das eleições presidenciais de 2016, em que foi eleito o candidato republicano Donald Trump, também se caracterizou pela emergência de grupos de direita radicais que vão desde a direita institucionalizada com o Tea Party do Partido Republicano, até discursos mais radicais na alternative right e nos movimentos neofascistas/neonazistas, que se tornaram atores da mais alta relevância sob o governo Trump (Alexander 2018, 1009). No Brasil, a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 demarcou essa guinada à direita radical, armamentista, evangélica e tecnológica que se difunde rapidamente pela internet.
Entre hoje e o século passado, as direitas radicais, e especialmente os fascismos e neofascismos, guardam em comum o nacionalismo chauvinista e xenófobo, articulado para a exploração dos “pânicos de identidade” que surgem nos campos conservadores, com a violência cultural com que o capitalismo transforma estruturas socioeconômicas e formas de vida, gerando sentimentos “antissistema”, “anti-cosmopolitas”, “antidemocráticos”, “anti-pluralistas”, “anticomunistas”, “anti-globalistas”, etc. Majoritariamente, são favoráveis a políticas autoritárias de segurança pública, como a introdução ou reabilitação da pena de morte. (Löwy 2015, 654). Em resumo, para utilizarmos uma expressão de Francisco Carlos Teixeira da Silva (2000, 179) inspirada na interpretação de Zeev Sternhell (Cf.: Sternhell 1995, 3-35) do fascismo como cultura política, a “negação do outro” continua a ser a tônica dos discursos e práticas fascistas ao longo do tempo. Leia Mais
The Work of History: Constructivism and a Politics of the Past / Kalle Pihlainen
Kalle Pihlainen / Foto: ExpertiseInHistory /
Although narrative forms can be viewed as essential cognitive tools, Pihlainen claims it is a “curious mistake to extend this same centrality to historical narratives” because we cannot have direct historical experience (6). Thus, narrative as a sense‐making strategy does not hold for historical narratives. This statement remains a bit unelaborate and vague until later in the book, particularly in chapters 4 and 5, when it becomes clear that Pihlainen refers not to fictional creation but rather to the tension between truth and reference. Because of historians’ commitment to representing a past reality by means of referentiality, Pihlainen claims, “[h]istorical narratives—as narratives—are fundamentally disturbed” (63). So, there are two competing and conflicting positions in contemporary historiography: on the one hand, the writing of history always involves the use of a narrative form, transcending the level of separate propositions; on the other hand, the narrative is incompatible with epistemological evaluation. It is curious that at this point in his book Pihlainen does not refer to Paul Ricoeur. The making of historical narratives is a process of what Ricoeur has called “productive imagination,” or the configuration of scattered past events, persons, intentions, goals, and causes into a synthetic whole by means of emplotment.5 The overarching thesis of his three‐volume Time and Narrative is that the temporality of human experience unfolds by narrative. Moreover, Ricoeur also includes the role of the reader, which is an important element of Pihlainen’s book. Narrating history is a process of configuring time—that is, the shaping of temporal aspects that are prefigured in acting. The temporal configuration occurs in plots that give coherence to a diversity of individual events from the past.6 This configurable dimension, Ricoeur explains, makes the story intelligible and traceable. Yet for the audience to be able to follow a story, there has to be an endpoint from which the story can be seen as a whole, a kind of conclusion where expectation in the beginning finds its fulfillment.7 Following the narrative (such as through reading or hearing) implies a refiguration of temporal experiences. In the act of reading, the receiver plays with the narrative constraints and makes the plot work.
However it may be, the aforementioned tension that Pihlainen invokes is the often discussed and unresolved dilemma, as mentioned by Paul A. Roth, “between either epistemic standards inapplicable to histories or nonepistemic narrative theorizing.”8 Interestingly enough, Pihlainen does not dwell on this dilemma but rather, referring to White, suggests that the constructed nature of meaning makes all participants in “the work of history” ethically and politically involved (10). Historians, publishers, and readers have to take responsibility for the making, consequences, and reception of the narrative. There is no escape: meaning cannot be distilled from facts or reality “out there,” and historians cannot rely on some objective or acknowledged method. This ethical and political issue also touches the presence of history in people’s daily lives and the ways that interpretations of the past thrive outside of the academic field of history. Pihlainen explains that this public practice of history has nothing to do with the “presence” of the past or any mystical appeal of historical traces, nor does it have anything to do with experiences of—or direct contact with—the past (28).9 He obviously dislikes the presence paradigm, especially considering his statement that “the idea of the presence of ‘history’ does not seem to lead anywhere” (28). But it is possible, Pihlainen continues, that encounters with historical sources in the archives or experiences in popular genres (such as literature, theater, and film) might generate corrections on the level of factual statements, consequently undermining the coherence of a narrative. In that case, “the disruptive potential” defamiliarizes the “glossing and colonizing impact of narrativization.” The resulting increased fragmentation can stimulate “the disruption of narration and its control of meaning” (29).
In line with this argument, and inspired by Nancy Partner’s work, Pihlainen advocates in chapters 3 and 6 that historians should become more involved with the world and should pay serious attention to “popular appropriations of the past” (52).10 Indeed, academic historians increasingly acknowledge—although sometimes reluctantly—the importance of popular media and public memory in building representations of the past (99). Popular media and genres also include performative articulations like historical reenactments, museum exhibitions, street views with augmented reality, and interactive media.11 Telling examples of this are digital games about the Second World War, which have become a prominent method of cultural expression reaching millions of people all over the world. By allowing players to engage actively with the Second World War, this body of commercial digital entertainment games can significantly co‐configure how the history of this war is understood. These video games often create immersive experiences, but they can also stimulate informal historical learning.12 Digital games and augmented reality are current trends that can fundamentally change how we think and write about the past, hence even influencing historical scholarship.
In chapter 5, Pihlainen explicitly argues for historiography that avoids noncommittal attitudes toward the past (50). It is time, he urges, that historians and theorists find ways to become politically committed in their writings and to challenge their readers to do the same (58). Based on this reasoning, the social responsibility of those involved in the work of history also applies to the current global protests of the Black Lives Matter movement and the fierce conflicts about the content and form of narratives and other representations of the history of slavery, colonialism, and racism. Just like engaged citizens, educators, and policy makers, academic historians cannot remain aloof in public debates. The current removal of statues that deliberately represent white supremacy is understandable, as is the call for rewriting history. But there is also the understandable fear of cleansing the past, of destroying culture and denying that “[a]ll societies are palimpsests.”13 What we need is an open conversation about the history of these representations so that opposing parties can learn. But we also need more.
No less crucial is avoiding the closure of a narrative and the judgments inevitably involved (96), including—in my view—counter‐narratives such as gender history, the history of black slavery, or colonial history. White particularly warned that the realist closure tends to domesticate and normalize the presentation of past events. The absence of closure reveals a narrative’s constructive and ideological nature, but it also provides room for reflection and discussion. That is why, Pihlainen explains, White can suggest that the goal of historical representation should be “to create perplexity in the face of the real” (11); it is also why, in his later works, he appreciated modernist and experimental representational forms that “refuse the kinds of closures attributed to more conventionalist realist as well as propagandic representations” (12). In the case of material representations, a closure—in the sense of a fixed representation—can be avoided by “counter‐monuments,” a term coined by James E. Young.14 Counter‐monuments represent a shift from the heroic, self‐aggrandizing figurative icons that were erected mainly in the nineteenth century to the antiheroic, often‐ironic, and self‐effacing postmodern conceptual installations of the late twentieth century. These often‐abstract monuments are dialogical and interactive by nature. Examples include the Holocaust monument in Berlin and the bronze sculpture by Zadkine in Rotterdam, which commemorates the bombing of the city on May 14, 1940. Counter‐monuments deal in various ways with “the unimaginable, the unspeakable and unrepresentable horror” of the Holocaust or other genocides.15 They can create feelings of perplexity, functioning as Kafka’s ax in literature, “for the frozen sea within us.”16
Pihlainen argues in chapter 5 that complexity creates a space where the text is not simply a given but becomes a space for communication in which readers and other participants are involved (91). For White, this complexity provides a way to make the past present—that is, to actualize it for readers. His view on the historical sublime, Pihlainen continues, “aimed at an experience that makes ‘real’ without imposing closure” and at the same time saves history from domestication (91). Although the demand for complexity and open‐ended representations seems incompatible with the historian’s responsibility and commitment, it is exactly the responsibility of historians, White emphasized, to resist the inclination to make a closure, particularly given all its implicated judgments. This responsibility includes the world around us, the impact of presenting ourselves as historians, and our interpretations and actions as readers (94). Yet Pihlainen is not happy with the way that White deals with the consequences of this complexity (108). These narratives and other representations, he suggests, risk becoming unreadable and unapproachable. Readers expect coherent and appealing historical narratives. Complex histories are more difficult to understand and might lack the emotional impact that audiences expect.
In his book, Pihlainen refutes the equation of “constructivism with unconstrained relativism” (66). He makes a strong and convincing argument for the political character of history writing from a constructivist point of view, and he encourages historians to challenge their readers to question received interpretations and to recognize historiography’s ideological elements (87). His emphasis on the role of readers and the communicative aspects of the work of history is most important. But Pihlainen’s constructivist perspective implies that historiography is not only political but also normative, often in relation to the political dimension. Contemporary discussions about the past do not just incite historians to put different historical narratives in perspective; they also require historians to distinguish which narratives are better than others, be it in terms of accuracy or morality. What, then, are the criteria for these choices? Which answers can constructivism provide to this question without resorting to realist ontologies or moral realism? Pihlainen does not pose such questions. I regret that the book sometimes reads too much like an exegesis of White’s work, in turn limiting Pihlainen’s voice a bit. Another disturbing element is that many of Pihlainen’s arguments are repeated. But it is beyond dispute that this book is worthwhile reading and that it truly encourages critical thinking about the “work of history.”
Notes
1. Amy J. Elias, “The Voices of Hayden White,” Los Angeles Review of Books, April 22, 2018, https://lareviewofbooks.org/article/the-voices-of-hayden-white/.
2. Hans‐Georg Gadamer, Truth and Method, transl. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall, 2nd ed., rev. ed. (1975; repr. London: Continuum, 2006), 336.
3. Maria Grever and Robbert‐Jan Adriaansen, “Historical Consciousness: The Enigma of Different Paradigms,” Journal of Curriculum Studies 51, no. 6 (2019), 814–830.
4. Frank Ankersmit, “Representation as a Cognitive Instrument,” History and Theory 52, no. 2 (2013), 184.
5. Paul Ricoeur, Time and Narrative, transl. Kathleen McLaughlin and David Pellauer, vol. 1 (Chicago: Chicago University Press, 1984), ix. See also Ricoeur, “Life in Quest of Narrative,” in On Paul Ricoeur: Narrative and Interpretation, ed. David Wood (London: Routledge, 1991), 20–33.
6. Ricoeur, Time and Narrative, 1:65–68.
7. Ibid., 1:56. This actually implies the diachronic character of every narrated story.
8. See Paul A. Roth, “Back to the Future: Postnarrative Historiography and Analytic Philosophy of History,” History and Theory 55, no. 2 (2016), 271.
9. See Hans Ulrich Gumbrecht, Production of Presence: What Meaning Cannot Convey (Stanford: Stanford University Press, 2004); Frank Ankersmit, Sublime Historical Experience (Stanford: Stanford University Press, 2005); Eelco Runia, “Presence,” History and Theory 45, no. 1 (2006), 1–29.
10. See Nancy Partner, “Historicity in an Age of Reality‐Fictions,” in A New Philosophy of History, ed. Frank Ankersmit and Hans Kellner (Chicago: Chicago University Press, 1995), 21–39.
11. See Maria Grever and Karel van Nieuwenhuyse, “Popular Uses of Violent Pasts and Enhancing Historical Thinking,” in “Popular Uses of Violent Pasts in Educational Settings,” ed. Maria Grever and Karel van Nieuwenhuyse, special issue, Journal for the Study of Education and Development 43, no. 3 (2020, forthcoming).
12. See, for instance, Pieter van den Heede, “Experience the Second World War Like Never Before!’ Game Paratextuality between Transnational Branding and Informal Learning,” in eds. Grever and van Nieuwenhuyse, “Popular Uses of Violent Pasts,” special issue, Journal for the Study of Education and Development 43, no. 3 (2020, forthcoming).
13 Jonathan Lis, “Colston Row: It’s about Discussing History, Not Rewriting It,” Politics.co.uk, June 10, 2020, www.politics.co.uk/comment-analysis/2020/06/10/colston-row-it-s-about-discussing-history-not-rewriting-it.
14. James E. Young, “The Counter‐Monument: Memory against Itself in Germany Today,” Critical Inquiry 18, no. 2 (1992), 267–292. See also Andreas Huyssen, “Monument and Memory in a Postmodern Age,” in The Art of Memory: Holocaust Memorials in History, ed. James E. Young (New York: Prestel, 1994), 9–18.
15. Huyssen, “Monument and Memory,” 16. On this subject, see also Ethan Kleinberg, Haunting History: For a Deconstructive Approach to the Past (Stanford: Stanford University Press, 2017).
16. Ibid., 17.
Maria Grever
PIHLAINEN, Kalle. The Work of History: Constructivism and a Politics of the Past. New York: Routledge, 2017. 144p. Resenha de: GREVER, Maria. History writing without closure. History and Theory. Middletown, v.59, n. 3, p.490-496, set. 2020. Acessar publicação original [IF].
Global Citizenship Education and Teacher Education. Theoretical and practical issues | Daniel Schugurensky, Charl Wolhunter
El concepto de educación para la ciudadanía es tremendamente complejo, más si le añadimos el término ‘global’. Por este motivo, hablar de educación para la ciudadanía global (ECG) no basta para para situar al lector -ya sea estudiante, docente o académico- puesto que hay múltiples ideas e interpretaciones de lo que EGC significa. Las personas y los estados lo interpretan o lo enfocan de formas diferentes, ya sea por motivos epistemológicos, históricos, culturales, ideológicos o económicos. El libro reseñado aborda esta complejidad desde la perspectiva de la formación del profesorado, un debate que se hace necesario en los procesos de transformación educativa y social, puesto que sabemos que los cambios suelen darse a través de la formación inicial, en un proceso lento pero que puede conseguir resultados que realmente supongan un avance cultural y educativo significativo. Leia Mais
Transnational South America: Experiences, Ideas, and Identities, 1860s1900s | Ori Preuss
Transnational South America, de 2016, é o segundo livro publicado do historiador americanista Ori Preuss. Professor do Instituto de História e Cultura da Universidade de Tel-Aviv, Preuss estuda os intercâmbios transnacionais entre as capitais sul-americanas da passagem do século XIX para o XX. Trabalhando com fontes relacionadas ao fluxo de ideias e pessoas, o objetivo central dos trabalhos do autor tem sido analisar a formação histórica de um espaço denominado América Latina. Para isso, dialoga com o campo da História transnacional que, na última década, passou a questionar veementemente o conceito de Estado-nação como unidade de análise.
Imbricado na tarefa de construir categorias espaciais transnacionais cabíveis para a análise historiográfica, Preuss elegeu o processo de modernização do final do século XIX como o momento de intensificação das trocas entre os países então denominados latino-americanos. Seu grande desafio, contudo, é analisar a inserção do Brasil nesse espaço. Em Bridging the Island, publicado em 2011, o autor buscou percorrer a trajetória dos intelectuais que contribuíram para a formação de uma ideia de América Latina no Brasil. Já em Transnational South America, Preuss aumentou seu escopo ao propor um mapeamento da trajetória de ideias e pessoas que circularam entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires com o intuito de fortalecer laços latino-americanos. Leia Mais
Science and Society in Latin America. Peripheral Modernities | P. Kreimer
Pablo Kreimer en Science and Society in Latin America reúne una serie de trabajos, que, si bien han circulado previamente en distintas publicaciones, al ser conectados entre sí nos proponen comprender la historia de la ciencia en los países latinoamericanos a partir de su desarrollo en el marco de “modernidades periféricas”. En ese sentido, el autor nos invita a reconocer la especificidad de la experiencia de quienes han desarrollado investigación científica en el contexto de América Latina, pero adoptando “los valores, prácticas, creencias e ideas de ‘ciencia’” propias de sus pares europeos y norteamericanos. Para Kreimer, estos científicos han vivido la aparente paradoja de ser modernos y periféricos al mismo tiempo y, por ese medio, constructores de una “ciencia periférica”, con sus dinámicas, problemáticas y trayectorias singulares. Leia Mais
After American Studies: Rethinking the Legacies of Transnational Exceptionalism | Jeffrey Herlihy-Mera
After American Studies, by Jeffrey Herlihy-Mera of the Universidad de Puerto Rico, is a critical Cultural-Studies examination of the foundational theses in the Transnational Turn in American Studies. However, it is aimed, at the same time, to rethink and deconstruct some of the key tenets of the field. Indeed, After American Studies engages a post-national and post-cultural argument, the core of which provides important nuance to the transnational turn.
The book is comprised of an introduction and nine chapters, parts of which were previously published in academic journals. Herlihy-Mera’s purpose is made clear in the Introduction: “After American Studies is a critique of national and transnational approaches to community, their forms of belonging and patriation, and initiates a theoretical gesture toward new considerations of postgeographic and postcultural communities” (p. 1). Leia Mais
Peirce’s Speculative Grammar: Logic as Semiotics – BELLUCCI (C-RF)
BELLUCCI, Francesco. Peirce’s Speculative Grammar: Logic as Semiotics. New York/ London: Routledge, 2018. Resenha de: TOPA, Alessandro R. R. Cognitio – Revista de Filosofia, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 159-202, jan./jun. 2019.
Although the designation speculative grammar does not make its appearance in Peirce’s writings before 1895,01 the plan to erect an edifice of logical studies in the spirit of the medieval trivium that would reflect the triadic structure and essential relations of a sign to itself, its object and its interpretant, is part and parcel of his semeiotic conception of logic since the Harvard Lectures of 1865.02 Inasmuch as Speculative Grammar contemplates the most fundamental property of every sign, namely, its capacity to refer to something other than itself, and thus, have meaning as a necessary prerequisite to “be fit to embody truth and falsity”,03 this first branch of Peirce’s semeiotic logic is foundational for its other two branches––Critical Logic and Speculative Rhetoric (or: methodeutic as Peirce seems to prefer to call it after 1902),––because it deals with that property of signs which is presupposed both in their capacity to refer to objects (and thus be either true or false) and to represent the logical truth of a sign as being a consequence of the truth of other signs (and thus be either validly or invalidly derived from them). Hence, because validity and truth are grounded in ‘semanticity’, Speculative Grammar, which studies “the modes of signifying, in general”,04 constitutes the Elementarlehre of Peirce’s semeiotic logic.05 With his study Speculative Grammar: Logic as Semiotics, Francesco Bellucci does not offer a vaguely systematizing recompilation of the many outstanding papers on Peircean logic and semeiotics he has published, but rather something far more coherent and substantial. He aims at providing us with “as complete an account [of speculative grammar] as possible” (p. 9). Thus, it is a monographia in the strict sense of the term that we are holding in our hands and, as it will soon become clear, a marvelous piece of scholarship. Bellucci’s reconstruction of the development of Peirce’s conception of the foundations of his semeiotic logic succeeds in accomplishing the aim it sets itself with paradigmatic erudition, impressive expository perspicuity and great care for the most minute details––“as though”, one is tempted to say, these “were intended for the eye of God”.06 It, therefore, represents one of the most important contributions to this central branch of scholarship in Peirce since PIETArINEN’s Signs of Logic, ShOrT’s Peirce’s Theory of Signs and STJErNfELT’s Natural Propositions.
As this is a book one can learn a lot from, and––if you are working on Peirce’s semeiotics––will have to learn a lot from, in what follows I shall first sketch the methodology and general structure of the work. Subsequently, I shall, en detail, focus on the main strands of Bellucci’s reconstruction, so as to illustrate the value of his work and indicate some fundamental problems he wisely––thus: legitimately–– stays away from.
The author’s methodological aim to offer of a purely “historical reconstruction” (p. 10) of Speculative Grammar that has no other aim but to “understand Peirce’s ideas, their genesis, and their development” (ibid.), could easily be regarded as revealing a lack of systematic interest. A lack of interest that philosophers, semioticians and logicians accustomed to read historical texts through the lenses of contemporary debates will see exacerbated by Bellucci’s exclusive focus on “the ‘internal’ justification of the evolution of Peirce’s ideas on signs”––contraposed to “the ‘external’ justification of these ideas themselves” (ibid.)––and by his ascetic renouncement “to evaluate them or bring them to bear on subsequent philosophical and semiotic discussions” (ibid.).
Is there a rationale for this suspensio iudicii? And, is it a skeptical suspension of judgement or rather a critical suspensio iudicii indagatoria? Firstly, it should be noted that an account of virtually any of the central aspects of Peirce’s philosophy requires the expositor to come to grips with and find her own ways through the labyrinth of unpublished manuscripts. In the case of Speculative Grammar, the philological challenge is even greater, inasmuch as semeiotics constitutes one of Peirce’s central domains of research between 1902 to 1908, while the chronological edition of the Writings of Charles S. Peirce has not proceeded further than to the year 1892. Secondly, it should be noted that the task of giving a genetic account of Speculative Grammar requires not only a thorough grasp of Peirce’s philosophical development as a whole, but also of his work in the other two branches of the semeioto-logical trivium and, in particular, of his mathematical logic in algebraic and diagrammatic form, which, as Bellucci shows, had the strongest impact on the theorydynamics within Speculative Grammar. Thirdly, the study of Peirce’s semeiotics is still catching up to Peirce, well knowing that this will require us to go beyond him at some point, especially as Peirce himself “perceived that his powers were insufficient to cope with the task” (p. 10). As Bellucci is planning to complement his account of the grammatical foundations of Peirce’s logical trivium with monographs on Critical Logic and Speculative Rhetoric (cf. p. 1), the present volume represents the first part of a project that aims at a complete reconstruction of Peirce’s semeiotic logic, in order to––so we assume––become able to contribute to it as soon as the suspensio iudicii indagatoria has identified the grounds on which it can build its verdicts.
Thus, the author’s abstinence from critical judgment, systematic contextualization and argumentative confrontation with other theory-options serves a higher purpose: the purpose of doing things in that order that promises to do them right.
Although Bellucci’s account takes the form of a comprehensive diachronic reconstruction of the problems, ramifications and solutions appearing on each developmental stage of Speculative Grammar, it is nonetheless possible to read his whole account as an analysis of the process that thrice forced Peirce to broaden his conception of the fundamental logical triad and thence undertake ‘reforms’ of Speculative Grammar.
In the Minute Logic of 1902, Peirce realizes that the trichotomy of symbols–– term, proposition, argument––is not a subdivision of the trichotomy of signs into icons, indices and symbols, but rather constitutes an independent dimension of signhood which––combined with the first trichotomy––yields a classification of signs that is no longer a taxonomy of classes of signs but rather of semeiotic parameters. Out of nine combinatorially possible classes of signs, six are recognized as semeiotically possible on the basis of unsystematized ad hoc rules (cf. p. 199). This “‘first reform’ of speculative grammar” (p. 196), consequently, generates two tasks.
Firstly, the task to broaden the fundamental logical division of term, proposition and argument in such a way that it is no longer restricted to representing parameters of symbols exclusively, but of all signs as such. Secondly, the task of identifying those rules of compossibility in accordance with which semeiotic parameters can be combined so as to yield classes of signs. Both tasks are tackled in the context of the Lowell Lectures of 1903 and its accompanying Syllabus, in which Peirce replaces the classic fundamental logical triad with the trichotomy of rheme, dicisign and suadisign and, moreover, identifies the rules of parameter-compossibility for linearly ordered trichotomies.
But in “Nomenclature and Divisions of Triadic Relations”, composed in late 1903, Peirce already moves on to the “‘second reform’ of Speculative Grammar” (p.
256) and introduces a third trichotomy of parameters in which signs are regarded in relation to their own mode of being and thus divided into signs that are possibles (qualisigns), existing events (sinsigns), or generals: types, habits or laws (legisigns).
Out of twenty-seven mathematically possible combinations, ten are shown to be semeiotically possible classes of signs.
Finally, in a draft of the “Prolegomena for an Apology of Pragmaticism”, Peirce in 1906 replaces the fundamental logical triad of rheme, dicisign and suadisign with the new triplet of Seme, Pheme and Delome. The second of these terms, i.e.
the Pheme, “embraces […] not only Propositions, but also all Interrogations and Commands, whether they be uttered in words or signalled by flags”.07 As we shall see, the introduction of this new version of the fundamental logical triad marks the moment in which––thus Bellucci will argue––Peirce’s “findings in speech act theory necessitate a new grammatical terminology” (p. 315).
This necessitation is due to the fact that, according to Bellucci, the real driving force behind the “third reform of speculative grammar” (p. 286; cf. p. 311)––which starts to emerge in the doctrine that a sign has two objects and three interpretants,–– is the insight that the proposition ought to be differentiated from the act of asserting it, as “the act of assertion is not a pure act of signification”.08 It is, thus, the ‘semantic impurity’ or ‘pragmatic surplus’ of the act of assertion that necessitates the introduction of additional “illocutionary” and “perlocutionary trichotomies” (cf. pp.
310 ff.) that are capable of accounting for the various effects sign-action generates (cf. p. 298). Bellucci’s understanding of the nature of the third reform of Speculative Grammar thus is that of a late Peircean speech-act-theoretical turn.
As all three reforms occur between 1902 and 1905, the first half of the book (ch. 1 to 5) deals with the emergence and formation of Speculative Grammar, whereas the second part (ch. 6 to 8) analyzes the dynamics of the aforementioned reforms. Thus, whereas the two initial chapters deal with Peirce’s early semeiotic theory (1865-1873), a subsequent triplet of chapters tackles the development from 1880 to 1900, before the last three chapters analyze the progressive ‘reformatory’ broadening of Speculative Grammar into a General Semeiotic, i.e. into “a theory of all possible kinds of signs, their modes of signification, of denotation, and of information, and their whole behaviour and properties”.09 In a closing chapter, Bellucci eventually focuses on both Peirce’s metalogical justification for conceiving of logic as a theory of signs and on his methodological reasons for extending the domain of Speculative Grammar to comprise all forms of signs, including those that he refers to as “emotional and imperative signs” and are to be distinguished from “cognitional signs”10 or “logons”.11 Although Bellucci’s account doubtless offers its most fruitful systematic contributions in chapters 6 to 8, he nonetheless manages to add substantial insights to the literature in virtually every chapter. Accordingly, his study of Peirce’s earliest conception of a semeiotic logic in the Harvard and Lowell Lectures of 1865/1866 reconstructs in unprecedented detail and clarity the project of a science named “Objective Symbolistic”, bringing to the fore how the substance of most later developments is already present in these earliest semeiotic texts and thus also helps us to better understand how Peirce’s semeioto-logical inquiries are originally related to his theory of categories, if a more nuanced account of his early philosophical development is superadded (see below).
Peirce’s “Objective Symbolistic” is his first attempt to present a semeiotic logic in the tradition of Locke’s third branch of science named “σημειωτική, or the Doctrine of Signs”.12 As Bellucci’s reconstruction shows, this first attempt contains a sequence of––as I would put it––‘basal theoretical operations’ that will remain omnipresent in Peirce’s methodology. Let me only highlight the seven most important operations, and permit me to initially skip the first: there is (ii.) the definition of logic in semeiotic terms, which is presented in the context of (iii.) an analysis of the constitutive elements of the sign-relation. Moreover, we can recognize the basal operations of (iv.) a classification of signs and of (v.) a classification of symbols. Finally, there is the basal operation of (vi.) a classification of arguments, including (vii.) an account of inferential validity on the basis of (ii.)-(vi.).
Now, according to Bellucci, this methodological sequence is initially established independently of a theory of categories. Rather, it will only be when Peirce has consolidated his system of logic that he can perform “the Kantian step”13 to derive metaphysical categories from logical forms. In this sense, so Bellucci argues, the first basal operation that we need to add––and which coincides with the first step in the argumentative order of “On a New List of Categories”: derivation of categories first (§§1-14), deduction of a system of logical forms next (§15)––represents a reversal of the historical order of discovery which saw Peirce moving from conceiving all logical form to be rooted in the sign-relation to establishing his precisive gradation of categorial concepts of second intention constituting the intelligibility of sensuous manifolds in the unity of the proposition (pp. 49 ff., 71).
Bellucci’s claim that the accomplishment of the operative endeavors (ii.) to (vii.) which erect Peirce’s first semeiotic logical doctrine, “[h]istorically […] came before the problem of determining a new list of categories” (p. 50), however, is only half the truth. As the student of Peirce’s early theory of categories (1857-1865) knows, these thoroughly anti-transcendentalist essays––i.e. attempts to outline a theory of categories that aims to show that the Kantian categories can only be apprehended as concepts under the supposition of their also being structures of being, i.e. concepts that do not only have empirical validity as conditions of the possibility of experience, but are also transcendentally real as conditions of the possibility of “creation”14–– left Peirce, as he remembers, “blindly groping among a deranged system of conceptions”, so that he, “after trying to solve the puzzle in a direct speculative, a physical, a historical, and a psychological manner […], finally concluded the only way was to attack it as Kant had done from the side of formal logic”.15 The approval of the “Kantian step of transferring the conceptions of logic to metaphysics”16 thus is the result of a categoriological failure that involves a shift from an idealism-morethan- transcendental (before 1865) towards the “realistic phenomenalism of Kant”,17 which is the fruit of a close second reading of and “personal enthusiasm for Kant”.18 Peirce’s appreciation of the “Kantian step”, therefore, must mature between “Letter Draft, Peirce to Pliny Earle Chase”19 and the “Harvard Lecture I.” (February 1865), i.e. in the second half of 1864, in which he focuses on Aristotelian and Hamiltonian Logic, Boolean Algebra20 and probably discovers “Prantl, the historian of Logic”.21
Unsurprisingly, it is in the “Harvard Lecture I.”––in which the project of an Objective Symbolistic is originally exposed––that we still can see how the relational structures articulated in Peirce’s former pronominal categories I-Thou-It still guide him in conceptualizing his logical triads (before the former are then supplanted by the new terminology developing between 1865 and 1867): A symbol in general and as such has three relations. The first is its relation to the pure Idea or Logos and this (from the analogy of the grammatical terms for the pronouns I, IT, THOU) I call its relation of the first person, since it is its relation to its own essence. […] The third is its relation to its object, which I call its relation to the third person or IT.22 Now, independently of these developmental details, the basal operation in Peirce’s account of his semeiotic logic will always consist in (i.) a categorial derivation of the conception of representation or signhood (the schema of all schemata of understanding). The vexed question to what extent this derivation––that Bellucci insightfully reconstructs in line with De Tienne (1996)––is “a metaphysical or a transcendental deduction” (p. 51), however, seems to me misleading, inasmuch as it prevents bringing into view what Peirce––building on Kant (cf. pp. 51-54)––truly accomplishes in “On a New List of Categories”: a deduction of the categories “from above” (as Bellucci, p. 54, rightly sees) that moves regressively from a “highest point”,23 i.e. from the propositional unity of a sensuous manifold sealed in the conception of Being, to its categorial constituents, without requiring a Leiftaden, Transzendentale Deduktion and Schematismuskapitel, because it articulates what remained implicit in Kant’s sketchy metaphysical deduction: the common triadic structure of those complex “functions” or “acts” of the understanding which––as it is operative in both the bringing about of analytical conceptual unities and in the bringing about of the unity of a sensuous manifold24 in the threefold synthesis25––is constitutive for establishing our reference to objects in judgments qua “representations of representations”,26 as Hoeppner (2011) has shown. This common triadic structure or abstract identity of analytical and synthetical acts of the understanding consists in their (i.) necessary reference to a sameness (“reference to a ground”/predicateterm/ synthesis of reproduction), which presupposes (ii.) a necessary reference to a numerically different entity (“reference to a correlate”/subject-term/synthesis of apprehension), which in turn presupposes (iii.) a necessary reference to an act of mediation (“reference to an interpretant”/conceptus communis/synthesis of recognition) which represents the unity of sameness and difference: A representation that is to be thought of as common to several must be regarded as belonging to those that in addition to it also have something different in themselves; consequently they must antecedently be conceived in synthetic unity with other (even if only possible representations).27 For the middle period of Peirce’s development from 1880 to 1895, dominated by work on the Algebra of Logic (including the Logic of Relatives), chapter 3 provides us with a technically sophisticated account of how Peirce’s work in mathematical logic transformed his understanding of Speculative Grammar as it is––incognito––represented in the first part of the paper “On the Algebra of Logic” of 1885. Here Peirce––as a consequence of the discovery of quantification with his student O. H. Mitchell––for the first time moves to a position that attributes an essential function in reasoning to each of the three kinds of signs, inasmuch as (necessarily symbolically represented) generality, (necessarily indexically represented) reference to a universe of discourse and the (necessarily iconical) representation of the arrangement of the parts of an argument are essential components of any reasoning and thus require corresponding semeiotic functions: “We interpret symbols and we are referred to objects by indices, but the form in which symbols and indices are connected (the syntax of a formula) can only be observed in iconic signs” (p. 121), summarizes Bellucci.
This position is then refined in Peirce’s first mature attempt to produce a summa of his logic in the extensive manuscript How To Reason (1894), to which chapter 4 is devoted. Together with the Minute Logic of 1901/2 and the Syllabus and Lowell Lectures of 1903, How to Reason represents one of the most comprehensive Peircean efforts to give a systematically, i.e. philosophically grounded account of his complete logic. Again, Bellucci’s reconstructive focus on formal grammar pays off substantially, not only because these roughly 600 manuscript-pages could be tackled from a variety of developmental points of view––e.g. by considering if and how Peirce’s Evolutionary Metaphysics, worked out in the preceding years, impinges on logical conceptions, or by studying the germs of the coenoscopic conception of philosophy,––but also because Bellucci never forgets to connect the landmarks of his narrative: In How To Reason we are, on the one hand, still moving in a theoryarchitecture in which the main systematic ideas stemming from “On a New List of Categories” (1867) and “On the Algebra of Logic” (1885) are still foundational, while, on the other hand, the analyses of Speculative Grammar gain profile and start to build up a complexity that indicates the necessity to identify additional dimensions of signhood (p. 129-135). This necessity is arising, firstly, with a view on the symbolical nature of quantificational indexical signs establishing a reference to the universe of discourse, which thus leads to a refined typology of indexical signs, comprising direct-objective (attention-steerers like pronouns and pointers etc.), relative (anaphoric expressions indicating objects of discourse) and indirectselective indications acting as instructions for the selection of objects in quantifying expressions (cf. p. 139-141). Secondly, this need to classify signs in accordance with respects other than their representative character emerges in the context of the differentiation between two kinds of iconic signs operating on different levels of semeiosis: There are icons that are involved by symbols (exciting ideas or likenesses of object-properties and relations) and are labelled as “icons of first intention”;28 and there are “monstrative” “icons of second intention”29 which represent logical form in syntactical arrangements, logical constants and argumentative structures.
The specific iconicity of these “monstrative signs” is grounded in their nature as signs that can neither be indicated nor symbolized but only shown (cf. p. 142-147).
The broader systematic context, in which the aforementioned taxonomical complications emerge, is defined by the analysis of assertion (cf. p. 136-143, 150- 168), which constitutes the basic semeiotic function of an intelligence capable of learning from observation and reasoning30 and thus becomes the central subject matter of the first branch of an exact logic. This branch is now explicitly referred to as Speculative Grammar, inasmuch as “to study those properties of beliefs which belong to them as beliefs, irrespective of their stability […] will amount to what Duns Scotus called speculative grammar”.31 As this discipline “must analyse an assertion into its essential elements, independently of the language in which it may happen to be expressed”,32 the reader might desire to hear more about the linguistic aspects and backgrounds of Peirce’s analysis of the universal structures of assertion,33 especially because the respective passages from the “Short Logic”,34 or from the Minute Logic35 have not been published in the main editions of Peirce’s works. Bellucci, however, prefers to focus on the primordial semeioto-logical aspects and designs chapter 5 as a backdrop on which the reforms taking place after 1900 will unfold.
In this sense, we can see how Peirce’s earlier versions of the analysis of assertion already anticipate the pincer-movement of the Syllabus of 1903 which proceeds by establishing the mutual confirmation of coenoscopic observation (the “rhetorical evidence”36) with the a priori deduction of the semeiotic functions necessarily required to represent truth as something that “consists in the definitive compulsion of the investigating intelligence”.37 But we can also recognize that Peirce’s conception of assertion still appears to be enclosed in the representationalist horizon defined by the § 19 of Kant’s CPR (cf. p. 157). As a consequence, Peirce does not as yet realize that assertion is “more an act that we perform with a symbol than something inherent to the symbol itself”, as Bellucci aptly puts it (p. 163).
Moreover, the variety of signs emerging from the analysis of assertion as requiring three elementary semeiotic functions––namely, (i.) an iconic sign of an idea to be attributed to (ii.) an indexically denotated occasion of belief-compulsion to which (iii.) an icon must symbolically be represented to be applicable (cf. p. 157 ff.) –– emphasizes the existence of modi significandi that cut across the taxonomy and thus display the limits of a theory that cannot explain the mixed nature of signs that are both iconic and symbolical––like the copula,––or indexical and symbolical, inasmuch as a weathercock indicatively asserts while a quantifier symbolically indicates (cf. p. 166 f.). Finally, the years 1895 to 1897 see emerging an approach to the analysis of deductive reasoning that will soon supersede the algebraic methods predilected in the decennia before: logical graphs (cf. p. 168-179).
Reacting to the taxonomical difficulties sketched above, Peirce, in the Minute Logic (1901-1902), introduces a radically modified approach to the classification of signs which Bellucci reconstructs as the “‘first reform’ of speculative grammar” (p.184 ff.). This reform, however, takes place in the broader context of a quite radical architectonic revamping of Peirce’s philosophy that is for the first time systematically presented in the Minute Logic and subsequently consolidated in the Carnegie Application (1902) and in the Harvard and Lowell Lectures of 1903. The major element of this architectonic reorganization is the triadic organization of Philosophy as a positive coenoscopic science based on common experience which––in the Comtean order of principle-dependence––is preceded by Mathematics only and has Phenomenology (methodologically recasting category-theory), the new Normative Sciences (Esthetics, Ethics and Logic) and Metaphysics as its three main divisions. Bellucci does not spend too much time on elucidating how radical a break with the past Peirce’s new architectonic constitutes––and for which it would take “[m]ore than six lectures […] to set forth in the tersest manner the reasons which have convinced me that Philosophy ought to be regarded as having three principal divisions”,38 as Peirce writes in 1903,–– but he gives an informative general overview of the Minute Logic (pp. 183-188) which elucidates the teleological character Peirce now explicitly ascribes to logica utens and consequently is reflected in the normative aspects of its systematic study as a logica docens dependent on esthetic and ethical principles (cf. p. 185-188).
The closer analysis of Speculative Grammar is then premised by a highly interesting consideration of the relation of logic to semeiotics (p. 188-193, cf. also p. 353-363) in which Bellucci arrives at a modification of Max Fisch’s account of the development of Peirce’s semeiotic logic from an early logic-within-semiotic to a mature logic-as-semiotic.39 Although Bellucci can confirm that Peirce in the Minute Logic factually identifies both disciplines when he defines Logic as “the science of the general necessary laws of Signs and especially of Symbols”,40 he nonetheless emphasizes that the mature Peirce’s position is rather one better labeled as semiotics-within-logic, inasmuch as logic is primarily taken to be a science that deals with arguments and thus with symbols, although the necessary task to provide an account of all possible signs is assigned to Speculative Grammar for reasons that will become increasingly relevant in the final years of Peirce’s semeiotic inquiries from 1904-1908. Logic, thus Bellucci explains, “is identified with the theory of signs because one of its departments is identified with that theory” (p. 192), so that for the mature Peirce the ultimate reason for the identification of Logic with general semeiotics is Speculative Grammar. Consequently, the possibility of erecting a logical theory that is thoroughly anti-psychologistic, inasmuch as it sees the actualization of sign-relations in psychological processes such as human thoughts as secondary to their determinant form, is grounded in the possibility of establishing a formal theory of the essential conditions signs need to conform to in order to represent inference.
Bellucci’s magisterial account of Peirce’s Speculative Grammar in the Minute Logic carefully reconstructs the foundations of such as formal semeiotic by moving through that series of basal operations we have noted to be its methodological backbone since 1865. By moving from the categorial division of the significant character of a sign into two degrees of degeneracy (icon, index) and one genuine kind (symbol) to the division of symbols and the grammar of arguments (differentiating abduction; corollarial and theorematic deduction; crude, qualitative and quantitative induction), Bellucci, however, surveys the familiar material of Peirce’s semeiotic logic (cf. p. 193-212) with particular interest for what he refers to as “the real novelty of the Minute Logic” (p. 198). What is this novelty? It consists in the way how the two trichotomies of signs Peirce had been working with for many years are related to each other. Prior to the Minute Logic (thus from 1865 to 1901), Peirce was conceiving of the trichotomy of symbols (terms, propositions, arguments) as a subdivision of the first trichotomy which has the representative character of a sign––being either a resemblance (icons), a real relation (indices) or a habitual use (symbols)––as its ratio divisionis. With the Minute Logic, however, Peirce starts to conceive of the trichotomy of symbols no longer as subordinate to the first trichotomy, but rather as coordinate. As a consequence, Peirce’s taxonomy of signs is no longer a division of objects into exclusive classes, but rather a taxonomy of “ways of classifiying signs, i.e. as semiotic parameters by the combination of which the classes of signs are obtained” (p. 183). The classification of signs henceforth becomes an operation consisting of two major steps, where the first step aims at the identification of the essential semeiotic parameters, while the second step––on the basis of rules of semeiotic compossibility––must ascertain which combinations of parameters yield possible signs (cf. p. 198). With the six possible classes of signs that can be obtained from combining both trichotomies, we are thus finally able to taxonomically explain symbols that indicate (qua symbolic terms) or indices that assert (qua indexical propositions).
With Chapter 7, Bellucci’s account turns to the most fruitful period in the development of Speculative Grammar: the autumn months preceding the Lowell Lectures of 1903 see Peirce also working on a pamphlet designed to provide the audience with a synopsis of his most fundamental ideas concerning his philosophical architectonic in general and his graphic and normative logic in particular. It is in these manuscripts (MSS 478, 800, 539, 540) which constitute the material for A Syllabus of Certain Topics of Logic, that Speculative Grammar takes on the general form Peirce will try to perfect and expand in the final years of his life. And it is especially with a view on the fermentation of ideas in these complex manuscripts that Bellucci’s methodological focus on their compositional history pays its dividends, as nobody has ever with such care and lucidity reconstructed their most likely compositional sequence (cf. p. 215 f., 259 f.). In doing so he unearths a wealth of insights that allow us to better understand the questions Peirce is asking and the developments these give rise to.
These developments are taking place in the framework of a conception of Speculative Grammar that, by the end of 1903, has become a science the main distinctions of which––whether in the theory of relations or in the theory of signs properly speaking––are all thoroughly grounded in the phenomenological categories of Firstness, Secondness and Thirdness with their respective degenerate modes. Inasmuch as all three Normative Sciences are taken to have a physiological, a classificatory and a methodical compartment, Speculative Grammar is now defined as the “physiological [department]” of a “general theory of signs”.41 The main development this chapter reconstructs is the “second reform” of Speculative Grammar (p. 259) which will eventually lead us from a taxonomy of signs consisting of two trichotomies in “Sundry Logical Conceptions” (SLC) to one consisting of three trichotomies in the “Nomenclature and Divisions of Triadic Relations” (NDTR).
Moreover, Peirce’s analysis of the dicisign in SLC already prepares the ground for the later typology of interpretants. The first step in the direction of a triple-trichotomytaxonomy, however, results as an immediate consequence from the first reform of Speculative Grammar in the Minute Logic: If the second trichotomy of classes of signs (differentiating between terms/rhemes, propositions and arguments) is no longer construed as a subdivision of the last element of the first trichotomy (differentiating between icons, indices and symbols) of classes of signs, but rather as a coordinated set of semeiotic parameters (i.e. of properties signs can have along with other properties), then, as it is no longer necessarily the case that whatever is a symbol cannot be an icon or an index, it becomes a desideratum to introduce new terminology for the trichotomy, as this in its former shape was exclusively applying to symbols and not to all signs. Thus, Peirce in SLC introduces sumisigns, dicisigns and suadisigns as parameters referring to the explicitness of the relational complexity of a sign that are not exclusively featured in terms, propositions and arguments, but rather in all signs having either one, two or three essential parts made explicit.
Whereas this first step concerns the perfecting of the conception of the second triad as reflecting the parameters of a completely independent dimension of signhood (that, eventually, will be grounded in the relation of a sign to its proper interpretant in MS 800 and NDTR), the second step to be noticed propels us towards the discovery of a third trichotomy (which in NDTR will be grounded in the relation of the sign to its own mode of being). As Bellucci had already remarked in an earlier stage of his account, the distinction between quali-, sumi-, and legisigns has its roots in the differentiation between two different modes of generality pertaining to symbols (cf. p. 134, 219). These signs, so Peirce had clearly seen in How To Reason, are not only general formaliter, i.e. in terms of their signification, but also materialiter, i.e. in so far as they exist only as actualizations of a general type (cf. p. 134). But as Peirce now realizes in 1903, existing-as-the-replica-of-a-type is not a mode of being restricted to symbols, but pertains no less to such signs as conventional icons (i.e. hypoicons) and linguistically articulated indices (i.e. subindices). And as the formulation of the conventions for the Gamma graphs (“graphs of graphs” in which graphs are considered materialiter and do thus also need to be represented as referring to a specific occurrence of a graph and not to its legisign), the distinction between types and tokens becomes both more general and more urgent in 1903 (cf. p. 249, 259), thus motivating the systematic account of the matter in NDTR which will eventually introduce the mode of being of a sign as a third dimension of signhood with its respective trichotomy.
By November 1903, Peirce’s Speculative Grammar has thus become a science which presents a substantial portion of its results in the guise of three trichotomies of semeiotic parameters which are grounded in the sign’s relation to itself, its object and its proper interpretant. The identification of the three trichotomies, however, will yield no classification of signs as long as the rules determining the compossibility of semeiotic parameters have not been specified, inasmuch as it is only through the combination of parameters that classes of signs can be obtained. Therefore, the question arises whether these resulting classes can be validated as possible on the basis of semeiotic rules of compossibility. Chapter 7 thus closes with an account of Peirce’s methodology of identifying the possible classes of signs in NDTR (p. 264- 278). More on this below.
Peirce’s true hothouse of semeiotic insights in the Fall of 1903, however, is the analysis of the proposition, to which Bellucci refers as the “deduction of the dicisign” (p. 220). This deduction is the continuation of the analysis of assertion that we had already seen taking central stage in the Speculative Grammar of 1895-1897 and starts to now yield the most fundamental insights into the structure of the sign-relation itself. The two drafts of the deduction of the dici-sign in SLC aim to demonstrate that dici-signs––according to the newly devised terminology for the second trichotomy and on the basis of the division of signs in virtue of their relational complexity–– must necessarily be composed of two parts in order to be that kind of sign that “represents its object as if Second to itself”.42 But, in which sense is this so? Why must a proposition (as a kind of dicisign) necessarily represent its object as standing in dyadic relation to itself? Bellucci introduces us to Peirce’s intricate and much reworked demonstration in two major expository steps. Firstly, a proposition is the representation of a fact. As such, however, it needs to represent that its object is such-as-it-is-represented-to-be independently of its being represented. Thus, secondly, the central question arises, how it is possible for a proposition to represent a fact as being independent of itself.
As this necessarily requires that the object ought to be represented as having the determinateness it is represented to have, not as a consequence of the proposition (i.e. as a relation of reason expressible only symbolically with an argument), but as a consequence of its being whatever it is, i.e. as an existential relation of fact expressible only indexically in a sign that professes of itself to be true, the demonstration of the possibility of such a representation becomes the semeiotically concretized aim of the deduction of the dici-sign. In Bellucci’s reconstruction, this deduction might be broken down into three major argumentative steps. In the first step it is shown that it is possible for a dici-sign to represent a fact as being independent of a proposition by representing itself as an index of its object (p. 220-224). In the second step it is shown that a dici-sign––in order to represent itself as an index of its object––must in the first place be able to represent itself as a sign of a certain kind. In the third step (belonging to the second draft of the deduction in SLC) it is eventually shown that a dicisign, in order to be represented by its interpretant as an index of its object, must be internally structured accordingly, i.e.
consist of two parts (p. 231-232). Quod erat demonstrandum.
There is, however, an important complication occurring in the second step: as Peirce answers the second subquestion concerning the possibility of the selfdepiction of the dici-sign by introducing the interpretant of the dici-sign as that semiotic function which allows for the representation of the dici-sign as an index of its object (understood as a concrete thing, not as a state of affairs, which would force on us a picture-theory of the proposition that necessarily conceives of propositions as structured entities mirroring structured states of affairs, thus deriving their structure from states of affairs; cf. p. 223 f.), a conception of the sign-relation is emerging which is no longer compatible with the definition of a sign as a triadic relation in which the sign brings an interpretant into the same triadic relation to one and the same object to which the sign itself stands, because the interpretant of a dicisign as an index of its object does not represent (and thus does not have) the same object as the dicisign, but rather represents (and has as its object) the relation of the sign to its object. In Bellucci’s words: “[W]hile the sign represents an object, the interpretant represents the sign’s representation of the object” (p. 224 f.; emphasis added). As Peirce’s ad hoc solution of this fundamental problem, namely the introduction of the distinction of a primary and a secondary object of the dici-sign in MS 478, boils down to reduplicating the distinction between the relation of the sign to the object and the relation of the interpretant to the object, Peirce will soon be led to consider the possibility of differentiating kinds of interpretants.
As Bellucci rightly emphasizes, however, the idea of differentiating between two semeiotic functions of the interpretant is already palpable in the definition of the sign provided by the final draft of SLC. Here Peirce, after having characterized the sign-relation as a triadic relation obtaining between the representamen (as a first), its object (as a second) and its interpretant (as a third), in which the first determines the third “to assume the same triadic relation to its object in which it stands itself to the same object”,43 he adds that “besides that, it [the Third] must have a second triadic relation in which the Representamen, or rather the relation thereof to its Object, shall be its own (the Third’s) Object, and must be capable of determining a Third to this relation”.44 The task of unpacking the consequences of this fresh insight into the existence of a potential plurality of semeiotic functions of the interpretant constitutes the motor of the developments Speculative Grammar takes after the Syllabus of 1903. Now, in order to chart the contours of the still expanding territory of semeiotic inquiries to the exploration of which the eighth chapter of Bellucci’s developmental account of the years 1904 to 1908 is devoted, it might be useful to first indicate the main directions into which Peirce’s semeiotic inquiries move and, moreover, to rehearse the methodological principles of the classification of signs.
Firstly, there is a “third reform of speculative grammar” (p. 286) to be noted, which consists in the refined articulation of the internal structure of the sign-relation by introducing the distinction of dynamic and immediate object on the one hand, and the differentiation between three kinds of interpretants on the other hand.
On the backdrop of this fundamental remodelling of the sign-relation––already adumbrated in the final stages of Peirce’s work on the Syllabus of 1903––Bellucci, like ShOrT (2007) and others before, sees emerging three main taxonomical schemes; namely (i.) schemes based on six trichotomies (1904-1905), (ii.) such based on ten trichotomies (1906-1906), and (iii.) similar tenfold schemes (1908) with which, however, a different approach to establishing parameter-compossibility is taken (cf. p 286). Within this final development, so Bellucci claims (cf. p. 286), Peirce manages to arrive at a final position concerning the first of the two tasks that a complete classification of signs requires (i.e. the task of providing a complete system of semeiotic parameters by trichotomizing the categorial aspects of the signrelation), but he fails to solve the problems connected to the second (i.e. the task of determining the rules of compossibility of the semeiotic parameters, so as to be able to determine the classes of possible signs).
Bellucci introduces Peirce’s principles of sign-classification on the basis of the three-principles-reconstruction given in Burch (2011). Thus, we start out by claiming that each trichotomy produces triads consisting of three ordered elements: <1, 2, 3>.
We add, secondly, that the Triads themselves are linearly ordered : I. <1, 2, 3>, II. <1, 2, 3>, III. <1, 2, 3> etc. On this basis, a third principle of combination specifies that in order to obtain a––as one could say––mathematically or combinatorially possible class of signs, we have to form a triplet of elements {m/n/r} to which each of the three triads contributes one element, e.g. {1/1/2} or {3/3/2}. As the combinatorially possible classes of signs in a system with three triads of sign-parameters, based on three trichotomies of an elementary respect of the sign-relation––i.e. of the sign (i.) to its mode of being, (ii.) to its object, (iii.) to its interpretant––are 33 = 27, the question arises how many of these are semeiotically possible (cf. p. 265). A task, we might add, that is analogical to the one Aristotle needs to tackle after having established the four logical forms of non-modal premisses45 and the three figures of the syllogism which,46 as is well known, consists in identifying the logically valid syllogistic argument-schemes within the 192 mathematically possible ones.
Analogically, a set of rules needs to be established which allows us to distinguish the combinations which are combinatorially possible from those that are semeiotically possible. As the set of rules that Peirce gives in NDTR47 is incorrect, as it factually does not allow us to obtain the table of ten classes of signs worked out in NDTR,48 and as he will not come to a correct statement of the rules of parameter combination before 1908 (cf. p. 267), Bellucci’s statement of the rule stays in line with Burch49 and ShOrT, according to whom “nothing can determine anything of a higher category than itself”.50 Or, as Bellucci’s puts it (p. 266), who cum Short also assumes that, as each preceding trichotomy acts as the determinant of a subsequent determined trichotomy, the same relation consequently also holds of the elements of the triads: “a determinant element in a combination cannot have a lesser categorial value than the determined element” (p. 266). Accordingly, the ten classes of semeiotically possible signs are: {1/1/1} = rhematic-iconic qualisign or qualisign; {2/1/1} = rhematic-iconic sinsign; {2/2/1} = rhematic-indexical sinsign; dicent indexical sinsign = {2/2/2}; {3/1/1} = rhematic-iconic legisign; {3/2/1} = rhematic-indexical legisign; {3/2/2} dicent-indexical legisign; {3/3/1} = rhematic symbolic dicisign or rhematic symbol; {3/3/2} = dicent-symbolic legisign or dicent symbol; {3/3/3} = argumentative-symbolic legisign or argument.
On the backdrop of this reconstruction of Peirce’s ‘ten out of three’- classification, it is easy to understand the nature of the problem which arises once additional trichotomies are identified and corresponding triads of parameters are established: Will there still be a linear order in which determinant triads determine subsequent determined triads? If not, then the project of a complete classification of all possible signs seems to become impossible. Peirce held on to this project, but he neither succeeded in arriving at a satisfactory linear ordering nor in fully working out an alternative non-linear approach (cf. p. 334-348), thus leaving the task in its generality unresolved (cf. p. 286).
The distinction between two kinds of objects and three interpretants, which introduces three additional relates into the sign-relation, emerges in a letter Peirce writes to Victoria Welby in October 1904.51 The reason for introducing these new elements, however, does only start to become clearer in October 1905, when several entries in the Logic Notebook allow us to reconstruct the new ‘post-NDTR’ classification of signs, as it takes shape in manuscripts and letters of the years 1904 to 1905.52 The first thing to gain clarity in this transitory context, is the relation of the old three relates of the sign-relation to the three new ones: The object that was since 1865 referred to as the object tout court, and the relation to which grounded the triad of icon-index-symbol, is now referred to as the dynamic object.
Moreover, the interpretant that was since 1865 referred to as the interpretant tout court, and the relation to which (since 1903) grounded the triad of rheme-dicisignsuadisign, is referred to as the “Significant Interpretant”,53 “signified interpretant”54 or “representative interpretant“55 in the transitory period in which Peirce operates with six trichotomies. Thus, the new distinctions that become particularly pressing to comprehend, both in their motivation and in the outlook they encapsulate,
are those referred to with the terms (i.) ‘immediate object’, i.e. the “object as it is represented”, (ii.) ‘immediate interpretant’, i.e. the “interpretant in itself’, and (iii.) ‘dynamic interpretant’, i.e. the “interpretant as it is produced”.56 As Bellucci shows, the theoretical outlook in which Peirce takes (i.) the immediate object to play its role is that of quantification. The ratio divisionis of the relation a sign has to its immediate object, thus, is not that to another entity, but rather to a part of the dynamic object, namely to its quantity. In this sense, the relation of a sign to its dynamic object is either vague, actual, or general, i.e. particular, singular or universal. As this specification is only possible as the specification of a dicisign, “the immediate object”, thus Bellucci summarizes his analysis, “is the manner in which the dynamic object is quantitatively given (i.e., quantified) within a propositional context” (p. 293).
Building up on ShOrT’s57 “brilliant intuition” of a ‘speech-act-theoretical’ motivation guiding Peirce in his hexadic reconfiguration of the sign-relation for the sake of obtaining further trichotomies (p. 298), Bellucci, furthermore, offers a reconstruction of Peirce’s conception of (ii.) the immediate and (iii.) dynamic interpretant which sees these distinctions as originating in the Peircean insight into the necessity of distinguishing between propositional content and act of assertion. Now, as Bellucci shows with reference to NDTR (cf. p. 297 and EP 2:292 f.), Peirce in 1903 was still tending to assimilate assertion with the psychological act of judgment as he had been doing in the 1890s when both terms were sometimes even identified, inasmuch as a proposition was taken to be a semeiotic structure the purpose of which is to assert a fact (cf. p. 295 ff.). The distinction between proposition and assertion, however, is worked out immediately after having delivered the Lowell Lectures, when Peirce, in “Καινὰ στοιχεῖα” (Winter 1904), writes that “[o]ne and the same proposition may be affirmed, denied, judged, doubted, inwardly inquired into […], taught, or merely expressed, and does not thereby become a different proposition”.58 Consequently, the trichotomy that has as its subiectum divisionis the relation of the sign to the immediate interpretant has its ratio in the differentiation of the representative matter which the sign determines the interpretant to take on as being either “feeling (Interjection), Action (Imperative), Sign (Indicative)”.59 And this means that (ii.) the immediate interpretant ought to be construed as a sign’s relation to its communicative purpose (being either an interjection, an imperative or an indicative), thus producing the sign with a respective interpretant in view, while the trichotomy which has as its subiectum divisionis (iii.) the relation of the sign to the dynamic interpretant, might be construed as having its ratio in the differentiation of instrumental modes of determination of the immediate interpretant through the mode of sign-action “by Sympathy, by Compulsion, by Reason”.60 Based on this reading, thus, the triad of the dynamic interpretant gives us the modes of bringing about the intended interpretive effects specified in the triad of the immediate interpretant. Dynamic and immediate interpretant would thus relate to each other as means relate to ends, or, to put it more prudently: the distinction of types of interpretants starts to reflect a normative outlook in its ordering.
Bellucci’s interpretation, however, does not dwell too long on this classificatory scheme: As much as October 8th, 1905, is the day on which Peirce produces the first classificatory scheme based on six trichotomies that is terminologically explicit enough to be intelligible, this is also the day on which he quits the hexadic system and starts to work on classifications with decadic bases exclusively. As this move is actually nothing but a consequence of the thorough grounding of all semeiotic distinctions on the phenomenological categories and thus already formally prescribed by the approach taken in the Syllabus of 1903, one could be surprised not to see Peirce approaching the matter from a purely formal point of view earlier.
Now, according to this point of view, in any triadic subdivision there will be one first (I), two seconds (II.i and II.i) and three thirds (III.i, III.iii, III.iii), thus also two subdivisions of II.ii (i.e. II.ii.1 and II.ii.2), two subdivisions of III.ii (i.e. III.ii.1 and III.ii.2) and three subdivisions of III.iii (i.e. III.iii.1, III.iii.2, III.iii.3). This will thus give us a classificatory system with ten trichotomies of parameters, in which we will find one division according to the nature of the sign (I), one division according to the immediate (II.i) and two according to the dynamic object (II.i.1 and II.1.2), one according to the immediate (III.i), two according to the dynamic (III.ii.1 and III.ii.2) and three according to the third interpretant (referred to as ‘representative’ in 1905, but also as ‘normal‘ and ‘final’ in subsequent years): III.iii.1, III.iii.2, III.
iii.3. As Bellucci suggests (p. 307 f.), Peirce’s move to the hexadic system might be motivated by the decision to bracket the question concerning the linearity––and thus: definiteness––of the ordering of the trichotomies, in order to first determine which trichotomies must be considered, “before order can be brought in”.61 Now, on the basis of the exegetical maxim that “by reconstructing the steps by which Peirce came to his tenfold taxonomy of signs in October 1905, we are ipso facto reconstructing his speech act theory” (p. 311), Bellucci arrives at a quite coherent general picture and interpretation of the hexadic classifications Peirce produces in 1905 and 1906. The key components of this account, building up on ShOrT62 and PIETArINEN63 are two. Firstly, there is the insightful projection and localization of Peircean distinctions on the blueprint of speech act theory with its differentiation of locutionary act (i.e. the uttering of meanings embodied in the sign’s relation to the ‘representative’ or ‘final’ interpretant qua rheme, dicisign or argument), illocutionary force (i.e. the using of signs with a definite communicative intention playing out in the sign’s relation to its immediate interpretant qua interrogative, imperative, or assertoric) and perlocutionary acts (i.e. the effects of a sign materializing as its relation to the dynamic interpretant qua feeling, fact or sign).
Secondly, there is a systematically very fruitful account of the nature of the ordering of the three interpretants ensuing from the speech act theoretical reading: If we interpret the immediate and the dynamic interpretant as the Peircean demarcation between conventional and natural effects of signs (cf. esp. p. 312 f.), it becomes possible to comprehend the immediate interpretant as the conventional interpretant represented by the sign, i.e. as “the sign that a sign aims to procude”, while the dynamic interpretant is the interpretant causally determined by the sign, i.e. “the sign that it [the sign, A.T.] actually produces”, so that the normal interpretant eventually becomes the télos of semeiosis which “sufficient scientific consideration of the sign ought to produce” (p. 315).
Thus, with a view on the interpretive problems soon provoked by Peirce’s introduction of the seemingly alternative division of interpretants into the emotional, energetic, and logical in “Pragmatism” of 1907,64 Bellucci can confirm Short’s interpretation of the division of the interpretant into immediate, dynamic and final (hereafter referred to as IDF-trichotomy) as a “»modal gradation« among interpretants” (p. 327) which expresses “the essential structure of Peirce’s later semeiotic”, as ShOrT65 puts it. As this structure is “essentially purposive” (ibid.), we might say that it discloses the normative dimension of Peirce’s “Normative Semeotic”,66 whereas the division of the interpretant into emotional, energetic, and logical (hereafter referred to as EELtrichotomy), at least according to ShOrT, “places thought in a naturalistic context, where it may be seen as a development of more primitive forms of semeiosis”.67 Bellucci, however, hopes to develop a genetically more coherent and systematically nuanced approach when he suggests conceiving of both divisions of the interpretant as “the instruments by which speculative grammar came to include a pioneering speech act theory” (p. 327). Accordingly, so he argues, the modal gradation (i.e. the IDF-trichotomy) was needed “to differentiate the illocutionary, perlocutionary and locutionary levels of analysis”, while the EEL-trichotomy, “from 1905 onwards” (p.
327 f.), was designed to provide “a typology of perlocutionary effects” (p. 328).
Now, this is true only in so far as this triad factually functions as a subdivision of the dynamic interpretant in spring 1906;68 but it cannot escape attention that it also appears as the subdivision of the immediate interpretant in 1904,69 and as a subdivision according to the “Purpose of the Eventual [i.e. final, A.T.] Interpretant” in Summer 1906;70 a view that eventually seems to be confirmed in Peirce’s last classification of signs produced in 1908, where the EEL-trichotomy, i.e. the very triad of interpretants consisting in a subdivision of what might be called the ‘event-type-category’ of the interpretant (feeling, action, thought) is, again, not conceived of as a subdivision of the perlocutionary (i.e. of the non-conventionally determined effects of the sign), but rather as a subdivision “[a]ccording to the purpose of the final interpretant”, aiming either at being “[g]ratific”, or “[t]o produce action”, or “[to produce self-control”.71 As a consequence of these interpretive frictions, Bellucci’s fine interpretation of the EEL-trichotomy as the main conceptual tool used to purge the pragmatic maxim of 1878 in “Pragmatism” (cf. p. 328-330), does not cohere with his general speech-act-theoretical reconstruction of Peirce’s theory of the interpretant, as he is interpreting the EEL-trichotomy in “Pragmatism” as a subdivision of the final interpretant. Bellucci is ready to admit these incongruencies (cf. p. 328, par. 2) and, moreover, points out clearly that the EEL-trichotomy “is the most difficult to interpret”, as it “seems to be linked to neither the illocutionary, nor the perlocutionary dimension of analysis”, and Peirce “never explains what he meant with it]” (p. 344, my emphasis). – Now, this might be a bit exaggerated, as the determination of the subdivision as being performed “according to the purpose of the final interpretant”72 or “according to the Purpose of the Eventual interpretant”73 indicates that we are here dealing with a dimension of signhood that seems to be essential for a “Normative Semeotic”,74 i.e. for a theory of signs developed on the basis of two prelogical normative sciences grounding Logic in the order of principle-dependence.
Namely, firstly “ethics [which] studies the conformity of conduct to an ideal”, and secondly esthetics, being the “theory of the ideal itself”, which studies “the nature of the summum bonum” by working out a “theory of the deliberate formation of […] habits of feeling”.75 Thus, if it is true, as Peirce claims in 1902, that “[i]t is absolutely impossible that the word «Being» should bear any meaning whatever except with reference to the summum bonum”, and if “[t]his is true of any word”,76 then some conception of the summum bonum seems to be necessarily incorporated in the final interpretant of any possible sign, thus constituting the ultimate horizon in which signs can have a potential meaning for sign-producing agents that are not the creators of the world they live in. Or, in other words: the trichotomy of the final interpretant in accordance with its purpose, is a subdivision the ratio divisionis of which are “ways of life”,77 “classes of men”,78 “human lives”,79 “types of men”,80 or “Suicultural, Civicultural, and Specicultural Instincts”.81 As this categoriological “Division of Human Life into Life of Enjoyment, Life of Ambition and Life of Research”82 is patterned on Aristotle’s distinction of three βίοι or ‘designs of life’ that the Stagirite interprets as different apprehensions of the μέγιστον ἄγαθον qua εὐδαιμονία that are embodied in the praxis of those devoting their life primarily to certain esthetic ideals––pleasure, political action or contemplation, 83––we might say that the ratio divisionis of the EEL-trichotomy is a division in accordance with βίοι or grasps of the summum bonum, which, in turn, is rooted in the different modes of being of the respective esthetic ideals apprehended. There are, however, good reasons to conceive of problematizations of the kind raised here as not belonging to Speculative Grammar as such, but rather to the third branch of semeiotics which considers signs in their thirdness, i.e. in their utility for their interpretants.
Bellucci’s account of the final stage of Peirce’s efforts to produce a complete classification of signs (p. 330-348) in the years 1907-1909 confronts us with a thinker who even at the end of his life preserves the intellectual power to start from scratch in order to further deepen analyses of conceptual distinctions and systematic interconnections. In this sense, the new conceptions of collateral observation and of the continuous predicate are shown to be intimately related to the ongoing development of Peirce’s analysis of the structure of the proposition and of his conception of the immediate object (cf. p. 321-325, 331-340) as “the manner in which the sign indicates the dynamic object” (p. 336).
Moreover, Bellucci sketches how Peirce in 1908 and 1909 embarks on a methodological journey that has the potential to free him from the constraint of operating on the basis of a linear order of the trichotomies of semeiotic parameters.
This move was necessitated by the fact that even though we can know that on the basis of ten linearly ordered triads the mathematically possible combinations amount to 310 = 59.049; and even though we have some reasons to assume that the ordering relation should be derivable from the hierarchy of relations of determination obtained within the sign-relation, so that “[I.] the dynamic object determines [II.] the immediate object, which in turn [III.] determines the sign, which in turn determines [IV.] the ‘destinate’ (final) interpretant, which in turn determines [V.] the ‘effective’ (dynamic) interpretant, which in turn determines [VI.] the ‘explicit’ (immediate) interpretant” (p. 342; roman numerals added by A.T.); nonetheless, we have no proper basis to apply the two rules of parameter compossibility––namely R1: “[A] Possible [First] can determine nothing but a Possible’, and R2: “[A] Necessitant [Third] can be determined by noting but a Necessitant”,84 conjointly implying that all possible combinations of semeiotic parameters satisfy the partial ordering 0sp: “first element ≥ second element ≥ third element” (p. 285 f.)––to the decadic system of trichotomies, as long as we do not know how to position the four other trichotomies in relation to the four linearly ordered ones (cf. p. 340 ff.). Consequently, in the classifications of December 1908 that are all developed in versions of a letter to Victoria Welby, we are surprised to see Peirce approaching the business of classification by focusing exclusively on the compossibility of two trichotomies, namely on the compossibility of the elements of the trichotomies of the sign in itself and of those of the sign’s relation to the immediate object.
The reason for this puzzling approach that seems hopelessly inadequate for determining all possible classes of signs on the basis of ten trichotomies of paramaters emerge in Peirce’s last entries concerning the taxonomy of signs in the Prescott 84 SS:84, 1908; my additions in brackets.
http://dx.doi.org/10.23925/2316-5278.2019v20i1p159-202 200 Cognitio, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 159-202, jan./jun. 2019 Book 85 and the Logical Notebook 86 of October and November 1909. As Bellucci conjectures, Peirce eventually arrives at the conclusion that a linear ordering of all ten trichotomies is methodologically problematic, and thus resorts to an approach that exploits the idea of there being generalizable relations obtaining between couples and triples of trichotomies belonging to the same orders of classification (e.g. ‘immediate trichotomies’ and ‘dynamic trichotomies’ of the relation of the sign to the object and the interpretant), which thus “suggests a method of study”87 that is proceeding step-by-step without having to presuppose a linear order. I am not sure in which sense this method––barely sketched by Peirce and thus only roughly unpacked by his interpreter––“presupposes that the trichotomies are hierarchically rather than linearly ordered” (p. 348), as Bellucci claims. Of course, the “‘tree of trichotomies’” (p. 348) he seems to have in mind and which we can easily draw on the basis of Peirce’s retrospective appreciation of the “excellent notation of 1905 Oct 12”,88 gives us three levels of complexity, where seven trichotomies––of the sign’s relation to the dynamic object (II.ii.1 and II.ii.2) and the various non-immediate interpretants (III.ii.1, III.ii.2, III.iii.1, III.iii.2, III.iii.3)––are third-order divisions (i.e. subdivisions of subdivisions), two trichotomies––of the sign’s relation to the immediate object (II.1) resp. to the immediate interpretant (III.1)––are second-order divisions, and only one––the mode of being of the sign in itself (I.)––is a first-order division; but the way Peirce articulates himself on November 1st 1909 in The Logic Notebook might also be read as representing purely heuristic reflections concerning the question of which paths of inquiry ought to be considered as the most fruitful avenues across the wonderland of 59.049 mathematically possible classes of signs. The identification of such heuristic paths along which additional laws of compossibility of parameters of signs seem more likely to be discovered would not necessarily have to imply anything about the form in which the trichotomies themselves are related to each other in the universe of formal semeiotics. But these are speculations. The last entries in the Logic Notebook from November 1st, 1909 rather seem to show that Peirce’s immediate answer to the methodological problems sketched above consisted in starting anew––with a definition of a sign as an ens.89
References
ArISTOTLE. Philosophische Schriften. Hamburg: Meiner. 1995.
Burch, Robert. Peirce’s 10, 28 and 66 Sign-Types: The Simplest Mathematics. Semiotica, 2011, vol. 184/1, pp. 93-98.
DE TIENNE, André. L’analytique de la représentation chez Peirce. La genèse de la théorie des catégories, Bruxelles: Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1996.
fErrIANI, Maurizio. Peirce’s Analysis of the Proposition: Grammatical and Logical Aspects. In: BuZZETTI, Dino & fErrIANI, Maurizio (Eds.). Speculative Grammar, Universal Grammar, and Philosophical Analysis of Language. Amsterdam: J. Benjamins. 1987. p. 149-172.
fISch, Max. Peirce, Semeiotic and Pragmatism. Bloomington: Indiana University Press. 1986.
hOEPPNEr, Till. Kants Begriff der Funktion und die Vollständigkeit der Urteils- und Kategorientafel. In: Zeitschrift für philosophische Forschung. 2011. v. 65/2.
kANT, Immanuel. Critique of Pure Reason. Translation and ed. by GuyEr, P. & WOOD, A. W. Cambridge: Cambridge University Press. 1998. (Cited as CPR, followed by page number of the first and/or second edition).
LOckE, John. An Essay Concerning Human Understanding. Oxford: Oxford University Press. 1979.
PEIrcE, Charles S. The Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 8 vols.
hArTShOrNE, c. & WEISS, P. (eds.). Cambridge, vols. 1-6, 1931-1935; BurkS, A.
(ed.). Cambridge, vols. 7-8, 1958. (Cited as CP, followed by volume number and paragraph number).
_____. Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition. MOOrE, E. & kLOESEL, J. c. W. et al. (Eds.). Bloomington: Indiana University Press. 1982-2009. Vols. 1-6, 8.
(Cited as W, followed by volume and page number) _____. The essential Peirce. Peirce Edition Project (Ed.). Bloomington: Indiana University Press. 1992-1998. Vols. 1 & 2. (Cited as EP, followed by volume and page number).
_____. Manuscripts of Charles S. Peirce in the Houghton Library of Harvard University, as identified in: rOBIN, R. (1967): Annotated Catalogue of the Papers of Charles S. Peirce, Amherst, and in: rOBIN, R. (1971): The Peirce Papers: A supplementary catalogue, in: TSPS 7, p. 37-57. (Cited as MS, followed by page number to indicate Peirce’s pagination, or by a zero preceding the page number to refer to the numbering stamped on each page of the microfilm edition of the Harvard manuscripts).
_____. Semiotic and Significs: the correspondence between Charles S. Peirce and Victoria Lady Welby. hArDWIck, C. S. (Ed.), Bloomington: Indiana University Press. 1977. (Cited as SS, followed by page number).
_____. Reasoning and the Logic of Things: the Cambridge Conferences Lectures of 1898. kETNEr, k.L. (Ed.). Cambridge: HUP, 1992. (Cited as RLT, followed by page number).
PIETArINEN, Ahti-Veikko: Signs of Logic: Peircean themes on the philosophy of language, games, and communication. Dordrecht: Springer. 2006.
ShOrT, Thomas. Life among the Legisigns. Transactions of Charles Sanders Peirce Society. v. 18, n. 4, p. 285-310, 1982.
_____. Interpreting Peirce’s Interpretant: a response to Lalor, Liszka, and Meyers.
Transactions of Charles Sanders Peirce Society. v. 32, n. 4, p. 488-541, 1996.
http://dx.doi.org/10.23925/2316-5278.2019v20i1p159-202 202 Cognitio, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 159-202, jan./jun. 2019 _____. Peirce’s theory of signs. Cambridge: Cambridge University Press. 2007.
STJErNfELT, frederick. Natural Propositions. Boston: Docent Press, 2014.
Notas
01 Cf. MS 595:22. EP 2:19, 1895.
02 Cf. W 1:175, 274, 304. 1865-66.
03 MS 787:10. 1896.
04 MS 595:22. EP 2:19, 1895.
05 Cf. CP 2.206, 1902.
09 MS 634:14 f., 1909.
10 MS 676:6, 1911.
11 MS 675:26, 1911.
12 LOckE, Essay, IV.21.4.
13 RLT:146, 1898.
14 Cf. W 1:44, 47-49, 85-90, 94.
15 CP 1.563, 1898.
16 RLT:146 1898.
17 CP 8.15, 1871.
18 W 1:160, 1865; cf. W 1:240-256.
19 W 1:115-117, 1864.
20 Cf. W 1:574 f.
21 Cf. W 1:360 (1866).
22 W 1:174, 1865; cf. 165, 169.
23 kANT, CPR, B 134 n.; cf. § 19.
24 Cf. kANT, CPR A 79/B 104 f.
25 Cf. kANT, CPR A98-104.
26 kANT, CPR A 68/B 93.
27 kANT, CPR B 133-134 n.
28 Cf. MS 787, 1896.
29 Cf. MS 409, 1894.
30 Cf. CP 2.227, 1897.
31 CP 3.430, 1896.
32 Ibid.
33 Cf. fErrIANI, 1987.
34 Cf. EP 2:504 n. 5.
35 Cf. MS 427:242-273, 1902.
36 Cf. CP 2.279, 2.333, 1896.
37 MS 787:19, 1896.
38 EP 2:146, 1903.
39 Cf. fISh, 1986, p. 338 ff.
40 MS 425:133, 1902. CP 2.93; emphasis added.
41 MS 478:42, 1903.
42 MS 478:0180, 1903.
43 MS 478:43 f., 1903; emphasis added.
44 bid.; emphasis added.
45 ArISTOTLE, An. Pr. I, 1-2.
46 ArISTOTLE, An. Pr. I, 4-6.
47 Cf. EP 2:290, 1903.
48 Cf. EP 2:296, 1903.
49 Cf. Burch, 2011, p. 94 f.
50 Cf. ShOrT, 2007, p. 240.
51 Cf. SS:32-35.
52 Cf. MSS 914, 939, 517, 284, and L 67 and L 107.
53 MS 339:252r, 1905.
54 SS:34, 1904.
55 MS 339:253r, 1905.
56 SS:32, 1904.
57 Cf. ShOrT, 1982, p. 293 ff.
58 EP 2:312, 1904.
59 MS 339:252r, 1905.
60 MS 339:252r, 1905.
61 MS 339:253r, 1905.
62 Cf. ShOrT, 1982 and 2007.
63 Cf. PIETArINEN, 2006.
64 Cf. EP 2:409 ff.
65 ShOrT, 1996, p. 496.
66 CP 2.111, 1902.
67 ShOrT, 1996, p. 495.
68 Cf. MS 339:275r, 1906.
69 Cf. L 463:030, 1904.
70 MS 339:285, 1906; my emphasis.
71 MS 463:0134-0145, 1908.
72 L 463, 1908.
73 MS 339:285r, 1906.
74 CP 2.111, 1902.
75 EP 2:376 f., 1906.
76 CP 2.116, 1902.
77 MS 407:1, 1893; and MS 604 (n.d.).
78 CP 1.43 f., c. 1895; and MS 14:6, 1895.
79 MS 1334:16-18, 1905.
80 EP 2:445, 1908.
81 MS 1343:34 ff., 1903.
82 MS 477:01, 1903.
83 ArISTOTLE, EN, 1095 b14-1096 a5.
85 MS 277:077, 1908.
86 MS 339:360r, 1909.
87 MS 339:360r, 1909.
88 MS 339:360r, 1909.
89 Cf. MS 339:360r f., 1909.
Alessandro R. R. Topa American University In Cairo– Egypt Otto-Friedrich-Universität Bamberg. E-mail: Germany arr.top@t-online.de
Holocaust Education 25 Years On. Challenges, Issues, Opportunities – PEARCE; CHAPMAN (ZG)
PEARCE, Andy; CHAPMAN, Arthur (eds.). Holocaust Education 25 Years On. Challenges, Issues, Opportunities. London : Routledge , 2019. Resenha de: SANDKÜHLER, Thomas. Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, Berlin, v.18, p. 197-198, 2019.
[IF]The Age of Agade. Inventing empire in ancient Mesopotamia – FOSTER (PR)
Benjamin R. Foster and Karen Polinger Foster— 2011 Felicia A. Holton Book Award . www.archaeological.org/
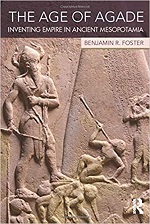 FOSTER, B. R. The Age of Agade. Inventing empire in ancient Mesopotamia. Londres y Nueva York: Routledge, 2016. 438p. Resenha de: GARCÍA, J. Álvares. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, Murcia, p.185-189, 2019.
FOSTER, B. R. The Age of Agade. Inventing empire in ancient Mesopotamia. Londres y Nueva York: Routledge, 2016. 438p. Resenha de: GARCÍA, J. Álvares. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, Murcia, p.185-189, 2019.
Profesor de Asiriología en la Universidad de Yale, Benjamin R. Foster es un gran especialista en estudios sobre el Próximo Oriente antiguo. De entre sus líneas de investigación están la Historia, general, económica y social de Mesopotamia así como también sus estudios sobre literatura mesopotámica contando con trabajos como el galardonado Civilizations of Ancient Iraq (2010) o la obra Before the Muses (última edición de 2005), una antología de la literatura acadia ya considerada una obra clave en los estudios sobre historia intelectual del Próximo Oriente antiguo.
En el presente trabajo, encuadrado en esa línea de investigación más centrada en los estudios históricos, la intención del autor es mostrar las características políticas sociales, económicas y culturales que se desarrollaron en la región de Mesopotamia durante el periodo de Akkad y por qué motivos este periodo fue visto como un referente a lo largo de la Historia posterior del Próximo Oriente durante la antigüedad.
El primer capítulo está dedicado a la historia política de Akkad. Este periodo comienza con la llegada al trono de Kish de Sargón y sus diferentes campañas de conquista, ganándose la fama de gran rey con la que se le recordará en periodos posteriores. No obstante, su hijo y sucesor, Rimush, tendrá que hacer frente a un conjunto de revueltas tras la muerte de su padre; incluso es posible que acabara sus días asesinado. Tras esto, su hermano Manishtushu alcanzó el trono iniciando un programa de conquistas y de consolidación de las mismas. Posteriormente, su hijo Naram-Sin toma las riendas del estado y su reinado constituirá el apogeo del Imperio. Al igual que antecesores suyos tuvo que hacer frente a levantamientos, por lo que es posible que el recuerdo de la represión ejercida contra los sublevados le valiera la fama posterior de rey soberbio. Durante el reinado de Naram-Sin se llevó a cabo un amplio programa constructivo y una serie de reformas administrativas y burocráticas. En política exterior, junto a las conquistas también se desarrolla la diplomacia, con matrimonios dinásticos con reinos fronterizos. Por último, el sucesor de Naram-Sin, Sharkalisharri será el último gran rey de Akkad. Finalmente, las sublevaciones e invasiones exteriores, en un contexto de crisis económica y descontrol territorial, provocarán la caída de este proyecto político.
El autor reserva el capítulo segundo a dar las claves de la sociedad durante el periodo acadio. Seguramente sea el régimen ecológico de la zona norte de Mesopotamia la que de coherencia al territorio original acadio frente a la llanura aluvial del sur, Sumer. Es en esta zona donde se desarrolla (pero no exclusivamente) un sustrato etno-lingüístico acadio. Si en términos jurídicos debemos hablar de dos grupos de población: libres y esclavos, vemos que en términos socioeconómicos estos se diversifican en relación a las propiedades y los medios con los que cuentan. Las relaciones entre los miembros de las distintas clases sociales se rigen por redes clientelares y de patronazgo. De esta forma, la administración se organiza como una red de patrones y clientes que tienen en su cúspide al propio rey, seguido por sus familiares más allegados, administradores centrales, provinciales, cultuales, militares y todo el personal administrativo dependiente de ellos.
En el capítulo tres, el autor hace una descripción de los asentamientos acadios y de aquellos centros constatados arqueológicamente desde donde el poder acadio ejercía su autoridad tanto en Mesopotamia como en la periferia. De los diferentes asentamientos se destaca la especial importancia dada por parte de la administración imperial a la explotación económica de sus territorios circundantes así como a su papel estratégico como centros de recepción de materias primas desde la periferia, como Tell Brak, Assur o Susa. Finalmente, el autor reflexiona sobre si se puede calificar al estado acadio como Imperio, afirmando que sí si atendemos al programa de conquistas y control del territorio y a la ideología real que se desarrolla de “dominio universal”. En relación al anterior, en el capítulo cuatro se explican el conjunto de bases económicas y las actividades y trabajos desarrollados en torno a ellas. Las principales actividad económica es la agricultura y la ganadería, donde era fundamental la explotación de la región del sur mesopotámico (Sumer). En cuanto al trabajo, éste estaba basado en trabajadores dependientes a tiempo completo y trabajadores reclutados en épocas muy específicas, todos retribuidos mediante sistemas de raciones. En relación a la ganadería, destacaba la oveja por su lana, la principal materia de transformación y exportación. En lo referente al comercio y transporte, el autor destaca los cursos fluviales como vía principal de comunicación, además de ser fuente de recursos pesqueros. La última parte del capítulo está dedicada al conjunto de actividades de transformación de materias primas en alimento, destacando la molienda y la producción de cerveza.
El siguiente capítulo versa sobre el conjunto de actividades de tipo artesanal/industrial que se desarrollaron en el periodo acadio. Muchas son herederas de épocas anteriores, pero durante ésta podemos apreciar una alta estandarización producto de una mayor concentración de artesanos en talleres reales y una mayor cantidad de bienes gracias a, por un lado, una mayor importación de materias primas y, por otro, una mayor demanda por parte de las élites. Así pues, el autor comienza analizando la producción cerámica; pero destaca sobre todo los trabajos en metal, piedra y madera. alcanzándose una gran maestría técnica en ellas. También hay que destacar los textiles en lana o en piel; así como las artesanías más selectas como la ebanistería o los aceites perfumados.
En lo que respecta al capítulo seis, dedicado a la religión, el autor destaca una serie de innovaciones pese a la gran continuidad en la evolución de la religiosidad mesopotámica. Las divinidades acadias que se incorporan al panteón mesopotámico destacan por ser divinidades celestiales: Shamash, Sin, Ishtar, etc. y por participar en una mitología guerrera. De entre las mayores innovaciones está la deificación de ciertos reyes en vida, como Naram-Sin, junto a la elevación de Ishtar a lo alto del panteón nacional y la política de integración de cultos y divinidades acadias con sumerias. Si bien podemos identificar ciertos templos particulares del periodo acadio, en la mayor parte de los santuarios reina la continuidad. En estos se aprecia la vinculación entre religión y política puesto que son los reyes los que llevan a cabo ritos y realizan ofrendas suntuosas. Entre las formas de piedad colectiva siguen estando las festividades, las cuales carecen de un calendario estandarizado para todo el imperio.
En cuanto al aspecto militar, tratado en el capítulo siete, vemos como los reyes acadios recogen una serie de tradiciones anteriores, como el denominarse elegidos por Enlil para reinar sobre Mesopotamia. Pero, por otra parte, fomentaron el aspecto guerrero del rey y sus capacidades personales como aptitudes necesarias para ejercer la realeza. En lo tocante a la composición y armamento del ejército, vemos que esto no cambia demasiado respecto a periodos anteriores, exceptuando la organización del mismo que es puesto bajo la autoridad de militares profesionales.
El corto capítulo ocho está dedicado al comercio y las diferentes formas de intercambio. Como ya se ha dicho, la llanura mesopotámica carece de una serie de materias primas fundamentales que debían importarse; en época acadia lo que se aprecia es un incremento en dichas importaciones. En torno a la naturaleza de este comercio, la existencia de mercaderes privados que podían estar también al servicio de las grandes instituciones, la existencia de medios de pago estandarizados como la plata y la cebada, así como también de tasas, impuestos y precios estipulados indican que la economía real del periodo era plenamente tributaria y no exclusivamente redistributiva.
El capítulo nueve viene a tratar todo lo referente a las artes y a la producción literaria. Aquí podemos apreciar una línea transversal en el arte acadio, la inclinación por representar la ideología real basada en el militarismo, la fuerza, la heroicidad y la especial relación del rey con los dioses. La escultura, el relieve e incluso la glíptica, desarrollan estos temas y en ellas se alcanza una alta perfección técnica considerándose el periodo clásico de la escultura en Mesopotamia. En literatura sobresale la princesa y sacerdotisa Enheduanna. Esta poetisa (primera de la literatura mundial) también sirvió con su obra a la ideología real a través de sus himnos a los dioses y a los reyes. En prosa destacan las inscripciones conmemorativas, y la epistolografía, que adquieren un importante valor literario. En esta producción literaria hay que destacar el uso paralelo del acadio y el sumerio como lenguas eruditas, junto al desarrollo de la música que acompañaba la representación de las composiciones literarias. Por último, la matemática y la cartografía cuentan con una importante presencia asociada a la administración.
Una vez señalada la identidad del arte y la producción intelectual, el autor centra el capítulo diez en definir los valores humanos acadios, en otras palabras, la identidad acadia. En primer lugar a través de ciertos aspectos de la vida cotidiana como el nacimiento, la niñez y la educación, la vida familiar y la casa y la muerte y el funeral. Pero el autor también analiza los sentimientos y las emociones; de las cuales solo tenemos testimonio de las experimentadas por las élites. Aquí el autor comenta como se entendía en el periodo acadio la felicidad y la tristeza, el amor y la sexualidad y el espíritu competitivo entre los miembros de la élite que pugnaban por ascender dentro de la administración imperial.
En el capítulo once, el autor reflexiona sobre la memoria de los reyes de Akkad en periodos posteriores de la historia de Mesopotamia. Si bien algunos de ellos siguieron siendo reverenciados e incluso se mantuvo su culto funerario, otros recibieron el castigo y la deshonra. Sin embargo, en su gran mayoría las estelas de los reyes acadios permanecieron en los santuarios en donde fueron erigidas, siendo copiadas por escribas y eruditos. De hecho, el autor traza una relación entre menciones a los reyes acadios en la literatura profética posterior y los hechos contados en las estelas, por lo que dichos presagios se inspiraban en estas narraciones. Las crónicas posteriores no se olvidaron tampoco de los reyes acadios generándose incluso en torno a ellos una rica literatura épica. Por su parte, el legado acadio se aprecia en los nombres y titulatura de muchos reyes posteriores, queriendo emular la fuerza y poder de sus antecesores.
El último capítulo de la obra consiste en una reflexión sobre los estudios en torno al periodo acadio. Así pues, su presencia en la historiografía sobre el próximo oriente antiguo comienza con el descubrimiento, entre mediados y finales del siglo XIX, de textos e inscripciones que hacían referencia a los reyes acadios. A partir de aquí se sucedieron durante la primera mitad del siglo XX los hallazgos y las interpretaciones sobre quiénes eran y de donde procedían. Y fue a partir de entonces cuando se empezaron a publicar las primeras síntesis. No obstante, no fue hasta el descubrimiento de los archivos de Ebla en 1975 cuando se empezó a contar con un volumen importante de información.
De este modo, Benjamin R. Foster nos ofrece una completa y detallada síntesis del periodo acadio. Podemos ver cómo el denominado Imperio de Akkad hereda una serie de procesos históricos, sociales y económicos que se iniciaron en etapas previas, así como también un conjunto de estructuras políticas e ideológicas que recogen los reyes acadios. Sin embargo, este conjunto de características heredadas se potencian en esta etapa a todos los niveles: una más alta concepción de la realeza, una burocracia estatal más sólida, una explotación de los recursos más intensiva, un deseo de compenetración de las identidades socioculturales que componían Mesopotamia. Una aceleración de procesos que alcanza el apogeo en durante el reinado de Naram-Sin. Se generó así un conjunto de características exclusivas sin las cuales no podríamos explicar la historia posterior. De esto se dieron cuenta incluso los propios antiguos, reteniendo en su memoria a los poderosos reyes acadios.
No obstante, el profesor Foster es demasiado optimista al calificar de “Imperio” al proyecto político de los reyes acadios. Esto va más allá de un simple calificativo, puesto que el concepto histórico de “imperio” encierra unas connotaciones ideológicas y unos desarrollos políticos, sociales, económicos y culturales mucho mayores que aquellas a las que llegaron los reyes de Akkad. Sin lugar a dudas este periodo marcó la historia posterior de Mesopotamia en particular y del Próximo Oriente en general, dejando una fuerte impronta en el imaginario colectivo de la región. No obstante, aquellos que defienden la naturaleza imperial del estado acadio, se dejan llevar por las fuentes posteriores que tanto veneraron la tradición de aquellos reyes. Si estudiamos la naturaleza del periodo en su contexto, vemos un alcance limitado del “Imperio” tanto en su plano ideológico como fáctico.
En este sentido, hay que decir que el debate no cosiste en preguntarse si Akkad fue o no un imperio, un error metodológico por el cual se pretende adscribir el hecho a un concepto historiográfico convirtiendo así el concepto y no el hecho en el objeto último de nuestra investigación, perdiendo por tanto el concepto su capacidad de ser herramienta explicativa del hecho histórico. Por este motivo, en primer lugar, debemos preguntarnos, ¿qué es un imperio? Si lo estudiamos desde una perspectiva más amplia, podemos ver que, a lo largo de la historia, el denominador común de todo imperio es su ideología, por lo tanto, no podemos disociar imperio de imperialismo. En este sentido, el profesor Mario Liverani hace una interesante reflexión sobre el concepto “misión imperial” en su recentísima obra, Assiria. La preistoria dell’imperialismo, Bari: Laterza, 2017. Según este concepto, la clave para poder calificar una estructura política de imperio es la necesidad de conquistar, unificar, ordenar y gobernar el mundo, generándose unas estructuras políticas e ideológicas que se derivan de este conjunto de intenciones.
Siguiendo esta norma, no podríamos calificar de imperio al estado que crean los reyes acadios. Para empezar, los afanes de dominio universal de los que hacen gala los reyes acadios no corresponden a una ideología imperialista, sino más bien a una propaganda real propia del periodo por la que desean legitimar su gobierno a través de sus propias cualidades guerreras, heroicas y, en ciertos casos, divinas. Esto se aprecia además en que los reyes de Akkad, una vez unificada Mesopotamia, no dirigen empresas de conquista más allá, sino más bien desarrollan una serie de campañas destinadas a mantener bajo control puntos estratégicos necesarios para el abastecimiento de materias primas. Esto igualmente lo vemos en la producción artística y literaria, encaminada a servir de canal de propaganda de la realeza y no a ser la muestra de la gloria y el poder el supuesto imperio.
En su vertiente más económica, la posición de vanguardia que toma la región de Akkad frente a Sumer no se debió tanto a la política económica activa de los reyes acadios, sino que responde a una dinámica ecológica por la cual los territorios aguas arriba de los dos grandes cauces fluviales tienen ventaja sobre las tierras que hay en la llanura aluvial, cuyas aguas tienden a la salinidad y el estancamiento. Si bien no podemos negar que el dominio acadio sobre toda Mesopotamia y ejercido desde esa región del norte (económicamente más favorable) pudiera acelerar el proceso, tampoco podemos afirmar de ninguna manera que fuera una política consciente de los reyes acadios. En primer lugar, porque es un proceso ecológico que se encuadra en un marco cronológico mucho más amplio, que se inició antes de las conquistas de Sargón de Akkad y que continuará tras la caída del dominio acadio, con la excepción del periodo de gobierno de la III dinastía de Ur y sólo gracias a los ingentes esfuerzos de sus gobernantes por revertir dicho proceso.
Igualmente, en su faceta socio-cultural, no podemos adscribir a los reyes acadios el que el elemento semítico de la sociedad se anteponga al elemento sumerio. Esto tiene un proceso paralelo al ecológico del que hemos hablado anteriormente. Se trata de un proceso etnolingüístico por el cual aquellas lenguas que encuentran facilidades de traducción y reproducción en otras del entorno tienden a perpetuarse. En este sentido, el sumerio, pese a haber sido la lengua en la que se escribieron los primeros textos y constituir la base cultural de los primeros estados de Mesopotamia, no deja de ser un grupo etnolingüístico aislado, sin paralelos en otras lenguas. Por el contrario, el acadio, como lengua perteneciente al tronco semítico, encuentra fácil traducción y perpetuación en otras lenguas del entorno, como el eblaíta; por lo tanto, la fluidez de información es mucho mejor entre distintos territorios. Así pues, de forma semejante a lo que se ha comentado sobre el proceso ecológico que se desarrolla en Mesopotamia, el proceso etnolingüístico que favorecía al elemento acadio sobre el sumerio pudo ser acelerado por los reyes acadios, pero no podemos adscribirles a ellos el mérito de tal hecho puesto que continuará en periodos posteriores cuando los reyes acadios ya eran tan sólo un recuerdo y el sumerio quede relegado por completo al papel de lengua erudita.
Así pues, calificar de “Imperio” al estado unificado de Mesopotamia bajo el gobierno de la dinastía de Akkad sería algo erróneo. Pese a esto, no podemos obviar el hecho de que no se trató de un estado territorial más, puesto que se implementan muchas de las estructuras políticas y económicas previas, así como se aceleran muchos de los procesos históricos sin los cuales no podríamos entender la Historia posterior del Próximo Oriente. Por este motivo, Mario Liverani, en la obra conjunta que él mismo edita, Akkad, the first world empire: structure, ideology, traditions, Padova: Sargon, 1993; recurre al término de “red imperial”. Según este concepto, el estado acadio no habría cambiado las estructuras políticas y económicas previas, sino que se habría asentado sobre ellas controlando exclusivamente las relaciones entre las mismas, convirtiéndose así el estado central en punto de intersección de dichas estructuras.
Juan Álvarez García – Universidad Autónoma de Madrid.
[IF]
Beyond Environmental Comfort | Boon Lay Ong
Àqueles que estudam conforto no campo da arquitetura e urbanismo em ambientes internos e externos, encontram-se em face de uma negociação entre o mythos e o logos. Da lógica do logos, obtém-se valores de dados quantificados e oferecidos por equipamentos que são solucionados em equações matemáticas e, por amostragem, podem ser estimados parâmetros ao senso comum. Já em face do mythos, da subjetividade dos gostos e preferências, as experiências sensoriais perceptíveis dos sentidos humanos possuem ampla variação, sobretudo cultural. Desse ponto de vista, o livro Beyond Environmental Comfort se trata de uma relação biunívoca entre estes dois campos, estabelecendo, por critérios paramétricos do ambiente construído, uma simbiose interpretativa para qualificar a experiência sensorial espacial.
O dossiê – que visa familiarizar pesquisadores com onze textos (1) seminais dessa produção contemporânea, pela contribuição de oito autores – é organizado pelo chinês Boon Lay Ong, atualmente professor sênior da Escola de Design e Ambiente Construído da Universidade de Curtin, Austrália. Anteriormente foi professor titular de Design Ambientalmente Sustentável na Faculdade de Arquitetura, Construção e Planejamento Urbano da Universidade de Melbourne. Ong tem PhD pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, sobre o uso de plantas como complemento para arquitetura e design sustentável, pelo conceito de “paisagens cultivadas” referente ao uso de paisagens projetadas como um elemento ecológico na arquitetura e nos ecossistemas urbanos. Suas ideias sobre a integração de plantas e paisagismo na arquitetura contribuíram para o plano de desenvolvimento urbano em Singapura. Leia Mais
Textbooks as Propaganda: Poland under Communist Rule: 1944-1989 – WOJDON (IJRHD)
WOJDON, Joanna. Textbooks as Propaganda: Poland under Communist Rule: 1944-1989. Routledge, 2018. Resenha de: VAJDA, Barnabas. International Journal of Research on History Didactics, n.40, p.265-260, 2019.
How did a Communist political system, the Polish one, deal with primary school textbooks? How did it try to influence teaching and learning through Marxist political messages? How did it deliberately distort the content of all school textbooks in order to make an impact on the minds and thinking of future generations? Joanna Wojdon’s Textbooks as Propaganda. Poland under Communist Rule, 1944- 1989 gives us a thorough and detailed explanation which goes well beyond Poland’s historical experience. Even if her starting point is that ‘schools were supposed to install communist ideology and a positive attitude toward the Soviet Union’ (p. 140), in fact, I am convinced that the lessons we can learn from this book stretch far beyond the post-Communist countries.
Certainly, we have already known many things. In fact, there is no need to prove that communist regimes wanted schools to indoctrinate young people even from the very first grades. And Joanna Wojdon’s book gives us a substantial amount of proof that neither the Polish nor other Eastern European communist regimes even tried to hide their intentions. On the contrary, they openly declared their ideological goals. She rightly touches upon a general rule as an overall context for communist textbooks: ‘The term “doing a textbook” was coined to characterize the flow of many lessons’, i.e.
to follow the book step by step, and she reaches an extremely important conclusion that ‘textbooks, not curricula, were what teachers and pupils actually “did”’ (p. 1).
It has also long been known that Eastern European communist school systems used to have a significant amount of teaching content in textbooks inserted purely for political reasons. Anybody with just the slightest experience form those pre-1989 years could remember the achievements of the Soviet natural sciences and especially space research, the presentation of workers’ achievements of those times – and not only in history textbooks! And this is one of the features that places Joanna Wojdon’s book on the top of our bookshelves, i.e. ‘She explores the ways in which propaganda was incorporated into each school subject, including mathematics, science, physics, chemistry, biology, geography, history, Polish language instructions, foreign language instructions, art education, music, civic education, defense training, physical education, and practical technical training.’ (p. i) Joanna Wojdon has rightly chosen primary textbooks as the source and subject of her research since she reconstructs the universal message of the communist regime aimed at ‘the youngest citizens’ who as the youngest readers are vulnerable and ‘therefore more susceptible to propaganda messages’ (p. 2). The author who is an Associate Professor of History at the University of Wroclaw, Poland, and who follows in the steps of her earlier book The World of Reading Primers: The Image of Reality in Reading Instruction Textbooks of the Soviet Bloc’(2015), nicely explores the most significant ideological strategy of the times, the all-present and omnipotent workers’ perspective which used to be the foundation of mass-oriented communist indoctrination. This one-sided world view, where the imaginative ‘worker’ was the alpha and the omega of all arguments, produced for instance ‘in the history of the Roman Empire the reason for its collapse was reduced to, the characteristics of its social classes and the rebellions of its slaves’ (p. 111).
Since Joanna Wojdon has researched almost all Polish textbooks of the selected time period (from 1944 to 1989), we can be curious to know if there was a special ideological stress in history textbooks? There certainly was. I regard as extremely fascinating how the author explores the great variety of distortions and biases in the books surveyed. Completely distorted topics such as ‘the imperialist First World War’ (p. 111) and the fact that WW I was dealt with from the universal perspective of the constant struggle of the working class rather than from the Polish national(ist) view, perfectly fits into a general pattern typical of most Eastern European communist textbooks. It is no surprise that in these textbooks, often written from the Soviet point of view (p. 118), little attention was paid to Polish national(istic) ideology (p. 114). More precisely, the nationalist layer in the textbooks was intentionally selective. One only needs to look at the fact that while on the one hand the Polish textbook omitted any trends of Russification, on the other hand they massively stress Germanization. But the most interesting discovery by Joanna Wojdon is the constant appearance of pictures of the enemy in communist Poland. It was ‘the Christian church as general, and Jesuits in particular, as exploiters of the workers’ society’ and as stubborn representatives of ‘retrograde conservativism’ (p. 115).
To measure the quality of propaganda is not an easy task, and to research the specific means and methods of propaganda in school textbooks is a huge scientific challenge. Many propaganda tricks are hidden in the language. Selective language (and branding) for national affiliation of some historical personalities was typical. It concerned for instance Charles Darwin as a ‘famous English biologist’, Dmitri Mendeleev as a ‘great Russian chemist’, and Wilhelm C. Roentgen who was left without a nationality (p. 117).
It is even more difficult to spot and identify latent language structures, i.e. deliberate omissions, or as I call them, the ‘structures of silence’. Let us be no naive, language tricks happened on purpose, deliberately and in a systematic way (p. 140). In Polish textbooks researched by Joanna Wojdon there are many well-known omissions, such as the system of Gulags or the Katyn massacre, eastern borders of Poland, as well as dozens of other ‘sensitive’ issues. As the author puts is: ‘The textbooks’ narratives […] did leave out certain historical facts, figures, processes and phenomena’ (p. 108). The same tendency to deliberate omission is true for the imagological apparatus. As a result one would rarely see church buildings as illustrations is many Eastern European textbooks. And I think that all these ‘structures of silence’ contribute to the general amnesia and harmful silence about social and historical problems.
Probably the greatest challenge for any researcher identifying the ideological burden in a history textbook is of a semiotic character, as the author puts it, ‘propaganda motives, topics and techniques intertwined in the text’ (p. 119). In other words, spotting covert messages, and especially those which are hidden not in the text but in the didactical apparatus (questions, tasks, photo captions, etc.) of the textbooks, that make both descriptive text and didactical apparatus almost cognitively indigestible. In this field Joanna Wojdon rightly states that in methodological terms, Polish communist ‘textbooks made clear judgements on everything from the past, and left children with no doubts or ambiguity’ (p. 109). It may sound weird but it is my own experience that the Marxist ideological burden was palpable in the text, nevertheless it is very, very difficult to prove it scientifically. And yet, it was a pre-calculated effect which contradicted the true nature of history as a science because for professional history ‘either – or’ situations, disquieting questions and constant doubts are fundamental. What can we say about a school textbook which entirely switches off critical thinking or multiperspectivity over people and their deeds in the past, and compels a one-sided worldview? No contradictory opinions were allowed (p. 143) in order to change societal opinion en masse, and in order to attempt to change cognitive structures from where divergent thinking is excluded (p. 143).
Since the time period selected by Joanna Wojdon is the era of the Cold War, it is worth asking how did these textbooks handle the superpower rivalry? To what extent did Polish communist textbooks present anti-Western orientation or indoctrination? What about anti- Americanism? As the author states, ‘The world as presented in geography textbooks was thus bipolar, black and white. It was an arena of battle between capitalism and socialism’ (p. 78), and there is no doubt that ridiculous comparisons between the USA and the USSR were present: ‘What monstrous amounts of pollution New York, Chicago and Los Angeles must produce each year!’ versus ‘On the wide and clean streets of Moscow there is much traffic at all hours of the day’ (p. 76). And this leads us to a contemporary question regarding current East-West cultural tensions. Was the Communist ideology in the textbooks intentionally anti-Western? If it was, has it contributed to the tensions that can be observed between current Western and Eastern Europe? Joanna Wojdon’s book is a very valuable contribution to general and international textbook research, reaching well beyond the Polish experience. In fact, she gives us a clear list of typology of the specific means of ideological indoctrination: Marxism, socialism, enemies of the system, presentist interpretations, politechnization, etc. (These are Joanna Wojdon’s expressions from pages 109-110.) I would be curious to know if these are common Eastern European patterns? There are surely subtle similarities that strongly offer themselves for international comparative textbook research. There is evidently much to offer for Eastern European readers, especially for those who are engaged in comparative analysis of history textbooks. Giving just one example: On the level of phraseology, for instance, in Poland the abbreviations ‘Before Christ’ and ‘Anno Domini’ were replaced with ‘before our era’ and ‘of our era’. The same kind of de-Christianized terminology in communist Czechoslovakia used ‘before’ and ‘after our time’. Joanna Wojdon’s typology is surely a useful ‘toolbox’ for coming-soon textbook researchers. Clearly the author is well aware of less of those textbooks research involving Tatyana Tsyrlina-Spady & Alan Stoskopf (2017), Milan Olejník (2017), Karina Korostelina (2009), Ibolya Nagy Szamborovszkyné (2013a, 2013b) and others, who have produced very valuable books and papers on textbook propaganda in the Soviet Union and its political orbit.
Joanna Wojdon’s book ends with a short and poignant Conclusion (p. 140-148) in which she raises one of the most neglected section of textbook research, i.e. ‘the question of the effectiveness of textbook propaganda is most problematic’ (p. 145). For many pupils textbooks are ‘boring’; formal schooling is not omnipotent; and education has never been only limited to schools. What’s more, we know that quite a lot of contemporary teachers did refuse to follow senseless ‘ideological rules’ (p. 147), and this kind of disobedience has had a rather strong impact on many pupils – as it is shown in some rare interview based research materials. If one considers the deep and general social apathy in Soviet bloc countries in the 1970s and 1980s (p. 145) (definitively in Czechoslovakia and Hungary), the failure of overwhelming indoctrination at schools seems to be quite clear.
There might be no doubt that the communist school textbook system, with its no-choice and competition-free textbook regime, all around Eastern Europe, was an integral part of a carefully designed social engineering system. Similar propaganda content and similar patterns ‘can be observed in other countries of the Soviet Bloc’ (p.
143) which leads us to a very contemporary problem: How should we consider those European countries where the state is the major (sometimes exclusive) sponsor of school textbooks; where there is a limited (if not entirely closed) textbook market; and where the teachers’ choice is limited to the one and only available textbook? And I think Joanna Wojdon knows this exactly. For in places she winks at us when she writes that ‘school history is notorious for being used as a tool of indoctrination, not only in Poland and not only under Communism’ (p. 108).
At least one extremely illuminating message of Joanna Wojdon’s book is clear: Democratic school systems have to maintain the power of schools (in fact, teachers) to choose their textbooks because this is the only real and significant professional force in and around schools that can compensate for any ideological push that may occur from time to time.
References
Korostelina, K. (2009) ‘Defining National Identities – The Role of History Education in Russia and Ukraine’, Lecture at Woodrow Wilson Institute, Washington, D.C., 9.02.2009.
Olejník, M. (2017) Establishment of communist regime in Czechoslovakia and an impact upon its education system, Košice: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoočenskovedný ústav Košice.
Szamborovszkyné Nagy, I. (2013a) Oktatáspoitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában. I. rész, Szovjetunió 1945-1991 [Education policy and history teaching in the Soviet Union and Ukraine. Part 1., The Soviet Union 1945-1991], Ungvár: Líra Poligráfcentrum.
Szamborovszkyné, Nagy, I. (2013b) Oktatáspoitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában. II. rész, Ukrajna 1990-2010 [Education policy and history teaching in the Soviet Union and Ukraine. Part 2, Ukraine 1990-2010], Ungvár: Líra Poligráfcentrum.
Tsyrlina-Spady, T. & Stoskopf, A. (2017) ‘Russian History Textbooks in the Putin Era: Heroic Leaders Demand Loyal Citizens’, in: J. Zajda, T. Tsyrlina- Spady & M. Lovornet (eds) Globalisation and Historiography of National Leaders: Globalisation, Comparative Education and Policy Research, Dordrecht: Springer, 15-33.
Barnabas Vajda
[IF]
The Dasmariñases, Early Governors of the Spanish Philippines – CROSSLEY (LH)
CROSSLEY, John Newsome. The Dasmariñases, Early Governors of the Spanish Philippines. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016, 264 pp. Resenha de: BOTIJA, Antonio Real. Ler História, v.72, p.231-235, 2018.
1 Esta novedad bibliográfica se inserta en la temática de los trabajos sobre los gobernadores hispánicos de las islas Filipinas. Su autor es John Newsome Crossley, cuya carrera docente e investigadora se ha caracterizado por un enfoque multidisciplinar en instituciones de Reino Unido y Australia. Esta ha transcurrido entre su interés por las matemáticas, la informática y la historia de las matemáticas desde la década de 1970 y sus investigaciones más recientes sobre la presencia hispánica en las islas Filipinas pasando por su inquietud por la Parisian music theory en la década de 1990. Actualmente, Crossley continúa investigando sobre dicha teoría, es Profesor Emérito en la Universidad de Monash y prepara una traducción de una historia no publicada de las islas Filipinas, conocida como Lilly Historia, datada en torno a 1600. Más concretamente en el terreno de sus investigaciones sobre las islas Filipinas, Crossley ha publicado numerosos trabajos –entre ellos, se destaca Hernando de los Ríos Coronel and the Spanish Philippines in the Golden Age (Ashgate, 2011)– que han sido bien recibidos por el mundo académico.
2 Este último libro de Crossley sobre los Dasmariñas ha sido publicado a través de Routledge, Taylor & Francis Group en Londres y Nueva York en 2016 y contiene dos particularidades destacables con respecto a los anteriores estudios sobre gobernadores del archipiélago, los cuales se han concentrado en Legazpi o figuras del siglo XVII y XVIII. En efecto, como el propio título indica, The Dasmariñases, Early Governors of the Spanish Philippines trata el papel de Gómez Pérez Dasmariñas y Luis Pérez Dasmariñas, es decir, dos miembros de una familia (padre e hijo respectivamente) que ejercieron dicho cargo de gobernador en una etapa inicial del periodo colonial (siglo XVI) en el archipiélago. La principal relevancia de esta aportación estriba en desarrollar los desafíos a los que ambos tuvieron que hacer frente en el ejercicio de dicho oficio en virtud de la combinación de su cultura política hispánica y la diversidad cultural con la que se encontraron tanto en el propio archipiélago, como en las entidades políticas colindantes.
3 La organización del trabajo presenta una estructura en dieciocho capítulos y un epílogo. Crossley también añade un glosario con términos al inicio de la obra e introduce imágenes de un viaje personal al archipiélago y del Códice Boxer a lo largo de la misma. De hecho, el autor propone una sugerente interpretación sobre el origen de dicho códice en el capítulo 13: se trataría de un proyecto comisionado por el propio gobernador Gómez Pérez Dasmariñas. Asimismo, Crossley reproduce las instrucciones dadas a dicho Gómez Pérez Dasmariñas en agosto de 1589 tras su nombramiento como gobernador de las islas Filipinas al final del libro.
4 El inicio del trabajo (capítulos 2 y 3) está dedicado a explicar las razones que condujeron a la elección de Gómez Pérez Dasmariñas para servir en la defensa de la religión y del rey como nuevo gobernador del archipiélago filipino: su devoción religiosa y limpieza de sangre (originario del noroeste peninsular, es decir, de un área con escasa penetración de al-Andalus, asiduo en las celebraciones religiosas y caballero de la Orden de Santiago) y su experiencia militar y administrativa en un espacio de frontera hispánica con el Islam (corregidor en Murcia). La supresión de la audiencia del archipiélago suponía que la única autoridad colonial del mismo fuera Gómez Pérez Dasmariñas, desconocedor de este escenario del sudeste asiático, pero motivado para continuar su servicio contra el enemigo musulmán al sur del mismo según Crossley. No obstante, la contemplación de este aspecto era reducido en sus instrucciones, en las cuales se insistía en la necesidad de preservar la pacificación conseguida en el archipiélago y la extensión de los dominios cristianos (el anhelo de la conquista de China), así como se instaba al gobernador a acabar con los abusos con respecto a los nativos, enseñarles la doctrina religiosa y salvaguardar a la población castellana y/o novohispana a través del pago a los soldados y la construcción de navíos.
5 Las instrucciones también contemplaban la culminación de la catedral y las fortificaciones de Manila por parte del nuevo gobernador y su apoyo a los hospitales y al colegio de huérfanas. El autor muestra mediante cartas de los pobladores de las islas cómo la puesta en marcha de estas medidas al inicio de la llegada de los Dasmariñas supuso una buena recepción en las islas (capítulo 4). No obstante, la presencia del nuevo gobernador implicó también asperezas con respecto a Domingo de Salazar, obispo del archipiélago, puesto que la principal prioridad para el primero era que los naturales pagaran el tributo por la evangelización y la protección, pero el segundo exigía que no se aplicara dicho cobro en los casos en los que los nativos del archipiélago no recibieran la formación religiosa, especialmente, por falta de compromiso de los encomenderos. Asimismo, el obispo reclamaba que la Corona cuidara de los chinos de las islas a través de las eliminaciones de las restricciones de su comercio por parte del gobernador, aunque no fueran súbditos del rey (capítulo 5). De hecho, Gómez Pérez Dasmariñas tuvo que lidiar a lo largo de su gobierno con su deseo de controlar la presencia china en el archipiélago por su excesivo número, el cual hacía temer un ataque, y su dependencia económica para el funcionamiento del galeón (capítulo 10). Crossley desarrolla entre ambos capítulos las expediciones de pacificación al valle de Magat, situado al norte de la isla de Luzón, durante el gobierno de Gómez Pérez Dasmariñas (capítulos, 6, 7, 8 y 9).
6 Posteriormente, se tratan, por un lado, dos graves problemas de su gobierno plasmados en la amenaza japonesa sobre el archipiélago (capítulo 11) y la ausencia de respuestas a sus cartas desde la Corte (capítulo 12) y, por otro lado, el final del mismo con la redacción de su testamento (capítulo 13) y su muerte en 1593 a manos de los remeros chinos de la embarcación en la que se desplazaba en una expedición hacia Ternate, es decir, contra el mencionado enemigo musulmán (capítulo 14). El gobierno interino de Luis Pérez Dasmariñas (hasta la llegada de Antonio de Morga, nuevo teniente de gobernación, en julio de 1595, así como del nuevo gobernador, Francisco Tello de Guzmán, un año más tarde) y su presencia posterior en las islas se desarrollan en los capítulos finales del trabajo (capítulos 15, 16 y 17) hasta su muerte en la revuelta de los sangleyes de 1603 (capítulo 18). Finalmente, se debe mencionar que Crossley abre y cierra este estudio con el destino común de padre e hijo (capítulo 1) y sus cualidades (epílogo) respectivamente.
7 Precisamente, esta estructura supone el punto fuerte de la obra de Crossley porque permite apreciar las continuidades y las diferencias en el gobierno del padre y el hijo en virtud de su mencionada cultura política y dicha diversidad cultural con la que ambos se encontraron en el archipiélago. En efecto, el primer capítulo, los capítulos dedicados a la figura de Luis Pérez Dasmariñas y el epílogo muestran al lector aspectos a los que el hijo tuvo que hacer frente en relación con la experiencia de su padre: por ejemplo, la defensa de la fe contra el Islam (Luis Pérez Dasmariñas también formó parte de la expedición hacia Ternate), la preocupación y la dependencia con respecto a los chinos del archipiélago y el tipo de fallecimiento (la pérdida de la cabeza en un levantamiento chino). De hecho, dicho planteamiento del trabajo contribuye a probar la hipótesis de Crossley, la cual se basa en que el comportamiento intolerante de estos dos gobernadores con respecto a los musulmanes del sudeste asiático y su ambigüedad en relación a la población china de las islas demostraban tanto las dificultades que ambos experimentaron en el ejercicio de su oficio, como el arraigo secular de la lucha contra el Islam en la cultura política hispánica. Asimismo, Crossley refleja también las diferencias entre el padre y el hijo: la organización de expediciones más ambiciosas y menos realistas por parte del segundo (Camboya) y, en cuanto a la devoción religiosa, la dependencia del hijo más estrecha que la del padre con respecto a los religiosos, concretamente, los dominicos.
8 Este trabajo presenta pocos puntos débiles, pero es necesario señalar dos aspectos que lo podrían haber completado. Por un lado, el autor insiste a menudo en que padre e hijo sirvieron en la defensa de la religión y del rey sin ánimo de lucro en función de las apreciaciones contempladas en diversas cartas de sus contemporáneos y de cronistas posteriores. Sin embargo, Crossley no menciona ninguna referencia a la sección de Contaduría del archipiélago filipino del Archivo General de Indias en la que, posiblemente, hubiera podido apreciarse una relación más estrecha de la familia Dasmariñas y/o de sus allegados con el galeón y las cajas reales. Esta documentación podría haber consolidado dicha idea de la ausencia de ánimo de lucro o, quizás, podría haber mostrado otra faceta menos positiva de los gobiernos de padre e hijo.
9 Por otro lado, Crossley plantea el problema de la comunicación en virtud de la ausencia de respuesta a las cartas del gobernador Gómez Pérez Dasmariñas por parte del rey, puesto que solo dos barcos llegaron desde Acapulco a Manila durante su gobierno y ninguno con correspondencia regia. Asimismo, la dependencia de las islas con respecto al virrey novohispano tampoco se plasmó en una documentación significativa procedente de México. Si bien es cierto que el autor muestra acertadamente sus principales objetivos, como el papel de Oriente en el desarrollo del mundo y de las civilizaciones europeas a través del impacto de la diversidad cultural en el gobierno de los Dasmariñas o el traslado de la concepción del enemigo musulmán de Europa a Asia en la mentalidad de dichos gobernadores, el problema de la distancia en la cultura política hispánica no fue exclusivo de las islas Filipinas. Por tanto, alguna referencia a dicho problema en otros espacios del imperio con situaciones similares (por ejemplo, Chile con respecto a Lima y la Corte) hubiera sido interesante en relación a la mencionada cultura política.
10 En cualquier caso, estos dos aspectos no ensombrecen en absoluto una obra completamente recomendable para estudiar los problemas de gobernanza de la Monarquía Hispánica en el sudeste asiático en los inicios del periodo colonial.
Antonio Real Botija – Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), España. E-mail: antoniorealbotija@hotmail.com.
Assessing historical thinking & understanding: Innovative designs for new standards – VANSLEDRIGHT (I-DCSGH)
VANSLEDRIGHT, B. A. Assessing historical thinking & understanding: Innovative designs for new standards. Nueva York: Routledge, 2014. Resenha de: MIGUEL REVILLA, Diego. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.89, p.85-86, oct., 2017.
La lectura de algunas de las investigaciones educativas más relevantes de la última década no deja dudas acerca de que el desarrollo de la comprensión y el pensamiento histórico- crítico se ha instalado como un objetivo fundamental de la enseñanza de la historia por parte de los docentes e investigadores.
Ahora bien, a pesar de que la caracterización de estos constructos ha ocupado gran parte de la atención académica, su evaluación ha quedado en ocasiones en un segundo plano.
Es por esta razón que Bruce A. VanSledright, profesor de Educación en Estudios Sociales en la Universidad de Carolina del Norte, ha dedicado su último libro a la evaluación de la comprensión histórica, un aspecto clave pero de marcada dificultad práctica.
Tras preguntarse inicialmente qué es lo que realmente examinan las pruebas tradicionales en el área de historia, advierte a los profesores acerca de la importancia de centrarse en el conocimiento estratégico en lugar de simplemente en el sustantivo, es decir, en el «qué puede hacer un alumno con lo que sabe» en lugar de únicamente en el «qué dice que sabe sobre el pasado».
Lógicamente, comenzar discutiendo aspectos de evaluación es similar a empezar a construir una casa por el tejado, razón por la cual el autor dedica el segundo capítulo de su libro a destacar la importancia de contar previamente con un modelo cognitivo que explique –o por lo menos ayude a comprender– la forma en que los alumnos aprenden sobre el pasado. Es aquí donde entran en juego lo que él denomina «anclajes socioculturales», determinantes, en gran manera, de la perspectiva y las ideas previas presentes en los estudiantes.
De forma paralela, las creencias epistémicas de los alumnos (o, lo que es lo mismo, la forma en la que éstos entienden la historia como disciplina) pueden afectar significativamente el proceso de aprendizaje. De ahí que VanSledright indique los riesgos de contar en el aula con «fundamentalistas textuales», que pueden transformarse rápidamente en relativistas puros debido a la poca consistencia de sus posiciones.
El modelo cognitivo propuesto por el autor parte, por tanto, de las propias preguntas planteadas por los alumnos que trabajan sobre la historia, los cuales, gracias a la interacción cognitiva entre las capacidades de pensamiento estratégico y el uso de conceptos procedimentales, y ayudados a su vez por la utilización de recursos enfocados a la investigación, pueden ser capaces de llegar a un mayor conocimiento sobre la materia.
Una vez que el docente tiene claro el modelo de aprendizaje de sus alumnos, es posible plantearse de forma más fundamentada la manera de evaluar aquellas habilidades que queremos desarrollar en ellos.
VanSledright propone, para esta tarea, multitud de alternativas, con cierta capacidad de adaptación a los diferentes contextos de aplicación.
Por un lado, se recomienda una evaluación centrada en preguntas abiertas basadas en el examen de documentos (document-based questions, también abreviado como DBQs) o en la elaboración de ensayos interpretativos (SAIEs), sobre todo por su potencial a la hora de facilitar que el alumno se exprese de forma libre tras el trabajo con la evidencia histórica.
Como alternativa, el autor también recomienda la utilización de preguntas cerradas baremadas, en las que no todas las respuestas tengan el mismo peso y, por tanto, puedan valorarse de forma escalonada.
Por supuesto, VanSledright, consciente de las dificultades de evaluar de forma directa el pensamiento y la comprensión histórica, sugiere el uso de una combinación evaluativa con varios métodos, que además pueden ser complementados con análisis verbales de los alumnos para acercarse más a sus procesos cognitivos.
En definitiva, se recomienda un modelo de evaluación distinta, que se adapte a la transformación existente en el aula, y que en lugar de centrarse en la transmisión de los contenidos, haga hincapié en la «práctica del pensamiento y del aprendizaje», un aspecto básico si queremos que nuestros alumnos comprendan adecuadamente el pasado y su continuo proceso de reinterpretación.
Diego Miguel Revilla – E-mail: dmigrev@sdcs.uva.es
[IF]History in the Digital Age | WELLER Toni
Esta obra trata do papel do historiador na era digital e do impacto da informática na área de História, dirigindo-se tanto a historiadores em exercício quanto a estudantes de História. Na introdução do livro, Toni Weller, pesquisadora visitante da Universidade de Montfort, no Reino Unido, assume que, atualmente, a História enfrenta desafios impostos pela crescente utilização do mundo digital no fazer historiográfico. Entre eles, talvez o principal esteja em definir uma postura rigorosa e profissional no tratamento de fontes e temas disponibilizados pelas mídias digitais. Discutir esse desafio é o intuito de History in the Digital Age.
O livro é dividido em quatro partes, além da introdução: “Re-Conceptualizing History in the digital age”, “Studying History in the digital age”, “Teaching History in the digital age” e “The future of History in the digital age”. Como os títulos sugerem, a divisão estrutura-se em pontos de tensão nas relações entre a era digital e o oficio de historiador em sentido amplo, compreendendo as diferentes áreas de atuação profissional: estudo, pesquisa e ensino.
Os três capítulos da primeira parte do livro tratam das dificuldades no uso de certas plataformas digitais e das possibilidades investigativas que elas fornecem. David J. Bodenhamer, em “The spacial humanities: space, time and place in the new digital age”, examina os limites do Historica Geographical Information System (HGIS) [1] quando utilizado para representar dados subjetivos como, por exemplo, noções de espaço e de espacialidade que afetam a percepção de “nós” e do “outro” (p. 25). Há também a atual impossibilidade dentro do GIS de representar o mundo como esfera proveniente da cultura e das relações políticas, e não simplesmente como delimitação físico-geográfica. De acordo com o autor, o HGIS provoca o “achatamento” do mundo, uma vez que o ambiente físico se apresenta deslocado de seus agentes e fenômenos culturais (p.26). Assim não seria possível deduzir da análise dos dados do sistema, por exemplo, que o crescente desmatamento da Mata Atlântica se deu por fatores humanos e não puramente climáticos. Para o autor, se esse empecilho pudesse ser resolvido pelos historiadores, estaríamos diante de uma forma completamente nova de olhar para o passado, tornando nossos modos de apreensão e compreensão muito mais complexos.
Luke Trenidinnick é o autor do segundo capítulo, “The making of history: remediating historicized experience”, que trata de como as lentes do mundo digital alteram nossa visão do passado. Aqui a luz da subjetividade no fazer historiográfico é mais uma vez acesa, abordando o impacto da digital na percepção do presente e do passado por formas de disseminação, compartilhamento e representação criadas em redes sociais. Para o autor, a “digitalização do mundo” traz a novidade da historicidade do documento digitalizado como parte da narrativa histórica, o que o desloca em parte de seu contexto original, transferindo-o do mundo físico para o da esfera digital. Há aqui uma discussão em torno da questão do armazenamento do documento digital, uma vez que a web não é, por natureza, um arquivo centralizado com mecanismos inteligentes de busca, mas um emaranhado mais ou menos caótico de dados massivos.
O último capítulo da primeira parte, “A method for navigating the infinite archive”, um esforço conjunto de William J. Turkel, Kevin Kee e Spencer Roberts, elucida o uso potencial do vasto campo de informações aberto pela era digital, o qual expandiu exponencialmente a disponibilidade de documentos e arquivos – nascidos digitais ou digitalizados – à disposição do historiador. Segundo os autores, mecanismos de busca, de feeds e newsletters, dentre outros, por ser ferramentas que analisam os símbolos contidos no documento, permitem que o historiador se preocupe mais com a interpretação de suas fontes que com a quantidade das fontes em si.
Os cinco capítulos subsequentes configuram a segunda e terceira partes do livro, que tratam da relação entre tecnologias digitais, estudo e ensino de História. Jim Mussel, em “Doing and making: History as a digital practice”, salienta que o ambiente virtual não é uma simples réplica do real, existindo em seus próprios termos e experiências. Segundo o autor, os meios de pesquisa digitais utilizam uma perspectiva diferente da humana, baseada em Optical Character Recognition (OCR) [2], uma tecnologia na qual a localização dos termos depende em grande medida da qualidade da digitalização do documento. Em muitos casos, por má digitalização ou pela ilegibilidade ótica do OCR, documentos não se submetem aos mecanismos de busca, ficando relegados ao uma espécie de limbo digital. Isso faz que, por mais vasta que seja a quantidade de itens digitalizados em determinada série, coleção ou acervo, ainda possa haver obstáculos à plena exploração dos documentos. O que se mostra aqui é uma cultura que diverge da cultura impressa, implicando nova dinâmica tanto na pesquisa quanto na escrita do historiador.
Rosalind Crone e Katie Halsey, em “On collecting, cataloguing and collating the evidence of reading”, trazem à tona outra condição específica do mundo digital. Ao analisar a plataforma Reading Experience Database (RED) [3], as autoras expressam desconforto com a tendência do mecanismo em oferecer uma história parcial dentro da narrativa histórica, pois os relatos se encontram deslocados de sua localidade inicial de experiência e do seu contexto específico. Com a catalogação da experiência de leitura de pessoas do passado, a informação sofre deslocamento de seu aporte original, visto que se perde a dimensão que engloba não somente a fisicalidade do documento que contém o relato da experiência, como também as circunstâncias em que ele foi produzido. Por exemplo: o papel do documento pode conter traços químicos específicos da época de sua elaboração, sendo possível deduzir dele informações além das que estão escritas. A transcrição esvazia então parte da experiência. Porém, a não ser pelo RED, muitas dessas narrativas seriam inacessíveis à maior parte da população.
O capítulo seguinte, “Writing history with the digital image”, de Brian Maidment, também trata do deslocamento de contextos originais de produção de um documento que a digitalização provoca. As imagens digitalizadas, por exemplo, sofrem mediações como alteração de cor e tamanho, causados, digamos, pela distorção do processo ou pela necessidade de se ocupar menos espaço no servidor. Além disso, a digitalização implica a perda de qualidades físicas do documento, como seu cheiro e textura, o material de que é feito etc. Isso aponta para a necessidade de se criarem metadados relativos ao arquivo digitalizado, em prol da aproximação do historiador com a experiência primordial que originou o documento.
Em “Studying the past in the digital age”, Mark Sandle discute questões derivadas da pesquisa online, como autoria e copyright, a impermanência dos websites e a consequente dificuldade de localizar fontes nesse meio, bem como novas formas de interação entre historiadores por e-mails, fóruns online ou seções de comentários em blogs e sites. Segundo Sandle, há clara democratização tanto da disponibilidade de fontes primárias, livros, artigos e publicações quanto da escrita, disseminação e discussão. Outro ponto importante do texto diz respeito à desigualdade do acesso à tecnologia, o que minaria o potencial de transformação que o mundo digital possui.
O tema é retomado por Charlotte Lydia Riley em “Beyond the crtl+c, crtl+v: teaching and learning history in the digital age”. Riley menciona a forte clivagem geracional entre indivíduos nascidos antes e depois da era digital. Isso influenciaria a educação não institucional desses indivíduos, sendo impossível determinar o impacto social do fenômeno. Outro contraponto geracional que Riley destaca é a resistência de professores acadêmicos ao uso da tecnologia, o que teria efeitos sobre a atualíssima e dramática questão em torno de autoria e plágio, uma vez que traçar a origem de uma ideia ou conceito na esfera virtual é muito mais complicado que no aporte físico dos livros. Esse problema abre precedente para um questionamento constante da idoneidade dos trabalhos acadêmicos, além de borrar as fronteiras entre autoria e refereciamento de ideias alheias em produções acadêmicas.
A parte final da obra debate desafios na prática do historiador na era digital. “New universes or black holes? Does digital change anything?”, de David Thomas e Valerie Johnson, aponta para uma possível obsolescência da palavra arquivo no futuro, uma vez que a tendência atual é a de que todo material digital seja preservado. A eventual extinção dos arquivos poderia anular um papel fundamental que eles desempenham: o processamento dos documentos, sua separação e categorização. Arquivos procedem à análise prévia dos documentos, com sua subsequente organização segundo temas, períodos ou tipos. Eliminado o processo de arquivamento, todas as tipologias adjacentes também desapareceriam, colocando-se os documentos em estado bruto de armazenamento. Tornar-se-ia então papel do historiador construir novas tipologias e catalogações afeitas ao universo da era digital.
History in the Digital Age é uma rica contribuição para o debate já em curso há anos acerca das plataformas e recursos digitais para a investigação histórica. Com o objetivo de servir como panorama geral introdutório, o livro apresenta relevantes questões sobre o universo digital que os historiadores teremos de enfrentar nos próximos anos. É evidente, porém, que enfrentamos dilemas que vão além das limitações na obra apresentadas. A crescente presença do mundo digital no cotidiano altera a própria percepção de tempo histórico. Nesse sentido, também é necessário refletir sobre as implicações do uso digital para além dos computadores, problema apenas levemente pincelado na obra e que mereceria maior desenvolvimento.
Outra questão por realçar é a ideia de democratização do conhecimento associada à esfera digital. É inegável que a pesquisa historiográfica se torna mais fácil mediante o acesso instantâneo a acervos de qualquer parte do mundo. Contudo, não podemos nos desvencilhar do fato de que o acesso à internet é muito desigual no mundo – uma pessoa no Tibete não está necessariamente conectada da mesma forma que outra em Nova York -, e esse limite físico da conectividade (que também é uma forma de limite social) influencia a forma como nos relacionamos com a digitalidade, tornando inevitável a hierarquização da produção e absorção de conhecimento pela plataforma digital. Segundo o Center for World University Rankings, as 10 universidades que estão no topo das 100 melhores universidades do mundo são americanas ou britânicas. O impacto da diferença de acessibilidade aqui não podia ser mais explícito.
As questões apresentadas se agravam ainda mais por ser a internet extremamente amorfa e mutável. A rede mundial de computadores existe como um espaço que, apesar de análogo ao mundo físico (mundo real), se encontra em parte deslocado dele, e isso acaba por torná-la um espaço de experiência que também se encontra parcialmente deslocado do mundo físico. Como então apreender um mundo virtual dentro do mundo real? Como pensar essas espacialidades imateriais contidas dentro de outras espacialidades materialíssimas? Como pensar numa existência da temporalidade própria da digitalidade e o imediatismo que ela proporciona num mundo onde a acessibilidade não é a mesma em todos os lugares? Esses são, em parte, os dilemas que os historiadores enfrentarão na era digital, dentre muitos outros que provavelmente surgirão no futuro. Para sua discussão inicial, History in the Digital Age tem muito a oferecer.
Notas
1HGIS ou Sistema de Informações Histórico-Geográficas (tradução livre) é uma base digital de levantamento geográfico originalmente utilizada para fins econômicos, ambientais e militares, e que permite mapear mudanças geológicas e demográficas que um território sofreu. Atualmente vem sendo cada vez mais utilizada pelos historiadores.
2OCR ou Reconhecimento Ótico de Caracteres é uma tecnologia de pesquisa que utiliza símbolos pré-definidos com base em arquivos de imagem digitalizados, permitindo a edição de documentos digitalizados assim como a localização de palavras especificas dentro de documentos que não se originaram na plataforma digital.
3RED ou Database de Experiência de Leitura faz um levantamento das experiências de leitura dos britânicos, sejam em território nacional ou fora dele, com mais de 30 mil entradas que abrangem dados de 1450 a 1945.
Julia Zanardo – Universidade de São Paulo, São Paulo SP, Brasil. E-mail: juliazgrespan@gmail.com
WELLER, Toni (Org.). History in the Digital Age. Nova York: Routledge, 2013. Resenha de: ZANARDO, Julia. Desafios do historiador na Era Digital. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 303-307, set./dez., 2016.
Understanding European Movements – New social movements, global justice struggles, anti-austerity protest | Cristina Fominaya e Lurence Cox
Nos últimos anos os movimentos sociais ressurgiram não só mediaticamente, mas também enquanto fenómeno de estudo preponderante para entender as atuais dinâmicas das democracias europeias. Se estes frutos da Grande Recessão se difundiram globalmente, foi em muitos casos na Europa que se tornaram um ator central que começa agora a institucionalizar-se. Pela primeira vez, os movimentos sociais, que se vinham constituindo desde há décadas, abalaram os alicerces e pressupostos que sustinham as democracias europeias e as suas narrativas, questionando-as e propondo alternativas. Contudo, isto não significa que estes sejam unicamente fruto de um contexto específico, pelo contrário são agentes historicamente construídos.
Por esse motivo, o livro aqui em resenha é um contributo fundamental para entender as origens dos atuais movimentos. Aquando do ciclo de protestos globais de 2010/11, muitos dos textos publicados foram, e continuam a ser, marcados pela pressa inusitada de uma análise simplista, excessivamente descritiva e sem considerar as estruturas subjacentes à emergência desses mesmos movimentos, considerando-se apenas as causas imediatas dos mesmos. Em muitos casos, fizeram-no relevando uma rutura com os anteriores movimentos, sem ter em conta o seu contexto histórico de surgimento, redes nacionais e transnacionais de atores em que estão envolvidos, mas também culturas e repertórios de protesto. É por isso necessário procurar responder a estas questões colocando-as num continuum mais lato. Neste texto procurar-se-á olhar para este livro de uma perspetiva plural, questionando as pistas que lança nos atuais debates. Assim sendo, procura-se avaliar a obra perguntando até que ponto esta é capaz de evidenciar continuidades e ruturas. Para além disso, procurar-se-á lançar pistas de pesquisa tendo em conta o que este livro apresenta. Leia Mais
Assessing historical thinking & understanding: Innovative designs for new standard – VanSLEDRIGHT (CSS)
VanSLEDRIGHT, B. Assessing historical thinking & understanding: Innovative designs for new standards. New York, NY: Routledge, 2014. Resenha de: RUSSELL, Matthew. Canadian Social Studies, v.48, n.1, p.24-27, 2015.
History education researchers and history teachers have shown a growing interest in the teaching and learning of historical thinking. However, little has been said about how to assess disciplinary thinking in history. Bruce VanSledright, professor of history and social studies education at the University of North Carolina, Charlotte, attempts to fill this void with this timely and important book, entitled Assessing Historical Thinking & Understanding. Throughout the book, VanSledright proposes new methods of history assessment that utilize best teaching practices that are aligned with the American Common Core English Language Arts strand concerning history (Common Core, 2015). This book is relevant to the Canadian context as well.
Provincial curricula in Québec, British Columbia, Manitoba, and now Ontario emphasize historical thinking and as a result this book is a useful resource for teachers faced with teaching and assessing historical thinking.
The main is focus in this book is using diagnostic assessment in order to provide formative evidence of students’ understanding of historical thinking so that teachers may give feedback to the students, and adjust their teaching process accordingly. VanSledright has organized the book around the assessment triangle identified by Pellegrino, Chudowsky and Glasner (2001) where the three pillars of assessment are: a theoretical model of domain learning, tasks that allow for performance observation of learning goals, and the interpretation method for making inferences from student evidence. This part of the book is arguably the most important because it demonstrates a model for deep learning and understanding in history.
The strong emphasis on historical thinking in this book presupposes a familiarity with the processes and concepts of historical thinking. These concepts have become increasingly well known in the history education field through a number of publications (Lévesque, 2008; Lévesque, 2013; Seixas & Morton, 2013; VanSledright, 2010). VanSledright (2014) reviews these elements; however, the novice teacher or the history teacher without a strong background in the methodologies of the discipline may find his triangular model a roadblock to implementation. This is a valid concern because provincial curricula like Ontario in 2013 and Manitoba in 2014 have shifted towards historical thinking as underpinning learning in history (Government of Manitoba, 2014; Government of Ontario, 2013). Many history teachers lack the proper pedagogical skills in order to fully teach historical thinking in their classrooms. In Québec, where historical thinking has been part of the curriculum since 2007, many history teachers do not have formal training in history pedagogy (Éthier & Lefrançois, 2011). Also, when teachers have been progressively trained in disciplinary methods as history educators their experiences in teacher’s college often do not transfer to their own classrooms (Barton & Levstik, 2004). It would appear that there may be difficulty in implementing the assessment mind-shift when many teachers have not adopted the mindset that teaching historical thinking is, as VanSledright (2014) states, “sine qua non” (p. 6).
This book offers teachers an alternate method of assessing student knowledge of historical content, while also incorporating historical thinking concepts. Instead of the traditional multiple choice question, VanSledright (2014) proposes a weighted multiple choice model where students select the best answer from a list that has only one answer that is completely incorrect, but the other possibilities are somewhat correct (p. 59). In this model students would be awarded four points the most correct answer, two points for the next most compelling answer, and one point for the third. This model allows for questions that are at higher levels on Bloom’s Taxonomy and point to the complexity of the discipline itself. In weighted multiple choice questions the prompt is important because the purpose of the question is to assess historical understanding based on the procedures and cognitive strategies that the students have been using in class; for example: Based on the way the evidence we examined comes together, we can argue that Truman’s primary purpose for dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki was to a. avoid a costly and perilous ground invasion of the Japanese mainland.
- devastate the kamikaze morale and the arsenal of the Japanese air force.
- bring the immediate surrender of axis powers to allied forces.
- assert American military strength in the face of communist expansionism.
This model of multiple-choice test has the benefit of assessing deeper understanding and can be used in not only a formative manner because it gives information to the teacher about the level of student understanding, but also a summative way because the information could be used to make a judgment about a student’s achievement. While VanSledright is primarily concerned with the diagnostic assessment, the summative aspect is important to teachers who must report on student progress through grades. Here, the weighted multiple choice question could provide teachers an important summative tool that they may use, especially in programs of study that incorporate historical thinking within their standards.
The book also looks at other forms of assessment that are of interest to teachers. Question prompts with documents, interpretation essays, project presentations, verbal reports, and video analysis are considered as methods to corroborate information about student achievement. These other assessment strategies are open-ended and allow students to use evidence to substantiate and contextualize their interpretations.
VanSledright is writing from his position in the United States where accountability rules the day. He is guardedly optimistic that a change in assessment climate may occur: “In order for diagnostic assessment to operate in a large-scale testing culture, that culture in many different ways would need to redefine its attitudes and values regarding the purposes of assessing” (p.115). The first step in addressing this culture is in the classroom. Teachers need to take ownership of the curriculum and create a classroom assessment environment that promotes thinking and learning with students as partners in their learning (Brookhart, 2003). How might this look in a Canadian context? We can use the example of the imposition of the War Measures Act in order to see a weighted multiple-choice question in action. Primary source material is available through the Virtual Historian website; for example, a possible question might look like:
Based on the evidence we studied, we can argue that Trudeau’s primary purpose for invoking the War Measures Act was:
- to compensate for the inadequacy of the Quebec Police and the RCMP.
- to project power and strength to a scared population.
- because of the insufficient powers of the Criminal Code.
- because of the threat of a well-armed and co-ordinated FLQ.
A diagnostic question like this opens up a number of avenues for the teacher to take the learning.
First of all, it is an easy formative assessment in a ticket out the door scenario or lesson plenary. The question could be used prior to students beginning an argumentative piece because it would help the teacher understand the learning that took place during the lesson. As well, it could also help prepare students in developing a thesis statement or it could set up a discussion over whether or not the implementation of the War Measures Act was justified or not. This book offers ideas for the teacher that wishes to implement an assessment process that promotes deep learning of the discipline of history.
References
Barton, C. & Levstik, L. (2004). Teaching history for the common good. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Brookhart, S. (2003). Developing measurement theory for classroom assessment purposes and uses. Educational Measurement: Issues and Practice, 22(4), 5-12. doi:10.1111/j.1745- 3992.2003.tb00139.x
Common Core Standards Initiative. (2015). English language arts standards, history/social studies. Retrieved from: http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/RH/9-10/
Éthier, M-A., & Lefrançois, D. (2011). Learning and teaching history in Quebec: Assessment, context, outlook. In P. Clark (Ed.), New possibilities for the past: Shaping history education in Canada (pp. 325-343). Vancouver: University of British Columbia Press.
Lévesque, S. (2008). Thinking historically: Educating students for the 21st century. Toronto, ON: University of Toronto Press.
Lévesque, S. (2013). Enseigner la pensée historique. Vancouver, BC: Critical Thinking Consortium.
Lévesque, S. et al. (n.d.). The October Crisis, 1970 (single lesson). The Virtual Historian. Retrieved from: http://www.virtualhistorian.ca/october_crisis_single Ministry of Education, (2013). Canadian and world studies. Toronto, ON: Government of Ontario.
Ministry of Education and Advanced Learning. (2014). Grade 11 history of Canada: A foundation of learning. Retrieved from: www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/index.html
Ministère de l’éducation, loisir et sport. (2007). Québec education program. Quebec, QC: Gouvernment de Quebec
Pelligrino, J., Chudowsky, N., & Glaser, R. (Eds.) – National Research Council. (2001). Knowing what students know: The science and design of educational assessment. Washington, DC: National Academy Press.
Seixas, P. & Morton, (2013). The Big Six Historical Thinking Concepts. Toronto, ON: Nelson.
VanSledright, B. (2011). The challenge of rethinking history education: On practices, theories, and policy. New York, NY: Routledge.
VanSledright, B. (2014) Assessing historical thinking & understanding innovative designs for new standards. New York, NY: Routledge.
Matthew Russell – Faculty of Education. University of Ottawa.
mrussell@wqsb.qc.ca Acessar publicação original
[IF]
Teaching History Creatively – COOPER (PR)
COOPER, H. (Ed.). Teaching History Creatively. Londres: Routledge, 2013. 185p. Resenha de: SOLA BELLAS, M. Gil de. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, Murcia, p.133-137, 2015.
Teaching History Creatively es un libro orientado a los docentes cuya labor se desempeñaprincipalmente durante los primeros años de la educación escolar, más concretamente los últimosaños de Educación Infantil y toda la Educación Primaria, aunque también podría adaptarse a losniveles de enseñanza superiores. A través del mismo se pretende introducir a los docentes a laenseñanza de la historia de manera creativa a partir de la realización de investigaciones históricasaptas para el alumnado, de forma que se desarrolle su pensamiento histórico. Esto dotará alos alumnos de una serie de recursos esenciales para el adecuado aprendizaje de la historia, ypermitiendo que éstos realicen su propia representación del pasado yanalizar los hechos históricosdesde un punto de vista crítico.
Pensar históricamente implica, por lo tanto, poner en práctica una serie de procesos quesobrepasan lo meramente conceptual. Para lograr que los alumnos piensen históricamente se hade conseguir, entre otras cosas, el desarrollo de una conciencia histórica, fomentar la imaginacióny la creatividad que les permitirán elaborar hipótesis, y aprender a analizar e interpretar los hechoshistóricos. Todos estos factores son analizados y desarrollados en este libro mediante una seriede estudios de caso que permitirán no sólo comprobar cómo la enseñanza de la historia de formacreativa permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más significativo para el alumnadosino que además proporcionan ideas variadas y concretas sobre cómo poner en práctica este tipode enseñanza.
El libro se divide en tres grandes bloques, precedidos por un prólogo de Teresa Cremin, laeditora de la serie Learning to teach in Primary School, a la que pertenece este libro, y una breveintroducción del libro por parte de Hilary Cooper, editora del mismo.
En el prólogo del libro, Cremin indica que el alto nivel de especificidad del currículo en elReino Unido durante los últimos veinte años ha supuesto un desafío para los docentes que, pesea verse más limitados respecto a los contenidos, han buscado el desarrollo de nuevas estrategiasque buscan enseñar creativamente y para la creatividad. Asegura que enseñar creativamente esimportante para trabajar el currículo de forma innovadora, pero que además es importante enseñarpara la creatividad, de manera que se busque el desarrollo de la competencia creativa del alumno.
Para ella, la creatividad en el proceso enseñanza-aprendizaje se asocia con innovación, originalidad,propiedad y control, y asegura que esta serie de libros, que muestran principios de enseñanzabasados en investigaciones y no exclusivamente en principios teóricos, busca ofrecer apoyo a losdocentes que busquen desarrollar la creatividad y la curiosidad de sus alumnos.
Cooper, en su prefacio, indica que la intención de este libro es la de ofrecer pruebas de quela historia es una asignatura que merece la pena trabajar de forma creativa. Muestra cómo este libro es un trabajo oportuno, tanto por el momento en el que se está llevando a cabo, cuandose pide a los alumnos que sean capaces de elaborar un pensamiento histórico que les permitaobtener conclusiones y realizar argumentaciones entre otros aspectos, como por la importanciade la promoción de la creatividad en el aula de historia, puesto que ambos conceptos estáninterrelacionados.
La primera parte del libro, que lleva por título The essential integration of history and creativity,está dividido en dos capítulos, ambos elaborados por la didacta británica. En ellos se explica deforma más extensa por qué la creatividad y la historia son interdependientes.
En el primer capítulo, Why must teaching and learning in history be creative?, Cooper afirmaque es posible aprender de manera creativa y trabajando el currículo de forma transversal mientrasque se desarrollan además las inteligencias múltiples, y todo ello a partir de una serie de conceptosbásicos. En primer lugar se deben identificar áreas de investigación, definir problemas y elaborarpreguntas. Para ello es necesario desarrollar lo que ella llama “possibility thinking” o pensamientode posibilidad, definido como la “habilidad de considerar una serie de posibles respuestas operspectivas diferentes para responder a una pregunta, problema o situación”. Esto permite quese trabajen la imaginación y la empatía de los alumnos, que serán capaces de crear nuevospensamientos basándose en el comportamiento y reacciones que otras personas podrían tener.
Además se permite al alumnado correr riesgos basándose en sus conocimientos o en su falta de losmismos como forma de favorecer la tolerancia a la incertidumbre, y mejorando su autoconfianza. Otroaspecto indispensable es la colaboración para favorecer el aprendizaje compartido y las habilidadescomunicativas del alumnado no sólo a la hora de responder preguntas sino para elaborar preguntasnuevas que lleven a nuevos pensamientos y posibilidades de investigación. Todo esto estaráenfocado a una meta: los alumnos deberán llegar a conclusiones propias que tendrán más valorpor haber sido alcanzadas de forma activa y creativa, y que podrán posteriormente investigar. Porúltimo, Cooper menciona las ideas de Ryle, quien indica que la creatividad supone “saber cómo”,es decir, comprender que toda disciplina está basada en investigaciones previas, y “saber que”, esdecir, el conocimiento conceptual. Posteriormente, relaciona todos estos conceptos básicos coninvestigaciones recientes en el campo de la psicología y la neurociencia, y para finalizar el capítuloexplora los diferentes aspectos que muestran la relación existente entre dichos conceptos y laforma en la que los historiadores investigan y elaboran la historia, es decir, la manera en que loshistoriadores piensan la historia.
En el segundo capítulo, Supporting creative learning in history, la propia Cooper demuestra,a partir de las teorías constructivistas de autores como Piaget, Bruner y Vygotsky, que es posibleque los alumnos lleven a cabo investigaciones históricas elaboradas de la manera explicada en elcapítulo anterior. A continuación indica la forma en la que los docentes pueden crear un ambienteadecuado para favorecer la enseñanza creativa y la enseñanza para la creatividad en el aula a partirde una serie de valores y estrategias a la hora de orientar la sesión, organizar el espacio del aula y,en general, crear una atmósfera propicia para el fomento del aprendizaje creativo de la historia porparte del alumnado.
La segunda parte del libro, titulada Creative approaches to aspects of historical enquiry,consta de siete capítulos elaborados por distintos autores. En ellos se muestra cómo las teoríasconstructivistas del aprendizaje junto con la creatividad y la historia pueden favorecer el desarrollodel pensamiento investigador del alumnado, todo ello a partir de investigaciones llevadas a cabo porlos autores de cada capítulo.
El primer capítulo se titula Investigating activities using sources. Elaborado por Harnetty Whitehouse, propone diferentes actividades a partir de las cuales se busca el desarrollo delpensamiento histórico y creativo del alumnado de Educación Infantil y Primaria a partir de pequeñasinvestigaciones relacionadas con la historia de su entorno más próximo y en colaboración con laUniversidad de West of England, que proporciona no sólo materiales sino diferentes formas deabordar los contenidos a trabajar con los alumnos. Se trata de un ejemplo de la necesidad de lacolaboración y la planificación a la hora de elaborar actividades creativas si se quiere alcanzar un resultado satisfactorio. Como conclusión del capítulo, se muestra cómo se ha estimulado elinterés del alumnado y cómo es posible llevar a cabo actividades abiertas y creativas basadas enun currículo cuyos contenidos son muy específicos.
El título del segundo capítulo es Using archives creatively. Su autora, Sue Temple, muestraen él cómo el acceso a fuentes primarias reales permite al alumnado comprender la forma en quetrabajan y desarrollan teorías los historiadores. Generalmente, estas fuentes primarias suelen seredificios o artefactos, pero Temple sugiere actividades basadas en la utilización de documentosprimarios que se encuentran en los archivos municipales, como censos, mapas, diarios, imágeneso documentos sobre cualquier elemento del entorno del alumnado. Estos documentos deben ser,según ella, ricos, fiables y relevantes para el alumnado, y enfoca las actividades indicando a losalumnos que son “detectives de la historia”y que, basándose en esos documentos, deberán descubrirqué ocurrió a una persona o un lugar determinado. Se trata de actividades que implican de formaactiva al alumnado, que estimulan su interés y sobre todo desarrollan habilidades de investigación,pensamiento histórico y conciencia social y de pertenencia a un entorno concreto.
Moore, Houghton y Angus son los autores de Using artefacts and written sources creatively,el tercer capítulo de este segundo bloque. Proponen actividades en las que los alumnos debenrecrear la historia mediante la decodificación de fuentes escritas y de pequeñas investigacionessobre artefactos. Tanto los documentos escritos como los objetos permiten a los alumnos hacersepreguntas sobre el período de la historia que se trabaje. En primer lugar, a partir del objeto, deberánelaborar su propia versión de la historia utilizando las tecnologías de la información y la comunicación(TIC), y que luego se comparará con la realidad mediante una fuente escrita relativa a ese mismoperiodo. Esto permite a los alumnos no sólo desarrollar su capacidad creativa sino también sushabilidades de investigación, deduccion, análisis y comparación de información desde un punto devista crítico.
El cuarto capítulo es un estudio de caso denominado Creative approaches to time andchronology, y llevado a cabo por Moore, Angus, Brady, Bates y Murgatroyd para desarrollarel pensamiento cronológico del alumnado a partir de objetos, la vida de personas o momentosimportantes de la historia. Para los autores de este capítulo, ser capaces de pensar cronológicamenteno consiste únicamente en memorizar fechas y nombres, sino que implica la habilidad de secuenciareventos, relacionarlos y establecer comparaciones entre ellos, de manera que no sólo sean hechosaislados sino conceptos que se interrelacionan y que dependen unos de otros. Para ello, sugierenla elaboración de diferentes líneas del tiempo en las que se secuencien, por ejemplo, palabras devocabulario específico, imágenes, objetos, etc., además de otro tipo de actividades basadas en lainvestigación sobre un tema concreto y su desarrollo a través de la historia, como la escritura.
Jon Nichol es el autor de Creativity and historical investigation: pupils in role as historydetectives (proto-historians) and as historical agent, el siguiente capítulo de la segunda parte dellibro, y cuya investigación propone, como el título indica, el uso del rol de detective por parte de losalumnos para resolver una serie de misterios basados en determinados momentos de la historia.
El papel de detective-historiador, semejante al desarrollado por Temple en el segundo capítulo deeste mismo bloque, permite a los alumnos investigar la historia a partir de preguntas relevantespara obtener respuestas que les acerquen a la resolución del misterio propuesto por el docente.
Las actividades propuestas permiten abordar de forma creativa y activa conceptos opuestos peropertenecientes al mismo periodo de la historia, como son cristianismo e islam, jihad y cruzada,migración y asentamientos, etc.
El sexto estudio de caso, llevado a cabo por Dodwell y titulado Using creative drama approachesfor the teaching of history, utiliza el teatro y la narración de historias, mitos y leyendas propiasde su entorno más próximo para fomentar el pensamiento creativo y la curiosidad del alumnado.
Basándose en estas historias, se proponen diversas actividades de creación de obras de teatro,narración, improvisación, cambio de roles, danza y canto…, que los alumnos deberán realizar, y enlas que la investigación previa y el trabajo cooperativo son esenciales tanto para la motivación delalumnado por los relatos pertenecientes al folklore de lugares próximos y lejanos como para que la adquisición de contenidos históricos se produzca de forma adecuada. De esta manera se otorgavalor histórico a las narraciones propias de la cultura de cada lugar, teniendo presente que se hacreado o adaptado una obra ficticia que tiene como base en realidades históricas concretasEl último capítulo del segundo bloque se titula Creativity, connectivity and interpretation. Suautor, Jon Nichol, se centra en el desarrollo de la capacidad de interpretación de la historia por partedel alumnado como habilidad indispensable para comprender la historia y desarrollar el pensamientohistórico y creativo. Las actividades propuestas están basadas en pequeñas investigacioneshistóricas en las que los alumnos deben actuar como historiadores: analizar documentos oartefactos históricos, investigar acerca del periodo histórico en el que se encuentran, realizar unareconstrucción cronológica de los hechos que se extraen de dichos documentos o artefactos y apartir de la misma elaborar una interpretación de la historia relativa al material analizado. En este tipode actividades, la capacidad del docente para conectar de forma creativa los contenidos históricoscon la actividad es esencial, puesto que debe proporcionar a los alumnos el material necesario parala investigación y orientarlos en su trabajo, pero las conclusiones y las interpretaciones han de serrealizadas exclusivamente por el alumnado.
Finalmente, la tercera parte del libro ofrece, desde una perspectiva más amplia, la manerade introducir en el aula de Educación Primaria la enseñanza creativa de la historia. Este tercerúltimo bloque se titula A broader perspective of creativity and history, y se divide en tres capítulos.
En el primero, titulado Creative exploration of local, national and global link, Harnett y Whitehousedemuestran como puede trabajarse el contenido histórico desde lo local a lo global de maneracreativa a partir de experiencias significativas para el alumnado que puedan relacionarse con lahistoria de la localidad, así como del país y del continente en el que se encuentran, por ejemploa partir de la vida de un personaje local, de los alumnos y sus familias, de nombres de calles, deobjetos…, que se relacionarán con entornos cada vez más amplios tanto en el tiempo como en elespacio. Este tipo de actividades no sólo permite desarrollar el pensamiento histórico y espacial delalumnado de una manera motivadora, sino que además les insta a buscar relaciones y favorece eldesarrollo del pensamiento cronológico y analítico.
En el segundo capítulo, Creative approaches to whole school curriculum planning for history,Maginn describe como trabajar creativamente el currículo de historia de forma transversal a travésde la diversidad cultural del centro escolar. En los primeros años, la historia se trabaja de formamanipulativa, a través de artefactos que permitan al alumnado elaborar sus propias hipótesis sobreel pasado. Conforme avanzan en la etapa, las investiaciones serán más analíticas y concretas. Estopermite a los alumnos de los distintos niveles no sólo conocer las diferentes culturas que les rodean,sino además establecer relaciones, analizar las causas y efectos de la diversidad cultural en suentorno próximo, y adquirir conceptos que van más allá de lo puramente histórico.
El último capítulo de la tercera parte y, por lo tanto, del libro, se titula Awakening creativity. Enél, Cooper narra la historia de Sybill Marshall, profesora en un pueblo inglés en la década de 1950,y de cómo ésta desarrolló su propio pensamiento creativo y el de sus alumnos a través de la historialocal. Cooper asegura que fue esta historia la que le inspiró a trabajar en esta dirección y que, portanto, es una forma idónea para concluir este libro.
En definitiva, estamos ante una herramienta muy útil, cuyos estudios de caso pueden sermodificados, adaptados y puestos en práctica en cualquier etapa del sistema educativo español.
Las breves explicaciones teóricas permiten que los docentes menos familiarizados con el temase introduzcan en el mismo, obteniendo además nuevas fuentes en las que apoyarse en caso denecesitar más información. Las actividades propuestas son originales, creativas y breves, por loque pueden ser puestas en práctica en cualquier momento del curso escolar, aunque, como biendicen todos los autores que colaboran en el libro, la preparación por parte del docente es esencial ygeneralmente supone meses de trabajo previo, por lo que no contiene actividades que puedan serllevadas a cabo de forma improvisada en el aula. Desde nuestro punto de vista, ofrece situacionesmuy interesantes que, realizadas de forma adecuada, permiten explorar la historia de una maneradiferente y permitiendo que el alumnado sea una parte activa del proceso de enseñanza–aprendizaje. Estas mismas actividades pueden relacionarse unas con otras o trabajarse de forma aislada, peroel aprendizaje final será, en cualquier caso, más significativo que si se centra únicamente en elaspecto memorístico.
Marta Gil de Sola BellasUniversidad de MurciaAcessar publicação original
[IF]
The Public History Reader – KEAN; MARTIN (Rg)
KEAN, Hilda; MARTIN, Paul (Org). The Public History Reader. London / New York: Routledge, 2013. Resenha de: SANTHIAGO, Ricardo. A história pública e suas vertentes em The Public History Reader. Resgate, v.22, n.28, p.103-106, jul./dez., 2014.
Um “reader” pode ser tão somente aquilo que a adoção deste termo exige que ele seja: uma antologia, um compêndio, uma reunião de trabalhos escritos por uma variedade de autores. Mas um “reader” de certa área de conhecimento, propondo-se como tal, pode ter também – e desejavelmente tem – um caráter pedagógico valioso: o de compilar aquilo que se produziu de mais significativo nessa área, embrulhando esse conteúdo numa obra única, amplamente acessível, que contribui, para o bem ou para o mal, para a fixação de um cânone.
Essa é uma tarefa um tanto quanto ingrata – pelo menos se levada a cabo com responsabilidade. Ela compreende percorrer criticamente a vastidão de toda uma literatura, decompondo-a e recompondo-a de modo a decifrar certa tradição intelectual e propor trilhas de compreensão a serem seguidas por leitores nem sempre despertos para o nível de interpretação subjacente a elementos que se apresentam como editoriais. Ela comporta, ainda, um encargo nada modesto: guiar os que doravante se dirigirão à antologia não para se introduzirem a um corpo de conhecimento, ou para complementá-lo, mas para substituir a leitura integral de um número colossal de obras. Nesse sentido, um bom reader de uma área teria uma espécie de função Leia Mais
Financing Regional Growth and the Inter-American Development Bank: the case of Argentina |
A guinada neoliberal do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) nos anos noventa alterou a sua missão histórica de ajudar na promoção do desenvolvimento definido em termos estruturais-cepalinos, centrado na estratégia de industrialização por substituição de importações, para a financeirização do desenvolvimento e a integração à economia global. Nas relações entre BID e Argentina, a nova missão se manifestou de forma mais patente no regime de conversibilidade (paridade entre o peso argentino e o dólar). Em termos empíricos, o autor se propôs a estudar o envolvimento do BID em dois casos: na consolidação e no declínio do regime de conversibilidade.
A maioria dos trabalhos sobre as relações entre bancos de desenvolvimento e seus prestatários são construídos em uma perspectiva racionalista (com pressupostos realistas ou institucionais liberais) e na Economia Política Internacional mainstream que implicam algumas limitações como uma leitura a-histórica, naturalizada e universalizante do mercado, a separação artificial de doméstico e internacional, a dissociação entre o político e o econômico e a oposição entre as explicações centradas na eficiência e racionalidade e aquelas centradas na dinâmica própria da multilateralidade. Leia Mais
Theories of Value from Adam Smith to Piero Sraffa | Ajit Sinha
A teoria do valor é uma constante na ciência econômica que permite relacionar boa parte dos autores que têm preocupações de ordem abstrata na construção da disciplina de economia. A predominância contemporânea da teoria do valor utilidade não significa que o debate em torno deste tema tenha terminado, mas apenas que em nosso tempo, o ensino de economia raramente recupera as controvérsias em torno do núcleo duro de nossa disciplina. A área de economia política, por outro lado, sempre se preocupa com a questão. E ela é um ponto de partida segura para os exercícios de história do pensamento econômico. Leia Mais
Space and Time in Mediterranean Prehistory – SOUVATZI; HADJI (DP)
SOUVATZI, Stella; HADJI, Athena (Eds.). Space and Time in Mediterranean Prehistory (Routledge Studies in Archaeology). London: Routledge, 2014. 304p. Resenha de: SRAKA, Marko. Documenta Praehistorica, v.41, 2014.
The collection of papers Space and Time in Mediterranean Prehistory is an outcome of the collaboration between Stella Souvatzi, who regularly writes on spatiality within social archaeological themes such as households, as in her recent book A Social Archaeology of Households in Neolithic Greece, and Athena Hadji, whose Berkeley PhD thesis was entitled on The Construction of Time in Aegean Archaeology.
The editors invited researchers from a predominantly interpretative (post-processual) archaeological tradition who deal with Mediterranean prehistory and included a few selected revised contributions to the similarly named session at the 16th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists in the Hague. The collection of papers contains 15 chapters by archaeologists, anthropologists and an architect.
This timely volume is an anticipated continuation of the critique of space and time as passive and homogenous backdrops to human life, and treats them as socially constructed, as well as inseparable from human lives and experience. It not only restates the urgency of a theoretical discussion of the conceptualisation of space and time in archaeology, but attempts, perhaps for the first time in archaeology, to treat them as inseparable and as essential to understanding past social relations at different scales. The volume is also innovative in its focus on the whole of the prehistoric Mediterranean, which is too often fragmented in narratives along national, linguistic, academic and other boundaries. The volume stems from
“… the ever-growing interest in space and spatiality across the social sciences; the comparative neglect of time and temporality; the lack in the existing literature of an explicit and balanced focus on both space and time; and the large amount of new information coming from the prehistoric Mediterranean”, which serves “… as an empirical archaeological background for the application and detailed analysis” (Preface, p. xv).
The first chapter, written by the editors, serves as a theoretical introduction to the volume and reviews some focal points of research into Mediterranean prehistory, which is then further developed in the following chapter by Robert Chapman. Although not complete in its coverage of the theoretical discussions, the editors’ introduction separately presents the conceptualisation of both space and time first in the social sciences in general and then within theoretical archaeology. The volume is an engaging and diverse collection of papers, and the reader can find plenty of useful information and thought-provoking ideas. The editors point to diverse and interesting topics and concepts applied to Mediterranean prehistory in this volume (p. 19–20): houses, households, settlements and communities (Stavrides, Harkness, Watkins, Düring, Marketou, Márquez- Romero & Jiménez-Jáimez and Athanasiou), urban space and planning (Athanasiou), architecture and the built environment (Harkness, Meegan and Márquez- Romero & Jiménez-Jáimez), the social production of space and the dialectical relationship between people and space (Stavrides), embodied space, movement (Harkness, Meegan and Skeates), cultural diversity and differences, social transitions, meaning, identity and memory (Skeates, Miller Bonney, Marketou, Murrieta-Flores and Yasur-Landau and Cline), the concepts of time in terms of social memory, identity and continuity, the transmission of social knowledge and reproduction of architecture (Meegan, Watkins, Düring, Miller Bonney Murrieta-Flores, Márquez- Romero & Jiménez-Jáimez and Yasur-Landau & Cline) as well as residential mobility, discontinuity, abandonment and destruction (Skeates and Marketou).
Many contributors deal with similar topics and concepts, but approach them from different spatio-temporal scales. The editors (p. 19) recognise the importance of time perspectivism and of
“… a multiscalar approach to both space and time that will explore linkages between a whole range of spatial an temporal relationships”, critique the overuse of the large-scale, long-term approach and express the “… lack of a sense of short-term and small-scale social action and the bewildering and contradictory complexity of everyday lived reality”.
However, many contributors retain the large-scale, long-term approach, even if enriched by perspectives offered by local contexts, by selecting case studies from across the Mediterranean region or the millennia-long periods of prehistory (Watkins, Düring, Bonney). Some articles are more descriptive (Marketou, Yasur-Landau & Cline) with the addition, of course, of a theoretical commentary.
A critical weakness of the volume is the lack of more contributions from archaeologists more affiliated with what it is known as archaeological science, since space and time are central concepts for archaeology in general. The volume would certainly benefit from being more of a bridge between theory and practice in archaeology. When discussing time, the authors, informed of the development in anthropological theory, go further than most other theoreticians; for example, they present a critique of the established dichotomy of linear versus cyclical time, one identified with Western thought and the other with ‘traditional’ or ‘primitive’ societies, as well as the dichotomy of objective and subjective time (p. 6). But they do not problematise the related dichotomy of abstract and substantial time or measured time (chronology) and experienced time, which was established by proponents of interpretative archaeology Michael Shanks and Christopher Tilley in their book Social Theory and Archaeology (Albuquerque: University of New Mexico Press) and which continues to polarise the treatment of time and perpetuates “The Two Cultures” (cf. C. P. Snow’s 1959 lecture) divide in archaeology. Substantial versus abstract time is of course a valid observation, but it tends to alienate proponents of social archaeology on the one and archaeological science on the other hand. The editors as well as the contributors (with a couple of exceptions: Skeates, Murrieta-Flores) do not attempt to bridge this gap. Most of the articles are written from a phenomenological perspective, which is not contradictory to, and would benefit from, ‘scientific’ approaches, such as a variety of spatial GIS analyses and temporal Bayesian modelling of calendar chronologies.
Nevertheless, this collection of papers is innovative in that it specifically tries to link the top-down with the bottom-up, the large-scale with the small-scale, the long-term with short-term, and most importantly, structure with agency. As expected, the contributors achieve this with varying success. The diversity of themes and views conveyed by individual papers preclude further summary in the context of this short review. We would, however, like to highlight the excellent paper by Patricia Murrieta-Flores (chapter 11). The author of the paper Space and Temporality in Herding Societies (p. 196-213) discusses prehistoric pastoralism and transhumance since the Chalcolithic in the Sierra Morena mountain range of the Iberian Peninsula and integrates space and time through GIS analyses. Time is introduced into the spatial GIS analysis with the help of cost-time models and by accounting for the different types of pasture available during different seasons. The analyses show patterns of regular distances between settlements in travel time. Furthermore, by mapping megaliths, she is able to show that they are located along preferred herding routes. According to the author, “For herders, to travel through the landscape is also to travel through time, as movement resonates with the seasonal changes of the landscape”.
Furthermore, “Through time, the monuments as works of the ancestors might have served as material reminders of the deep past, of a temporality that extended beyond the seasonal cycle, where every movement acquired time depth, becoming the reiteration of the actual movements of the ancestors” (p. 209). The monuments along the herding routes thus connect the immediate here-and-now experience of the traveling herder with social memory, the deep past and the ancestors, who perhaps tracked the same routes. In a way, the herder travels both through space and time. We believe this paper is the closest to the ideal to which the volume aspires, namely the multiscalar integration of spacetime with social archaeology, and goes a step further with the much needed bridging of the divide between social archaeology and archaeological science.
In the last chapter, which serves as a discussion (p.262–291), Stephanie Koerner provides a useful commentary on the major themes and concepts in the volume and ‘contextualises’ the volume within the framework of a broader interdisciplinary discourse of space and time and how these relate to concepts such as structure and agency. The discussion is a challenging yet compelling philosophical text, which adds the finishing touches to the whole volume by stressing the relevance of issues explored in the volume not just for archaeology, but for the social sciences in general. Space and Time in Mediterranean Prehistory is an exciting and innovative collection of papers that should be read by students and researchers interested in the prehistoric Mediterranean, conceptualisations of space and time and those interested in social archaeology and anthropology in general.
Marko Sraka – University of Ljubljana
[IF]The Public History Reader – KEAN; KEAN (PHR)
KEAN, Hilda; MARTIN, Paul (Ed). The Public History Reader. Oxford and New York: Routledge, 2013. Resenha de: FOSTER, Meg. Public History Review, v.21, p.102-104, 2014.
When confronted with the question, ‘what is public history?” many students and practitioners alike find themselves struggling for answers. Is it ‘the employment of historians and historical method outside of academia’, as Robert Kelley famously declared in The Public Historian? Perhaps it describes ‘practices that communicate and engage with history in public areas’, as Paul Ashton and Paula Hamilton assert in their book History at The Crossroads? Following Raphael Samuel, does it refer to an ever changing, social process, the work at any one time of ‘a thousand different hands?’ As Paul Ashton has written in the Public History Review (2010), ‘Public history is an elastic, nuanced and contentious term. Its meaning has changed over time and across cultures in different local, regional, national and international contexts.’ Even the leading body of public history in America, the National Council of Public History (NCPH), has been forced to confront this issue. In their introduction to the subject, ‘What is Public History?’, the NCPH argues that the most apt definition is perhaps the simplest; people should know public history when they see it. For students who are relatively unexposed to the area, and for public historians who are faced with the ever-changing contours of their field, even this description is inadequate. Hilda Kean and Paul Martin’s recent collection The Public History Reader helps to address this uncertainty. In an accessible and engaging way, this book shows readers some of public history’s many faces. Leia Mais
History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice / Berber Bervernage
O professor Berber Bevernage atua na Universidade de Gent, Bélgica, e participa do grupo “TAPAS – Thinking about the past”, localizado na mesma universidade. O trabalho resenhado é o fruto de sua tese de doutorado e traz consigo discussões basilares para sociedades que passaram por períodos de regimes ditatoriais ou atos de extrema violência protagonizados pelo Estado. A principal fonte de análise do autor são os resultados das comissões da verdade de três países: Argentina, África do Sul e Serra Leoa. Bevernage defenderá a tese de que a compreensão tradicionalmente defendida pela historiografia ocidental sobre tempo e história não pode ser aplicada às vítimas de violência promovida por esses Estados.
Logo no prefácio de sua obra, Bevernage nos apresenta as suas teses principais: primeira, “that the way one delas with historical injustice and the ethics of history is strongly dependente on the way one conceives of historical time”; segunda, “that the concept of time traditionally used by historians are structurally more compatible with the perpetrators’ than the victims’ point of view” e, terceira, “that the breaking with this structural bias demands a fundamental rethinking of the dominant modern notions of history and historical time” (BEVERNAGE, p. 9, 2012). De acordo com essas teses, portanto, será perseguida, durante todo o restante do trabalho, a maneira com a qual as vítimas entendem o passado que lhes é traumático. Essa maneira de compreender o tempo e a história específica das vítimas se contrapõe, portanto àquela tradicionalmente aplicada pela historiografia moderna ocidental, a qual, de maneira oposta, se adequa muito melhor ao ponto de vista dos perpetradores da violência. Bevernage propõe, pois, outra maneira de lidar com as noções de tempo e história dessas vítimas.
O livro está dividido em duas partes. Na primeira, encontra-se a discussão acerca dos eventos traumáticos passados pelas vítimas nos três países referenciados. No final desta, o autor apresenta conclusões preliminares que apontam para a necessidade de se repensar a maneira com a qual se tem tratado o tempo e a história para vítimas de eventos traumáticos protagonizados pelo Estado. Na segunda, Bevernage se debruça sobre a discussão teórica que dará cabo de sua análise dos casos desses três países. O autor, então, perpassa uma série de tradições historiográficas da teoria da história e aponta o pensamento do filósofo francês Jacques Derrida como o mais apto a ser aplicado à noção de tempo dessas vítimas. Ao término dessa segunda parte, igualmente, Bevernage apresenta as suas conclusões acerca de todo o processo, deixando clara, não obstante, a sua opinião sobre o que deveria ser feito com relação ao passado traumático nesses três casos analisados. Exatamente por isso, ele afirma ainda no prefácio, o seu trabalho trazer uma contribuição à teoria da história, porém, uma contribuição “não-ortodoxa”. Sua contribuição é assim qualificada, pois:
Unorthodox because it does not focus on professional historiography; it does not go into questions of truth, objectivity, or narrativism; but mostly, this book differs from conventional philosophy of history because it tries to draw the attention to some long-neglected ‘big questions’ about the historical condition – questions about historical time, the unity of history, and the ontological status of present and past – and because it is openly programmatic in its plea for a new historical ethics [2].
Será, portanto, essa “nova ética histórica” o foco das discussões de Bevernage em sua obra. Qual seria a melhor teoria, pois, para se analisar o tempo e a história presente nas narrativas das vítimas da violência estatal nesses três casos analisados? Uma vez analisadas “corretamente”, haveria alguma maneira de tratá-las de acordo com os seus pedidos, mantendo a paz e a integridade de todos? Ou o simples ato de ouvir os seus anseios da maneira que eles querem já poria a sociedade em uma situação de instabilidade política? Na introdução, o autor apresenta o pensamento de dois autores consagrados na historiografia ocidental, Nietzsche e Benjamin, contrapondo seus pensamentos. Enquanto para o primeiro, “para se viver torna-se necessário esquecer”, para o segundo, as injustiças históricas cometidas no passado devem ser redirecionadas para o presente, reorientando-o. Segundo Bevernage, a tradição moderna ocidental teria se afiliado muito mais ao pensamento nietzcheniano, tendo como consequência disso o foco numa ética histórica muito “presentista”. O autor faz dialogar, portanto, o “tempo da história” com o “tempo da jurisdição”, trazendo para o centro da discussão a possibilidade de serem julgados crimes cometidos em um passado muito longínquo. Dentro dessa lógica, pois, o “tempo da história” aparece como aquele responsável por apresentar o tempo como algo “reversível”, enquanto o “tempo da jurisdição” o apresenta de maneira “irreversível”. Para as vítimas, contudo, conforme Bevernage apresenta na fala de um sobrevivente de Auschwitz, essa noção de tempo “irreversível” é “inaceitável” [3].
A partir dessa discussão aparentemente dicotômica e sem saída, Bevernage apresenta a ideia de “tempo irrevogável” (“notion of irrevocable”) enquanto possibilidade de saída para tal quimera, expressa no dilema sobre o que fazer com os crimes históricos ocorridos nos países que sofreram atos de violência protagonizados pelo Estado, uma vez que a “justiça transicional” deve decidir sobre algo extremamente delicado:
(…) to repair historical injustice and thereby risk social dissent, destabilization, and return to violence; or to aim at a democratic and peaceful present and future to the ‘disadvantage’ of the victims of a grim past? [4].
Quando se trata de atos de violência cometidos pelo Estado, contudo, tem sido muito mais comum o esquecimento. Para as vítimas, entretanto, a situação tem se mostrado completamente diferente. As vítimas não esquecem. Pelo contrário, para elas o passado continua presente, atormentando-as, clamando por justiça, mesmo que ela cause desestabilização na “paz social”. A partir dos anos 1980 essa situação tem mudado um pouco. Conforme apresenta Bevernage, as comissões da verdade trazem consigo esse dilema da justiça transicional e, a partir da análise dos resultados obtidos pelas comissões nos três países supracitados, Bevernage busca por uma saída satisfatória para o tormento que o passado causa na vida das vítimas, mesmo o Estado tendo oficializado tal evento traumático enquanto “superado”. A história, portanto, apresenta a qualidade de “performática”, pois: “it can also produce substantial socio-political effects and that, to some extent, it can bring into being the state of affairs it pretends merely to describe” [5]
O primeiro caso analisado, no primeiro capítulo da Parte I do livro, é o das “Madres de Plaza de Mayo”, na Argentina, as quais clamam por justiça em nome de seus filhos, os “desaparecidos”. Esse grupo de vítimas levanta uma série de conceitos problemáticos acerca da ditadura militar na Argentina, os quais são facilmente relacionados à ideia de “tempo irrevogável” defendida por Bevernage. Enquanto o governo argentino lançou o “Nunca Más” como slogan para o esquecimento e superação da violência protagonizada pelo Estado durante tal período, as “Madres” lançaram o “Aparición con vida”, opondo-se claramente à ideia de esquecimento em prol da superação. Para elas, portanto, não importa se os seus filhos estão realmente mortos ou são “desaparecidos”. Elas clamam por justiça, para que o Estado prenda os perpetradores da violência que matou os seus filhos, não pelo esquecimento ou pela superação. A força do debate levantado pelas “Madres” é, portanto, colocada por Bevernage como exemplar de um grupo de vítimas que se opõe declaradamente ao conceito de tempo e história “irreversíveis”. Para Bevernage, apenas o “tempo irrevogável” é capaz de compreender tais anseios trazidos por estas mães [6].
No capítulo seguinte, Bervernage apresenta o caso da África do Sul e do “Apartheid”. Algo semelhante ao caso das “Madres” se apresenta aqui: apesar de a comissão da verdade trazer à tona crimes de violação aos direitos humanos, a grande maioria desses casos foi engavetada em nome da “paz social”. Para um grupo específico de vítimas, contudo, os “Khulumani”, o passado não deve ser esquecido dessa maneira. Independente do que possa ter ocorrido oficialmente com a chegada de Nelson Mandela ao poder, uma quebra maior com o legado do “Apartheid” ainda é, para esse grupo, um projeto de longa duração. Dessa forma, de maneira semelhante ao que se observou na Argentina, as narrativas das vítimas do “Apartheid” na África do Sul precisam ser analisadas a partir da ideia de “tempo irrevogável”, pois eles chamam por uma justiça que, para a justiça transicional oferecer, seria necessário resolver àquele dilema apresentado anteriormente, o que colocaria em cheque a paz social, uma vez que o enfrentamento do passado, no presente, viria em termos legais e criminais, não apenas sociais.
O terceiro caso, de Serra Leoa, analisado no capítulo seguinte, apresenta conclusões semelhantes com relação ao “tempo irrevogável”. Para Bevernage, a ideia de “tempo irreversível”, amplamente divulgada pelas comissões da verdade nesses três países, tem por principal objetivo manter a integridade nacional, manter o povo unido em prol de algo menos catastrófico quanto encarar o passado traumático de frente, algo preconizado pelo “tempo irrevogável”. Não se trata de resolver os problemas do passado, no presente, como se eles pudessem ser apagados. Trata-se, isso sim, de reconhecer que, para as vítimas, pedir para simplesmente “esquecer” é, tanto cruel, quanto irreal, pois elas não esquecem e, conforme o autor demonstra nesses capítulos, elas criam grupos sociais e se articulam em prol de mostrar para o Estado: “nós não esquecemos. Nós queremos justiça”.
As conclusões preliminares às quais o autor chega ao final da primeira parte de seu livro trazem tais questões ao foco do debate. As “políticas temporais” (“politics of time”) promovidas pelas comissões da verdade nesses três casos voltam-se para a história, não em prol de elaborar uma continuidade temporal capaz de sanar as insatisfações e os traumas das vítimas, mas sim em prol de uma descontinuidade temporal, sendo esta responsável por deixar clara a necessidade de elaboração de uma política de tempo “irreversível”. Esquecer para superar. O esquecimento vem, ainda, aliado à ideia de “perdão”. Todos esses argumentos promovidos por tal “política temporal” tem por objetivo central a manutenção de uma nação coesa, evitando trazer para si as polêmicas de um enfrentamento do passado traumático em termos legais e jurídicos. O ato de posicionar os atos violentos no “passado” elabora uma cronologia responsável por alocar as vítimas em um tempo que não lhes pertence mais, tornando-as antiquadas e rancorosas, caso queiram clamar por justiça [7].
As experiências delas, portanto, ainda substantivas, sensíveis e vivas, são transformadas em cronologia pela justiça transicional baseada na ideia de tempo “irreversível”. Para as vítimas, o passado ainda é um espectro, um fantasma, algo que ronda as suas consciências no presente e não pode simplesmente ser “exorcizado” pelo Estado e suas políticas temporais baseadas neste outro modelo de compreensão do tempo.
Na segunda parte de seu livro, Bevernage inicia a busca por algum modelo temporal que se adequasse ao das vítimas desses três exemplos elencados. O autor dialoga com o tempo newtoniano, com o tempo formulado pelo historicismo, pelo modernismo e pelo secularismo, para chegar à conclusão inicial de que, nenhuma delas, apesar de significativas para a formação do que a historiografia ocidental considera tempo e história, dialoga com o passado “aterrorizante” das vítimas (BEVERNAGE:108, 2012). Não obstante, tornasse necessário frisar que este modelo temporal e de história formulado pela modernidade, no qual o autor afirma a historiografia ocidental basear-se, precisar ser repensado, caso desejemos trazer para a discussão os passados traumáticos e atormentadores das vítimas de violências causadas pelo Estado. A isso, Bevernage nomeará de “cronosofia” (“chronosophy”): “we need to rethink historical time and look for the possibility of na alternative chronosophy” [8].
Em seguida, ainda em busca de alguma teoria que abarque esta outra “cronosofia” necessária, Bevernage dialoga com autores como Fernand Braudel, Collingwood, Paul Ricoeur, Ernst Bloch, Louis Althusser. De todos esses autores, Bevernage destaca que houve, durante todo o século XX, a tentativa de discutir o tempo e a história sob vieses capazes de trazerem consigo tempos plurais e polirrítmicos, porém, nenhum deles quebrou tão fortemente com a tradição temporal marxista e hegeliana como o filósofo francês Jacques Derrida:
What we need and what is mostly lacking in the alternative chronosophies discussed in this chapter, therefore, is an explicit deconstruction of any notion of a time that acts as a container time and pretends to be the measure of all other times. Who can we better turn to for this type of deconstruction job than the French philosopher Jacques Derrida? [9]
Derrida aparece, na fala de Bevernage, como o teórico mais apropriado para lidar com o tempo aterrorizante das vítimas porque ele, mesmo sendo assumidamente marxista, foi capaz de assumir e trazer para a sua “cronosofia” os “espectros” temporais, aos quais o próprio Marx faz referência em muitas de suas obras. Para o autor, portanto, Derrida trará para a sua “cronosofia” a máxima shakespeariana “time is out of joint” (“o tempo está fora de eixo”) em prol de elaborar uma teoria temporal capaz de trazer para si os espectros e os presentes não desejados, uma vez que deveriam já ter se tornado passado [10].
Já próximo às conclusões final do livro, Bevernage associa tal teoria ao tratamento do luto e da melancolia. Uma vez que às vítimas das violências tratadas nos capítulos anteriores foi negado o tratamento social do luto, Bevernage aponta que, ao tratá-las dessa forma, o Estado não estaria sanando um problema, mas sim, criando um ainda maior – como é o caso das “Madres” que, independente do tempo passado desde o desaparecimento de seus filhos ainda os qualificam como “desaparecidos”, não como “mortos” [11]. O autor, então, chega à conclusão de que, o modo com o qual se tem tratado o luto nas sociedades modernas tem-se mostrado ineficaz para com a sua superação. As vítimas precisam senti-lo e, não apenas isso, elas precisam ver medidas serem tomadas, legalmente, em prol de seu sentimento de “passado-presente”, em nome desse espectro que os ronda, uma vez que não se trata de uma questão meramente pessoal, mas de uma questão de violência causada pelo próprio Estado. Bevernage toma, mais uma vez, o exemplo das “Madres” para ilustrar tal necessidade, quando afirma: “this, I think, is how we have to interpret the Madres’ claim that although more than thirty years of calendar time have passed since their children were disappeared, they do not consider them to belong to the past” [12].
Às conclusões finais às quais Bevernage chega podem ser destacadas da seguinte maneira: enquanto as comissões da verdade, por meio da ação da justiça transicional, trazem à tona o tempo espectral e aterrorizante das vítimas, esse tempo no qual, segundo o autor, a teoria mais adequada para analisar é a de Derrida, elas nada podem intervir, uma vez que, ao apoiarem-se nos discursos históricos acadêmicos sobre tempo e história, elas não encontram respaldo para tal. O tempo e história nas narrativas das vítimas, então, encontram-se em uma situação problemática: apesar de o próprio Estado trazer à tona as suas falas a partir das comissões da verdade, nada é feito, pois a sua “cronosofia” não é vista enquanto possível, dentro da tradição historiográfica ocidental.
Bevernage, contudo, não se abstém de opinar neste quesito. Após toda a pesquisa, ele afirma, com relação à teoria do tempo irrevogável e às políticas temporais, que não é de sua alçada afirmar que se deva fazer justiça a todo e qualquer. Essa, de acordo com o autor, é uma decisão que não pode ser tomada fora do contexto específico no qual a violência efetivamente aconteceu “deciding how exactly to deal with the past after political transition and/or violent conflict will remain a socio-political issue that cannot be solved a priori or out of context”, às vezes, a “besta do passado” é simplesmente forte demais para ser olhada diretamente [13]. Para tanto, pois, Bevernage afirma que o dilema da justiça transicional, uma vez considerado o tempo irrevogável, deve permanecer enquanto um “dilema político”, isto é, algo que deva variar de acordo com as especificidades de cada país e de cada acontecimento histórico violento.
Ao invés de, ao término da pesquisa, Bevernage pretender uma espécie de “fórmula” para a resolução dos problemas sociais em sociedades pós-transicionais, ele nos oferece a reflexão de que, afinal, esta é uma questão política e, trazer as narrativas das vítimas para o seu cerne é, não apenas necessário, como vital. Se a “cronosofia” moderna não consegue abarcar a “cronosofia” das vítimas, tampouco negá-la é a solução para manter a estabilidade social em situações extremas como as tratadas durante o livro. O diálogo com a teoria de Derrida serve para o autor exatamente nesse aspecto: existem, inevitavelmente, inúmeros presentes naquilo que acreditamos ser o “presente” e, em casos como esses, negá-los pode gerar um nível de dissensão perigoso para a manutenção da coesão social responsável por formar uma nação.
Notas
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012. p. 10.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012. p.3.
- Ibid., p.7.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012.p.15.
- Ibid., p.45.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012.p.86.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012.p.109.
- Ibid., p.130.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012. p.144.
- Ibid., p.157.
- Ibid., p.167.
Caio Rodrigo Carvalho Lima – Licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Natal/RN. E-mail: c.rodrigo.lima@hotmail.com.
BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012. 250p. Resenha de: LIMA, Caio Rodrigo Carvalho. Outros Tempos, São Luís, v.10, n.16, p.308-315, 2013. Acessar publicação original. [IF].
Universals: the contemporary debate – MACBRIDE (FU)
MACBRIDE, F. Universals: the contemporary debate. In: R. LE POIDEVIN; P. SIMONS; A. MCGONIGAL; R.P. CAMERON (eds.), The Routledge Companion to Metaphysics. Oxon: Routledge, p.276-285, 2009. Resenha de: CID, Rodrigo Reis Lastra. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.13, n.3, p.439-441, set./dez., 2012
O problema no qual se inserem nominalismo e realismo, diz-nos MacBride, é o de como explicar as características repetidas das coisas. Enquanto o realista nos diz que as características repetidas se explicam por serem universais, ou seja, por serem as naturezas comuns que várias coisas compartilham, o nominalista nos diz que é possível explicar essas características repetidas com apenas particulares concretos (sem universais).
O nominalista nos diz que ter uma natureza em comum é como ter um amigo em comum: o amigo em comum não é algo universal que existe em cada um dos amigos que o tem; ele é algo particular que se relaciona particularmente com os amigos particulares. A ideia do nominalista é a de que há coisas vermelhas, mas não há o vermelho, e a de que a semelhança entre as coisas vermelhas é irredutível. Tomar a semelhança entre coisas vermelhas como irredutível seria melhor que postular universais, diria ele, pois como os universais não existiriam, eles não poderiam explicar nada e, consequentemente, não poderiam avançar a explicação para além de tomar a semelhança como primitiva. Por sua vez, o realista também alude razões para postular os universais, a saber, (i) os universais explicam a semelhança, (ii) as leis naturais versam sobre propriedades universais, (iii) nós contamos coisas sob um certo tipo universal e (iv) nós falamos sobre as coisas com termos universais.
O que o nominalista inquire ao realista é: como pode um universal existir em duas coisas distintas? A pergunta é interessante, pois se o universal está dividido nas duas coisas, então tem de haver um universal que explica a semelhança entre as duas partes do universal, que explica por que elas são partes do mesmo universal. Se o universal não está dividido nas coisas que o instanciam, então ele estaria completamente em cada uma das coisas que o instanciam. Mas aqui novamente há um problema: como poderia algo estar completamente em duas coisas distintas que ocupam lugares diferentes ao mesmo tempo? Como pode algo estar em dois lugares distintos (desconectados) ao mesmo tempo?
Uma solução possível ao realista é aceitar um realismo transcendente, de universais que estão fora do tempo e do espaço, e não nas próprias coisas. O problema que essa solução deve resolver é justamente explicar como universais fora do espaço e do tempo podem conferir a natureza de particulares espaçotemporalmente localizados.
É também viável logicamente defender uma forma de nominalismo moderada, na qual os particulares têm propriedades particulares (que são os tropos ou particulares abstratos) e essas propriedades não podem ser compartilhadas, embora possam se assemelhar (primitivamente) perfeitamente umas às outras. Haveria, então, segundo ele, coisas vermelhas por haver coisas que se assemelham com a cabine londrina de telefone público.
E é possível a defesa de um realismo extremo, no qual se eliminam os particulares a favor dos feixes de universais. A ideia aqui é a de que não devemos usar uma ontologia de substância e atributo, pois ela implica a existência de particulares nus (bare particulars, que seria o que resta após todas as propriedades terem sido removidas por abstração de um particular), que seriam os portadores das propriedades. Embora Leibniz não veja nada de mal nos particulares nus, Hume nega a possibilidade de sua existência baseado na impossibilidade de os conhecermos (já que só poderíamos conhecer algo a partir de suas propriedades). Uma ontologia de feixes de propriedades universais, sem nenhum particular, escaparia desse problema. No entanto, o realismo extremo dos feixes é à primeira vista problemático, pois dois objetos concretos poderiam ter as mesmas propriedades universais; e, se isso fosse o caso, um não seria diferente do outro. Uma solução possível é dizer que dois objetos concretos não podem ter todos os mesmos universais, já que há propriedades como as rotas espaçotemporais dos objetos, que, embora sejam universais, se forem ocupadas por um objeto, não podem ser ocupadas por outro.
MacBride (p. 281) fala um pouco, além das propriedades, também das relações. Pois podemos aceitar a existência de propriedades sem aceitar a existência de relações. Por exemplo, podemos aceitar que há algo como a propriedade de ser uma mão, mas que não há algo como a relação de uma mão de estar em cima da outra. Enquanto as propriedades são expressas por predicados monádicos, as relações são expressas por predicados diádicos.
Quando nos perguntamos sobre o que é responsável pela relação entre as minhas mãos quando uma está em cima da outra, o nominalista extremo tende a dizer que nada além de mim e das minhas mãos é responsável por essa relação. No entanto, tanto realistas extremos e moderados, quanto nominalistas moderados podem aceitar ou não a existência de relações. A resposta que cada um desses der influenciará muito a sua teoria.
Dos que aceitam a existência de relações, os realistas diriam que a repetição de relações que há entre as minhas mãos e as suas mãos é explicada por meio de uma relação universal. Os nominalistas moderados diriam que as relações são particulares e se assemelham irredutivelmente umas às outras. Por sua vez, os realistas e nominalistas que rejeitam a existência de relações têm a tarefa de explicar como as coisas estão relacionadas de certas formas sem que haja relações, havendo apenas propriedades.
Uma objeção que se faz ao realista de relações é que, se pensamos a relação como universal, então se tivermos uma relação entre A e B, e tivermos a mesma relação entre B e C, teríamos que ter a mesma relação entre A e C, o que nem sempre ocorre. Veja um exemplo: A é amigo de B, B é amigo de C, mas A não é amigo de C. O problema aqui é que ser a mesma relação não estaria respeitando a transitividade da identidade.
Finalmente, MacBride se pergunta se há realmente uma distinção clara entre universais e particulares. Ele nos indica que a distinção comum é pensar que o universal é o um que une os muitos. Mas, se for nesses termos, a distinção não é clara, pois podemos pensar no particular como aquilo que une as muitas características que ele tem (p. ex.: Sócrates é aquilo que une as suas características). O autor finaliza o texto nos deixando o problema da distinção entre particulares e universais em aberto.
Rodrigo Reis Lastra Cid – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Departamento de Filosofia – PPGLM. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: rodrigorlcid@hotmail.com
[DR]
Religion, Politics and International Relations: selected essays | Jeffrey Haynes
Fruto de uma preocupação maior com o impacto de atores não-estatais religiosamente motivados no sistema internacional, o estudo do fenômeno religioso nas Relações Internacionais é uma tendência relativamente nova dentro da área no Brasil e no exterior. Em especial, os atentados de 11 de setembro trouxeram à tona a necessidade de um entendimento maior de como aspectos ligados a religiosidade e a prática de valores ligados a aspectos transcendentais podem impactar decisivamente no relacionamento político entre os países.
Frente a essa preocupação, é notório no Brasil o aumento de estudos, teses e artigos sobre a temática da religião, com especial ênfase à influência da mesma na política externa dos EUA. Não obstante, nota-se ainda a necessidade de uma ampliação desse debate, com um rigor maior no uso dos conceitos e na clarificação de como a religião pode ser entendida em diferentes atividades políticas domésticas e internacionais. Leia Mais
Non-Western International Relations Theory: perspectives on and beyond Asia | Amitav Acharya e Barry Buzan
Non-Western International Relations Theory: perspectives on and beyond Asia, dos editores Amitav Acharya 2 e Barry Buzan 3 é uma leitura para conhecer diferentes perspectivas sobre o internacional. Ao abordar uma crítica à hegemonia do ocidente em Teoria de Relações Internacionais (TRI), o livro expõe:
- a) as dificuldades no desenvolvimento de teorias originais, fora da área de influência das teorias tradicionais, em locais que não sejam a Europa e os Estados Unidos;
- b) as possíveis fontes para novas abordagens teóricas;
- c) o modo como as Relações Internacionais, enquanto área do conhecimento, têm crescido na Ásia. O objetivo primeiro, no entanto, parece ser inquietar.
The necessary and the possible – LOUX (FU)
LOUX, M. The necessary and the possible. In: M. LOUX, Metaphysics: A contemporary introduction. 3ª ed. New York: Routledge, p.153-186, 2006. Resenha de: CID, Rodrigo. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.12, n.3, p.280-286, set./dez., 2011
Neste capítulo, Loux apresenta alguns problemas com relação às modalidades e algumas das relações entre elas e o vocabulário dos mundos possíveis, expondo as duas principais posições ontológicas com relação a tais mundos e às modalidades e com relação à natureza das modalidades, a saber, o possibilismo e o actualismo, defendidos respectivamente por Lewis e Plantinga. Essas são teorias inconsistentes entre si, que intentam nos dizer se os mundos possíveis são concretos ou abstratos e se existe algo além do que é actual.
Inicialmente, o autor nos fornece uma breve introdução, que expõe de modo breve a diferença entre as modalidades de re e de dicto, a relação entre as modalidades e os mundos possíveis e as duas principais posições ontológicas já citadas. A diferença é que a modalidade de dicto toma a necessidade e a possibilidade como atribuídas a proposições, enquanto a modalidade de re toma essas noções como atribuídas ao modo como uma coisa exemplifica ou instancia uma propriedade, a saber, necessariamente ou contingentemente. A relação seria que uma semântica de mundos possíveis nos ajudaria a esclarecer as noções modais da possibilidade e da necessidade – vistas tanto como de re, quanto como de dicto. E as posições, de modo resumido, são as seguintes:
(a) David Lewis: Este utiliza o conceito de “mundos possíveis” para formular uma abordagem nominalista austera, que apenas toma como existentes particulares concretos e conjuntos, compatível com uma redução das modalidades a entidades ou conceitos não modais, redução esta que Lewis também intenta fazer. Por exemplo, ele tenta reduzir as noções de “proposição”, “propriedade”, “modalidades” (de re e de dicto) e “contrafactuais” a constructos a partir de mundos possíveis. Tais mundos são tomados como entidades concretas do mesmo tipo que o nosso mundo e eles são formados apenas por partes concretas.
(b) Alvin Plantinga: Este não utiliza os mundos possíveis para reduzir conceitos ou entidades, pois pensa que mundos possíveis fazem parte de uma rede interconectada de conceitos que se explicam uns aos outros, mas que não podem ser explicados por conceitos fora de tal rede; e, assim, pensa que o máximo que podemos fazer não é reduzi-los, mas explicar as relações entre os conceitos de tal rede. Para ele, os mundos possíveis são entidades abstratas platônicas, que são estados de coisas possíveis maximais necessariamente existentes, mas que podem ou não obter (o que obtém é o mundo atual).
Posteriormente, Loux passa a nos falar sobre alguns problemas com relação às modalidades. Um deles é sobre o quão problemáticas são as nossas noções modais. Por exemplo, quando dizemos que uma proposição ser necessariamente verdadeira é o mesmo que ela ser impossível de ser falsa, utilizamos noções modais para explicar noções modais – o que só poderia ser feito se as noções modais não forem problemáticas. Mas são elas problemáticas?
Alguns filósofos, céticos quanto ao uso de noções modais, pensam que sim. Uma razão para isso pode ser uma orientação empirista em metafísica, que os faz só aceitar como legítimos os conceitos que podem ser apreendidos a partir de algum confronto empírico com o mundo. E, segundo eles, a experiência apenas nos diz como o mundo é, e não como o mundo possivelmente ou necessariamente é, de modo que as noções modais não poderiam ser características do mundo. Segundo essa perspectiva, toda a modalidade é meramente linguística: a necessidade se dá apenas em virtude da analiticidade da linguagem.
Outra razão, ainda de objetores empiristas, mas mais relacionada a questões técnicas, é a tese de que um corpo linguístico ou que um fragmento do mesmo (ou um conjunto L de sentenças) apropriado para fazermos metafísica deve ser extensional. “L” é extensional se, e só se, para cada sentença de L, a substituição de constituintes da sentença por expressões correferenciais não alterna o valor de verdade da sentença. E a correferencialidade se dá da seguinte maneira: (i) entre termos singulares que nomeiam o mesmo objeto, (ii) entre termos gerais que são satisfeitos pelos mesmos objetos, e (iii) entre sentenças que têm o mesmo valor de verdade. A motivação principal para sustentar tal tese é que temos sistemas lógicos bem desenvolvidos para lidar com as linguagens extensionais (como o cálculo proposicional, como a teoria dos conjuntos, ou como a lógica de predicados de primeira ordem), e a linguagem modal não é extensional.
As noções modais não passam no teste de extensionalidade, ou melhor, elas não mantêm o valor da verdade de suas sentenças cujos constituintes foram substituídos por expressões correferenciais. E é por isso que elas são rejeitadas por alguns empiristas como inaptas a nos dar instrumentos para fazermos filosofia de modo sério. Algumas das sentenças utilizadas por Loux para mostrar como as noções modais falham em passar no teste de extensionalidade são as seguintes: (4) Dois mais dois é igual a quatro e solteiros são não casados, (5) É necessário que dois mais dois é igual a quatro e que solteiros são não casados, e (6) É necessário que Bill Clinton é presidente e que solteiros são não casados. Ele nos diz que 4 é necessariamente verdadeira, mas que ao lhe aplicamos o operador “é necessário que”, formando 5, e substituirmos uma de suas sentenças constituintes – como a sentença “dois mais dois é igual a quatro” – por outra com o mesmo valor de verdade – digamos “Bill Clinton é presidente” – passando, por exemplo, a 6, o valor de verdade se altera de verdadeiro em 5 para falso em 6, dado que não é necessário que Bill Clinton seja presidente. A introdução das modalidades faz com que sentenças extensionais, tal como 4, tornem-se intensionais. O que, para os empiristas, já atestaria contra o uso dessas noções na filosofia.
Assim, como as noções modais são intensionais, alguém que quisesse utilizálas, não poderia usar de nossa lógica extensional para realizar inferências com frases modais; e, portanto, teria que se comprometer com prover uma abordagem de como ocorrem as relações inferenciais entre as sentenças que contêm operadores modais, ou seja, teria que nos fornecer uma lógica modal. Os críticos aqui costumam dizer que a imensa quantidade que há de sistematizações não equivalentes da inferência modal atesta a favor de que não temos uma noção firme de o que são as modalidades.
Nos anos 50 e 60, lógicos e metafísicos retomaram a noção leibniziana de “mundos possíveis” – a de que o mundo atual é apenas um entre uma infinidade de mundos possíveis – e tentaram, por meio dela, esclarecer as nossas noções modais. A ideia central é que uma proposição tem valores de verdades tanto no mundo atual, quanto em outros mundos possíveis, e que a necessidade e a possibilidade podem ser explicadas por meio da quantificação (respectivamente, universal e existencial) sobre mundos possíveis. Uma proposição “P” é possível (ou possivelmente verdadeira) sse é verdadeira em pelo menos um mundo possível; “P” é necessária (ou necessariamente verdadeira) sse é verdadeira em todos os mundos possíveis. Uma vantagem dessa abordagem neoleibniziana das modalidades é que ela pode explicar a existência da pluralidade de sistemas de lógica modal, indicando que eles variam de acordo com as restrições que fazemos na quantificação sobre os mundos.
Mas aceitar o uso dos mundos possíveis para falar das modalidades pode gerar alguns problemas. Um deles é a aparência de afastamento das nossas intuições comuns, dado que até podemos aceitar pré-filosoficamente que há muitos modos que as coisas poderiam ser, mas achamos difícil aceitar que há uma pluralidade de mundos possíveis. A resposta a esse problema é, normalmente, que o quadro conceitual [framework] dos mundos possíveis é apenas uma regimentação das nossas crenças pré-filosóficas, ou seja, que falar sobre mundos possíveis é apenas um modo formal de falarmos sobre os modos como as coisas podem ou têm de ser.
As modalidades, tal como exposto até agora, são apenas as modalidades de dicto, ou seja, apenas as atribuições das propriedades de ser necessariamente verdadeira (ou necessária) e de ser possivelmente verdadeira (ou possível) às proposições (ou às verdades destas). E, no vocabulário dos mundos possíveis, elas são entendidas como uma quantificação sobre mundos. Um outro tipo de modalidade, que é conhecida como modalidade de re, diz respeito ao modo como uma coisa exemplifica uma propriedade (e não sobre o modo como uma proposição é verdadeira/falsa), a saber, essencialmente ou acidentalmente. Loux exemplifica a distinção entre esses dois tipos da modalidade da seguinte maneira: nos apresenta uma hipótese, a saber, a de que Stephen Hawking está pensando no número 2, nos fornece duas frases supostamente com modalidades de tipos diferentes, e nos mostra que uma é verdadeira, enquanto a outra é falsa.
(I) A coisa em que Stephen Hawking está pensando é necessariamente um número par. [Modalidade de re] (II) Necessariamente a coisa em que Stephen Hawking está pensando é um número par. [Modalidade de dicto]
Como Stephen Hawking está pensando no número 2 e tal número é necessariamente (ou essencialmente) par, então I é verdadeira, enquanto II é falsa, dado que é contingente (e, portanto, não necessário) que Stephen Hawking esteja pensando num número par. Segundo os defensores das modalidades, a modalidade de re também pode ser iluminada por referência ao vocabulário dos mundos possíveis. Assim: um objeto x tem a propriedade P necessariamente ou essencialmente sse x tem P no mundo atual e em todos os mundos possíveis em que existe; e um objeto x tem uma propriedade P contingentemente ou acidentalmente sse x tem P no mundo atual e há pelo menos um mundo possível em que x existe e não tem P. Além disso, ambas as modalidades, de re e de dicto, são pensadas como quantificações sobre mundos, porém a diferença é que na modalidade de re há uma certa restrição no uso dos quantificadores, a saber, eles terem de quantificar apenas sobre os mundos em que o objeto em questão (que possui alguma propriedade essencialmente ou contingentemente) existe.
Mas como devemos interpretar a conexão entre os mundos possíveis e as modalidades? – pergunta-se Loux. As duas posições antagônicas principais são:
(i) os que acreditam que as noções modais (com os mundos possíveis incluídos) formam uma rede interconectada de conceitos que se explicam uns aos outros e que não podem ser explicados por conceitos externos à rede, e que, por isso, o máximo que podemos fazer é explicar as relações entre essas noções; e (ii) os que pensam que os mundos possíveis, juntos com a teoria dos conjuntos, proveriam os recursos para realizarmos as reduções – de entidades intensionais, como proposições, propriedades, contrafactuais e modalidades, a entidades concretas, apropriadamente extensionais, como os mundos possíveis seriam nessa abordagem – exigidas pelo nominalismo austero de mundos possíveis.
Tais nominalistas escapariam de problemas com relação às reduções propostas que não levavam em conta mundos possíveis. Por exemplo, agora ele poderia dizer que uma propriedade F é simplesmente o conjunto de todos os particulares, actuais e não actuais, que são F (ou o conjunto dos conjuntos que em cada mundo são compostos dos objetos que são F). E, de modo geral, uma propriedade F seria um conjunto estruturado de tal modo que correlaciona mundos possíveis com conjuntos de objetos (ou seja, de tal modo que atribui um conjunto de objetos para cada mundo). Isso evitaria o problema para o nominalista de, por exemplo, ter de tomar a propriedade de ter rins como idêntica à propriedade de ter coração, já que os membros que pertencem aos supostos dois conjuntos são os mesmos no mundo actual, e já que a identidade de membros implica a identidade de conjunto. Evitaria porque nos mundos possíveis não atuais há objetos com ruins e sem coração, de modo que a extensão dos conjuntos referentes às propriedades supracitadas, quando levamos em conta a totalidade dos mundos possíveis, irá diferir.
Eles também pensam que a teoria dos conjuntos junto com os mundos possíveis poderiam nos ajudar a reduzir as proposições: uma proposição seria o conjunto de mundos em que ela é verdadeira. Porém, se não queremos uma definição circular, temos de responder: em quais mundos seria uma proposição P verdadeira? A resposta é que ela seria verdadeira nos mundos P-ish, e que tais mundos P-ish, para qualquer proposição P, seriam entidades básicas. Assim, a definição não seria circular, e uma proposição seria apenas o conjunto de todos os mundos possíveis P-ish. Como os mundos são entidades concretas formados por entidades concretas, a motivação nominalista austera estaria sendo mantida nesta abordagem.
Nesse mesmo espírito, o nominalismo tenta também reduzir as modalidades, de dicto e de re, respectivamente, a uma junção de teoria dos conjuntos com mundos possíveis tal como se segue. Uma proposição P seria necessariamente verdadeira sse o conjunto dos mundos P-ish tem todos os mundos possíveis como membros. P seria necessariamente falsa sse o conjunto dos mundos P-ish não tem nenhum mundo possível como membro. P seria possivelmente verdadeira sse o conjunto dos mundos P-ish tem algum mundo possível como membro. E assim por diante. No caso das modalidades de re, há uma certa divergência dentro do conjunto dos nominalistas, a saber, entre os que acreditam na identidade transmundial e os que não acreditam em tal identidade – embora ambos concordem que ela deve ser reduzida a um discurso que se utiliza de mundos possíveis e teoria dos conjuntos. Os que aceitam a identidade transmundial, como nominalista que são, pensam uma propriedade como um conjunto (ou uma função) que atribui para cada mundo um conjunto de objetos. Assim, um objeto x é pensado como exemplificando actualmente uma propriedade P sse x é membro do conjunto de objetos P atribui ao mundo atual; x exemplifica P essencialmente sse x é membro de cada conjunto que P atribui a cada um dos mundos possíveis em que x existe; e x exemplifica P acidentalmente sse x é membro do conjunto que P atribui ao mundo atual e x não é membro de pelo menos um conjunto que P atribui a um mundo possível em que x existe. Com essas reduções, o nominalista intenta transformar áreas problemáticas do discurso (por exemplo, que falam sobre entidades intensionais ou entidades abstratas) em áreas não problemáticas (que falam de conjuntos e particulares concretos). Se o nominalista pretende reduzir tais noções, então deve deixar claro o que são os mundos possíveis independentemente dessas noções.
Uma dessas teorias nominalistas pertence a David Lewis. Ela diz que os mundos possíveis são entidades concretas do mesmo tipo que o nosso mundo, que são isolados espaciotemporalmente uns dos outros, que são formados por todos os particulares concretos que estejam em relação espaciotemporal, e que são tão reais quanto o nosso mundo. O mundo actual seria apenas o mundo em que se está ao pronunciá-lo; todo mundo seria actual com relação a si próprio, pois “atual” é visto como um indexical na abordagem lewisiana.
O problema dessa concepção é explicar como pode haver indivíduos que sejam transmundiais, pois parece que a aceitação de que há tais indivíduos pressupõe a falsidade da indiscernibilidade dos idênticos, que é o princípio que diz que: necessariamente, para quaisquer objetos a e b, se a é idêntico a b, então para qualquer propriedade @, a exemplifica @ sse b exemplifica @. Mas, segundo o próprio Lewis, há propriedades que x-em-W tem que x-em-W’ não tem, como a propriedade de ser um filósofo – o que ou violaria a indiscernibilidade dos idênticos, ou faria com que x-emW e x-em-W’ fossem indivíduos diferentes.
Lewis aceita que x-emW e x-em-W’ são indivíduos diferentes e defende uma teoria das contrapartes para explicar a relação entre eles. Uma contraparte de x é um indivíduo em outro mundo que parece com x em muitos aspectos importantes, mas que não é x. Nessa abordagem, uma propriedade P é essencial a x sse x e todas as suas contrapartes exemplificam P; e P é acidental a x sse x exemplifica P e alguma contraparte de x não exemplifica P.
A teoria de Lewis assume a tese do possibilismo, a saber, a tese que assere que existem objetos não actuais possíveis. Contudo, a maioria dos outros filósofos assume o actualismo, a saber, a tese de que tudo que existe é actual. Algumas objeções feitas pelos actualistas a uma teoria nominalista austera, como a teoria de Lewis, são que (a) o uso da teoria dos conjuntos para reduzir proposições não é interessante, pois faz com que haja apenas uma proposição necessariamente verdadeira e uma proposição necessariamente falsa, embora haja várias; que (b) as propriedades coexemplificadas nos mesmos mundos (como as propriedades de “ser um triângulo” e “ter 180º como soma dos ângulos internos”) teriam de ser consideradas idênticas; e que (c) as proposições não podem ser conjuntos, pois não acreditamos em conjuntos e conjuntos não podem ser verdadeiros ou falsos – as proposições, diferentemente dos conjuntos, são representativas.
Além dessas críticas, os actualistas defendem que podem prover uma abordagem completamente actualista da ideia de que há diversos modos que as coisas podem ser, utilizando os mundos possíveis. Contrariamente ao nominalismo, o actualismo, segundo Loux, não pretende ser um projeto que reduza entidades ou conceitos modais e não modais, pois defende que não é possível explicar as noções modais por meio de noções externas à rede de conceitos a que as noções modais pertencem. O projeto actualista apenas explica as relações entre tais noções.
Um exemplo de teoria actualista bem desenvolvida é a teoria de Alvin Plantinga. Ela defende que propriedades, proposições e modalidades estão intimamente conectadas e que não conseguimos explicá-las sem essas mesmas noções. Para Plantinga, todas as propriedades são objetos necessários que podem ou não ser exemplificadas em um mundo. Um mundo é uma entidade abstrata idêntica a um estado de coisas maximal possível, que também seria um ser necessário e poderia ou não obter (análogo à exemplificação); apenas um estado de coisas possível obtém, a saber, o mundo actual. Um estado de coisas S é maximal sse para todo estado de coisas (maximal ou não) S’, S inclui ou exclui S’. S exclui S’ sse é impossível S’ obter caso S tenha obtido, e S inclui S’ sse é impossível que S obtenha e S’ não obtenha. Nessa visão, até o mundo actual é um objeto abstrato, pois é um objeto abstrato que pode ou não obter. E isso faz o mundo actual diferir do que tomamos como o nosso universo físico, pois o universo é um objeto contingente e concreto que não poderia falhar em obter, enquanto o estado de coisas actual é um objeto abstrato necessário que de fato obtém, mas que poderia ou não obter.
Além disso, Plantinga preserva a distinção entre proposições e estado de coisas, falando que a primeira tem uma propriedade que nenhum estado de coisas teria, a saber, a de ser verdadeira ou falsa, e nos indica a relação entre eles, falando que para todo estado de coisas há uma proposição tal que o estado de coisas obtém sse a proposição for verdadeira. Uma proposição é verdadeira em um mundo possível sse tal mundo tivesse sido atual, tal proposição seria verdadeira. Isso é o que é preciso para aceitarmos as definições tradicionais das modalidades de dicto em termos de mundos.
Para lidar com a modalidade de re, Plantinga nos diz que objetos existentes no mundo atual podem existir em outros mundos possíveis. Mas “um objeto existir num mundo possível” apenas quer dizer que é impossível para tal mundo ser actual e tal objeto não existir, ou seja, que se tal mundo tivesse sido actual, tal objeto existiria. A isso, Plantinga junta a noção de “ter a propriedade P num mundo”: x tem a propriedade P em W sse W tivesse se tornado actual, x teria P. E, com tais instrumentos, Plantinga pode aceitar a abordagem tradicional da modalidade de re em termos de mundos possíveis.
Como Plantinga quer evitar o resultado necessitarista desagradável de que nada exemplifica propriedades contingentemente, ele precisa aceitar a identidade transmundial, caso não aceite a relação de contraparte – coisa que não aceita. Saul Kripke tem alguns argumentos contra a teoria das contrapartes. Um deles é que ela não corresponde às nossas intuições modais, pois, quando fico aliviado dos danos que eu poderia ter sofrido, fico aliviado, pois tal possibilidade é referente a mim. Se estivéssemos falando algo sobre contrapartes, eu não deveria ficar aliviado. Plantinga tem um argumento melhor, contra a incompatibilidade entre identidade transmundial e indiscernibilidade de idênticos: ele diz que o fato de x ter P em W e não ter P em W’ não nos permite inferir que P não pode ser atribuída a x sem estar indexicalizada a algum mundo. Na verdade, as propriedades indexicalizadas se fundam nas não indexicalizadas, e um objeto de fato tem as propriedades não indexicalizadas que ele actualmente tem. O que faria que x tivesse todas as propriedades indexicalizadas que tem e todas as propriedades que actualmente tem – o que removeria a incompatibilidade da identidade transmundial com a indiscernibilidade de idênticos.
Plantinga também defende que esses indivíduos transmundiais têm, em adição a propriedades essenciais triviais (que todos os objetos têm) e a propriedades essenciais gerais (que podem ser compartilhadas ou exemplificadas por mais de um particular), essências individuais (essencialismo leibniziano), que são propriedades essenciais de um particular e que não são exemplificadas por mais nenhum particular (tais essências são chamadas por ele de “haecceities” ou, em português, “ecceidades”). Exemplos de tais essências seriam as propriedades indexicalizadas que pertencem necessariamente e unicamente ao particular de cuja essência estamos falando. Plantinga pensa que qualquer essência de um objeto implica todas as suas propriedades (onde “P implica Q” apenas quer dizer necessariamente todo objeto que exemplifica P também exemplifica Q). Por exemplo, a propriedade de ser idêntico a Sócrates implica todas as propriedades essenciais de Sócrates. E, como entre essas propriedades essenciais estão as propriedades indexicalizadas, segue-se que, a partir da essência de um particular, um ser onisciente poderia saber tudo que é o caso nos diversos mundos possíveis com relação a tal particular.
Enfim, Loux nos mostra em seu texto que Plantinga e Lewis nos apresentam teorias interessantes sobre a natureza das modalidades e dos mundos possíveis, e nos indica como o nominalismo influencia o debate. Vale a leitura.
Rodrigo Cid – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bolsista CAPES. Professor substituto na UFRJ PPGLM, IFCS/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: rodrigorlcid@ufrj.br
[DR]
Undoing gender – BUTLER (RF)
BUTLER, Judith. Undoing gender. New York; London: Routledge, 2004. 273p. Resenha de: DORNELLES, Priscila Gomes. Revista FACED, Salvador, n.19, p.131-132, jan./jun. 2011.
Judiht Butler é estadunidense, filósofa e professora da Universidade da Califórnia/EUA, localizada em Berkeley. A autora apresenta a problematização dos movimentos teórico-políticos do feminismo como um dos focos principais das suas produções.
Para isso, assume uma posição pós-estruturalista e ligada à teoria queer para conceituar o sujeito como produto normativo generificado.
Após algumas publicações tratando de circunscrever o gênero como uma norma cultural que governa a materialização dos corpos, tais como Gender trouble: feminism and the subversion of identity (1990) e Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex” (1993), em Undoing gender, Judith Butler reúne ensaios reelaborados e versões alargadas de produções já apresentadas publicamente, as quais, agora, estão compiladas para problematizar o plano normativo do gênero a partir, segundo a autora, das experiências de tornar-se desfeito. Nesta obra, o movimento analítico sela o sujeito como produto normativo e volta-se para tratar da produção do gênero de forma articulada e implicada com a problematização da vida e das noções de humano.
Capitaneado pelas discussões de gênero e sexualidade, Undoing gender propõe certa “rasura” aos movimentos de feministas centrados na promoção do debate de gênero restrito às questões/ demandas sociais de mulheres, inclusive reforçando o dimorfismo sexual a partir de concepções que operam essencializando o que é um corpo feminino. Os ensaios deste livro estão engajados com Novas Políticas de Gênero, as quais, segundo Butler, configurariam “um caldo” epistemológico e político de discussões em torno de transgêneros, transexuais e intersex de forma (des)articulada com as teorias feministas e queer. Nesse sentido, a autora dedica os capítulos Gender regulations, doing justice to someone: sex reassignment and allegories of transsexuality e undiagnosing gender para descrever, no âmbito do discurso médico, o processo vivido por sujeitos transexuais para a realização das cirurgias de resignação de sexo, bem como as justificativas produzidas, também no âmbito científico, para as cirurgias de “adequação” de sujeitos intersex.
Butler aponta que esse universo de “(re)construção” dos corpos através das tecnologias, bem como as formas de violências e violações aos sujeitos avessos aos padrões normativos do gênero são trazidos para destacar como as normas de gênero funcionam para fazer/desfazer os sujeitos, inclusive questionando a noção de autonomia. Importa para a autora argumentar e articular, a partir de bases hegelianas, a relação entre as normas de reconhecimento e a produção diferencial do humano ao “destrinchar” analiticamente as situações apresentadas no decorrer do livro.
Além dessa base argumentativa, nos diferentes capítulos, a autora posiciona as possibilidades de movimentação do sujeito em relação à constituição normativa que o precede e o externa. Para isso, o conceito de agência circula como um lugar, distribuído de forma diferencial entre os gêneros, de fazer-se a partir da crítica – vale ressaltar que este termo é tratado ao largo de concepções de sujeito crítico possíveis, apenas, através da consciência dos jogos de poder e, consequente, construção de formas de emancipação.
Nesta obra e em outras produções, a crítica refere-se ao questionamento dos processos e dos termos que restringem a vida, com isso, ampliando o reconhecimento das formas de humano.
Ao fim e ao cabo, isto significa que o exercício individual da agência está atrelado à crítica/transformação social.
Ademais, interessa mencionar que a autora trata do conceito de humano como algo contingente. Nesse sentido, o seu questionamento é proposto considerando as bases normativas generificadas, racializadas e sexualizadas que constituem graus diferenciados de humanidade. Judith Butler provoca-nos a pensar que o que está em jogo no questionamento das normas é a definição parcial/futura do humano. Para isso, falar do lugar do irreconhecível torna-se uma possibilidade de tensionar os caminhos normativos ao alargamento.
Priscila Gomes Dornelles – E-mail:prisciladornelles@gmail.com
Building peace after war | Mats Berdal
De acordo com o Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), sessenta operações multilaterais de paz, abrangendo um número recorde de aproximadamente cento e noventa mil militares e civis, foram realizadas em 2008 em todo o globo. Nem os fracassos das missões de paz ao longo da primeira metade da década de 90, em Angola, Somália, Ruanda e Bósnia, nem as transformações no ambiente estratégico causadas pelos desdobramentos do “11 de setembro”, lograram êxito em afetar a tendência de crescimento das missões de construção da paz no cenário internacional, as quais tornaram-se muito mais abrangentes e ambiciosas quando em perspectiva com as ocorridas sob a ordem bipolar da Guerra Fria. Esse é o quadro no qual Mats Berdal desenvolve Building peace after war: uma análise crítica dos esforços internacionais atuais para reerguer países arrasados por conflitos.
Partindo das experiências em diversos países, do Camboja ao Iraque, o foco do professor da King´s College London constitui-se em, ao longo de três capítulos, enveredar-se pelos desafios postos aos componentes civis e militares em missões internacionais de construção da paz após conflitos. Estas, segundo Berdal, sofrem de duas fraquezas principais, às quais este livro pode ser visto com uma tentativa de dirigirse: a recorrente falta de prioridades claras no curto e no longo prazo, derivada, basicamente, do seu entendimento conceitual excessivamente amplo; e a tendência marcante de abstrair suas ações do devido contexto político, cultural e histórico local. Leia Mais
Peace in International Relations – RICHMOND (HH)
RICHMOND, Oliver P. Peace in International Relations. Abingdon: Routledge, 2008, 232p. Resenha de: CAVALCANTE, Fernando. Revista Brasileira de Política Internacional. v. 52, n. 1, Brasília Jan./June 2009.
No campo de estudos, as Relações Internacionais surgiram com o fim último de evitar tragédias como a Primeira Guerra Mundial. Seus estudiosos, não lograram desenvolver um entendimento preciso da paz: ao contrário, concentraram-se nas dinâmicas do poder e da guerra, assumindo o entendimento realista de que a violência é inerente à natureza humana e às relações entre estados. Esta é a crítica mais ampla das pesquisas de Oliver Richmond e transparece nas publicações anteriores do autor, dentre as quais se destacam Maintaining Order, Making Peace (2002), The Transformation of Peace (2005) e Challenges to Peacebuilding: Managing Spoilers During Conflict Resolution (2006).
Em Peace in International Relations, Richmond aprofunda sua crítica e analisa as concepções de paz (frequentemente implícitas) nas teorias das Relações Internacionais. Ao apontar as limitações das abordagens deterministas/positivistas na primeira parte do livro, o autor clama por abordagens interdisciplinares e entendimentos plurais no estudo do tema. Nesse sentido, as abordagens póspositivistas, apresentadas na segunda parte, podem facilitar o desenvolvimento de ontologias, teorias e métodos que permitam um melhor entendimento da paz.
Partindo de uma epistemologia positiva, os idealistas concebem a paz de forma universal, sustentada na harmonia entre os povos e nas instituições; é uma visão normativa. Para os realistas, críticos da “utopia” idealista, a paz não é mais que uma quimera, a simples ausência de violência – é uma paz negativa, como viria a ser posteriormente definida. Os Marxistas, por sua vez, apresentam uma idéia de paz calcada na justiça social e na igualdade de classes, a ser atingida após a eliminação das estruturas (violentas) que perpetuam a dominação econômica de umas classes sobre as outras. Traços comuns dessas teorias, de acordo com o autor, são o materialismo, a racionalidade instrumental, a sua pretensão de cientificidade e a suposta análise objetiva e imparcial da realidade.
Ainda na primeira parte, Richmond retoma o argumento de The Transformation of Peace, desconstruindo a concepção de paz liberal – um híbrido das três visões anteriores – e verificando sua apropriação por determinados atores (Ocidentais) que buscam a conservação de uma ordem de estados soberanos, democráticos e market-oriented – não raro por meios violentos, como intervenções. Finalmente, são abordadas as contribuições dos peace and conflict studies, uma espécie de transição entre positivismo e pós-positivismo. Para o professor da Universidade de St. Andrews, sua importância reside na tentativa de entender a paz mais ambiciosamente, não apenas a partir das perspectivas dos estados e elites, mas também das preocupações em torno dos direitos humanos, das questões de gênero e do papel desempenhado por entidades não estatais.
Na segunda parte do livro, são analisadas as teorias críticas e as pósestruturalistas. Essas abordagens oferecem conceitualizações de paz bastante mais sofisticadas, assentadas em epistemologias positivas que visam a pazes emancipatórias. Os críticos teorizam uma paz pós-vestfaliana, em que a soberania territorial não mais desfigure as relações entre estados. Tal formulação reflete, em sentido mais amplo, a insatisfação com o pensamento mainstream das ciências sociais e devota-se à análise de temas como hegemonia, dominação e patriarcalismo, sendo fortemente influenciada pela Escola de Frankfurt. Os pós-estruturalistas procuram avançar este entendimento ao questionar as relações entre conhecimento e poder, partindo dos trabalhos de filósofos como Michel Foucault e Jacques Derrida. Sua visão de paz envolve a aceitação das diferenças e a rejeição de todas as soberanias, a fim de que estas não levem a disputas de poder ou à coerção.
Alguns pontos, contudo, não são tratados no livro com a profundidade desejável: é o caso, por exemplo, das teorias construtivistas e feministas. O autor tampouco desenvolve consistentemente sua proposta de agenda interdisciplinar da paz, limitando-se apenas a esboçar algumas “asserções preliminares”. A leitura é ainda marcada pela característica falta de linearidade na apresentação dos argumentos do autor – questão relativizada com a inclusão de introduções e conclusões em cada capítulo. Tais faltas, contudo, não tiram do livro o mérito maior de consolidar a discussão sobre a paz no debate acadêmico das Relações Internacionais, dando seqüência à obra e aos esforços anteriores de Richmond. Peace in International Relations é um texto ímpar para estudantes e acadêmicos interessados nas questões teóricas dos estudos da paz e dos conflitos.
Fernando Cavalcante – Doutorando em Política Internacional e Resolução de Conflitos pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra – Portugal. E-mail: cavalcante_fernando@yahoo.com.
Peace in International Relations | Oliver P. Richmond
No campo de estudos, as Relações Internacionais surgiram com o fim último de evitar tragédias como a Primeira Guerra Mundial. Seus estudiosos, não lograram desenvolver um entendimento preciso da paz: ao contrário, concentraram-se nas dinâmicas do poder e da guerra, assumindo o entendimento realista de que a violência é inerente à natureza humana e às relações entre estados. Esta é a crítica mais ampla das pesquisas de Oliver Richmond e transparece nas publicações anteriores do autor, dentre as quais se destacam Maintaining Order, Making Peace (2002), The Transformation of Peace (2005) e Challenges to Peacebuilding: Managing Spoilers During Conflict Resolution (2006).
Em Peace in International Relations, Richmond aprofunda sua crítica e analisa as concepções de paz (frequentemente implícitas) nas teorias das Relações Internacionais. Ao apontar as limitações das abordagens deterministas/positivistas na primeira parte do livro, o autor clama por abordagens interdisciplinares e entendimentos plurais no estudo do tema. Nesse sentido, as abordagens póspositivistas, apresentadas na segunda parte, podem facilitar o desenvolvimento de ontologias, teorias e métodos que permitam um melhor entendimento da paz. Leia Mais
Capoeira – The History of an Afro-Brazilian Martial Art | Matthias Röhrig Assunção
A produção intelectual sobre capoeira tem crescido vertiginosamente, no Brasil e no exterior. Em meio a esse aumento de publicações e pesquisas sobre a temática, o livro do historiador Matthias Assunção, Capoeira – The History of an Afro-Brazilian Martial Art, merece destaque pelas questões levantadas. Assunção, que nos últimos quinze anos é membro do corpo docente da Universidade de Essex, na Inglaterra, se configura hoje como um dos principais expoentes nos estudos sobre capoeira.
No livro em questão, o autor estabelece um grande panorama da situação da capoeira desde o século XIX até os dias de hoje. O fio condutor da análise constitui-se em perfazer os caminhos pelos quais uma brincadeira de escravos marginalizada e temida “arma corporal” se tornou o jogo da moda de ‘descolados’ pelo mundo todo. Leia Mais
Emerging Johannesburg: perspectives on the pos-Apartheid city | Richard Tomlinson et al.
Resenhista
Jó Klanovicz
Referências desta Resenha
TOMLINSON, Richard et al (Org.). Emerging Johannesburg: perspectives on the pos-Apartheid city. London: Routledge, 2006. Resenha de: KLANOVICZ, Jó. História Debates e Tendências. Passo Fundo, v. 7, n. 2, p. 265-271, jul./dez. 2007. Acesso apenas pelo link original [DR]
Uses of Heritage – SMITH (PHR)
SMITH, Laurejane. Uses of Heritage. London; New York: Routledge, 2006. 368p. Resenha de: WARREN-FINDLEY, Jannelle. Public History Review, v.14, 2007.
Laurajane Smith aims in this wide-ranging and richly documented text to use the themes of memory, performance, identity, intangibility, dissonance and place to explore the process of memory making. Beginning with the notion of ‘process’ instead of ‘thing’ the author redefines the stuff of heritage conservation theory and practice.
Tangible or material culture, she argues, presupposes a Western, elite perspective, privileging a stone cottage over a cement-block dwelling of the same size, for example, or wood over mud, or culturally manipulated landscapes over those without obvious disturbance or reshaping. In fact, she argues in the introduction, There is, really, no such thing as heritage… there is rather a hegemonic discourse about heritage, which acts to constitute the way we think, talk and write about heritage… That discourse leaves out the subaltern and alternative approaches and determines on a global scale what the world ought to see as significant and valuable in the traces of diverse cultures.
Smith, trained as an archaeologist, has worked as a cultural resource manager as well as an academic researcher in both Australia and England. She begins the discussion with two chapters on the idea of heritage. Part two examines authorized heritage and presents case studies of English country houses and Australian cultural landscapes. Part three considers responses to authorized heritage. To lay the theoretical groundwork, Smith grounds her discussion deeply in the literature of memory, identity, performance, archaeology, cultural geography and historic heritage conservation/historic preservation. She argues that the authorized heritage discourse (AHD) relies on expert evaluation and discrimination and is promulgated by official heritage agencies and private groups like the various National Trusts.
Although the continual reference to the acronym AHD puts one in mind of an illness, the notion of the authorized heritage discourse is useful as the explanation of the tangible and material culture that can be touched, can be understood as representative of class and nation and can be identified only by those with technical and aesthetic expertise. Smith argues that a more inclusive and multicultural approach to memory making would define ‘heritage’ as the process of construction of the social and cultural meanings of heritage. She presents a fine history of heritage in western European culture and then unpacks the authority and legitimacy on which preserving the past in western terms relies.
Smith’s second chapter addresses the stages or steps in the heritage process and examines how each comes to shape the doing of heritage work. This chapter is particularly important for the literature of heritage conservation/historic preservation because it addresses each element of the interaction among observers/performers, socio-political markers and prompts, preservationists and place. In the new ethnography of heritage that Smith creates here, this chapter breaks down the steps of the process and examines each in considerable detail.
The book then presents case studies of the authorized heritage discourse and its application in the field as well as challenges to its power. The examples – English country houses, Australian shared cultural landscapes, labour museums and the making of community identity – illustrate well the processes at work here.
The telling or displaying of a particular version of heritage, finally, arises out of political and cultural power and a sense of control by the dominant group. The question of who owns history or heritage provokes dissonance in preservation discussions because of the power involved in maintaining the authorized heritage discourse. The authority of those who establish the standards and definitions of significance is challenged by changes in or additions to the official narrative. Indigenous people are identified by Smith as the most prominent of the groups that question the ownership of cultural heritage by others but many groups too wish to own their own stories and present them or not as they choose. The resulting clash of experts in culture – museum curators or the community whose exhibit it is, for example – is profoundly difficult to resolve.
Smith’s work deserves wide attention. Her marvelous, thick analysis of the situation presents compelling arguments for fully understanding and dispensing with the AHS and its practice. As a guide to thinking, teaching and practicing in the field, this analysis raises the right questions and provides really provocative and solid answers.
Despite the annoying acronym, Smith’s complex, multilayered effort challenges heritage practitioners to be both self-reflective and responsive to change.
Jannelle Warren-Findley –Associate Professor of Public History at Arizona State University and a past President of the National Council on Public History.
[IF]
Ritual and Domestic Life in Prehistoric Europe | R. Bradley
O conceito de “ritual” tem sido largamente debatido por antropólogos desde a criação da Antropologia como disciplina. Em arqueologia, o âmbito do ritual, bem como aquele da religião, foi, até recentemente, considerado como vago, impreciso, irracional e incerto, e, por conseguinte, amplamente evitado por grande parte dos arqueólogos. Em verdade, ritual era mais freqüentemente empregado sem claros critérios e aleatoriamente para nomear estruturas e achados cuja função era, a princípio, obscura para os arqueólogos, a ponto de se tornar “anedota” – tudo o que não tinha função prática aparente, passava, então, a ser designado como “ritualístico” (cf. Orme 218-19; Whitehouse 1996). A década de 90 trouxe, porém, um largo manancial de estudos, sobretudo na academia de língua anglo-saxã, preocupados com questões referentes à religião e às formas rituais, visando “reabilitar” o âmbito do ritual para a pesquisa acadêmica, rompendo com a visão do sagrado como epifenômeno e demonstrando sua relevância para a interpretação da cultura material. Entre os préhistoriadores, destacou-se sobremaneira o trabalho de Parker Pearson (1996) [1], que descortinou novas possibilidades de análise, tornando-se grande divisor de águas. Seguindo a linha de análise apontada por Parker Pearson, a tese de doutoramento de J.D. Hill (1995) tornou-se, sem sombra de dúvida, um marco no campo. Hill questionou profundamente os modelos de análise de hillforts para os assentamentos da Idade do Ferro em Wessex (Sul da Inglaterra). Refutando a idéia desses assentamentos como centros controladores da produção e de redistribuição nessas sociedades, propôs ele que tais assentamentos eram, em verdade, centros cerimoniais. Isto porque os depósitos em poços/covas nos assentamentos eram resultado de rituais e não de restos de lixo residencial, de modo que tais depósitos constituíram vias de ritualização da vida cotidiana.
É justamente na trilha indicada por Hill, que Bradley (doravante referido como B.), desenvolve seu Ritual and Domestic Life in Prehistoric Europe. Rompendo com a visão bipolar de “sagrado” x “profano”, “irracional” x “racional”, procura B. demonstrar a profunda relação entre o sagrado e a vida cotidiana, entre práticas rituais e a vida nos assentamentos da Europa pré-histórica desde o Neolítico até a Idade do Ferro. Fazendo uso dos trabalhos de Bell (1992) e de Humphrey e Laidlaw (1994), prefere ele, tal como Hill, o uso do conceito de “ritualização” ao de “ritual”, pois que se trata de prática, que, como define Bourdieu (1977), consiste em habitus, isto é, um conjunto de disposições habituais que define e in-forma as convenções sociais. Tal fornece ao pesquisador meios de compreender a performance ritual não como algo distante e/ou a parte do cotidiano, mas sim como permeando todas as instâncias da vida de uma comunidade.
Para tanto, B. estrutura seu argumento em sete capítulos, organizados em duas partes – “Parte 1 – a importância das coisas comuns” (capítulos 1 a 3) e “Parte 2 – onde incide a ênfase” (capítulos 4 a 7). Parte 1 consiste, em verdade, no desenvolvimento do artigo “A life less ordinary: the ritualisation of the domestic sphere in later prehistoric Europe” publicado por B. em 2003, e originalmente apresentado como palestra em Cambridge em 2002. No capítulo 1, B. define a problemática e abordagem teórica adotada no livro, propondo que, ao invés da tradicional distinção entre sítios sagrados e assentamentos, encontra-se, na Europa pré-histórica, uma união desses âmbitos. No capitulo 2 “A consagração da casa”, ele aponta como aspectos da vida doméstica (e, sobretudo, das estruturas de habitat) da Europa pré-histórica estão marcados por um significado ritual que os distingue e torna não-ordinários, a ponto de em Heuneburg o local de uma habitação de alto status ter sido utilizado como base para a construção de um montículo funerário (p. 57). No capitulo 3 “Uma questão de Cuidado”, ele demonstra como “na pré-história, o ritual deu à vida doméstica sua força, e [como], em retorno, a vida doméstica proveu uma organização de referência para rituais públicos. [Donde,] ritual e vida doméstica (…) formavam duas camadas que parecem ter sido precisamente superimpostas” (p.120).
A parte 2 procura, então, pontuar: 1) os contextos e locais onde tal superposição pode ser encontrada: agricultura (cap. 4), enterramentos, depósitos votivos e metalurgia (cap. 5); e 2) as performances de rituais públicos e rituais domésticos (cap.6). Neste último, B. mostra ser impossível traçar uma distinção entre oferendas rituais e o conjunto doméstico, posto que as atividades em assentamentos, monumentos e santuários não estavam dissociadas e seguiam o mesmo padrão.
A título de conclusão, o capítulo 7 desvenda novos pontos a serem abordados em pesquisas futuras seguindo esta forma de abordagem. Primeiramente, a transformação da relação homem-ambiente e da noção de propriedade com o desenvolvimento do processo de domesticação e sedentarização das sociedades pré-históricas européias. Depois, a inter-relação entre assentamentos, monumentos e santuários, a construção de enterramentos sobre assentamentos e/ou terras aráveis nas Ilhas Britânicas (no continente, ao contrário, os enterramentos encontram-se em terras não-aráveis), e o significado dos celeiros e poços de estocagem de alimentos, bem como sua relação com o sagrado, isto é, com a arquitetura de certas fontes sagradas e com os enterramentos em poços (muitas vezes realizados em antigos poços de estoque de grãos, haja vista os achados de Danebury). Finalmente, alerta ele para a necessidade de futura reflexão acerca das categorias teóricas empregadas para o estudo tanto da esfera ritual quanto da doméstica.
B. vem, com maestria, unir pontos que têm sido amplamente debatidos para o estudo das sociedades “pré-históricas” européias na academia de língua inglesa, a saber: 1) entender que ritual não se encontra vinculado tão somente à religião, mas que permeia toda a vida de uma sociedade; 2) a necessidade de compreender que grande parte dos achados arqueológicos de que dispomos advêm de contextos rituais (não somente em santuários e enterramentos, mas em fundações de casas, atividades artesanais, poços de estocagem e extração); e 3) a necessidade de abandonarmos a lógica simplista do “utilitário” x “simbólico” na interpretação desses achados.
Eis, pois, que uma nova forma de abordagem se consolida, oferecendo-nos a possibilidade de compreender as estruturas de assentamentos através de um viés menos simplista, menos corriqueiro, ressaltando, no dizer de B. (2003), “uma vida menos ordinária”.
Nota
1 Apesar de só ter sido publicado em 1996, este trabalho circulou entre os colegas ingleses desde 1990, causando grande impacto (Woodward 2002: 71).
Referências
BELL, C. Ritual Theory, Ritual Practice. New York/ Oxford: Oxford University Press, 1992.
BOURDIEU, P. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge studies in social anthropology – 16, 1977.
BRADLEY, R. A life less ordinary: the ritualisation of the domestic sphere in later prehistoric Europe. Cambridge Archaeological Journal 13 (1), 2003, pp. 5-23.
HILL, J.D. Ritual and Rubbish in the Iron Age of Wessex: a Study on the Formation of a Specific Archaeological Record. Oxford: Tempus Reparatum, BAR British Series 242, 1995.
HUMPHREY, C. & LAIDLAW, J. The Archetypal Actions of Ritual: A Theory of Ritual Illustrated by the Jain Rite of Worship. Oxford: Clarendon Press, 1994.
ORME, B. Anthropology for Archaeologists: an Introduction. London: Duckworth, 1992, Chap. 5, pp.218-254.
PARKER PEARSON, M. Food, fertility and front doors in the first millennium BC. In: CHAMPION, T.C. & COLLIS, J.R. (eds.) The Iron Age in Britain and Ireland. Sheffield: University of Sheffield; J.R. Publications, 1996, pp.117-129.
RENFREW, C. (ed.) The Archaeology of Mind. Cambridge: Cambridge University Press, New Directions in Archaeology, 2001.
WHITEHOUSE, R.D. Ritual objects – archaeological joke or neglected evidence? In: WILKINS, J.B. (ed.) Approaches to the Study of Ritual. London: Accordia Research Institute/University of London, 1996, pp. 9-30.
WOODWARD, A. Sherds in Space: pottery and the analysis of site organisation. In: HILL, J.D. & WOODWARD, A. Prehistoric Britain: the Ceramic Basis. Oxford: Oxbow, Prehistoric Ceramics Research Group/Occasional publication 3, 2002, pp. 62-74.
Adriene Baron Tacla – Doutoranda em Arqueologia St Cross College, Oxford. E-mail: adrienebt@yahoo.com.br
BRADLEY, R. Ritual and Domestic Life in Prehistoric Europe. London: Routledge, 2005. Resenha de: TACLA, Adriene Baron. Práticas Rituais e Assentamentos Pré-históricos na Europa. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.6, n.1, p. 57-59, 2006. Acessar publicação original [DR]
Nine worlds of Seid-Magic: ecstasy and neo-shamanism in North European paganism | Jenny Blain
Em 1854 um dos primeiros estudos acadêmicos sobre religião nórdica foi publicado. Realizado pelo historiador norueguês Rudolph Keyser, o livro The religion of northmen concedia muito pouco espaço para a prática mágica do Seiðr, estrategicamente discutida num capítulo intitulado “feitiçaria”. Segundo este pesquisador, o Seiðr teria um caráter secreto e muito misterioso (KEYSER, 1854). Mesmo a tradução exata da palavra sempre foi muito debatida. Em 1935 D. Strömbäck publicou um estudo clássico sobre o tema, Sejd: Textstudier I nordisk religionhistoria, o primeiro a propor a conexão entre práticas xamanistas lapônico-finlandesas e os cultos Vikings (1), retomada parcialmente por Eliade em 1951 (Le chamanisme) e plenamente por Thomas DuBois em 1999 (Nordic religions in the Viking Age).
Dentro do contexto desse debate, a antropóloga norte-americana Jenny Blain apresenta sua mais recente contribuição: o livro Nine worlds of Seid-Magic. A principal proposta da autora não é realizar um estudo historiográfico ou literário, mas sim entender o desenvolvimento do Seiðr dentro da sociedade moderna, seus valores e sua relação com a prática original da Idade Média. Para entender essa conexão, ela utiliza a metodologia dos estudos de gênero, principalmente as teorias de J. Butler; análise de fontes literárias do século 12 à 14 e observação participante de vários meses com praticantes de neo-xamanismo europeu e indígenas da América do Norte.
Afinal, o que é Seiðr? Para Boyer (1981, p. 144) a palavra significaria tanto “canto” como “união”, ao contrário da maioria das traduções, que entendem a mesma como “feitiçaria” (WARD, 2001). Por sua vez, Jenny Blain prefere utilizar vários conceitos ao longo do livro, testando todos conforme o contexto analítico. O que todos concordam é que o Seiðr teria sido uma prática mágica realizada essencialmente por mulheres (seiðkonas) durante a Era Viking, algumas vezes utilizando cantos, outras vezes utilizando técnicas de adivinhação.
Os primeiros quatro capítulos do livro são dedicados a contextualizar as práticas do Seiðr moderno, questões conceituais e introdutórias, além de descrições de narrativas xamanísticas. É a partir do capítulo 4 (Approaching the spirits), que a obra se torna mais interessante aos estudos historiográficos. Blain retoma o conceito de Mircea Eliade para explicar o fenômeno do xamanismo, isso é, seria toda técnica de êxtase para alcançar experiências em outro mundo. Logo de início a autora tem uma constatação muito interessante: não há nas sagas elementos primordiais ao xamanismo – a supremacia de homens nos cultos, a ocorrência de tambores ritualísticos e a existência do xamanismo como um prática central na comunidade (toda ela aceitando o ritual). Sabemos que no Seiðr Viking as mulheres eram preponderantes, mas era a religião sob a forma de sacerdotes masculinos que prevalecia socialmente (com variações de culto). As seiðkonas eram marginalizadas ou mesmo estrangeiras atuando momentaneamente nas comunidades. E tambores nunca foram encontrados pela arqueologia e são mencionados raramente nas fontes.
A questão social do Seiðr é fundamental para Blain: quando as relações com as praticantes são negativas na comunidade, elas eram denominadas de fordæða (ou mesmo seiðkonas), mas ao contrário, quando estas relações eram positivas, elas eram chamadas de spákona. Outra técnica mágica conhecida na Era Viking, o Spá (profetizar), várias vezes confunde-se nas fontes com o Seiðr. Muitas das situações positivas das mulheres que realizavam magia registradas pelas sagas, refere-se ao papel profético ou de cantos mágicos realizados para benefício de alguns membros ou de toda a comunidade envolvida. Sempre associados com algum caráter de fertilidade e prosperidade. Como na situação em que uma mulher é chamada para resolver o problema da fome de um vilarejo (por meio de cantos obteve peixes…), ou na Groelândia, quando uma spákona foi solicitada para predizer o progresso da comunidade, algo que ela fez por meio da invocação de espíritos (varðlokur).
A situação mais complexa para análise são os momentos em que a magia feminina foi considerada maléfica, não importando a classe social da praticante. O caso mais famoso é a rainha Gunnhildr da Noruega, uma seiðkona, acusada de feitiçaria e atos malévolos. Para Blain, essa rainha encarnaria o protótipo do mal e da mulher vingadora no mundo nórdico, manifestado pela misoginia das fontes. Gunnhildr foi inimiga do célebre Viking Egil Sakalla-Grímsson.
O capítulo 7 (Ergi seiðmen, queer transformations?) analisa a polêmica relação entre homens e a magia Seiðr. A maior parte das fontes tratou os praticantes masculinos como Ergi, passivos sexuais ou efeminados. O problema é que nos dias atuais existem muitos homens que se envolvem com esse tipo de ritual nórdico e contestam esta visão (2). As fontes que tratam dessa circunstância são de dois tipos: as que se referem aos deuses e as que citam situações históricas. No primeiro tipo, temos as famosas passagens do Lokasenna 23, 24 e Ynglingasaga 7, onde o deus Óðinn foi acusado de ser Ergi, justamente por ter se envolvido com o Seiðr. Lembramos que esse tipo de magia era associada aos deuses Vanires, especialmente à deusa Freyja e existem registros de cultos ligados a sacerdotes efeminados (3).
No contexto histórico, existem dois episódios muito populares. Rögnvald, filho do rei norueguês Haraldr Finehair, com mais 80 homens acusados de praticar Seiðr, foram queimados – um ato totalmente aprovado pela comunidade (Haralds saga hárfagra 36). Outro rei, Óláfr Tryggvason, também mandou executar 80 seiðmaðrs (BLAIN, 2002: 112). Para analisar esses e outros episódios violentos, Blain recorre à teoria do chamado “terceiro gênero”, homens que encarnariam papéis tanto masculinos quanto femininos na sociedade nórdica. A principal sustentação para esse ponto de vista pela autora, é uma passagem do poema Hyndluljóð 32, que cita os três principais tipos de praticantes de magia nórdica: völvas (videntes, outro termo para spákonas e seiðkonas), vitkis (homens que praticavam a magia rúnica, Galldr, também chamados de galdramaður) e Seiðberender. Neste último, teríamos um exemplo de terceiro gênero – homens efeminados com papéis as vezes tolerados, as vezes reprimidos pela sociedade escandinava. Baseada na teórica inglesa J. Butler, a autora realiza uma interessante discussão sobre gênero, que não reside apenas no sexo biológico e nem confinado na oposição binária dos papéis coletivos, mas sim numa noção de performance: a atividade dos homens efeminados na comunidade e os limites de sua transgressão nas fronteiras fixas dos códigos e leis sociais sobre comportamento sexual.
Ainda nesse mesmo capítulo, influenciada pelas novas perspectivas da antropologia (como a obra de A. Salmond), Blain trabalha o conceito de religião como algo sempre mutável nas sociedades, recebendo influências externas, ao mesmo tempo que se modifica internamente no decorrer da História. O momento mais interessante é a discussão dos termos Ergi e Nið, dentro do contexto das fontes. Deixando sempre claro o uso dessas palavras como insultos, e seguindo reflexões do historiador sueco Meulengracht Sørensen, a autora envereda para o conceito de Nið com conotações políticas e sociais. Ela consegue vislumbrar (p. 131), que a acusação de Óðinn por Loki e os conflitos históricos mencionados, não se baseavam apenas nas categorias de gênero, mas faziam parte de uma oposição interna entre “os guerreiros de Óðinn” e os “praticantes de Seiðr”. E é justamente nesse instante que percebemos a maior deficiência do livro: poderia ter analisado muito mais a fundo essa perspectiva. Talvez se tivesse consultado o clássico Du mythe au roman, 1970, de Georges Dumézil, a autora teria elementos analíticos muito mais eficientes. Em um trecho rápido, mas extremamente denso, o famoso mitólogo explora o insulto a Óðinn e a queima histórica dos seiðmaðrs como reflexo de uma rivalidade religiosa interna ao mundo Viking, uma “magia nobre” – identificada ao deus caolho, e outra “menos nobre ou baixa”, vinculada à deusa Freyja e aos vanires (DUMÉZIL, 1992: 79-96).
Em nosso ponto de vista, o que estava em jogo na antiga sociedade escandinava não eram apenas relações de gênero e padrões de comportamento sexual, mas tensões entre diferentes formas de culto (4). A elite (Jarls), maiores cultuadores de Óðinn – onde presenciamos os casos de execução pública de homens praticantes de Seiðr; e ao contrário, as menções às mulheres do Seiðr nas fontes, nem sempre bem vistas, mas quase sempre necessárias nas comunidades de fazendeiros (bóndis) – justamente, a classe dos Karls, a exemplo do caso mencionado dos fazendeiros da Groelândia. Existiria um conflito direto entre formas religiosas públicas da elite (dominadas pelo referencial masculino/odinista) e a magia privada dominada por mulheres (cultuadoras de vanires)? Enquanto que nas comunidades de fazendeiros essas tensões seriam suplantadas pelas necessidades cotidianas, atendidas pelo Seiðr? E a misoginia das fontes é apenas influência do período cristão ou reflexo direto do pensamento Viking?
Essa é a perspectiva que acreditamos que sejam necessárias novas investigações, um caminho multi-disciplinar: o estudo entre as variações das formas de cultos + classes sociais + gênero + sexualidade, que geraram tanto as tensões sociais quanto os referenciais sobre homem e mulher na Era Viking. E também novos estudos linguísticos e historiográficos para entender com mais profundidade as noções de Seiðr, Nið e Ergi nas sociedades escandinavas cristãs dos séculos 12 a 14 (a época em que foram redigidas as fontes).
Sem ter a densidade analítica de autores acadêmicos como Boyer (1981), Davidson (1993) e DuBois (1999), o livro de Jenny Blain ainda assim será uma referência muito importante para todos aqueles que querem entender melhor o papel da magia e da religião no mundo nórdico medieval.
Agradecimentos: à historiadora Luciana de Campos, pelas informações sobre teoria de gênero e história das mulheres.
Notas
1. Infelizmente esse livro de D. Strömbäck permanece inédito em inglês, francês e espanhol.
2. Um exemplo é o artigo esotérico de Ed Richardson, Seiðr Magic, publicado na internet. Segundo esse autor, os rituais dos guerreiros Berserkers e Ulfhednar utilizariam a magia Seiðr. Mas isso não é corroborado por nenhuma fonte literáriohistórica nem referencial bibliográfico acadêmico. Na realidade, Richardson utilizou outros autores esotéricos (como Jan Fries e Nigel Pennick) para referenciar essa informação. Como os Berserkers são identificados com elementos extremamente viris dentro da cultura Viking, não seria uma forma de alguns neo-paganistas tentarem legitimar a prática do Seiðr para homens em nossos dias? Esse artigo também possui outros erros: o uso do Seiðr para guerras e batalhas; a descrição dos deuses Vanires como sendo um antigo povo escandinavo (algo nunca confirmado pela arqueologia ou historiografia). Os melhores e mais documentados textos na Web sobre Seiðr são os de Paxson (1997), Blain & Wallis (2000), Berlet (2000) e Ward (2001). Segundo o excelente estudo de Berlet (2000), homens viris na Era Viking seriam adeptos da prática do Galldr (magia rúnica, a exemplo do herói Sigurðr da Völsunga Saga e do poetaguerreiro Egil Sakalla-Grímsson, este último filho de um Berserker).
3. Saxo Grammaticus (Gesta Danorum VI, v, 10), cita que o herói varonil Starkatherus ficou horrorizado quando presenciou cultos para o deus Freyr realizados na Suécia Viking: os homens realizariam danças efeminadas (effeminatos corporum motus) e teriam “trejeitos mimosos” (DUMÉZIL, 1992: 140). Os Lapões realizavam cultos onde os homens se travestiam de mulheres (idem, p. 141). Tácito citou a tribo germânica dos Naharvalos, onde existia um sacerdote que presidia os cultos vestidos de mulher (Germânia 44). Segundo Heródoto (História), entre os Citas ocorria uma casta de sacerdotes efeminados chamados de Enarees (homem-mulher). O antropólogo Timothy Taylor cita vários casos de sacerdotes xamanistas que mutilavam ritualísticamente a região genital, na Europa, Ásia e Índia. O mesmo pesquisador apresenta uma análise de certas figuras do caldeirão de Gundestrup (originário da Dinamarca do século II a.C.), apresentando androginia ritualística, onde as figuras andróginas portam espadas, com pelos nos ombros e seios (TAYLOR, 1997: 203-211). Mircea Eliade menciona sacerdotes xamanistas que se vestem de mulheres entre os tchuktche asiáticos, esquimós, índios da América do Sul e Norte (berdaches: homens-mulheres). A explicação do mitólogo para esse fenômeno universal é clássica: “A transformação simbólica e ritual explica-se provavelmente por uma ideologia derivada do matriarcado arcaico”. (ELIADE, 1998: 286). A respeito do homossexualismo na cultura Viking, o trabalho mais documentado é o da historiadora Christie Ward (2002).
4. Em seu excelente artigo Galldr and Seiðr, Robert Berlet apresenta uma perspectiva muito próxima de nossas problemáticas. Para ele, existiria a prática do Seiðr – dominada por mulheres e com técnicas muitas vezes agressivas/malévolas, quebrando as convenções sociais; e a magia rúnica (Galldr) – totalmente dominado por homens viris, especialmente voltada para proteção e com caráter nobre. Odinistas míticos (Sigurðr) e históricos (Egil Skallagrimssom) foram treinados nessa última arte mágica. Assim, para Berlet, Seiðr e Galldr seriam essencialmente diferentes em seus resultados (Berlet 2000).
Referências
BLAIN, Jenny & WALLIS, Robert. Seiðr, Gender and Transformation, 2000. http://www.thetroth.org/resources/jenny/nfldpaper.html
BERLET, Robert. Galldr and Seiðr: Two Sides of the Same Coin. Gender & Identity in Viking Magic, 2000. http://www.publiceye.org/racism/Nordic/viking-magic.htm
BOYER, Régis. Yggdrasill: la religion des anciens scandinaves. Paris: Payot, 1981.
DAVIDSON, Hild Roderick Ellis. The lost beliefs of Northern Europe. New York: Paperback, 1993.
DUBOIS, Thomas A. The intercultural dimensions of the Seiðr ritual. In: _____ Nordic religions in the Viking Age. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999.
DUMÉZIL, Georges. A magia má dos Vanes. In: _____ Do mito ao romance. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
ELIADE, Mircea. Técnicas de êxtase entre os antigos germânicos. In: _____ O xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
KEYSER, Rudolph. Sorcery. In: _____ The religion of the northmen. New York, 1854. http://www.northvegr.org/lore/northmen/016.php
MONTEIRO, Paula. Magia e pensamento mágico. São Paulo: Ática, 1986.
PAXSON, Diana L. Sex, Status and Seidh: homosexuality and Germanic Religion. Idunna n. 31, 1997. http://www.hrafnar.org/seidh/Sex-status-seidh.html
RICHARDSON, Ed. Seiðr Magic, 1998. http://www.phhine.ndirect.co.uk/archives/ess_seidr.hytm
TAYLOR, Timothy. Xamãs travestidos/Sexo tântrico na Dinamarca da Idade do Ferro. In: _____ A pré-história do sexo. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
WARD, Christie L. Women and magic in the Sagas, 2001. http://www.vikinganswerlady.com
_____ Homosexuality in the Viking Age, 2002. http://www.vikinganswerlady.com
Johnni Langer – Departamento de História/ UNC. E-mail: Johnnilanger@yahoo.com.br
BLAIN, Jenny. Nine worlds of Seid-Magic: ecstasy and neo-shamanism in North European paganism. London/New York: Routledge, 2002. Resenha de: LANGER, Johnni. Poder feminino, poder mágico. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.4, n.1, p. 98-102, 2004. Acessar publicação original [DR]
Wise Women – Reflections of Teachers of Midlife – FREEMAN; SCHMIDT (CSS)
FREEMAN, Phyllis R.; SCHMIDT, Jan Zlotnik (eds). Wise Women – Reflections of Teachers of Midlife. New York: Routledge, 2000. 274p. Resenha de: SENGER, Elizbeth. Canadian Social Studies, v.36, n.2, 2002.
This book is a collection of reflective essays by long term post-secondary instructors, all female, who have now reached midlife. They offer an insightful variety of perspectives some positive, some rather bitter on the challenges and rewards of teaching careers. For the most part, these educators speak in clear language, full of emotion and heartfelt sentiment, about how the educational process has changed them both professionally and personally. One theme which remains constant throughout is that these women freely chose the education profession and clearly understand the importance of this lifelong work.
Wise Women will appeal to anyone, male or female, who has an interest in the educational experience from the instructor’s perspective and should be in any educator’s professional development library. Although some of the reflections are personal, they all evaluate the personal and professional lives of the writers’, sharing what they have learned to do and not do; sharing the greatest rewards and greatest heartbreaks of their careers, and in some cases, of their personal lives. After reading this book the reader will take away a very clear message about education: that teaching and learning, for all of the parties involved, is an ongoing process in which understandings of strategies, techniques, students and selves is continuously evolving and that it is not a process confined to classrooms or hallowed halls. The impact of educational experiences overflows into all aspects of the lives of those involved.
An interesting element of Wise Women is that very few of the contributors focused on the curriculum they teach, but rather discussed at length the process, the gaining of patience, the deepening understanding of themselves and their students. This truly is a book about living, learning and growing as human beings which the profession of teaching and learning encompasses in a most meaningful way.
The editors asked the writers to reflect upon their teaching careers. This is a valuable, perhaps even necessary process for educators to go through. Each year I teach, I find myself continually evaluating the students in my class (each group may be totally different, as some of the writers pointed out) and how I need to adapt my classroom environment and techniques to help them learn. Given the plethora of new ideas and techniques with which educators are bombarded, it is essential to continually examine what we do, how and why we do it, and to be open to the possibilities of adapting and/or adopting new methods, techniques and strategies, as well as retaining the good processes we have already developed. Personal reflection can certainly be a rewarding, and at times, painful experience and it speaks to the courage of these women that they rose to the challenge set before them. It is clear from their reminiscences that these educators went through many phases of growth in their long and distinguished careers. There is some bitterness and resentment in these contributions, as women still, in the twentieth (now twenty first) century, experience the small mindedness of discrimination on campuses across North America. Clearly, as progressive as the field of education may be, we still have a great deal of work to do in opening peoples’ minds to the value of integrating the talents and abilities of fully half the population. This is one of the important actions we, as educators, need to take and reading this book makes that even more clear.
I believe the significance of this book in focusing on midlife teachers is, in part, to provide assistance for those of us who come after these women; to continue learning how to cope with the vast and varied challenges that education presents. The contributors managed to deal effectively with internal and external changes, but often the struggle has taken its toll. In other cases, some of the writers make the point that while the world around them, and their external appearances may have changed, their inside selves have remained dynamic, young, energetic, and enthusiastic things which all teachers need to do their jobs with joy and love, and I believe, to be truly effective. Teaching at any level is not for the faint of heart!
Teaching and learning is as much about learning how to cope with constant change as it is presenting an established curriculum. While very few of these women focused on, or even mentioned, what curriculum they teach, they all had a great deal to say about the physical and psychological environments in which they work. Human interactions; increasing understanding of self and others; adapting teaching techniques to changing students and changing times; learning to balance personal and professional needs; these are the things which this book deals with so effectively, and it is an essential read for anyone who is, has been, or desires to become that much maligned, but very essential professional a teacher.
Elizabeth Senger – Henry Wise Wood High School. Calgary Alberta.
[IF]Tropical Versailles: empire, monarchy, and the portuguese Royal Court in Rio de Janeiro – SCHULTZ (VH)
SCHULTZ, Kirsten. Tropical Versailles: empire, monarchy, and the portuguese Royal Court in Rio de Janeiro, 1808-1821. New York: Routledge, 2001. Resenha de: NEEDELL, Jeffrey. Varia História, Belo Horizonte, v.17, n.25, p. 255-258, jul., 2001.
Redefinindo a Monarquia em uma Sociedade Escrava1
É um antigo lugar comum observar a particularidade estabilidade política do Brasil no século dezenove. Normalmente, se discute que isso deriva de circunstâncias singulares da conquista da sua independência com a manutenção das instituições e do herdeiro da monarquia Portuguesa no Rio de Janeiro. É sempre sugerido que a estabilidade deveu-se, assim, muito ao fato de que as estruturas políticas e sociais da colônia brasileira se mantiveram relativamente intactas devido a essa singular transição. A bem sucedida história intelectual e cultural da Corte Real no exílio, de Schultz, deixa de lado esses lugares comuns ao examinar o quanto a monarquia mudou e como essa mudança foi percebida entre 1808 e 1822, e a forma com que essas mudanças foram vistas e se manifestaram no pensamento e no dia-a-dia.
Por mais que esse estudo se deva aos últimos dez ou vinte anos da moderna história cultural, ele se baseia em um estudo muito meticuloso de fontes de arquivos e trabalhos contemporâneos publicados. De fato, algumas das preocupações centrais do livro são baseadas na minuciosa leitura de correspondência particular e do Estado, registros policiais, teatro e literatura, panfletos de política contemporânea e da coleta invejável de outras fontes publicadas da época, tanto em Portugal quanto no Brasil. Além disso, Schultz lucrou com a recente preocupação de seus colegas em torno dessa época, citando um número de trabalhos recém-publicados e teses não publicadas e dissertações no Brasil e nos Estados Unidos. Também merece comentários a imparcialidade de suas análises e conclusões. Por mais provocativos que fossem os assuntos, ela transporta a perspectiva dos contemporâneos com cuidado e chega a sua própria avaliação com criteriosa objetividade.
Inevitavelmente há imperfeições. Na minha leitura, elas parecem se acumular no terceiro capítulo, onde, freqüentemente, uma ou duas fontes são a única evidência para o pensamento ou a resposta a um número de pessoas (e. g., pp. 73-74, 78-80, 81, 85), ou no terceiro e quinto capítulos, onde as citações nem sempre suportam o peso das interpretações (e. g., 73-75, 103,164, 166). Também me pergunto porque, em um livro em que se faz tão boas observações com tão boas evidências, a autora se sinta obrigada a citar tantos autores recentes no texto (ao invés de fazer nas notas) para apoiar seus argumentos ou sugerir questões em comum. Mas nenhuma dessas faltas ocasionais é de importância no argumento central do livro, e elas são um pequeno preço a se pagar pela informação, pela análise e pelas sugestões que a autora nos dá aqui.
A contribuição do livro deve ser entendida no contexto historiográfico. Pode-se dizer que o sentido político da monarquia Brasileira sofreu terrivelmente de uma extrapolação ahistórica, na contramão do seu sucesso histórico. Isto é, a unidade da América Portuguesa depois da independência e a sua relativa estabilidade política tendem a serem dadas por certas. A maioria dos historiadores, por algum tempo, gastou sua energia em estudar a monarquia posterior, para entender a passagem do regime, ou, mais freqüentemente, eles compreenderam a história política da monarquia como algo que não mudava e se concentraram na análise de história social ou econômica, particularmente, sobre a escravidão e a abolição. Essas modas vêm se revertendo vagarosamente tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos.
José Murilo de Carvalho teceu competentemente uma elegante análise política das preocupações sócio-econômicas na publicação portuguesa de 1980 de sua dissertação feita em Stanford em 1974. Em 1985, Emilia Viotti da Costa retrabalhou muitos dos seus artigos originais em uma história do império; em 1988, Roderick Barman nos forneceu uma impecável narrativa política explicando a formação nacional entre a última década do século dezoito e 1853. Richard Graham tentou fazer um modelo provocativo do comportamento político nos níveis local e nacional, em 1990. Outros se ativeram a análises políticas mais particulares, como Thomas Flory, em 1981, sobre a ideologia e as reformas da oposição liberal dos anos de 1820 e 30. Neill Macaulay escreveu um delicioso estudo revisionista do primeiro imperador, em 1986. Eul-Soo Pang tentou desenvolver um entendimento da nobreza, em 1988, Barman forneceu aguda e completa biografia do segundo império, em 1999, e , no mesmo ano, Judy Bieber publicou estudo de caso da história política e comportamento no interior de Minas Gerais. Artigos bastante recentes de Jeffrey Mosher e Jeffrey Needell sugerem livros a serem publicados sobre a história política de Pernambuco e do Partido Conservador , respectivamente, e também temos artigos e livros de autoria de Hendrik Kraay (2001) e Peter Beattie (2001) interligando a instituição da monarquia, o exército, à história política e social do regime. No Brasil, o trabalho de Carvalho foi precedido por uma rica e pioneira antologia a respeito da independência, editada por Carlos Guilherme Mota em 1972, e então seguido pelo ambicioso estudo de Ilmar Rohloff de Mattos, sobre a ideologia do estado, em 1990. Em 1998, temos a sofisticada análise da cultura pública da monarquia colonial tardia e da recém-proclamada monarquia nacional de Iara Lis Carvalhos Souza e o tour fascinante de Lilia Moritz Schwartz sobre cultura pública e a iconografia do Segundo Reinado. Em 1999,Cecilia Helena de Salles Oliveira forneceu sua análise investigativa dos interesses sócio-econômicos influenciando a independência; em 2000, Isabel Lustosa publicou sua instigante análise da imprensa periódica política da segunda década do século dezenove, porta-voz dos interesses e das ideologias dominantes.
Em uma frase, o magistral trabalho de tais pioneiros como Murilo de Carvalho, Viotti da Costa, e Barman nos permitiu atacar partes menores de um todo, suprimindo muito que era pobre e superficialmente entendido. O livro de Schultz é, então, apenas a última contribuição à redescoberta e reavaliação da história política da monarquia. É, no entanto, especialmente convincente na metodologia, informando sua idéia e a centralidade do seu foco. A transição Portuguesa e Brasileira para monarquia constitucional e a independência foram habilmente traçadas por Macaulay e contribuintes da antologia de Mota (particularmente Maria Odila Leite da Silva Dias, Francisco D. Falcon e Ilmar Rohloff de Mattos), e Barman, entre outros. Estes, e mais recentemente Salles Oliveira, já nos serviram com narrativas políticas detalhadas e análises baseadas em fatos sobre a transição em termos de ideologia, contingência política e interesses sócio-econômicos. A contribuição de Schultz está em ir além dos eventos e das forças sócio-econômicas ou políticas dirigindo-nos a um entendimento de como a transição ocorreu na experiência vivida no centro político do Brasil.
Shultz faz essas coisas quando amarra a análise arquivística típica da melhor historiografia tradicional com as inovadoras preocupações dos estudos de cultura política comuns entre os novos historiadores. Ela o faz em um estudo de como a fuga e o exílio da Corte Portuguesa levou a uma reavaliação e reconstrução da instituição da monarquia em uma época revolucionária e em uma sociedade escravista marcada por distinções raciais. Os capítulos são organizados cronologicamente, amarrando questões chave: o impacto do exílio na natureza do império Português e a legitimidade da monarquia, a metamorfose do posto de vice-rei do Rio de Janeiro na Corte de um império, o impacto da proximidade monárquica dos seus vassalos americanos, a ambigüidade do papel da monarquia com respeito à instituição da escravidão, a metamorfose do comércio do Atlântico e o papel dos brasileiros, portugueses e ingleses em tudo isso e o desafio do constitucionalismo liberal na antiga metrópole e no novo reino do Brasil.
Nesses capítulos ela demonstra que o exílio transformou a monarquia de um regime absolutista Europeu com colônias no além-mar em uma regenerada, até mesmo nova, monarquia e então, finalmente, em uma instituição constitucional tentando conter revoluções políticas e equilibrar os reinos de ambos os lados do Atlântico. Ao fazê-lo, ela explora a forma com que discourso político e cerimonial indicam e incorporam as mudanças e desafios da época, e são refletidos nos usos da monarquia, no aparecimento da cidade, nas medidas de repressão e controle dos escravizados, na correspondência e nos memorandos dos oficiais e cortesãos da Coroa e na percepção e controle dos pobres e cativos. Essa aproximação cultural e íntima leitura ideológica são contribuições inovadoras com claro potencial para futuros trabalhos de outros historiadores. De fato, isso é algo que Schultz faz alusão quando nota que muitas das contradições da transição da monarquia foram legadas de forma intacta ao Império do Brasil. É um livro bem vindo, escrito claramente, vigorosamente discutido, e potencialmente seminal. Certamente vai resistir.
Nota
1 Em parceria com H-LatAm e H-Net.
Jeffrey Needell – History Departmente/University of Florida/USA.
[DR]
Population Politics in Twentieth-Century Europe. Fascist Dictatorships and Liberal Democracies – QUINE (VH)
QUINE, Maria Sophia. Population Politics in Twentieth-Century Europe. Fascist Dictatorships and Liberal Democracies. London: Routledge, 1996. Resenha de: FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de. Varia História, Belo Horizonte, v.13, n.17, p. 282-287, mar., 1997.
É fato reconhecido que os historiadores têm hesitado em penetrar em uma seara praticamente monopolizada por sociólogos, cientistas políticos e economistas, qual seja, a área de estudos que constitui uma verdadeira indústria de pesquisa sobre o wefare state. Sob a égide dos auto-denominados ” hard scientists”, a teorização sobre a origem e expansão do Estado de Bem-Estar Social, partindo da tese conhecida como “lógica da industrialização”, passando pela argumentação marxista e pela “lógica dos recursos de poder” (que destaca o papel dos movimentos sindicais e dos partidos trabalhistas), desembocou na hoje prevalecente elaboração “neo-institucionalista”. Essa teorização, tantalizada pela regularidade, tem relegado a um segundo plano elementos que constituem a verdadeira essência do ofício do historiador: a temporal idade e as particularidades. As explicações genéricas desenvolvidas para elucidar a conformação do wefare state têm tomado como variáveis o processo de industrialização e modernização, a democracia, o capitalismo, a competição partidária e os grupos de interesse. Sua aversão à contextualização, informada pela busca de fatores generalizantes e universalmente aplicáveis, mostra-se flexível apenas no consenso sobre a utilidade de se estabelecerem tipologias dos Estados de Bem-Estar Social.
Não nos cabe aqui listar os sucessos recentes daqueles historiadores que “ousaram” cruzar as fronteiras. Talvez possamos apenas, de passagem, endossar a sugestão de Peter Baldwin, para quem o “temor” da historiografia em fazer sua a temática talvez se deva, em parte, ao “inevitável atraso com o qual os historiadores respondem aos tópicos” (“The Welfare State for Historians. A Review Article”. Compara tive Study of Society and History, Vo1. 34, No 4, 1992, pp.695-707).
Contudo, mesmo que essa não seja uma ambição explícita do trabalho de Maria Sophia Ouine, que leciona História Européia Moderna na Universidade de Londres, fato é que seu Population Politics in TwentiethCentury Europe cumpre bem o papel de alertar para o fato de que a historiografia tem muito a contribuir para a compreensão das origens e do desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social. Na verdade, a contribuição de Ouine nesse sentido é apenas implícita, uma vez que a autora, através de uma análise apurada das políticas populacionais implementadas na Itália, na França e na Alemanha na primeira metade deste século, procura apontar as distintas soluções nacionais a um problema comum aos países mais industrializados da Europa Ocidental: a acentuada queda na taxa de natalidade.
É possível dizer que, em todos os países envolvidos, o fenômeno desencadeou acalorados debates que, em graus diferentes, se nortearam por questões da seguinte ordem: considerações militares e estratégicas, o recorrente temor quanto à “extinção da raça” e ao declínio da nação, ataques ao neo-malthusianismo, o papel dos princípios religiosos e da eugenia na reversão do processo de declínio das taxas de natalidade, a central idade da família enquanto instituição social, a revalorização da maternidade e a expansão dos mecanismos de seguridade social visando proteger crianças e mães e redistribuir os custos envolvidos na manutenção de uma família. Contudo, a perspectiva historiográfica deixa evidente o fato de as políticas populacionais discutidas e implementadas terem englobado mais que políticas familiares de incentivo à natalidade ou políticas sociais que lançariam as bases da cidadania social marshalliana. O foco do trabalho de Ouine é exatamente o papel crucial das diversas políticas populacionais nos projetos de “reconstrução nacional” da Itália de Mussolini, da Terceira República francesa e do Terceiro Reich.
Em uma concisa introdução, precedendo os estudos de caso, a autora discute o impacto da pessimista teorização de Malthus acerca do inevitável desequilíbrio entre a produção de alimentos e o crescimento populacional, a influência do neo-malthusianismo e o pânico alarmista, já nas últimas décadas do secúlo XIX, quanto ao espectro do “despovoamento” nacional, uma vez que o declínio acentuado das taxas de natalidade, a partir da década de 1870, passou a eclipsar qualquer temor quanto a uma eventual super-população.
Uma vez que a ênfase no pró-natalismo da Terceira República tem sido o objeto de inumeráveis estudos, a grande originalidade do trabalho em questão talvez resida na comparação das políticas de incentivo à natalidade implementadas no Terceiro Reich com aquelas advogadas pelo regime de Mussolini. É certo que a historiografia ainda não chegou a um consenso quanto à natureza do processo que culminou na Endíosung, a “Solução Final” de extermínio em massa dos judeus e demais “indejesados”. Sem se furtar ao polêmico debate, Maria Ouine encontrou uma solução engenhosa, que não pretende endossar de maneira conclusiva qualquer das posições em contenda. Alertando quanto às armadilhas do “revisionismo” em curso, a autora emprega, de maneira quase intuitiva, um instrumento heurístico eficaz, qual seja, a distinção entre propostas e medidas populacionais “positivas” ou “negativas”.
Apesar da natural repulsa quanto às consequências nefastas da política racial do Terceiro Reich, classificada como “negativa”, a distinção proposta não se prende a julgamentos de valor, atendo-se a aspectos essencialmente quantitativos. “Positivas” são as medidas de incentivo à natalidade, tais como salários família, exames pré-natal gratuitos, acompanhamento médico aos recém-nascidos, creches, prêmios honoríficos ou em dinheiro para famílias numerosas e qualquer outro auxílio financeiro às famílias. “Negativas” são as medidas que procuram restringir a fertilidade, como a divulgação de métodos contraceptivos, a liberalização do aborto e, também, medidas como a esterilização compulsória e outras dirigidas a grupos sociais específicos.
Na Itália de Mussolini, as políticas populacionais foram ativadas muito mais devido às consequências da Primeira Guerra Mundial do que por qualquer persistente e alarmante queda nas taxas de natalidade. A hostilidade gerada pelo neo-malthusianismo na Itália, com sua propaganda dos meios contraceptivos, deveu-se, segundo Ouine, não à força crescente do movimento, mas sim à aguda ambivalência de se discutir abertamente o significado social da sexualidade e da reprodução em um país onde o catolicismo sempre teve raízes tão profundas. As idéias que vertebraram a política populacional de Mussolini foram derivadas de uma peculiar eugenia que, em vez de preconizar a “procriação seletiva”, desejava encorajar a classe trabalhadora a procriar ainda mais. O movimento eugênico italiano era nitidamente pró-natalista e favorável à estruturação de um aparato de seguridade social capaz de amparar mães e crianças. A frustração dos anseios imperialistas italianos responderia por boa parte do pró-natalismo do movimento eugênico no país, bem como pelas políticas populacionais do fascismo.
A faceta assistencialista das políticas populacionais do Duce baseava-se na premissa, defendida pela Sociedade Eugênica Italiana, fundada em 1912, segundo a qual devem ser dadas aos cidadãos recompensas materiais na forma de benefícios sociais e isenções fiscais que possam induzi-Ios a cumprir sua “obrigação cívica” de procriar prolificamente. Como, segundo o suposto, povo fértil é povo robusto, as políticas populacionais do fascismo passaram a enfatizar tanto a “quantidade” como a “qualidade”.
Autores pró-natalistas italianos, além de enfatizar questões militares e estratégicas em sua defesa da necessidade de se elevarem as taxas de natalidade, chegaram mesmo a reverter o argumento de Malthus e destacar que a auto-suficiência na produção de alimentos e a aceleração do processo de industrialização só seriam possíveis com o aumento da população. O investimento em “capital humano” compensaria o país por sua carência de recursos. O título de um ensaio de Mussolini de 1928 sumariza bem o raciocínio: “Números como Força”.
Buscando capitalizar a generalizada frustração nacionalista dos italianos, o pró-natalismo, que cruzava fronteiras partidárias e ideológicas, tornou-se política oficial do regime fascista, servindo de mediador das relações entre o Estado e a sociedade. A “ressureição nacional” preconizada pelo fascismo, galvanizadora da legitimidade do regime, teria como pilar básico uma política populacional nacionalista, ferramenta essencial do planejamento social e da transformação da Itália em um país produtivo, orgulhoso e prolífico, verdadeiro herdeiro da Civilização Romana. A campanha demográfica fascista legitimava a intervenção estatal na esfera privada, transformando a família em instrumento político. O fato de grande parte dos mecanismos de seguridade social preconizados pelo regime jamais ter sido implementada apenas reforça a noção da centralidade da propaganda para a legitimação do “Novo Império Fascista”.
O incremento populacional há muito é reconhecido com uma das principais metas do nazismo. O crescimento demográfico almejado, entretanto, não era irrestrito, mas racialmente qualificado. Mesmo antes dos campos de extermínio, a política populacional do Terceiro Reich poderia ser classificada tanto como “pró-natalista” quanto como “antinatalista”. Maternidade e esterilização compulsórias foram a tônica da campanha de procriação seletiva implementada. O programa nazista de esterilização seria a primeira etapa de um processo de progressiva radicalização que passaria pela campanha da “eutanásia” para culminar no genocídio. A campanha demográfica de Mussolini, quando comparada ao programa de “higiene racial” do nazismo, parece, segundo Ouine, demasiadamente obcecada com os números, com a quantidade. Se a “batalha pela natalidade” advogada pelo Ouce enfatizava mecanismos de natureza “positiva”, parece evidente o destaque dado pelo Terceiro Reich a medidas “negativas”.
Se a brutalidade absoluta do Holocausto levou analistas a buscar razões socio-culturais para tamanho radicalismo, um dos pontos de destaque do livro de Ouine é certamente sua ênfase na quase universalidade dos movimentos eugênicos na Europa, isto é, no fato de, em muitos aspectos, compreensivelmente negligenciados pelos estudiosos ante a malignidade da Endlöosung, o Terceiro Reich não ter sido assim tão excepcional. A “Solução Final”, assim, é explicada tanto pela ideologia hitlerista como pelo monopólio da “biologia social” e da “higiene racial” sobre o aparato público e privado do wefare state alemão. “Essa influência institucional constituiu uma base firme a partir da qual foi promovida uma aceitação gradual de um amplo programa de saúde pública que tinha como objetivo o ‘melhoramento’ racial” (p.103).
Concluindo o livro, Ouine deixa claro o seu ponto: os estudiosos ainda são relutantes em desmitificar as agendas sociais traçadas pelos regimes fascistas comparando-as àquelas estabelecidas por regimes políticos “convencionais”. Na verdade, a noção generalizada de que o Estado deveria controlar a reprodução é um dos pilares básicos das políticas populacionais tanto nas ditaduras como nas democracias (p.132). A peculiar política populacional da Terceira República francesa, assim, com seu notório conservadorismo, seu pró-natalismo clerical, sua ênfase na família como clientela privilegiada do Estado de Bem-Estar Social em formação e no papel dos pais como “salvadores da nação”, compartilha muitas de suas características com os outros regimes analisados pela autora. De maneira similar, as comparações estabelecidas demonstram a falácia recorrente de que havia algo particularmente “fascista” na adoção de políticas populacionais agressivas e autoritárias.
Apenas nas últimas páginas, Ouine reconhece a relevância de sua abordagem para o debate sobre a origem e natureza do Estado de BemEstar Social. As políticas populacionais, centrais no weffare statemoderno, foram implementadas na esteira da ansiedade generalizada acerca de probemas demográficos, que deram o estímulo ideológico e emocional a essas políticas, tanto nas democracias como nas ditaduras.
Se, por um lado, a seleção das experiências italiana, alemã e francesa permite que a autora estabeleça distinções importantes entre fascismo e nazismo, contrapondo-as às políticas populacionais francesas, com resultados desmitificadores, sua contribuição ao debate acerca das origens e expansão do Estado de Bem-Estar Social poderia ser maximizada caso se tivesse optado por uma seleção distinta. Os sistemas de seguridade social da Alemanha, França e Itália têm sido qualificados como “continentais”, “corporativistas” ou “conservadores”, dependendo da tipologia. Alguns analistas chegam mesmo a distinguir uma variante “latina”, englobando França e Itália, entre outros. Caso se resolvesse tomar de empréstimo a renomada tipologia de Esping-Andersen e se analisassem, por exemplo, as políticas populacionais da França (welfare state conservador), da Inglaterra (liberal) e da Suécia (social-democrata), um estudo comparativo dessa natureza poderia marcar definitivamente o terreno para que a historiografia fizesse também sua uma seara da qual ela se alheou por tantas décadas.
Para encerrar, o trabalho de Quine deixa aos historiadores brasileiros a impressão de que as relações do Estado Novo com a eugenia e a “política da reprodução” ainda não foram suficientemente analisadas. Aos estudiosos das políticas públicas, fica a sugestão de que o fator “gênero” venha a assumir papel de maior destaque.
Carlos Aurélio Pimenta de Faria – Doutorando em Ciência Política no IUPERJ. Professor da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro – BH/MG.
[DR]
The Prehistory of the Mind: A search for the origins of art, religion and science – MITHEN (RA)
MITHEN, Steven. The Prehistory of the Mind: A search for the origins of art, religion and science. London: Thames and Hudson, 1996. 288p. JONES, S. The Archeology of Ethnicity: Constructing identities in the post and present. London: Routledge, 1997. 180p. Resenha de: NEVES, Eduardo Góes. Revista de Arqueologia, v.9, 1996.
Eduardo Goés Neves – Pesquisador do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo.
[IF]










