Posts com a Tag ‘Revista Brasileira de História (RBH)’
Max Weber und die Erste Weltkrieg | Hinnerk Bruhns
Hinnerk Bruhns | Imagem: Hypotheses
Atribuem-se a Heráclito duas fórmulas memoráveis. A primeira, panta rhei, “tudo passa”, faz parte do repertório básico de qualquer aluno de primeiro semestre nas Humanidades. Já a segunda é bem menos citada: “a guerra é o pai de todas as coisas”. De fato, a ideia de que há algo não apenas de estranhamente sedutor, mas também de matricial na guerra, é confirmada à exaustão pela experiência histórica e mesmo por nossa sensibilidade estética. De Homero e do Mahabharata a Euclides da Cunha, da pintura de Otto Dix ao grande romance de Guimarães Rosa, a guerra aparece ora como epicentro narrativo, ora como pano de fundo. Tinha razão Ernst Jünger quando constatou que “a mania da destruição está profundamente enraizada na natureza humana” (Jünger, 2005, p. 48).
Como quer que seja, uma das conquistas fundamentais da modernidade, pelo menos desde a Guerra dos trinta anos, foi a de tendencialmente mitigar o fascínio que, desde sempre, cerca esse fato social total. Daí que, em suas memórias como soldado na Primeira Guerra, o historiador britânico R. H. Tawney não tenha escondido sua repulsa ante a “sensação de desempenhar um papel inútil” no que qualificou de “jogo disputado por macacos e organizado por lunáticos” (apud Stern, 2004, p. 254). Leia Mais
Antigas sociedades da África Negra | José Rivair Macedo
José Rivair Macedo | Imagem: UFRGS
A obra Antigas sociedades da África Negra, de José Rivair Macedo, professor do Departamento de História e do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi publicada no ano de 2021 pela Editora Contexto e já é considerada um clássico e uma leitura recomendada para todos que se interessam pelos estudos africanos, sejam estrangeiros, brasileiros, professores do ensino básico ou superior e público em geral.
Embora Rivair mencione o fato de o texto não possuir uma linguagem didática, mas uma proposta acadêmica com ampla pesquisa bibliográfica e documental, as salas de aula brasileiras, especialmente as localizadas nas periferias, com a maior parte do seu alunado afro-brasileiro, estão prontas para receber esse tipo de trabalho, obviamente quando intermediado pelo docente de educação básica. Os saberes ancestrais, as histórias dos negros na cultura brasileira, como quer o prefácio da obra – que traz inclusive uma canção de Eugênio Alencar, sambista gaúcho e conhecedor das tradições africanas (Rivair, 2021, p. 10) -, estão nesses lugares em que as comunidades afro-brasileiras habitam e aos quais a ciência costuma não olhar. Leia Mais
De metalúrgico a presidente: o Brasil visto a partir da biografia de Lula | John D. French
John D. French | Imagem: Brasil Popular
Em um momento no qual a construção de perspectivas sobre a história e o destino do Brasil voltam-se novamente para Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula1, representações sobre a vida do ex-presidente trazem questionamentos acerca de sua incessante capacidade de mobilizar afetos e disputas interpretativas. Neste contexto, sua trajetória pública e privada remanesce atual e relevante para a compreensão dos impasses do presente e o que se pode esperar do futuro. Esse é o desafio assumido pelo último livro do brasilianista John D. French, que traz uma abordagem surpreendentemente dinâmica para a biografia: Lula and His Politics of Cunning, publicado em outubro de 2020.
O autor é professor de História na Duke University, com atuação também nas áreas de estudos internacionais comparados, africanos e afro-americanos. Com uma vasta e produtiva carreira, French coordena, nos últimos anos, o Duke Brazil Initiative, tendo sido diretor do Latin American Center, também em Duke, e coeditor da Hispanic American Historical Review por cinco anos. Leia Mais
Na transversal do tempo: natureza e cultura à prova da história | Ana Carolina Barbosa Pereira
Na transversal do tempo: natureza e cultura à prova da história encara “o desafio de propor um diálogo entre a teoria da história e a etnologia” (Pereira, 2019, p. 24). Ana Carolina Barbosa Pereira, professora na Universidade Federal da Bahia, aponta de saída que “se a etnologia fala exclusivamente aos(às), etnólogos(as), a teoria da história tampouco apresenta disposição para ouvi-los(as)” (Pereira, 2019, p. 24). E se o diálogo entre esses campos já é inusual, as vozes que a autora convoca para travar a conversação não parecem menos estranhas umas às outras: de um lado, o perspectivismo ameríndio; do outro, o historicismo alemão.
A rigor, o que a obra enseja não é bem uma conversa, mas um jogo (de cartas); ou ainda, como sugere a autora, “uma séria e desafiadora brincadeira” (Pereira, 2019, p. 24). Não há melhor modo de compreender um jogo do que jogando-o; de experimentar a seriedade de uma brincadeira do que brincando-a. Pois bem: valendo!
Como colocar-se na transversal do tempo? Em relação a que tempo uma determinada história se poria na transversal? Ou, ao revés, em relação a que história um tempo determinado estaria na transversal? Como dar conta desses atravessamentos recíprocos? E o que se diz através dessa operação?
Antes de abordar essas questões – e como em qualquer jogo -, é preciso aceitar o conjunto de regras proposto. Elas são poucas, relativamente simples e têm o fito de seguir lance a lance o argumento do livro, que é dividido em três grandes partes. Na primeira, as cartas serão dispostas segundo seus naipes e viradas para cima, de modo a explicitarem quais delas conferem vantagem desleal (porque não relacional) a quem as mobiliza(r). A despeito dessa propriedade distintiva, do ponto de vista formal, não se distinguem das demais. Daí o título do capítulo: “Um jogo de cartas conceituais (não) marcadas”.
Isso feito, na segunda parte acompanhamos a autora “Embaralhando as cartas conceituais”. O propósito aqui é deixar manifesta que vantagem posicional permanente não é contingente, mas arbitrária e, do ponto de vista conceitual, uma impostura. Na língua dos jogos – e no jogo das línguas – dir-se-ia que se trata de mera convenção. Como tal, em tese e sem nenhum prejuízo à natureza da atividade, poderia ser repactuada pelos participantes.
A terceira e última parte é, por assim dizer, um pseudoamistoso: uma tentativa de demonstrar como poderia se dar a dinâmica do jogo – entre as categorias “cultura”, “tempo”, “natureza” e “história” – se a interação entre elas fosse conduzida segundo o design conceitual esboçado a partir de uma redistribuição das cartas conceituais, orientado pelo conjunto de reflexões elaboradas ao longo do livro.
CARTAS CONCEITUAIS (NÃO) MARCADAS: TELEOLOGIA FORMALISTA
A História como discurso acadêmico profissional repousa sobre um consenso disciplinar acerca da obsolescência conceitual de abordagens teórico-metodológicas à moda teleológica das chamadas “velhas filosofias da história”. No lugar delas, a historiografia desenvolveu um campo próprio de reflexões e o batizou com o substantivo mais afeito ao propósito de constituir a História como ciência social dotada de critérios específicos de positividade: teoria.
Nesse sentido, uma das tarefas fundantes da teoria da história é, efetivamente e como argumenta a autora, “esvaziar o conteúdo das filosofias da história” (Pereira, 2019, p. 21). O primeiro giro de pensamento exigido para pôr-se na transversal do tempo é depreender em que medida, apesar de ter seu conteúdo esvaziado na e pela teoria da história, o cerne conceitual das filosofias da história – a saber, seu caráter teleológico – segue formalmente ativo, ou seja, atua na forma da forma.
Repare: não se trata de dizer, como de hábito, que há discrepância ou desconformidade entre conteúdo e forma. Muito menos se trata de delinear aspectos que comprovariam quanto a forma escamoteia o conteúdo que traz a efeito. Ou, pior do que isso, de construir esse escamoteamento como condição sine qua non da própria relação entre forma e conteúdo da história. Não se trata, em suma, de supor que a teoria da história não pareça, não tenha a forma, não se apresente como teleológica, mas, na verdade, o seja. Na transversal do tempo, a teoria da história parece, tem a forma, se apresenta como teleológica… e o é.
Uma empreitada conceitual empenhada em demonstrar que algo não é outra coisa senão precisamente o que parece ser pode ver-se obrigada, ao menos provisoriamente, a conceder que alguma noção deve estar sendo empregada de maneira “controversa”. No caso de Na transversal do tempo, a “controvérsia” se dá com a noção de teleologia. Pereira (2019, p. 21) explica que “por teleologia se entende aqui o descompasso entre o desenvolvimento e a consciência deste mesmo desenvolvimento”.
O exercício desse descompasso é, sem tirar nem pôr, a marca patente do que – o mais tardar desde a célebre formulação de Jürgen Habermas (1988) – veio a ser batizado como “discurso filosófico da modernidade”. O inaugurador deste discurso? Hegel. “Controverso” é, pois, o inverso do adjetivo mais apropriado para insinuar a homologia entre os modos de pensar filosoficamente a modernidade e a inclinação às teleologias à la Hegel, isto é, indelevelmente finalistas, mas, dado seu assentamento no contingente, à prova da acusação de determinismos tacanhos.
Na transversal do tempo traça um dos percursos possíveis para entender essa trama no campo da teoria da história. Aqui, assinala dois pontos de inflexão. O primeiro, em Newton e sua mecânica clássica, responsável pela noção de espaço e tempo absolutos e verdadeiros em si mesmos (Pereira, 2019, p. 30). O segundo, na “revolução copernicana” de Kant, que atribuiu uma dupla natureza a esses pressupostos, de sorte a transmutá-los em “grandezas ontológicas e transcendentais” também do espírito: espaço e tempo transmutados em “formas puras da intuição sensível”, que se constituem como condição de possibilidade do conhecer e, nesse sentido, “conteriam, anteriormente a toda experiência, os princípios de suas relações” (Pereira, 2019, p. 31-32).
O caráter absoluto, contínuo e homogêneo do “tempo em si”, herdado das acepções newtoniana e kantiana, operará por dentro do discurso filosófico da modernidade até ganhar a forma do que Na transversal do tempo (se) apresenta como “continuum temporal.”
Aceitando a tese de que o germe filosófico que inaugura a modernidade é o pensar teleológico que deriva do investimento incessante em suprimir o descompasso entre o que já é (ou seria) e o que se é capaz de pensar que ainda é (ou venha a ser), pode-se dizer, acompanhando o argumento de Pereira, que, a partir dessa matriz, tudo quanto viermos a chamar de interpretação histórica “moderna” (a despeito de assumir a forma de teoria da história ou de historiografia) consistirá na diferenciação desse continuum através de um processo que ela denomina “dinâmica da insciência/consciência do tempo” (Pereira, 2019, p. 65).
A teoria da história de extração alemã será o campo de prova desta hipótese. Aqui, pensando com Manuela Carneiro da Cunha, a autora efetua uma “recuperação das cosmologias ocidentais como objeto de estudo antropológico” (Pereira, 2019, p. 208) e empreende uma densa análise cujo fito é delinear afinidades conceituais. Tais afinidades, para usar uma metáfora antropológica afim, funcionam como um verdadeiro deslinde das estruturas elementares de parentesco de dois dos mais importantes expoentes contemporâneos da teoria da história, Reinhart Koselleck e Jörn Rüsen – entre si e com seus conterrâneos e antecessores, a saber, Wilhelm Dilthey e Gustav Droysen -, num primeiro galho genealógico; e, em passado ainda mais recuado, os vínculos de todos com a filosofia de Kant, de Herder e de Hegel.
Visto nessa perspectiva, e parafraseando Lévi-Strauss ([1958] 2008, pp. 32 e 39), o “continuum temporal” faz as vezes da natureza enquanto a “consciência histórica”, tal qual a proibição do incesto, se apresenta como o ponto de passagem (ou mecanismo de articulação) entre natureza e cultura. Ou ainda, na mesma chave, o “continuum temporal”, do qual a etnóloga tentar se aproximar através da consideração de suas expressões mais ou menos conscientes, equivale a uma “condição inconsciente” (da teoria da história).
A partir de uma engenhosa reconstrução do arcabouço analítico de Reinhart Koselleck, cuja formulação mais célebre é a díade espaço de experiência/horizonte de expectativa, “arriscando uma síntese”, Pereira (2019, p. 78) conclui que “o conceito de ‘tempo histórico’ participa da Historik de Koselleck, ora como condição transcendental das histórias, ora como indicador do processo de tomada de consciência do tempo em si mesmo”. Submetendo o pensamento de Jörn Rüsen a escrutínio semelhante, a autora diagnostica, em sua “razão histórica”, outra variante deste movimento que vai da insciência à consciência do tempo.
Em suma, tanto um como o outro “concordam em relação ao essencial”, isto é, mantêm a prerrogativa de um continuum temporal “natural” que, diferenciado pela ação da consciência, faz emergir o tempo propriamente histórico. É esse o arranjo que Na transversal do tempo (se) apresenta correta e peremptoriamente como uma “teleologia formalista” (Pereira, 2019, p. 86): um tempo que faz as vezes de natureza (o continuum temporal), espécie de unidade originária ainda indiferenciada, é submetido à ação reflexiva do pensamento humano e, nesse processo, que pode ser também descrito como “desenvolvimento da consciência do tempo em si mesmo”, se transmuta em algo intencionalmente diferenciado e, nesse sentido, histórico. E é nessa forma que “consciência histórica” e “tempo histórico” passaram a ocupar um lugar irremovível não apenas na teoria, mas na ciência da história.
Por essa razão, como sugere Pedro Caldas (2004, p. 11), ao se considerar que “pensar historicamente é pensar teleologicamente”, não se está “ressuscitando um cadáver” conceitual. Muito pelo contrário. Vista Na transversal do tempo, esse tipo de “teleologia formalista” – constituída pela relação mimética entre tempo natural e tempo histórico ou consciência histórica – oferece régua e compasso para “esclarecer qual a finalidade do saber histórico, ou seja, […] explicitar seu método, seus limites, funções, normas” e, nesse sentido, representa “o esforço para o estabelecimento de uma autonomia do conhecimento histórico” (Caldas, 2004, p. 11).
“Teleologizar” pressuporia, portanto, manter a excepcionalidade relacional de categorias desenvolvidas a partir de uma experiência particular da consciência do tempo que, em sua própria consecução como cânone de um campo de saber, se projetou como imprescindível à “interpretação humana do tempo e consequente construção histórica de sentido” (Pereira, 2019, p. 21).
EMBARALHANDO AS CARTAS: FUTURO SEM DEVIR HISTÓRICO
O embaralhar de cartas tem como objetivo expandir a superfície de contato da contingência e, assim, aumentar o nível de dificuldade de controle de um jogo. Parte fundamental da arte de jogar cartas, aliás, consiste em dominar as formas de embaralhamento e, não menos, torná-las objeto de admiração e fascínio. Quem nunca terá visto algo do tipo nas apologias hollywoodianas dos cassinos e da jogatina? A propósito e não por acaso, a prática é também uma modalidade distintiva no mundo da mágica.
Vão longe as analogias possíveis entre o que a magia faz com os sentidos, sobretudo o da visão, e o que a teoria faz com o sentido das palavras e das coisas. Com isso em mente, consideremos que o embaralhamento conceitual que Na transversal realizará pretende nos fazer compreender que, “alheia e indiferente ao princípio da insciência/consciência do tempo, a consciência histórica ameríndia não é um devir histórico” (Pereira, 2019, p. 156). Para chegar à tese, a autora nos conduz por um longo percurso conceitual. Sintetizo-o em duas manobras.
Primeiro, ela mobiliza o perspectivismo ameríndio para replicar, dentro da teoria da história, a “inversão multinaturalista” que produz um tipo específico de deslocamento da disposição relacional entre natureza e cultura, a saber, “a cultura ou o sujeito seriam aqui a forma do universal; a natureza ou o objeto, a forma do particular” (Viveiros de Castro, [2002] 2017, p. 303). Assim, fica neutralizada de saída aquela “carta marcada” da ontologia da modernidade, isto é, a persistente oposição entre natureza e cultura, e produz-se algum desarranjo na correspondência entre seus correlatos simétricos universal/dado/objetivo/fato versus particular/construído/subjetivo/valor (Viveiros de Castro, 2017, p. 303).
O segundo movimento consiste em produzir um tipo análogo de deslocamento relacional no que diz respeito à noção de indivíduo em sua relação com a sociedade. Aqui, Pereira (2019, p. 98) lança mão da noção do conceito de “personitude fractal”, termo desenvolvido por José Luciani para estabelecer o “fio da relacionalidade, isto é, a constituição relacional de pessoas e contextos” através da descrição do processo pelo qual se dá “tanto o encerramento de pessoas inteiras em partes de pessoas quanto a replicação de relações entre Eus [selves] e Outros [alters] em diferentes escalas (intrapessoal, interpessoal e intergrupal)” nas sociedades indígenas (Luciani, 2001, p. 97).
O primeiro deslocamento, entre natureza e cultura, é fundamental para que se entenda que qualquer ente pode participar da configuração de um campo relacional: um animal, um objeto, um espírito e, claro, pessoas, mesmo as completamente estranhas a um dado grupo. Aqui, a natureza do vínculo não decorre nem depende da identificação com o semelhante (na forma de corpo humano) e sim do estabelecimento de uma relação de afinidade na qual o corpo não é, em primeira linha, compleição material, traço físico, mas, antes, “feixe de afecções” – um conjunto de capacidades e comportamentos típicos de um ser (Viveiros de Castro, 2017, p. 128). Instituída nesses termos, a afinidade assume, portanto, “a função de matriz relacional cósmica” e “constitui-se, virtualmente, como o modo genérico da relação social” ou, usando o conceito de Viveiros de Castro (2017, p. 108) Na transversal, constitui-se como “afinidade potencial”.
Um exemplo de caráter intergrupal pode ser bem elucidativo para entender o modo como a categoria tempo entra – via personitude fractal – nesse arranjo conceitual e fecha o nó do ser e do tempo que nós chamamos de história. Falando dos tupinambás, Viveiros de Castro (1992, p. 291 apud Luciani, 2001, p. 105) analisa o modo como se estabelece um “momento crucial de mútua identificação” entre cativo e captor/matador, de sorte que “o cativo representa o futuro do matador (ser executado pelo inimigo) e o matador representa o passado do cativo (que foi um matador)”.
Em trabalho de campo etnográfico conduzido junto aos Yamináwa, Pereira reconhece traços desses mesmos princípios – afinidade potencial e personitude fractal – na relação entre tempo e pessoa. As estratégias de reprodução de nomes e dos termos entre os Yamináwa, ela explica, na medida em que tendem à replicação entre eus e outros em escala temporal, criam uma estrutura dinâmica e propriamente fractal do tempo (Pereira, 2019, p. 151). A partir dessa conclusão, ela convida: “especulemos por conta própria”.
Se é possível instalar-se no passado e/ou futuro conforme o princípio da reversibilidade, isso se deve, ao que parece, à existência de um fundo virtual de temporalidade não-marcada. A própria dinâmica da fractalidade é indicativa dessa relação de dependência. Aqui, é a simultaneidade (potencial) que impõe a não simultaneidade de “antes” e “depois”. Passado, presente e futuro correspondem justamente àquela dimensão não marcada da história que, por isso, deve ser atualizada (Pereira, 2019, p. 151).
A história assim atualizada é, portanto, ela também potencial, e seu traço fundamental, por conseguinte, é a relacionalidade: “Se o tempo histórico ameríndio é o tempo do parentesco e este é fabricado a partir da afinidade potencial, o mesmo se dá com o tempo como atualização de uma história potencial (Pereira, 2019, p. 153).
E assim, para fechar esta seção retomando o fio do raciocínio, compreende-se o que significa dizer que a “história potencial ameríndia” não pressupõe nenhum vínculo apriorístico “entre passado, presente e futuro que deva ser diferenciado por meio da consciência histórica”; ou seja, que “não é um devir histórico”.
REDISTRIBUIR AS CARTAS: HISTÓRIA MULTIVERSAL DA DIFERENÇA
Tendo, primeiro, deslocado as noções de “tempo histórico” e “consciência histórica” de sua posição não marcada e, em seguida, aguçado nossa compreensão da história rumo a uma relacionalidade radical via perspectivismo ameríndio, Pereira volta aos alemães na terceira (e última) parte do livro, mais precisamente ao projeto de história intercultural – ou humanismo moderno – de Jörn Rüsen.
Para que cheguemos a esse ponto bem equipados, um importante contorno epistemológico é feito: estabelecer a posição relacional da própria história Yamináwa, isto é, da história dos povos indígenas, em um quadro que tem o Acre como pano de fundo, mas que é bastante ampliado. Se usarmos aqui a própria noção de fractal – no que ela serve como recurso visual para imaginar o padrão de repetição de um fenômeno em diferentes escalas -, veremos a história do Acre como uma iteração ampliada da narrativa mestra que estrutura também, a um só tempo, o “paradigma da formação” da nação (no Brasil) e a evolução da modernidade (no Ocidente). Em síntese, produz-se uma epopeia acreana como capítulo particular da marcha universal e inexorável do progresso e da civilização, na qual os povos indígenas ou não figuram ou apenas aparecem para confirmar uma suposta incapacidade inata de oferecer qualquer resistência à ação colonizadora (Pereira, 2019, p. 175).
Isto é feito para que entendamos o excurso político que Na Transversal nos propõe quando traz a ideia de “florestania”. Fusão de “floresta” e “cidadania”, o termo pretendia, historicamente, enfatizar o protagonismo dos povos indígenas e, politicamente, sintetizar um caminho para a superação do antropocentrismo, preconizando um regime de igualdade de direitos entre todos os elementos da natureza, inclusive, naturalmente, os seres humanos. No fim, degenerou em “mero slogan”, de todo desvinculado da ambição originária, calcada numa mudança radical de paradigma (Pereira, 2019, p. 182).
Nessa altura, somos reconduzidos ao que Jörn Rüsen preconiza ao falar de um conceito de história intercultural que “deve vencer o próprio etnocentrismo e contribuir para uma nova cultura do reconhecimento mútuo das diferenças” (Pereira, 2019, p. 185).
Como Na Transversal apresenta essa aspiração em seus pressupostos, entendemos também em que medida a “cultura do reconhecimento mútuo das diferenças”, como critério normativo de validade universal na teoria da história de Rüsen, acaba desempenhando um papel análogo ao da “florestania” como princípio orientador da política, ou seja, o de “mero slogan”. Ambas, cada qual em sua seara, não apenas não operam o giro paradigmático que anunciam, mas, ao revés, atuam como vetor da primazia do moderno.
À luz do que essa modernidade tem sido até aqui para os povos indígenas, a saber, um processo contínuo de reprodução do genocídio como cerne da dinâmica de interação, Pereira (2019, p. 203) conclui que o argumento da “razão inclusiva” subjacente ao humanismo moderno de Rüsen “soa no mínimo ofensivo”. Mas, se não a nobre e bem-intencionada “inclusão”, então o quê? Hora de, finalmente, redistribuir as cartas conceituais.
As narrativas de contato dos Yamináwa – a exemplo da de outros povos indígenas, como os Arara e Manchineri – são dispostas de maneira tal que, embora os brancos sejam acomodados em lugares pré-marcados, isso não impede o surgimento de reordenações cosmológicas que derivam de uma “constante reelaboração do contingente como experiência inédita de algo conhecido de antemão”. Orientada pela “afinidade potencial”, a incorporação do outro se dá, via de regra, “em sua e pela sua diferença”. A história que assim se conta, portanto, “não é uma narrativa post festum, ela é o fundo virtual que prefigura toda a experiência, um veículo para a realização e simbolização de relações efetivas” (Pereira, 2019, pp. 143-144).
Em termos mais abstratos, dir-se-ia que o princípio de reconhecimento mútuo da diferença do qual Rüsen lança mão opera com base em uma lógica de diferenciação ancorada nas categorias tipológicas da semelhança, da oposição, da analogia e da identidade. Daí seus critérios de inclusão acabarem desandando sempre no taxonômico e classificatório, em um movimento que não cessa de repor as regulações hierárquicas que tenciona deslocar (Pereira, 2019, p. 203).
As matrizes de pensamento ameríndias, por sua vez, operam através de uma “síntese disjuntiva” cujo princípio de diferenciação é precisamente o não taxonômico e não substancial. Sua dinâmica relacional de individuação conduz, por isso, à constante “atualização do virtual”. Para retomar a metáfora geométrica, em vez de uma “ontologia plana”, corolária de uma lógica inclusiva da diferença, na qual existir pressupõe a identidade como causa ou como finalidade, poderíamos arriscar uma “‘ontologia fractal’ em que existir significa diferir: diferença intensiva, diferença das diferenças”. Assim, trocando em miúdos historiográficos, em vez de uma “história universal da identidade” construiríamos uma “história multiversal da diferença” (Pereira, 2019, pp. 204 e 207).
AFINIDADE (TEÓRICA) POTENCIAL
“Conhecemos a história de um autômato construído de tal modo que podia responder a cada lance de um jogador de xadrez com um contralance, que lhe assegurava a vitória.” (Benjamin, 1996, p. 222). É assim, imaginando um jogo, que Walter Benjamin principia seu célebre “Sobre o conceito de história”.
O alvo declarado da crítica de Benjamin é um historicismo composto por dois traços fundantes: 1) a aspiração de representar o passado como “ele de fato foi” e que, como tal, 2) “culmina legitimamente na história universal” (Benjamin, 1996, pp. 224 e 231). No limite, Benjamin (1996, p. 231) provoca, o historicismo possibilita o paradoxo de apresentar uma “imagem ‘eterna’ do passado”, o que só é possível porque ele “faz da história objeto de uma construção cujo lugar é um tempo homogêneo e vazio” que se manifesta como “o continuum da história” (Benjamin, 1996, p. 229).
O materialismo histórico benjaminiano desejava explodir esse continuum (Benjamin, 1996, p. 230). Se seguirmos Na transversal do tempo, podemos fazer algo afim. Há (parece) uma afinidade potencial entre o jogo do tempo e da história de Ana Carolina B. Pereira e de Walter Benjamin.
Não obstante, é a diferença que os vincula: o tempo de Benjamin é monológico, intrassubjetivo e messiânico; está impregnado de um salvacionismo cuja virtuosidade parece imanente e, mormente, dado a “revolucionário”. O de Pereira é dialógico, intersubjetivo e contingente; de saída, desconfiado da própria virtude e avesso às epifanias da salvação.
Entre Pereira e Benjamim, a metáfora do jogo interpõe um elo dissonante. Na imagem que Benjamin (2020, p. 66) constrói há um elemento fundamental: “através de um sistema de espelhos criava-se a ilusão de que a mesa era transparente por todos os lados” e, assim, ocultava o espírito que animava o jogo (o anão corcunda da teologia). O truque, portanto, não consiste unicamente em ser guiado pela mente do mestre (de xadrez), mas garantir que – por intermédio da transparência – sua onipresente efetividade na condução dos eventos transcorra na forma da ausência e iluda quem entrar na contenda. Pereira, por sua vez, não quer parecer transparente, não aposta no logro do outro; seu jogo não demanda repor a consciência alheia a partir de uma posição declaradamente misteriosa.
O caso é que, e eis o nó, ao acenar com o estratagema da consciência escondida como guia – a transparência como opacidade -, Benjamin parece adotar prumo mais afeito à assimetria de poder, pois pretende equipar melhor quem joga em franca desvantagem. No que concerne à Pereira, ao revés, quem joga limitado por injustiças dadas de saída segue algo exposto, precisando contar, antes, com a abertura (ou transparência) de um outro que agora – não mais a despeito, mas dada a sua opacidade finalmente declarada – encerraria uma virtuosidade intrínseca e, mormente, capaz de engendrar uma dinâmica de supressão gradual de assimetrias que poderia ser tomada como o início de um tímido processo de reparação.
Que jogo teríamos se o corcunda de Benjamin aprendesse a jogar com as cartas ora embaralhadas e redistribuídas por Ana Carolina B. Pereira?
Referências
BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: Obras Escolhidas. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1996. pp. 222-243.
BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história: edição crítica. São Paulo: Alameda, 2020.
CALDAS, Pedro Spinola Pereira. Que significa pensar historicamente: uma interpretação da teoria da história de Johann Gustav Droysen. Tese (Doutorado em História) – Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2004. 215 f.
HABERMAS, Jürgen. Der Philosophische Diskurse der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. São Paulo: Cosac Naify, 2008 [1958].
LUCIANI, José Antônio Kelly. Fractalidade e troca de perspectivas. Mana, v. 7, n. 2, pp. 95-132, 2001.
PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Na transversal do tempo: natureza e cultura à prova da história. Salvador: EDUFBA, 2019.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem. São Paulo: Ubu Editora, 2017 [2002].
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. From the Enemy’s Point of View: Humanity and Divinity in an Amazonian Society. Chicago: Chicago University Press, 1992.
Resenhista
Fernando Baldraia – Freie Universität Berlin, Berlim, Alemanha. E-mail: fbaldraia@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-0140-757X
Referências desta Resenha
PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Na transversal do tempo: natureza e cultura à prova da história. Salvador: EDUFBA, 2019. Resenha de: BALDRAIA, Fernando. O jogo da afinidade. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 42, n. 89, 2022. Acessar publicação original [DR]
Mestiça cientificidade: três leitores franceses de Gilberto Freyre e a sua máxima consagração no exterior | Giselle Martins Venancio e André Furtado
A Editora da Universidade Federal Fluminense acaba de lançar Mestiça cientificidade: três leitores franceses de Gilberto Freyre e a sua máxima consagração no exterior (2020). O livro de Giselle Martins Venancio e André Furtado é uma importante contribuição para interpretar a recepção da obra de Gilberto Freyre no exterior, em especial na França do pós-guerra. Compreender as condições de leitura de autores canônicos como Fernand Braudel, Roger Bastide e Lucien Febvre – os leitores franceses estudados no livro – não é trivial, pois a consagração de Casa-grande & Senzala (1933), de Gilberto Freyre (1900-1987), não dependeu apenas do próprio texto, nem da argumentação e da pesquisa contidas nele, mas de uma série de questões que povoam o mundo dos leitores.
Mestiça cientificidade aprofunda o entendimento acerca da recepção francesa de Casa-grande nas décadas de 1940 e 1950. Funciona também como iniciação à obra de Gilberto Freyre para estudantes, jovens pesquisadores e interessados em um dos autores brasileiros mais importantes do século XX, o de maior repercussão internacional, objeto ainda hoje de acalorado debate público. Sem perder a potência da pesquisa e dos debates acadêmicos contemporâneos, o livro em questão não deixa de praticar história pública. Leia Mais
Nazário e um plano de rebelião escrava na Aldeia dos Anjos: “os brancos eram uns pelos outros, por isso os negros também deviam fazer o mesmo” | Wagner de Azevedo Pedroso
Nas Américas, em particular, a escravidão na grande lavoura foi ao mesmo tempo um sistema de trabalho, um modo de dominação racial e a base para o surgimento de uma classe dominante bem caracterizada (Foner, 1988, p. 17).
A assertiva de Eric Foner presente na introdução da ainda pertinente obra Nada além da liberdade parece ser das mais adequadas para iniciarmos a presente discussão acerca do livro Nazário e um plano de rebelião escrava na Aldeia dos Anjos. Wagner de Azevedo Pedroso está inscrito em um grupo maior de pesquisadores e pesquisadoras que há pelo menos vinte anos vem produzindo, nos diferentes espaços de pesquisa do Rio Grande do Sul, um substancial trabalho acerca da região à época do escravismo e logo após o seu término. A reflexão proposta por Pedroso está inserida no contexto de produção de obras como, por exemplo, a de Thiago Leitão de Araújo, Escravidão, fronteira e liberdade: políticas de domínio, trabalho e luta em um contexto produtivo agropecuário (Vila da Cruz Alta, Província do Rio Grande de São Pedro, 1834-1884) (2008), a de Vinicius Pereira de Oliveira, A presença negra no porto de Rio Grande (2009), a de Gabriel Santos Berute, Dos escravos que partem para os portos do sul: características do tráfico negreiro do Rio Grande de São Pedro do Sul, c. 1790-c.1825 (2006), a de Melina Kleinert Perussatto, Arautos da liberdade: educação, trabalho e cidadania no pós-abolição a partir do jornal O Exemplo de Porto Alegre (c.1892-c.1911) (2013), a de Rodrigo de Azevedo Weimer, Os nomes da liberdade: experiências de autonomia e práticas de nomeação em um município da serra rio-grandense nas duas últimas décadas do século XIX (2007) e a de Fernanda Oliveira Silva, Os negros, a constituição de espaços para os seus e o entrelaçamento desses espaços: associações e identidades negras em Pelotas (1820-1943) (2011). Trabalhos estes, em grande medida, aglutinados em torno do GT Emancipações e Pós-Abolição da Associação Nacional de História (GTEP/ANPUH), do GT Emancipação e Pós-Abolição da ANPUH-RS e dos encontros “Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional”, vinculado ao Grupo de Pesquisa do CNPq, e “A experiência dos africanos e seus descendentes no Brasil”.
A perspectiva que aproxima estes diferentes trabalhos e vários outros produzidos neste ambiente, segundo se entende aqui, é a compreensão da agência das pessoas escravizadas, considerando-se as formas ativas como elas atuavam sobre seus destinos em um contexto muito pouco favorável. Um último e pertinente exemplo deste cenário intelectual é a obra Pessoas comuns, Histórias incríveis (2017), texto coletivo produzido por Fernanda Oliveira da Silva, Jardélia Rodrigues de Sá, Luciano Costa Gomes, Marcus Vinicius de Freitas Rosa, Melina Kleinert Perussato, Sarah Calvi Amaral Silva e Sherol dos Santos, voltado ao grande público, notadamente o escolar, que traz a lume outra história do Rio Grande do Sul a partir da perspectiva de pessoas negras, evidenciando a já mencionada busca pela compreensão da atuação, em um cenário quase sempre adverso, tanto das pessoas escravizadas quando da população negra após o término do escravismo.
O trabalho de Pedroso dialoga com a obra de Hebe Mattos Das cores do silêncio (1998) e com as produções de Paulo Roberto Staudt Moreira Sobre fronteira e liberdade (1998), Os cativos e os homens de bem (2003), Entre o deboche e a rapina (2009). As obras de Helen Osório, Fronteira, escravidão e pecuária (2005), e de Regina Célia Lima Xavier, A conquista da liberdade (1996) e Religiosidade e escravidão, século XIX (2008), também são mobilizadas com destaque pelo autor. Um dos pontos centrais de sua discussão é a problematização da agência das pessoas escravizadas. O seu esforço de compreender como as pessoas escravizadas “jogavam” um “jogo” cujas regras lhes eram consideravelmente desfavoráveis se estabelece a partir de um uso profícuo, sobretudo, das considerações de Eduardo Silva e João José Reis expressas em Negociação e conflito (1989), como se verá adiante.
Pedroso traz a lume, em Nazário e um plano de rebelião escrava na Aldeia dos Anjos, discussões resultantes de sua dissertação de mestrado, defendida em 2013 no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob o título de Escravos, senhores, posses, partilhas e um plano insurrecional da Freguesia de Nossa Senhora da Aldeia dos Anjos, RS (1863).
Nazário e um plano de rebelião escrava na Aldeia dos Anjos conta com um prefácio assinado por Regina Célia Lima Xavier. Das considerações de Xavier destaca-se aqui a sua observação acerca de como a pesquisa de Pedroso traz algo relativamente inovador nas pesquisas sobre as insurreições do período: a predominância de pessoas escravizadas nascidas no Brasil envolvidas com uma revolta ou tentativa de revolta. A revolta e/ou a tentativa de revolta de pessoas escravizadas na primeira metade do século XIX, com a predominância de pessoas nascidas no Brasil, é um elemento de certa novidade, pois as investigações sobre o período revelam alta taxa de africanidade nas insurreições então ocorridas. O livro está organizado em três capítulos. O primeiro, denominado “Entre conversas e caminhadas: os escravizados e a Aldeia dos Anjos”, é dedicado a investigar a divulgação do plano de insurgência, denotando a articulação e a mobilidade da comunidade de pessoas escravizadas no contexto da Freguesia de Nossa Senhora da Aldeia dos Anjos, uma localidade que produzia para o mercado interno, detentora de escravarias relativamente pequenas (em comparação, por exemplo, com a produção cafeeira do Sudeste), empregadas em um rol bastante vasto de atividades.
Já o segundo capítulo, “Entre senhores e escravizados: os senhores moços e a força do sistema escravista”, concentra-se nos objetivos da rebelião. Neste capítulo, o rico entrecruzamento de fontes permite visualizar as alterações na forma de dominação e a entrada dos padrões de controle dos senhores moços. As páginas do segundo capítulo trazem a possibilidade de melhor compreendermos a imbricada teia de relações sociais da camada senhorial da região, bem como de percebermos como essas relações, apesar, evidentemente, das particularidades regionais, estavam articuladas à realidade maior do Império. Assim, as alterações na dinâmica imperial a partir, sobretudo, da década de 1850, tiveram implicações sobre a camada senhorial, e as modificações na camada senhorial trouxeram mudanças para a vida das pessoas escravizadas. O terceiro capítulo, “Entre a escravidão e a liberdade: da delação ao retorno ao cotidiano”, tem como foco acompanhar o destino das pessoas envolvidas com a elaboração da tentativa de revolta após o seu malogro. Da repressão senhorial ao retorno às rotinas de um determinado cotidiano, o capítulo revela o tênue equilíbrio construído sobre a base da negociação e do conflito.
Pedroso menciona, no início da sua obra, o quanto o livro de Carlo Ginzburg O queijo e os vermes (1987) foi importante para motivá-lo a ir ao arquivo pesquisar e encontrar o seu Menocchio. Em suas buscas no Arquivo Público do Rio Grande do Sul, o autor não encontrou um Menocchio, todavia, ele encontrou o processo-crime de uma tentativa de insurreição de pessoas escravizadas na Freguesia de Nossa Senhora da Aldeia dos Anjos, a qual se localizava entre os atuais territórios dos municípios de Viamão e Gravataí. Charles Sidarta Machado Domingos, na contracapa, localiza tal freguesia no atual território de Gravataí. De fato, até onde se sabe, houve alterações no limite territorial da Aldeia dos Anjos ao longo do tempo, de modo a ser viável pensar que ambas as informações sobre a localização da freguesia são plausíveis.
Se Pedroso teve sua inspiração inicial em Ginzburg, aqui ela vem de Foner, uma vez que, ao se ler Nazário e um plano de rebelião escrava na Aldeia dos Anjos, é possível localizarmos muito mais que uma tentativa “de uma revolta” da mão de obra escravizada. Encontra-se no texto um relato fundamental sobre as transições econômicas e sociais do Brasil imperial na década de 1860. Destaca-se a alteração na forma de dominação escravocrata dos denominados “senhores moços” em relação aos antigos senhores. Os primeiros, devido às alterações no fluxo de pessoas escravizadas -oferta de mão de obra que diminui -, passaram a ter que extrair muito mais de suas escravarias, em comparação com os senhores antigos. Desta forma, “direitos costumeiros” das pessoas escravizadas passam a ser revogados. Em regiões como a da Freguesia de Nossa Senhora da Aldeia dos Anjos, essas mudanças sócio-econômicas resultam em uma grande quantidade de pessoas escravizadas em uma área espacial relativamente reduzida.
Esta grande concentração de pessoas escravizadas resultou, segundo a análise de Pedroso, em um contingente de pessoas aparentadas. Somando-se a isso a mobilidade desses indivíduos, característica importante das escravarias da região – aspecto também destacado pelo autor -, tem-se uma comunidade muito bem articulada. A constatação concernente à articulação das pessoas escravizadas já não causa espanto na comunidade de pesquisadoras e pesquisadores desde muito tempo. Todavia, fora dela isso ainda é algo “novo”. O fato de a comunidade ser bastante aparentada revela também traços de uma reprodução endógena; ou seja, toda essa gente é, em sua maioria, nascida no Brasil.
Pedroso indica com perspicácia em seu texto que, se há uma articulação forte entre as pessoas escravizadas, o mesmo se dá nas camadas senhoriais. Os senhores moços sabem que, devido ao fim do tráfico internacional, a oferta de mão de obra escravizada diminuíra, reduzindo-se ao mercado interno; e neste, os proprietários e as proprietárias de pessoas escravizadas do Rio Grande do Sul não tinham recursos para competir com as demandas do Sudeste. Assim, restava à camada senhorial rio-grandense, de modo geral, manter as suas escravarias e, se possível, fazê-las se reproduzirem endogenamente. Estas situações levam os senhores moços a praticarem outras formas de dominação em comparação, por exemplo, com seus pais.
Esta “nova” dominação, ou esse outro tipo de dominação, cria tensões enormes no equilíbrio tênue da sociedade escravocrata brasileira e rio-grandense. Neste ponto da argumentação proposta por Pedroso fica nítida a utilização profícua e aguçada das sugestões e considerações de Eduardo Silva e João José Reis, presentes no clássico moderno Negociação e conflito. Existe uma máxima segundo a qual só possível burlarem-se as regras quando se tem domínio das mesmas. É difícil passar pelas páginas de Nazário e um plano de rebelião escrava na Aldeia dos Anjos sem que essa máxima emerja. Tomada em conjunto com as considerações de Silva e Reis, esta máxima convida-nos a pensar que a comunidade de pessoas escravizadas possuía o domínio das regras de negociação e conflito dentro do padrão de dominação dos senhores velhos. Tais pessoas, mesmo em condições de jogo muito desiguais, sabiam como jogar, como se posicionar. Entretanto, a transição para um novo tipo de dominação traz novas regras, retira destas pessoas o “domínio” que possuíam dos mecanismos que regiam suas existências. Uma resposta a isso seria a revolta.
Se o ambiente é de negociação e conflito, a revolta das pessoas escravizadas, ao contrário de uma primeira impressão, podia visar não a conquista a liberdade, mas sim a manutenção de determinado padrão nas relações de dominação. Não parece ser exagero, muito menos descabido, lembrarmos que, para se fugir – sobretudo no período escravocrata -, era preciso saber para onde, caso contrário, fugir não seria uma alternativa. Os insurgentes da Freguesia de Nossa Senhora da Aldeia dos Anjos não tinham na fuga uma ideia mote: a ideia mote parecia ser mesmo a de alcançar a liberdade. Mas, a liberdade onde? Na própria região? Como o plano de insurgência malogrou, a fuga surgiu como uma opção para os revoltosos. No entanto, fuga para onde? Para a fronteira. A fronteira representava um ideário relevante de liberdade neste contexto, pois, à época, tanto as Províncias Unidas (atual Argentina) quanto a Banda Oriental (atual Uruguai) tinham abolido a escravidão. Contudo, essa fuga era de fato impossível, pois se tratava de viajar cerca de 500 quilômetros no mundo escravocrata na condição de escravo fugido. Desta forma, outra maneira de os insurgentes reagirem ao malogro da revolta foi a tentativa de recorrerem ao apadrinhamento.
Pedroso, ao discutir o apadrinhamento como uma alternativa, traz muitos elementos de como se efetivava a sociabilidade neste ambiente. Visando a diminuição das punições pela tentativa de insurgência, buscava-se o apadrinhamento; recorria-se a um senhor ou a uma senhora para que esta pessoa da camada senhorial interviesse em favor da pessoa escravizada. As perguntas imediatas ao nos depararmos com tal situação são: porque um senhor ou uma senhora fariam isso? E por que uma pessoa escravizada procuraria a ajuda das pessoas que seriam os alvos da sua revolta?
O equilíbrio tênue de regiões como a Freguesia de Nossa Senhora da Aldeia dos Anjos permite pensarmos que as pessoas escravizadas possuíam bastante nitidez de seu valor e importância para o funcionamento da região. Com escravarias compostas em média por quatro a cinco pessoas, como Pedroso indica no que diz respeito à região em questão, pode-se pensar que as duas pontas chegavam, por caminhos diferentes, a conclusões semelhantes: executar, aprisionar ou inutilizar para o trabalho uma pessoa escravizada era um prejuízo insuperável. É válido focarmos em outra informação muito relevante trazida por Pedroso: ao analisar os inventários post-mortem, ele percebe que, para muitos senhores e senhoras da região, seu “bem” de maior valor eram as pessoas escravizadas. Se a hipótese aqui esposada estiver minimamente correta, as regras do jogo eram conhecidas por todas as pessoas. Desta forma, buscar apadrinhamento era uma opção das mais válidas. Como as regras deste jogo de tênue equilíbrio eram de conhecimento comum, torna-se válido mencionarmos que era de conhecimento das pessoas escravizadas que, após uma tentativa de insurreição, viriam punições. Assim, estava em jogo não a ausência de punição, mas sim o seu tipo. Pedroso enfatiza que a punição pela tentativa de insurreição recaiu sobre toda a comunidade de pessoas escravizadas, muito provavelmente até sobre quem delatou os planos de revolta.
O resultado da tentativa de insurreição é conhecido desde o começo do texto: as lideranças foram presas e julgadas, com exceção daquelas que morreram no confronto com as “autoridades”; caso de Nazário, tomado como o grande elaborador e articulador da ação, como se pode verificar no processo-crime contra os insurretos. No que concerne ao processo-crime, podemos destacar outro aspecto essencial da obra Nazário e um plano de rebelião escrava na Aldeia dos Anjos: o cruzamento de diferentes tipos de fontes – além dos processos-crimes, inventários, listas nominais de nascimento, casamento, batismo, morte. Manuscritos que não foram de forma alguma produzidos para a historiadora, para o historiador. A pessoa que se encanta com o ofício de historiar tem que conversar com essa documentação – uma conversa crítica, dura, rígida.
A elaboração de Nazário e um plano de rebelião escrava na Aldeia dos Anjos, além de contar com um trabalho bastante relevante de cruzamento de fontes, também apresenta um uso muito criativo da bibliografia recente produzida sobre o tema. O diálogo do autor com a produção recente indica o quão profícuo vem sendo o já citado grupo de pesquisadores e pesquisadoras que, como também já mencionado, vem, há pelo menos vinte anos, produzindo trabalhos fundamentais para um melhor entendimento do Brasil sob o regime escravista, bem como sobre a forma como o país se organizou nos primeiros momentos pós-escravismo. No que diz respeito à colaboração desta obra para um melhor entendimento do Brasil escravista, é importante mencionarmos que ainda é comum, de modo mais amplo, as pessoas associarem a escravidão à grande lavoura, à monocultura voltada à exportação; de certo modo, uma leitura menos atenta da epígrafe selecionada para este texto poderia, inclusive, colaborar para essa impressão. Contudo, a obra Nazário e um plano de rebelião escrava na Aldeia dos Anjos demonstra justamente a importância das pessoas escravizadas na dinâmica de um mercado interno, na produção de itens voltados ao consumo na própria região – atividade esta que produzia certa riqueza, evidentemente não a mesma riqueza dos cafeicultores do Sudeste, mas que não era, de forma alguma, irrelevante. Assim, o texto de Pedroso está alinhado à produção historiográfica disposta a rever algumas “verdades” intocáveis sobre os padrões de riqueza no Brasil imperial, bem como sobre as dinâmicas do mercado interno.
Este texto se encerra com argumentos acerca da edição de Nazário e um plano de rebelião escrava na Aldeia dos Anjos. Almejando, segundo compreendemos, atingir um público tanto de especialistas quanto de não especialistas, a obra conta com uma diagramação bastante oportuna, trazendo, em suas páginas, caixas explicativas de determinados termos, conceitos e eventos, bem como referenciando autoras e autores estudiosos do tema. Uma opção das mais felizes. Outra opção acertada foi a mencionada logo no início desta argumentação: de narrar fluidamente como funciona o ofício de historiar. A casa editorial que abriga a obra tem por nome Editora Coragem, fundada no ano 2020. Não poderia haver nome mais pertinente. Muito possivelmente foi a coragem, em várias de suas vertentes, que manteve todas as pessoas escravizadas na Freguesia de Nossa Senhora da Aldeia dos Anjos – como em todos os quase 400 anos de escravidão no Brasil – firmes e perseverantes, mesmo vivendo em um tênue equilíbrio.
Referências
ARAÚJO, Thiago Leitão de. Escravidão, fronteira e liberdade: políticas de domínio, trabalho e luta em um contexto produtivo agropecuário (Vila da Cruz Alta, Província do Rio Grande de São Pedro, 1834-1884). Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2008.
BERUTE, Gabriel Santos. Dos escravos que partem para os portos do sul: características do tráfico negreiro do Rio Grande de São Pedro do Sul, c. 1790-c. 1825. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2006.
FONER, Eric. Nada além da liberdade: a emancipação e seu legado. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Brasília: CNPq, 1988. 186 p.
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela Inquisição. Tradução de Maria Betânia Amoroso. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 274 p.
MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista, Brasil século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.
MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. Sobre fronteira e liberdade – representações e práticas dos escravos gaúchos na Guerra do Paraguai (1864-1870). Anos 90, Porto Alegre, v. 6, n. 9, pp. 119-149, jul. 1998.
MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. Os cativos e os homens de bem: experiências negras no espaço urbano. Porto Alegre 1858-1888. Porto Alegre: EST Edições, 2003.
MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. Entre o deboche e a rapina: os cenários sociais da criminalidade popular em Porto Alegre. Porto Alegre: Armazém Digital, 2009.
OLIVEIRA, Vinicius Pereira de. A presença negra no porto de Rio Grande. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009.
OSÓRIO, Helen. Fronteira, escravidão e pecuária: Rio Grande do Sul no período colonial. JORNADAS DE HISTÓRIA REGIONAL COMPARADA, II. In: TARGA, Luiz Roberto; HERRLEIN JÚNIOR, Ronaldo; MERTZ, Marli Marlene (Orgs.). Anais: II Jornadas de História Regional Comparada; I Jornadas de Economia Regional Comparada. Porto Alegre: PUC-RS, 2005. pp. 1-16.
PEDROSO, Wagner de Azevedo. Nazário e um plano de rebelião escrava na Aldeia dos Anjos: “os brancos eram uns pelos outros, por isso os negros também deviam fazer o mesmo”. Porto Alegre: Coragem, 2020. 168 p.
PERUSSATTO, Melina Kleinert. Arautos da liberdade: educação, trabalho e cidadania no pós-abolição a partir do jornal O Exemplo de Porto Alegre (c.1892-c.1911) Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2013.
REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras , 1989. 154 p.
SILVA, Fernanda Oliveira da et al. Pessoas comuns, histórias incríveis: a construção da liberdade na sociedade sul-rio-grandense. Porto Alegre: Ed. UFRGS; EST Edições, 2017. 112p.
SILVA, Fernanda Oliveira da. Os negros, a constituição de espaços para os seus e o entrelaçamento desses espaços: associações e identidades negras em Pelotas (1820-1943). Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade De Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2011.
XAVIER, Regina Célia Lima. A conquista da liberdade: libertos em Campinas na segunda metade do século XIX. Campinas: Centro de Memória da Unicamp, 1996.
XAVIER, Regina Célia Lima. Religiosidade e escravidão, século XIX: mestre Tito. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008.
WEIMER, Rodrigo de Azevedo. Os nomes da liberdade: experiências de autonomia e práticas de nomeação em um município da serra rio-grandense nas duas últimas décadas do século XIX. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós Graduação em História, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, 2007.
Resenhista
Hilton Costa – Universidade Estadual de Maringá (UEM). E-mail: hcosta@uem.br
Referências desta Resenha
PEDROSO, Wagner de Azevedo. Nazário e um plano de rebelião escrava na Aldeia dos Anjos: “os brancos eram uns pelos outros, por isso os negros também deviam fazer o mesmo”. Porto Alegre: Coragem, 2020. Resenha de: COSTA, Hilton. Tênue equilíbrio: a vida de pessoas escravizadas no Brasil oitocentista. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 42, n. 89, 2022. Acessar publicação original [DR]
Brasil em projetos: história dos sucessos políticos e planos de melhoramentos do reino. Da Ilustração portuguesa à Independência do Brasil | Jurandir Malerba
Toda administração e todo governo de negócios e de Estados carece de projetos. De planos elaborados com vistas a atingir determinados objetivos; definindo problemas, metas, estratégias e ações com níveis desejados de controle, autonomia e negociação capazes de garantir sua condução com êxito. Além de conhecê-los, é fundamental saber dos homens que os propõem e os executam. Em Brasil em projetos, Jurandir Malerba, professor titular de Teoria e Metodologia da História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, procura inventariar os projetos para o Brasil desde a Ilustração até a Independência, realizando uma síntese minuciosa que não trata apenas daqueles projetos, mas também da própria historiografia em torno deles, com uma escrita clara e acessível para os públicos leigo e universitário.
Em um momento histórico dramático, marcado por uma pandemia global, há uma pergunta que é constantemente feita na imprensa e nos círculos intelectuais brasileiros: o governo Bolsonaro tem um projeto para o Brasil? Não poucos analistas apontam a existência de um plano autoritário em curso, de esgarçamento social, de favorecimento a políticas armamentistas, de privatização de ativos e empresas estatais, de retirada de direitos sociais e trabalhistas em consonância com uma agenda neoliberal que valoriza a exportação de commodities e o capital financeiro. E uma palavra que surge em muitos diagnósticos é retrocesso. Seria este o projeto de Bolsonaro, um governo à serviço do atraso e do conservadorismo? Para responder a estas perguntas, conhecer projetos políticos do passado pode ser um bom caminho. Leia Mais
Construir soberanía. Una interpretación económica de y para América Latina | Theotonio dos Santos
La presente antología presenta un conjunto de textos sobre el científico social brasilero Theotonio Dos Santos (1963-2018), especialmente sus aportes sobre la formación económica y social de Brasil como latinoamericana a partir del marxismo nacionalizado que adoptó en sus análisis. Como destaca Mónica Bruckman en una introducción a la obra, los escritos del brasilero pueden datarse en cuatro momentos cronológicos: la apropiación del marxismo, la dinámica de la dependencia, el papel de la revolución científico-técnica y las preocupaciones sobre la economía mundial. Estos ejes que atraviesan la obra de Dos Santos, se tornan de especial importancia en nuestros días teniendo en cuenta los problemas de desarrollo, integración política y lucha contra la desigualdad que enfrentará la región luego de la pandemia por COVID-19.
A partir de los años 1960 Dos Santos comenzó a formarse en el marxismo y a vincularse con importantes intelectuales como Aníbal Quijano, Fernando Enrique Cardoso, Francisco Weffort, Pedro Paz, entre otros. Aquí se sitúan sus primeros análisis y publicaciones en torno a las clases sociales en Brasil y el desarrollo desde un punto de vista político. Luego vinieron los años en la Universidad de Brasilia donde Dos Santos se apropiará de la teoría marxista de la dependencia y su posterior exilio a Chile tras el golpe de 1964 donde seguiría trabajando con reconocidas figuras como Ruy Mauro Marini y André Gunder Frank. En una tercera etapa iniciada con el golpe de Estado en Chile en 1973 vino la desarticulación de los estudiosos de la dependencia y el exilio a México para desempeñar labores en la Universidad Nacional Autónoma de México donde se dedicó a estudiar la revolución científica tecnológica y su impacto en el desarrollo de las fuerzas productivas a nivel global. Fueron los años en que Dos Santos aportó al conocimiento del capitalismo global y al papel de la ciencia en el desarrollo de industrias y la intervención el Estado en ese proceso. Por último, viene el núcleo de estudios en torno al desarrollo y el proceso civilizatorio desde perspectivas históricas donde profundizó el enfoque de Kondrátiev y cuestionó a teóricos de renombre como a Immanuel Wallerstein y a Giovanni Arrighi en torno a la formación capitalista mundial. Leia Mais
A História (in)Disciplinada: teoria, ensino e difusão do conhecimento histórico. | Arthur Lima de Avila, Fernando Nicolazzi e Rodrigo Turin
Fernando Nicolazzi | Foto: Canal História da Ditadura
No dia 27 de abril de 2020, Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que previa a regulamentação da profissão de historiador. Entre muitos aspectos que podem ser explorados a partir da análise dessa ação controversa, um deles se refere ao concorrido campo da história. Longe de ser uma “ciência dedicada aos mortos”, a história – e o direito de enunciá-la ou de interditá-la – é ponto de embate ideológico, além de um importante instrumento político, intrinsecamente vinculado a questões do nosso presente. Leia Mais
State violence, torture, and political prisoners: on the role played by Amnesty International in Brazil during the dictatorship (1964-1985) | Renata Meirelles
Renata Meireles | Fotomontagem: RC/coldwarbrazil.fflch.usp.br
 Em 2010, Samuel Moyn publicou aquele que seria seu principal livro sobre os direitos humanos: The last utopia: human rights in history. Nas palavras do historiador, se “os direitos do homem tinham relação com a reunião de um povo em torno de um Estado, e não com estrangeiros que podiam criticar outro Estado por suas violações” (Moyn, 2010, p. 26 [tradução do autor]), a primeira definição não mais se aplicaria ao mesmo conceito um século e meio depois de sua invenção nos Estados Unidos e na França revolucionários.
Em 2010, Samuel Moyn publicou aquele que seria seu principal livro sobre os direitos humanos: The last utopia: human rights in history. Nas palavras do historiador, se “os direitos do homem tinham relação com a reunião de um povo em torno de um Estado, e não com estrangeiros que podiam criticar outro Estado por suas violações” (Moyn, 2010, p. 26 [tradução do autor]), a primeira definição não mais se aplicaria ao mesmo conceito um século e meio depois de sua invenção nos Estados Unidos e na França revolucionários.
A grande mudança aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, e mais intensamente ao longo da Guerra Fria, quando, nos anos 1970, a política internacional transformou-se em disputa pelo que então se queria entender por emancipação humana, ou por conquista de novas liberdades, quer no sentido anticolonial, quer no sentido da democracia repensada, restaurada, ampliada. A novidade do conceito de direitos humanos estava no ato de se acreditar que era mesmo possível agir-se para a elevação política e moral da humanidade, sem as limitações das fronteiras nacionais, se intervindo nos Estados de forma que seus governos, criticados externamente, respondessem por seus atos e promovessem mudanças positivas. Leia Mais
O Auge da História. História do curso de História da Universidade Federal do Paraná | Bruno Flávio Lontra Fagundes
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná na década de 1940. Foto: Divisão de Documentação Paranaense/Exatas.ufpr.br
 Nota-se, nas últimas duas décadas, um adensamento nos esforços em prol da historicização dos cursos de História no Brasil. Constituem sua forma mais visível e direta os estudos de caso, em que se combinam, de maneiras variadas, histórias institucionais e políticas, bem como análises de programas e estudos populacionais (em particular, de docentes).[1] Não menos significativas, contudo, são as investigações de aspectos outros, indiretos, que reverberam na compreensão da história dos cursos. Seja analisando trajetórias de indivíduos ou grupos[2], seja apostando na etnografia de práticas que acompanham a criação de tais espaços[3], esse segundo conjunto de trabalhos ajuda a dimensionar com maior precisão a complexidade de objetos de estudo que nos são, ao mesmo tempo, próximos e caros.
Nota-se, nas últimas duas décadas, um adensamento nos esforços em prol da historicização dos cursos de História no Brasil. Constituem sua forma mais visível e direta os estudos de caso, em que se combinam, de maneiras variadas, histórias institucionais e políticas, bem como análises de programas e estudos populacionais (em particular, de docentes).[1] Não menos significativas, contudo, são as investigações de aspectos outros, indiretos, que reverberam na compreensão da história dos cursos. Seja analisando trajetórias de indivíduos ou grupos[2], seja apostando na etnografia de práticas que acompanham a criação de tais espaços[3], esse segundo conjunto de trabalhos ajuda a dimensionar com maior precisão a complexidade de objetos de estudo que nos são, ao mesmo tempo, próximos e caros.
É no cruzamento dessas duas sendas que vem se situar O Auge da História, livro escrito por Bruno Flávio Lontra Fagundes e dedicado ao estudo do curso de História da atual Universidade Federal do Paraná (doravante UFPR). Trata-se de mais uma inflexão na versátil e multidisciplinar trajetória de seu autor, que explorou, antes, o “livro-arquivo” de José Pedro Xavier da Veiga (2014a), ou então as representações do Brasil e de sua história na literatura contemporânea (2010 e 2011). Professor da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) desde 2015, Fagundes apresenta nele as conclusões de um estágio pós-doutoral realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em alguma medida prefiguradas em artigos científicos já conhecidos na área (2014b e 2017). Leia Mais
Clichês baratos: sexo e humor na imprensa ilustrada carioca do início do século XX | Cristiana Schettini
Cristiana Schettini | Foto: cafehistoria.com
 Em busca de diversão noturna, homens que viviam no Rio de Janeiro do início do século XX encontravam inúmeras opções de entretenimento no centro da cidade. Teatros, cinematógrafos, casas de chope e jardins são apenas alguns exemplos, dentre tantos outros locais de sociabilidade masculina. Não raro, nesses espaços, elementos relacionados ao sexo e ao humor eram mobilizados para atrair e satisfazer os anseios de uma ampla e diversificada clientela. “Estrangeiros no tempo”, leitoras e leitores de Clichês Baratos: sexo e humor na imprensa carioca do início do século XX, novo livro de Cristiana Schettini, iniciam seu percurso por esse mundo com um passeio que reproduz roteiros disponíveis a muitos consumidores desse lazer repleto de apelos eróticos. As perspectivas masculinas, porém, estão longe de serem as únicas, tampouco as mais enfatizadas pela historiadora.
Em busca de diversão noturna, homens que viviam no Rio de Janeiro do início do século XX encontravam inúmeras opções de entretenimento no centro da cidade. Teatros, cinematógrafos, casas de chope e jardins são apenas alguns exemplos, dentre tantos outros locais de sociabilidade masculina. Não raro, nesses espaços, elementos relacionados ao sexo e ao humor eram mobilizados para atrair e satisfazer os anseios de uma ampla e diversificada clientela. “Estrangeiros no tempo”, leitoras e leitores de Clichês Baratos: sexo e humor na imprensa carioca do início do século XX, novo livro de Cristiana Schettini, iniciam seu percurso por esse mundo com um passeio que reproduz roteiros disponíveis a muitos consumidores desse lazer repleto de apelos eróticos. As perspectivas masculinas, porém, estão longe de serem as únicas, tampouco as mais enfatizadas pela historiadora.
Doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a autora fez uma tese sobre a prostituição carioca no início do período republicano. Esse trabalho foi premiado pelo Arquivo Nacional e deu origem ao livro “Que tenhas teu corpo”: uma história social da prostituição no Rio de Janeiro das primeiras décadas republicanas, publicado em 2006. Desde então, ela tem se dedicado a pesquisas sobre o tema e sobre imigração no Brasil e na Argentina, com ênfase na perspectiva de gênero. Publicou inúmeros artigos e organizou coletâneas, sendo a mais recente em parceria com Juan Suriano, intitulada Historias Cruzadas: diálogos historiográficos sobre el mundo del trabajo en Argentina y Brasil (2019). Atualmente, leciona no Instituto de Altos Estudios Sociales da Universidade Nacional de General San Martín (USAM) e é pesquisadora do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Leia Mais
Estilo Avatar: Nestor Macedo e o populismo no meio afro-brasileiro | Petrônio Domingues
Petrônio Domingues | Foto: INFONET/Acervo pessoal
Eu quando estou com fome quero matar o Janio, quero enforcar o Adhemar e queimar o Juscelino. As dificuldades corta o afeto do povo pelos políticos (Carolina Maria de Jesus, 1960).
O historiador Petrônio Domingues (Universidade Federal de Sergipe) tornou-se documentalista de um campo de estudos que ajudou a formatar: o Pós-Abolição. Escolhido um determinado tema da República brasileira, sempre com recorte racial, não há acervo, fonte e documento que não acabe sendo visitado, folheado e interpretado pelo pesquisador, ávido por novas fontes e documentos nunca dantes arrolados. Nem todo historiador exercita a qualidade do documentalista, uma vez que não é incomum, na instituição historiadora, aquele vício soberbo que arrebata boa parte de nós, para a glória acadêmica e de currículos “serventes da erudição”. Imerso nos arquivos, o professor Domingues entra e sai de lá para escrever, à moda thompsoniana, “contra o peso das ortodoxias predominantes” (Thompson, 1987, p. 12). Leia Mais
Regalismo no Brasil Colonial: a coroa portuguesa e a Ordem do Carmo, Rio de Janeiro, 1750-1808 | Leandro Ferreira Lima da Silva
Palace Square, Rio de Janeiro. Ao fundo, a Igreja do Carmo (esquerda) e a Igreja da Ordem Terceira do Carmo (direita) | Imagem: Richard Bate, 1808
 O regalismo pombalino e o processo de submissão da Igreja ao Estado no império português foram amplamente reconhecidos pela historiografia luso-brasileira. Entretanto, apenas nas últimas décadas houve tentativas de análise que ultrapassassem as interpretações clássicas que compreendiam a ação regalista da monarquia portuguesa como uma política exclusivamente antijesuítica[2]. As transformações no campo historiográfico e a ampliação da noção de documento (Rousso, 1996), sobretudo após o advento da Nova História Cultural, resultaram em pesquisas inovadoras sobre o período pombalino e, sobretudo, problematizadoras da primazia inaciana. Esta, apesar de ser central na construção da política pombalina, não é suficiente para a compreensão das múltiplas dimensões das ações estatais direcionadas aos religiosos, e das ações do episcopado e de agentes civis em sua aplicação no Reino e no ultramar. Aqui reside a originalidade da obra de Leandro Ferreira Lima da Silva, Regalismo no Brasil Colonial, resultante da sua dissertação de mestrado e vencedora do prêmio de História Social (2013-2014) pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo.
O regalismo pombalino e o processo de submissão da Igreja ao Estado no império português foram amplamente reconhecidos pela historiografia luso-brasileira. Entretanto, apenas nas últimas décadas houve tentativas de análise que ultrapassassem as interpretações clássicas que compreendiam a ação regalista da monarquia portuguesa como uma política exclusivamente antijesuítica[2]. As transformações no campo historiográfico e a ampliação da noção de documento (Rousso, 1996), sobretudo após o advento da Nova História Cultural, resultaram em pesquisas inovadoras sobre o período pombalino e, sobretudo, problematizadoras da primazia inaciana. Esta, apesar de ser central na construção da política pombalina, não é suficiente para a compreensão das múltiplas dimensões das ações estatais direcionadas aos religiosos, e das ações do episcopado e de agentes civis em sua aplicação no Reino e no ultramar. Aqui reside a originalidade da obra de Leandro Ferreira Lima da Silva, Regalismo no Brasil Colonial, resultante da sua dissertação de mestrado e vencedora do prêmio de História Social (2013-2014) pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo.
Graduado em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de São Paulo, Leandro Ferreira Lima da Silva possui uma trajetória de pesquisa sólida e em ascensão no campo de estudos sobre o regalismo pombalino. Além da obra resenhada, o autor escreveu “À sombra da “última ruína”: regalismo e gestão material na província de Nossa Senhora do Carmo do Rio de Janeiro” (Silva, 2013). Atualmente, Silva é doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, no qual continua os estudos sobre os impactos da reforma regalista sobre o clero regular. Leia Mais
A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano | Edward Baptist
Edward E. Baptist | Foto: nytimes.com
 Enfim traduzido, o livro de Edward Baptist vem para estimular o conhecimento do passado e a compreensão do mundo contemporâneo. O autor propõe trazer a lume a metade da História nunca contada: a escravidão estadunidense fazendo par com o capitalismo industrial britânico, e, também, o seu papel na formação do capitalismo estadunidense, de 1790 a 1860. Debruçada sobre essa aliança entre lavoura escravista e Revolução Industrial no Atlântico Norte, a obra também faz ver a experiência de homens e mulheres escravizados, africanos ou afrodescendentes. Com cenas vívidas, ampla e minuciosa pesquisa, reconstitui a experiência e a ação – agency – dos trabalhadores. O livro de Baptist comprova, novamente, o “impacto dos em tese impotentes sobre os poderosos em termos econômicos e políticos” (Greenidge, 2020).
Enfim traduzido, o livro de Edward Baptist vem para estimular o conhecimento do passado e a compreensão do mundo contemporâneo. O autor propõe trazer a lume a metade da História nunca contada: a escravidão estadunidense fazendo par com o capitalismo industrial britânico, e, também, o seu papel na formação do capitalismo estadunidense, de 1790 a 1860. Debruçada sobre essa aliança entre lavoura escravista e Revolução Industrial no Atlântico Norte, a obra também faz ver a experiência de homens e mulheres escravizados, africanos ou afrodescendentes. Com cenas vívidas, ampla e minuciosa pesquisa, reconstitui a experiência e a ação – agency – dos trabalhadores. O livro de Baptist comprova, novamente, o “impacto dos em tese impotentes sobre os poderosos em termos econômicos e políticos” (Greenidge, 2020).
O autor Edward Baptist é professor da Universidade de Cornell e historiador dos Estados Unidos, tendo o século XIX como recorte cronológico. Estuda a vida de homens e mulheres escravizados no Sul, região que é cenário de uma maciça expansão da escravatura, devido à lucratividade do algodão (o que terminou por precipitar a Guerra Civil em 1861). O público a que o livro se destina é aquele que deseja conhecer melhor a força da escravidão, por um lado, e, por outro, também a força dos escravizados. Também mata a sede de quem quer entender o contemporâneo apego dos estadunidenses ao lado perdedor da guerra, o sulista, que quis se separar do país para fundar um outro, a fim de manter a escravidão. Os efeitos duradouros desse apego podem ser simbolizados hoje, mais do que nunca, nas imagens da tentativa de golpe de Estado em 6 de janeiro de 2021, a qual, embora um fiasco, conseguiu desfraldar a bandeira confederada dentro do Capitólio. Leia Mais
Taking possession: The Politics of Memory in a St. Louis Town House | Heidi Aronson Kolk
Heidi Kolk | Fotomontagem: RC/ amcs.wustl.edu
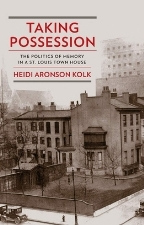 Em Tomando posse: as políticas de memória em uma casa em St. Louis (tradução livre), Heidi Kolk, professora da Washington University (St. Louis), analisa as políticas da memória e o processo de musealização da Campbell House, edificação localizada na cidade de St. Louis, no estado americano do Missouri. A casa, datada de 1851 e situada no antigo bairro exclusivo conhecido por Lucas Place, foi a residência de Robert Campbell – empresário e membro das elites locais -, sua esposa Virginia e seus filhos, Hugh e Hazlett. A residência dos Campbell foi transformada na Campbell House Museum (Casa-Museu Campbell), oficialmente aberta ao público em 1943.
Em Tomando posse: as políticas de memória em uma casa em St. Louis (tradução livre), Heidi Kolk, professora da Washington University (St. Louis), analisa as políticas da memória e o processo de musealização da Campbell House, edificação localizada na cidade de St. Louis, no estado americano do Missouri. A casa, datada de 1851 e situada no antigo bairro exclusivo conhecido por Lucas Place, foi a residência de Robert Campbell – empresário e membro das elites locais -, sua esposa Virginia e seus filhos, Hugh e Hazlett. A residência dos Campbell foi transformada na Campbell House Museum (Casa-Museu Campbell), oficialmente aberta ao público em 1943.
O trabalho de Kolk pode ser compreendido como um estudo exemplar de história pública, analisando as ações e engajamentos de um conjunto diverso de agentes sociais para a produção da memória e de significados sobre o passado na esfera pública. Articulando um leque amplo de perspectivas teórico-analíticas – como história pública, história urbana, museologia, geografia cultural, antropologia e sociologia -, o estudo interdisciplinar de Kolk, estruturado em oito capítulos, considera os principais acontecimentos históricos e “atos de apropriação” da Campbell House, desenrolados ao longo de aproximadamente um século e meio. Para o desenvolvimento do estudo, a autora baseia-se primordialmente numa análise da cultura material e dos objetos que constituem as coleções e o acervo do Museu, além de documentos históricos e textos jornalísticos divulgados na imprensa. Leia Mais
Tendências Historiográficas na Revista Brasileira de História: 1981-2000 | Ricardo Marques de Mello
Os anos 1980 e 1990 são usualmente considerados momento de inflexão da historiografia em nosso país, com a falência das metanarrativas iluminista e marxista e das teses de longa duração. Ao promover diálogo interdisciplinar com a antropologia e a teoria literária, os historiadores brasileiros teriam propiciado a ascensão da micro história e da história cultural. Muitos se valeriam de novas fontes para meditar sobre representações, e privilegiariam recortes temporais recentes e recortes espaciais em território nacional, regionais ou locais. A mudança de bases teóricas, com inspiração na Nova História e em autores como Michel Foucault, Edward Thompson, Walter Benjamin e Clifford Geertz, alavancaria o enfoque de temas, objetos e sujeitos históricos até então apagados. Todavia, a apropriação superficial desses pensadores, somada à presença tímida, no Brasil, da produção e do conhecimento de obras de teoria, teria favorecido uma prática empirista da escrita da história.
À vista disso, seria possível determinar a validade destes pressupostos nas fontes da história da historiografia do período referido? Se sim, como? Se não, por quê? Poderiam os historiadores empregar estas formulações para definir tendências historiográficas estaticamente? Leia Mais
Plínio Salgado: um católico integralista entre Portugal e o Brasil (1895-1975) | Leandro Pereira Gonçalves
O filósofo da ciência Karl Popper (1980) costumava afirmar que o conhecimento científico é, acima de tudo, uma luta contra o marasmo e as supostas verdades preestabelecidas dentro do próprio campo científico. Podemos compreender esse “marasmo” e as “supostas verdades estabelecidas”, em parte, como os próprios estudos científicos que marcam época e criam um establishment em determinada área de pesquisa. Leia Mais
Infâncias e juventudes no século XX: histórias latino-americanas – AREND et al (RBH)
“Atenção! atenção! É uma nova era no Brasil, menino veste azul e menina veste rosa” (Pains, 2019). O ano de 2019 acabara de desabrochar quando a recém-empossada ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, proferiu tais palavras sob coro e aplausos calorosos. Carregada de significados e intenções, a declaração de Damares também dá voz, involuntariamente, ao questionamento: quais os atributos da infância na História do Tempo Presente? Se existem, quem os criou e com quais interesses? Leia Mais
Um mundo sem guerras: a ideia de paz, das promessas do passado às tragédias do presente – LOSURDO (RBH)
O ano de 2019 certamente não será recordado pela ocorrência de grandes avanços em favor da paz mundial. Na África, a Líbia não conseguiu superar a instabilidade política instaurada com a derrubada de Muammar Kadhafi, em 2011, e a disputa pelo poder transformou-se em uma extensa guerra civil desde então. Naquele mesmo ano, no Oriente Médio, a Síria de Bashar Al-Assad foi arrastada para um conflito envolvendo agentes internos e externos, e até este momento o país devastado se defronta com o enfrentamento de grupos antagônicos que impedem a pacificação do país. Leia Mais
Noites circenses: espetáculos de circo e teatro em Minas Gerais no século XIX – DUARTE (RBH)
A segunda edição de Noites Circenses: espetáculos de circo e teatro em Minas Gerais no século XIX, de Regina Horta Duarte, chegou aos leitores em 2018. Na sua primeira edição (Campinas: Ed. Unicamp, 1995), o livro foi saudado como trabalho muito bem escrito e cativante (Mello e Souza, 1996) e considerado referência para estudos sobre teatro e circo no Brasil (Silva, 1996). Os que lerem a nova edição constatarão que a obra não envelheceu e continua digna desses elogios. Leia Mais
An Economic and Demographic History of São Paulo – 1850-1950 – LUNA; KLEIN (RBH)
Este livro é continuação do volume anterior, que tratava dos períodos colonial e imperial. Nesta nova obra, os autores estabelecem como balizas temporais os anos de 1850 e 1950. Juntos, os dois volumes buscam analisar as histórias econômica e social de São Paulo, desde o período colonial até a primeira metade do século XX. Leia Mais
State Building in Boom Times: Commodities and Coalitions in Latin America and Africa – SAYLOR (RBH)
Os fatores históricos relacionados à construção de instituições públicas mais fortes têm sido sistematicamente estudados em muitas disciplinas. No entanto, as condições e os processos históricos que fortaleceram certas instituições públicas em alguns países, mas não em outros, permanecem pouco compreendidas. State Building in Boom Times suscita novo interesse por esse tema ao analisar as condições para a construção do Estado para além da Europa. Com esse objetivo, o livro destaca o papel dos setores exportadores de matérias-primas no fortalecimento das instituições públicas durante períodos de forte crescimento econômico. Leia Mais
Vila Rica em sátiras: produção e circulação de pasquins em Minas Gerais, 1732 – ROMEIRO (RBH)
O trabalho de interpretação documental é sempre um desafio para historiadores competentes, ainda mais quando envolve formas textuais e mídias peculiares. Adriana Romeiro está entre os mais talentosos pesquisadores dedicados à cultura política no Brasil da Época Moderna, com grande potencial de argumentação associado a uma bela escrita. Nesse livro que conta com a colaboração valorosa de Tiago C. P. dos Reis Miranda, a historiadora se lança ao estudo de peças de perfil satírico produzidas sobre o governo de Lourenço de Almeida na capitania de Minas Gerais, de 1721 a 1732. Leia Mais
Manifesto pela História – ARMITAGE; GULDI (RBH)
Manifesto pela História é uma apologia da história de longa duração que reacende as discussões sobre o lugar dos historiadores na sociedade contemporânea. Publicado originalmente em 2014 pela Cambridge University Press (Armitage; Guldi, 2014), o livro foi prontamente disponibilizado na internet, o que permitiu sua rápida difusão. Após as traduções para os idiomas chinês, coreano, espanhol, italiano, japonês, turco e russo, finalmente está disponível para o leitor brasileiro a versão publicada pela editora Autêntica. 1 Leia Mais
Terceiro Reich na história e na memória: novas perspectivas sobre o nazismo, seu poder político, sua intrincada economia e seus efeitos na Alemanha do pós-guerra – EVANS (RBH)
O suicídio de Adolf Hitler, em 1945, assinalou o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa e do regime nacional-socialista. Experiências históricas que marcaram a memória e a história de diversas maneiras. De lá para cá, inúmeros estudiosos estão a narrar e a interpretar o nazismo. A cada livro novo, a cada geração de pesquisadores, os saberes históricos sobre o nacional-socialismo são revisados e ampliados. Leia Mais
História, Dialética e Diálogo com as Ciências: a gênese de Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Jr. (1933-1942) – IUMATI (RBH)
Como produzir uma grande obra de pensamento em um contexto periférico? É com essa pergunta que Paulo Teixeira Iumatti abre o seu História, dialética e diálogo com as ciências: a gênese de Formação do Brasil contemporâneo, de Caio Prado Jr. (1933-1942), livro originado de sua tese de doutorado, produzida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (USP) e concluída em 2001. De saída, cabe destacar a potência que o qualificativo “contexto periférico” dá à pergunta, pois afasta dela o idealismo próprio às posições que frisam o talento superior do indivíduo ou àquelas que acreditam numa espécie de circulação mundial igualitária de ideias. Já aqui a dimensão materialista, tão ao gosto do seu objeto, aparece com discreta precisão. Leia Mais
Ghana on the Go: African Mobility in the Age of Motor Transportation – HART (RBH)
A principal contribuição de Ghana on the Go é abordar a questão da mobilidade social na África colonial focalizando uma variável explicativa pouco intuitiva: o advento do transporte motorizado na Costa do Ouro (atual Gana) na década de 1910. O livro mostra que mesmo os africanos mais pobres eram capazes de identificar, nas brechas do regime colonial, formas de empreender, o que contradiz a interpretação de boa parte da literatura sobre o tema, a qual explícita ou implicitamente assume uma inadequação das populações nativas africanas ao desenvolvimento de ideias e técnicas vindas de fora. Ao abordar a questão dessa perspectiva, o livro amplia a discussão sobre mobilidade social, incluindo aspectos que vão além da maior mobilidade física propiciada pelos veículos a motor, como o impacto da nova tecnologia na configuração de valores, experiências e oportunidades criados no cotidiano. Leia Mais
Pessoas comuns, histórias incríveis: a construção da liberdade na sociedade sul-rio-grandense – SILVA (RBH)
O Brasil não sofre de falta de passado, talvez ele conviva com um excesso de passado. A questão que se coloca não é a ausência de uma noção do passado nacional, mas sim de qual passado se preserva. Essa ideia foi apresentada por Fernando Nicolazzi na conferência “História e Historiografia em tempos de transição”, oferecida no XVI Encontro Regional de História (Anpuh/Paraná, 2018). O passado que se cultiva no Brasil pode ser pensado nos termos propostos por Manoel Bomfim, ainda na primeira metade do século XX. Bomfim destacou em suas obras como o Brasil incorporava narrativas postas a deturpar sua trajetória histórica, bem como perpetuava um padrão de socialização calcado no parasitismo social (Bomfim, 2005; 2013). Esse passado que se cultiva é, em grande medida, aquele que perpetua as premissas estamentais da sociedade brasileira. Leia Mais
Existir em bits: arquivos pessoais nato-digitais e seus desafios à teoria arquivística – ABREU (RBH)
Fruto da dissertação orientada por Aline Lopes de Lacerda e Luciana Heymann, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos da UniRio, Existir em bits: arquivos pessoais nato-digitais e seus desafios à teoria arquivística, recém-editado pela Associação de Arquivistas de São Paulo, marca, de certa forma, a entrada de Jorge Phelipe Lira de Abreu na bibliografia brasileira sobre arquivos pessoais. Não se trata, convém notar, de estreia propriamente dita, tendo em vista que o autor vem publicando artigos em periódicos especializados e capítulos em coletâneas e anais de eventos realizados no país e no exterior. Leia Mais
Em busca do Brasil: Edgard Roquette-Pinto e o retrato antropológico brasileiro (1905-1935) – SOUZA (RBH)
Publicado em 2017, Em busca do Brasil, de autoria de Vanderlei Sebastião de Souza, é fruto da tese de doutorado defendida na Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz e agraciada com o III Prêmio de Teses da Anpuh, no biênio de 2011-2012. Os cinco capítulos que compõem o livro trazem à tona a preocupação com o tema da identidade nacional na trajetória política e científica do médico e antropólogo Edgard Roquette-Pinto. Em especial, a obra analisa a sua relação com a antropologia física, suas interlocuções transoceânicas e a ampla discussão racial mobilizada durante as primeiras décadas do século XX. Leia Mais
Mujeres en la Nueva España – ZAPATERO; SOBERÓN (RBH)
El libro Mujeres en la Nueva España, coordinado por Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón, forma parte de la prestigiada serie “Historia Novohispana” del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es producto de coloquio internacional, celebrado en dicha institución, con el mismo título, en octubre de 2012. Los participantes en el acto académico, ahora coautores del libro, dispusieron de tiempo para transformar sus presentaciones orales en textos escritos formales, actualizados y corregidos. El índice de la obra advierte al lector que se analizarán una variedad de temas: la construcción historiográfica de las mujeres en la segunda mitad del siglo XX; los conventos femeninos y el monacato novohispano; la joyería femenina y la estética de los adornos; las mujeres fandangueras; en fin, el castigo judicial de los pecados públicos.
La introducción corre a cargo de Pilar Pérez Cantó, misma que no sólo consiste en un discurso sobre los trabajos reunidos, sino que ofrece una reflexión sobre la condición, papel y circunstancias de las mujeres a lo largo del tiempo en América Latina, y sobre las teorías que han moldeado los comportamientos entre los géneros.
El primer capítulo, escrito por Isabel Morant, se titula “Mujeres e historia. La construcción de una historiografía 1968-2010”, cuyo contenido ofrece una periodización de la etapas por las que a atravesado la historia de las mujeres, rescatando los más significativos debates, problemas epistemológicos y autoras.
El análisis de las mujeres privilegiadas en el Valle de Orizaba, con el recurso a la microhistoria, es lo que se presenta en el segundo capítulo, “El Condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres”, de Javier Sanchiz. El tratamiento investigativo a las mujeres con títulos nobiliarios, titulares o consortes, tiene que hacerse, muchas veces, con relación a su esposo ya que, con base en la documentación, su papel era de gestoras de la “casa nobiliaria”, haciendo a un lado su protagonismo, quedando, en consecuencia, bajo la sombra masculina. De esta manera, el papel hombre-esposo era determinante y predominante en el destino de las condesas y, podríamos decir, de las mujeres novohispanas.
“Hermanas en Cristo. Balances, aproximaciones y problemáticas del monacato novohispano” es el capítulo que sigue, el tercero, en el que su autora, Rosalva Loreto López, analiza los conventos de mujeres, en particular de los franciscanos, cuyo legado cultural es profundo en la Nueva España (fansciscanismo femenino cultural), su implantación y expansión, así como los éxitos de la rama femenina de los mendicantes; asimismo, se señalan las diferencias entre las hermanas de la orden.
Por su parte, Antonio Rubial García examina en el capítulo cuatro, “Las beatas, la vocación de comunicar”, con base en las fuentes de la Inquisición y la hagiografía, a las mujeres que formaban parte del espacio beateril: aquellas que no estaban casadas y no eran profesas recluidas en un monasterio o beaterio, vestidas con atuendos particulares, y piadosas, situadas, no obstante, en los márgenes de alguna orden religiosa que les diera legitimidad.
“La joyería femenina novohispana. Continuidades y rupturas en la estética del adorno corporal” de Andreia Martins Torres, es el capítulo número cinco, en donde se señala que vida de la Nueva España, simbólicamente vista, fue organizada sobre la base de un complejo sistema social con personajes de tierras continentales diversas: indias, españolas, negras y chinas asimilaron los signos “externos dentro de los límites de su estructura mental” (Baena Zapatero; Roselló Soberón, 2016, p.172). Con todo, la singularidad de la joyería de la época radica en la “añadidura” o combinación que le dio la población heterogénea del territorio; es decir, la joyería europea o asiática que llegaba fue usada por grupos distintos con significados también diferentes.
El único capítulo escrito en coautoría es el sexto, “Surcando el lado oscuro de la luna. Mujeres fandangueras”, de Lizette Alegre González, Gonzalo Camacho Díaz, Lénica Reyes Zúñiga y José Miguel Hernández Jaramillo. En él, los autores rastrean las “huellas” de la mujer como símbolo de subversión, mediante el fandango – son de mujeres -, ya que ellas, las “fandangueras”, usaban la fuerza simbólica de su cuerpo para exhibir a la sociedad que las negaba como personas, viéndolas, entonces, de forma exclusiva como cuerpos-símbolos.
El trabajo de Andrea Rodríguez Tapia, “‘La Castrejón’, una ‘alcahueta’ o ‘lenona’ ante la justicia criminal en Nueva España, 1808-1812”, integra el séptimo capítulo, en el que se examina el proceso judicial contra María Manuela González Castrejón, formado por la Real Sala del Crimen por el delito de lenocinio, que había sido reconocido como tal desde Las Siete Partidas. Rodríguez Tapia señala que la actitud de las autoridades asentadas en sus territorios continentales de Occidente, a diferencia de aquellas en los ayuntamientos de Madrid y Sevilla, durante la Edad Moderna, era ambigua, ya que las mujeres que incurrían en la prostitución eran descalificadas, mientras que el hombre que se relacionaba con ellas no sufría sanción alguna. Manuela González fue sometida a proceso no por las prácticas que tenían lugar en su casa sino por el escándalo que denunciaron los vecinos. La sanción hacia ella fue más bien una advertencia para quienes ejercían la prostitución o “alcahueteaban” a las “mujeres públicas”. En fin, conviene decir que los delitos sexuales, como el imputado a “La Castrejón” eran, hasta cierto punto, menores.
El penúltimo capítulo, el octavo, es responsabilidad de Estela Roselló Soberón y se titula “El mundo femenino de las curanderas novohispanas”. Con un esbozo biográfico de María Calderón – curandera y mujer lejos de ser pasiva, encerrada y callada -, la autora centra su atención, precisamente, en las curanderas y en su actuar en las fronteras o márgenes de la sociedad como “negociadoras culturales”, haciendo evidente los estereotipos que quienes practicaban ese oficio tenían sobre sí y el posterior reconocimiento, prestigio y fama de los que fueron merecedoras.
En fin, en el noveno capítulo, “Salir del silencio: lecturas y escritos femeninos en la prensa mexicana de principios del siglo XIX”, de Esperanza Mó Romero, se destaca la participación de las mujeres en las discusiones en la prensa, particularmente a través del Diario de México y se estudian el modelo de sociedad ilustrada al que se enfrentaron las mujeres decimonónicas y sus respuestas a dicho marco, enriqueciendo, con ello, el debate público. La presencia de algunas mujeres en los periódicos supuso un quiebre cualitativo significativo en la sociedad, ya que se proyectaba una “nueva imagen femenina, a la cual las lectoras podían conformarse, que desbordaba los límites del modelo tradicional que se divulgaba a través de [las] páginas” (Baena Zapatero; Roselló Soberón, 2016, p.273).
En suma, los trabajos contenidos en Mujeres en Nueva España exponen, con un lenguaje diáfano, las circunstancias, coyunturas y pormenores de las mujeres durante el siglo XIX, a excepción del texto de Isabel Morant, cuyo aporte teórico en torno a las etapas por las que ha pasado la historia de las mujeres, lo hace singular.
Referências
BAENA ZAPATERO, Alberto; ROSELLÓ SOBERÓN, Estela (Coord.) Mujeres en la Nueva España. México: Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2016. [ Links ]
Eduardo Torres Alonso – Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, D.F., México. E-mail: etorres.alonso@gmail.com
ZAPATERO, Alberto Baena; SOBERÓN, Roselló Estela. Mujeres en la Nueva España. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2016. 280p. Resenha de: ALONSO, Eduardo Torres. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.38, n.77, jan./abr. 2018. Acessar publicação original [IF]
Cidades e cultura política nas Américas – MORSE; DOMINGUES (RBH)
MORSE, Richard. DOMINGUES, Beatriz Helena. Cidades e cultura política nas Américas. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2017. 277p. Resenha de: CASTRO, Ana Claudia Veiga de. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.38, n.77, jan./abr. 2018
Mais conhecido no Brasil por ter publicado nos anos 1980 o livro O Espelho de Próspero (Morse, 1988), uma polêmica tese sobre as duas Américas, o historiador norte-americano Richard Morse também é o autor de uma série de ensaios sobre as cidades latino-americanas e o papel do pesquisador social. É um conjunto expressivo desses ensaios que vem agora a público no volume organizado pela historiadora Beatriz Domingues: Cidades e cultura política nas Américas. O livro reúne textos escritos por Morse entre 1954 e 1992, meio século de uma intensa produção intelectual enquanto era professor e pesquisador de algumas das principais universidades norte-americanas.
Morse iniciou seu percurso acadêmico nos anos 1940, e após graduar-se em História na Universidade de Princeton veio ao Brasil, em 1947, para realizar a pesquisa de campo de seu doutorado em Columbia, sob orientação do antropólogo Frank Tannenbaum. Interessado em compreender como uma pequena vila sem grande importância no sistema colonial português vinha se tornando a principal metrópole latino-americana, Morse passou mais de um ano em São Paulo, onde travou relações duradouras com Antonio Candido e seu grupo na Universidade de São Paulo, encantando-se pelo Modernismo e pela vibração daquela metrópole em formação. O resultado da tese foi o livro Formação Histórica de São Paulo: de comunidade à metrópole, publicado pela primeira vez nas comemorações do IV Centenário de São Paulo, com o título De comunidade à metrópole: a biografia de São Paulo, e republicado em 1970 na famosa coleção Corpo e Alma do Brasil, dirigida por Fernando Henrique Cardoso (Morse, 1954; Morse, 1970). A obra tornou-se um clássico da história urbana de São Paulo, podendo também ser lida como um esquema de interpretação sobre a forma de desenvolvimento da cidade capitalista no mundo ibero-americano e, talvez, como vislumbre de uma outra modernidade. Pode-se dizer que essa tese (e sua experiência em São Paulo) abriu os olhos de Richard Morse para o problema da urbanização latino-americana e para a cultura urbana em geral – definindo a importância dessa perspectiva analítica para seu entendimento do mundo social -, resultando em textos, intervenções e organização de livros.
Parte dessa produção é agora publicada: nunca traduzidos e de difícil acesso ao pesquisador brasileiro, estes artigos podem ser lidos de maneira complementar aos trabalhos de maior fôlego do pesquisador, desenhando o percurso de seu pensamento ao longo dos anos e revelando a erudição e a perspicácia de um intelectual que não se contentava com visadas ortodoxas, buscando escapar da ideia de modelos e desvios, valendo-se da compreensão de sistemas de pensamentos.
O primeiro desses ensaios, “Rumo a uma teoria de governo para a América Espanhola”, publicado ainda em 1954 no Journal of History of Ideas, recupera a presença hispânica na América e discute as heranças medieval e renascentista na formação do novo continente, sobretudo nas suas cidades, indicando a impossibilidade de se lidar com as nações de origem ibérica na América seguindo a régua da América anglo-saxã, formada desde uma origem diversa não apenas espacial, mas também temporal. O ensaio anuncia um tema que Morse revisita ao longo da carreira e que encontra sua forma final no já citado Espelho de Próspero.
Em seguida, “São Paulo desde a independência: uma interpretação cultural”, publicado no mesmo ano, desta vez na Hispanic American Historic Review – a mais importante publicação dos estudos históricos latino-americanos nos Estados Unidos -, apresenta uma espécie de síntese de sua tese sobre São Paulo e introduz o leitor à compreensão das cidades a partir de uma mirada cultural. Num momento em que os pesquisadores se debruçavam sobre os problemas advindos da intensa urbanização das cidades latino-americanas – que sem o necessário lastro na industrialização resultava num conjunto expressivo da população empregado nas margens do sistema, abrigado em imensas áreas periféricas sem infraestrutura urbana adequada -, Morse indicava a potência da cultura para o conhecimento dessas cidades, e a própria importância das cidades, com suas instituições culturais, para que se pudesse tratar “de forma eficaz [até mesmo] os insistentes problemas agrários da América Latina” (p.106). Esta última afirmação do ensaio evidencia como, para Morse, o trabalho intelectual não era desprovido de intenções, comprometendo-se, ao fazer história, a discutir o desenvolvimento do subcontinente, em diálogo com pesquisadores como Robert Redfield e Oscar Lewis, que se dedicavam naqueles anos à compreensão das especificidades do fenômeno urbano latino-americano.
Dois outros ensaios publicados na mesma Hispanic American Historic Review, “Algumas características da história urbana da América Latina” (de 1962) e “Prolegômenos para a história urbana da América Latina” (de 1972), foram escritos quando Morse era professor de História da América Latina, primeiro na Universidade do Estado de Nova York e em seguida em Yale, onde se envolveu em diversas ações para a consolidação da história urbana como uma disciplina, participando de congressos, coordenando simpósios, organizando volumes – entre os quais, alguns trabalhos com o argentino Jorge Enrique Hardoy que geraram aportes decisivos ao campo.
No primeiro, Morse retoma ideias trabalhadas em um texto publicado em 1957 na revista Estudios Americanos, “La ciudad artificial”, escrito como comentário da mesa “Expansão urbana na América Latina durante o século 19”, em uma reunião da American Historical Association no qual anunciara a cidade na América Latina como algo “artificial” ao ser lida à luz da história urbana europeia. Já ali Morse defendia a necessidade de uma história cultural urbana como a única forma de não ver a América Latina como desvio da “civilização ocidental”. Mas se havia especificidades em relação à urbanização europeia e também à da América anglo-saxã, havia um paradoxo que valia tanto para a América do Norte quanto para a do Sul: “que a cidade, notória na Europa por seu raio comercial e por sua atividade manufatureira, serviu, no Novo Mundo, como ponto de partida para o contato com o solo, em territórios onde nenhuma rota de comércio interno havia sido definida e onde a manufatura era restringida pelas políticas do mercantilismo” (p.135). Isso teria feito do espaço, e não do tempo, “o principal fator da experiência americana”, tornando a cidade na América uma força centrípeta. Com isso, Morse anuncia a urbanização latino-americana como chave para a compreensão dos sentidos da América. E que, se quisermos lembrar, seria o mote de Ángel Rama em seu fundamental La ciudad letrada (1984): o reconhecimento do papel das cidades (e das letras) na constituição da América Latina (Rama, 1986).
No segundo ensaio, discutindo com uma bibliografia clássica que ia de Henri Pirènne a Max Weber, Morse uma vez mais trabalha a especificidade da urbanização latino-americana desde sua origem, recuando desta vez aos primórdios da urbanização na Europa, a polis grega, de modo a definir a gênese mesma da cidade enquanto instituição política e social, para compreender o papel das cidades na constituição dos Estados nacionais modernos europeus. Buscando definir caminhos para construir uma história urbana latino-americana, não teve receio em enfrentar outros pesquisadores, recuperando e debatendo com suas teses de modo a indicar os “furos”, as incongruências, e mais que tudo, um eurocentrismo de fundo que impedia um olhar menos formatado para a América Latina. Em tempos de Cepal e de outros órgãos que enfrentavam questões latino-americanas para a construção de sua autonomia, Morse se colocava como um interlocutor importante àqueles que queriam formular um pensamento próprio do e para o subcontinente.
Completando o volume, a resenha de um livro publicado nos anos 1960, o texto “O antropólogo como consultor político”, e por último o ensaio “Cidades como pessoas”, publicado na obra Rethinking the Latin American City, organizada com Hardoy já em 1992, espécie de balanço de seu pensamento sobre o papel das cidades e as diferenças e as aproximações entre os modelos urbanos do norte e do sul.
Vale destacar que os textos de Morse são precedidos por um ensaio de fôlego da sua organizadora, Beatriz Domingues, que conheceu o pesquisador em 1991. Sua apresentação introduz o leitor aos temas de eleição de Morse e propõe uma sistematização de sua trajetória a partir de um “pressentimento metodológico”, como ela diz, adaptando as etapas de um trabalho do pedagogo Alfred North Whitehead para organizar sua obra em três fases. A historiadora já havia nos oferecido uma série de textos críticos sobre Richard Morse no livro organizado com Peter Blasenheim, O Código Morse: ensaios sobre Richard Morse (2010), também editado pela UFMG (Domingues; Blasenheim, 2010). Aqui, dá início ao trabalho de publicização dos escritos do autor e já anuncia sua continuação em um segundo volume. As traduções bem cuidadas, feitas pela jornalista Maria Bitarello (filha de Beatriz e que conheceu Morse na infância), garantem uma leitura fluida e agradável. O livro conta também com uma apresentação do jornalista Matthew Shirts (ex-aluno de Morse em Stanford) e um posfácio da historiadora Helena Bomeny, autora de uma entrevista com o historiador no final dos anos 1980 (Bomeny, 1989). A edição, que traz ao final a cronologia das obras de Richard Morse, é portanto muito bem-vinda, pois oferece um importante material para pensarmos nosso lugar no mundo, sobretudo hoje, neste momento crucial de definição de caminhos. Vale a pena ler, conhecer e refletir.
Referências
BOMENY, Helena. Uma Entrevista com Richard Morse. Estudos Históricos, Rio de Janeiro: Ed. FGV, v.2, n.3, p.77-93, 1989. [ Links ]
DOMINGUES, Beatriz; BLASENHEIM, Peter (Org.) Código Morse: ensaios em homenagem a Richard Morse. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010. [ Links ]
MORSE, Richard. De comunidade a metrópole: biografia de São Paulo. Trad. Maria Aparecida Madeira Kerberg. São Paulo: Comissão do IV Centenário, 1954. [ Links ]
_____. O Espelho de Próspero: cultura e ideias nas Américas [1982]. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. [ Links ]
_______. Formação histórica de São Paulo: de comunidade a metrópole. Trad. complementares Antonio Candido. São Paulo: Difel, 1970. [ Links ]
RAMA, Ángel. A cidade das letras [1984]. Trad. Emir Sader. São Paulo: Brasiliense, 1986. [ Links ]
Ana Claudia Veiga de Castro – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, SP, Brasil. E-mail: anacvcastro@usp.br.
[IF]Historicidade e objetividade – DASTON (RBH)
Lorraine Daston/Stijn Debrouwere from London UK wikimedia.org.
 Como notam Tiago Santos Almeida e Francine Iegelski em sua apresentação à edição brasileira de Historicidade e objetividade, de Lorraine Daston, a história da ciência permanece uma especialidade marginalizada na historiografia contemporânea. É sintomático que apenas em 2017 o leitor brasileiro possa tomar conhecimento, em língua portuguesa, dos escritos de Lorraine Daston – e que ainda não possamos ler uma boa tradução de Steven Shapin.1 Dado o crescimento recente dos estudos em história da historiografia, é relativamente espantoso que a história da ciência não tenha servido como uma das interlocutoras privilegiadas. Nesse sentido, a publicação de Historicidade e objetividade começa a preencher uma lacuna enorme, que ainda carece de mais esforços.
Como notam Tiago Santos Almeida e Francine Iegelski em sua apresentação à edição brasileira de Historicidade e objetividade, de Lorraine Daston, a história da ciência permanece uma especialidade marginalizada na historiografia contemporânea. É sintomático que apenas em 2017 o leitor brasileiro possa tomar conhecimento, em língua portuguesa, dos escritos de Lorraine Daston – e que ainda não possamos ler uma boa tradução de Steven Shapin.1 Dado o crescimento recente dos estudos em história da historiografia, é relativamente espantoso que a história da ciência não tenha servido como uma das interlocutoras privilegiadas. Nesse sentido, a publicação de Historicidade e objetividade começa a preencher uma lacuna enorme, que ainda carece de mais esforços.
Daston trabalha no Instituto Max Planck para a História da Ciência, onde coordena o departamento II (Ideais e Práticas de Racionalidade). Publicou em 2008, com Peter Galison, o livro Objectivity, em que traçam uma história da objetividade enquanto virtude epistêmica nas ciências. No prefácio à edição brasileira, ela define seu trabalho com base na expressão “epistemologia histórica”, definida como “a história das categorias e práticas que são tão fundamentais para as ciências humanas e naturais que parecem muito autoevidentes para ter uma história” (p.9-10). Daston detalha mais a definição à frente, no capítulo “Uma História da Objetividade Científica”, considerando a epistemologia histórica como “a história das categorias que estruturam nosso pensamento, que modelam nossa concepção da argumentação e da prova, que organizam nossas práticas, que validam nossas formas de explicação e que dotam cada uma dessas atividades de um significado simbólico e de um valor afetivo” (p.71).
A similaridade entre essas duas caracterizações e trabalhos como o de Michel Foucault não é acidental. O termo “epistemologia histórica”, de definição pouco clara, aparece com frequência para designar certa tradição epistemológica da qual fazem parte, além de Foucault, nomes como Gaston Bachelard e Georges Canguilhem, mas Daston faz questão de mencionar que seu uso da expressão difere daquele da tradição francesa.2 Além disso, ela é enfática em recusar as acusações de relativismo que rapidamente surgem contra várias correntes na história e na filosofia das ciências: “o fato de que ideias, práticas e valores tem [sic] histórias, de que tiveram origem em um lugar e época determinados, nada diz sobre sua validade” (p.10); “historicizar categorias como fato, objetividade ou prova não a [sic] debilita, não mais do que a [sic] prejudicaria escrever a história da teoria da relatividade especial … ‘Se histórico, então relativo’ é um non sequitur” (p.124).3
Entre os textos selecionados por Tiago Almeida, organizador do volume, apenas um – “Science Studies e História da Ciência” – destoa do restante, como a própria autora aponta em seu prefácio. Exceção feita, os outros textos ilustram com clareza as longas reflexão e pesquisa empreendidas por Daston em torno do problema da história da objetividade – primeiro na história das ciências da natureza, que culminou na publicação do já mencionado livro Objectivity, com Peter Galison, e, finalmente, nas ciências humanas. É possível acompanhar o trajeto empreendido pela autora conforme as categorias que aparecem no livro ganham forma (por exemplo, a de objetividade mecânica). Aos leitores que a acompanham em língua inglesa, esse percurso talvez possa esclarecer uma curiosidade ou outra acerca do processo de feitura do livro de 2008; aos que ainda não tiveram acesso ao livro (ainda não traduzido), trata-se de uma excelente introdução.
O extenso e difícil trabalho de tradução é meritoso em si; quando se trata de uma autora de vasta erudição como Daston, ainda mais. As possíveis discordâncias com uma ou outra escolha de palavras por parte dos tradutores, assim como os poucos erros que escaparam à revisão, não tiram em nada o brilho da empreitada. Derley Alves e Francine Iegelski fizeram um bom trabalho.
Notas
1. Historiador da ciência, coautor de Leviathan and the Air Pump, um dos livros mais importantes da história da ciência (já não tão) recente, publicado em 1985. The Scientific Life, um de seus livros mais recentes (2008), trouxe grande contribuição às histórias da “ciência encarnada”.
2. GINGRAS (2010) discute os problemas da expressão “epistemologia histórica” no sentido anglo-saxão. 3 Ian Hacking, outro autor frequentemente relacionado às questões da epistemologia histórica anglo-saxã, desenvolve argumento semelhante. Cf. HACKING, 1999, esp. p.67-68.
Referências
GINGRAS, Yves. Naming Without Necessity: On the Genealogy and Uses of the Label “Historical Epistemology”. Revue de Synthèse, Paris, v.131, n.6, p.439-454, 2010.
HACKING, Ian. The Social Construction of What? Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1999.
João Rodolfo Munhoz Ohara – Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), Programa de Pós-Graduação em História. Assis, SP, Brasil. ohara. E-mail: jrm@gmail.com.
DASTON, Lorraine. Historicidade e objetividade. São Paulo: LiberArs, 2017. 143p. Apresentação de Tiago Santos Almeida e Francine Iegelski. Tradução de Derley Menezes Alves e Francine Iegelski. Resenha de: OHARA, João Rodolfo Munhoz. Historicidade e objetividade. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 38, n. 78, p. 269-27, 2018.
Dando tratos à bola: ensaios sobre futebol – FRANCO JÚNIOR (RBH)
FRANCO JÚNIOR, Hilário. Dando tratos à bola: ensaios sobre futebol. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 464p. Resenha de: HOLLANDA, Bernardo Buarque. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.38, n.77, jan./abr. 2018.
Dez anos após a sua entrada “em campo”, o historiador medievalista Hilário Franco Júnior, professor da Universidade de São Paulo, volta a oferecer ao público brasileiro um livro sobre futebol. Se em 2007 sua estreia no tema foi marcada por um trabalho de cunho sistemático, elaborado depois de longa maturação, Dando tratos à bola colige escritos esparsos do autor no último decênio. Parte deles é constituída de ensaios inéditos, enquanto a outra vem sendo publicada sob a forma de artigos em jornais de grande circulação e em periódicos científicos especializados.
É certo que a obra anterior apresentava um projeto mais ambicioso e completo. A dança dos deuses: futebol, sociedade, cultura propunha-se realizar uma macro e uma micro-História do mundo contemporâneo, com recortes longitudinais capazes de articular um Brasil “agrícola e mestiço, desigual e combinado” a uma Europa “industrial e colonialista, dividida e integrada”. Essas escalas e ordens de grandeza foram desenvolvidas sob uma perspectiva diacrônica, a cobrir um amplo painel histórico, que ia de meados do século XIX a princípios do século XXI. Em paralelo, o livro compreendia o esforço de examinar o futebol como metáfora dessa mesma contemporaneidade, a se valer de uma miríade de exemplos colhidos em cinco áreas de saber: a sociologia, a antropologia, a religião, a psicologia e a linguística.
Se a ambição e a completude do livro inaugural acedem aqui a textos pontuais, motivados por circunstâncias excepcionais, como a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, o resultado atualiza o acompanhamento que Franco Jr. faz de seu tema. A adoção do ensaio como gênero narrativo, que tantos frutos legou à tradição do pensamento social brasileiro e dos estudos histórico-literários, confere ao autor liberdade para transitar pelas temáticas mais díspares e pelas situações mais inusitadas suscitadas pela prática do futebol profissional ao redor do mundo.
A publicação de inéditos em formato ensaístico compõe uma nova totalidade, estruturada no livro em seis partes: “Copa do Mundo”; “Em torno da Copa de 2014”; “Identidade, memória, sociedade”; “Personagens do jogo”; “O jogo”; e “Observando o observador”. Essa disposição dá sentido ao modo como Hilário Franco Junior pensa o Brasil contemporâneo e o fenômeno futebolístico em dimensão global.
A abordagem do autor destaca-se por seu método de pesquisa e por seu processo de levantamento bibliográfico. Residente há muitos anos na França, sua bibliografia e seu material de consulta se diferenciam tanto dos estudos acadêmicos sobre o futebol no Brasil quanto dos escritos jornalísticos da imprensa esportiva local. Característica já presente no livro anterior, o acesso a obras de menor circulação no Brasil demarca um modo próprio de expor seus conhecimentos futebolísticos. O primeiro ponto a notar é a sua erudição, que possibilita trafegar com facilidade da história antiga à moderna, da estrutura à conjuntura, do conceito abstrato ao lance anódino de um jogo. Está-se diante de um historiador equipado de um arsenal de informações, muitas delas factuais e enciclopédicas, é bem verdade, mas que dão outro tipo de historicidade, de inteligibilidade e de concretude ao universo futebolístico.
A marca expositiva do historiador ampara-se em um tema-guia, seguido de um sem-número de casos e de exemplos extraídos de uma bibliografia que procura fugir ao crivo do território nacional. Desse ângulo, Franco Jr. procura enfrentar a tão decantada brasilidade, embora não considere neste caso que boa parte dessa crítica já venha sendo praticada, seja por parte da comunidade científica (Helal; Lovisolo; Soares, 2001), seja por parcela expressiva da crônica especializada (Kfouri, 2017; Tostão, 2016; Giorgetti, 2017).
Os livros, as revistas e os jornais que sustentam sua argumentação são na maioria estrangeiros, e poucos deles chegaram a circular no Brasil. Trata-se de referências que versam não apenas sobre futebol, mas também sobre as ciências humanas e até mesmo as ciências exatas. Consultadas diretamente em línguas alemã, francesa, espanhola, inglesa e italiana, as citações não constituem simples gesto de distinção e repercutem na fatura da obra, a pôr em prática exercícios de deslocamentos “de fora” e “para fora” do Brasil.
Com efeito, o autor confronta os renovados debates acerca da identidade nacional, supostamente encarnada na Seleção brasileira, e elabora uma crítica própria à alcunha “país do futebol”. Se a metáfora se desgastou ainda mais após os polêmicos megaeventos esportivos e a “humilhante” derrota por 7 a 1 para a seleção alemã nas semifinais do Mundial de 2014, a coletânea traz um ensaio originalmente publicado em 2013, em que a imagem era alvo de objeções por parte do autor, somando-se a autores como Helal, Soares e Lovisolo que, em 2001, já se referiam a essa “invenção” (Helal; Lovisolo; Soares, 2001). Longe de ser uma questão de ordem apenas conceitual, o argumento agrega números concretos e estatísticas atualizadas, constituindo-se a seu juízo um critério diferencial decisivo para demonstrar a impropriedade do seu uso nos dias de hoje. Malgrado a utilização desses dados quantitativos possa ser questionada como prova cabal por pesquisadores menos afeitos a tal método, o autor levanta uma série de informações contemporâneas sobre médias de público frequentador de estádios, números de praticantes, equipamentos disponíveis, audiência de canais televisivos e vendagem de periódicos esportivos no Brasil, entre inúmeras outras variáveis, para dar evidências de que o culto ao futebol no país é inferior em cada um desses quesitos quando comparados a outros países.
Outro traço metodológico caro ao presente livro se articula com o anterior pela capacidade de armazenamento de materiais extraídos de jornais e revistas de esporte internacionais. O banco de dados acumulado pelo autor conduz o leitor por tempos e espaços distintos, iluminando, com uma torrente, às vezes excessiva, de exemplos, personagens e competições, clubes e selecionados, eventos e cenários ignotos do mundo do futebol.
Um gosto um tanto exagerado do autor pelo anedótico leva-o a dedicar muitas páginas à identificação de situações pitorescas sobre o goleiro das Índias Orientais Holandesas na Copa de 1938, sobre um jogador islandês que tomou parte na excursão do Arsenal de Londres ao Brasil, em 1949, ou ainda sobre a introdução de traves cilíndricas no Maracanã dos anos 1960. Como já frisado, tais informações só são possíveis porquanto se mobiliza uma profusão de fontes, que vão do periódico francês L’Auto à revista italiana Guerin Sportivo, do jornal britânico The Sunday Mirror ao periódico austríaco Kurier, do diário português A Bola ao semanário inglês World Soccer, entre muitos outros meios informativos a que não se tem acesso costumeiro no Brasil.
O trânsito entre “o interdisciplinar da universidade e o unidirecional do jornalismo” permite a Hilário Franco Júnior enfrentar em igual proporção as questões internas (técnicas e táticas) e externas (sociais, culturais e políticas) do futebol. Se os pesquisadores acadêmicos foram criticados por José Miguel Wisnik em Veneno remédio (Wisnik, 2007), por quase nunca tratarem da dinâmica do jogo propriamente dito, tal reparo não se pode imputar a Dando tratos à bola.
Em pelo menos três instigantes capítulos – “O treinador revolucionário”, “A geometria variável das táticas” e “O tabuleiro do futebol” –, o autor demonstra conhecimento específico de toda a evolução da linguagem futebolística, das regras que a codificaram ao longo do tempo, da racionalidade associada às estratégias de ocupação dos espaços e das infindáveis análises combinatórias, franqueadas pelos sortilégios do acaso no jogo.
Em brevíssimas linhas, eis os traços de um livro dedicado à longa duração das relações entre futebol e cultura, com interesse acadêmico, mas também capaz de satisfazer um curioso e renitente boleiro, cronista ou antiquarista esportivo. Espelho da sociedade, ao mesmo tempo cristalino e dissimulado, o futebol é aqui tomado como vetor de fenômenos estruturais e conjunturais, que permitem ao autor pensar temas transversais como a guerra, a migração, o racismo, a geopolítica, a violência, a decadência e a rivalidade, entre inúmeros outros. Quanto à sociedade brasileira, a obra traz um balanço e um retrato em nada complacentes do Brasil do século XXI, na ressaca do “Mineirazo”, do “Maracanazo social” e de tudo o mais que conturba a intrincada conjuntura política dos últimos anos.
Referências
GIORGETTI, Ugo. Dando tratos à bola. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 nov. 2017. [ Links ]
HELAL, Ronaldo; LOVISOLO, Hugo; SOARES, Antonio Jorge. A invenção do país do futebol: mídia, raça e idolatria. Rio de Janeiro: Mauad, 2001. [ Links ]
KFOURI, Juca. Confesso que perdi: memórias. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. [ Links ]
TOSTÃO. Tempos vividos, sonhados e perdidos: um olhar sobre o futebol. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. [ Links ]
WISNIK, José Miguel. Veneno remédio: o futebol e o Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. [ Links ]
Bernardo Buarque Hollanda – Professor-pesquisador da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV). Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Fundação Getúlio Vargas, Escola de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: bernardobuarque@gmail.com
[IF]
Elementos Inflamáveis: organizações e militância anarquista no Rio de Janeiro e São Paulo (1945-1964) – SILVA (RBH)
SILVA, Rafael Viana da. Elementos Inflamáveis: organizações e militância anarquista no Rio de Janeiro e São Paulo (1945-1964). Curitiba: Prismas, 2017. 338p. Resenha de: SANTOS, Kauan William dos. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.37, n.76 São Paulo set./dez. 2017
Uma visão clássica do anarquismo no Brasil e em algumas partes do mundo afirma que essa corrente política, predominante no movimento operário nas primeiras décadas do século XX, apresentou declínio evidente após 1920, sofrendo sua derrota em nosso país na Era Vargas, com suas mudanças no mundo sindical. Nas análises de certos militantes que buscam legitimar outras propostas de transformação, o anarquismo seria um movimento prematuro, com a ausência de alianças concretas e apresentando um projeto falho para a sociedade. Enquanto isso, para um número significativo de pesquisas atentas ao mundo do trabalho, reverberando em parte tal visão, o anarquismo quase desapareceu desde então e não apresentou grande influência para o movimento operário, principalmente depois da segunda metade do século XX.
Buscando rebater e relativizar tais visões temos em mãos Elementos inflamáveis, livro ligeiramente modificado da dissertação de mestrado de Rafael Viana da Silva, defendida em 2014 no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Aproveitando pesquisas recentes e também proeminentes que já apontaram a resistência dos anarquistas, seja no âmbito cultural ou sindical, durante os anos de 1930 e 1945, o autor tenciona mostrar a reorganização do anarquismo durante a chamada redemocratização, entre os anos 1945 e 1964. Sem ignorar o contexto para tal, Silva mostra como, em meio à crise do Estado Novo, os anarquistas vão aproveitar brechas para se organizarem de forma mais sistemática e tentarem aumentar sua influência entre as classes populares, assim como incrementar suas fileiras militantes, fato que se deu nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e, em certa medida, no estado do Rio Grande do Sul.
Entre as primeiras atitudes dos adeptos da bandeira negra esteve a criação e a reativação de seus periódicos. Entre eles cita-se o Remodelações, que circulou entre 1945 e 1947 e era coordenado pelos militantes cearenses Moacir Caminha e Maria Iêda, contando também com militantes clássicos como José Oiticica. Em 1947 foi relançado o periódico A Plebe, um dos mais importantes para o anarquismo anos atrás e também essencial para a nova aproximação com as demandas sindicais. Outro importante órgão para a difusão da cultura política anarquista foi o Ação Direta, essencial para as propostas de organização interna do movimento.
Nesse último sentido surgem as primeiras contribuições importantes de Rafael Silva para o tema. Com a aproximação de diferentes gerações militantes concluiu-se em seus debates ser inadmissível ver as estratégias anarquistas como imóveis e imutáveis – era necessário encaixar as demandas libertárias aos novos condicionamentos. Esses militantes referiam-se principalmente à ausência de organização política entre os anarquistas durante as primeiras décadas do século XX, que seria uma das causas, nessa visão, da perda de suas influências. Os anarquistas brasileiros, diferentemente do que se observou em outros países, não conseguiram efetivar suas propostas de organização interna, chamadas de alianças ou partidos, que se protegeriam em momentos de refluxo e também garantiriam certa homogeneidade em suas práticas. Estando os anarquistas enraizados profunda e quase exclusivamente no movimento sindical, este quando foi transformado na década de 1930 garantiu o declínio da estratégia do sindicalismo revolucionário e da consequente influência anarquista, restando apenas seus grupos de afinidade dispersos para a continuação de suas propostas, perdendo assim o contato com os trabalhadores. Na perspectiva dos militantes anarquistas entre 1945 e 1964, portanto, antes de tudo era necessário se organizar politicamente e então garantir formas e estratégias diversas para recuperar esse e outros contatos.
Seguindo esse debate, Silva examina na primeira parte do livro as discussões e dilemas internos do anarquismo. No primeiro capítulo dessa seção, evidencia-se a importância da participação dos militantes em congressos internacionais, absorvendo e disseminando experiências transnacionais para o anarquismo em nível global. O autor segue analisando os congressos anarquistas no país, em 1948, 1953, 1959 e 1963, essenciais para a reorganização do movimento. No terceiro capítulo, debate-se a retomada da estratégia do sindicalismo revolucionário no papel da transformação da realidade para os anarquistas no período. Nesse sentido, longe de se ater principalmente a propostas culturais como se imaginou, a intentona majoritária anarquista continuou sendo, ao menos até 1959, o sindicalismo e o movimento operário, onde seus militantes dispensaram numerosas energias (p.182).
Percebemos que as principais referências metodológicas do livro nessa parte são os autores que desenvolvem as concepções de cultura política como Serge Berstein, já que é importante, para Rafael Silva, perceber o desenvolvimento do anarquismo dentro de suas próprias referências, da sua família política, suas leituras e dilemas. Já na segunda parte da obra o autor analisa como tais estratégias foram absorvidas e articuladas no movimento operário, em meio aos trabalhadores e, também, aos grupos militantes de outras vertentes ideológicas. Por isso, decide utilizar como referência Edward Palmer Thompson, inspirado nos estudos que mostram as ideologias e práticas como não estanques aos comportamentos de classe.
Seguindo essa tendência, no quarto capítulo, primeiro dessa seção, evidencia-se o importante papel dos jornais e impressos também para disseminar a influência do anarquismo e de seus debates externos com outras correntes políticas, assim como em sua adaptação ao contexto. Nesse sentido, até mesmo a forma de venda ou doação desses periódicos foi importante, como numa banca de jornais em frente ao posto de trabalho da Light.
No quinto capítulo, Silva adentra com mais profundidade as relações e articulações políticas dos anarquistas em âmbito internacional e nacional. Na primeira parte, além de ver suas influências e ligações com a Federação Anarquista Ibérica (FAI) e a Solidariedade Internacional Antifascista (SIA), evidencia-se a recepção dos anarquistas aos imigrantes, principalmente saídos das ditaduras de Franco e Salazar, alguns com experiências na Revolução Espanhola. Esse contato foi essencial para a reformulação de estratégias e táticas e para alavancar o próprio movimento anarquista no país. Após isso, o autor nos mostra os embates no anarquismo com o Partido Comunista Brasileiro, principal força de esquerda do período. A principal crítica dos libertários ao partido se referia exatamente às posições do sindicalismo – os primeiros eram contrários a disputar a estrutura corporativista desses espaços, propondo novos organismos e frentes que respondessem aos interesses dos trabalhadores fora de um ambiente supostamente impregnado pelos mecanismos da classe dominante. O autor discorda da historiografia que viu os trabalhadores e militantes desse período como estagnados, presos à estrutura e aos condicionamentos do período, mas também rebate a corrente que afirma total liberdade e agência dos personagens em torno do sindicalismo do período. Sua posição é a de que os trabalhadores, de fato, negociavam e barganhavam em meio às regras do sindicalismo e da política do período, mas também, por vezes, se sentiam pressionados a essa estrutura e, além de não conseguirem alcançar seus alvos, também decidiam lutar recorrendo a outros instrumentos.
Esse debate se estende ao último capítulo da obra, no qual o autor adentra a inserção social do anarquismo. Na primeira parte, Rafael Silva analisa como as estratégias sindicais dos anarquistas foram recebidas e efetuadas na prática. Os anarquistas conseguiam dialogar com os marxistas críticos do stalinismo e sindicalistas independentes criando o Grupo de Orientação Sindical dos Trabalhadores da Light e deixando uma influência visível no Sindicato dos Trabalhadores Gráficos, também de caráter combativo, convergindo, posteriormente, para a criação do Movimento de Orientação Sindical (MOS). A inserção libertária nesses ambientes garantiu posições nas manifestações importantes no período, como a greve dos 400 mil em 1957. Na última parte da obra, o autor mostra como as ações culturais dos anarquistas eram mediadas entre as culturas de classe dos trabalhadores e dos grupos subalternos, ainda os principais alvos do anarquismo. Nesse sentido, mostra-se a importância de espaços como o Centro de Cultura Social para a formação de novos militantes e de trabalhadores, principalmente informais. Os periódicos também foram importantes para a criação de centros de cultura e estudos, poemas e debates públicos, inserção que se dava muito fortemente entre os estudantes universitários. As táticas educativas e o apoio às ações culturais nesse período foram importantes para garantir um lugar a partir do início da década de 1960, quando os militantes libertários deixavam aos poucos os ambientes estritamente sindicais, interpretando que gastavam muita energia para barrarem o reformismo e a disputa com outras tendências de esquerda. O apoio a outros ambientes, dessa vez discutidos e minimamente organizados nos congressos citados, garantiu a sobrevivência mínima do anarquismo nas décadas posteriores, durante a Ditadura Militar, quando os anarquistas enfrentaram outros dilemas.
Tudo isso torna o livro de Rafael Viana da Silva uma importante contribuição a um período não muito estudado, inclusive entre os próprios anarquistas contemporâneos, que preferem visualizar o anarquismo áureo a se ater em épocas nas quais foi mais difícil implementar e articular suas estratégias. Ainda assim, aprendemos que quando o anarquismo não foi um elemento explosivo, certamente foi um elemento inflamável.
Kauan Willian dos Santos – Doutorando em História Social. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, SP, Brasil. E-mail: kauanwillian@usp.br.
[IF]O Movimento Estudantil na resistência à Ditadura Militar (1969-1979) – MÜLLER (RBH)
MÜLLER, Angélica. O Movimento Estudantil na resistência à Ditadura Militar (1969-1979). Rio de Janeiro: Garamond; Faperj, 2016. 224p. Resenha de: VALLE, Maria Ribeiro do. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.37, n.76, set./dez. 2017.
O livro O Movimento Estudantil na resistência à Ditadura Militar (1969-1979), de autoria de Angélica Müller, dialoga com os estudiosos que afirmam não ter havido continuidade da organização do movimento estudantil depois de decretar-se o Ato Institucional no 5 (AI-5), em dezembro de 1968. Sua tese principal é a de que, apesar da mudança de tática na luta dos estudantes, ela foi fruto de uma autocrítica das lutas do período anterior e responsável por gestar uma nova cultura política que passou a privilegiar as liberdades democráticas.
O percurso da reconstituição da União Nacional dos Estudantes (UNE), foco da análise, instigou a autora a costurar a colcha de retalhos das ações estudantis após o Congresso de Ibiúna, em outubro de 1968, quando a organização passa a agir na clandestinidade absoluta, até a sua extinção. Com a Lei n. 477, considerada o AI-5 da educação, o Conselho da UNE, já em 1970, optava pela organização de frentes de vanguarda por turmas e faculdades. Suas principais ações foram o Plebiscito do ensino pago em 1972, as lutas pela revogação dos Decretos-Leis números 477 e 464, e a crítica ao Projeto Rondon e à criação da disciplina de Moral e Cívica. Elas são consideradas por Müller como microrresistências pacíficas que contribuíram para gerar uma nova cultura no seio das oposições.
Mereceu destaque a luta estudantil contra a Política Educacional do governo que propunha a criação da disciplina Estudos sociais. Esta passaria a aglutinar as disciplinas de História, Geografia e Ciências Sociais, passando a desempenhar um papel de sustentação ideológica da política da ditadura.
Aqui eu gostaria de abrir um breve parêntese, chamando atenção para a proposta educacional do atual governo do presidente ilegítimo Michel Temer: típica de regimes autoritários, defende também a supressão das disciplinas críticas como a História e as Ciências Sociais.
O livro enfatiza também o vínculo entre o Movimento Estudantil (doravante ME) e os outros movimentos sociais de resistência à ditadura, tendo como fio condutor a Educação. Citam-se como emblemáticas a criação de grupos de teatro, a arte engajada, a publicação de jornais e a música de protesto, pelo fato de evidenciavam o conteúdo autoritário do regime. Aqui explicita-se o trabalho artesanal na confecção de uma colcha de retalhos, tecida pela historiadora com base no garimpo de formas de lutas diferentes e dispersas nos vários estados e cidades, travadas pela Igreja, pelos deputados e artistas. Os jornais estudantis tiveram importância ímpar tanto no engajamento político do ME, quanto na divulgação de suas ações e táticas. Apesar dos períodos mais duros do regime, os relatos da imprensa alternativa e clandestina ancoraram a crítica de Müller à historiografia que aponta os anos 1970 como marcados pela inexistência do movimento.
Também são elencadas as medidas tomadas pela ditadura na década anterior e que continuavam em vigor nos anos 1970, incidindo diretamente no ME: vigilância, repressão e censura por meio do Serviço Nacional de Informações (SNI), criado logo após o golpe de 64, e da Divisão de Segurança e Informações (DSI), criada em julho de 1967. A vigilância e a punição no Ensino Superior eram efetuadas pela instalação de inquéritos e regulamentadas pela criação das ASIs (nomeação de uma pessoa pelo MEC para fazer o elo entre a universidade e o governo) e da DSI (responsável pelas ações de normatização, vigilância e punição do ensino superior), garantindo os processos de expulsão de professores e estudantes que foram catalogados como um conjunto de subversivos, considerados um perigo para a nação.
No embate entre repressão e resistência, Müller enfatiza que o ME foi pioneiro na retomada do espaço público com a luta pelas liberdades democráticas. Sua pesquisa revela que, já nos primeiros anos do governo Geisel, a luta do ME vem à tona com as greves das universidades que ocorreram entre 1974 e 1975, respaldando a reorganização das correntes e das entidades representativas estudantis nas diferentes cidades e estados, quais sejam os DCEs, as UEEs e, finalmente, a reconstrução da UNE.
As greves, formas tradicionais de lutas estudantis, permitiram maior visibilidade às suas reivindicações e contribuíram para que o ME assumisse papel articulador nos diferentes movimentos sociais de resistência à ditadura. A greve da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, que se estendeu por mais de um semestre letivo, desencadeou a discussão dos problemas da realidade e preparou o terreno para a criação do DCE-Livre da USP em 1976. Esses episódios coincidiram com o assassinato de Vladimir Herzog pelo DOI-Codi e foram um marco importante para a defesa das liberdades democráticas pelo ME e pelos demais movimentos de contestação do regime militar.
A análise aprofundada da reorganização das novas e diferentes tendências do ME – bem como de suas diversas concepções de democracia – feita por Müller respalda, de forma consistente, sua tese de que a retomada do movimento estudantil na segunda metade da década não foi o despertar de uma inércia, nem o preenchimento de um vazio, apontado por boa parte dos historiadores. Ao contrário, depois de 10 anos de resistência restrita ao ambiente universitário, as greves e a volta às ruas sacramentaram a rearticulação da UNE e reforçaram o pioneirismo dos estudantes. Estas palavras de ordem começaram a ser abraçadas também por outros movimentos de oposição: pelas Liberdades Democráticas; Abaixo a carestia; pelo fim das torturas, prisões e perseguições políticas; pela anistia ampla e irrestrita. Foi emblemática da conjunção de diversas lutas a frase “Soltem os Nossos Presos operários e estudantes” presente nas passeatas.
É importante ressaltar que a pesquisa de Müller não se restringiu ao eixo Rio-São Paulo, o que lhe permitiu mostrar como efetiva a criação nacional de uma entidade estudantil. Além da Uerj, da Unesp e da PUC-RIO e da PUC-SP, a UFMG, a UFPE, UFBA e a UFRGS também iniciaram suas greves contra os cortes de verbas da universidade, pelo ensino público e gratuito e pelo boicote ao pagamento das anuidades.
Peço licença novamente para abrir outro parêntese: acredito que estamos vivenciando um retrocesso político, pois esses direitos são mais uma vez retaliados, numa amplitude inusitada, pelo governo do ilegítimo presidente Michel Temer.
Para Angélica Müller,
o ressurgimento das movimentações de massa ocorreu em novos moldes e em situação bem diversa da que caracterizou aquelas de 1968: não havia grandes líderes, não houve enfrentamentos nem uso de armas, e a plataforma de luta era bem ampla, ou seja, não restrita às reivindicações do ME. O que se exigia era o fim da ditadura militar. (p.134)
Há, a meu ver, uma fragilidade na análise de Müller, que dá muita ênfase às diferenças entre as bandeiras e formas de luta na década de 1970 e as do período anterior, e lança pouca luz sobre as semelhanças existentes. Se retomarmos as formas de luta do ME em 1968, notaremos uma grande cisão entre duas vertentes centrais: a que defendia as lutas específicas dos estudantes e a que defendia a luta política contra a ditadura, o capitalismo e o socialismo real. Apesar de, ao longo do ano, a segunda posição ter ganhado o maior espaço, em razão da conjuntura política, não podemos reduzir às suas as bandeiras estudantis. A luta pelo ensino público e gratuito, por exemplo, esteve presente o ano todo.
Ao contrário de Müller, acredito que a defesa dos princípios democráticos não é uma especificidade da década de 1970. Nesse sentido seria importante trazer à tona as ações, táticas e propostas estudantis desde o início da ditadura, em 1964, quando o ME já era um dos principais alvos do regime. A opção pelo caráter pacífico foi vitoriosa nas passeatas de 1966, enquanto a utilização da violência foi levada às ruas em 1968. Mas isso não significava existir uma hegemonia entre as diferentes entidades do ME. Acredito que o contraponto proposto pela historiadora entre a década de 1970 e 1968 ficaria, assim, mais bem delimitado.
O livro de Angélica Müller adquire importância histórica e social ao trazer à cena o movimento do ME na década de 1970, uma vez que nos devolve várias páginas da luta estudantil arrancadas pela ditadura militar. Vale muito a pena conhecê-las e, em grande medida, elas estão na ordem de nosso dia.
Maria Ribeiro do Valle – Departamento de Sociologia, Faculdade de Ciências e Letras (FCL) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp). Araraquara, SP, Brasil. E-mail: mrvalle@fclar.unesp.br.
[IF]
O intelectual feiticeiro: Edison Carneiro e o campo de estudos das relações raciais no Brasil – ROSSI (RBH)
ROSSI, Gustavo. O intelectual feiticeiro: Edison Carneiro e o campo de estudos das relações raciais no Brasil. Campinas: Ed. Unicamp, 2015. 280p. Resenha de: HERZMAN, Marc. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.37, n.76, set./dez. 2017.
Apesar da grande repercussão de sua obra e do fato de ter sido colega e amigo de figuras já muito tratadas na história e na historiografia do Brasil, Edison Carneiro ainda não recebeu a devida atenção do meio acadêmico. Jornalista, etnógrafo, historiador, folclorista e ativista, Carneiro deixou uma rica coleção de escritos que, como ele, são frequentemente citados, mas não estudados da maneira reservada aos de escritores brancos como Arthur Ramos e Gilberto Freyre. Carneiro e sua obra, poderíamos dizer, são partes da paisagem, mas aparecem fora de foco.
A ausência de trabalhos sobre Edison Carneiro é particularmente notável considerando o número de obras que escreveu, uma vastidão igualada à diversidade e à complexidade de sua vida e de sua carreira, que se estendeu de Salvador até o Rio e influenciou múltiplas gerações de intelectuais em distintas áreas, como da cultura e da política. Com tantos possíveis ângulos e linhas narrativas – e com tão pouco já escrito sobre ele -, as questões por onde começar e terminar não são óbvias ou fáceis. Gustavo Rossi começa seu excelente trabalho O intelectual feiticeiro: Edison Carneiro e o campo de estudos das relações raciais no Brasil não em 1912, quando Carneiro nasceu, mas na virada para o século XX, terminando não em 1972, quando morreu, mas em 1939, quando ele se deslocou de Salvador para o Rio. A escolha é indicativa do fato de que Rossi não empreende escrever uma biografia; de fato, o livro é muito mais que um estudo biográfico.
O texto divide-se em três épocas, cada uma correspondente a um capítulo. O primeiro é ambientado em Salvador na virada do século, com foco no pai de Edison, Antônio Joaquim de Souza Carneiro (1881-1942), professor na Escola Politécnica da Bahia e também ele um indivíduo extraordinário. Rossi localiza os Souza Carneiro no contexto político e cultural da Bahia, destacando os laços entre a família e J. J. Seabra, que controlou “a engrenagem política baiana” entre 1912 e 1924 (p.55). O capítulo também analisa a poesia escrita por Edison durante a juventude.
A despeito de rica produção intelectual de pai e filho, nem Antônio Joaquim nem Edison deixaram muitas indicações óbvias de como pensavam sobre si mesmos, especialmente no tocante à raça. Rossi enfrenta esse desafio com análise inovadora e uso criativo de fontes já bem conhecidas, como, por exemplo, o livro As elites de cor numa cidade brasileira, de Thales de Azevedo, e outras inéditas, que incluem documentos escavados em arquivos públicos e privados.
Munido de ricas fontes, Rossi confessa que o livro não traz “um retrato verossímil da forma como a raça e a negritude foram vivenciadas” (p.96) por Carneiro e sua família. Tal retrato, sem dúvida, seria impossível, de modo que a precaução de Rossi é bem justificada. O livro obriga o leitor, nesse sentido, a enfrentar perguntas cujas respostas ficarão, muitas vezes, em disputa. Inspirado por Olívia Maria Gomes da Cunha e outros/as antropólogos/as que interrogam a construção de arquivos e a relação entre etnografia e história, Rossi apresenta o livro não como estudo dos mundos de Edison, mas como um estudo em relação com esses mundos (p.245). Em outras palavras, Rossi entende sua própria produção intelectual em diálogo com um passado que nunca poderemos entender perfeitamente, mas que ainda influencia as perguntas e as categorias que utilizamos em nossos próprios trabalhos.
No primeiro capítulo essa postura abre perguntas que seguramente suscitarão debate. Rossi sugere que “pelo menos, na maior parte do tempo” os membros da família Souza Carneiro “não se viam e não foram vistos… como negros” (p.91). A observação baseia-se em situações instigantes, como, por exemplo, o atestado de óbito de Antônio Joaquim, que descreve o professor como “branco”. Rossi analisa o documento como signo do potencial limitado e frágil do escape em relação ao racismo. Rossi também descreve como a antropóloga norte-americana Ruth Landes surpreendeu-se quando viu Edison pela primeira vez. O tom da cor de sua pele “era significativo”, Landes escreveu, “porque as cartas de apresentação vinham de colegas brancos, que não haviam mencionado a sua raça ou cor” (p.76). Junto ao atestado de óbito, o exemplo reforça a asserção de que muitas vezes Edison e seu pai “não foram vistos como negros”.
Outros exemplos, contudo, põem a ideia em questão. Como Rossi explica, Antônio Joaquim era um dos únicos professores negros em Salvador, e é difícil imaginar que esse fato não afetasse, diariamente, a percepção de outros professores e alunos. O autor também se pergunta se a observação de Landes não revela mais sobre ela e suas experiências nos Estados Unidos do que sobre os colegas brancos, que em privado poderiam ter visto e definido Edison de uma maneira, e tê-lo descrito de outra na carta de apresentação.
Isso não representa crítica ao livro. Ao contrário, tais tensões enfatizam a utilidade da escolha de Rossi por trabalhar com a história e todos os seus espaços obscuros. Fechando o primeiro capítulo, Rossi escreve: “categorias de raça e negritude seriam, em diferentes momentos da vida de Carneiro, um significativo móvel de tensões e disputas de sentidos, não sem consequências para compreendermos suas práticas e tomadas de posição no campo intelectual” (p.93). Esse excerto parece capturar a questão melhor do que a sugestão, ainda se bem qualificada, de que os dois homens foram vistos “na maior parte do tempo” não como negros. Mas um dos muitos presentes desse livro é a maneira como ele admite a possibilidade de que ambos argumentos estejam corretos a um só tempo.
Se o primeiro capítulo revela perspectivas inéditas sobre Edison e sua família, o segundo apresenta mais contexto intelectual e cultural do que detalhes sobre o próprio Edison. O foco é a Academia dos Rebeldes, a turma literária formada por Edison, Jorge Amado e outros no final da década de 1920. Há menos ênfase aqui em questões de raça e identidade do que na trajetória da Academia, que funcionou como veículo de expressão política e resposta aos modernistas de São Paulo e do Rio.
A ascensão de Getúlio Vargas em 1930 e a chegada de Juracy Magalhães como interventor da Bahia no ano seguinte assinalaram uma transição (e decadência) para os Souza Carneiro e para o estado, cujos poderes oligárquicos se fragmentaram. No capítulo 3, Rossi agilmente vincula essa trajetória à formação de Edison como militante esquerdista, escavando detalhes interessantíssimos nos escritos de Carneiro da década de 1930. Dando ênfase à perspectiva marxista de Edison e sua correspondente visão materialista da história, Rossi lança argumentos e observações instigantes, como a sugestão de que foram as ideias de Carneiro – e não de Freyre e Ramos – que se combinavam mais claramente com as de Raymundo Nina Rodrigues. Apesar de rejeitar a hierarquia biológica racial adotada por Rodrigues, Carneiro acreditou, como o “mestre”, no poder da estrutura, nesse caso o das instituições que marginalizavam negros após a abolição. Essa crença, Rossi ressalta, aproxima Carneiro de Rodrigues, apesar de suas diferenças. Carneiro também antecipou por décadas a ênfase que Florestan Fernandes daria ao vínculo entre raça e classe, fato, Rossi observa, que aumenta nosso entendimento da riqueza e diversidade “de análise sobre o negro brasileiro” (p.206) dos anos 1930 e do papel importante que Carneiro teve na formulação de ideias muitas vezes atribuídas a Fernandes e outros.
Carneiro criticou Freyre, Ramos e outros estudiosos da cultura negra pela ausência de “capacidade de se porem na pele de um negro” (p.214). Carneiro também parecia advogar pela criação de um “‘Estado negro’ autônomo” (p.218-219), e é interessante pensar se essas expressões radicais refletem uma evolução de pensamento ou indicam uma disparidade entre as fontes. Nesse sentido, a coleção de documentos da primeira parte da sua vida – mais parca que a posterior – esconderia ideias e argumentos já existentes, que seriam expressados mais forte e claramente apenas nos anos 1930, quando é possível identificar um material mais abundante escrito por ele. Apesar de criticar Freyre e outros intelectuais, Carneiro também se considerava parte de seus círculos, muito mais próximo deles do que os homens e mulheres negros que estudavam. Ao mesmo tempo, figuras como Ramos possuíam privilégios que eles evidentemente não tinham – por exemplo, na posição de Ramos na Biblioteca de Divulgação Científica (p.228).
O último capítulo do livro conclui com uma consideração acerca da relação entre Carneiro e Landes, bem como da identidade complexa de Carneiro, visto agora pelas lentes da colega, amiga e amante que encontrou nele uma combinação de guia, “protetor” e tipo de assunto etnográfico (p.233, nota 150). Por meio de sua relação, vemos como “a ‘raça’ de Carneiro não era estável ou fixa, somente fazia sentido quando inserida em outros grupos naquele contexto, ou quando vista em relação a eles” (p.236). Rossi faz essa afirmação logo antes de terminar o último capítulo, nas vésperas da saída de Carneiro para o Rio. Supõe-se a possibilidade de aplicar a mesma caracterização ao restante de sua vida, que se estenderia por mais três décadas e que, graça a esse rico livro, começou finalmente a receber o tratamento cuidadoso e inteligente que merecia já há muito tempo.
Marc Herzman– Associate Professor, Department of History, University of Illinois at Urbana-Champaign. Urbana, IL, USA. E-mail: mahertzman@gmail.com.
[IF]
Hacia otra historia de América: nuevas miradas sobre el cambio cultural y las relaciones interétnicas – FEDERICO (RBH)
FEDERICO, Navarrete Linares. Hacia otra historia de América: nuevas miradas sobre el cambio cultural y las relaciones interétnicas. México: Universidad Nacional Autónoma de México (Instituto de Investigaciones Históricas), 2015. 178p. Resenha de: KALIL, Luis Guilherme Assis. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.37, n.75, mai./ago. 2017.
Pensemos em um membro de uma comunidade indígena do centro da Nova Espanha no século XVI. Ele poderia ter identidades culturais e de gênero, praticar determinado ofício, ser cristão e, no campo das identidades étnicas, estar associado a seu “barrio” e comunidade além de ser vassalo da Coroa espanhola. Esse exemplo hipotético analisado por Federico Navarrete Linares revela muitos dos temas abordados em sua obra, associados, principalmente, aos conceitos de alteridade e identidade.
Nos dois ensaios que compõem a obra,2 o professor da UNAM apresenta um amplo panorama das reflexões associadas a esses conceitos dentro da história do continente americano, bem como propõe caminhos de interpretação. Com esse intuito, Navarrete amplia os recortes temporal e geográfico em sua análise, adotando uma perspectiva continental ao longo de mais de cinco séculos, sob o argumento de que, a despeito das especificidades, existiriam muitas convergências entre as trajetórias históricas dos países americanos, como o pertencimento a um “sistema comum” centrado no mundo Atlântico.3 Da mesma forma, todos teriam se organizado após a independência dentro do marco das novas ideias liberais, o que o leva a defender a importância de uma perspectiva compartilhada – mais do que comparada – da história da América.
Em seu primeiro ensaio – “El cambio cultural en las sociedades amerindias: una nueva perspectiva” -, Navarrete analisa os diferentes tipos de relações culturais estabelecidas pelos ameríndios a partir dos primeiros contatos com o Velho Mundo, passando pelas múltiplas formas de resistência, alianças e lutas por direitos. O historiador inicia o texto analisando as formas em que os índios foram concebidos como objetos de conhecimento e dominação e os consequentes projetos de transformação cultural desenvolvidos. Entre os séculos XVI e XVII, a dimensão religiosa teria sido o foco principal de atenção dos europeus acerca das culturas ameríndias. Dessa forma, a transformação cultural dos considerados “bárbaros” e “pagãos” passaria, necessariamente, pela conversão. No século XVIII, com a ascensão das ideias ilustradas e do conceito de civilização, a religião teria perdido espaço para a educação como estratégia de incorporação dos indígenas. Uma nova mudança teria ocorrido a partir da segunda metade do século XIX, com a crescente hegemonia do pensamento científico associada ao evolucionismo biológico e cultural e a ideais positivistas. Nesse período de consolidação dos Estados nacionais, teriam surgido dois modelos de atuação diante da “raça” indígena: as políticas de mestiçagem, adotadas em países como Brasil e México, e de segregação estrita, presentes nos Estados Unidos e na Guatemala.
No século XX, Navarrete identifica o surgimento de outro projeto de interpretação e atuação sobre as culturas ameríndias: a teoria da aculturação, que reforça a pluralidade cultural e teria se institucionalizado mediante políticas que buscavam facilitar a integração final das culturas indígenas menos avançadas à cultura nacional. Nas últimas décadas, outras teorias teriam ganhado força, como as abordagens que destacam a resistência indígena diante dos europeus e as continuidades culturais com o período pré-hispânico, as interpretações multiculturais (associadas a diferentes formas de organização indígena que visam reforçar seu papel como atores políticos) e os projetos baseados em conceitos como o de hibridação e mestiçagem, que negam a existência de identidades ou culturas “puras”.4
Navarrete enfatiza que todas essas propostas não se limitaram ao campo intelectual, estabelecendo estreitas relações com as políticas de dominação e transformação cultural estabelecidas nos últimos cinco séculos. Além disso, seriam marcadas por forte conteúdo moral, baseado em concepções universalistas de verdade e sobre o curso da história. Mas o autor também ressalta que todas elas encontraram entraves e limitações, relacionados às divergências existentes entre os missionários, funcionários da Coroa ou dos Estados independentes e às formas de resistência, adaptação e criação por parte dos ameríndios.
Ao final, o autor substitui o caráter descritivo e analítico por uma abordagem propositiva, visando apresentar “un marco alternativo de comprensión de las transformaciones culturales de las sociedades amerindias” (p.15). Com base no conceito de rizoma proposto por Gilles Deleuze e Félix Guattari, Navarrete propõe uma abordagem das trocas culturais que prescinde de premissas como a unidade das culturas e a existência de fronteiras claras entre elas, além de colocar em xeque a ideia de que a “entrada de elementos exógenos debe provocar necesariamente una transformación en el conjunto de la cultura de un grupo y, sobre todo, en sus identidades culturales y étnicas y que el valor identitario de los rasgos externos está determinado por su origen” (p.47). Adotando essa perspectiva, o autor problematiza visões que abordam a conversão ao cristianismo ou a adoção do idioma espanhol como rupturas irreversíveis, apontando o conceito de etnogênese5 como importante ferramenta de interpretação para ressaltar a capacidade de invenção, renovação e redefinição cultural e étnica por parte dos indígenas, bem como superar perspectivas que veem as trocas culturais como um “jogo de soma zero”, onde a adoção de um elemento cultural ou identitário externo significaria necessariamente a perda de outro elemento indígena, gerando uma dissolução de sua identidade étnica (p.81-82).
No segundo ensaio, “Estados-nación y grupos étnicos en la América independiente, una historia compartida”, Navarrete concentra suas atenções no período pós-independência com base nas questões que envolvem a construção de identidades dentro dos Estados nacionais. Com a proposta de ressaltar que as definições das diferenças entre grupos humanos são produto de circunstâncias históricas e sociais de cada sociedade (não o reflexo de uma realidade biológica, racial ou cultural), o autor apresenta um panorama da dinâmica dos “regimes das relações interétnicas”, ressaltando os aspectos comuns a todo o continente bem como algumas especificidades nacionais.
O primeiro regime abordado é o “estamentário”, presente em países que conservaram durante parte de sua história independente a categorização étnica e a exploração do trabalho forçado, como a escravidão africana nos Estados Unidos e no Brasil e a tributação de indígenas bolivianos, peruanos e guatemaltecos. Em seguida, viriam os “regimes liberais discriminatórios”, implantados em quase todo o continente durante o século XIX e caracterizados por assumir a concepção liberal de cidadania universal e igualitária ao mesmo tempo que excluía amplos setores da população, formando o que Navarrete denomina como uma “cidadania étnica”. Os regimes “integradores” teriam surgido no século XX em países como México, Argentina e Brasil com uma perspectiva da nação como unidade racial, muitas vezes baseada na mestiçagem. Por fim, o historiador analisa os “regimes multiculturais”, surgidos na América do Norte a partir da década de 1960 e que teriam se espalhado pelo continente com a premissa da nação como um conjunto de grupos distintos cujos direitos deveriam ser reconhecidos e protegidos. Para o autor, esse novo modelo mantém e institucionaliza as diferenças entre uma maioria hegemônica e as minorias definidas como diferentes, além de conceber as identidades culturais e étnicas dos grupos minoritários como uma realidade quase inamovível.
Em ambos os ensaios, podemos observar que Navarrete se preocupa em ressaltar o caráter fluido, múltiplo e histórico das culturas e identidades, em detrimento das abordagens que as imobilizam e essencializam. Outro aspecto comum é a busca por definir e sistematizar conceitos, projetos de transformação cultural e regimes de relações interétnicas tendo como premissa um recorte continental (ainda que dedique atenção às especificidades nacionais). Dessa forma, o autor aproxima a proibição do consumo de chicha na Colômbia, a perseguição à capoeira no Brasil e as leis Jim Crow nos Estados Unidos como práticas discriminatórias associadas a regimes liberais (p.134-135). Como apontado por Berenice Alcántar Rojas na introdução do livro, essa característica se revela como uma das principais virtudes, mas, simultaneamente, uma limitação da obra (p.12). Nesse mesmo sentido, a identificação de grandes movimentos, projetos ou regimes ao longo dos séculos sugere uma linearidade combatida pelo próprio autor.
Contudo, ao final, esta obra se apresenta como importante contribuição que aprofunda conceitos e questões fundamentais não só às pesquisas acerca da História das Américas, mas também a debates que ocupam espaços centrais na política e na cultura brasileira e de outros países americanos, como as políticas de ações afirmativas e as demarcações de terras para grupos indígenas e comunidade quilombolas, que ganham novos contornos quando analisadas sob uma abordagem continental.
Notas
2 Disponível gratuitamente em: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=633.
3 Navarrete faz referência nesse trecho à abordagem de “sistema-mundo” trabalhada por Immanuel Wallerstein, apontando seu caráter “eurocêntrico”, que impediria maior compreensão das complexidades dos espaços “periféricos” (p.70 e 101).
4 O autor identifica duas vertentes associadas a essa perspectiva. A seguida por autores como Serge Gruzinski e Néstor García Canclini, em que a expansão ocidental é vista como marco do início do processo de hibridização e mestiçagem; e outra, apontada por Navarrete como mais interessante, a qual assume que as culturas têm sido híbridas e mestiças desde sempre (p.37-38).
5 Navarrete remete a origem desse conceito à antropologia russa e afirma que estudiosos como Cynthia Radding e Jonathan Hill o utilizaram para analisar o continente americano: “Aunque estos autores lo utilizan exclusivamente para explicar la adaptación de pueblos indígenas a la dominación europea, me parece que puede ser empleado de manera más amplia para todos los procesos de conformación de identidades étnicas” (p.97).
Luis Guilherme Assis Kalil – 1 Professor adjunto A-1 de História da América Colonial e América Independente no século XIX da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ-IM). Doutor em História cultural pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ-IM). Nova Iguaçu, RJ, Brasil. E-mail: lgkalil@yahoo.com.br.
[IF]
Slave Emancipation and Transformations in Brazilian Political Citizenship – CASTILHO (RBH)
CASTILHO, Celso Thomas. Slave Emancipation and Transformations in Brazilian Political Citizenship. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2016. 264p. Resenha de: SOUZA, Felipe Azevedo. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.37, n.75, mai./ago. 2017.
Eis um livro notável para os interessados nas mais recentes produções da História Política, área que vem sendo revisitada com publicações que trazem novas possibilidades de interpretação ao que, até recentemente, resumia-se às tramas partidárias e de gabinete. No caso do estudo de Celso Castilho, há a intenção de evidenciar como as jornadas abolicionistas foram, pouco a pouco, moldando o campo político institucional em um movimento de fora para dentro. Das ruas e dos teatros para os parlamentos, em dinâmicas que envolviam parcelas da sociedade tradicionalmente alijadas do sistema político formal, mediante um enredo no qual se destacam as vozes e os atos de mulheres, escravizados e libertos em meio ao coro difuso que grassou progressivamente durante as duas décadas de ativismo que antecederam o 13 de maio de 1888. Como o autor enfatiza na conclusão, “o abolicionismo fomentou a ‘política de massas’ em nível nacional”, e o objetivo da obra é justamente orientar a trajetória desse movimento em meio ao que chamou de “longa história da democracia no Brasil” (p.192).
Com a atenção voltada para a apresentação detalhada das táticas e estratégias que remodelaram as formas de manifestação e a pauta contenciosa do debate público mediante uma abordagem processualista, desfilam em suas páginas as diversas fases do movimento em um quadro a quadro que parte dos primeiros debates em torno da Lei do Ventre Livre e se estende até a disputa de memória no pós-1888. O exame desse panorama histórico repleto de manifestações e associações que envolviam milhares de pessoas é o que fundamenta a tese de que o sucesso do movimento só foi possível dado o amplo engajamento popular, granjeado com um variado repertório de mobilização política.
Esses aspectos evidenciam um fluxo de ideias alinhadas ao pensamento democrático que dava lastro conceitual ao movimento, o que de certa maneira rompe com a ideia reducionista de que o sistema político brasileiro da época era operado unicamente por um padrão de práticas que se distendiam em um círculo vicioso, limitado a reproduzir clientelismo e corrupção. Nesse aspecto o livro acabou por adicionar complexidade ao tema, mostrando que iniciativas democráticas podiam florescer mesmo em contextos políticos tradicionalmente compreendidos em torno de práticas autoritárias e arcaicas.
O livro explora o processo de mudança histórica entre o fim da década de 1860, quando os debates sobre abolição ainda encontravam resistência em meio ao establishment imperial, e meados da década de 1880, fase em que o tema se tornou a pauta mais importante dos debates nacionais. A narrativa acompanha a paulatina difusão do movimento abolicionista a partir dos debates na imprensa, da formação de clubes e sociedades, bem como as reações gestadas por essa expansão em meio a setores de proprietários de escravos, que, de maneira análoga, também passaram a se organizar, promovendo eventos e utilizando metodicamente a opinião pública por intermédio de folhas políticas.
Ainda que boa parte da pesquisa gire em torno de eventos ocorridos entre Pernambuco e Ceará, a obra faz uma análise circunstanciada das pautas e debates nacionais, tomando para isso eventuais consultas a fontes primárias do governo e mantendo estreito diálogo com ampla produção historiográfica sobre o tema. O caráter interativo das sociedades abolicionistas e o intercâmbio constante de seus membros expandem ainda mais o recorte espacial. O movimento tinha um grau de articulação complexo e não passa despercebida à análise a capacidade dos abolicionistas em repercutir fatos e estratégias ocorridos nas mais diversas províncias. A seção na qual Castilho discute o 25 de março cearense, trazendo novas perspectivas que colocam em questão a justificativa clássica de que a abolição naquela província derivou meramente de aspectos econômicos decorrentes da seca de 1877-1878, é representativa de como a preocupação do autor está mais voltada à questão da cidadania política do que a particularismos da história local.
No entanto, a escolha por escrever essa história principalmente a partir de Pernambuco não aconteceu em vão. Foi provavelmente naquela província que a luta dos abolicionistas mais fomentou debates em torno da ampliação da cidadania política e da participação popular, questão que se expressava com grande intensidade durante as eleições. Durante a década de 1880, abolicionistas vinculados ao partido liberal fizeram de suas candidaturas plataformas para que o abolicionismo tomasse a política e para que esta ganhasse as ruas, até mesmo em manifestações dirigidas aos operários, artistas, trabalhadores do comércio, caixeiros e trabalhadores do mercado, entre outros. Joaquim Nabuco e José Mariano tornaram-se os porta-vozes da causa e o fizeram com base em estratégias de divulgação que iam desde sarais em clubes, passando por eventos no Teatro Santa Isabel, até os famosos meetings, em eventos que reuniam milhares de espectadores de “todas as camadas da sociedade” (como registraram os jornais da época).
As eleições gerais da década de 1880 são analisadas uma a uma pelo autor, que explorou as disputas para mensurar a intensidade com que a pauta abolicionista se espraiava pelo terreno da política. E de fato, aqueles pleitos não eram percebidos pelos contemporâneos como uma contenda entre liberais e conservadores, mas entre abolicionistas e escravocratas. Eram projetos em disputa e, sendo assim, acabavam por preencher uma lacuna persistente nas eleições oitocentistas: davam sentido social e programático às eleições.
O projeto de política popular dos abolicionistas motivou forte reação por parte dos republicanos, que em conluio com os conservadores passaram a adotar expedientes de criminalização e de racialização como forma de deslegitimar a participação da população pobre e de cor, em um esboço do que viria a se concretizar como o projeto de cidadania política excludente que se tornou uma das dimensões mais marcantes do período pós-abolição.
Em oposição aos discursos que marginalizavam a atuação da população negra e que compreendiam escravizados e libertos em uma esfera de classificação pré-política e reativa, a perspectiva de Celso Castilho os situa como parte fundamental do movimento. Ao longo do livro encadeiam-se casos em que escravizados tomaram a frente do processo para conquistar suas alforrias ou articular suas próprias fugas do cativeiro, ações que eram facilitadas, ou até mesmo instrumentalizadas com fins de propaganda, pelo movimento abolicionista. Essas interações substanciam o argumento do livro ao demonstrar que mesmo em engenhos distantes dos centros urbanos as lutas dos abolicionistas ecoavam e fomentavam os desejos por liberdade, dando a ver o amplo alcance de circulação dos ideais políticos e de cidadania propalados pelo grupo.
Uma das novidades trazidas pelas novas maneiras de organização e manifestação engendradas pelos abolicionistas foi a inclusão das mulheres no mundo predominantemente masculino da política e da opinião pública. O acompanhamento dessa inserção é um dos pontos altos do livro. O envolvimento que começou em fins da década de 1870, com a presença constante de mulheres em atividades públicas do movimento como bazares, passeatas e peças de teatro, ganhou vigor em meados da década seguinte com a criação de sociedades formadas exclusivamente por mulheres. Associadas à premissa de que eram naturalmente caridosas, elas representavam a face filantrópica da causa e portavam-se como senhoras respeitáveis, mães, esposas e “guardiãs do lar”. Ainda que sob uma identidade de gênero tradicional, essas mulheres conseguiram romper as barreiras do mundo político e tiveram atuação bastante enérgica no movimento – estiveram à frente, por exemplo, dos comitês de liberação de bairros em Recife e lograram grande sucesso na popularização do abolicionismo.
A mais famosa dessas associações, a Ave Libertas, foi, por alguns anos, a sociedade que mais conseguiu promover alforrias na cidade. Aliás, o levantamento das muitas sociedades e suas composições é bem explorado no livro, quesito que explicita especialmente a pesquisa pormenorizada desenvolvida por Celso Castilho, que computou estimativas sobre a quantidade de liberdades conquistadas por essas sociedades em comparação com os fundos de emancipação provinciais em uma série de tabelas. Os números levantados pelo autor são certamente uma ótima contribuição para o acompanhamento progressivo da ação do movimento civil em libertar escravos, montante muito superior ao atingido pelos fundos de emancipação organizados pelos governos provinciais.
Ainda assim, com a chegada da abolição, como a última parte do livro ressalta, os líderes (homens) dessas associações acabaram sendo os mais homenageados. Mesmo que nos dias imediatamente posteriores ao 13 de maio alguns jornais tenham comemorado a abolição como uma conquista coletiva e popular, a memória que se perpetuou sobre o abolicionismo foi pouco a pouco resumindo-se a um panegírico de estadistas e figuras proeminentes. Essa memória que se começou a criar já no dia 14 de maio de 1888 ia batizando passeios públicos com nomes de figurões da política e celebrava a vitória abolicionista, ao passo que olvidava cada vez mais o papel que os escravizados e libertos desempenharam no movimento e, mais que isso, acabaram por negligenciar os debates sobre a inserção dos negros na nova ordem social.
Ao seu fim, o livro demarca a distância entre a forma com que o abolicionismo era percebido em sua vigência e a maneira como foi lembrado por muito tempo. Essa perspectiva é alcançada com sucesso ao combinar análises sobre a cultura política com os debates sobre abolicionismo, em uma simbiose onde um tema acabou por iluminar aspectos de outro, revelando nuances de um pensamento democrático em estado embrionário (e que foi vigorosamente combatido) por muito tempo ignorado pela historiografia. Nesse aspecto, o variado elenco de temas presentes em Slave Emancipation and Transformations in Brazilian Political Citizenship é tanto uma injeção de ânimo para a revisão de temáticas em torno da cidadania política no Império, quanto uma inspiração para que historiadores e historiadoras olhem com mais cuidado para a atuação e o engajamento de setores tradicionalmente alijados dos direitos políticos.
Felipe Azevedo Souza – Doutorando em História na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Bolsista Fapesp. Campinas, SP, Brasil. E-mail: felipeazv.souza@gmail.com.
[IF]Nem mãe preta, nem negra fulô: histórias de trabalhadoras domésticas em Recife e Salvador – SILVA (RBH)
SILVA, Maciel Henrique. Nem mãe preta, nem negra fulô: histórias de trabalhadoras domésticas em Recife e Salvador. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2016. 416p. Resenha de: SAMPAIO, Gabriela dos Reis. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.37, n.75, mai./ago. 2017.
Quando falamos do trabalho doméstico no Brasil, devemos ter em mente uma instituição sólida, antiga, perene em nossa sociedade. Trabalho pesado, tradicionalmente exercido por mulheres pobres, muitas vezes negras, sujeito a regras incertas e subjetivas que, na intimidade das casas de família, podem proteger da insegurança das ruas e, ao mesmo tempo, oprimir de maneira brutal as trabalhadoras.1 Conviver com a possibilidade onipresente de humilhação, violência e abuso sexual é o cotidiano de milhares de trabalhadoras que vivem nesse universo complexo, escorregadio, avesso à regulamentação. Essa instituição, ainda tão presente no Brasil do século XXI, tem história; uma importante parte dela, situada entre as últimas décadas da escravidão legal no país e a primeira do século XX, é contada pelo historiador Maciel Silva.
Com cuidado e sensibilidade, o autor narra experiências de trabalhadas domésticas em duas grandes capitais brasileiras, Salvador e Recife, com base em pesquisa densa e rigor interpretativo. O autor trata do período compreendido entre as décadas de 1870, quando libertas, escravas e mulheres livres pobres eram recrutadas para as tarefas de “portas a dentro”, como se dizia então, e 1910, escolhido como marco em função da consolidação de diversas reformas urbanas no país, e consequente mudança nos hábitos, ritmos de vida e na dinâmica do trabalho doméstico. Originalmente apresentado como tese de doutorado em História Social na Universidade Federal da Bahia (UFBA), o livro é um estudo importantíssimo para o tema.
Ao marcar o início do seu estudo na década de 1870, o autor vincula a situação das trabalhadoras domésticas à organização do trabalho que viria com o fim da escravidão, inevitável com a promulgação da lei de 28 de setembro de 1871, a chamada Lei do Ventre Livre. Sem dúvida, como afirma Silva, aquela lei alterou a percepção sobre o trabalho doméstico livre, uma vez que traria, com os contratos, mudanças nas regras de trabalho, nos horários, na moradia das domésticas – não mais necessariamente fixa na casa dos patrões -, nas expectativas, aliás, de ambas as partes. O contexto dos anos 1870 seria, então, um marco para pensar a formação da classe, já que o autor analisa trabalhadoras livres e libertas em ação como domésticas bem antes do marco oficial do fim da escravidão.
Impossível separar as origens do trabalho doméstico do ambiente da escravidão em sociedades onde essa forma de exploração do trabalho grassou por tantos séculos; para Silva, entretanto, se a escravidão marca o trabalho doméstico, e muitas das lutas das trabalhadoras domésticas livres e libertas foram forjadas nas lutas por autonomia dentro da escravidão, ela não define a classe das domésticas, isso é, não se encontra a classe na escrava doméstica. Isso porque Maciel Silva busca – e aqui tratamos de uma parte central de seu livro – explicar a “formação da classe das trabalhadoras domésticas no Brasil”, classe que, para o autor, só teria se formado na experiência da liberdade, ainda que precária, daquelas trabalhadoras. Inspirado em uma leitura perspicaz de E. P. Thompson, Silva enfatiza bem mais a formação aqui, isto é, prefere pensar em processo histórico, conflitos e heterogeneidade para lidar com o conceito de classe, recorrendo à experiência dos sujeitos mais do que à fixidez de uma categoria preestabelecida.
Escravas, portanto, não fariam parte da classe vislumbrada pelo autor. Silva pretende, com essa premissa, fugir dos estereótipos tanto da “mãe-preta”, a generosa escrava que cuidava dos meninos brancos, quanto da “Negra Fulô”, a mucama bela e sedutora, que tantas vezes, na literatura e nas análises de intelectuais, apareceram na caracterização da trabalhadora doméstica, inviabilizando sua análise enquanto protagonistas de suas próprias histórias. Os estereótipos já explicariam e reduziriam suas vidas à condição de passividade, vítimas de um sistema inescapável. Assim, o esforço do autor se dá no sentido de definir as trabalhadoras domésticas como uma classe marcada por lutas contra a exploração, por direitos, e também em tratar dos conflitos no interior da classe.
Se definir essa classe sem incluir as trabalhadoras escravas que viviam dentro das casas resolve o problema de lidar com as diversas especificidades legais das trabalhadoras naquela condição, nem por isso o autor se livra de outro problema teórico: lidar com uma “classe de domésticas” dentro da classe trabalhadora. Esta não parece ser uma preocupação de Maciel Silva, que não entra no debate sobre ofícios e classe, evitando enfrentar a questão. Sua opção para comprovar a tese da formação da classe das trabalhadoras domésticas é partir para a análise, ao invés da discussão teórica sobre classe; para isso, traz uma pesquisa monumental e uma interpretação sofisticada de fontes, revelando as trabalhadoras em movimento. Constrói, dessa maneira, uma história humana, em que mulheres livres e libertas lutam, atuam com solidariedade contra os patrões em alguns momentos e com disputas entre si em outros, sofrem estupros e outras violências, enfrentam acusações de furto, recorrem à fofoca, se ajudam, e também competem entre si. Lidam com noções de honra, fidelidade, gratidão, proteção, bondade, zelo e liberdade, entre outras, específicas daquela sociedade, e, ao fazê-lo, agem como classe, da mesma forma como seus patrões e patroas também o fazem.
Embora a classe seja a noção central a partir da qual o autor quer pensar a experiência das trabalhadoras domésticas, gênero e raça estão contempladas em sua análise. Sem buscar uma solução fácil, Silva busca os momentos em que o gênero se sobrepõe à classe ou mesmo à raça, mostrando que a realidade é bem mais complexa do que as categorias que usamos para tentar entendê-la. Se é verdade que as trabalhadoras eram majoritariamente negras, também havia não negras entre elas. Em alguns momentos, a pobreza e o fato de serem mulheres marcava mais a posição das domésticas do que a própria raça. Novamente, com riqueza de fontes, cuidado analítico e grande capacidade narrativa, vão surgindo Marias, Creuzas, Donatas, Theodoras e tantas outras meninas e mulheres, com suas histórias e maneiras de lidar com os problemas, resistir, viver.
Merece destaque especial o capítulo em que o autor utiliza romances, memórias, contos e outros textos ficcionais como fontes para a história social. Com base na invenção de literatos baianos e pernambucanos sobre quem eram as domésticas, Silva recupera, com maestria na escrita, muito das sensibilidades da época estudada. Em textos que revelam muito mais a visão de mundo dos senhores do que qualquer realidade sobre as trabalhadoras, o historiador captou medos, angústias, violência e sutilezas das relações paternalistas entre criadas e patrões, marcada por conflitos. Porém, é no capítulo em que analisa os processos criminais que esses conflitos aparecem com todas as cores da violência do mundo real. Em acusações de furtos, agressões físicas, ataques à honra, Maciel Silva vai descortinando aos leitores a experiência de defloramentos e estupros, violência física e verbal, humilhações e precariedade que marcaram a vida das trabalhadoras, permeadas também por solidariedades, redes de apoio na vizinhança, fofocas e outras formas de aproximação – e, às vezes, competição – entre elas. Ao longo do texto, o talento de escritor aparece e enriquece a interpretação do historiador. O resultado é um universo doloroso e complexo que surge, tirando da invisibilidade tantas mulheres que viveram essas histórias.
Um grande esforço de comparação entre as duas grandes capitais caracteriza os capítulos iniciais do livro; a falta de documentação equivalente nas duas cidades, porém, faz Salvador aparecer bem mais que o Recife. Para completar o estudo, Silva faz uma análise cuidadosa da legislação desse universo de trabalho e dos contratos que passam a regulá-lo. Acompanha também trajetórias de jovens saídas da Santa Casa de Misericórdia da Bahia para trabalhar como domésticas em casas de tradicionais famílias baianas – uma rica documentação que nos últimos anos vem sendo utilizada com mais atenção por historiadores. Se na primeira parte do livro o esforço maior é o de situar o leitor nos contextos específicos de Salvador e Recife e nas imagens construídas na literatura sobre as domésticas e seu universo, nessa segunda parte o autor se preocupa em resgatar a experiência das trabalhadoras.
Ao reconstruir trajetórias cheias de conflitos intensos, como nos casos das expostas da Santa Casa e suas experiências infelizes nas casas dos patrões, Silva defende o argumento de que a instabilidade e violência do universo da escravidão e as solidariedades estabelecidas entre as trabalhadores colocaram em xeque, em diversas situações, o paternalismo vigente, construindo possibilidades de vida para as trabalhadoras, ainda que em condições desiguais e precárias. Sem cair em heroísmos ou simplificações binárias, o autor interpreta as relações de poder daquele mundo, mostrando sua complexidade e as dificuldades em regulamentar um trabalho que é tão pautado pela subjetividade das relações que se estabelecem na intimidade das casas.
Um tema tão atual e importante remete, necessariamente, à luta das trabalhadoras domésticas nas últimas décadas da nossa história por cidadania, direitos, respeito, dignidade no trabalho e na vida. São temas recuperados pelo autor no desfecho do livro, embora se afaste de qualquer tentativa de linearidade na interpretação da luta daquelas trabalhadoras. Em tempos sombrios como os que enfrentamos, em que os direitos dos trabalhadores são tão duramente ameaçados, o livro de Maciel Silva é ainda mais necessário, recolocando problemas fundamentais na nossa sociedade que se pretende moderna e é tão barbaramente marcada por valores arcaicos e desumanos. Este livro nos faz pensar na força do trabalho doméstico no Brasil, nesse modo de mandar, de incluir em casa sem incluir de fato, de tratar “bem” sem tratar como igual, de marcar o lugar de classe e a situação de privilégio de um e a de dependência e humilhação de outros. Tantas incongruências e contradições, o ir e vir da constituição da classe, são revelados com primor neste livro imprescindível.
Referências
GRAHAM, Sandra Lauderdale. Proteção e obediência: criadas e seus patrões no Rio de Janeiro, 1860-1910. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. [ Links ]
Notas
1 Refiro-me aqui ao binômio proteção e obediência, conforme o trabalho doméstico foi caracterizado em um livro já clássico sobre o assunto, da historiadora Sandra Graham. As criadas, sendo trabalhadoras obedientes, receberiam proteção de seus senhores, vivendo na intimidade dos lares, longe dos perigos e da imprevisibilidade das ruas. A autora mostra, porém, que esses significados convencionais eram ambíguos: a casa podia ser o lugar da injustiça para os criados, assim como a rua poderia significar liberdade, longe do controle e vigilância dos patrões. Ver GRAHAM, 1992, p.16.
Gabriela dos Reis Sampaio – Universidade Federal da Bahia (UFBA). Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: grsampaio@hotmail.com.
[IF]
Os fuzis e as flechas: história de sangue e resistência indígena na ditadura – VALENTE (RBH)
VALENTE, Rubens. Os fuzis e as flechas: história de sangue e resistência indígena na ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 518p. Resenha de: ASCENSO, João Gabriel. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.37, n.75, mai./ago. 2017.
Os fuzis e as flechas: história de sangue e resistência indígena na ditadura é um trabalho verdadeiramente monumental, publicado em edição impecável pela Companhia das Letras como segundo livro da coleção Arquivos da Repressão no Brasil. Ao longo de 398 páginas de texto e mais de cem de notas, referências e imagens, Rubens Valente monta uma série de painéis que reconstroem paisagens, cenários, trajetórias individuais e eventos que marcaram a atuação de diversas personalidades envolvidas na chamada “questão indígena”, entre os anos 1960 e o início da década de 1980. A pesquisa, que contou com um ano de entrevistas e 14 mil quilômetros atravessados entre dez estados do país, incluindo dez aldeias, é tributária da própria trajetória de Valente, que, desde os anos 1990, realizou diversas reportagens em terras indígenas e, a partir de 2010, escreve para a sucursal de Brasília do jornal Folha de S. Paulo.
Os fuzis e as flechas é, portanto, um texto jornalístico. Seu tom biográfico é fruto do uso de um amplo leque de fontes orais cruzadas com material escrito, como entrevistas de época, relatórios e comunicações oficiais sobre casos ou indivíduos específicos. Trata-se de documentos muitas vezes sigilosos e que apenas puderam vir à tona depois do fim da ditadura – relativos, por exemplo, ao Serviço de Proteção ao Índio (SPI), à Fundação Nacional do Índio (Funai), ao Ministério do Interior e à Assessoria de Segurança e Informação (ASI) instalada na Funai como braço do Serviço Nacional de Informação (SNI). A própria relação desses documentos, ao fim do livro, constitui referência de riquíssimo material para pesquisadores que resolvam dedicar-se ao estudo desse período.
Entretanto, o livro não tem um problema, uma questão central a ser perseguida dentro do amplo eixo temático “indígenas durante a ditadura militar”. Não há uma linha de investigação definida nessas quase quatrocentas páginas – o que resultaria em uma hipótese a ser comprovada. As ações do Estado, dos indígenas, ou dos indigenistas indicados carecem de contornos mais nítidos e contextuais. Deve-se destacar, de qualquer forma, que, ainda que isso gere um estranhamento imediato por parte dos historiadores, a construção desses contornos não é objetivo do livro, como obra jornalística que é. De todo modo, uma convicção, elaborada empiricamente com base no amplo material analisado, atravessa toda a obra: o genocídio indígena não foi fruto de mero descaso, irresponsabilidade ou falta de preparo, ele foi consentido pelo Estado.
A apresentação biográfica de alguns personagens destacados puxa um fio que leva a outros personagens, contextos e depoimentos. Ocorre que a passagem de um tema específico para o outro não tem uma direção certa: há um eixo mais ou menos cronológico a partir do qual assuntos e eventos se aglutinam, sem que sua escolha seja clara ao leitor. Para que possamos nos movimentar por um conjunto tão pouco coeso de informações, entretanto, contamos com um excelente índice remissivo, que nos socorre muitas vezes. O livro se inicia quando somos apresentados à figura do sertanista do SPI Antonio Cotrim, a partir de quem se desenha o primeiro quadro de uma tônica que se fará presente ao longo de todo o livro: o massacre de índios (neste caso, os Kararaô, do Pará) como resultado do despreparo das chamadas “frentes de atração”, que acabavam levando doenças para as terras nativas.
Daí, passamos pelo tema das remoções forçadas (como a dos Xavante do Mato Grosso) e pelas denúncias de violações de direitos humanos de grupos indígenas contidas no chamado Relatório Figueiredo. Passamos, ainda, pela atuação dúbia das missões religiosas junto aos indígenas: há evidência de uma mentalidade integracionista que desprezava as culturas nativas, ao mesmo tempo que os próprios missionários aparecem, algumas vezes, como defensores da integridade física desses povos. A ação de missionários religiosos num sentido oposto ao da assimilação também é discutida, particularmente a partir da formação do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) que, dentro da perspectiva da Teologia da Libertação, articulou as chamadas “assembleias indígenas”, mobilizando diferentes lideranças de todo o país e viabilizando a resistência desses grupos à ditadura.
A mentalidade integracionista do Estado e sua truculência são ainda apresentados pela criação da famigerada Guarda Rural Indígena (Grin) e pelo plano do ministro do Interior Maurício Rangel Reis de “emancipar” os índios, retirando-lhes o direito à terra. Além disso, discute-se o projeto de grandes obras de integração nacional, como a Transamazônica e diversas outras rodovias, que tiveram consequências fatais sobre os Parakanã, Asurini e Waimiri-Atroari, por exemplo, bem como a evidência do favorecimento, por parte do Estado, de grupos de mineradores, fazendeiros e empreiteiras com interesses em terras indígenas.
Em meio a isso tudo, um grande acerto de Valente é mostrar que a conivência de instituições como o SPI e a Funai com a ofensiva da ditadura não significou a concordância dos sertanistas e funcionários, que muitas vezes reagiram de maneira veemente, articulados a antropólogos e membros da sociedade civil e, sobretudo a partir dos anos 1970, com o apoio de boa parte da opinião pública internacional. Além disso, figuras que se tornariam icônicas no indigenismo brasileiro, como os irmãos Villas-Bôas, Francisco Meireles e seu filho José Apoena Meireles, e mesmo Darcy Ribeiro, são representados com a complexidade de figuras humanas. Ainda que nem sempre o autor consiga escapar de certa heroicização, aspectos controversos desses homens são destacados, como o relacionamento claramente abusivo de alguns dos Villas-Bôas com mulheres indígenas, a opinião dos Meireles de que o indígena fatalmente seria integrado à sociedade nacional, ou a recusa de Darcy Ribeiro em reconhecer a existência do povo Ofayé, dando argumentos aos fazendeiros que pretendiam tomar as terras desse grupo. Tanto por parte dos Villas-Bôas quanto dos Meireles, a crítica interna à Funai se alternava com uma defesa da instituição, em momentos nos quais graves denúncias pareciam caminhar para escândalos – levando-os até mesmo a posicionamentos contrários ao Cimi.
Na segunda metade do livro, tomam vulto algumas lideranças indígenas que se tornariam referência da luta dos anos 1970 e 1980. A trajetória do guarani Marçal de Souza (cuja foto serve de capa ao livro) ganha muito destaque: seu engajamento político, seguido de deportação interna, sua fala de denúncia junto ao papa João Paulo II e, finalmente, seu assassinato na aldeia Campestre. Outra liderança, o xavante Juruna, também recebe grande atenção: primeiro (e, até hoje, único) deputado federal indígena, com seu gravador em punho, sua trajetória no livro é retratada em todas as suas contradições, que evidenciam a dificuldade de articulação de um indígena em um modo de fazer política que não lhe é, a princípio, próprio. Além disso, instituições como a União das Nações Indígenas (Unid, posteriormente UNI) e o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI), origem do atual Instituto Socioambiental (ISA), são descritas como resultado do processo de mobilização pela causa indígena – ainda que a afirmação de que a UNI “deu errado” seja bastante questionável.
Contudo, outras importantes lideranças, como o cacique Raoni e seu sobrinho Megaron Txucarramãe, Marcos Terena, o kayapó Paulinho Paiakan e o yanomami Davi Kopenawa são mencionados muito brevemente, sem que possamos entender o que levou à escolha de certas lideranças em detrimento de outras. No epílogo do livro, discute-se a rearticulação da Funai após a ditadura, a permanência da visão integracionista da cúpula militar e, chegando aos anos 2010, até mesmo as atuais propostas de emenda à Constituição de 1988, que recuam direitos conquistados. Mas essa Constituição não é analisada, embora seja o primeiro documento do Estado brasileiro a garantir ao indígena o direito de permanecer em sua terra e com a sua cultura, sem a necessidade de uma assimilação, e a articulação em torno da Assembleia Constituinte não é sequer mencionada. Surpreende negativamente a total ausência da figura de Ailton Krenak, que se notabilizou por sua potente fala na Constituinte, e o segundo plano a que são relegados a CPI do Índio, de 1968, e o Estatuto do Índio, de 1973. Mais uma vez, o que fica patente é a falta de clareza quanto às opções do autor a respeito de quais temas priorizar.
Toda obra tem lacunas, e uma com o porte e a ambição de Os fuzis e as flechas não poderia ser exceção. Se essas lacunas saltam aos olhos dos historiadores, de forma alguma desmerecem o esforço tremendo de Valente em reunir um corpo documental volumosíssimo e apresentá-lo em um texto muito bem escrito. Ao fim, em meio aos retrocessos de nossa década em relação aos direitos indígenas, o autor encontra espaço para a esperança, destacando os altos índices de natalidade dos povos indígenas e a resistência de suas culturas. Tanto em aldeias quanto nas cidades, muitos indígenas afirmaram que “preferem viver entre os seus, a despeito do preconceito, da marginalização e da incompreensão geral”, o que nos leva a perceber “um tipo de vitória, entre tantas derrotas”.
João Gabriel Ascenso – Doutorando em História Social da Cultura, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: jgascenso@gmail.com.
[IF]
Mitos Papais: política e imaginação na história – RUST (RBH)
RUST, Leandro Duarte. Mitos Papais: política e imaginação na história. Petrópolis: Vozes, 2015. 248p. Resenha de: BOVO, Claudia Regina. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.37, n.74, jan./abr. 2017.
Eis uma obra provocativa. Essa é a primeira constatação sobre Mitos Papais, trabalho que articula a análise histórico-historiográfica do poder pontifício com suas interpretações “mitológicas”, intepretações estas que ainda sustentam calorosos debates sobre qual deve ser o papel político do papado. Ah, a política! Sim, mais uma vez a política. Essa arte da negociação, área tão negativamente avaliada nos nossos dias, é o campo sobre o qual Leandro Duarte Rust se debruça para trazer a um público não acadêmico a construção histórica dos mitos em torno da atuação papal. A abertura do texto já marca o tom desafiador da proposta: “Mito ou realidade?”. Ao superar a dicotomia rasa que definiu vulgarmente o mito e as mitologias como a falsificação do real, Rust marca a abertura do seu texto reconhecendo outro modo de defini-los. Inspirado por Joseph Campbell, para quem a mitologia soava como poesia, Rust define os mitos como meio de se conhecer as relações políticas, forma de interpretar a política e também como maneira de expressá-la.
Essas experiências de significado são, nada mais nada menos, do que pistas para descortinar as potencialidades humanas, rastros da experiência humana no tempo, algo que se aplica ao que somos e explica como somos. Não há lugar para invenção, não há lugar para a desrazão, os mitos nos envolvem porque são um mecanismo de interpretação da experiência humana. Portanto, a ideia do livro não é simplesmente desconstruí-los, mas aprender com eles. Tirar deles o conhecimento que nos qualifica enquanto seres políticos. É importante reiterar que o objeto de análise aqui não está restrito ao papado, mas é extensivo à política e às suas diversas formas de negociação, conflito e acordo. Os Mitos Papais não poderiam ser melhor substância para exemplificar o exercício de análise proposto.
Com narrativa envolvente e cadenciada, o livro apresenta cinco mitos que ajudaram a estabelecer e a manter o papado romano no centro dos debates políticos da Contemporaneidade. Chamamos de contemporânea a leitura sobre a experiência política pontifícia do final do século XIX até os dias atuais. Desde a busca pela ossada de seu fundador – Pedro – ao silêncio pontifical durante o genocídio judaico promovido pelos nazistas, os mitos escolhidos por Leandro Rust aguçam a curiosidade de qualquer leitor ávido por história e, principalmente, ensinam como a historização das narrativas pode ajudar a instrumentalizar as consciências históricas contemporâneas. Um caminho investigativo que ajuda a nos aventurarmos pela complexidade das experiências históricas papais.
Interessado em aprender com os mitos, com a leitura histórica que eles fomentam, Leandro Rust trata no primeiro capítulo da empresa incentivada pelo papa Pio XII para encontrar, sob o solo da basílica de São João de Latrão, os restos mortais do apóstolo Pedro. Rust se pergunta “por que, a certa altura da vida contemporânea, a tradição religiosa deixou de saciar a certeza a respeito da realidade histórica do fundador da Igreja Romana?” (p.67). Em outras palavras, por que justamente durante os conturbados anos da década de 1940 houve o impulso a essa saga arqueológica para provar a existência das relíquias e da tumba de Pedro? A resposta segue esta lógica: só o discurso de fé não era mais suficiente. Era preciso uma prova material, com atestado científico, para legitimar a saga fundadora de Pedro. A narrativa do autor nos leva a atestar o papel dos mitos na política e a condição indelével do apelo à renovação cristã – Renovatio Christiana.
A saga lançada por Pio XII em busca da tumba de Pedro atuou como remédio para as políticas de secularização que havia algumas décadas esvaziavam as fileiras dos bancos católicos, resultando na atualização do discurso católico às demandas racionais da modernidade. Por meio da verificação científica de sua materialidade santa – o encontro com a tumba de Pedro – o catolicismo demonstrava sua base inequívoca. Conforme apresenta o autor, “o reencontro com o primeiro papa seria a prova de que o Vaticano tinha saída para superar os abismos que os homens cavam entre si e uni-los em uma harmonia palpável. Poucas instituições poderiam oferecer uma resposta tão contundente para populações mergulhadas em traumas e incertezas” (p.72).
Não é por acaso que o mesmo Pio XII que abre com destaque os Mitos Papais seja o mesmo personagem discutido no último capítulo do livro. Visto por alguns como o estandarte da modernização da Igreja Apostólica Romana e por outros como o “papa de Hitler”, a disputa pela memória coletiva de sua atuação pontifícia ainda está aberta. Santo dos católicos e algoz dos semitas, essa emblemática dicotomia sobrevive como mitos políticos de uma mesma experiência humana. Herói e vilão são interpretações conflitantes que figuram lado a lado quando se fala sobre a atuação política do papa Pio XII. Daí nossa insistência em definir a proposta deste livro como provocativa e desafiadora. Como demostra Rust, a luta pela memória a ser preservada sobre Pio XII tem início logo depois de sua morte. De peça de teatro que o ridicularizava ao boom literário dos anos 1990 que ora o criticou ora o valorizou, Pio XII representa o fardo dos Mitos Políticos. Ao mesmo tempo que se opõem, ambas versões se complementam. Dito de outra forma, ambas versões são expressões do modo de se pensar e se fazer política contemporaneamente, elas estão embasadas na premissa da divisão dicotômica das disputas políticas, da divisão partidária da vida social. Aventurar-se por esses mitos que envolvem a figura de Pio XII é ter a mais clara exposição das nossas relações políticas e de como não estamos alheios a elas.
Em tempos de impeachment, de estandartes e histerias coletivas que atribuem à política as mazelas do mundo, o mito aparece como meio de descortinar nossas práticas políticas, de compreendê-las. Enquanto meio de interpretação legítimo para conhecer as relações políticas o mito tira do senso comum, ou melhor, devolve a ele a necessidade de avaliação constante das expressões narrativas com as quais compactuamos, dessas razões práticas às quais, enquanto grupos sociais, recorremos “para justificar e legitimar nossos interesses”. Sim, nós fazemos isso; conscientemente ou não, fazemos.
Portanto, como bem advoga Rust, o mito político não é uma inverdade, mas uma narrativa que idealiza o passado para legitimar ou desacreditar um regime de poder. Uma chave de leitura do mundo que nos orienta a tomar posicionamentos – políticos, por sinal – nas disputas pelo poder. Cientes do que a leitura deste livro pode provocar, é preciso reconhecer: não há melhor maneira de escancarar a utilidade do conhecimento histórico e político. Ainda mais em tempos nos quais se dão amplas discussões da política pública educacional, cujo cerne é a ideia já batida de renovação: a Base Nacional Curricular Comum, a Base Comum para Formação Docente, a PEC da Escola sem Partido, a Medida Provisória do Ensino Médio. Nesse sentido, o livro de Leandro Duarte Rust nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, para aquilo que usamos como definição das coisas, e nos força a reavaliar, a reconhecer a historicidade de nossas razões práticas. A História, a Política, o Papado e a Idade Média não soam como perfumaria curricular. Pelo contrário, desses imaginários diversos, dessas mitologias pseudodespretensiosas, retiramos muitas interpretações que ainda respondem aos nossos interesses mais vorazes. Contextualizá-las ainda se faz necessário. Falar sobre elas é mais urgente do que nunca!
Claudia Regina Bovo – Departamento de História, Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Uberaba, MG, Brasil. E-mail: claudia@historia.uftm.edu.br.
[IF]Trabalhadores dos trilhos: imigrantes e nacionais livres, libertos e escravos na construção da primeira ferrovia baiana (1858-1863) – SOUZA (RBH)
SOUZA, Robério S. Trabalhadores dos trilhos: imigrantes e nacionais livres, libertos e escravos na construção da primeira ferrovia baiana (1858-1863). Campinas: Ed. Unicamp, 2016. 272p. Resenha de: VITO, Christian G. de. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.37, n.74, jan./abr. 2017.
Há muito tempo a história do trabalho é escrita exclusivamente sob as perspectivas do trabalho assalariado, da “proletarização” (ou mudança para o trabalho assalariado) e das organizações de trabalhadores assalariados. Enquanto esses aspectos têm sido confundidos com “modernidade” e com o surgimento e expansão do capitalismo, a escravidão e outras relações de trabalho forçado têm sido marginalizadas como “atrasadas” e não-capitalistas. Neste livro convincente e bem escrito, Robério S. Souza subverte essas abordagens tradicionais e mostra uma história do trabalho mais inclusiva, baseada em novas conceituações. O autor aborda a construção da ferrovia Bahia and San Francisco Railway no período de 1858 a 1863, mas em vez de vê-la como um símbolo da modernidade tecnológica, de investimentos estrangeiros “progressistas” e do trabalho livre, ele aponta para a compatibilidade do capitalismo com o trabalho forçado, indica múltiplas imbricações entre o capital britânico e os universos da escravidão, e destaca a presença de escravos na força de trabalho, contrariando os regulamentos da legislação imperial de 1852. Da mesma forma, o autor aborda os trabalhadores migrantes europeus – especialmente os “italianos” -, mas, em vez de corroborar a narrativa padrão de que eles seriam vetores de mão de obra livre qualificada, traz à baila a precariedade de sua liberdade e a compara com a dos “nacionais livres” e com as condições dos escravizados. Em termos mais gerais, Souza insiste na complexidade da composição da força de trabalho, em vez de buscar os trabalhadores assalariados ideais típicos dentro dela: dessa perspectiva, ele consegue abordar as relações concretas entre os trabalhadores permeando as condições legais e as relações de trabalho e apontando para as suas experiências e momentos de solidariedade compartilhados, bem como os conflitos que surgiram entre eles.
Esses argumentos fundamentais são brilhantemente apresentados na introdução, a estrutura do livro é bem projetada e o estilo mescla bem panoramas quantitativos precisos, momentos de reflexão e descrições detalhadas de eventos e biografias individuais. Os três primeiros capítulos informam o leitor sobre o mundo dos “senhores dos trilhos” e sua conexão com a economia escravista da província da Bahia (cap. 1), esboçam a “demografia social” da força de trabalho da ferrovia (cap. 2) e, em seguida, abordam a reconstrução da materialidade das tarefas, incluindo detalhes das obras em cada uma das cinco seções diferentes em que o canteiro de obras foi dividido (cap. 3). Os dois últimos capítulos focalizam, em detalhe, a agência e as experiências dos trabalhadores. O Capítulo 4 centra-se naqueles que migraram para o Brasil provenientes do Reino da Sardenha, descreve a greve que organizaram em 1859 e discute suas conexões mais amplas com as mobilizações de outros trabalhadores (incluindo os escravos) e as práticas de repressão e controle social implementadas pelas autoridades. O capítulo 5 examina de perto a multidão aparentemente desconexa e desordenada que compunha a força de trabalho e aborda as “lógicas internas que forjaram ou dificultaram a experiência e o processo de conformação de identidades” (p.34-35). Acompanhando o texto, um mapa histórico permite visualizar os territórios atravessados pela ferrovia (p.116), e 19 belas fotografias históricas – a maioria delas da Coleção Vignoles do Instituto de Engenheiros Civis de Londres – fazem que os trabalhadores, as localidades e as obras adquiram concretude para os leitores. De fato, em vez de serem apenas um suporte visual passivo, especialmente no capítulo 3, as fotografias são diretamente integradas e discutidas no texto. A maior parte das fontes primárias é extraída de várias seções do Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeb) e inclui a correspondência entre várias autoridades, listas de passageiros que entraram no porto da Bahia e documentos produzidos pela polícia e pelas autoridades portuárias que se revelaram fundamentais para a compreensão tanto da dinâmica do controle social quanto da vida dos trabalhadores como indivíduos.
Como seu livro anterior sobre os emaranhados das relações de trabalho na Bahia no período imediatamente seguinte à abolição da escravidão, este trabalho mais recente de Souza está profundamente inserido na nova e revolucionária historiografia brasileira sobre o trabalho.1 O autor reconhece especialmente a sua dívida intelectual às obras de Sidney Chalhoub e Henrique Espada Lima (p.30). Ainda assim, precisamente por causa da qualidade deste livro, poder-se-ia esperar também um diálogo mais amplo do autor com as obras internacionais que abordam contextos comparáveis e questões relacionadas. Esse diálogo poderia ter fortalecido a sua interpretação em vários pontos e, simultaneamente, realçado o impacto deste volume para uma comunidade acadêmica maior. Por exemplo, os estudos sobre a força de trabalho igualmente complexa, mas montada de forma diferente, empregada na construção das ferrovias cubanas antes da abolição da escravidão na ilha caribenha (1880) poderiam ter fornecido referências comparativas úteis sobre a questão-chave da conexão entre liberdade e não-liberdade.2 Ao mesmo tempo, o livro de Souza é um complemento significativo às investigações recentes na História do Trabalho nos transportes, com as quais ele compartilha a crítica aos “binários padronizados entre coerção e liberdade” e para as quais contribui indiretamente expandindo o foco do “trabalho no transporte” para o trabalho que construiu as infraestruturas do transporte.3 A obra é também uma contribuição preciosa para a renovação da história da migração italiana do século XIX e início do século XX, para além das limitações dos estudos tradicionais que tendem a ver os trabalhadores italianos isolados do resto da força de trabalho e, particularmente, fora do trabalho forçado. Por sua vez, a nova abordagem acadêmica sobre a diáspora italiana, com a consciência da importância das conexões translocais e da pesquisa arquivística em múltiplos locais, poderia ter respaldado a sugestão de Souza sobre a relação entre as demandas dos trabalhadores sardos no Brasil e a turbulência política na Itália às vésperas da unificação nacional (p.188-190).4
Em um nível diferente, o argumento central do autor sobre a compatibilidade entre o capitalismo e o trabalho não-livre ecoa, entre outras, as descobertas do estudo pioneiro de Alex Lichtenstein sobre a economia política do trabalho de prisioneiros no período pós-emancipação do Sul dos Estados Unidos e as de um recente volume sobre trabalho forçado após a escravidão, organizado por Marcel van der Linden e Magaly Rodríguez García.5 De maneira mais geral, o argumento de Souza sobre as fronteiras fluidas entre liberdade e não-liberdade coincide com a questão-chave do longo debate sobre o trabalho livre e não-livre e também está alinhado com a reconceituação da classe operária proposta pelos estudiosos da História Global do trabalho, apontando para a necessidade de ir além do foco padrão sobre o trabalho assalariado, passando a estudar todos os tipos de relações trabalhistas que foram imbricadas no processo de mercantilização do trabalho.6 Finalmente, e de forma semelhante a outras obras brasileiras sobre a história do trabalho, os capítulos 4 e 5, em especial, mostram a importância do estudo simultâneo das relações de trabalho e da agência e organização dos trabalhadores – uma combinação que tem sido particularmente rara na História Global do trabalho até agora. De fato, a adoção do conceito de “experiência” – explicitamente tomado de empréstimo a E. P. Thompson – fornece a Souza uma ferramenta para adentrar a questão da formação contraditória da identidade de classe entre os trabalhadores que estavam “juntos, mas não misturados” (p.237) e, assim, frequentemente presos entre a unidade e a divisão em fronteiras nacionais, étnicas e legais.
Essas imbricações entre o trabalho de Souza e a historiografia do trabalho mais ampla ressaltam seu potencial para intervir em debates ainda maiores, beneficiando-se dela, ao mesmo tempo, em alguns pontos interpretativos. De modo algum essas observações críticas ofuscam os méritos deste livro. Na realidade, este volume é um daqueles preciosos estudos empíricos que podem inspirar e moldar pesquisas em outros locais e épocas, para além do seu tópico específico e do seu escopo cronológico. Por essa razão, traduções múltiplas deste livro são altamente desejáveis.
Referências
BELLUCCI, Stefano; CORRÊA, Larissa Rosa; DEUTSCH, Jan-Georg; JOSHI, Chitra. Introduction: Labour in Transport: Histories from the Global South (Africa, Asia, and Latin America), c. 1750 to 1950. International Review of Social History, v.59, issue S22, p.1-10, Dec. 2014. [ Links ]
BRASS, Tom; LINDEN, Marcel van der (eds.) Free and Unfree Labour: The Debates Continues. New York: Peter Lang, 1997. [ Links ]
CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. [ Links ]
_______. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. [ Links ]
FADRAGAS, Alfredo Martín. Canarios: esclavitud blanca o asalariados. Tebeto, v.11, p.67-81, 1998. [ Links ]
FORTES, Alexandre; LIMA, Henrique Espada; XAVIER, Regina Célia Lima; PETERSEN, Silvia Regina Ferraz (Org.) Cruzando fronteiras: novos olhares sobre a história do trabalho. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2013. [ Links ]
GABACCIA, Donna; OTTANELLI, Fraser M. (eds.) Italian Workers of the World: Labor Migration and the Formation of Multiethnic States. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2001. [ Links ]
LICHTENSTEIN, Alex. Twice the Work of Free Labor: The Political Economy of Convict Labor in the New South. London and New York: Verso, 1996. [ Links ]
LIMA, Henrique Espada. Sob o domínio da precariedade: escravidão e os significados da liberdade de trabalho no século XIX. Topoi, v.6, n. 11, p.289-325, jul./dez. 2005). [ Links ]
LINDEN, Marcel van der. Workers of the World: Essays Towards a Global Labor History. Leiden and Boston: Brill, 2010. [ Links ]
_______.; RODRÍGUEZ GARCÍA, Magaly (eds.) On Coerced Labor: Work and Compulsion after Chattel Slavery. Leiden and Boston: Brill, 2016. [ Links ]
OOSTINDIE, Gert J. La burguesía cubana y sus caminos de hierro, 1830-1868. Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, v.37, p.99-115, dic. 1984. [ Links ]
SOUZA, Robério S. Tudo pelo trabalho livre! Trabalhadores e conflitos no pós-abolição (Bahia, 1892-1909). Salvador: Ed. UFBA; São Paulo: Fapesp, 2011. [ Links ]
Notas
1 SOUZA, 2011. Ver esp.: CHALHOUB, 1990; LIMA, 2005; CHALHOUB, 2012; FORTES et al., 2013.
2Por exemplo: OOSTINDIE, 1984; FADRAGAS, 1998.
3 BELLUCCI et al., 2014. Citação da Introdução dos editores, p.5.
5 LICHTENSTEIN, 1996; LINDEN; RODRÍGUEZ GARCÍA, 2016.
6 BRASS; LINDEN, 1997; LINDEN, 2010.
Christian G. de. Vito – Research Associate, University of Leicester; Lecturer, Utrecht University. Utrecht University, Department of History and Art History. Utrecht, The Netherlands. E-mail: c.g.devito@uu.nl.
[IF]Terra Negra: o Holocausto como história e advertência – SNYDER (RBH)
SNYDER, Timothy. Terra Negra: o Holocausto como história e advertência. Garschagen, Donaldson M.; Guerra, Renata. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 488p. Resenha de: BERTONHA, João Fábio. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.37, n.74, jan./abr. 2017.
O livro de Snyder (Black Earth no original) é mais um representante da vertente historiográfica que procura compreender o genocídio dos judeus por parte da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial por meio de uma visão cultural e de história das ideias, no limite de uma abordagem antropológica. A proposta é a de compreender o acontecido com base no mundo das ideias e mitologias dos próprios nazistas, daquilo que eles imaginavam estar fazendo, suas motivações e preconceitos.
Na sua avaliação, o mundo mental nazista estava intimamente ligado à ecologia e a uma visão radical do darwinismo social. As raças humanas estavam numa guerra total pela sobrevivência num mundo em que os recursos – especialmente, a terra, fonte dos alimentos – eram escassos. Quaisquer sentimentos ou solidariedade deviam ser esquecidos, pois a competição sem limites era uma lei da natureza e só os mais fortes e impiedosos sobreviveriam. Hitler, nesse sentido, teria rompido radicalmente com a tradição humanista que afirmava que os homens são diferentes dos animais e da natureza por serem capazes de imaginar e criar novas formas de associação além da concorrência e da disputa.
O darwinismo social, em suas várias formas, foi uma constante no pensamento político e social do século XIX, atingindo, por exemplo, os liberais e até mesmo alguns socialistas. O nazismo, contudo, o levou ao limite, pois a luta implacável contra os inimigos passou a ser vista como um fim em si mesmo, aquilo que dava sentido à vida. Sobreviver num mundo ecologicamente limitado seria para os fortes e apenas para eles.
Essa era a realidade histórica e natural, a qual teria sido escondida pelos judeus. Esses eram uma não-raça, incapaz de competir honesta e violentamente pela sobrevivência. Dessa forma, eles teriam trabalhado nas sombras para criar conceitos e perspectivas (o cristianismo, o humanismo, o socialismo etc.) que escondiam a realidade e enganavam os homens com a ilusão de que podiam se separar das duras leis naturais. Todos os princípios morais e éticos existentes serviriam apenas para impedir que os superiores dominassem os inferiores, como era devido. Eliminar os judeus significaria recolocar a humanidade dentro da ordem natural, o que seria o desígnio de Deus.
No contexto pós-1918, os fatos pareciam indicar a realidade da mitologia. Os alemães, a raça superior, só haviam sido derrotados por causa da força dos ideais humanistas e universalistas judeus. Num novo conflito, no qual os alemães novamente exerceriam seu direito de conquista dos outros, os judeus também deveriam ser exterminados, para garantir que a Alemanha vencesse e que as leis naturais voltassem a dominar a Terra. Sem os ideais do judaísmo, as Nações estariam livres para a guerra total de todos contra todos e, nessa luta, a vitória germânica seria inevitável.
A hipótese de Snyder é, com certeza, muito interessante, pois só entendendo o mundo mental nazista, seus preconceitos e imagens, é que podemos compreender o massacre sistemático de milhões de pessoas sem razões militares, econômicas ou de segurança que as explicassem.
O foco do autor no mundo mental e mitológico, contudo, o faz superestimar esses aspectos e congelá-los no tempo. A proposta de eliminar todos os judeus da face da Terra por motivos ecológicos ou metafísicos pode ter se consolidado e ter força explicativa, por exemplo, após 1939, quando a guerra e a conquista da Polônia e de parte da União Soviética amplificaram o “problema judeu” nas mentes nazistas. Para o período anterior, apesar do antissemitismo evidente, a perspectiva era de forçar a emigração dos judeus ou de excluí-los da vida alemã, e não de eliminá-los até o último homem.
Do mesmo modo, seu foco na mitologia e no discurso faz Snyder esquecer o mundo real por trás dele. O autor menciona, por exemplo, que o pensamento nazista era circular e tão fechado que não aceitava a hipótese de que a ciência poderia mudar o meio ambiente e fornecer alimentos a todos. Para ele, aceitar essa hipótese significaria admitir que haveria alternativas para a luta sem tréguas por terras aráveis e, portanto, ela seria descartada de imediato.
Isso não é automaticamente incorreto em linhas gerais. No entanto, não apenas o regime não era tão avesso aos avanços da ciência agronômica como Snyder sugere, como ele esquece que a questão ia muito além do abastecimento alimentar. O imperialismo alemão, desde o fim do século XIX, procurava não apenas fontes de alimentos, mas também as matérias-primas necessárias para manter seu capitalismo industrial. Uma revolução no campo poderia fornecer os alimentos para sustentar os alemães, mas não o ferro, o petróleo e outros produtos necessários para esse capitalismo. A Alemanha ocidental pós-1945 resolveu isso se incorporando ao sistema global montado pelos Estados Unidos.
Já no mundo de Hitler, apenas a invasão da União Soviética daria conta do problema, e a bandeira da sobrevivência alimentar (apesar da sua importância crucial, especialmente depois da trágica experiência do bloqueio naval britânico na Primeira Guerra Mundial) também foi, em boa medida, apenas isso, um discurso para sustentar interesses muito maiores. O mesmo se poderia dizer do mito bolchevique-judaico, que era visto como real, determinou políticas e engendrou massacres, mas que também era uma cobertura para os interesses imperialistas alemães no Leste europeu, os quais já existiam no século XIX e mesmo antes, quando o comunismo ainda não era uma questão. O foco no discursivo, no mental, nos impede de ter essa consciência de que o material e o ideológico se associam e se articulam.
Um ponto interessante no livro é o estudo da política de vários Estados do Leste europeu – como a Polônia – no período entre as duas guerras mundiais, o que é pouco conhecido no Brasil. Sua hipótese de que a Polônia poderia ter sido uma aliada de Hitler em nome do anticomunismo e do antissemitismo é pouco crível, dado que os poloneses eram alvo privilegiado do racismo nazista. Mesmo assim, sua exposição das facetas e dos meandros do relacionamento entre Varsóvia e Berlim é de muita utilidade para o leitor.
Outro aspecto relevante na obra é o destaque que dá à ausência do Estado como algo fundamental para sustentar ações genocidas ou de extrema violência por parte dos nazistas. Na Alemanha já haviam sido criados, na sua percepção, áreas sem Estado, onde o partido e as SS (Schutzstaffel) tinham carta branca para agir, como os campos de concentração. Do mesmo modo, privar os judeus alemães da sua cidadania, ou seja, da proteção do Estado, tinha sido um pré-requisito para acelerar a perseguição a eles.
No Leste europeu, isso teria ido além, com a destruição total de Estados e a criação de áreas onde as SS e o NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) podiam agir sem freios. Para tanto, teria sido fundamental a atuação prévia da União Soviética. Ao ocupar a Polônia e os países bálticos e destruir os seus Estados, isso teria facilitado a tarefa de Hitler e o próprio genocídio dos judeus.
A proposta – que o autor defende à exaustão, até cansar o leitor – de que a destruição de um Estado e a privação dos direitos de cidadania a seus habitantes facilitavam a adoção de políticas radicais é bastante lógica. Do mesmo modo, pode-se aceitar a ideia de que o terror estalinista facilitou a conquista e a submissão de boa parte do Leste europeu pela Alemanha. O que incomoda é a facilidade com que Snyder acaba vendo intenções explícitas onde, provavelmente, houve apenas contingências. Chega a afirmar (p.141) que, quando Hitler assinou o Pacto Germano-soviético, já tinha consciência plena de que os comunistas eram especialistas na destruição de Estados e que, anos depois, ele se aproveitaria daquele trabalho. De forma implícita ou explícita, Snyder acaba por atribuir à União Soviética um papel ativo e direto na formatação do Holocausto, o que é, no mínimo, questionável. Stalin cometeu inúmeros crimes e, de forma indireta, pode ter colaborado para o horror nazista, mas não da forma direta (e anacrônica) apresentada pelo autor.
Uma das novidades do presente livro frente a outros que seguem uma abordagem teórica semelhante é seu esforço em retirar, da experiência histórica, elementos que nos permitam refletir sobre o nosso momento. A visão de mundo de Hitler e do nazismo se tornou realidade num contexto específico, que não se repetirá, mas algo semelhante pode ocorrer e o livro é, em boa medida, uma advertência nesse sentido.
Para o autor, o mundo atual, globalizado, coloca a maioria das pessoas frente a contingências planetárias que elas não têm condições de compreender. Isso oferece o risco de elas aceitarem um diagnóstico simplista que explica o mundo com base em uma chave conspiratória, de desastre ecológico ou de outro tipo iminente. Num momento em que o populismo de direita está a se fortalecer com essas bandeiras, sua advertência se torna bastante atual.
Também muito relevante a sua advertência – dirigida essencialmente ao público norte-americano, mas que pode servir a todos – de que há uma falta de entendimento sobre a relação entre a autoridade do Estado e o assassinato em massa. Ao contrário da crença liberal, Snyder propõe – em sintonia com a proposta do livro – que é a ausência ou enfraquecimento do Estado que abre as portas para os massacres e a perda da liberdade, não o contrário. Um Estado sem freios é uma ditadura que tolhe liberdades, mas a ausência total do Estado é simplesmente barbárie.
Snyder indica, aliás, como a competição desenfreada do neoliberalismo se aproximaria do nazismo, sendo impressionantes as similaridades entre Hitler a Ayn Rand, uma das teóricas neoliberais: só a competição importa, e tudo o que a cerceia deve ser eliminado. Na minha visão, isso apenas indica a conexão entre nazismo e neoliberalismo dentro do campo da direita e sua valorização da competição e da hierarquia.
É possível pensar que esse caráter militante, de advertência moral, diminuiu o valor historiográfico do trabalho. Não é o caso, especialmente no mundo atual, no qual advertências como essas são mais do que bem-vindas. O livro tem problemas metodológicos e é tão focado nos aspectos mentais e mitológicos do nazismo que acaba por perder de vista o mundo material onde esses aspectos existiam. Mesmo assim, sua contribuição para a historiografia e a advertência moral que carrega fazem dele um livro que vale a pena ser lido.
João Fábio Bertonha – Universidade Estadual de Maringá (UEM). Maringá, PR, Brasil. E-mail: fabiobertonha@hotmail.com.
[IF]
Letra de índios: cultura escrita, comunicação e memória indígena nas Reduções do Paraguai – NEUMANN (RBH)
NEUMANN, Eduardo. Letra de índios: cultura escrita, comunicação e memória indígena nas Reduções do Paraguai. São Bernardo do Campo: Nhanduti, 2015. 240p. Resenha de: FELIPPE, Guilherme Galhegos. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.
Os estudos sobre a experiência missionária vivenciada por indígenas e catequizadores na região da Bacia do Rio da Prata colonial beneficiam-se da profícua produção textual que acompanhou toda a época da empresa missional. A grande quantidade de registros, apesar de marcada pela diversidade e riqueza de informações contidas em relatos, é caracterizada por ser predominantemente uma escrita produzida pelos estrangeiros. A escrita, para os membros da Companhia de Jesus, era prática de obediência às determinações da Ordem – que remontavam às Constituições de Inácio de Loyola – e ratificação da hierarquia que determinava a eficácia da circulação da correspondência e, consequentemente, das informações merecedoras de serem compartilhadas, a fim de estabelecer a união dos seus membros (Arnaut; Ruckstadter, 2002, p.108).
A escrita epistolar jesuítica, essa “laboriosa persistência na missão” (Hansen, 1995, p.99), garantia a contínua construção da retórica da evangelização do selvagem americano por meio do discurso edificante: escrever não era apenas registrar para manter a comunicação; era, também, justificar a conversão. O trabalho catequético, no cotidiano do meio reducional, implicava aos missionários uma aproximação com os indígenas que deveria ir além do ensino diário de bons comportamentos e das genuflexões nas missas. Os membros da Companhia de Jesus destacaram-se dos missionários de outras Ordens pela imersão que realizaram no contato e convívio com os índios reduzidos por meio da linguagem. A conversão, souberam desde o início, só seria uma possibilidade se os obstáculos da língua fossem superados com o desenvolvimento de meios materiais e simbólicos pelos quais os nativos se incorporassem às relações coloniais por seus próprios termos (Montero, 2006, p.41). Em dois movimentos vetoriais aparentemente contraditórios, os jesuítas aprenderam a língua dos índios para depois ensiná-los a escrevê-la (Agnolin, 2007, p.293).
O domínio da escrita foi, pode-se arriscar, o maior legado que os jesuítas deixaram aos Guarani na época das missões platinas. Contudo, isso não quer dizer que houve uma simples transmissão de conhecimento, em que o indígena, receptor passivo, tenha adquirido os manejos de uma tecnologia da qual não dava conta a não ser no âmbito da repetição e da cópia. É o que Eduardo Neumann procura demonstrar em seu livro Letra de Índios: os Guarani não só aprenderam a escrever – em espanhol e em sua língua nativa -, como, também, apropriaram-se dos métodos, técnicas e funcionalidades que a escrita possibilita para adaptarem-na às suas necessidades.
Publicado pela Nhanduti – editora especializada em estudos indígenas -, o livro de Eduardo Neumann apresenta a sua pesquisa realizada no Doutorado em História Social pela UFRJ, defendida em 2005. Em exaustiva pesquisa em arquivos do Brasil, da Argentina, do Paraguai, de Portugal e da Espanha, o autor coletou dados empíricos que lhe forneceram evidências suficientes para compreender “como os guaranis reorganizaram suas atitudes e seus costumes diante das novas demandas e desafios da sociedade colonial” (Neumann, 2015, p.30).
Para isso, o autor desconstruiu duas considerações que por muito tempo foram tomadas como dados irrefutáveis da história das reduções jesuítico-guaranis: que os poucos indígenas que tiveram acesso ao papel e à pena só haviam conseguido exercer a função de copistas, anulando-se, assim, qualquer possibilidade de uma atuação deliberativa por parte dos índios; e, em decorrência disso, que os missionários foram os únicos a produzirem registros que poderiam ser usados como fontes de pesquisa sobre as Missões. A documentação cotejada por Eduardo Neumann comprova não apenas uma intensa e contínua produção textual realizada pelos indígenas durante o período tardio das missões platinas (segunda metade do século XVIII), como, também, uma importante atuação no que competia aos trâmites internos da administração e da burocracia das reduções, principalmente naquilo que cabia às responsabilidades do Cabildo.
A partir disso, o autor ressalta que quase toda a produção escrita pelos indígenas foi produzida, fundamentalmente, por uma elite missioneira composta por membros que ocupavam cargos administrativos. Isto é, o ensino da escrita foi uma atividade restrita àqueles indígenas cuja apreciação, por parte dos missionários, posicionava-os em um grupo seleto, com prestígio e responsabilidades específicas. Escrever possibilitou a essa elite destacar-se dentro das reduções, principalmente para atuar na organização e definições dos expedientes da administração local, mas, também, “adquirindo competências e habilidades que os credenciam como mediadores e protagonistas nesse novo mundo letrado” (Neumann, 2015, p.53).
O acesso à escrita permitiu aos índios a produção de uma variedade de obras, dentre as quais o autor destaca as memórias, as atas administrativas, os vocabulários, as gramáticas e uma importante participação na elaboração de textos devocionais – sem contar os inúmeros bilhetes e cartas, escritos em guarani ou espanhol (algumas vezes, nas duas línguas), que as lideranças indígenas fizeram circular entre si, diminuindo as distâncias entre as reduções e dinamizando a comunicação oficial com as autoridades. Esse intenso trânsito epistolar demonstra “o quanto os guaranis não eram passivos, e como atuavam a partir de dinâmicas emanadas da interação com a sociedade colonial” (Neumann, 2015, p.90).
O livro, dividido em cinco capítulos, inicia apresentando o problema do contato linguístico, em que os jesuítas, que pretendiam fundar as reduções na Bacia do Rio da Prata, buscaram normatizar a língua guarani por meio de uma “redução gramatical” (Neumann, 2015, p.49). Ao definir a escrita como um instrumento a serviço da conversão, os esforços dos missionários voltaram-se para traduzir os signos linguísticos do Guarani a fim de torná-lo o idioma oficial da sociedade missioneira. Como consequência imediata, os índios apropriaram-se da escrita sem, com isso, inferiorizar a importância da oralidade enquanto tradição coletiva. Apesar disso, escrever não foi uma tarefa difundida entre todos os Guarani, restringindo-se apenas à elite que ocupava cargos administrativos nas reduções.
Assim, o Cabildo é descrito como espaço de atuação dos índios que possuíam a habilidade da escrita. A instrução escolar era oferecida a um seleto grupo de meninos e homens nos quais os jesuítas depositavam a expectativa de virem a ser colaboradores no funcionamento e bom andamento da redução. Não demorou muito para que os índios alfabetizados passassem a ter autonomia no envio de correspondências e, por isso, revelassem seu engajamento às causas que lhes eram pertinentes. Exemplo disso foi a época da assinatura do Tratado de Madri, em 1750, e a consequente Guerra Guaranítica. Não só os conflitos armados e as diferenças ideológicas potencializaram a troca de correspondência, como o próprio fato de a aliança entre os jesuítas e as lideranças indígenas ter se enfraquecido em razão das desavenças no que competia à administração das reduções: “a escrita, nesse momento, conferia uma identidade comum no modo de fazer política por parte dos índios rebelados, ao expressarem suas insatisfações com os acontecimentos em curso” (Neumann, 2015, p.125).
Se, por um lado, o uso da escrita esteve reservado a um grupo restrito de índios, por outro, o formato dessa escrita não ficou preso às demandas da burocracia missioneira. Fica evidente que “qualquer novo sistema de escrita constitui-se e é reformulado na dependência de fatores que, além de serem de natureza ‘técnica’ ou ‘científica’, são políticos, ativos ou reativos” (Franchetto, 2008, p.32). Ainda que grande parte dos textos escritos pelos índios fosse de cunho administrativo, os indígenas letrados escreveram memoriais e diários que se tornam fontes para “avaliar os modos pelos quais os índios percebiam os acontecimentos e o seu interesse em estabelecer um registro dos mesmos” (Neumann, 2015, p.144).
Com a expulsão dos jesuítas do território da América espanhola, em 1767, a instalação de uma administração laica nas reduções alterou consideravelmente a forma como a elite indígena passou a se comportar frente à gestão reducional. O novo contexto retirou as reduções e suas lideranças do isolamento político, elevando o grau de relação que os indígenas instruídos passaram a manter com as autoridades coloniais, refletindo-se em um aumento da correspondência trocada – até mesmo em um maior número de cartas bilíngues. Ainda assim, mesmo que a expressão escrita tenha sido fundamental para que as lideranças pudessem deixar registradas as suas opiniões e descontentamentos em relação à nova ordem administrativa, não houve uma disseminação do aprendizado da escrita entre os índios, mantendo-se restrita a uma elite que escrevia entre si, mas assinava por todos.
Referências
AGNOLIN, Adone. Jesuítas e Selvagens: a negociação da fé no encontro catequético-ritual americano-tupi (século XVI-XVII). São Paulo: Humanitas, 2007. [ Links ]
ARNAUT, Cézar; RUCKSTADTER, Flávio M. Martins. Estrutura e organização das Constituições dos jesuítas (1539-1540). Acta Scientiarum, v.24, n.1, p.103-113, 2002. [ Links ]
FRANCHETTO, Bruna. A guerra dos alfabetos: os povos indígenas na fronteira entre o oral e o escrito. Mana, v.14, n.1, p.31-59, 2008. [ Links ]
HANSEN, João Adolfo. O Nu e a Luz: Cartas Jesuíticas do Brasil. Nóbrega – 1549-1558. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, v.38, p.87-119, 1995. [ Links ]
MONTERO, Paula. Índios e missionários no Brasil: para uma teoria da mediação cultural. In: _______. (Org.) Deus na aldeia: missionários, índios e mediação cultural. São Paulo: Globo, 2006. p.31-66. [ Links ]
Guilherme Galhegos Felippe – Doutor em História, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Pós-doutorando, PUC-RS. Professor Colaborador (PNPD/Capes) do Programa de Pós-Graduação em História da PUC-RS.
[IF]
Mercados Minas: africanos ocidentais na Praça do Mercado do Rio de Janeiro (1830-1890) – FARIAS (RBH)
FARIAS, Juliana Barreto. Mercados Minas: africanos ocidentais na Praça do Mercado do Rio de Janeiro (1830-1890). Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio de Janeiro/Arquivo Geral da Cidade, 2015. 295p. Resenha de: CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.
Antes de defender sua tese em 2012, Juliana Barreto Farias já era uma pesquisadora reconhecida, autora de trabalhos sólidos, tanto individualmente como em coautoria com historiadores renomados. A tese então defendida era fruto de uma pesquisa densa e bem sedimentada. Agora, expurgados os ranços que caracterizam as teses – aqueles que tornam a leitura pesada, difícil – e com alguns acréscimos bem situados, foi finalmente publicado esse importante estudo, que promete influenciar a literatura sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro, particularmente sobre a presença de africanas minas no comércio a retalho.
A inspiração confessada da autora é uma fotografia de uma africana vendendo frutas e verduras numa bancada de mercado. É uma daquelas fotos de Marc Ferrez diante das quais os especialistas às vezes se lembram de que, talvez, já as tenham visto em algum lugar. Mas Juliana não se contentou com essa curiosidade, a estética vigorosa da “dama mercadora”, talvez Emília Soares do Patrocínio, a principal personagem do livro, uma africana liberta que deixou 30 contos de patrimônio inventariado e que alforriou outros 11 cativos. Dali em diante, fazendo uma ligação nominativa de fontes, percorrendo um rol considerável de documentos sobre o mercado, inventários, jornais, processos de divórcio e fontes paroquiais, a autora foi descobrindo outras pessoas, processos, histórias de vida, lendas urbanas, rumores e espaços, até que, finalmente, pôde apresentar aos leitores outro retrato, mais amplo, com mais profundidade e contextualização: o retrato do próprio mercado da Candelária, o “mercado do peixe”, na atual Praça XV de Novembro. Por intermédio desse trabalho denso e arguto entramos no cenário de muitas tramas que haviam caído em certo esquecimento da história urbana do Rio de Janeiro escravista. A foto daquela negra mina com uma urupema no colo inspirou a pesquisa, mas ela não é a única protagonista neste livro. O próprio mercado, que ganha vida, é o personagem principal deste importante estudo.
Inspirado no Les Halles de Paris, o mercado tinha absolutamente tudo de brasileiro, expressando os detalhes multiétnicos e as tensões que caracterizavam a vida social no Rio de Janeiro oitocentista. Nele percebe-se a dinâmica própria da escravidão na capital imperial, pois, a rigor, não se podia alugar banca de peixe a cativo, mas eles estavam lá o tempo todo, se não como vendedores independentes, com certeza, como prepostos. Em 1836, houve de fato uma queixa de que a posse de bancas havia sido concedida a escravos. Entre atritos, reclamações – até mesmo contra “pretos cativos atravessadores” – e rearranjos espaciais, a partir de 1844 só gente livre poderia ser locatária, embora seus cativos pudessem pernoitar no ambiente de trabalho. A autora crê, todavia, que os requerimentos iludiam à condição forra de muita gente, afinal de contas, salvo os “africanos livres”, não havia como essas pessoas com marcas de nação serem livres. Os minas eram os mais bem representados no mercado e, entre eles, havia uma distribuição entre os sexos bastante equitativa. As áreas internas, todavia, eram majoritariamente ocupadas por homens.
Apesar de muita confusão, greve até, em longo prazo houve uma razoável estabilidade entre os que se estabeleciam no mercado, pois a média de ocupação no mesmo local era de 15 a 20 anos. Era comum transferir a banca para gente da mesma família ou da mesma procedência, e, embora fosse possível ceder a posse e o uso do espaço, não se podia repassá-lo a terceiros por conta própria, sem interferência das autoridades competentes. Havia locatários ocupando mais de uma banca. José da Costa e Souza, ou José da Lenha, era tão onipresente nos negócios que, segundo um relatório de 1865, ficou também conhecido como “dono do mercado”. A trajetória de vida de alguns personagens, como Domingos José Sayão, um calabar forro, ilustra o tráfico de influência para se conseguir bancas. O fato de já estar lá trabalhando era importante para renovação, mas havia um jogo na Câmara Municipal envolvendo complexas relações patronais. E, nesse jogo burocrático e legal, as minas também eram protagonistas. Casavam-se, divorciavam-se, participavam de irmandades, querelavam e demandavam direitos nos termos da “lei do branco”.
Uma das partes mais ricas do livro é o estudo das posições relativas dos trabalhadores do mercado, desde os donos de banca até os cativos. À parte a condição servil, livre ou liberta de cada um, havia a cor da pele matizando as relações sociais. Entre os negros, os que não eram africanos aparentemente procuravam ressaltar esse dado nas petições. E eram muitos os africanos. A autora cita Holanda Cavalcanti, para quem bastava ir lá para vê-los ostentando suas marcas de nação. Os requerimentos, todavia, disfarçavam a condição dos requerentes forros, que não deviam ser poucos. Havia, entretanto, certa especialização naquela multidão. Os brasileiros dominavam a venda de pescados, os africanos concentravam-se na venda de legumes, verduras, aves e ovos. Os portugueses estavam em tudo, mas dominavam a venda de secos. Embora tenha encontrado até uma briga entre dezenas de ganhadores e 11 trabalhadores brancos do mercado, a autora não encontrou uma rivalidade permanente, inevitável entre portugueses e africanos, o que contraria o senso comum historiográfico. Os atritos eram muitos, mas cruzavam barreiras simplistas. A condição servil, livre ou liberta, a nacionalidade, a procedência e as relações patronais entrecruzavam-se marcando o cotidiano das relações de trabalho e convivência no mercado do peixe.
Empoderada pela riqueza que o comércio lhe proporcionou, Emília fez tudo o que poderia caber a uma africana liberta na capital imperial. Afirmou-se diante de outras mulheres e dos homens que cruzaram seu caminho. No comércio, liderava. Os homens que passaram por sua vida foram apenas coadjuvantes. Submersa numa sociedade que tentava conquistar, previsivelmente tornou-se senhora de escravos, e Juliana Barreto não encontrou evidências de que fosse melhor, mais generosa nas alforrias, do que as outras sinhás do seu tempo. Questões desse tipo – Como era ser escrava de uma africana liberta? Qual o significado do casamento cristão para as africanas cativas ou libertas? E o que significava ser uma “mina”, afinal de contas? – integram um rol de perguntas clássicas da historiografia brasileira para as quais este livro acrescenta novos elementos de discussão.
Embora com objeto bem delimitado, circunscrito no tempo e no espaço, este livro é também oportuno no momento presente, quando precisamos ampliar nossos horizontes de estudo, reabrir perspectivas comparadas. Nestes tempos de tantas e tantas teses a serem lidas, talvez já seja possível reavaliar tendências bem assentadas na historiografia. A escravidão no Rio de Janeiro das africanas retratadas neste importante livro precisa ser cotejada com aquela das africanas das Minas setecentistas, sobre as quais já existe sólida literatura, ou mesmo da Bahia e Pernambuco, revisitadas por estudos recentes. Aos poucos, os detalhes desse universo mais amplo da escravidão no Brasil oitocentista vão sendo desvelados por estudos densos, como este, que irão compor as futuras sínteses da vasta e rica historiografia brasileira sobre a escravidão.
Marcus Joaquim Maciel de Carvalho – Ph.D. em História, University of Illinois System (UILLINOIS). Professor Titular de História, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Recife, PE, Brasil. E-mail: marcus.carvalho.ufpe@hotmail.com
[IF]Conspirações da raça de cor: escravidão, liberdade e tensões raciais em Santiago de Cuba (1864-1881) – MATA (RBH)
MATA, Iacy Maia. Conspirações da raça de cor: escravidão, liberdade e tensões raciais em Santiago de Cuba (1864-1881). Campinas: Ed. Unicamp, 2015. 303p. Resenha de: CHIRA, Adriana. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.
O complicado relacionamento entre as pessoas de cor e os movimentos nacionalistas latino-americanos esteve no centro de um vasto conjunto de pesquisas historiográficas. Algumas das questões que os estudiosos enfrentaram foram estas: o que levou as pessoas de cor a participar nesses movimentos? Como os modelaram? E por que endossaram ideologias nacionalistas que celebravam a harmonia racial e que as elites brancas viriam a usar como meio para silenciar as reivindicações baseadas na raça? As pessoas de cor foram sendo cooptadas pelas elites brancas, ou conseguiram dar forma ao teor geral dos movimentos e das ideologias nacionalistas? Historiadores cubanos envolveram-se nessas discussões, muito embora Cuba tenha discrepado cronologicamente em comparação com outras colônias espanholas nas Américas, alcançando sua independência apenas em 1898. O paradoxo que faz de Cuba um tema particularmente interessante de pesquisa é por que o maior produtor de açúcar para o mercado global poderia abrigar um ideal nacionalista de fraternidade racial, no momento em que o racismo científico tornava-se o lastro ideológico para os segundos impérios europeus na Ásia e na África, e para as chamadas leis Jim Crow no sul dos Estados Unidos. Realizando rica pesquisa em arquivos cubanos e espanhóis e tecendo uma bela narrativa que coloca na frente e no centro as vozes e as ações das próprias pessoas de cor, Iacy Maia Mata oferece, em sua monografia, novas abordagens sobre essas questões.
Estudos anteriores sobre fraternidade racial em Cuba centraram o foco sobretudo na experiência militar durante a prolongada Guerra de Independência contra a Espanha (1868-1898). Estudiosos e intelectuais já desde José Martí argumentaram que o esprit de corps militar que se desenvolveu entre os rebeldes pró-independência através das linhas de segregação oficiais serviu como catalisador de ideologias radicais de inclusão nacional e racial. Mata, porém, sustenta que há indícios nos arquivos de uma cultura política popular em Santiago que parece ter preexistido à campanha militar de 1868. Introduzindo um novo recorte cronológico para a emergência de ideologias de igualdade racial em Cuba, Iacy Mata não está apenas oferecendo o relato mais completo. Ela também está sugerindo que a população de cor de Santiago havia considerado a igualdade antes mesmo de as elites liberais de pequenos proprietários na província vizinha de Puerto Príncipe terem iniciado a guerra de independência.
O objetivo de Iacy Mata é traçar as origens da cultura política popular de Santiago e explicar como, entre meados dos anos 1860 e o início da década de 1880, a população de cor local superou as divisões de status e criou laços e solidariedades que alcançaram sua expressão completa na ideia de uma raza de color unificada. A autora argumenta que essa visão particular de uma comunidade política centrada na raça estava alinhada com a causa nacionalista de uma Cuba livre. Como ela coloca adequada e incisivamente, as pessoas de cor de Santiago passaram, no começo da década de 1860, da condição de la clase de color, um rótulo oficial nelas fixado pelas autoridades coloniais espanholas, para a de la raza de color, termo que intelectuais e líderes políticos e militares de cor começaram a usar para se autoidentificar no início da década de 1880.
Ao longo da maior parte de sua existência colonial, Santiago de Cuba, província situada na extremidade leste da ilha, foi uma zona de fronteira colonial, ator marginal na política imperial e local de pouco investimento da agricultura de plantation em larga escala. Os refugiados da Revolução Haitiana que migraram para essa região por volta de 1803 ali introduziram plantações de café, muitas das quais faliram no começo da década de 1840. Até o final dos anos 1850, as principais fontes de renda locais eram a criação de gado, a plantação de café e tabaco e a mineração de cobre (que as autoridades concederam a uma companhia inglesa). Como resultado da localização de Santiago nas margens do domínio açucareiro, a pequena propriedade permaneceu ali muito mais comum do que na parte centro-oeste de Cuba. Além do mais, Santiago também se destacou entre as demais províncias cubanas pelo peso demográfico relativamente maior da população de cor. No começo dos anos 1860, muitos deles eram pequenos proprietários e alguns possuíam um pequeno número de escravos. Era essa população que começou a se mobilizar politicamente no início daquela década, argumenta a autora, em resposta aos acontecimentos econômicos locais e aos movimentos internacionais antiescravagistas.
Nos primeiros anos da década de 1860, o açúcar começou a deitar raízes mais profundas em Santiago e a produção de café voltou a se expandir ali. Como consequência, as plantações começaram a invadir áreas onde os pequenos proprietários ou arrendatários cultivavam tabaco, deixando a população de cor insatisfeita. Ademais, em meados da década, teriam chegado a Santiago notícias e rumores sobre a emancipação dos escravos no sul dos Estados Unidos. A população local também teria consciência, havia bastante tempo, dos protestos britânicos contra a escravidão e o comércio de escravos para o Império Espanhol (em razão da proximidade da Jamaica), bem como da reputação do Haiti como república construída a partir de uma bem-sucedida revolução de escravos. Fazendo uma leitura cuidadosa de registros criminais e judiciais, Iacy Mata recupera como essas notícias impactaram a vida cotidiana entre os escravos e a população de cor livre e o que fizeram com elas. Quer fosse a exibição sutil e irônica de uma bandeira haitiana, trazendo inscrita a palavra Esperança, quer fosse o uso de um vocabulário pró-republicano, antiescravidão e antidiscriminação, sustenta a autora, as conversas de natureza política se espalharam pela cidade e pelas áreas rurais antes de 1868.
As conversas políticas locais culminaram em uma série de conspirações que transpirou entre 1864 e 1868 na província de Santiago e em áreas adjacentes. Iacy Mata interpreta a evidência dessas conspirações cuidadosamente, identificando os objetivos e as alianças dos participantes que emergiam entre escravos, população de cor livre e brancos. Os desiderata incluíam uma república independente, o fim da escravidão e a igualdade de direitos no que diz respeito ao status de raça. Nos dois capítulos finais, a autora coloca em discussão que essas metas políticas receberiam maior articulação durante a Guerra de Independência, quando as pessoas de cor tentariam radicalizar a agenda principal da liderança branca liberal para incluir a igualdade política e a abolição imediata.
A monografia baseia-se em extensa pesquisa nos arquivos imperiais espanhóis (Arquivo Histórico Nacional, Arquivo Geral das Índias), bem como em fontes dos Arquivos Nacionais Cubanos e do Arquivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba. Esses diferentes repositórios forneceram a Iacy Mata fontes que lhe permitiram deslocar-se entre diferentes percepções dos mesmos eventos ou processos: elite/subalterno, centro imperial (Madri)/elite política centrada no açúcar (Havana)/zona de fronteira cubana (Santiago). Adicionalmente, o trabalho de Iacy Mata mostra como o estudo de uma área de fronteira do Caribe pode ser importante para se entender o radicalismo político na região. Por muito tempo, os historiadores permaneceram focando as áreas produtoras de açúcar como os principais espaços onde a mudança social se deu. Embora seu trabalho tenha nos munido de ferramentas e abordagens analíticas indispensáveis, Iacy Mata sugere que é importante olhar para além dessas áreas se quisermos compreender a cultura política local.
A monografia também abre importantes caminhos para novas pesquisas. A unidade discursiva do termo raza de color esconde as complexas políticas e as fraturas existentes entre as pessoas de cor em Santiago que sobreviveram nos anos 1880 e moldariam a política clientelista nos primórdios da Cuba republicana. Seria fundamental considerar que as origens e os desdobramentos posteriores dessas fraturas estariam em Santiago. Em segundo lugar, o estudo de Iacy Mata alude à presença de aliados brancos liberais em Santiago, que, ocasionalmente, ajudaram os combatentes pela liberdade ou participaram de conspirações antiescravidão. A historiadora cubana Olga Portuondo Zúñiga explorou a história do liberalismo na parte ocidental da ilha, revelando um vibrante campo de ideias liberais que se mostravam, às vezes, contraditórias ou contraditórias em si mesmas. Puerto Príncipe e Bayamo foram terrenos particularmente férteis para o pensamento liberal, mas Santiago não esteve alheia a ele antes da Guerra de Independência (ver, por exemplo, o governo de Manuel Lorenzo nos anos 1830). Algumas dessas ideologias liberais podem também ter escoado através de redes que alcançaram ex-colônias latino-americanas depois da década de 1820 e a República Dominicana durante a Guerra da Restauração nos anos 1860. Estudar os ideais políticos da população de cor de Santiago em relação a essas outras correntes políticas, tanto internas quanto externas à ilha, parece ser um terreno especialmente importante para futuras pesquisas.
O trabalho de Iacy Mata é uma bela ilustração de como as ferramentas da história social e política podem capturar a dinâmica dos movimentos políticos populares. Assim sendo, eu o recomendo vivamente para os estudiosos interessados em sociedades escravistas e pós-escravistas e nos papéis que as pessoas de cor desempenharam no interior delas.
Adriana Chira – Ph.D., University of Michigan. Assistant Professor of Atlantic World History, Emory College of Arts and Sciences (USA). Emory College of Arts and Sciences. Atlanta, GA, USA. E-mail: adriana.chira@emory.edu.
[IF]A tentação fascista no Brasil: imaginário de dirigentes e militantes integralistas – TRINDADE (RBH)
TRINDADE, Hélgio. A tentação fascista no Brasil: imaginário de dirigentes e militantes integralistas. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2016. 837p. Resenha de: GONÇALVES, Leandro Pereira. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.
São 17 horas em Brasília. Com os olhos inchados, o rosto deformado pelos anos e após acordar de uma longa sesta, o antigo (e eterno, para os militantes) chefe dos integralistas concedeu uma entrevista ao então doutorando em Ciência Política da Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) Hélgio Trindade, que teve um segundo encontro com o líder dos camisas-verdes em São Paulo. Na ocasião das pesquisas, foram realizadas entrevistas com Miguel Reale, Dario Bittencourt e Rui Arruda, dentre outros integralistas ou simpatizantes, como Alceu Amoroso Lima e Menotti Del Picchia.
O momento não era nada propício para o desenvolvimento de uma pesquisa dessa estirpe, pois estávamos vivendo os duros tempos da ditadura civil-militar e muitos dos integralistas dos anos 1930 eram figuras ativas no contexto do regime autoritário, como o general Olympio Mourão Filho, que recebeu de pijama e chinelos o então doutorando em seu apartamento, em Copacabana. Detalhes pitorescos e impensáveis que serão descobertos nas 837 páginas do livro A tentação fascista no Brasil: imaginário de dirigentes e militantes integralistas.
Não há estudioso que não tenha esbarrado com o nome de Hélgio Trindade. A tese de doutorado denominada L’Action intégraliste brésilienne: um mouvement de type fasciste au Brésil, traduzida e publicada no Brasil, em 1974, sob o título Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 30 (Trindade, 1974), é cada vez mais viva na Ciência Política e nos trabalhos historiográficos. Esse estudo promoveu a entrada da temática no meio acadêmico, sendo também responsável por tornar conhecido o movimento e tê-lo interpretado. O pesquisador gaúcho foi o precursor dos estudos e é referência cada vez mais atuante para os que buscam compreender esse fenômeno político do século XX que arrastou multidões e mobilizou milhares de pessoas em torno de um grande nome: Plínio Salgado.
A nova produção de Hélgio Trindade é lançada em contexto acadêmico extremamente oposto ao do momento de divulgação da tese, em 1974, quando não havia amplos diálogos. A tentação fascista no Brasil: imaginário de dirigentes e militantes integralistas é uma espécie de “promessa” do professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 1979, o ex-reitor da UFRGS e da Unila anunciou, na 2ª edição da tese, publicada pela Difel, que um volume seguinte teria como objeto de análise um conjunto de depoimentos gravados, inéditos, colhidos com dirigentes e militantes integralistas, mas, por implicações éticas, faria a divulgação após a morte de todos.
Há muitos anos os pesquisadores comentavam sobre as entrevistas, e muitos se questionavam onde elas estavam e se realmente existiam, visto que o material sempre foi objeto de desejo de todos os estudiosos do tema. Agora, finalmente, há a possibilidade de termos em mãos uma parte significativa dos depoimentos que foram concedidos a Hélgio Trindade. Vejo como um feito da publicação o trabalho que o autor teve em organizar as entrevistas de maneira temática, pois o livro não é apenas uma simples transcrição, há um árduo trabalho metodológico acompanhado por referências e contextualizações amplas sobre o período e o Movimento.
Em “Nota prévia” o autor defende o uso fascista para a caracterização do integralismo frente ao debate da década de 1970 e suas repercussões no contexto acadêmico contemporâneo, polêmica existente desde a defesa da tese. O prefácio da segunda edição (Trindade, 1979), reproduzido no novo livro e escrito pelo cientista político da Universidade de Yale, Juan J. Linz, falecido em 2013, destaca a importância da investigação no cenário acadêmico, principalmente por identificar um tipo fascista fora do contexto europeu, temática que segue a introdução escrita pelo autor, demonstrando em uma visão continental a particularidade do movimento integralista – “O fascismo na América Latina em debate”. Antes de nos brindar com as entrevistas, faz uma síntese da tese, expondo o universo ideológico do integralismo para que o leitor possa identificar elementos da estrutura da Ação Integralista Brasileira.
Plínio Salgado, o líder do movimento, mereceu um capítulo exclusivo: “Entrevistas com dirigentes e militantes da AIB”. Nele, o chefe supremo dos camisas-verdes aponta questões sobre o passado e sobre um presente utópico. São palavras que permitem ao historiador identificar elementos até então conhecidos no campo das hipóteses, nos aspectos político, cultural, internacional, religioso ou mesmo pessoal. Com as entrevistas, é possível contribuir com diversas investigações, como a força exercida pela intelectualidade portuguesa em Plínio Salgado, tanto na juventude, pela leitura de obras ligadas aos católicos lusitanos, como no contexto do pós-guerra, quando António de Oliveira Salazar estabeleceu papel preponderante na composição de um novo Plínio Salgado após o exílio (cf. Gonçalves, 2012).
Em “Imaginário da elite dirigente e Dirigentes e Militantes Locais” Trindade oferece entrevistas realizadas entre maio de 1969 e setembro de 1970 com representantes do movimento e líderes de destaque no cenário político: Frederico Carlos Allendi, Rui Arruda, Dario Bittencourt, Margarida Corbisier, Roland Corbisier, José Ferreira da Silva, Arnoldo Hasselmann Fairbanks, Antonio Guedes Hollanda, Américo Lacombe, José Ferreira Landin, Edgar Lisboa, José Loureiro Júnior, Jeovah Mota, Olympio Mourão Filho, Erico Muller, Zeferino Petrucci, Miguel Reale, João Resende Alves, Goffredo da Silva Telles, Ângelo Simões Arruda, Ponciano Stenzel, Antonio de Toledo Pizza e Aurora Wagner. Como as entrevistas estão no anonimato, uma relação foi inserida no fim do livro, mas no início de cada entrevista há uma pequena biografia do depoente que permite ao estudioso a identificação, mas isso não é tão simples para os demais leitores.
Em sequência, Trindade traz em “Olhares externos de intelectuais independentes” entrevistas de personalidades que viveram o período e que conviveram em algum momento com Plínio Salgado e outros membros do movimento: Alceu Amoroso Lima, Cruz Costa, Candido Morra Filho, Menotti Del Picchia e Antonio Candido, sendo este último o único depoente ainda vivo. Como não há relações políticas e comprometimentos em algumas passagens, os nomes desses são identificados nas entrevistas.
A obra, que marca o retorno do autor ao debate (apesar de nunca ter deixado de fazer parte da discussão),2 tem dois aspectos principais e de grande relevância: 1º) permite identificarmos o olhar do ator no contexto histórico; nas entrevistas é possível verificar passagens e trechos inimagináveis, pérolas recolhidas por Trindade; 2º) com tal produção, tem-se a possibilidade de revolucionar a historiografia, pois são documentos até então desconhecidos que, graças aos depoimentos, podem confirmar questões que se encontram no campo da hipótese ou verificar possibilidades investigativas. Além disso, o autor faz parte de um seleto rol de pesquisadores, pois, seja na história ou na ciência política, Hélgio Trindade é responsável pela construção de uma interpretação, um pensamento único e, portanto, estabelece uma composição central na esfera acadêmica.
Esta obra busca, além de identificar o imaginário dos militantes integralistas, contribuir para o entendimento de questões acaloradas da sociedade contemporânea, em que as forças políticas conservadoras estão cada vez mais atuantes e com tentações antidemocráticas, reflexões que são realizadas no epílogo: “Ainda a tentação fascista no Brasil?”.
O livro de Hélgio Trindade vem em momento oportuno, pois não pensemos que o pesadelo acabou, uma vez que a intolerância e o autoritarismo estão longe de ser página virada na história da humanidade, principalmente com a complexa crise política que culminou com as ações do dia 31 de agosto de 2016. O livro não poderia ter desfecho mais atual, pois ao citar Karl Marx, conclui: “a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa”.
Referências
GERTZ, René E.; GONÇALVES, Leandro P.; LIEBEL, Vinícius. Camisas Verdes, 45 anos depois – uma entrevista com Hélgio Trindade. Estudos Ibero-americanos, Porto Alegre, v.42, n.1, p.189-208, abr. 2016. [ Links ]
GONÇALVES, Leandro P. Entre Brasil e Portugal: trajetória e pensamento de Plínio Salgado e a influência do conservadorismo português. 2012. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2012. [ Links ]
TRINDADE, Hélgio. Integralismo: o fascismo brasileiro da década de 30. São Paulo: Difel, 1974. [ Links ]
_______. Integralismo: o fascismo brasileiro da década de 30. 2.ed. São Paulo: Difel; Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1979. [ Links ]
Nota
2 Em recente entrevista para a revista Estudos Ibero-Americanos, Hélgio Trindade aponta questões sobre sua trajetória e, principalmente, sobre o impacto da tese na academia brasileira (GERTZ; GONÇALVES; LIEBEL, 2016). Repercussões foram publicadas na edição seguinte e podem ser consultadas em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/iberoamericana/issue/view/1032/showToc.
Leandro Pereira Gonçalves – Professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Pesquisador e autor de diversos estudos sobre o integralismo, notadamente, a trajetória de Plínio Salgado, é doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) com estágio no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL) e com pós-doutoramento pela Universidad Nacional de Córdoba (Centro de Estudios Avanzados), Argentina. Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: leandro.goncalves@pucrs.br.
[IF]
O alfaiate de Ulm: uma possível história do Partido Comunista Italiano – MAGRI (RBH)
MAGRI, Lucio. O alfaiate de Ulm: uma possível história do Partido Comunista Italiano. Boitempo, São Paulo: 2014. 415p. Resenha de: POMAR, Valter. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.
O alfaiate de Ulm é a última obra de Lucio Magri (1932-2011), intelectual comunista italiano e um dos responsáveis pela criação de Il Manifesto, periódico lançado em 1969 e que segue sendo publicado (http://ilmanifesto.info/).
O alfaiate de Ulm pode ser lido em várias claves: relato autobiográfico e testamento político, panorama do século XX, ensaio sobre a história e as perspectivas do movimento comunista italiano (especialmente o apêndice, um documento de 1987 intitulado “Uma nova identidade comunista”).
O movimento comunista da Itália tem gênese histórica distinta, onde confluem as características próprias daquele país, o impacto da revolução russa de 1917, a luta contra o fascismo e as batalhas da Guerra Fria.
Nesse contexto, o Partido Comunista não foi apenas uma organização política: foi também uma instituição cultural com imenso enraizamento na classe trabalhadora, na juventude e na intelectualidade, que teve na obra de Antonio Gramsci sua feição teórica mais conhecida e reconhecida.
Apesar disso tudo – ou por causa disso tudo, como fica claro da leitura de O alfaite de Ulm – o Partido Comunista Italiano cometeu suicídio em 1989.
Diferente das pequenas seitas militantes, que conseguem sobreviver em condições variadas e inóspitas, os partidos de massa parecem sobreviver apenas em determinadas condições. E como demonstra Lucio Magri, várias das condições que tornaram possível a existência de um forte comunismo reformista italiano e europeu desapareceram com a União Soviética e com a reestruturação capitalista simultânea à ofensiva neoliberal.
Dito de outra forma, a força das duas grandes famílias da esquerda europeia (o reformismo social-democrata e o reformismo comunista), assim como o brilho dos grupos de ultraesquerda que viviam à sombra daquele duplo reformismo, dependiam das condições “político-ecológicas” existentes na Europa enquanto durou a chamada bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos.
Quando esse conflito cessou, com a vitória dos Estados Unidos, a social-democracia experimentou uma deriva neoliberal, e o reformismo comunista, uma deriva social-democratizante.
Claro que esse não foi um processo uniforme. Uma das qualidades de O alfaiate de Ulm é apresentar uma interpretação do que teria ocorrido no caso italiano. Vale destacar esta palavra: interpretação. Há muitas outras interpretações, e sempre haverá o que estudar acerca das desventuras em série que atingiram o movimento comunista, o conjunto da esquerda e da classe trabalhadora, especialmente na Europa dos anos 1980 e 1990. A Itália constitui caso destacado, em boa medida pelo fato de lá estar baseado o tantas vezes denominado de maior partido comunista do Ocidente.
O alfaiate de Ulm pode ser lido com muito proveito por quem tem interesse em compreender os dilemas da classe trabalhadora, da esquerda brasileira e especialmente do Partido dos Trabalhadores.
Época e circunstâncias muito diferentes, obviamente. A começar pelo fato de que as variáveis internacionais que fortaleciam o reformismo social-democrata e comunista na Europa produziam efeitos muito distintos na América Latina e no Caribe, inclusive no Brasil.
Isso ajuda a entender por que, na mesma época em que o PCI cometia suicídio, abandonando suas tradições e até mesmo seu nome, o Partido dos Trabalhadores estava convertendo-se em força hegemônica na esquerda brasileira.
Guardadas essas diferenças, é impossível não enxergar certas semelhanças entre os dilemas vividos pelo Partido Comunista Italiano nos anos 1970 e 1980 e os impasses vividos mais de 20 anos depois pelo Partido dos Trabalhadores brasileiro.
Os dilemas do PCI são descritos detalhadamente em O alfaiate de Ulm. Segundo Lucio Magri, a “peculiaridade do PCI … era a de ser um ‘partido de massas’ que ‘fazia política’ e agia no país, mas também se instalava nas instituições e as usava para conseguir resultados e construir alianças” (p.333).
Magri demonstra que a atuação na institucionalidade não foi apenas uma estratégia. Mais do que isso, converteu o PCI em parte estrutural do Estado italiano, naquilo que Magri chama de um “elemento constitutivo de uma via democrática. Uma medalha que, no entanto, tinha um reverso” (p.333).
Esse “reverso”, que soa tão familiar aos que acompanham as vicissitudes atuais da esquerda brasileira, é assim apresentado por Lucio Magri:
Não me refiro apenas ou sobretudo às tentações do parlamentarismo, à obsessão de chegar a todo custo ao governo, mas a um processo mais lento. No decorrer das décadas, e em particular em uma fase de grande transformação social e cultural, um partido de massas é mais do que necessário, assim como sua capacidade de se colocar problemas de governo. Mas, por essa mesma transformação, ele é molecularmente modificado em sua própria composição material. (p.333)
Talvez esteja nisto a maior contribuição de O alfaiate de Ulm: essa abordagem profundamente histórica da vida de um partido político, ou seja, a compreensão de que a história de um partido só pode ser adequadamente compreendida como parte da história de uma sociedade, enquanto processo integrado entre as opções estritamente políticas, as tradições culturais e as relações sociais mais profundas, num ambiente nacional e internacional determinado.
A descrição que Lucio Magri faz do processo de seleção e promoção dos dirigentes partidários fala por si:
a formação de novas gerações, mesmo entre as classes subalternas, ocorria sobretudo na escola de massas e mais ainda por intermédio da indústria cultural; os estilos de vida e os consumos envolviam toda a sociedade, inclusive os que não tinham acesso a eles, mas alimentam a esperança de tê-lo; as “casamatas” do poder político cresciam em importância, mas descentralizavam-se e favoreciam aqueles que ocupavam as sedes; a classe política, mesmo quando permanecia na oposição e incorrupta, à medida que a histeria anticomunista diminuía, criava relações cotidianas de amizade, amálgama, hábitos e linguagem com a classe dirigente. (p.333)
Essa “mescla de costumes” da “classe política” com a “classe dirigente”, como sabemos, não é uma peculiaridade italiana. Tampouco seus efeitos organizativos, assim descritos por Magri:
as seções não estavam mais acostumadas a funcionar como sede de trabalho das massas, de formação cotidiana de quadros; eram extraordinariamente ativas apenas na organização das festas do Unità, e mais ainda nos períodos de eleição nacional e local; as células nos locais de trabalho eram poucas e delegavam quase tudo ao sindicato. Nos grupos dirigentes, a distribuição dos papéis havia mudado muito: o maior peso e a seleção dos melhores haviam se transferido das funções políticas para as funções administrativas (municípios, regiões e organizações paralelas, como as cooperativas). Portanto, mais competência e menos paixão política, mais pragmatismo e horizonte político mais limitado. Os intelectuais sentiam-se estimulados para o debate, mas sua participação na organização política havia declinado e o próprio debate entre eles era frequentemente eclético. A exceção era o setor feminino, em que um vínculo direto entre cúpula e base criava uma agitação fecunda. (p.334)
Noutras palavras, Lucio Magri descreve como as transformações “moleculares” causaram uma metamorfose no Partido Comunista: pouco a pouco foi deixando de ser um fator de subversão, transformando-se em peça importante na engrenagem do Estado e da política italiana. Uma peça diferente das outras, como demonstraria a Operação Mãos Limpas, a qual confirmaria que o PCI soubera resistir à corrupção sistêmica. Mas uma peça da engrenagem, como demonstra o fato de o PCI não ter sobrevivido ao colapso da estrutura política italiana.
Nesse sentido, a interpretação feita por Lucio Magri parece demonstrar que o Partido Comunista Italiano não foi vítima do fracasso, mas sim do sucesso da “estratégia” que alguns denominaram, na Itália e aqui no Brasil, de “melhorista”.
Essa estratégia não apenas melhorou a vida da classe trabalhadora italiana, como converteu o comunismo numa força influente e vista como ameaçadora pela classe dominante e pelos Estados Unidos, que atuaram tanto aberta quanto secretamente para evitar o êxito da aliança entre o PCI e a Democracia Cristã. Lucio Magri trata dessas operações, especialmente visíveis no caso Aldo Moro.
Bloqueado pela direita, o PCI tentou – sob a direção de Berlinguer – uma saída pela esquerda. Os capítulos que tratam dessa fase são talvez os mais interessantes de O alfaiate de Ulm, em parte por discutirem se a história poderia ter seguido um caminho diferente.
Como sabemos, entretanto, não foi isso o que ocorreu. Ao longo dos anos 1970 e 1980, alteraram-se profundamente os parâmetros dentro dos quais se movera a política no pós-Segunda Guerra Mundial, tanto na Itália quanto no mundo. O PCI não conseguiria chegar ao poder nos marcos daqueles parâmetros em vias de desaparecimento. Não conseguiria tampouco defendê-los frente à ofensiva neoliberal e à crise do socialismo. Nem conseguiria sobreviver para atuar nas novas condições.
Lucio Magri descreve, num tom profundamente autocrítico e em certo momento impiedoso consigo mesmo, as opções feitas pela maioria dirigente do PCI, que levaram à mudança do nome e das tradições políticas e culturais do Partido. Mostra como havia energias vivas na base militante do comunismo italiano, energias que não foram suficientes para dar vida ao projeto da Refundação Comunista.
Enfim, pelo que descreve, pelas conclusões a que chega e pelas perguntas que deixa, O alfaiate de Ulm de Lucio Magri é leitura mais do que relevante para os que têm interesse em compreender os dilemas atuais do Partido dos Trabalhadores e do conjunto da esquerda e os rumos da política brasileira neste terceiro milênio.
Valter Pomar – Doutor em História Econômica, Universidade de São Paulo (USP). Professor de economia política internacional no Bacharelado de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Universidade Federal do ABC. São Bernardo do Campo, SP, Brasil. E-mail: pomar.valter@gmail.com.
[IF]
Conceiving Freedom: Women of Color, Gender, and the Abolition of Slavery in Havana and Rio de Janeiro – COWLING (RBH)
COWLING, Camillia. Conceiving Freedom: Women of Color, Gender, and the Abolition of Slavery in Havana and Rio de Janeiro. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2013. 344p. Resenha de: SANTOS, Ynaê Lopes dos. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, no.72, MAI./AGO. 2016.
Ramona Oliva e Josepha Gonçalves de Moraes poderiam ter sido heroínas dos folhetins e romances que enchiam de angústia e compaixão a alma dos leitores do final do século XIX. Negras, cativas ou ex-escravas, essas mulheres foram em busca do aparato legal disponível em Havana e no Rio de Janeiro, respectivamente, e fizeram de sua condição e do afeto materno as principais armas na longa luta pela liberdade de seus filhos na década de 1880. Todavia, a saga dessas mulheres não era fruto da vertente novelesca do século XIX e tampouco foi fartamente estampada nos jornais da época. Para conhecer e nos contar essas histórias, Camillia Cowling fez uma intensa pesquisa em arquivos do Brasil, de Cuba, Espanha e Grã-Bretanha, tecendo com o cuidado que o tema demanda a trajetória de mulheres negras – libertas e escravas – que entre o fim da década de 1860 e a abolição da escravidão em Cuba (1886) e no Brasil (1888) utilizaram o aparato legal disponível nas duas maiores cidades escravistas das Américas para lutar pela liberdade de seus filhos e filhas.
A fim de dar corpo a uma história que muitas vezes é apresentada como estatística, a autora examinou uma série de documentos legais produzidos a partir da década de 1860 para compreender os caminhos traçados por algumas mulheres em busca da liberdade. Em pleno diálogo com as importantes bibliografias sobre gênero e escravidão produzidas nos últimos anos, Camillia Cowling nos brinda com um livro sobre mulheres negras, maternidade, escravidão e liberdade, demonstrando como as histórias de Ramona, Josepha e outras tantas libertas e escravas, longe de serem anedotas do sistema escravista, podem ser tomadas como portas de entrada para a compreensão mais fina da dinâmica da escravidão no Novo Mundo nas duas últimas localidades em que essa instituição perdurou.
A complexidade do tema abordado e o ineditismo das articulações entre história da escravidão nas Américas, abolicionismo, dinâmica urbana, agência de mulheres negras, maternidade e processos jurídicos se expressam na forma como a autora organizou sua obra.
Na primeira parte de seu livro, Camillia Cowling trabalhou com a relação entre escravidão e espaço urbano naquelas que foram as maiores cidades escravistas das Américas, Havana e Rio de Janeiro. Analisando as dinâmicas de funcionamento da escravidão urbana, a autora sublinhou que as cidades não devem ser tomadas como mero pano de fundo dos estudos sobre escravismo nas Américas, e assim construiu uma narrativa que corrobora boa parte do que a historiografia aponta: a força que a escravidão exerceu sobre o funcionamento dessas urbes. Tal força poderia agir tanto nas especificidades geradas em torno das atividades executadas pelos escravos urbanos – sobretudo no que tange à maior autonomia dos escravos de ganho -, como nos sentidos e usos que essas cidades passaram a ter para a população escrava e liberta, a qual muitas vezes fez do emaranhado espaço citadino esconderijos e refúgios de liberdade. O engajamento jurídico das mulheres escravas e libertas frente às políticas graduais de abolição de cada uma dessas cidades é, pois, apresentado como mais uma característica da complexa dinâmica que permeou a escravidão urbana no Rio de Janeiro e em Havana.
A escolha pelas duas cidades não foi aleatória, muito menos pautada apenas por índices demográficos. Ainda que a autora tenha anunciado trabalhar com base na metodologia da micro-história, a abordagem comparativa que estrutura sua análise se pauta no diálogo com perspectivas mais sistêmicas da escravidão das Américas, principalmente com as balizas que norteiam a tese da segunda escravidão (Tomich, 2011). Como vem sendo defendido por uma crescente vertente historiográfica, a paridade entre Havana e Rio de Janeiro – pressuposto fundamental da análise de Camillia Cowling – seria resultado de uma série de escolhas semelhantes feitas pelas elites de Cuba e do Brasil em prol da manutenção da escravidão desde o último quartel do século XVIII até meados do século XIX, mesmo em face do crescente movimento abolicionista. Tal política pró-escravista (que também foi levada a cabo pelos Estados Unidos) teria permitido que a escravidão moderna se adequasse à expansão capitalista, criando assim um chão comum na dinâmica da escravidão nessas duas localidades, inclusive no que concerne às possibilidades legais que os escravos acionaram para lutar pela liberdade – possibilidades essas que se ampliaram após a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Não por acaso, as capitais de Cuba e do Brasil transformaram-se em espaços privilegiados para que mulheres negras, apropriando-se do próprio conceito de maternidade e ressignificando-o, utilizassem as leis abolicionistas reformistas, nomeadamente a Lei Moret de Cuba (1870) e a Lei do Ventre Livre do Brasil (1871), para resgatar seus filhos do cativeiro.
Os caminhos percorridos pelas mulheres escravas e libertas e as muitas maneiras por meio das quais elas conceberam a liberdade (de seus filhos e delas próprias) passam a ser examinados pormenorizadamente a partir da segunda parte do livro. A pretensa universalidade do direito sagrado da maternidade foi uma das ferramentas utilizadas nos discursos abolicionistas do Brasil e de Cuba, os quais apelavam para um sentimento de igualdade entre as mães, independentemente de sua cor ou condição jurídica. Como destaca a autora, a evocação do sentimento de emoção transformou-se numa estratégia importante do movimento abolicionista que, a um só tempo, pregava a sacralidade da maternidade e ajudava a forjar um novo código de conduta da elite masculina, que começava a enxergar a mulher escrava de outra forma.
Camillia Cowling demonstra que a sacralidade universal da maternidade foi apreendida de diferentes formas nas sociedades escravistas. Se por um lado, a partir da década de 1870, tal assertiva ganhou força quando a liberdade do ventre ganhou status de lei, por outro lado a pretensa igualdade que a maternidade parecia garantir para as mulheres muitas vezes parecia restringir-se ao campo jurídico, mais especificamente, à luta gradual pela liberdade. Revelando uma vez mais a complexidade dos temas abordados, Camillia Cowling destaca que esses mesmos abolicionistas muitas vezes descriam na feminilidade das mulheres negras (brutalizadas pela escravidão), colocando-se contrários às relações inter-raciais, embora defendessem a manutenção das famílias negras.
Todavia, nesse contexto, o ponto alto do livro reside justamente no exame das estratégias empregadas pelas mulheres negras para lutar, juridicamente, pela liberdade não só de seu ventre, mas de seus filhos. A compreensão que essas mulheres tinham das leis graduais de abolição; o entendimento também compartilhado por elas de que as cidades do Rio de Janeiro e de Havana não eram apenas espaços privilegiados para suas lutas, mas também uma parte importante para a definição do que a liberdade poderia significar; e as redes de solidariedade tecidas por essas mulheres, que muitas vezes extrapolavam os limites urbanos, são algumas das questões trabalhadas pela autora.
Os desdobramentos dessas questões são muitos, a maioria dos quais analisada por Camillia Cowling na última parte de seu livro. As concepções que as mulheres negras desenvolveram sobre liberdade e feminilidade com base na maternidade merecem especial atenção, pois elas permitem, em última instância, redimensionar os conceitos de escravidão e, sobretudo, de liberdade nos anos finais de vigência da instituição escravista das Américas e nos primeiros anos do Pós-abolição. Se é verdade que, assim como aconteceu como Josepha Gonçalves e Ramona Oliva, a luta jurídica pela liberdade de seus filhos não teve o desfecho desejado e eles continuaram na condição de cativeiro, os caminhos e lutas trilhados por elas não só criaram outras formas de resistência à escravidão – que por vezes, tiveram outros desfechos -, como ajudaram a pautar práticas de liberdade e de atuação política que ganhariam novos contornos na luta pela cidadania plena alguns anos depois.
O tratamento dado pela autora sobre a luta de mulheres/mães pela liberdade de seus filhos e a forma por meio da qual ela enquadra tais questões naquilo que se convém chamar de “contexto mais amplo” faz que Conceiving Freedom possa ser tomado como uma importante contribuição nos estudos da escravidão urbana, não só por sua perspectiva comparada, mas também por trabalhar num território de fronteira da historiografia clássica, demonstrando que os limites entre o mundo escravista e o mundo da cidadania não podem ser balizados apenas pela declaração formal da abolição da escravidão. A luta começou antes dessas datas oficiais e continuou nos anos seguintes, sobre isso não restam dúvidas. Todavia, o protagonismo desse movimento não se restringiu às ações dos homens que lutaram pela abolição. Ao invés de fechar uma temática, o trabalho de Cowling indica novos caminhos num campo que poderá trazer contribuições promissoras para os estudos da escravidão e da liberdade nas Américas.
Por fim, vale ressaltar que num momento político como o atual, em que tanto se fala, se discute e se experimenta o empoderamento de mulheres negras, o livro de Camillia Cowling é igualmente bem-vindo. Não só por iluminar trajetórias que foram silenciadas ou tratadas como simples anedotas (demonstrando que a luta não é de hoje), mas igualmente por permitir repensar os moldes e os modelos por meio dos quais as histórias e as memórias da escravidão e da luta pela liberdade são construídas.
Referências
TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Edusp, 2011. [ Links ]
Ynaê Lopes dos Santos – Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Professora Adjunta de História da Escola Superior de Ciências Sociais CPDOC-FGV. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: ynae.santos@fgv.br.
Um estilo de história: a viagem, a memória, o ensaio: sobre Casa-grande & senzala e a representação do passado – NICOLAZZI (RBH)
NICOLAZZI, Fernando. Um estilo de história: a viagem, a memória, o ensaio: sobre Casa-grande & senzala e a representação do passado. São Paulo: Ed. Unesp, 2011. 484p.Resenha de: PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, no.72, MAI./AGO. 2016.
Tanto já se escreveu sobre Gilberto Freyre, e particularmente sobre Casa-grande & senzala, que está cada vez mais difícil se dizer alguma coisa nova e significativa sobre o autor ou sobre o livro de 1933. O risco de “chover no molhado”, como o próprio Nicolazzi diz, é bastante grande. Entre os estudiosos anteriores de Casa-grande, Nicolazzi está mais próximo de Ricardo Benzaquen, cujo trabalho reconhece como inspirador, mas oferece uma visão propriamente sua da obra de Freyre.
Um estilo de História é uma versão ligeiramente modificada de uma tese de doutorado defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2008, que recebeu o prêmio Manoel Luiz Salgado Guimarães da Anpuh em 2010. Apesar de Nicolazzi não ter aproveitado esse lapso de 7 anos entre a defesa e a publicação de 2015 para fazer referência aos estudos publicados nesse intervalo, dá uma contribuição original para a montanha do que se pode chamar de “Estudos Freyreanos”, examinando Casa-grande de vários ângulos. Como o próprio autor confessa logo no início, seu livro é “um conjunto de ensaios travestido em tese universitária”, o que é muito apropriado no caso do estudo de um autor que adorava o gênero ensaístico e descrevia até mesmo sua volumosa obra de novecentas e tantas páginas, Ordem e Progresso, como um “ensaio”. O que mantém Um estilo de História mais ou menos coeso é o argumento do autor de que Freyre escolheu um estilo de representação do passado, um modo de proximidade, que diferia muito das representações anteriores empregadas por antigas histórias do Brasil; e que esse estilo pode ter mesmo sido adotado por Freyre em resposta direta a Os sertões.
Para justificar sua tese sobre representações, Nicolazzi adota o método de leitura atenta (close reading) dos textos para chegar a conclusões sobre o estilo, as estratégias literárias e os modos de persuasão tanto de Euclides da Cunha quanto de Gilberto Freyre. Seus sete ensaios-capítulos são organizados em três seções. A primeira se inicia com um relato da recepção de Casa-grande no Brasil (em outras palavras, representações de uma representação), e daí se volta para os dez prefácios do autor, nos quais ele se defendia contra más representações de sua obra, ou deturpações, e conversava, por assim dizer, com seus resenhistas. A segunda seção, que compreende mais dois ensaios, deixa Freyre de lado para se concentrar em Euclides da Cunha. A terceira seção retorna a Freyre, com três capítulos dedicados respectivamente a viajantes, memórias e ao próprio gênero do ensaio. Nicolazzi considera Freyre um viajante que privilegiava o testemunho de outros viajantes e oferecia aos seus leitores a sensação de estarem viajando ou no espaço ou no tempo. Também enfatiza a importância das memórias em Casa-grande: as do próprio autor, as de sua família e as dos indivíduos que entrevistou, o mais famoso dos quais foi o ex-escravo Luiz Mulatinho. O livro termina com um ensaio sobre o ensaio, refletindo sobre ensaios históricos e sobre a tradição brasileira do ensaísmo, a fim de buscar a singularidade da contribuição de Freyre para essa tradição.
Um estilo de História é fruto de uma leitura vasta e variada, que inclui não somente a historiografia, de Heródoto a Hayden White, mas também filosofia, literatura, psicologia, sociologia e antropologia, os campos nos quais o próprio Freyre estava muito à vontade. Nas páginas de Nicolazzi, Paul Ricoeur está ao lado de Wolf Lepenies, Roland Barthes ao lado de Clifford Geertz, Oliver Sacks de Quentin Skinner, François Hartog de Walter Benjamin, Jean Starobinski de Frank Ankersmit, Michael Baxandall de Gérard Genette, além de outros. Enfim, tantos nomes, tantas luzes a iluminar um texto.
Assim como a justaposição do livro de Euclides com o de Sarmiento, Civilização e barbárie, se tornou um tópos, o mesmo aconteceu com a comparação e o contraste entre Os sertões e Casa-grande, que novamente coloca a representação do “outro” versus a representação de “nós” em pauta. No entanto, Nicolazzi desenvolve esse contraste de modo interessante e valioso, focalizando pontos de vista. Segundo ele, o contraste essencial entre Freyre e Euclides – cujo trabalho Freyre estudou cuidadosamente e sobre o qual escreveu mais de uma vez – é que Euclides exemplifica o que Claude Lévi-Strauss chamou de “olhar distante”, observando e representando outra cultura como se estivesse pairando alto no ar; uma cultura que ele via como oposta à sua própria, ou seja, uma representando a civilização, e a outra, a barbárie. Sua estratégia literária era a do naturalista, registrando detalhes com o espírito de um cientista, uma espécie de Émile Zola do sertão. Em contraste, Freyre, como um antropólogo no campo, tentava chegar perto dos escravos e ainda mais perto dos senhores (e das senhoras) de engenho sobre os quais escreveu. Como Michelet – e diferentemente de Euclides – Freyre tentava evocar o passado, suprimir a distância e identificar-se com os mortos e com tudo o que já se foi. Ele pode até ser criticado – e o foi por Ricardo Benzaquen – por estar “correndo o risco de uma proximidade excessiva”.
Há muito a ser dito em favor desse contraste. Afinal de contas, Freyre disse em certa ocasião que “o passado nunca foi, o passado continua”. Sua “história íntima” e sua “história sensorial” tentavam exatamente tornar os leitores capazes de ver, ouvir, cheirar, sentir o gosto e até mesmo tocar o passado. O elemento autobiográfico em Casa-grande, enfatizado ainda mais em 1937 em seu Nordeste, é efetivamente central, e a confusão entre a vida do autor, de sua família e de sua região natal (ilustrada pelo uso frequente que Freyre faz da primeira pessoa do plural) é, na verdade, reminiscente de Michelet.
No entanto, a oposição entre distância e proximidade precisa ser qualificada, se não mesmo questionada – do mesmo modo como o próprio Freyre gostava de primeiro estabelecer, para depois solapar as categorias opostas de sobrados e mocambos, ordem e progresso, e assim por diante. Pois Freyre não era adepto de polaridades rígidas – que não davam conta dos paradoxos, contradições e complexidades da realidade humana – e se apelava para oposições binárias, sua estratégia era sempre enfraquecê-las por meio de mediações entre opostos, para o que o uso de termos recorrentes como quase-, para-, semi- se adaptava muito bem.
Assim, no que diz respeito à proximidade que Freyre pretenderia ter de seu objeto de estudo, deve-se acrescentar que ele também era capaz de ver seu próprio país com olhos estrangeiros. Seu emprego recorrente de textos escritos por viajantes como evidência não somente dá aos leitores a sensação de “estarem lá”, como Nicolazzi sugere, mas também os provê com distanciamento, já que os viajantes são frequentemente estrangeiros que podem ver mais facilmente o que nativos não veem. De qualquer modo, em algumas de suas passagens menos memoráveis, Freyre escorrega de seu estilo usualmente vívido e subjetivo e cai, por assim dizer, numa linguagem acadêmica, objetiva, escrevendo no capítulo 1, por exemplo, que “por mais que Gregory insista em negar ao clima tropical a tendência para produzir per se sobre o europeu do Norte efeitos de degeneração … grande é a massa de evidências que parecem favorecer o ponto de vista contrário”. Aqui, como em outros pontos da obra, a proximidade e a subjetividade do estudo da sociedade patriarcal dão lugar ao distanciamento e à objetividade. Pode-se, pois, descrever Casa-grande muito apropriadamente como um livro híbrido, não somente no sentido de combinar técnicas científicas e de ficção, como Nicolazzi aponta, mas também por se mover entre o fora e o dentro, entre distância e proximidade.
Como uma boa tese de doutorado, Um estilo de História é extremamente minuciosa e, em certos aspectos, ainda “cheira” a uma tese no sentido de que o autor não parece saber bem quando parar, repetindo argumentos e mesmo citações (uma delas três vezes) a fim de fortalecer seu argumento. Os leitores, ou ao menos alguns deles, podem ter às vezes a sensação de que Nicolazzi está usando uma marreta para abrir uma noz. Como muitas teses brasileiras, Um estilo de História está também sobrecarregada de reflexões sobre método e teoria, assim como apoiada em grande bagagem intelectual, desconsiderando, às vezes, o princípio conhecido como “o rifle de Chekhov”. Chekhov certa vez aconselhou os escritores a “removerem tudo que não tem relevância para a estória. Se você diz no capítulo primeiro que tem um rifle pendurado na parede, no segundo ou no terceiro esse rifle tem necessariamente de ser usado para atirar em alguma coisa. Se não for para ser disparado, então o rifle não deveria estar pendurado lá”. Do mesmo modo, se a Metahistory de Hayden White é discutida na introdução, como foi o caso, os leitores seguramente têm o direito de esperar que o livro de White seja usado mais tarde, discutindo, por exemplo, se Casa-grande & senzala foi “encenada” como uma comédia ou romance. Essas expectativas, no entanto, são frustradas.
Outra questão que importa levantar diz respeito ao uso acrítico que Nicolazzi fez, algumas vezes, dos escritos autobiográficos de Freyre, especialmente de seu “diário da juventude”. Esse texto ocupa lugar importante no livro para reforçar seu argumento sobre a legitimidade que as experiências vividas por Freyre dão ao estilo de história que escolheu escrever. Há evidências de que esse diário “da juventude”, publicado em 1975, não foi efetivamente redigido entre 1915 e 1930, tal como o Freyre maduro – tão envolvido em self-fashioning – quis fazer crer. Ele era, na verdade, exímio na arte da autoapresentação, produzindo com esmero a imagem que os leitores deveriam ter dele. Nicolazzi reconhece isso logo na primeira parte de seu livro. No entanto, várias vezes utilizará esse “diário”, ou ensaio-memória, como se ele representasse fielmente o que o autor fizera ou pensara quando ainda estava para escrever Casa-grande. É de se crer que esses deslizes se devam ao fato de o livro incluir textos escritos em momentos diversos, e que falhas ou descuidos como esses compreensivelmente escaparam na revisão.
Não obstante esses pequenos senões, Um estilo de História é livro inovador e perspicaz que elucida, inspira e instiga a curiosidade do leitor. É também valioso por tratar de ideias de proximidade e distância nos moldes de alguns estudos recentes e refinados sobre “distância histórica”, em especial os desenvolvidos por Mark Phillips e alguns de seus colegas. Particularmente interessante é a diferenciação que Phillips faz entre distância e distanciamento, o primeiro uma postura espontânea entre os historiadores, o segundo uma estratégia proposital usada por alguns deles para trazer o passado para perto do leitor, como num close-up, quando assim acham importante, ou distanciar o passado para obter outros efeitos. Enfim, a retórica da proximidade e da distância como uma ferramenta que alguns historiadores usam conscientemente, como um romancista, para causar determinados efeitos em seus leitores, é uma linha de estudos fecunda à qual o livro de Nicolazzi pode ser associado. E, nesse sentido, Um estilo de História tem o grande mérito de potencialmente acenar para um novo e promissor fio a ser seguido pelos estudiosos de historiografia e de Gilberto Freyre.
Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke – Research Associate, Centre of Latin American Studies, University of Cambridge. Cambridge, UK. E-mail: mlp20@cam.ac.uk.
Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação – SCOTT; HÉBRARD (RBH)
SCOTT, Rebecca J. Hébrard, Jean M. Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação. Campinas: Ed. Unicamp, 2014. 296p. Tradução de Vera Joscelyne. Resenha de: MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, no.72, MAI./AGO. 2016.
Doze milhões de pessoas foram transportadas involuntariamente do continente africano para as Américas entre os séculos XV e XIX para serem vendidas como escravas. Em Provas de liberdade, Rebecca Scott e Jean Hébrard reconstituíram a trajetória de uma delas, Rosalie, de nação Poulard, e seguiram seus descendentes por cinco gerações historiando grandes temas da era contemporânea como a abolição da escravidão de africanos, a cidadania e as lutas contra o racismo.
Rebecca Scott, professora de História da América Latina e de Direito da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, é conhecida do público brasileiro por seu livro Emancipação escrava em Cuba, cuja abordagem da desintegração da escravidão na colônia espanhola deu poder explicativo para a mobilização de escravos e libertos e teve um impacto significativo na historiografia brasileira da escravidão. Jean Hébrard é um dos diretores do Centre de Recherches sur le Brésil Colonial et Contemporain da École des Hautes Études en Sciences Sociales, na França, e professor visitante de História da América Latina e Caribe na Universidade de Michigan. O livro, publicado em inglês em 2012, rendeu aos autores dois prêmios da American Historical Association concedidos a livros sobre a História das Américas e sobre História Atlântica, em 2012, e um da Sociedade Americana de Estudos Franceses e do Instituto Francês de Washington para livros sobre temas comuns à França e às Américas, em 2013. Como Papeles de libertad, foi publicado em Cuba pelas Ediciones Unión e na Colômbia pelo Instituto Colombiano de Antropologia e História (ICANH). A edição brasileira, da Editora da Unicamp, contou com tradução de Vera Joscelyne e revisão técnica por equipe coordenada pelos autores e incluiu ilustrações, um mapa e um índice apenas onomástico – quando a edição original tinha índice remissivo onomástico e temático.
Provas de liberdade, como todo bom livro, tem diferentes camadas de entendimento e apreciação. Historiadores de qualquer área vão reconhecer a extensão da pesquisa e a originalidade da proposta metodológica; os especialistas na área de escravidão vão observar as contribuições historiográficas, e o público não especialista terá uma leitura prazerosa, emocionante e surpreendente.
Como relatam os autores, a pesquisa começou com a descoberta de uma carta no Arquivo Nacional de Cuba enviada da Bélgica por Edouard Tinchant ao general cubano Máximo Gomez no fim do século XIX. Nela, Tinchant declarava simpatia pela causa da independência de Cuba e associava a sua trajetória e a de sua família às lutas por cidadania e contra o racismo. Scott e Hébrard partiram, então, a verificar e reconstituir a história dessas pessoas que “personifica[vam] uma conexão entre três das maiores lutas antirracistas do ‘longo século XIX’: a Revolução Haitiana, a Guerra Civil e a Reconstrução nos Estados Unidos, e a Guerra Cubana pela independência” (p.17). O método, que os autores batizaram de “micro-história em movimento”, consistiu em seguir o rastro documental da família de Edouard Tinchant, duas gerações para trás e duas para a frente, por meio de documentos públicos e privados de todo tipo, garimpados em arquivos de oito países em três continentes e, na falta deles, preencher os vazios com dados que se associavam às trajetórias seguidas tanto por proximidade quanto por probabilidade. Sabendo, por exemplo, pela certidão de nascimento da mãe de Edouard, Elisabeth, que a mãe dela era Marie Françoise, conhecida por Rosalie, negra de nação Poulard, Scott e Hébrard puderam situar seu local de origem, a colônia francesa do Senegal, e o período aproximado de sua venda para o tráfico atlântico entre a Senegâmbia e Santo Domingo, o final da década de 1780. A falta de registros pessoais da primeira fase da vida da mulher que mais tarde se chamaria Rosalie foi então contornada pelos autores com o recurso a relatos contemporâneos de europeus, a documentos sobre a escravidão na colônia francesa do Senegal e à literatura secundária sobre a África Ocidental, o Islã na África e o tráfico atlântico do final do século XVIII.
No início da década de 1980, quando a área de estudos de escravidão começava a ganhar contornos e os especialistas ainda cabiam em um auditório, esboçava-se uma transição entre abordagens: de um lado, a do sistema de organização do trabalho e exploração dos trabalhadores, que dialogava com as teorias econômicas, e de outro, a das relações entre sujeitos históricos com autodeterminação, que abria o leque de influências disciplinares para incluir a sociologia, a antropologia e a linguística. Nessa fase, os historiadores passaram a observar mais de perto os mecanismos de reprodução do sistema, seus “segredos internos”, e com isso o comportamento dos grupos sociais, seus interesses e conflitos. O reconhecimento do protagonismo dos sujeitos históricos das camadas subalternas abriu espaço para que se multiplicassem as pesquisas em que a escala de análise dos diversos temas – trabalho, família, resistência, identidade étnica, práticas mágicas e religiosidade, entre outros – fosse a do indivíduo.
Depois de três décadas de grande florescimento e efervescência, a abordagem centrada nas pessoas escravizadas se vê às voltas com críticas acerca da representatividade dos sujeitos escolhidos e também da relevância dos seus achados para o entendimento dos grandes processos da História. Por isso, Provas de liberdade é ao mesmo tempo um libelo em defesa do jogo de escalas e uma demonstração de como proceder para incorporar o protagonismo dos sujeitos em uma análise dos processos históricos.
Os autores não trataram seus personagens como típicos ou excepcionais. A cada momento, na geração de Rosalie, de sua filha Elisabeth, de seu neto Edouard Tichant ou dos sobrinhos e sobrinhos-netos dele, Scott e Hébrard buscaram retratar momentos difíceis de tomada de decisão, de escolhas entre diferentes caminhos possíveis. Cada capítulo acaba com alguém embarcando rumo a uma nova fase na vida, sempre sob pressão ou ameaça. Foi assim quando Rosalie, já liberta, mas sem documento oficializado de sua liberdade, teve que fugir de Saint Domingue para Cuba com a filha Elisabeth em 1803, ou ainda quando a africana embarcou Elisabeth com sua madrinha para New Orleans, na Louisiana, em 1809 e voltou para o Haiti, agora independente. Foi ainda o caso da escolha feita por Elisabeth e seu marido, Jacques Tinchant, ele também filho de emigrantes haitianos de origem africana, de partir com quatro filhos para a França, país onde teriam direitos civis que não eram reconhecidos às pessoas livres de cor na Louisiana escravista da década de 1840. Foi igualmente a escolha de Edouard, nascido na França em 1841, de se juntar a dois de seus irmãos que trabalhavam em manufaturas de charutos em New Orleans. Na Louisiana, Edouard se engajou num batalhão de pessoas de cor durante a Guerra Civil, do lado da União, e depois entrou para a política, sendo eleito deputado da Assembleia Constituinte da Louisiana durante a Reconstrução, quando defendeu a igualdade de direitos civis, políticos e públicos para todos os cidadãos. Em cada trajetória e em cada momento vemos sujeitos fazendo escolhas em condições adversas, reagindo às limitações impostas pela conjuntura, protagonizando eventos e processos históricos como as transformações da escravidão e sua abolição, o pós-emancipação, ou mesmo a resistência ao nazismo na Segunda Guerra Mundial, história que antes víamos apenas de longe.
O diferencial metodológico do livro está na aproximação com o campo do Direito. Em primeiro lugar, os autores lançaram um novo olhar para os registros individuais. Sob a lupa do historiador cuidadoso, os documentos revelaram histórias complexas da aquisição e exercício de direitos (à propriedade, à liberdade, à nacionalidade, à cidadania), desnaturalizando-os e inscrevendo-os num campo de disputas. Assim, o direito à propriedade sobre escravos pode vir de uma apropriação ilegítima, posteriormente formalizada, como a que aconteceu entre milhares de ex-escravos de Saint Domingue que migraram para Cuba e depois para a Louisiana, onde a escravidão persistia: acabaram reescravizados. Em segundo lugar, Scott e Hébrard convidam os leitores a perceber como os protagonistas conferiam importância aos documentos escritos, mesmo que às vezes não pudessem ler. Essa consciência levou Rosalie a fazer questão de uma carta de alforria mesmo já sendo emancipada, pois nos territórios para onde iria ainda havia escravidão e ela sabia que precisaria provar sua condição. Nisso, percebemos que o entendimento sobre o significado e mesmo o conteúdo dos documentos sempre esteve em disputa entre as diversas forças sociais (incluindo as autoridades), e que as pessoas frequentemente se moviam na incerteza; não havia garantia plena de que uma pessoa livre de cor não fosse reescravizada, pois a fronteira entre escravidão e liberdade era bem mais porosa e cinzenta do que antes imaginávamos. Por último, é preciso ressaltar novamente a importância da abordagem simultânea em diferentes escalas, pois, ao narrar a história pelo fio condutor dos embates dessa família pelo reconhecimento de direitos – à liberdade, à respeitabilidade, à dignidade e igualdade perante a lei – os autores fizeram uma história social centrada na luta por direitos, sobretudo direitos humanos, no período entre a Revolução Francesa e o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o protagonismo dos negros, mulheres e povos submetidos à colonização forçou sua ressignificação e ampliação até serem reconhecidos como universais.
Em suma, Provas de liberdade é uma obra acadêmica rigorosa e inovadora que os leitores terão o prazer de ler como um romance.
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC, Brasil. beatriz.mamigonian@ufsc.br.
A cosmologia construída de fora: a relação com o outro como forma de produção social entre os grupos chaquenhos no século XVIII – FELIPPE (RBH)
FELIPPE, Guilherme Galhegos. A cosmologia construída de fora: a relação com o outro como forma de produção social entre os grupos chaquenhos no século XVIII. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2014. 376p. Resenha de: BASQUES JÚNIOR, Messias Moreira. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36,, n.71, jan./abr. 2016.
O livro A cosmologia construída de fora foi originalmente escrito como tese de doutorado e recebeu o Prêmio Capes na área de História em 2014. Trata-se de uma importante contribuição à história e à etnologia indígena das Terras Baixas da América do Sul, pois se baseia em uma aproximação bem-sucedida entre pesquisas antropológicas e um extenso corpo documental referente às práticas e concepções de povos chaquenhos e às suas relações com o outro no século XVIII: afins e inimigos, missionários e invasores europeus. O livro tem o mérito de abordar uma região pouco estudada pela antropologia brasileira: o Grande Chaco, uma das principais regiões geográficas da América do Sul e que constitui zona de transição entre a planície da bacia amazônica, a planície argentina e a zona subandina.2 A análise de registros produzidos por observadores civis e religiosos ao longo do século XVIII evidencia o contraste entre o discurso europeu, centrado na denúncia da barbárie e da inconstância que caracterizariam os nativos, e o modo propriamente indígena de responder ao avanço colonial. Felippe examina três aspectos da cosmologia chaquenha: a guerra, a reciprocidade, e o regime de produção e consumo alimentar. O fio condutor da análise é a mitologia desses povos, aqui entendida como fonte de conhecimento sobre o pensamento ameríndio.
Desde o título até suas páginas finais, o livro demonstra a fertilidade da proposição levistraussiana a respeito da importância da “abertura ao outro” no pensamento ameríndio e nos modos pelos quais esses povos costumam se situar diante da alteridade. Segundo Anne-Christine (Taylor, 2011), essa característica foi desde cedo detectada por Claude Lévi-Strauss, como mostram os dois artigos por ele publicados no ano de 1943 e que estabeleciam “o aspecto sociologicamente produtivo da guerra vista como forma de vínculo … e a primazia da afinidade no universo social dos índios, a primazia da relação com o não-idêntico sobre as ligações de consanguinidade ou, mais exatamente, de identidade” (Taylor, 2011, p.83). O tema da “abertura ao outro” inspirou profundamente os autores mobilizados por Felippe em seu diálogo com a antropologia e, sobretudo, com a etnologia amazonista. Inserindo-se nessa tradição, Felippe apresenta uma descrição histórica e etnográfica que corrobora uma tendência recente da antropologia chaquenha de acentuar as ressonâncias entre os povos da região e aqueles da Amazônia. Retomando o clássico artigo de (Seeger et al., 1979), alguns autores têm defendido a existência de um “pacote amazônico” (Londoño Sulkin, 2012, p.10) cujos componentes também estariam presentes no Grande Chaco e dentre os quais se destacam: o foco no corpo humano e seus elementos como matriz primária de significado social e a existência de um cosmos perspectivista que se encontraria mediado por relações com alteridades perigosas e potencialmente fecundas (Echeverri, 2013, p.41).
O primeiro capítulo trata dos mitos indígenas como construção da realidade, partindo de uma reflexão teórica acerca das diferenças entre o conhecimento objetivo e subjetivo, bem como das concepções de natureza e cultura que fundamentavam o cotidiano e os conhecimentos dos povos chaquenhos no século XVIII. Apesar da grande variedade de versões registradas nas fontes documentais, pode-se notar que, quando tomadas em conjunto, as narrativas míticas refletem problemas similares, como o tema da origem da humanidade e dos animais a partir de uma mesma constituição ontológica, de um fundo comum marcado pela comunicação interespecífica e pela partilha de subjetividade e da capacidade de agência. Felippe descreve como a absorção de ele- mentos exógenos era o eixo do pensamento indígena e, nesse sentido, as transformações criativas que se podem observar na mitologia desses povos revelariam a sua forma de refletir e de responder aos “brancos”, ora incorporando, ora recusando elementos do cristianismo, bem como os objetos, animais, atividades e tecnologias trazidos pelos europeus.
No segundo capítulo, a guerra aparece como meio por excelência para a internalização do outro e como produtora de relações entre diferentes sociedades e no interior de cada uma delas. Nas palavras do autor, a guerra chaquenha era diametralmente oposta à guerra praticada pelos europeus, pois “não se fundamentava na extinção do inimigo, nem na busca pela paz. Era, em realidade, o método mais eficaz de estabelecer relações e, consequentemente, movimentar o meio social” (Felippe, 2014, p.121). O modelo utilizado na análise da guerra chaquenha é “amazônico” e se apoia nas teorias da “economia simbólica da alteridade” (Viveiros de Castro, 1993) e da “predação familiarizante” (Fausto, 1997). A hipótese, em suma, é a de que em ambas as regiões encontraríamos “economias que predam e se apropriam de algo fora dos limites do grupo para produzir pessoas dentro dele” (Fausto, 1999, p.266-267).
Esse capítulo oferece um sólido contraponto às teses que defendem a ocorrência de escravidão – e o uso desse conceito na análise das práticas de apresamento – entre os ameríndios (cf. Santos-Granero, 2009), pois Felippe demonstra que “ao grupo vencedor interessava capturar pessoas e levá-las à sua aldeia como cativos de guerra, porém sem a intenção de mantê-los prisioneiros ou fazer deles escravos” (2014, p.175). Isto é, os cativos de guerra não eram con- vertidos em mercadorias e não viviam sob a lógica de uma objetificação de caráter utilitário: “se havia algum acúmulo era de relações sociais, e não de bens” (p.213). O mesmo pode ser dito acerca dos frequentes roubos e assaltos entre os povos da região e, sobretudo, contra reduções jesuíticas, cidades e vilarejos, práticas estas que lhes permitiam a obtenção de montaria, de armas e de bebidas alcoólicas, e que serviriam para intensificar uma lógica preexistente de captura do outro. Em suma, as reduções e as rotas de comércio “proporcionaram aos índios vantagens materiais e estratégicas que acrescentavam elementos à dinâmica relacional nativa – ao invés de substituí-la” (p.141).
A economia indígena é o tema da última parte do livro. No terceiro capítulo, retrata-se o avanço colonial por meio da implantação de relações comerciais e da integração dos povos nativos ao sistema mercantil. Sem menosprezar a violência e as suas consequências, o autor argumenta que os chaquenhos não foram meramente integrados ao mercantilismo, já que são abundantes os relatos acerca do protagonismo indígena no que concerne à potencialização das relações de reciprocidade com outros povos por intermédio de sua participação no comércio e na circulação de mercadorias não indígenas. Não obstante os esforços dos jesuítas para incutir entre os indígenas o sentido da falta e o desejo pela produção de excedentes, Felippe nos mostra que os missionários repetidamente testemunharam o fracasso dessa “conversão” para uma economia de acumulação. Segundo o autor, os Jesuítas não mediram esforços para “introduzir nos índios a insegurança que os modernos tinham em relação ao futuro” (Felippe, 2014, p.305-306). No entanto, se a inconstância era a resposta indígena diante da obrigatoriedade da crença, a prodigalidade parece ter sido a sua contrapartida às ideias de contrato e previdência.
O quarto capítulo apresenta as razões de outra recusa: a não incorporação de métodos e técnicas do sistema econômico moderno, em especial, da agricultura como forma de produção de excedente e da domesticação de animais para reprodução. Inspirando-se em (Sahlins, 1994, p.163), Felippe procura de- monstrar que as razões dessa recusa não se resumiam a uma divergência de percepções ou aos limites do entendimento dos povos nativos, conforme alegavam os missionários e agentes burocráticos ou coloniais, pois “o problema não era empírico, nem tampouco prático: era cosmológico”. Daí os índios que optaram por ou foram cooptados a viver nos povoados missioneiros não terem se dedicado à domesticação de animais, tampouco demonstrado interesse pela manutenção do “stock de subsistência” oferecido nas haciendas. A recusa à domesticação seria, desse modo, o “efeito de uma impossibilidade”, pois “tudo se passa como se entre o amansamento dos animais autóctones passíveis de ser caçados e sua domesticação verdadeira havia um passo que os ameríndios sempre se recusaram a dar” (Descola, 2002, p.103, 107). A resiliência indígena frustrava os missionários, que denunciavam o fato de consumirem “com desordem o rebanho destinado a sua manutenção” (Fernández, 1779 apud Felippe, 2014, p.315) e de sua economia de produção alimentar se limitar ao consumo imediato, mesmo nos casos de povos horticultores.
A invasão europeia no Chaco e o avanço da empresa colonizadora provocaram grande movimentação de povos indígenas, bem como o seu decréscimo populacional e o extermínio de tribos marginais à área chaquenha. Diante das transformações por que passaram, não podemos negligenciar a distância que se impõe entre os modos de vida indígena pré e pós-conquista. Entretanto, há um inegável “ar de familiaridade” (Fausto, 1992, p.381) entre os relatos sobre os chaquenhos dos Setecentos analisados por Guilherme Galhegos Felippe e os povos que hoje se encontram nessa região, o que torna o seu livro leitura obrigatória para antropólogos e historiadores interessados no Grande Chaco e em suas ressonâncias com a história e a cultura dos povos indígenas das Terras Baixas da América do Sul.
Referências
DESCOLA, Philippe. Genealogia dos objetos e antropologia da objetivação. Horizontes Antropológicos, v.8, n.18, p.93-112, 2002. [ Links ]
ECHEVERRI, Juan Álvaro. La etnografía del Gran Chaco es amazónica, In: TOLA, F. et al. Gran Chaco. Ontologías, poder, afectividad. Buenos Aires: Asociación Civil Rumbo Sur, 2013, p.41-43. [ Links ]
FAUSTO, Carlos. A dialética da predação e da familiarização entre os Parakanã da Amazônia oriental: por uma teoria da guerra ameríndia. Tese (Doutorado) – PPGAS-Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, 1997. [ Links ]
FAUSTO, Carlos. Fragmentos de História e Cultura Tupinambá: da etnologia como instrumento crítico de conhecimento etno-histórico. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.) História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.381-396. [ Links ]
_____. Da inimizade: forma e simbolismo da guerra indígena. In: NOVAES, Adauto (Ed.) A outra margem do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p.251-282. [ Links ]
LONDOÑO SULKIN, Carlos David. People of Substance: An Ethnography of Morality in the Colombian Amazon. Toronto: University of Toronto Press, 2012. [ Links ]
MITCHELL, Peter. Horse nations: The Worldwide Impact of the Horse on Indigenous Societies Post-1492. Oxford: Oxford University Press, 2015. [ Links ]
SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. [ Links ]
SANTOS-GRANERO, Fernando. Vital Enemies: Slavery, Predation and the Amerindian Political Economy of Life. Austin: University of Texas Press, 2009. [ Links ]
SEEGER, Anthony; DA MATTA, Roberto; VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. Boletim do Museu Nacional, Rio de Janeiro, n.32, p.2-19, 1979. [ Links ]
TAYLOR, Anne-Christine. Dom Quixote na América: Claude Lévi-Strauss e a antropologia americanista. Sociologia & Antropologia, v.1, n.2, p.77-90, 2011. [ Links ]
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Alguns Aspectos da Afinidade no Dravidianato Amazônico. In: _____.; CUNHA, Manuela C. da (Org.) Amazônia: Etnologia e História Indígena. São Paulo: NHII/USP-Fapesp. p.149-210, 1993. [ Links ]
Notas
2A palavra “chaco” deriva do Quechua e significa “grande território de caça” (MITCHELL, 2015, p.15).
Messias Moreira Basques Júnior – Doutorando em Antropologia Social, PPGAS/Museu Nacional/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: messias.basques@gmail.com.
[IF]Lealdades negociadas: povos indígenas e a expansão dos impérios ibéricos nas regiões centrais da América do Sul (segunda metade do século XVIII) – CARVALHO (RBH)
CARVALHO, Francismar Alex Lopes de. Lealdades negociadas: povos indígenas e a expansão dos impérios ibéricos nas regiões centrais da América do Sul (segunda metade do século XVIII). São Paulo: Alameda, 2014. 596p. Resenha de: MAIA, Lígio de Oliveira. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, n.71, jan./abr. 2016.
Índios missioneiros, infieles, “administrados”, “apóstatas”, cabildantes e índios comuns, usados como canoeiros, ferreiros, carpinteiros, “presidiários”, escravos e força militar; aqueles não integrados à política indigenista eram os índios “independentes”, os “bárbaros”: conhecida imagem política e/ou jurídica a justificar ora a guerra ofensiva ora a guerra defensiva. Entre uns e outros e os diferentes sistemas de integração dos povos indígenas em áreas de fronteira em disputa entre Portugal e Castela, nas regiões centrais da América do Sul, os caciques, figuras coloniais que terão novas atribuições com a secularização das missões religiosas a partir da segunda metade do século XVIII, constituíam outras personagens imprescindíveis na formulação das políticas ibéricas. Mas não só. Juntem-se a esse cadeirão cultural nas “raias dos impérios” – como afirma o autor mais de uma vez ao longo da obra – quilombolas, “renegados”, vadios, negros escravos e forros, colonos pobres livres e toda forma arbitrária de identificação de marginalizados, e ter-se-á o elenco da experiência humana daquelas fronteiras setecentistas apresentado em Lealdades negociadas, livro de Francismar Lopes de Carvalho.
Quanto ao cenário, trata-se de espaço fronteiriço entre a capitania de Mato Grosso e as províncias espanholas de Mojos, Chiquitos e Paraguai, no âmbito das indefinições do Tratado de Madri de 1750, impelindo a política de expansão dos impérios ibéricos à promoção de atração de populações indígenas e colonos a partir do princípio da uti possidetis. Nessa perspectiva, missões religiosas, vilas e fortes militares eram planejados e construídos não somente como marcadores de domínio, mas como centros de atração de lealdades em disputa, vassalos de todo tipo que, em maior ou menor grau, tiveram a oportunidade de negociar suas lealdades a um ou ao outro monarca.
Lealdades negociadas deve ser apontada como uma contribuição original a devassar mais uma de nossas “fronteiras” – histórica e historiográfica, vale dizer – pela densa compreensão da configuração espaço-territorial daqueles espaços liminares. Não se trata, contudo, de mera análise comparativa de viés “nacional” bastante conhecida entre nós, historiadores brasileiros, com raras exceções, quando os temas abordados são os limites setentrionais ou meridionais da América portuguesa no âmbito das disputas diplomáticas entre portugueses e outros europeus.2 Caudatário de uma perspectiva mais fluida e dinâmica do conceito de fronteira, em boa medida advinda da historiografia norte-americana, o autor reflete sobre diferentes tipos de instituições coloniais de ambos os impérios, por exemplo, a política indigenista, o recrutamento militar, os sistemas de trabalho e abastecimento, o funcionamento da administração local, a gestão espacial das missões e dos pueblos, as formas típicas de ascensão social etc., naquilo que ele denomina “abordagem relacional da situação de fronteira” (p.35). Graças a esse deslocamento, a política indígena dos “índios submetidos” – por meio de seus caciques nos pueblos e cabildos, no lado de Castela, bem como dos índios principais e câmaras municipais, nas vilas pombalinas -, mas também dos “índios independentes” – ainda não integrados à vassalagem de suas Majestades Católica ou Fidelíssima -, a ação consciente (agency) dessas personagens históricas pode ser mais bem dimensionada em sua extensão mais ampla (p.34).
Quanto a esse último aspecto, basta mencionar que a política indigenista de atração pacífica de povos não integrados dependia da situação política da área em disputa. Contribuição inovadora, ao enfatizar as noções de “fronteira externa” e “fronteira interna” – respectivamente de áreas mais claramente disputadas entre os impérios ibéricos e aquelas já pacificadas -, o autor demonstra que, nessas áreas, governadores ilustrados reformistas e elites locais, em ambos os domínios, tinham pouco ou nenhum interesse na manutenção dessa forma pacífica de aliança com os povos indígenas. Logo, da “fronteira externa à interna, a passagem era também da força do simbólico ao simbolismo da força” (p.183).
Conscientes de que tinham sua lealdade em disputa, os índios Guaykuru, por exemplo, no final do século XVIII, não se fizeram de rogados. Para aceitarem os dispositivos do diretório, no lado português, exigiram de seus interlocutores, autoridades locais, que se lhes fossem dados escravos para iniciarem as plantações de milho e feijão, “porque eles não eram captivos”; quanto à construção das casas na nova vila ou povoação a que seriam transferidos, os mesmos índios diziam “que as madeiras para ellas [casas] eram muito duras, e molestavam os hombros que todos as queriam, mas que lh’as fossem fazer os portugueses”; ainda no âmbito do diretório quanto à promoção dos casamentos mistos, “disseram todos queriam mulher portuguesa; mas com a condição de as não poderem largar até a morte, lhes pareceu inadmissível” (p.311). Esse parecer do comandante Ricardo Franco Serra, em 1803, apontava que a mo- bilidade, a guerra e a aversão dos Guaykuru aos costumes ocidentais eram elementos impeditivos de um aldeamento permanente entre eles.
Altivos, guerreiros equestres e nunca plenamente integrados à vassalagem na forma de quaisquer das políticas indigenistas de ambos os impérios, os índios da família linguística Guaykuru – os Mbayá, na documentação espanhola (p.38, nota 64) – eram exemplos modais quanto às indefinições de fronteira de domínio e de seu próprio efeito na experiência do colonialismo. Da parte dos domínios castelhanos, uma das soluções efetivas foi introduzir 25 famílias Guarani na redução de Belén, em 1760, de modo a garantir o abastecimento agrícola e servir de exemplo a aqueles “índios cavaleiros”, pois sabia-se no Paraguai e nas missões jesuíticas que os Guaykuru “desprezavam o trabalho agrícola” (p.312-313).
Entretanto, nem sempre a política de pacificação precisava culminar numa missão ou redução, pois a integração desses povos numa rede de comércio e mesmo de contrabando não era elemento menos importante em ambas as políticas.
Em Borbón, um dos 27 presídios que existiam no Paraguai no final do século XVIII e um dos dois em que os soldados venciam soldos, por inoperância deliberada da Real Hacienda era bastante comum o uso dos índios como fornecedores de provisões. O mesmo valia para o forte Coimbra, estratégica possessão portuguesa também no vale do rio Paraguai. Assim, a boa relação com os Guaykuru, então “índios amigos”, resultava em fornecimento de gado aos dois lados em disputa; da parte dos índios agricultores Guaná, recebiam porções de milho, mandioca, moranga, batatas, pescado e galinhas. Aos índios eram dados tecidos de algodão, redes e apetrechos de todo tipo, como tesouras, facões, machados etc. (p.435).
Essa dependência dos militares em relação aos índios e aos colonos moradores nas proximidades dos fortes e presídios advinha do precário tipo de “abastecimento das guarnições” (p.457). Aos governadores espanhóis e portugueses, a política de suas monarquias era a mesma: reduzir custos – da Real Hacienda e da Fazenda Real – e impelir seus soldados e oficiais a cuidarem de buscar o próprio sustento (p.471). De maneira mais abrangente, o estabelecimento dos vassalos nos territórios contestados passava pelo uso de dispositivos simbólicos de lealdades e pela transferência de gastos aos colonos (p.486). O autor nos ajuda então a compreender dois outros aspectos a partir dessas dependências: as construções tipicamente militares – fortes e presídios – adquiriram outra função para além da defesa e de postos avançados, pois eram também pontos de atração a colonos e índios não integrados; o segundo as- pecto diz respeito àquilo que o autor denomina “negociação assimétrica de lealdades” (p.30). Ora, mesmo sob condição precária, o serviço militar nunca deixara de ser um mecanismo importante de ascensão social, mesmo nas fímbrias daquela sociedade de Antigo Regime, impelindo quase todas as camadas sociais a, de alguma forma, dela participar. Entretanto, a remuneração real desses serviços tocava de maneira distinta as elites locais e os colonos pobres, homens de cor, mestiços livres e índios: “a Coroa assinalava a certos setores proprietários que não pretendia destruir suas propriedades”, pois, como assinala o autor, o pacto entre as elites locais e o poder central era a própria base da monarquia “de que estavam excluídos os despossuídos” e sobre quem recaía o recrutamento, especialmente aos “vadios” (p.345-346).
Outro ponto dos mais instigantes em Lealdadas negociadas diz respeito à política deliberada – ainda que secreta – de autoridades portuguesas em promover um sistemático circuito de contrabando no império rival. Assim, em 1761, dirigindo-se ao governador do Pará, o secretário de Estado Francisco Xavier de Mendonça Furtado referia-se ao “político uso do commercio” desde que feito “cautelozamente com os padres castelhanos”; ao governador do Mato Grosso, a mesma dissimulação barroca – como se refere o autor – ganha maior dimensão diplomática: “por que assim He conveniente ao Serviço de S. Mag.e; conservando esta ideya no mais inviolável segredo” (citado na p.512).
Vale dizer que desse contrabando, um sucesso da parte da política portuguesa, resultou a construção do monumental Forte Príncipe da Beira, iniciada em 1776 e finalizada na década de 1780, garantindo a presença portuguesa no vale do rio Guaporé à custa de ninguém menos que os próprios vassalos da monarquia rival, uma vez que curas, mercadores, missionários, militares e até governadores colaboravam com esse circuito a ligar as regiões de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba e La Plata, drenando de quebra a produção dos povos indígenas das missões de Mojos e Chiquitos. Logo, a política espanhola de monopólio da produção das missões pós-jesuítas – os religiosos foram expulsos em 1761 -, acabou por estimular sobremaneira a fuga de recursos e produtos do fiscalismo da Real Hacienda.
Ao que parece, a lealdade de vassalos tão distantes de seus monarcas, especialmente em áreas de contestação, passava pelo crivo da experiência histórica de seus inúmeros atores: “as lealdades imperiais em nada se assemelhavam a quaisquer sentimentos ‘nacionalistas’; eram antes noções instáveis de pertencimento resultantes de dispositivos materiais e simbólicos do colonialismo” (p.522).
Diante da exiguidade de espaço, nem de longe foram apontados aqui todos os temas e questões relevantes do livro. A presença dos jesuítas e a história militar da capitania de Mato Grosso – “antemural da colônia” e “chave” do domínio português nas bacias do Amazonas e do Paraguai e Paraná, como constava em uma consulta ao conselho ultramarino, em 1748 (p.45) – são histórias ainda a ser sistematizadas; de maneira mais dirigida, o mesmo vale para as duas expedições espanholas, em 1763 e 1766, destinadas a desalojar os portugueses do Mato Grosso, assunto pouco discutido na historiografia brasileira (p.387, 444-445).
Resultado de 6 anos de pesquisa entre doutorado e pós-doutoramento, Lealdades negociadas recebeu o Prêmio Científico da América Latina/ Santander Totta (Portugal), edição 2014, na categoria de melhor Tese em Ciências Sociais. Abrangendo diferentes tipos documentais em arquivos e bibliotecas em Espanha, Portugal, Brasil, Paraguai e Argentina, além de um denso diálogo bibliográfico com a literatura histórica de língua inglesa e espanhola, essa edição parece ressentir-se apenas de traduções para o português das inúmeras citações presentes no livro. A julgar por nossos alunos brasileiros, quase todos monolíngues, esse aspecto da obra não é nada irrelevante.
Referências
FARAGE, Nádia. As muralhas dos sertões: povos indígenas no Rio Branco e a colonização. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Anpocs, 1991. [ Links ]
GARCIA, Elisa F. As diversas formas de ser índio: políticas indígenas e políticas indigenistas no extremo sul da América portuguesa. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2009. [ Links ]
Notas
2 Nesse sentido, o trabalho do autor soma-se a outras pertinentes exceções. Cf. GARCIA, 2009; FARAGE, 1991.
Lígio de Oliveira Maia
[IF]
Trabalhadores e política no Brasil: do aprendizado do Império aos sucessos da Primeira República – CASTELLUCCI (RBH)
CASTELLUCCI, Aldrin A. S. Trabalhadores e política no Brasil: do aprendizado do Império aos sucessos da Primeira República. Salvador: Eduneb, 2015. 251p. Resenha de: VISCARDI, Cláudia. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, n.71, jan./abr. 2016.
O discurso historiográfico – muito por sua relação interdisciplinar com a sociologia histórica – se constrói a partir de alguns paradigmas que, embora contribuam para a apresentação dos resultados de pesquisa e confiram certo grau de objetividade ao campo, podem gerar distorções em seus resultados. Refiro-me especialmente aos conceitos e às categorias. Seu uso pode interferir sobre a pesquisa, distorcendo a análise ou funcionando como verdadeiros diques a controlar os resultados. Para ser mais específica e ir diretamente à reflexão que pretendo fazer acerca do livro de Castellucci, dois conceitos que permeiam a sua obra são postos em relação, opondo-se às abordagens anteriores que sempre os trataram como mutuamente excludentes: os conceitos de cidadania e de oligarquia. Basta recorrermos a qualquer manual da sociologia política, do mais simples ao mais sofisticado, para encontrarmos esse par de conceitos como antitéticos, na medida em que a ausência do primeiro é a essência do segundo.
A historiografia brasileira levou essa disparidade (no sentido literal de pares opostos) ao senso comum, relegando a participação política, as lutas pela cidadania, e sobretudo suas conquistas, a um período posterior à plena consolidação do capitalismo entre nós. Por essa razão, os períodos anteriores a 1930 são categorizados como oligárquicos e, por assim o serem, nenhum historiador a eles deve se dirigir na expectativa de encontrar sujeitos em luta e em exercício da cidadania política. Vistos como massas de manobra da classe senhorial, submetidos ao paternalismo, às redes clientelares ou à violência, seus atores tonaram-se destituídos de identidade e autonomia, inseridos nas categorias escravos, povo, massa, classes dominadas, pobres, desvalidos, assistidos e marginais, entre outras tantas.
Claro que muito se ganha com o uso de tais categorias. Facilitam análises, sobretudo as de caráter comparativo. Unificam o discurso, permitindo o diálogo transdisciplinar. Nos ajudam a perceber rupturas e mudanças. Mas muito se perde também, principalmente os historiadores, cujo olhar sobre o passado deve prevenir qualquer tipo de anacronismo, compreendendo os indivíduos imersos em seu tempo, sem que o seu horizonte de expectativa contamine a análise do passado. Categorias unificadoras criam sérios riscos para a análise do passado. Conceitos que hoje compartilhamos podem não fazer sentido entre os contemporâneos sobre os quais lançamos nosso olhar, como há muito nos advertiram não só os historiadores collingwoodianos, mas também os alemães liderados por Koselleck. Perde-se não só a possibilidade de nos surpreendermos com as fontes, mas também, à semelhança dos ansiosos, corre-se o risco de olhar o passado em busca do futuro, perdendo a chance de usufruir daquilo que o passado pode efetivamente nos proporcionar.
Felizmente, nos últimos anos acompanhamos tentativas bem-sucedidas de revisionismo historiográfico, feitas com o fim de romper com a camisa de força das categorias e dos conceitos e abrindo o olhar do historiador para as experiências de luta e conquista de cidadania, em passados bastante remotos. No período compreendido entre os anos finais do Império e a Primeira República, novos estudos têm revelado uma presença mais ativa dos indivíduos e grupos nos campos político e cultural. Entre eles, destaco o encontro que tive com o livro de Aldrin Castellucci e falarei das agradáveis surpresas que sua leitura me proporcionou.
Com fôlego de um nadador em águas profundas, Castellucci apresenta ao leitor um conjunto muito amplo de questões. Ao se impor tantos desafios, vê-se obrigado a encontrar suas respostas num mar de fontes. Deriva daí a primeira surpresa. Nós, pesquisadores do campo da história social e da história política, temos por fontes preferenciais a imprensa, os anais parlamentares, os documentos das associações organizadas, as estatísticas, as memórias, as correspondências e a documentação oficial. Castellucci se vale de todo esse conjunto a um só tempo, ao passo que igualmente recorre a inventários post-mortem, almanaques e testamentos. O volume é muito grande, o que confere à tese e ao leitor, a um só tempo, um porto seguro e a certeza da propriedade de seus resultados.
O livro é uma versão modificada de sua tese de doutorado defendida em 2008 na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Tem como foco principal a análise da relação entre trabalhadores e Estado a partir do acompanhamento de uma agremiação que apresentou três facetas em diferentes momentos. O Centro Operário da Bahia, originado do Partido Operário de 1890 e que teve uma dissidência em seu primeiro ano de existência, a União Operária Baiana. Nessa relação o autor privilegiou a participação do Centro nos diferentes processos eleitorais.
O livro é dividido em cinco capítulos. O primeiro (“As Regras do Jogo”) aborda os marcos jurídicos que delimitavam a prática eleitoral brasileira nos anos finais do Império e ao longo da Primeira República. Trata-se de uma boa síntese que ajuda o leitor a acompanhar a participação eleitoral da agremiação diante das mudanças nas regras do jogo político brasileiro. Considero como ponto alto desse capítulo a análise dos indicadores de participação eleitoral de outros países no mesmo período, contribuição valiosa que insere o Brasil, comparativamente, no circuito de direitos políticos usufruídos pela população em diversos lugares do mundo. Tal análise permite ao leitor perceber que a exclusão de parcela significativa da população da cidadania política não foi uma originalidade tupiniquim, mas encontrava correspondência em várias democracias liberais contemporâneas. Destaca-se também nesse capítulo uma análise minuciosa da Constituição do estado da Bahia, objeto em geral relegado a segundo plano no debate sobre eleições e partidos no Brasil.
O capítulo 2, intitulado “A Montagem de uma Máquina Política Operária”, aborda o processo de formação do Partido Operário da Bahia levando em consideração sua trajetória de cisões e rearticulações, entre elas, o surgimento da União Operária Baiana e do Centro Operário. Trata-se de um capítulo onde Aldrin apresenta para o leitor seus principais atores e o modo como foram construídos e reconstruídos ao longo do tempo. O ponto alto desse capítulo, no meu entendimento, é a demonstração dos esforços do Centro Operário em intervir no jogo político com o fim de ampliar direitos, sobretudo os sociais. Como estratégia, vinculou-se às elites locais numa tentativa de ampliar suas bases, que se tornaram, por conseguinte, policlassistas.
“Os Trabalhadores e o seu Mundo” é o título dado ao terceiro capítulo do livro, que enfrenta uma tarefa difícil, mas na qual Aldrin obteve êxito: o de traçar um perfil sócio-ocupacional e étnico-nacional dos membros do Centro Operário. O uso das fontes notariais lhe permitiu concluir que mais de 74% dos associados ao Centro eram artesãos, ou seja, trabalhadores mais qualificados. Revela com esse perfil a presença, entre os associados do Centro Operário, de uma elite trabalhadora – dona de oficinas e dos instrumentos de trabalho – e de uma elite política e econômica, como industriais, comerciantes e políticos, entre outros. Para que o capítulo não se resumisse a levantamentos estatísticos, Aldrin trouxe para o texto a análise de algumas biografias, de modo que o leitor ampliasse sua visão sobre o perfil dos membros da agremiação. Na análise da composição racial de seu grupo, concluiu que o percentual de brancos era inferior a 23%, sendo os demais pretos, pardos e mestiços. O que mais chama atenção é que a agremiação era menos branca que a própria Bahia (75,9% contra 68%). Aldrin mostra ao leitor o que já se esperava – mas é sempre importante ver comprovado -, que os poucos brancos existentes pertenciam à elite política e econômica dos associados. Mostra igualmente as relações do Centro Operário com as mutuais e as irmandades, com o fim de identificar a formação das diferentes redes que compunham a sociedade civil baiana no período e de mostrar que muitos membros do Centro eram também sócios das mutuais e membros das irmandades a um só tempo. Certamente é esse o melhor capítulo do livro, o que nos mostra como o Centro Operário se compunha e de que forma interagia com diferentes setores da sociedade civil para que seus fins fossem atingidos.
Os capítulos 4 e 5 tratam do ideário político e social dos membros (“O Sonho com a República Social”) e da atuação político-eleitoral da agremiação (“Os Eleitos da Classe Operária”), respectivamente. O quarto capítulo, em minha opinião, contrasta com os demais em razão das dificuldades enfrentadas pelo autor no acesso ao imaginário político dos sujeitos – tarefa muito desafiadora tendo em vista a falta de fontes e as complexidades próprias ao tema. Ressalta a diversidade de culturas políticas (o autor prefere falar em “ideário político”) compartilhadas pelos associados, revelando uma heterodoxia que reunia a um só tempo o marxismo, o cristianismo, o republicanismo, o positivismo, o abolicionismo e o liberalismo. Identificou em meio a essa diversidade dois valores recorrentes: o de ajuda mútua e o do cooperativismo. Tal heterodoxia refletir-se-ia na prática política de seus membros, que lutavam pela ampliação dos direitos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, assumiam, na visão do autor, o papel de “reformistas sociais”, sem questionarem, em nenhum momento, a ordem estabelecida. Essa participação política resultou em conquistas para os trabalhadores, mas também gerou facções internas. Não obstante, o autor destaca a eficiente intervenção do grupo sobre a política local ao conseguir eleger trabalhadores para vários cargos, tornando-se uma engre- nagem eleitoral a contribuir com o pleno funcionamento da máquina política republicana.
A análise de Castellucci desmistifica uma série de afirmações recorrentemente encontradas na literatura sobre o mundo do trabalho no Brasil, principalmente as de viés marxista. A ausência de uma “consciência de classe” a inspirar as ações do Centro Operário é atestada não só pela composição por demais heterogênea da agremiação, mas também pelas suas hierarquias internas, que submetiam trabalhadores menos qualificados às lideranças, em relações que acabavam por repetir as de clientelismo e patronagem, comuns na época. Tal ausência impediu também que o Centro Operário se mobilizasse em torno de mudanças mais estruturantes e objetivasse apenas ganhos mais imediatos para a categoria, a exemplo da expansão dos direitos sociais. Nesse momento, em minha visão, Castellucci “escorrega” em sua avaliação, na medida em que deposita no Centro uma expectativa que seus membros poderiam não compartilhar. Talvez, em sua heterogeneidade, desejassem apenas ter uma ação efetiva na política com o fim de obter ganhos sociais, o que não era pouco, sem imprimir mudança mais radical no ordenamento político e econômico no qual estavam inseridos. Retira assim do grupo a autonomia antes concedida, ao afirmar que a burguesia os usava como eleitores, o que poderia ter interferido negativamente para a formação de uma “consciência de classe” (p.111). Ora, a leitura do texto não faz ver ao leitor que o Centro era objeto de manipulação e muito menos que pudesse ou quisesse desenvolver uma consciência de classe específica. Ao contrário, o livro mostra uma organização autônoma, que se valia das relações com as elites para obtenção de ganhos para a categoria e que reproduzia em seu interior a cultura paternalista contra a qual não se colocava, até por estar nela inserido. Por diversas vezes o autor afirma que os associados não viam contradições em suas relações com o poder público, com as elites e nem mesmo com a polícia, desde que seus ganhos fossem viabilizados, numa demonstração clara do pragmatismo político.
Outra importante contribuição de Aldrin Castellucci refere-se à manifesta ligação dos trabalhadores do Centro com o republicanismo. Tal abordagem reforça a ideia de que a república não foi exclusivamente uma construção da elite, à revelia do povo, que dela pouco tinha conhecimento. O autor revela que o novo regime foi recebido com otimismo pelos trabalhadores, pois viam nele a possibilidade de ampliação de seus direitos, o que de fato ocorreu, segundo suas análises. Outra importante contribuição é a constatação de que muitos libertos se tornaram trabalhadores na Bahia e não foram relegados à marginalidade social. Além disso, o Centro se tornou um importante espaço de interação social por parte dos negros recém-saídos do cativeiro.
Por fim, o trabalho de Aldrin se reveste da maior importância por tratar de uma região fora do eixo Sul-Sudeste, o que expressa o vigor da historiografia brasileira após a expansão da pós-graduação. Dessa forma, ganhamos todos com a possibilidade de compreensão das diversidades nacionais e evita-se a generalização que pouco tem nos ajudado a compreender nossa sociedade multicultural.
Iniciamos esta resenha a falar sobre os prejuízos que o uso de conceitos e categorias rígidas pode causar sobre os resultados da pesquisa histórica. A maior contribuição do livro de Castellucci foi ter evitado essa armadilha, ao relacionar a cultura paternalista e oligárquica aos anseios e lutas por cidadania de pretos, pardos e mestiços e ao comprovar sua efetiva participação na construção e consolidação do projeto republicano. Só por essa razão, a leitura de Trabalhadores e Política no Brasil já valeria a pena.
Cláudia Viscardi – Departamento de História e Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Pesquisadora do CNPq. Juiz de Fora, MG, Brasil. E-mail: claudiaviscardi.ufjf@gmail.com
[IF]Guerra fria e política editorial: a trajetória das Edições GRD e a campanha anticomunista dos Estados Unidos no Brasil (1956-1968) – OLIVEIRAR (RBH)
OLIVEIRA, Laura de. Guerra fria e política editorial: a trajetória das Edições GRD e a campanha anticomunista dos Estados Unidos no Brasil (1956-1968). Maringá: Eduem, 2015. 274p. Resenha de: GRINBERG, Lucia. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, n.71, jan./abr. 2016.
Era comum em resenhas bibliográficas relacionadas à história política do Brasil republicano a constatação de que historiadores e cientistas sociais se dedicavam especialmente ao estudo das esquerdas, negligenciando as direitas. O panorama mudou. Nos anos 2000 houve um crescimento significativo na produção de teses e dissertações dedicadas a intelectuais, movimentos e partidos políticos de direita nos programas de pós-graduação em história no país. No campo específico dos estudos sobre o movimento integralista, as pesquisas avançaram para além dos anos 1930, buscando mostrar a presença de integralistas na vida política institucional no período da experiência democrática instaurada em 1945, a vitalidade de intelectuais e periódicos integralistas, assim como a diversidade de trajetórias individuais e de memórias de militantes. Guerra fria e política editorial é expressão da ampliação e do amadurecimento da área. Elaborado originalmente como tese de doutorado, defendida em 2013 no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás (UFG), obteve menção honrosa no Prêmio Capes de Teses (2014) e ganhou o Prêmio Anpuh de Teses (2015).
Com base no estudo de caso sobre o editor Gumercindo Rocha Dorea e de suas Edições GRD, a historiadora Laura de Oliveira desenvolve uma reflexão relevante e atual sobre o campo das direitas políticas ao mostrar as possibilidades de alianças apesar da diversidade de inspirações doutrinárias. No caso, ela aborda como um militante integralista, admirador de Plínio Salgado, pôde contar com o financiamento do governo norte-americano para promover o anticomunismo em nome da democracia. Na primeira parte do livro, “a experiência”, Laura de Oliveira apresenta as articulações entre as Edições GRD, o movimento integralista e a United States Information Agency (USIA). Na segunda parte, “a palavra”, desenvolve um estudo propriamente da “obra editorial”. Para investigar os integralistas e seus aliados no Brasil, Oliveira consultou acervos considerados estratégicos por especialistas, como o Fundo Plínio Salgado (Arquivo Público Histórico de Rio Claro) e o Fundo IPÊS (Arquivo Nacional). Nos Estados Unidos, pesquisou documentação relativa à USIA no National Archives and Records Administration (NARA), e ao Franklin Book Programs, na Mudd Manuscript Library da Princeton University.
Na primeira parte do livro, “a experiência”, em narrativa bem estruturada, a historiadora analisa os contextos variados que combinados permitem compreender a trajetória política e empresarial de Gumercindo Rocha Dorea: as tradições e a estrutura das organizações integralistas, a política externa norte-americana de intercâmbio cultural e a parceria com o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPÊS). Em 1956, quando o jovem baiano Gumercindo Rocha Dorea criou as Edições GRD, era filiado ao Partido de Representação Popular (PRP), liderado por Plínio Salgado, e participava ativamente de iniciativas integralistas no campo da cultura. Dorea foi editor do jornal integralista A Marcha (1952-1955), diretor da Livraria Clássica Brasileira (1956-1957) e presidente da Confederação Nacional dos Centros Culturais da Juventude (1952-1953 e 1957-1958). A autora dialoga com obras recentes sobre a Ação Integralista Brasileira (AIB) e o PRP, indicando ao leitor contribuições relevantes na área.
As Edições GRD também foram beneficiadas pelas iniciativas da “cultural war”, a política norte-americana de intercâmbio cultural implementada nos anos da guerra fria. Desde os anos 1950 a editora obteve recursos por meio da política de financiamento de traduções do Book Development Program, desenvolvido pela USIA, entidade diplomática que vigorou entre 1953 e 1999.
De acordo com as fontes pesquisadas, a USIA promoveu cerca de 1.340 traduções de originais de língua inglesa lançados no mercado editorial brasileiro.
A GRD teve 48 traduções patrocinadas pela agência. Muitas editoras brasileiras receberam subsídios por meio do programa que incentivava a publicação de obras que veiculavam do elogio ao american way of life ao anticomunismo.
Dorea se destacou pela seleção de obras marcadamente anticomunistas.
Na conjuntura anterior ao golpe de 1964, as Edições GRD se associaram ao IPÊS, como outros estudos já apontaram. No entanto, Laura de Oliveira mostra que a associação era um desdobramento de parceria anterior às conspirações para depor o presidente João Goulart – havia uma sintonia entre os objetivos políticos da USIA, do IPÊS e da GRD, todos desejavam combater as esquerdas e desestabilizar o governo federal. Apesar de a campanha ipesiana se caracterizar por penhorar o destino brasileiro às instituições liberais, Dorea participou ativamente. Em contraste com os “camisas verdes” dos anos 1930, a partir de 1945, os militantes do integralismo, então denominados “águias brancas”, construíram uma nova identidade política. Não se isolaram na doutrina original, apropriaram-se das regras da democracia representativa instaurada e continuaram operando por intermédio do PRP e de iniciativas culturais, como as Edições GRD, mesmo estando longe de compartilhar ideais liberal-democráticos.
Na segunda parte do livro, “a palavra”, na perspectiva de Raymond Williams, Laura de Oliveira investiga as conexões entre experiência social e literatura, combinando história política, história do mercado editorial e estudos literários. De acordo com a autora, ao analisar o conjunto da obra das Edições GRD, de 1956 a 1968, é possível identificar um sentido comum: a divulgação do comunismo como distopia contemporânea, como tragédia iminente que ameaçava o Brasil e a América Latina. As Edições GRD tiveram duas coleções importantes, a “Coleção Política Contemporânea”, traduções financiadas pela USIA principalmente, e “Clássicos Modernos da Ficção Científica” (posteriormente intitulada “Ficção Científica GRD”). O anticomunismo estava presente em ambas.
De 1958 a 1971, as Edições GRD publicaram cerca de trinta livros do gênero ficção científica, traduções e originais de autores brasileiros, sendo considerada responsável pela consolidação do gênero no país nos anos 1960. Em diálogo com estudos sobre ficção científica, Oliveira mostra como o gênero lida com alegorias utópicas e seu par coexistente, a distopia, ao narrar mundos alternativos, outros planetas, territórios longínquos ou paraísos perdidos. Durante a guerra fria, nos clássicos da literatura de ficção científica de língua inglesa, Aldous Huxley, George Orwell e Ray Bradbury contrapõem sociedades baseadas nos ideais de liberdade e individualidade a Estados totalitários. Nas publicações de ficção científica da GRD, Oliveira identifica “uma permanente associação entre a consagração dos projetos totalitários (marcadamente, do comunismo soviético) em ambiente internacional, o esforço da União Soviética de colonização dos países democráticos, sua ação na América, confirmada pela então recente revolução em Cuba, e seu conjecturado avanço sobre o Brasil” (p.195).
No mesmo sentido, durante o governo João Goulart, a “Coleção Política Contemporânea” editou títulos como Anatomia do comunismo (1963) e Cuba, nação independente ou satélite (1963). Oliveira apresenta os enredos, os paratextos e reproduções de capas das publicações, introduzindo o leitor em um universo trágico comum às obras de ficção científica e de política contemporânea. Na orelha de Anatomia do comunismo (1963), Dorea inscreveu a sua mensagem: pretendia levar “aos homens públicos responsáveis pela manutenção do sistema democrático na vida política brasileira, a lição que nos vem dos que têm sofrido, na própria pele, a ameaça diuturna das hostes bélicas que, a qualquer momento, poderão descer do leste europeu” (grifos do autor, p.202).
Na historiografia relativa a partidos políticos no Brasil republicano, desde os anos 1990, há teses que desafiam as interpretações tradicionais que enfatizam a distância entre as organizações partidárias e a sociedade, assim como as que destacam as descontinuidades das legendas, desconsiderando as intervenções sucessivas de ditaduras no sistema partidário. No presente caso, as intervenções extinguindo os partidos políticos por decreto atingiram a AIB, no Estado Novo, e, posteriormente, o PRP, em 1965, com o Ato Institucional no 2. Guerra Fria e política editorial é uma bela contribuição para o debate. Partindo do caso de Gumercindo Rocha Dorea, baiano de Ilhéus, a autora mostra a possibilidade de, diminuindo a escala de análise, investigar trajetórias individuais tendo em vista o estudo de atores coletivos, como partidos políticos. Ao se dedicar ao estudo das Edições GRD, Oliveira investiga as relações entre atividade editorial e militância político-partidária, considerando as especificidades dos dois campos: as características de negócio e a necessidade de financiamento, a marca da afinidade ideológica e a existência de uma rede de sociabilidade de intelectuais, antigos membros da AIB, filiados e simpatizantes do PRP, reunidos em torno da editora. Afinal, apresenta os integralistas, entusiastas de um movimento de extrema direita, inseridos na sociedade, e mostra que os militantes se articularam em novas organizações, não permaneceram isolados.
O interessante em Guerra Fria e política editorial é justamente a percepção das dinâmicas, continuidades e descontinuidades do movimento integralista, e da possibilidade de articulação com o próprio governo norte-americano, antes combatido pelo nacionalismo exacerbado, o anticosmopolitismo e o antilibe- ralismo, próprios do integralismo. Em 1967, as iniciativas da USIA foram denunciadas nos Estados Unidos como tentativa de manipular a opinião pública por intermédio de editoras da iniciativa privada. Em pouco tempo, com o fim do convênio, as Edições GRD voltaram a reeditar autores integralistas e Dorea passou a comandar igualmente a “Voz do Oeste”, editora fundada por Plínio Salgado. Guerra Fria e política editorial mostra, portanto, a parceria entre liberais norte-americanos e integralistas brasileiros, assim como o enraizamento das tradições integralistas e a capacidade organizacional de seus quadros.
Lucia Grinberg – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio). Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: luciagrinberg@gmail.com.
Hajari, as fúrias da meia-noite de Nisid: o legado mortal da partição da Índia | Oliver Stuenkel
A partição, a divisão do subcontinente indiano em dois países em 1947, sempre será lembrada como uma das maiores tragédias do século XX, envolvendo uma das maiores migrações humanas forçadas da história, deslocando mais de 10 milhões de pessoas. Isso levou a mais de um milhão de mortes no contexto da saída da Grã-Bretanha do subcontinente e da independência da Índia e do Paquistão. Finalmente, foi o capítulo de abertura de uma das rivalidades mais complexas e não resolvidas do mundo, produzindo um hot spot nuclear que muitos consideram o mais perigoso do mundo. Nisid Hajari escreveu um livro muito legível sobre a política da Partição, detalhando as negociações e dinâmica de energia na véspera de 15 de agosto de 1947.
Com habilidade jornalística, o autor fornece retratos íntimos dos personagens principais do livro, Jawaharlal Nehru e Mohammed Ali Jinnah. Gandhi, Vallabhbhai Patel (Sardar) e Lord Louis Mountbatten também aparecem com frequência, mas Hajari descreve essencialmente o drama da Partition como um show de dois homens.
Enquanto Hajari se destaca em transformar um evento complexo e pesado em um virador de páginas, sua conta é centrada na Índia e, no final das contas, muito tendenciosa às visões de Nehru para fornecer uma conta equilibrada. O primeiro primeiro-ministro da Índia, o leitor é informado nas primeiras páginas do livro, era “arrojado”, “famoso por algumas das mãos”, tinha “maçãs do rosto aristocráticas e olhos altos que eram piscinas profundas – irresistíveis para suas muitas admiradoras”. “Apesar de desdenhoso das superficialidades, ele cuidou muito da aparência”, maravilha-se o autor. Ao longo do livro, Hajari descreve as qualidades supostamente sobre-humanas de Nehru, por exemplo, quando ele oferece o risco de sua vida para proteger os muçulmanos em Old Delhi. Jinnah, por outro lado, é amplamente descrito como um bandido sedento de poder que carecia de princípios “irascível” e ”
Nehru, o autor admite, também tinha falhas. Como escreve Hajari, Nehru se recusou a aceitar a Liga Muçulmana como parceiro da coalizão em 1937, exceto em termos humilhantes que incluíam a fusão incondicional dos partidos parlamentares da Liga Muçulmana no Congresso. O comportamento arrogante e distante de Nehru era precisamente o que Jinnah precisava para fortalecer as ansiedades que os muçulmanos tinham em relação à Índia dominada pela maioria hindu. E, no entanto, o livro deixa poucas dúvidas sobre quem é o vilão da história.
O que talvez seja mais problemático com esse relato é que a idéia de criar o Paquistão é descrita como pouco mais do que uma manobra usada por Jinnah para retomar sua carreira política após o retorno de Gandhi da África do Sul e a ascensão do povo hindu. O congresso o empurrou para a margem. Depois que sua jovem esposa se suicida, Jinnah se muda para uma casa sombria com sua irmã do mal, Fátima. Enquanto Nehru é movido por altos ideais, sugere o livro, Jinnah é movido pela amargura e pelo desejo de vingança.
No entanto, a idéia do Paquistão era muito mais do que um mero argumento de barganha proposto por Jinnah. Hajari permanece calado sobre figuras-chave como Muhammad Iqbal, uma das figuras mais importantes da literatura urdu e o filósofo que inspirou o Movimento Paquistanês. O autor parece sugerir que seria necessário apenas um representante mais moderado da Liga Muçulmana para evitar a Partição.
Contudo, esse argumento ignora que as eleições supervisionadas pelos britânicos em 1937 e 1946, que o Congresso dominado pelos hindus venceu com facilidade, apenas endureceram a identidade muçulmana e tornaram inevitável a divisão. A política britânica de definir comunidades com base na identidade religiosa, que alterou fundamentalmente a autopercepção indiana, requer muito mais atenção para explicar a dinâmica que levou à Partição. Churchill, em particular, viu consolidar uma identidade muçulmana na Índia e alimentar tensões sectárias como essenciais para prolongar o domínio britânico no subcontinente (ele apoiou ativamente a causa de Jinnah nos anos anteriores a 1947).
Hajari reconhece que a decisão de Mountbatten de antecipar a retirada da Grã-Bretanha e deixar um cartógrafo despreparado traçar as fronteiras dentro de 40 dias (sem visitar as regiões afetadas, como o autor nota corretamente) tornou todo o projeto muito mais mortal do que poderia ter sido em outras circunstâncias . Jinnah dificilmente poderia ter antecipado tal comportamento irresponsável pelos britânicos.
Como escreve Pankaj ( Mishra, 2007 ), ninguém havia se preparado para uma transferência massiva de população. Mesmo quando milícias armadas vagavam pelo campo, procurando pessoas para sequestrar, estuprar e matar, casas para saquear e trens para descarrilar e queimar, a única força capaz de restaurar a ordem, o Exército Indiano Britânico, estava sendo dividida em linhas religiosas – soldados muçulmanos no Paquistão, hindus na Índia. Em breve, muitos dos soldados comunalizados se uniriam a seus co-religiosos na matança de facções, dando à violência a partição de seu elenco genocida … Os soldados britânicos confinados em seus quartéis, ordenados por Montana para salvar apenas vidas britânicas, podem provar ser a imagem mais duradoura do retiro imperial.
As Fúrias da meia-noite não descobrem muitas fontes novas e os especialistas não encontrarão nada que mude de opinião, mas o livro é bem pesquisado. Uma exceção um tanto estranha é a Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), uma organização hindu de direita, que Hajari abrevia erroneamente como RSSS ao longo do livro.
Apesar de seu viés, o livro aponta para a importância de um ponto de virada histórico crucial que continua a moldar os atuais debates geopolíticos. Como a disciplina de Relações Internacionais, em particular, continua se concentrando demais no que aconteceu na Europa após a Segunda Guerra Mundial, são necessários muitos outros livros sobre as consequências da guerra na Ásia e em outras partes do mundo.
Referências
Mishra, Pankaj. Feridas de saída: o legado da partição indiana. 13 de agosto de 2007. Disponível em: http://www.newyorker.com/magazine/2007/08/13/exit-wounds ; Acesso em: 12 jan. 2016. [ Links ]
Oliver Stuenkel – Professor Assistente de Relações Internacionais, Faculdade de Ciências Sociais, Fundação Getulio Vargas (FGV). São Paulo, SP, Brasil. E-mail: oliver.stuenkel@fgv.br.
STUENKEL, Oliver. Hajari, as fúrias da meia-noite de Nisid: o legado mortal da partição da Índia. Massachusetts: Houghton Mifflin Harcourt, 2015. 328p. Resenha de: STUENKEL, Oliver. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, n.71 São Paulo, jan./abr. 2016.
Imprensa italiana no Brasil, séculos XIX-XX – TRENTO (RBH)
TRENTO, Angelo. Imprensa italiana no Brasil, séculos XIX-XX. São Carlos: Ed. UFScar, 2013. Zaidan, Roberto. 276p. Resenha de: BIONDI, Luigi. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.35, n.70, jul./dez. 2015.
Décadas de pesquisa sobre o tema da imigração italiana, que renderam algumas das obras mais referenciais nesse âmbito historiográfico, levaram Angelo Trento, da Universidade de Nápoles “Istituto Orientale”, a aprofundar um dos aspectos centrais para a compreensão do mundo dos imigrantes no Brasil no livro Imprensa Italiana no Brasil, séculos XIX-XX, tradução para o português da edição italiana La costruzione di un’identità collettiva. Storia del giornalismo in lingua italiana in Brasile (Viterbo: Archivio Storico dell’Emigrazione Italiana, 2011).
Na sua obra La dov’è la raccolta del caffè, publicada no Brasil com o título Do outro lado do Atlântico (São Paulo: Studio Nobel, 1989), ainda hoje a obra mais completa sobre a história dos italianos no Brasil, na qual a imprensa produzida por eles tomava um espaço temático próprio em alguns capítulos embora atravessasse o livro inteiro como fonte principal, Trento inseriu um apêndice com mais de quatrocentos periódicos italianos publicados no país. Esses foram o ponto de partida para pesquisas sucessivas que levaram Trento, nos últimos anos, a centrar a análise sobre a história dos impressos periódicos em língua italiana no Brasil, durante o século XIX e até a década de 1960. Aquela antiga lista se enriqueceu de mais títulos, encontrados nos arquivos do Brasil, Itália, Holanda e França, e se tornou o corpus documental que fundamenta agora, no seu livro Imprensa italiana no Brasil, uma história exaustiva da expressão escrita, em jornais, pelos imigrantes italianos.
Trento não se limita a tratar essa imprensa como formadora de representações de uma coletividade de imigrantes, indaga sobre os fundamentos sociais dos impressos periódicos e de seus grupos editores e sobre a relação destes com as redes de assinantes, os leitores e a comunidade italiana imigrada em geral. O jornal, além de ser o veículo intencional de transmissão de informações, configura-se como porta-voz e ao mesmo tempo articulador de grupos específicos, utilizando e forjando redes de imigrantes, polo agregador de sua intervenção na nova sociedade. A imprensa étnica como mediadora da transnacionalidade, na qual Trento enfatiza, na melhor tradição historiográfica italiana, suas dinâmicas políticas.
Essa imprensa é estudada também como construtora e expressão de identidades: a nacional – a italianidade – e as regionais, políticas e de classe, todas em suas diferentes e muitas vezes conflitantes versões, todas passando pela via da comum origem num Estado-nação de recente formação. O ser e sentir-se italiano numa experiência de migração por meio da imprensa, declinado em uma miríade de identificações complementares, parece ser o fio condutor de uma trajetória que o autor concentra entre o período da “grande imigração” (1885-1915 aproximadamente) e meados dos anos 1960, quando o longo processo de integração e os fluxos migratórios dos italianos terminam.
Trento dedica mais de metade da obra ao período entre 1880 e a Primeira Guerra Mundial, com dois capítulos iniciais: o primeiro para a imprensa como um todo e o segundo para a imprensa operária. É nessa época que o periódico impresso se configura não somente como órgão de informação, mas também como polo agregador dos próprios imigrantes italianos que chegam em massa ao Brasil. É o período do protagonismo político, comercial e industrial do Brasil urbano, quando o diário em língua italiana Fanfulla, a “joia da coroa” da então colônia ítalo-paulista, narra as vicissitudes da experiência migratória de cerca de um milhão de italianos – e não somente os de São Paulo, pois esse diário, assim como outros periódicos étnicos, era lido para além das fronteiras estaduais. Trento não se limita a estudar o fenômeno migratório nas suas amplas dimensões paulistas, também lança um olhar para as coletividades nos outros estados, para a imprensa italiana desde o Pará até os centros gaúchos e sulinos em geral, nestes bastante difusa.
Nesses dois capítulos, Trento explica a difusão extraordinária de alguns jornais, como os diários Fanfulla e La Tribuna Italiana, e das publicações explicitamente políticas como La Battaglia (anarquista) e Avanti! (socialista), e ao mesmo tempo analisa os vários periódicos que tiveram uma vida difícil, mas que, tomados em conjunto, tornam a expressão escrita da imprensa dos ítalo-brasileiros nesse período importante e significativa, a par de outras como as da Argentina ou dos Estados Unidos.
A separação dessa fase da “grande imigração” em duas esferas temáticas, ao longo de dois capítulos, pretende destacar o papel político da imprensa. No capítulo 1, a grande imprensa e os periódicos culturais, de notícias e multitemáticos, são analisados não somente nos seus aspectos gerais estruturais e representativos, supostamente neutros, mas também nas suas atenções ao mundo da grande massa dos imigrantes, incluindo o surgimento de um jornalismo investigativo étnico, que indaga sobre as condições materiais da coletividade, seus anseios e suas expressões políticas. O subcapítulo final introduz uma pesquisa pioneira sobre a imprensa de língua italiana durante a Primeira Guerra Mundial, num momento em que o nacionalismo italiano e a construção da identidade nacional no exterior vivenciam, por causa da guerra, uma intensificação extraordinária, enquanto os imigrantes experimentam novas tensões derivadas da radicalização das lutas operárias.
A “Outra Itália” de esquerda é o tema do capítulo 2, onde o foco é completamente voltado para entender a vida da imprensa em língua italiana que foi expressão de tendências e grupos políticos específicos, ligados ao mundo do trabalho urbano. Sobretudo em São Paulo, mas não somente ali, essa imprensa conseguiu frequentemente se tornar o polo agregador de anarquistas, socialistas, republicanos, radicais e sindicalistas, bem como de trabalhadores em geral. Um protagonismo conhecido na historiografia da história social e política dos trabalhadores no Brasil, que Trento, pela primeira vez após muitos anos, analisa num único capítulo de forma conjunta, coerente e renovada, incorporando as novas pesquisas suas e de outros colegas sobre o tema.
Temos um olhar completo para essa história, sem privilegiar a análise de uma ou de outra tendência, mas as conexões entre elas e o panorama dessa trajetória em sua complexidade, desde as origens, passando pelo auge dos anos 1900-1917, até o declínio no período posterior à Primeira Guerra Mundial, quando a imprensa reflete a diluição dos elementos étnicos da classe operária. Por isso, o autor dedica parte importante desse capítulo ao debate “identidade étnica versus identidade de classe” na imprensa política de língua italiana, tema ainda central nos estudos migratórios e da formação da classe trabalhadora nas Américas.
Na segunda parte do livro, o autor enfrenta a questão da penetração do fascismo na imprensa italiana, sua gradual conquista das redações, sua eliminação em outras, o surgimento e declínio, nas décadas de 1920 e 1930, da imprensa antifascista que viu no Brasil o episódio interessante e multipartidário do jornal La Difesa, enquanto o diário Fanfulla se dobrava aos interesses do governo italiano e ao mesmo tempo continuava se propondo como o porta-voz da italianidade no país. Trento se dedica ao exame de uma imprensa étnica ainda consistente, mas cada vez menor, não comparável em número, qualidade e variedade com a dos primeiros 30 anos republicanos. Uma imprensa que progressivamente se fecha em torno das questões ligadas à colônia, mediadora cultural de uma Itália cada vez mais distante e menos frequentada.
A imprensa é estudada para entender a capacidade de adaptação à nova situação brasileira, o equilíbrio entre as influências do fascismo italiano e as tensões derivadas desse posicionamento frente à política nacionalista do Estado Novo e à guerra.
A nova fase que se abre com o pós-guerra se ressente dessa história, de um passado não falado que Angelo Trento analisa no último capítulo, no contexto migratório mais recente, da segunda metade do século XX.
Entre a retomada no Brasil de posições políticas proibidas na nova Itália republicana (o neofascismo no exílio) e a narração da experiência migratória dos anos 1950 e 1960 (até 1965, quando o Fanfulla encerra sua publicação diária), o autor examina o conjunto muito menor de uma imprensa étnica testemunha de uma coletividade italiana imigrada, renovada sim pelos fluxos migratórios do pós-guerra, mas excepcionalmente reduzida.
Trento interpreta a função histórica da imprensa italiana no exterior como expressão viva do mundo dos imigrantes. Ao desaparecer a condição de migrantes, ao sumir gradualmente a operatividade das relações, das redes e das circularidades transnacionais, também essa imprensa deixa de existir. Apesar das dificuldades objetivas na prática da leitura de uma massa imigrante mediamente iletrada, o trabalho de Angelo Trento destaca que foi no período áureo da “grande imigração” que a imprensa étnica italiana mais se desenvolveu, âncora de uma transnacionalidade em ação.
Finalmente, é importante sinalizar que, além do valor da obra como o mais recente e mais aprofundado estudo sobre a história da imprensa italiana no Brasil, o livro se constitui como um recurso de pesquisa fundamental, terminando com um inventário cronológico completo e classificado por estado de mais de oitocentos periódicos em língua italiana publicados no país, onde se indica também a colocação arquivística de cada jornal.
Luigi Biondi – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH), Departamento de História. Guarulhos, SP, Brasil. E-mail: luigi.biondi@uol.com.br
[IF]
Cavando direitos: as leis trabalhistas e os conflitos entre os mineiros de carvão e seus patrões no Rio Grande do Sul (1940-1954) – SPERANZA (RBH)
SPERANZA, Clarice Gontarski. Cavando direitos: as leis trabalhistas e os conflitos entre os mineiros de carvão e seus patrões no Rio Grande do Sul (1940-1954). Porto Alegre: Anpuh, Oikos, 2014. 295p. Resenha de: LONER, Beatriz Ana. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.35, n.70, jul./dez. 2015.
Recentemente veio a público, como obra da Coleção Anpuh-RS, o livro de Clarice Gontarski Speranza sobre as lutas dos mineiros de carvão de Arroio dos Ratos e Butiá, no Rio Grande do Sul, em meados do século XX. O significativo, nesse livro, é que faz uma bem-sucedida aproximação entre o movimento operário dos trabalhadores do carvão e as demandas desses mesmos trabalhadores à Justiça do Trabalho, permitindo, nesse intercâmbio entre as duas dimensões, visualizar a forma como as leis trabalhistas eram percebidas e qual seu papel na luta coletiva e individual da categoria.
O livro é representativo de uma nova série de pesquisas acadêmicas, que, inspiradas no historiador inglês E. P. Thompson, procuram estudar as relações dos trabalhadores com as leis do trabalho promulgadas no período varguista e as formas como esses sujeitos tentaram se utilizar dos instrumentos legais em suas reivindicações.
Trata-se de um tema inovador, em termos do conhecimento histórico, inicialmente pelo tipo de trabalhador, pois o estudo dos mineiros no Rio Grande do Sul tem comparecido mais em pesquisas de cunho antropológico. Acrescenta-se que a união da análise do movimento reivindicatório tradicional de uma categoria, incluindo suas campanhas salariais, greves e mobilizações, com suas demandas frente à Justiça do Trabalho é tema ainda mais incomum, não só pela relativa novidade do uso desta última fonte, mas também porque os pesquisadores costumam estudar apenas um nível dessas reivindicações, ou as demandas trabalhistas ou aquelas baseadas na força autônoma dos trabalhadores.
Ao proceder diferentemente, Clarice descortina um amplo conjunto de relações entre os dois lados da luta dos mineiros, como o fato de que muitos acontecimentos e incidentes ocorridos durante as mobilizações eram, posteriormente, alvos de demandas à justiça pelos trabalhadores, os quais vinham buscar o que julgavam seus direitos não respeitados pelas empresas. Ou seja, ganhando ou perdendo no confronto, o próprio embate poderia gerar situações que implicavam descumprimento de outros direitos estabelecidos.
A autora faz o levantamento completo dos processos trabalhistas e das demandas na Justiça do Trabalho dessa categoria durante períodos extremamente importantes, como o Estado Novo e os anos de 1945 a 1964. Além de um levantamento quantitativo, há também o uso qualitativo de alguns processos, num demonstrativo abrangente das formas de utilização dessas fontes no trabalho de pesquisa.
Com respeito aos processos no interior da própria justiça, a autora avalia a importância, para a vitória ou derrota da ação trabalhista, do cumprimento do ritual processual, ou seja, da necessidade de cumprir todas as etapas do processo, por parte de reclamados e reclamantes. Segundo Clarice, a própria empresa perdeu ações, em alguns momentos, porque descuidou-se do encaminhamento do processo. Isso trouxe um aprendizado mútuo dos querelantes, com respeito a como apresentar as ações e como utilizar a Justiça do Trabalho, com ganhos de causa significativos em alguns momentos (para ambos os lados), graças ao manejo adequado das reivindicações e exposições dos motivos das queixas, justificativas ou recursos.
Ainda com respeito às relações entre uma forma e outra de luta, a autora se interroga sobre a diferenciação de sentenças de acordo com as peculiaridades de cada juiz, vislumbrando a existência de certo ethos comportamental, ou melhor, de um comportamento desejado, por parte de alguns juízes, em relação às greves e outras manifestações operárias.
Bem escrito e com estilo, o livro se constitui numa leitura agradável e um bom exemplo de uma nova safra de pesquisadores que tentam, a partir da visão sobre a relação entre justiça e trabalhadores apresentada por Thompson, estudar as relações desse setor do aparato legal do Estado com os atores sociais envolvidos, especialmente nos inícios da instituição da justiça trabalhista, ou seja, quando o próprio papel da justiça e seu impacto sobre os conflitos empregado-patrão ainda estavam sendo estabelecidos.
Clarice destaca que o Direito, para Thompson, seria “uma arena, onde se digladiam, permanentemente forças contraditórias; a possibilidade de vitória pontual das classes dominadas, a legitimação e o fortalecimento da dominação pela lei e a limitação do arbítrio dos dominantes” (p.38). Para a autora, “o direito evidencia-se assim, como um campo complexo onde se travam batalhas com repercussões importantíssimas em outros âmbitos sociais e não deve ser entendido numa perspectiva reducionista, que não ilumine as diversas possibilidades dadas pelas variadas esferas da lei, em especial sua constituição formal e sua aplicação prática” (p.38).
Justamente esse aspecto ambíguo de sua regulação e domínio pelo Estado, com influência do empresariado, embora seja também instrumento passível de utilização pelos trabalhadores na sua busca por direitos, é um dos aspectos mais fascinantes do uso desses acervos trabalhistas. Vencendo a complexa e aborrecida forma ritual desses instrumentos legais e adicionando a eles boa dose de conhecimento extraprocessual do contexto, Clarice consegue ler nas entrelinhas e captar dados que servem também para buscar indícios da solidariedade (ou não) entre os operários, de suas relações com os patrões e, principalmente, capatazes, e do que esperavam da justiça. Elucida, também, as estratégias e táticas utilizadas pelos patrões, as quais, frequentemente, lhes permitiam vantagens, mesmo nas reivindicações em que o direito do empregado era certo, como a prática de fazer acordos informais. Com a desistência do processo, o empregado recebia rapidamente, mas valor monetário menor do que lhe caberia por direito.
A pesquisa de Clarice Speranza consegue também visualizar outros temas, como a importância das mulheres dos mineiros no contexto das lutas dessa categoria, ao descrever sua participação nas iniciativas dos maridos ou companheiros. Afinal, seu emprego era a garantia de sustentação do próprio projeto de família operária e de sua permanência na cidade, a qual poucas oportunidades oferecia fora da empresa. A garantia do emprego e o nível de remuneração salarial eram, aí, um problema mais familiar e comunitário do que em outras regiões.
Não deixa a autora de assinalar o poder de pressão da empresa sobre seus trabalhadores e a própria justiça, especialmente durante o período de maior controle representado pela entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, sob a ideia de que o trabalhador mineiro não podia faltar ao serviço, pois era considerado como um “soldado” na “batalha da produção”.
Com respeito à autonomia e ao significado da justiça e das sentenças, pode-se entrever que, se houve juízes que conseguiram manter certa coerência em seus julgamentos e sentenças, por outro lado houve aqueles que buscaram intervir no ambiente de trabalho e condicionar os trabalhadores ao uso de formas apenas moderadas de reivindicações, especialmente durante a análise dos processos que foram impetrados para julgar comportamentos ocorridos durante a greve. Ou seja, havia um ethos jurídico social ao qual juízes e advogados queriam condicionar os trabalhadores. Estes, por sua vez, não queriam abrir mão de seus instrumentos tradicionais – os quais a própria autora demonstra serem mais eficazes que a justiça – em suas lutas.
Dessa forma, se o aprendizado é inerente ao contexto, é constante também a dialeticidade das relações entre os vários agentes que vivem do – e ao redor do – trabalho nas minas. Apesar das novas possibilidades abertas com o apelo à Justiça do Trabalho, transparece o fato de que as maiores vitórias da categoria ocorreram fora, por meio de greve e de ações ativas a favor de suas reivindicações, deixando para a justiça determinar os dados secundários dessas ações, ou seja, as sequelas que aparecem em função da realização da greve e da forma como esta mexe com os ânimos tanto de empregados, quanto de seus superiores, em termos de direitos e deveres respeitados ou não.
Se as formas de comportamento das partes envolvidas frente ao aparato legal da justiça trabalhista foram tão detalhadas nesse livro, o sentido foi o de trazer a público formas normalmente insuspeitadas, mas possíveis, de tratar com esses materiais jurídicos e que podem, portanto, servir de estímulo para futuras pesquisas. Mas o livro não se limita a esses acervos, pois também utiliza entrevistas com os trabalhadores e consultas à documentação da empresa, o que permite apresentar um panorama razoável do que seria a vida nas comunidades mineiras gaúchas e sua dependência intrínseca das empresas e do trabalho minerador.
Enfim, o livro de Clarice deve ser lido por todo pesquisador do trabalho que procure se basear nos métodos thompsonianos de análise, como prova de um trabalho cuidadoso, perspicaz e valioso, na perspectiva tanto de demonstração da utilidade da pesquisa nessas fontes, quanto da compreensão das lutas desse setor da classe operária brasileira, os mineiros de carvão.
Beatriz Ana Loner – Universidade Federal de Pelotas (UFP). Pelotas, RS, Brasil. E-mail: bialoner@yahoo.com.br.
[IF]The Country of Football: Politics, Popular Culture, and the Beautiful Game in Brazil – FONTES; HOLLANDA (RBH)
FONTES, Paulo; HOLLANDA, Bernardo Buarque de. The Country of Football: Politics, Popular Culture, and the Beautiful Game in Brazil. London: Hurst & Company, 2014. 274p. Resenha de: CORNELSEN, Elcio Loureiro. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.35, n.70 jul./dez. 2015.
O “país do futebol” – muito se escreveu e se alimentou esse mito nas últimas quatro décadas, dentro e fora do Brasil. Nesse sentido, The Country of Football oferece ao leitor um percurso pela história do futebol brasileiro, de seus primórdios aos dias atuais, percurso esse pavimentado por contribuições de vários pesquisadores brasileiros e estrangeiros.
Na introdução intitulada “The Beautiful Game in the ‘Country of Football'” (p.1-16), os historiadores Paulo Fontes e Bernardo Buarque de Hollanda, organizadores da obra, ressaltam que o Brasil continua a ocupar uma posição de destaque no cenário internacional, quando o assunto é futebol. Pela trajetória vitoriosa, coroada pela conquista de cinco títulos mundiais, a expressão “Country of Football” teria se tornado “nossa própria metáfora de Brasil” (p.2).1
O primeiro capítulo do livro, intitulado “The Early Days of Football in Brazil: British Influence and Factory Clubs in São Paulo” (p.17-40), da socióloga Fátima Martin Rodrigues Ferreira Antunes, versa sobre os primórdios do futebol brasileiro. De início, a autora chama a atenção para o fato de que o football já era praticado como atividade física na década de 1880 em escolas religiosas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa nova modalidade adotada pela elite logo despertaria o interesse também de membros das classes operárias, o que culminaria com a formação dos chamados “clubes de várzea” e, sobretudo, de clubes de fábricas, num primeiro passo rumo à popularização.
No capítulo seguinte, intitulado “‘Malandros’, ‘Honourable Workers’ and the Professionalisation of Brazilian Football, 1930-1950” (p.41-66), o historiador norte-americano Gregory E. Jackson enfoca o período de profissionalização do futebol brasileiro a partir de 1933. De acordo com esse autor, sob o jugo autoritário, o futebol representou “uma ferramenta pedagógica para construir cidadãos eugenicamente aptos e culturalmente ortodoxos” (p.43). No contexto da Era Vargas, “o jogo e a cultura do futebol apresentaram um tropo para as críticas da suposta democracia racial do Brasil” (p.61), e encontraram no sociólogo Gilberto Freyre e no jornalista Mário Filho dois pensadores fundamentais na construção do discurso em torno do “mulatismo” como traço de um suposto estilo brasileiro de jogar.
O terceiro capítulo, “Football in the Rio Grande Do Sul Coal Mines” (p.67-85), da antropóloga Marta Cioccari, dedica-se ao estudo de um caso específico: investigar “a importância social e o simbolismo da classe trabalhadora como expressos na vida de mineiros e ex-mineiros de carvão no município de Minas do Leão, no Rio Grande do Sul” (p.67). Trata-se de uma pesquisa etnográfica realizada pela autora, que residiu no período de setembro de 2006 a fevereiro de 2007 em Minas do Leão, uma pequena localidade com cerca de 8 mil habitantes, cuja fonte de renda principal é a mineração. Segundo a autora, o futebol desempenha papel importante no cotidiano do município, onde os primeiros clubes criados por trabalhadores das minas foram fundados nas décadas de 1940 e 1950 (p.69).
No quarto capítulo, “‘Futebol De Várzea’ and the Working Class: Amateur Football Clubs in São Paulo, 1940s-1960s” (p.87-101), o historiador Paulo Fontes destaca a relevância do futebol de várzea como forma de lazer, especialmente em bairros operários das grandes cidades brasileiras. Segundo o autor, “para muitos, o fervor dos torcedores e o sentimento de apego entre os clubes locais e suas comunidades fazem do futebol amador, do futebol ‘real’, herdeiro do que há de melhor nas tradições do futebol brasileiro” (p.88). Tais clubes eram autênticos centros de lazer que integravam diversas atividades para além do futebol, atraindo, assim, amplos segmentos da comunidade em que se localizavam.
O quinto capítulo, “The ‘People’s Joy’ Vanishes: Meditations on the Death of Garrincha” (p.103-127), do antropólogo José Sergio Leite Lopes, apresenta uma “etnografia do funeral” (p.103) de Manuel Francisco dos Santos, mundialmente conhecido como Garrincha. “Uma canção de gesta medieval” (p.108): assim define o antropólogo a intenção de cronistas esportivos, em jornais publicados logo após a morte do ex-jogador, em atribuir sentido épico à carreira de Garrincha, marcada por triunfo e fama no esporte, graças à extrema habilidade em driblar os adversários que o tornou uma figura legendária, não obstante a fase de decadência e a morte trágica, praticamente esquecido, vítima do alcoolismo, em Bangu, no subúrbio do Rio.
No sexto capítulo, “Football as a Profession: Origins, Social Mobility and the World of Work of Brazilian Footballers, 1950s-1980s” (p.129-146), o historiador francês Clément Astruc investiga o testemunho de 43 ex-jogadores que atuaram na seleção brasileira entre 1954 e 1978, no intuito de refletir sobre a real capacidade do futebol como meio de ascensão social da classe trabalhadora. Vários entrevistados foram taxativos ao afirmar que a sociedade, em geral, não via com bons olhos o jogador de futebol, por não considerar sua prática uma profissão. Ao invés disso, termos depreciativos lhes eram atribuídos, como, por exemplo, “vagabundo”, “malandro” ou “safado” (p.133).
No sétimo capítulo, “Dictatorship, Re-Democratisation and Brazilian Football in the 1970s and 1980s” (p.147-166), o antropólogo José Paulo Florenzano enfoca o impacto da ditadura civil-militar (1964-1985) sobre o âmbito do futebol brasileiro e estabelece “um contraponto entre a ‘utopia autoritária’, forjada no contexto de militarização, e a República de Futebol, fundada no contexto da redemocratização” (p.148). A militarização do esporte com fins de propaganda teve várias facetas. Mas, como bem aponta o antropólogo, não faltaram vozes no âmbito do futebol para se rebelar contra esse status quo, em busca de uma democratização de seu meio profissional e, igualmente, da sociedade como um todo.
O oitavo capítulo, “Public Power, the Nation and Stadium Policy in Brazil: The Construction and Reconstruction of the Maracanã Stadium for the World Cups of 1950 and 2014” (p.167-185), do historiador Bernardo Buarque de Hollanda, versa sobre a construção do Estádio do Maracanã para a Copa de 1950 e estabelece uma comparação com a sua reconstrução no contexto da organização da Copa de 2014. Nesses dois momentos, houve uma mudança sensível em relação ao público torcedor: enquanto em 1950 havia uma política inclusiva, até mesmo por se tratar de uma época em que a televisão ainda estava ausente das transmissões, nos anos 2000, com as diretrizes da FIFA e uma maior midiatização, passa a vigorar uma política de exclusão, no espaço dos estádios, de segmentos populares da sociedade, impossibilitados de arcar com os altos preços dos ingressos.
Por fim, o nono capítulo, “A World Cup for Whom? The Impact of the 2014 World Cup on Brazilian Football Stadiums and Cultures” (p.187-206), do geógrafo norte-americano Christopher Gaffney, propõe uma reflexão sobre o impacto da Copa de 2014 para os estádios e para a cultura no Brasil, examinando o desenvolvimento de projetos de construção de estádios e demais infraestruturas relacionadas ao esporte. Com extrema lucidez, o geógrafo conclui suas reflexões com um quadro nada otimista: “Esses processos têm o potencial de alterar, permanentemente, um elemento essencial da identidade cultural brasileira. Ironicamente, é o peso cultural do futebol como criado e sustentado pelo ‘povo’ que tornou possível sua potencialidade de venda no mercado global” (p.206). Afinal, não devemos nos esquecer de que, feito uma Medusa, o capital petrifica tudo aquilo que toca.
Nota
1 As traduções de trechos citados são de nossa autoria.
Elcio Loureiro Cornelsen – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Faculdade de Letras, Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários. Belo Horizonte, MG, Brasil. E-mail: cornelsen@letras.ufmg.br
[IF]
Luís Carlos Prestes: um revolucionário entre dois mundos – REIS FILHO (RBH)
REIS FILHO, Daniel Aarão. Luís Carlos Prestes: um revolucionário entre dois mundos. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Resenha de: SALES, Jean Rodrigues. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.35, n.69, jan./jun. 2015.
Luís Carlos Prestes nasceu em janeiro de 1898 e morreu em março de 1990. Em sua longa vida, participou de momentos marcantes da história do país e das esquerdas em particular. Nos anos 1920, foi um dos líderes do movimento que percorreu o Brasil em oposição ao governo Artur Bernardes e à forma de organização do regime republicano. Nos anos 1930, passou longo período na União Soviética, onde aderiu definitivamente ao comunismo e pavimentou sua entrada no Partido Comunista Brasileiro (PCB). Após retornar ao Brasil, participou da chamada Intentona Comunista, em 1935. Derrotado o movimento, esteve preso por vários anos, até emergir na segunda metade dos anos 1940, liderando um revigorado PCB após o final da guerra.
Com o governo Dutra, enfrentou nova fase de perseguições a partir da cassação do registro do PCB e nova imersão na clandestinidade. Do final dos anos 1950 até o golpe de 1964 viveu, com o PCB, os anos intensos da conjuntura dos governos Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, a renúncia deste e a conturbada posse de João Goulart. Entre 1961 e 1964, esteve presente nos debates sobre as Reformas de Base e outros projetos de desenvolvimento do país. Após o golpe, viveu novo e longo exílio na União Soviética, de onde acompanhou e foi protagonista da crise orgânica do PCB. De volta ao Brasil, em 1979, até a sua morte, participou, direta ou indiretamente, dos grandes eventos da redemocratização. Em linha geral, teve um posicionamento crítico ao PCB, aos partidos de esquerda e à chamada Nova República.
Pela dimensão da participação de Prestes nos eventos aqui sumariamente arrolados, poderíamos nos perguntar sobre a viabilidade de se escrever uma biografia completa sobre sua trajetória pessoal e política nesse quase um século de existência. As dificuldades colocadas para um empreendimento dessa natureza podem explicar o fato de o livro Luís Carlos Prestes: um revolucionário entre dois mundos ser o primeiro a assumir essa tarefa.1
Para dar conta da complexidade do longo período estudado, Daniel Aarão Reis dividiu a trajetória de Prestes em três grandes conjunturas, demarcadas por eventos políticos mais amplos e pela história de Prestes no interior do PCB: a primeira seria de 1898 a 1935; a segunda, de 1936 a 1964, e a terceira, de 1964 a 1990.
Além do próprio mérito de biografar uma figura representativa da história da esquerda brasileira no século XX, o livro tem seu ponto mais forte na utilização de ampla gama de fontes: entrevistas com militantes e ex-militantes que conviveram com Prestes, tanto dos que continuaram próximos ou admiradores do legado do líder comunista, quanto de críticos e desafetos históricos, permitindo uma análise da trajetória do biografado no interior da máquina partidária; entrevistas realizadas com familiares, que possibilitaram vislumbrar os aspectos pessoas dessa trajetória; fontes do regime soviético e da Internacional Comunista pesquisadas em Moscou e, por fim, mas muito relevantes, gravações em áudio de reuniões do Comitê Central do PCB realizadas no exílio. O acesso às gravações, até então inéditas, permitiu a análise das percepções de parte dos dirigentes do PCB em relação a situação do partido na conjuntura que antecede a volta do exílio, em 1979, e, com isso, o próprio posicionamento de Prestes naquele momento. Os debates realizados pelo Comitê Central no exterior, que aparecem nas gravações, ajudam também a entender o afastamento de Prestes do PCB no decorrer da década de 1980.
Em um livro dessa natureza, sempre haverá quem aponte a falta de certos temas, a necessidade de aprofundamento desse ou daquele aspecto da trajetória de Prestes, bem como das abordagens implícitas da história do país ou do comunismo. São os casos, por exemplo, das relações do PCB e do próprio Prestes com os trabalhadores no decorrer do século XX. Do mesmo modo, pode-se discordar de uma interpretação, que permeia o livro, sugerindo que as opções de Luís Carlos Prestes teriam sido apostas em um sonho impossível: a realização de uma revolução socialista no Brasil. Caberia talvez expandir a análise e lembrar que no decorrer do século XX revoluções ocorreram em países nos quais não eram esperadas, além da vitória de lutas de vários povos do Terceiro Mundo a partir do pós-guerra.
Há ainda quem tenha apontado alguns equívocos factuais na narrativa, mas que, a meu ver, não causam danos importantes no texto, ainda que envolvam questões relevantes da vida pessoal do biografado. Porém, a opção do autor e da editora por uma forma de citação através da qual, em alguns momentos, não se consegue localizar completamente as fontes utilizadas para amparar as análises do livro, tem gerado desconforto, principalmente entre historiadores.2 Se, por um lado, a opção editorial tem como aspecto positivo permitir uma narrativa fluida, necessária em um livro de mais de quinhentas páginas, observa-se, em contrapartida, a imprecisão das citações. Essa característica do trabalho, que seria controversa em qualquer livro de história, agiganta-se ao se tratar de um tema por si só polêmico como é a vida e legado de Luís Carlos Prestes, tornando-se quase inevitáveis as críticas e divergências.
Como se vê, o livro apresenta aspectos superlativos e complexos, o que retrata a própria vida de Prestes. As divergências em torno do seu resultado denotam a complexidade do trabalho realizado. Assim, concordando ou discordando das análises de Daniel Aarão Reis, trata-se de leitura incontornável para os que querem conhecer a história de Prestes e do comunismo no século XX.
Jean Rodrigues Sales – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Nova Iguaçu, RJ,Brasil. E-mail: jeanrodrigues5@yahoo.com.br.
[IF]What is History for? Johann Gustav Droysen and the functions of historiography | Arthur Alfaix Assis
A publicação de What is History for? Johann Gustav Droysen and the functions of historiography, de Arthur Assis, apresenta uma proveitosa discussão sobre a historiografia de Johann Gustav Droysen (1808-1884), importante historiador alemão do século XIX. Com base na análise da historiografia de Droysen, o autor oferece ao leitor um amplo panorama da historiografia alemã durante o século XIX, centrando-se nos debates sobre o historicismo, paradigma dominante no conhecimento histórico alemão oitocentista, e na reformulação do valor pragmático para a historiografia. Nesse sentido, a obra de Arthur Assis não se dirige somente aos especialistas e pesquisadores do pensamento de Droysen, mas a todos os estudiosos de historiografia alemã e geral, história intelectual e mesmo historiografia política, uma vez que destaca as influências políticas do pensamento daquele autor. Leia Mais
A Justiça do Trabalho e sua história – GOMES; SILVA (RBH)
GOMES, Ângela de Castro; SILVA, Fernando Teixeira da (Org.). A Justiça do Trabalho e sua história. Campinas: Ed. Unicamp, 2013. 528p. Resenha de: LIMONCIC, Flávio. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.34, n.68, jul./dez. 2014.
Nos últimos 70 anos, as vidas de milhões de mulheres e homens Brasil afora se cruzaram nas varas da Justiça do Trabalho. Nos próximos anos, outras tantas o farão. A Justiça do Trabalho é uma instituição central não apenas do aparato estatal que regula as relações de trabalho no Brasil, mas do próprio mundo do trabalho brasileiro. Por isso, causa estranheza o fato de que ela tenha sido tão pouco visitada pela historiografia e pela sociologia do trabalho no Brasil. A Justiça do Trabalho e sua história, volume organizado por Ângela de Castro Gomes e Fernando Teixeira da Silva, constitui importante contribuição para a superação de tal lacuna. E o faz segundo a melhor tradição historiográfica, com base em exaustiva pesquisa de fontes produzidas por esse ramo do Poder Judiciário ao longo de décadas e em diferentes cidades e regiões do Brasil, envolvendo tanto trabalhadores individuais quanto categorias profissionais.
O livro é estruturado em cinco partes, além de uma apresentação na qual os organizadores realizam um apanhado histórico da trajetória do tribunal. A começar pelos organizadores, os autores têm longa trajetória acadêmica ou profissional e larga produção na área de estudos do trabalho.
A primeira parte, com textos de Clarice Gontarski Speranza e Rinaldo José Varussa, trata da conciliação entre patrões e empregados em torno das condições de vida e trabalho. Speranza desenvolve suas reflexões a partir das relações entre mineiros de carvão e seus patrões no Rio Grande do Sul, entre 1946 e 1954, ao passo que Varussa o faz a partir dos trabalhadores de frigoríficos do Oeste do Paraná nas décadas de 1990 e 2000. A segunda parte discute a Justiça do Trabalho na arbitragem dos conflitos entre patrões e empregados. O texto de Antonio Luigi Negro e Edinaldo Antonio Oliveira Souza desenvolve uma reflexão sobre a Justiça do Trabalho na Bahia entre 1943 e 1948, ao passo que Benito Bisso Schmidt realiza sua análise a partir da ação de uma trabalhadora da indústria de sapatos em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, entre 1958 e 1961. Fernando Teixeira da Silva e Larissa Rosa Corrêa discutem a questão do poder normativo da Justiça do Trabalho na terceira parte, o primeiro em São Paulo às vésperas do golpe de 1964, a segunda tendo como tema a política salarial nos primeiros anos da ditadura civil-militar (1964-1968). A atuação da Justiça do Trabalho no mundo rural brasileiro é o tema da quarta parte. Antonio Torres Montenegro reflete sobre a ação de tal Justiça na ditadura civil-militar, ao passo que Frank Luce trata do estatuto do trabalhador rural na região do cacau. Por fim, na quinta e última parte se discute a Justiça do Trabalho diante das formas de contratação do trabalho oriundas de processos de flexibilização e precarização das relações de trabalho. Vinícius de Rezende concentra suas reflexões na indústria do calçado de Franca entre 1940 e 1980, Magda Barros Biavaschi reflete sobre a terceirização a partir de processos judiciais, e Ângela de Castro Gomes discute a Justiça do Trabalho diante do trabalho análogo à escravidão.
Muito embora historiadores que atuam em diversas universidades brasileiras componham a maioria dos trabalhos referidos – como, aliás, seria de se esperar em um livro que traz a História em seu nome –, Frank Luce é advogado trabalhista e professor de estudos do trabalho na York University, Toronto, e Magda Barros Biavaschi é desembargadora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. A reflexões de ambos evidenciam a importância não só do diálogo com outras disciplinas – no caso da Justiça do Trabalho, o diálogo com a área de direito parece de evidente importância –, como, também, da incorporação de ângulos novos ao tema, como os estudos sobre o mundo rural.
Na Apresentação, os organizadores introduzem, ainda, uma questão fundamental, dessa vez relativa às fontes.
Ainda que a compreensão do que constitui fonte histórica tenha mudado desde que a disciplina histórica se constituiu como campo do saber, fontes continuam sendo imprescindíveis para o trabalho do historiador, e este volume anda de par em par com a literatura histórica e sociológica que, nas últimas décadas, tem utilizado fontes judiciais. No entanto, advertem os organizadores do volume, a documentação produzida pela Justiça do Trabalho tem sido sistematicamente eliminada graças à Lei 7627, de 10 de novembro de 1987 (coincidentemente, o 50º aniversário do Estado Novo). Somente no ano de 2005, quase 540 mil processos foram eliminados no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, localizado em São Paulo.
A Lei 7627 é apenas uma das ameaças às fontes judiciais brasileiras. Outras provêm de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional e de Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, às quais vem somar-se a rápida e constante inovação tecnológica que torna obsoletos e, portanto, potencialmente inacessíveis, diversos suportes imateriais, como arquivos eletrônicos. Nesse sentido, o presente livro constitui, também, um alerta para o tipo de reflexão que pode ser perdido caso as fontes judiciais brasileiras em geral, e as da Justiça do Trabalho em particular, sejam efetivamente descartadas.
Suscitar questões, mais do que chegar a conclusões, parece ser a medida de um bom trabalho. E este o faz, ao sugerir ao menos duas, que são tratadas de passagem na “Apresentação”. Da longa manus do Estado de inspiração fascista a elemento do que Ângela de Castro Gomes chama, em outro trabalho, de pacto trabalhista, seria de grande interesse que a Justiça do Trabalho fosse pensada de forma mais sistemática na arquitetura institucional do corporativismo brasileiro. Seria de igual interesse, também, que o papel do Estado na mediação do conflito entre patrões e empregados fosse estudado num enfoque internacional comparativo. De fato, no contexto dos anos 1930 e 1940, vários países criaram agências estatais para a regulação de diferentes mercados, inclusive o de trabalho.
Ao sugerir tais questões, assim como ao reunir reflexões de tal qualidade, A Justiça do trabalho e sua história constitui contribuição fundamental não só para a compreensão da atuação da Justiça do Trabalho, como também para um melhor entendimento de como esta se enraizou nos corações e mentes de gerações de trabalhadores brasileiros.
Flávio Limoncic – Departamento de História, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio). E-mail: limoncic@gmail.com.
[IF]
O governo local na fronteira Oeste: a rivalidade entre Cuiabá e Vila Bela no século XVIII – JESUS (RBH)
JESUS, Nauk Maria de. O governo local na fronteira Oeste: a rivalidade entre Cuiabá e Vila Bela no século XVIII. Dourados: Ed. Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), 2011. 197p. Resenha de: MOURA, Denise A. Soares de. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.34, n.68, jul./dez. 2014.
A pesquisa sobre o governo local das câmaras tem longa tradição na historiografia portuguesa, mas apenas no século XXI tornou-se objeto de interesse da historiografia brasileira. Nos anos 1940 Edmundo Zenha escreveu uma obra específica sobre o município e o poder municipal no Brasil colônia. Mas foi um historiador anglo-saxão, John Russell-Wood, que na década de 1970 realizou densa pesquisa sobre a câmara de Vila Rica.
Em 2001, em um contexto de forte mudança de rumo teórico-metodológico da historiografia no Brasil (Fragoso, 2001; Sousa, 2003; Comissoli, 2006; Souza, 2007; Borrego, 2010; Monteiro, 2010), Maria Fernanda Bicalho publicou um texto repleto de sugestões de pesquisa sobre o governo das câmaras (Cunha; Fonseca, 2005; Zenha, 1948; Russell-Wood, 1977; Bicalho, 2001) que estimulou uma série de outras pesquisas.
Uma delas é o livro O governo local na fronteira Oeste, originalmente tese de Doutorado defendida na Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2006, com o título Na trama dos conflitos: a administração na fronteira Oeste da América portuguesa (1719-1778). A autora, Nauk Maria de Jesus, é professora na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e especialista na História do Mato Grosso. Recentemente publicou também o Dicionário de História de Mato Grosso, com verbetes referentes ao período colonial.
O livro é uma versão resumida da volumosa tese e está formado por três capítulos distribuídos ao longo de 197 páginas que tratam de questões econômicas, políticas e administrativas das duas principais vilas situadas na fronteira oeste do Brasil: Vila Real do Cuiabá (fundada em 1727) e Vila Bela da Santíssima Trindade (de 1752).
Uma questão central da obra é a da disputa ocorrida essas duas câmaras, a partir de 1752, por privilégios e posições de precedência, algo que garantia status na estrutura administrativa e o acesso a melhores receitas orçamentárias. A criação da capitania de Mato Grosso, em 1748, é o pano de fundo dessa rivalidade.
O primeiro capítulo do livro disseca a estrutura humana e funcional das duas câmaras, identificando seu corpo de funcionários e fornecendo dados que permitem até mesmo medir a diferença com instituições camarárias de outras regiões.
Chamo atenção, por exemplo, para a constatação da autora de que existiu juiz de fora na Câmara de Vila Bela na época de sua fundação, o que significou a eliminação temporária da figura do juiz ordinário. Pesquisadores sobre o governo local das câmaras compreendem o quanto esse dado é importante por evidenciar as diferenciações regionais do poder do Império na América. Em São Paulo, por exemplo, há notícia de instalação de juiz de fora apenas em 1803.
Ou seja, nas regiões de fronteira com o Império hispânico, onde havia um ambiente bastante favorável para relações de interesses entre diferentes grupos étnico e sociais, a Coroa portuguesa pode ter tido maior zelo em manter a justiça nas mãos de funcionários régios, ao invés dos eleitos localmente, como acontecia com os juízes ordinários.
Como mostra a autora, em Vila Real ou em Vila Bela, assim como aconteceu em Vila Rica, não houve a formação de um corpo de funcionários oriundos e aparentados nas elites dos primeiros conquistadores. No caso das duas câmaras do Mato Grosso, esses funcionários foram comerciantes, também proprietários de terras e engenhos e criadores de gado, mas sem o verniz das linhagens. Alguns foram oficiais de ofício, sapateiros por exemplo, que com as oportunidades próprias de toda área fronteiriça e de ocupação tardia, ascenderam socialmente por serviços prestados à Coroa ou pela labuta cotidiana de mercador.
O capítulo 2 aborda o período de regência da câmara de Vila Real do Cuiabá e sua atuação. O Oeste do território do Brasil pertencia à capitania de São Paulo, e seu governador, Rodrigo César de Menezes, associado com a ordem municipal, trabalhou para a efetiva incorporação da região ao Império português. Essa iniciativa conjunta deu origem, em 1748, às capitanias de Goiás e Mato Grosso.
Nesse processo de reordenamento administrativo da região houve uma série de conflitos com a população indígena local, especialmente os Paiaguás, envolvidos em negócios de contrabando, extravios do ouro e comércio de mão de obra cativa indígena. Essas lutas contra o gentio, que na realidade significavam também o combate das próprias pretensões castelhanas na zona fronteiriça, marcaram a identidade de vassalos da câmara de Vila Real. Ao arriscar suas vidas nos confrontos com Paiaguás e espanhóis, esses vassalos se viam como executores de determinados serviços e, portanto, dotados de certos direitos.
O capítulo 3 focaliza a rivalidade que existiu entre as duas câmaras no processo de implantação da ordem administrativa na fronteira Oeste. Quando de sua fundação, Vila Bela alcançou uma série de honras e privilégios que na realidade Vila Real considerava como seus de direito, tendo em vista os vários serviços que havia prestado ao rei na ocasião do estabelecimento dos primeiros povoamentos, como o combate aos índios e aos espanhóis. Vila Bela foi agraciada com benefícios e isenções, status de “vila-capital”, tornando-se sede do aparato administrativo e fiscal da capitania e recebendo em seu território instituições como a Ouvidoria, a Intendência do ouro e a Provedoria da Real Fazenda.
Embora a historiografia sobre a ordem municipal viva atualmente um início de renovação, com o surgimento dos primeiros trabalhos que concentram suas investigações sobre um funcionário específico (Schmachtenberg, 2012), O governo local na fronteira Oeste, diferindo da tradição monográfica portuguesa e mesmo dos primeiros trabalhos concluídos no Brasil, focalizou relações intercamarárias, o que é um ponto de originalidade da obra.
Essas rivalidades entre câmaras não foram específicas do Mato Grosso. Uma série de outras do mesmo gênero aconteceram e podem ter sido um dos últimos esforços de reordenamento administrativo do Império português em seu período tardio (1790-1820). Desde 1768 a vila de Santos disputou precedência com a de São Paulo. O ilustrado Marcelino Pereira Cleto chegou a defender a ideia de que a vila de Santos fosse alçada à condição de sede administrativa da capitania.
Mesmo em 1812 a transferência da sede da comarca da vila de Paranaguá para a de Curitiba foi motivo de bastante mal-estar entre essas duas câmaras (Severino, 2009). Houve, portanto, um contexto de transferência de poderes municipais no período colonial tardio que ainda não foi suficientemente pesquisado.
O que faltou no livro, embora apareça na tese, foi a melhor explicitação da terminologia administrativa do período. Alguns pesquisadores vêm se dedicando a esse aspecto bastante revelador da lógica hierárquica do antigo regime (Damasceno, 2003), o que contribui para um maior rigor nas conclusões sobre a história administrativa da época moderna.
A expressão “vila-capital”, ao se referir à câmara principal ou à condição administrativa disputada por ambas as câmaras, poderia ter sido mais problematizada. Essa expressão parece não ter feito parte da terminologia administrativa oficial da época. Os dicionaristas Raphael Bluteau (1728) e Antonio de Morais Silva (1798) definem como unidades administrativas os julgados, vilas, cidades, comarcas e paróquias. Capital não é definida como unidade regional-administrativa. Neste caso, a expressão “capital” que aparece nas representações, ofícios e petições analisados pela autora não teria sido, talvez, uma invenção dos próprios habitantes das vilas em disputa? Ou seja: em que medida a escrita pública local não foi responsável por reelaborar a terminologia administrativa da época, criando novas expressões que atribuíam status a uma localidade?
Assim, do mesmo modo como os habitantes da colônia foram responsáveis por criar outras designações sociais, esse mesmo processo pode ter ocorrido nas designações urbano-administrativas, como o O governo local na fronteira Oeste sugere ao leitor, deixando ainda ao pesquisador em História administrativa uma questão nova para ser problematizada por meio dos escritos municipais.
Referências
BICALHO, Maria Fernanda Baptista. História do Brasil. História Moderna, História do Poder e das ideias políticas. In: ARRUDA, J. J.; Fonseca, L. A. (Org.) Brasil-Portugal. História: Agenda para o milênio. Bauru, SP: Edusc; São Paulo: Fapesp; Portugal: ICCTI, 2001. p.143-166. [ Links ]
BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo (1711-1765). São Paulo: Alameda, 2010. [ Links ]
COMISSOLI, Adriano. Os “homens bons” e a câmara de Porto Alegre (1767-1808). Dissertação (Mestrado em História) – Departamento de História, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2006. [ Links ]
CUNHA, Mafalda Soares; FONSECA, Teresa (Org.) Os municípios no Portugal Moderno: dos forais manuelinos às reformas liberais. Évora: Colibri; Cidehus/EU, 2005. [ Links ]
DAMASCENO, Claudia. Funções, hierarquias e privilégios urbanos: as concessões dos títulos de vilas e cidades na capitania de Minas Gerais. Varia História, Belo Horizonte: UFMG, v.29, p.39-51, jan. 2003. [ Links ]
FRAGOSO, João et al. O antigo regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001. [ Links ]
MONTEIRO, Livia Nascimento. Administrando o bem comum: os “Homens bons” e a câmara de São João del Rey, 1730-1760. Dissertação (Mestrado em História Social) – Departamento de História, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010. [ Links ]
RUSSELL-WOOD, A. J. R. O governo local na América Portuguesa: um estudo de divergência cultural. Revista de História, São Paulo: Universidade de São Paulo, n.9, p.25-79, jan.-mar. 1977. [ Links ]
SCHMACHTENBERG, Ricardo. “A arte de governar”: redes de poder e relações familiares entre os juízes almotacés na câmara municipal de Rio Pardo/RS, 1811-c.1830. Tese (Doutorado em História) – Departamento de História, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Porto Alegre, 2012. [ Links ]
SEVERINO, Caroline Silva. A dinâmica do poder e da autoridade na comarca de Paranaguá e Curitiba, 1765-1822. Dissertação (Mestrado em História) – Unesp. Franca, 2009. [ Links ]
SOUSA, Avanete Pereira. Poder local, cidade e atividades econômicas (Bahia, século XVIII). Tese (Doutorado em História) – Departamento de História, FFLCH, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003. [ Links ]
SOUZA, George Félix Cabral de. Elite y ejercicio del poder en el Brasil colonial: la Cámara municipal de Recife (1710-1822). Tesis (Doctorado en História) – Departamento de História, Universidad de Salamanca, 2007. [ Links ]
ZENHA, Edmundo. O município no Brasil, 1532-1700. São Paulo: Instituto Progresso Editorial, 1948. [ Links ]
Denise A. Soares de Moura – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), Campus Franca. E-mail: dmsoa1@yahoo.com.br
[IF]
Poetry and the Police: Communication Networks in Eighteenth-Century Paris – DARNTON (RBH)
DARNTON, Robert. Poetry and the Police: Communication Networks in Eighteenth-Century Paris. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2010. 209p. Resenha de: SOBRAL, Luís Felipe. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.34, n.68, jul./dez. 2014.
No momento em que o mundo encanta-se com os novos prodígios da comunicação, capazes de fazer crer que participamos de uma “sociedade da informação” absolutamente sem precedentes, o historiador cultural norte-americano Robert Darnton, especializado na chamada história dos livros e autor de um importante estudo sobre a publicação da Encyclopédie (Darnton, 1987), apresenta um caso desafiador que sublinha a importância da oralidade para a história da comunicação.
Em meados do século XVIII, a polícia parisiense prendeu o estudante de medicina François Bonis, acusado de redigir um poema contra Luís XV; no total, 14 pessoas foram encarceradas na Bastilha, conforme os investigadores seguiam o rastro de transmissão do poema. Ao longo desse percurso, o caso tornou-se complicado, pois surgiram outros cinco poemas sediciosos aos olhos policiais, cada um com seu próprio parâmetro de difusão: “eles eram copiados em pedaços de papel, trocados por pedaços similares, ditados a outros copistas, memorizados, declamados, impressos em folhetos clandestinos, adaptados em alguns casos a melodias populares e cantados” (p.11).1 A investigação não encontrou o autor do verso original provavelmente porque ele não existia: uma vez que os versos eram adicionados, subtraídos e transformados à medida que percorriam o circuito de comunicação, os poemas constituíam um caso de “criação coletiva” (p.11).
Registrada no dossiê policial como “L’Affaire des Quatorze”, a investigação produziu uma série de documentos (registros de interrogatórios, relatos de espiões, notas diversas) acessível na Bibliothèque de l’Arsenal, em Paris. Segundo Darnton, tal série “pode ser tomada como uma coleção de pistas para um mistério que chamamos ‘opinião pública'” (p.12);2 seu valor analítico repousa na capacidade de lançar luz sobre a importância da oralidade na história da comunicação, visto que o episódio indica a interpenetração entre oralidade e escrita em uma sociedade semiletrada.
Ao rejeitar definições apriorísticas de opinião pública (Michel Foucault e Jürgen Habermas), o autor envereda por 15 capítulos curtos que conferem a espessura histórica necessária para cada pista. O passo fundamental do livro é dado no momento em que se contrasta o teor político dos poemas à reação policial. Os 14 incluíam clérigos, burocratas e estudantes, isto é, pessoas oriundas dos estratos médios parisienses e provinciais, que “apreciavam trocar fofoca política em forma de rima” (p.22),3 uma atividade perigosa, porém distante de representar uma ameaça ideológica séria ao Antigo Regime; além disso, cantar músicas desrespeitosas e compor versos sarcásticos eram práticas comuns na Paris setecentista. A iniciativa da operação policial coube ao conde d’Argenson, “o homem mais poderoso do governo francês” (p.26),4 e foi realizada com muita competência: os suspeitos desapareciam das ruas da capital sem deixar rastros para não alertar o presumido autor do poema. Por que o Caso dos Quatorze provocou tamanha reação do aparato repressivo estatal? Tal questão não pode ser respondida pelos documentos produzidos pela Bastilha, pois o circuito de comunicação dos acusados carece de um vínculo tanto com a elite localizada acima da burguesia profissional como com os estratos populares alojados abaixo. Indícios presentes nos diários do marquês d’Argenson, irmão do conde, e de Charles Collé, poeta e dramaturgo da Opéra Comique, apontam a corte de Versalhes como fonte de alguns versos. Duas questões se apresentam: por que o conde tratou a investigação como um assunto da mais alta importância, e por que interessava a certos cortesãos que os versos fossem recitados pela população parisiense?
No final do livro, o leitor encontra seis apêndices: quatro fornecem detalhes sobre os poemas (letras, variações, popularidade), um transcreve um relatório policial, e o último, intitulado “Um cabaré eletrônico”, procura reconstruir, com a colaboração de músicos profissionais, 12 das inúmeras canções parisienses ouvidas em meados do Setecentos.5 Caracterizada pela transitoriedade, a prática musical impõe uma grande dificuldade ao historiador: o problema consiste na existência ou na ausência de uma ou mais fontes que ofereçam o repertório verbal e escrito do qual faziam parte as canções estudadas. Para reconstruir as canções, Darnton conta com cancioneiros, que fornecem as letras, e com outras fontes contemporâneas, que indicam a melodia, identificada pelas primeiras linhas ou títulos das canções. Se por um lado o esforço de reconstrução das canções implica levar a sério o desafio da história oral, por outro não se ilude com a falsa ideia de uma “réplica exata” (p.174).
Entre as canções do cabaré eletrônico distribuídas pelos 14, encontra-se “Qu’une bâtarde de catin”. Em uma de suas versões, ouve-se:
Qu’une bâtarde de catin
À la cour se voit avancée,
Que dans l’amour ou dans le vin
Louis cherche une gloire aisée,
Ah! le voilà, ah! le voici
Celui qui n’en a nul souci
Que uma puta bastarda
À corte se veja avançada,
Que no amor ou no vinho
Luís procure uma glória fácil,
Ah! lá está ele, ah! aqui está ele
Aquele que não tem nenhuma preocupação.6
Trata-se do poema mais simples e o que atingiu o público mais amplo entre os seis apreendidos pela polícia durante a investigação. Redigido para ser cantado ao som de uma melodia popular, identificada em algumas versões pelo refrão (“Ah! lá está ele, ah! aqui está ele”), esse poema apresenta a versificação mais comum das baladas francesas (ABABCC) e admitia inúmeras extensões, pois novos versos podiam ser facilmente incorporados. Cada um de seus versos atacava uma figura pública (a rainha, o delfim, o chanceler, os ministros), ao passo que o refrão denunciava os abusos do monarca, patético alvo do escárnio que se entregava aos prazeres mundanos enquanto o reino era ameaçado por vários problemas. Ao circular por Paris, a canção “tornou-se cada vez mais popular e cobriu um espectro cada vez mais amplo de questões contemporâneas conforme reunia versos” (p.68):7 as negociações de paz da Guerra da Sucessão Austríaca, a resistência ineficaz ao novo imposto denominado vingtième, as últimas disputas intelectuais de Voltaire. Em suma, observa-se a circulação de uma forma específica (as melodias) através das ruas e quais parisienses, processo pelo qual seu conteúdo (os poemas) é transformado pela população segundo os temas lançados em pauta pela conjuntura histórica: “Qu’une bâtarde de catin” tornou-se “um jornal cantado, cheio de comentários sobre os eventos contemporâneos e suficientemente cativante para um público amplo” (p.78).8
No exemplo transcrito, o alvo também era Madame de Pompadour, amante de Luís xv desde 1745. Compreende-se o ataque à Pompadour por sua origem plebeia; não apenas: na série de amantes reais, ela sucedeu às três filhas do marquês de Nesle, “o que era visto como adultério composto de incesto” (p.65).9 Do ponto de vista popular, tais escândalos ameaçavam o monarca e sua linhagem à ira divina; da perspectiva real, o ódio popular era uma manifestação da mão de Deus. Não se deve vislumbrar aí, explica o autor, uma possibilidade concreta de participação popular no mundo político, pois a França ainda está longe de 1789 assim como da Fronda, a revolta contra o governo do Cardeal Mazarino em meados do Seiscentos; no entanto, “uma população maior e mais alfabetizada exigia ser ouvida, e seus governantes a ouvia” (p.41).10 Luís xv era particularmente sensível ao que o povo dizia sobre ele, suas amantes e seus ministros, e monitorava a capital por meio da polícia e do ministro do Departamento de Paris, que detinha assim um imenso poder de manipular o rei. Há indícios de que o conde de Maurepas, hábil cortesão que ocupava tal cargo em 1749, distribuiu, encomendou ou escreveu versos satirizando Pompadour, aliada de seu rival, o conde d’Argenson; o objetivo era persuadir o rei da impopularidade de sua amante entre os súditos parisienses, porém seu plano não deu certo: Pompadour convenceu Luís xv a demitir Maurepas e d’Argenson tomou seu lugar.
A importância da circulação dos poemas, tendo eles origem na corte ou não, residia assim em sua capacidade de estabelecer uma rede de comunicação entre Versalhes e Paris: “um poema podia portanto funcionar simultaneamente como um elemento do jogo político cortesão e como uma expressão de outro tipo de poder: a autoridade indefinida mas inegavelmente influente conhecida como a ‘opinião pública'” (p.44).11 Tal argumento não apenas dispõe o autor contra o nominalismo que só permite falar em opinião pública após o primeiro uso documentado do termo, na segunda metade do século xix, como aponta uma conclusão mais abrangente. Ao argumentar, mediante o exame de um circuito de comunicação setecentista, que “a sociedade da informação existia muito antes da internet” (p.130),12 Darnton descreve, seja na corte de Versalhes seja nas ruas de Paris, as relações de força particulares que constrangiam tal circuito; esse procedimento serve assim para pensar todas as redes de comunicação, inclusive a internet, que não seria a materialização virtual de uma democracia sem limites, mas um instrumento submetido aos interesses específicos de cada um de seus usuários, cujo acesso e emprego de tal ferramenta ainda é mediado pela posição social.13
Após esse percurso tortuoso, lê-se na conclusão:
A pesquisa histórica assemelha-se ao trabalho de detetive em muitos aspectos. De R. G. Collingwood a Carlo Ginzburg, os teóricos não consideram a comparação convincente porque ela apresenta-os em um papel atraente como detetives, mas porque ela está relacionada ao problema de estabelecer a verdade – verdade com v minúsculo. Longe de tentar ler a mente de um suspeito ou resolver crimes exercendo a intuição, os detetives procedem de forma empírica e hermenêutica. Eles interpretam pistas, seguem informações e constroem um caso até chegarem a uma condenação – sua própria e frequentemente a de um júri. A história, como eu a entendo, envolve um processo similar ao de construir um argumento a partir da evidência; e no Caso dos Quatorze o historiador pode seguir os passos da polícia. (p.142)14
Não se deve ver nessas linhas o fantasma do positivismo, pois os arquivos policiais, considerados como fonte privilegiada da rede de comunicação estudada por Darnton, não são autônomos: os indícios que eles apontam devem ser necessariamente relacionados a outras fontes. Ao contrário dos detetives, o historiador precisa ultrapassar a dimensão circunscrita de um caso para entender seu significado mais amplo: o Caso dos Quatorze não é senão o meio de acesso à rede de comunicação que operava na Paris setecentista. Apartado da vivência social que lhe interessa compreender, o historiador encontra-se sempre diante de fragmentos por meio dos quais aquela vivência será reconstruída. Quais os limites dessa tarefa? Se a verdade deve ser estabelecida – pois os eventos históricos ocorrem de uma maneira específica e não de outra –, a interpretação está sujeita à coleção de pistas reunidas, que impõem um jogo complicado entre conjecturas e refutações: nenhuma interpretação é definitiva, nem toda interpretação é válida.
Referências
DARNTON, Robert. A Police Inspector Sorts His Files: The Anatomy of the Republic of Letters. In: _______. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History. New York: Vintage Books, 1985. p.145-189. [ Links ]
_______. The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encylopédie, 1775-1800. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1987. [ Links ]
_______. A World Digital Library Is Coming True! The New York Review of Books, v.LXI, n.9, p.8, 10-11, 2014. [ Links ]
Notas
1 “They were copied on scraps of paper, traded for similar scraps, dictated to more copyists, memorized, declaimed, printed in underground tracts, adapted in some cases to popular tunes, and sung”. Todas as traduções são minhas.
2 “The box in the archives … can be taken as a collection of clues to a mystery that we call ‘public opinion'”.
3 “The dossiers evoke a milieu of worldly abbés, law clerks, and students, who played at being beaux-esprits and enjoyed exchanging political gossip set to rhyme”.
4 “The initiative came from the most powerful man in the French government, the comte d’Argenson, and the police executed their assignment with great care and secrecy”.
5 Elas podem ser ouvidas e baixadas livremente em www.hup.harvard.edu/features/darpoe.
6 Bibliothèque historique de la ville de Paris, ms. 580, fólio 248-249, out. 1747 (p.153). Darnton modernizou o francês nas transcrições dos poemas (p.148).
7 “it [a canção] became increasingly popular and covered an ever-broader spectrum of contemporary issues as it gathered verses”.
8 “It had become a sung newspaper, full of commentary on current events and catchy enough to appeal to a broad public”.
9 “the king’s love affairs with the three daughters of the marquis de Nesle, which were viewed as adultery compounded by incest”.
10 “A larger, more literate population clamored to be heard, and its rulers listened”.
11 “A poem could therefore function simultaneously as an element in a power play by courtiers and as an expression of another kind of power: the undefined but undeniably influential authority known as the ‘public voice'”.
12 “The information society existed long before the Internet”.
13 Como se sabe, o próprio Darnton tem sido bastante ativo na defesa do livre acesso digital ao patrimônio intelectual constituído pela cultura escrita, ocupando atualmente uma posição na diretoria da Digital Public Library of America (www.dp.la); sobre essa questão, ver especialmente DARNTON, 2014, p.8, 10-11.
14 “Historical research resembles detective work in many respects. Theorists from R. G. Collingwood to Carlo Ginzburg find the comparison convincing not because it casts them in an attractive role as sleuths, but because it bears on the problem of establishing truth – truth with a lowercase t. Far from attempting to read a suspect’s mind or to solve crimes by exercising intuition, detectives operate empirically and hermeneutically. They interpret clues, follow leads, and build up a case until they arrive at a conviction – their own and frequently that of a jury. History, as I understand it, involves a similar process of constructing an argument from evidence; and in the Affair of the Fourteen, the historian can follow the lead of the police”. Darnton já discutiu as fontes policiais em outras ocasiões: cf., em particular, DARNTON, 1985.
Luís Felipe Sobral – Doutorando em Antropologia Social, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Bolsista Fapesp. E-mail: lf_sobral@yahoo.com.
[IF]A Reforma Papal (1050-1150): trajetórias e críticas de uma história – RUST (RBH)
RUST, Leandro Duarte. A Reforma Papal (1050-1150): trajetórias e críticas de uma história. Cuiabá: Ed. UFMT, 2013. 246p. Resenha de: DUARTE, Magda Rita Ribeiro de Almeida. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.34, no.68, jul./dez. 2014.
O Papado Medieval continua sendo um tema que atrai atenções, principalmente em decorrência da redescoberta de antigos acervos e de novas interpretações que possibilitam a renovação historiográfica. O modelo político centralizador ao estilo do Estado Moderno atribuído àquela instituição por estudiosos oitocentistas e novecentistas tem sido questionado por pesquisadores que se dedicam a estudar as relações de poder no medievo.
Nos últimos 7 anos, mais precisamente a partir de 2011, com a publicação da tese Colunas de São Pedro: a política papal na Idade Média Central e de outros relevantes trabalhos como O sagrado Gregoriano: o político como religiosidade, Leandro Duarte Rust é reconhecidamente o historiador brasileiro que provocou uma reviravolta na história política do papado medieval. A proposta do autor reside em refletir acerca das já canonizadas fórmulas de compreensão do poder papal na Idade Média, notadamente dos séculos XI ao XIII, sob perspectivas diferentes. Conceitos como “monarquia pontifícia”, “Reforma Gregoriana” e “poder” são revisitados e tomados, muitas vezes, como fruto do tempo do historiador que os consagrou. O leitor desatento poderia até insinuar que os trabalhos de Rust invalidam a imensa historiografia consolidada sobre o tema, mas, ao contrário, o historiador maneja com grande traquejo seu método de análise, valorizando não só a documentação pertinente, mas também tomando esses antigos trabalhos como objeto de pesquisa, como instrumentos para apresentar ao leitor a construção daqueles conceitos, além dos problemas suscitados por essas interpretações. Entendemos que foi sobre essas bases que A Reforma Papal foi produzida: um exercício de construção histórica permeado pela historiografia (antiga e recente) e a (re)visita aos documentos.
A obra está dividida em seis bem elaborados capítulos. O liame que há entre eles é a construção da noção de “Reforma Papal” e os inúmeros pontos controversos que existem na compreensão desse conceito. Os dois primeiros capítulos refletem acerca de duas correntes historiográficas que atribuem à época entre 1050 e 1150 a ideia de Reforma Gregoriana ou de Revolução Papal. No primeiro caso, Rust destaca a obra de Augustin Fliche, La Réforme Grégorienne, como inauguradora da noção de Reforma, e considera a situação da Europa secularizada, belicamente marcada pela miséria e pelo descumprimento da promessa de prosperidade que o Estado laico fizera. Portanto, um cenário propício para o desenvolvimento de sínteses históricas como a desse católico que buscou resgatar na Idade Média a possibilidade de “salvação da ordem pública europeia”. A Sé Romana teria sido, durante os séculos XI e XII, na perspectiva de Fliche, a única instituição capaz de livrar os cristãos do precipício da anarquia e da desordem, e a figura estadualista de Gregório VII é o exemplo inspirador de liderança, soberania e autoridade, necessárias à dita ordem pública.
Acerca da segunda ideia, a de “Revolução Papal”, Rust apresenta uma vasta historiografia desde Eugene Rosenstock-Huessy, Norman Cantor, até trabalhos mais recentes como os de Karl Leyser e Timothy Reuter. As discussões sobre o conceito giram em torno da impressão de que os gregorianos estavam bem “à frente do seu tempo”, e que seu projeto de mudanças, bem como suas ações, resultaram em um processo revolucionário que podia ser comparado às revoluções liberais do Setecentos ou à revolução comunista do primeiro quartel do século XX. Um dos principais pontos controversos dessa corrente, na opinião de Leandro Rust, seria a negação, por parte dos “revolucionários”, das práticas sociais do mundo senhorial em que viviam, algo que se torna ainda mais complicado quando colocado na perspectiva dos ideais políticos da virada do século XIX para o XX, presentes na análise daqueles defensores da via revolucionária. Para o autor, “o conceito implica uma negação sociológica, pois induz à certeza de que uma sociedade dominada por elites senhoriais é incapaz de mover positivamente os equilíbrios internos de uma época” (p.64). A ideia de “revolução” ganhou inúmeros adeptos ao longo do século XX, e Rust assevera que apesar do antagonismo em relação à perspectiva de “Reforma”, os dois conceitos têm em comum características do Estado Moderno e que nenhuma das duas noções dá conta de explicar, de maneira satisfatória, as experiências do homem medieval no seu próprio tempo.
Nos capítulos seguintes, o autor mostra como os dois conceitos abrigam a noção do sagrado ligada à cultura e às práticas sociais daquele período. A visão religiosa dos curialistas encontrava respaldo na vivência social. Dessa maneira, os reformadores tentavam separar o sagrado do profano para “monopolizar” a “gestão do sagrado”. Nesse sentido, Leandro Rust destaca a fatídica saída de Gregório VII para o exílio, frente à invasão de Henrique IV a Roma. Os atos do papa, cuja memória seria retrabalhada mais tarde (no século XVI), deram-lhe uma aura sagrada, miraculosa e triunfal. Tal memória construída sobre o ataque germânico e, antes, pela desobediência do rei, foi a de que o papa estava alinhado aos desígnios celestes – que o próprio Deus abençoava aqueles que lutavam em favor do bispo de Roma. A estratégia que sacralizou essas ações do campo político baseou-se na tentativa de superar a fraqueza que supuseram as perdas materiais e políticas originadas do conflito com o rei germânico. O objetivo de Rust ao destacar o “sagrado gregoriano” é ressaltar as particularidades que fazem da Igreja Romana uma instituição descentrada que negociava, a todo tempo, as relações, os pactos e os desacordos entre clérigos e leigos. Portanto, noções generalizantes, como “Reforma” e “Revolução”, não ajudariam a entender essa “Era Gregoriana”.
Além disso, Rust desenvolve uma reflexão acerca das pesquisas que defendem o período em apreço como uma época de “ascensão de uma cultura jurídica definida pela descoberta da lei escrita”. Sua conclusão é que, apesar de a historiografia já consolidada insistir no contrário, não há uma significativa substituição da oralidade pelo direito escrito. Argumenta, por exemplo, que Gregório VII não usou da lei canônica para apoiar suas decisões por ocasião da excomunhão de Henrique IV, mas sim da tradição bíblica. De maneira envolvente, o autor entrelaça os argumentos à análise historiográfica e aos documentos cuidadosamente traduzidos do latim, formando uma grande teia, inclusive quando se refere à oralidade textual. Seguindo a sua argumentação, é possível perceber que o direito canônico não debilita o poder que a oralidade e a voz têm no âmbito da política; ao contrário, dá-lhes nova vitalidade.
Na penúltima parte, o autor mostra como a geografia papal é ampla, por meio de um exemplo que permite ver como os interesses vinculados à construção da identidade coletiva e do nacionalismo lusitano, marcados pela religiosidade católica, impediram que a história de Portugal desse destaque à atuação do antipapa Gregório VIII. O clérigo bracarense Maurício Burdino teria sido alijado da história lusitana a partir do momento em que se uniu ao rei Henrique V contra o papa Pascoal II, deixando, portanto, de “defender os interesses de Portugal”. Para compreender o que esse silêncio historiográfico representa, Rust recupera a obra de Pierre David, que considera Burdino como um elemento fundamental na reconciliação entre o regnum e o sacerdotium, em 1122, na célebre “Concordata de Worms”. Além de David, o autor analisa também o peso que a filosofia política hegeliana teve sobre a tradição historiográfica portuguesa, e que explicaria o apagamento de Burdino da História. Esse capítulo proporciona uma sugestiva reflexão sobre o próprio ofício do historiador e os preconceitos a que ele está sujeito.
Por fim, Leandro Rust analisa o sentido religioso da palavra “desejo”, transformada em conceito político, com base no pensamento de dois grandes personagens: Pedro Damião e Bernardo de Claraval. O “desejo” é visto inicialmente como sentimento menor, depreciativo, ilegítimo, que enaltece as vontades do indivíduo em detrimento da coletividade, do bem comum. Os conflitos que tiveram lugar nas últimas décadas do século XI e em meados do século XII, entre o Papado e o Império, teriam sido marcados por atos mesquinhos, causados pelo “desejo”. Desse modo, caberia à Sé Romana punir ou afastar aqueles que quisessem apenas realizar sua própria vontade, portanto, foi essa uma das justificativas da excomunhão de Henrique IV. O termo “desejo” era associado, pelos papistas, à desordem, à “negação da autoridade”. Entretanto, a palavra-conceito é apresentada por Rust de maneira a destacar a sua historicidade ao sabor da própria política. Nesse sentido, observa-se ainda que os integrantes da Cúria pontifícia eram envolvidos por um pensamento político marcado pela teologia, pelo que, em vez de se falar em teoria política para o período, seria melhor recorrer à noção de teologia política.
Além de propor novas reflexões sobre velhos acervos e sobre a historiografia, a obra de Rust oferece ao leitor a possibilidade de entrar em contato com o texto das fontes utilizadas – diga-se de passagem, com notável rigor – provenientes de respeitadas edições em latim. Dessa forma, a obra também pode ser tomada como norte para novas pesquisas, já que coloca à disposição um vultoso inventário de importantes acervos sobre o assunto. Além desses, há mais um ponto significativo: a redação do autor e sua maneira de mostrar a que veio não descuida da erudição necessária, mas sem recorrer a uma retórica carregada de modismos vocabulares que dificultariam a compreensão de um leitor pouco afinado ao tema. Por fim, o estudo crítico de Leandro Rust em A Reforma Papal (1050-1150) apresenta-se como um novo convite à renovação (ou, talvez, à reinvenção?) da História Política da Idade Média, sem desrespeitar a antiga e dominante interpretação da historiografia, mas propondo novos olhares sobre o papado medieval, mesmo que eles pareçam ao leitor uma transgressão ao que já se apresenta, há muito, com ares definitivos.
Magda Rita Ribeiro de Almeida Duarte – Doutoranda, Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS), Universidade de Brasília (UnB). Bolsista CNPq. magdarita@hotmail.com.
Trabalhadores do mundo: ensaios para uma história global do trabalho – MARCEL (RBH)
MARCEL, Linden Van Der. Trabalhadores do mundo: ensaios para uma história global do trabalho. Campinas (SP): Ed. Unicamp, 2013. 520p. Resenha de: SILVA, Fernando Teixeira da. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.34, n.67, jan./jun. 2014.
No Congo belga do final do século XIX, em sua viagem pelo coração das trevas do “homem moderno”, Joseph Conrad encontrou bacongos mortos de tanto trabalhar no assentamento dos trilhos da ferrovia do rei Leopoldo, assim como assistiu à fuga dos que se recusavam a ser recrutados. Em pleno século XXI, na República Democrática do Congo, uma matéria do New York Times constata que 90% dos mineiros trabalham em condições análogas à de escravo, para extrair tungstênio e estanho usados em aparelhos eletrônicos consumidos em diferentes partes do globo. Lamentavelmente, eles não constituem exceção. Min Min, pseudônimo usado para evitar retaliações, foi recrutado aos 19 anos em sua terra natal, Miamar, para trabalhar em barcos pesqueiros na vizinha Tailândia, na esperança de encontrar dias melhores, conforme seu “agenciador” lhe havia prometido. Ao chegar às docas, ele lhe disse: “sou seu dono”. Min Min se viu forçado a trabalhar até 20 horas por dia, de domingo a domingo, sem receber qualquer remuneração. Ao tentar fugir, foi capturado e torturado com anzóis. A boa notícia é que, após 9 anos de pesadelos, Min Min conseguiu escapar e retornar para sua casa. “Eu me senti livre”, disse ele (Potenza, 2014). Não teve a mesma sorte a maioria dos cerca de 30 milhões de trabalhadores submetidos à “escravidão contemporânea” em mais de 160 países, segundo levantamento de um relatório sobre trabalho compulsório no mundo atual (Global Slavery Index, s.d., p.7).
Bem sabemos que, do Congo da época de Conrad aos barcos de pesca da Tailândia de nossos dias, a escravidão “moderna”, que vicejou das Grandes Navegações ao século XIX, tornou-se proibida por lei. Mais do que isso, qualquer trabalho que não seja considerado “livre” é moralmente censurável. Entretanto, a escravidão continua presente. É como se algo tivesse saído diferente do combinado, mas essa impressão logo se desfaz quando percebemos que a história do capitalismo, desde a expansão do mercado mundial no século XIV, foi sempre a história do trabalho compulsório, por compulsão tanto física quanto econômica. Tal constatação constitui a essência de Trabalhadores do mundo, livro que Marcel van der Linden publicou originalmente em inglês, em 2008, e que acaba de ser lançado em português pela Editora da Unicamp.
Dono de extraordinária erudição, diretor por vários anos do prestigioso Instituto Internacional de História Social (IIHS), de Amsterdã, e conhecedor de diversas línguas, o autor encontra-se muito bem posicionado para propor uma “história global do trabalho”, termo que, segundo ele, foi cunhado pelo próprio IIHS. Van der Linden logo alerta que não se trata de um novo paradigma, uma escola historiográfica ou outra Grande Teoria. Em termos concisos, tal história é uma “área de interesse”. Em primeiro lugar, está o interesse em produzir uma história transnacional e transcontinental, que seja capaz de romper as barreiras historiográficas confortavelmente fincadas nas fronteiras dos Estados-nação, muitas vezes naturalizadas. Em um contexto expandido de processos históricos, podem-se examinar combinações e fluxos materiais e simbólicos que atravessam diferentes dimensões geográficas, bem como elaborar comparações para testar hipóteses antes elaboradas no interior dos quadros nacionais.
Igualmente importante é o interesse em desafiar definições reducionistas de “classe trabalhadora”, tão ao gosto das perspectivas deterministas e evolucionistas de estudos empreendidos no chamado Atlântico Norte, para os quais os países periféricos acompanhariam os “estágios” de desenvolvimento do centro do capitalismo, onde teriam predominado os trabalhadores assalariados em estado “puro”. Um arraigado pensamento teleológico crê que a escravidão, a servidão por contrato, o trabalho autônomo, doméstico, infantil e de subsistência seriam formas residuais de exploração do trabalhador, não subordinadas à lógica da mercantilização capitalista e, portanto, fadadas ao desaparecimento. Se o campo de visão se amplia para uma escala global, pode-se observar que todas essas formas de trabalho são coexistentes e, muitas vezes, complementares. Para van der Linden, “a base de classe comum a todos os trabalhadores subalternos é a mercantilização coagida de sua força de trabalho” (p.41, grifo do autor). Por isso, importa inventariar os motivos que levam ao uso desta ou daquela modalidade de exploração da força de trabalho, ou o impedem. Seria o trabalho escravo menos eficiente porque “uma pessoa incapaz de adquirir propriedades não pode ter outro interesse que não comer o máximo possível e trabalhar o mínimo possível”, como pontificava Adam Smith (p.75)? São questões como esta que o autor busca deslindar, não apenas do ponto de vista dos cálculos econômicos, mas também a partir de considerações sobre normas comportamentais, legais, políticas e morais.
Essa síntese recobre a primeira e mais instigante parte do livro. Em seguida, pouco mais da metade do estudo é dedicado a analisar as expressões de ação coletiva dos “trabalhadores subalternos” contra a dominação do capital. Num verdadeiro tour de force, com exemplos extraídos sobretudo de vastíssima literatura secundária produzida nos cinco continentes, van der Linden apresenta, na segunda parte da obra, extensa taxonomia de organizações de trabalhadores (sociedades de auxílio mútuo e cooperativas) e, na terceira, formas de resistência, como greves e internacionalismo operário (os sindicatos curiosamente integram esta última parte, talvez reproduzindo teses que demarcam e hierarquizam as fronteiras entre mutualismo e sindicalismo, embora os limites entre ambos sejam muitas vezes fluidos e mal definidos). Por meio de descrições infatigáveis, o afã tipológico da obra ordena, categoriza e define fenômenos comuns, ao mesmo tempo em que estabelece semelhanças e diferenças entre eles. As mais de duas centenas de páginas que catalogam espécimes extraídos de distintos tempos e lugares buscam regularidades, tendências, frequências e comparações que colocam à prova e controlam generalizações tentadoras. O leitor pode se servir de diversas formas desse impulso classificatório, como ler os capítulos separadamente, conforme interesses específicos (como o próprio autor sugere na Introdução), e utilizar as informações de fôlego enciclopédico como referência para eventuais consultas.
A última parte é um apelo ao diálogo interdisciplinar, em particular com a economia, a sociologia e a antropologia. Merece destaque o capítulo sobre a teoria do sistema-mundo, em grande parte inspirado em Immanuel Wallerstein e nas reações às suas reflexões. Tal teoria considera que, desde o século XVI, o capitalismo expandiu-se mundialmente, configurando um sistema que se caracteriza “por uma única divisão internacional do trabalho e múltiplos territórios políticos (Estados) organizados numa totalidade interdependente formada por um centro de trocas desiguais no comércio internacional, e por uma semiperiferia economicamente situada a meio caminho entre o centro e a periferia” (p.320, grifos do autor). Van der Linden reconhece que o conceito apresenta limites, embora possa contribuir para a construção de uma história global do trabalho, o que o leva a retomar as questões centrais da primeira parte do livro. Reexamina agora os variados e, via de regra, simultâneos “modos de controle do trabalho”, assim como as estratégias de resistência das classes subalternas na medida em que o conflito capital-trabalho encontra-se no centro do desenvolvimento do sistema-mundo. De especial interesse são os capítulos 13 e 14, respectivamente dedicados ao estudo da interdependência entre trabalho de subsistência e de produção de mercadorias e ao impacto da incorporação de uma etnia de Papua-Nova Guiné, na Oceania, ao capitalismo e, em particular, ao trabalho assalariado.
Os grandes contornos que Marcel van der Linden oferece para a configuração de uma história global do trabalho revelam as muitas potencialidades dessa “área de interesse”, mas também convidam a refletir sobre seus riscos e desafios. Trabalhadores do mundo se encerra com uma observação de E. P Thompson: “cada acontecimento histórico é único. Mas muitos acontecimentos, separados entre si por vastas distâncias de tempo e espaço, revelam, quando colocados em relação mútua, regularidades de processos” (citado na p.413). A assertiva justifica muito do que van der Linden desenvolveu durante a maior parte do livro, mas também chama a atenção para a própria noção de processo que uma descrição tipológica pode colocar à deriva. A justaposição de exemplos sacados de diferentes tempos e espaços tende a sacrificar a própria historicidade dos fenômenos analisados e a percepção da mudança histórica. Riscos como esses são, felizmente, evitados no sugestivo capítulo sobre “internacionalismo operário”.
Assim como a ampliação do conceito de classe trabalhadora deve estar no cerne de qualquer história global do trabalho, parece fundamental alargar também o que se entende por formas de ação e organização coletivas dos trabalhadores. Elas, certamente, não se reduzem às instituições formais. Celebrações, rituais, lazer, esporte e “pequenas lutas” nos locais de trabalho são fenômenos que também podem ser examinados em escala global, pois constituem expressões culturais e políticas que, em diversos momentos, se interconectam em âmbito transnacional, o que obviamente van der Linden não ignora, embora tenha escolhido tratar, sobretudo, de um universo institucional mais conhecido e documentado.
Como “globalizar” a história do trabalho sem desconsiderar devidamente as características dos Estados-nação? Para lidar com essa questão, é elucidativo o estudo de Leon Fink sobre os marinheiros ingleses e norte-americanos dos séculos XIX e XX. Talvez não haja categoria de trabalhadores mais “propícia” a estudos transnacionais que os marítimos, envolvidos diretamente na “economia-mundo” e exercendo papel de relevo no transporte e no mercado global de mercadorias. Eles singram mares e oceanos que perpassam os mais diferentes territórios nacionais e trabalham em uma indústria altamente competitiva que desafia nações e impérios inteiros que queiram regular em escala internacional seus negócios e, principalmente, as relações de trabalho. Esforços regulatórios via de regra fracassaram, e os trabalhadores permaneceram por longo período submetidos a maus-tratos físicos e impedidos de abandonar o trabalho, sob o risco de condenação por deserção, motivo pelo qual foram frequentemente comparados a escravos. Fink acompanha os debates parlamentares, as disputas políticas, a legislação, os embates coletivos e os sindicatos empenhados, entre outros aspectos, em criar um mercado mundial de trabalho mais uniforme e, assim, capaz de equalizar salários e condições de trabalho assentadas em divisões étnicas e raciais. Para dar conta de uma história da luta pela regulamentação do trabalho dos marinheiros na “longa duração” e nos dois lados do Atlântico, o autor precisou contextualizar justamente a “cultura política” dos dois países nos mais diversos períodos abarcados pela obra, assim como as diferentes tradições políticas, institucionais e legais de ambos os Estados-nação (Fink, 2011). Em suma, descrições taxonômicas podem transformar as especificidades dos Estados nacionais em epifenômenos.
Por outro lado, a depender do problema, do objeto de estudo e da abordagem, principalmente quando o intento é analisar longos processos históricos, como o da regulação internacional do trabalho, o que se perde é a “experiência vivida” dos trabalhadores. Importa, então, perguntar se é da “natureza” da história global do trabalho, ocupada com teorias como a de “sistema-mundo”, enfatizar os aspectos “estruturais” em detrimento da história “vista de baixo”. Como van der Linden assinalou, não foram poucos os que viram aquela teoria como determinista, eurocêntrica, fechada e avessa a incorporar os trabalhadores, assim como muitos que a abraçaram defendem que as ações coletivas dos subalternos se interconectam em escala planetária em razão da divisão internacional do trabalho, cabendo aos trabalhadores o papel de protagonistas (capítulo 12).
Estamos diante do complexo problema dos “jogos de escala”. Seja como for, há bons exemplos que mostram a possibilidade de se articular as dimensões, por assim dizer, “macro e micro”, sem que se caia nas falsas dicotomias ainda em voga entre “totalização” e “fragmentação”, “estrutura” e “agência”, “poder” e “resistência”. Mais uma vez, histórias de marinheiros podem ser invocadas em nosso auxílio. Para Peter Linebaugh e Marcus Rediker, em estudo já consagrado (2008), os navios, nos séculos XVII e XVIII, foram tanto um espaço de dominação, tirania, insegurança e monotonia, quanto um meio de produção e ponto de convergência do radicalismo proletário do Atlântico Norte durante a formação do capitalismo. Náufragos, escravos, servos irlandeses, piratas, marinheiros, assalariados, quilombolas, ameríndios e plebeus de toda ordem interconectaram-se (para usar expressão cara a van der Linden) e fizeram circular experiências transcontinentais. Eles protagonizaram motins, revoltas e ondas revolucionárias, como foi o caso da revolução de São Domingos, cujo impacto, por razões que não cabem aqui elucidar, resultou na “nacionalização” dos grupos que formavam aquela “multidão” atlântica (“o que daí resultou foi nacional e parcial: a classe trabalhadora inglesa, os negros haitianos e a diáspora irlandesa“, p.300). Nessa obra merecidamente incensada, a abrangência do conceito de “classe trabalhadora” é ainda mais expandida, os processos transnacionais são historicamente contextualizados, a periodização acompanha grandes mudanças do capitalismo e do Estado marítimo britânico – tudo isso sem perder de vista a perspectiva dos “de baixo”.
Por fim, é preciso levar em conta que uma história global, sobretudo esta que se propõe a combater o eurocentrismo, requer também o desenvolvimento da internacionalização da história do trabalho em todos os quadrantes. Por um lado, muito já se tem feito nessa perspectiva, a começar pelos frequentes congressos internacionais para debater e publicar pesquisas afinadas com a proposta, tendo Marcel van der Linden e o IIHS como uns de seus principais animadores. Por outro, parafraseando o subtítulo de um texto influente de Carlo Ginzburg, as trocas são desiguais no mercado historiográfico. Nem sempre os protagonistas da história global conhecem o que está sendo realizado em todos os lugares. É evidente que se esforçam para isso, mas há limitações de ordem orçamentária, como as impostas até mesmo pelos Estados-nação do Atlântico Norte após a crise de 2008, os quais cortaram recursos para programas e instituições dos países do “capitalismo central” e limitaram ou mesmo inviabilizaram projetos em parceria entre Norte e Sul.
O mais importante, contudo, é ter em mente que, como bem observou van der Linden ao se referir ao idioma alemão, há línguas “ilegíveis”. Não seria o caso de reivindicar aqui pioneirismos nacionalistas nem listar com imodéstia as numerosas pesquisas – diversas em escala transnacional – que ampliaram o conceito de classe trabalhadora, rompendo, por exemplo, com as tradicionais narrativas da transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil. Pretendo apenas assinalar que é muito oportuna a publicação do livro em português, não apenas por suas propostas, mas igualmente pelo debate que pode provocar, de modo a levar os historiadores no Brasil a pensar sobre o quanto já foi feito e ainda pode ser percorrido na direção de uma história global do trabalho, mesmo que nem sempre com esse rótulo.
Referências
FINK, Leon. Sweatshops at Sea: Merchant Seamen in the World’s First Globalized Industry, from 1812 to the Present. Chapel Hill: The University of North Carolina, 2011. [ Links ]
GLOBAL SLAVERY INDEX. Walk Free Fondation, p.7. Disponível em: www.globalslaveryindex.org/report/; Acesso em: 22 abr. 2014. [ Links ]
LINEBAUGH, Peter; REDIKER, Peter. A hidra de muitas cabeças. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. [ Links ]
POTENZA, Alessandra. “21st Century Slavery”. The New York Times, Mar. 17, 2014 (“Upfront Magazine”, v.146, n.10, p.8-11). [ Links ]
Fernando Teixeira da Silva – Departamento de História, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). E-mail: ftdsilva@gmail.com.
[IF]O Passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina – PINTO; MARTINHO (RBH)
PINTO, António Costa; MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes (Org.). O Passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 336p. Resenha de: WASSERMAN, Claudia. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.34, n.67, jan./jun. 2014.
O passado ressurgirá mesmo quando existe um acordo inicial de esquecê-lo.
Alexandra Baharona de Brito e Mario Snajder
A historiografia sul-americana tem se dedicado ao tema das ditaduras de segurança nacional desde a sua implantação, em meados dos anos 1960, e o tema continua tendo desdobramentos importantes. A caracterização dos regimes – fascistas, burocrático-autoritários, civil-militares, ditatoriais, totalitários etc. –, a diferenciação com as ditaduras pregressas, o papel dos militares na política, os atores, o contexto nacional e internacional, a influência e participação dos Estados Unidos, o papel desempenhado pela Doutrina de Segurança Nacional (DSN), o esgotamento de um modelo de acumulação capitalista, o papel dos empresários nos golpes, o estudo sobre a resistência aos golpes, a guerrilha, as organizações de esquerda e as memórias de militantes foram objeto de pesquisa dos historiadores e mereceram atenção em livros e coletâneas. Nos primeiros anos do século XXI, o tema das ditaduras latino-americanas entrou definitivamente em outro campo referente ao debate sobre as políticas de memória instituídas ou não pelos governos pós-ditatoriais. Em 2014 o golpe de 1964 no Brasil completa 50 anos, data “redonda” consagrada para discussão e reflexão a respeito do legado autoritário, ou do quanto “restou” de resíduos na nossa sociedade brasileira do regime implantado a partir do golpe.
O livro organizado por Francisco Carlos Palomanes Martinho e António Costa Pinto, O passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina, está dedicado justamente a essa temática. Composto de dez capítulos que discutem temas fundamentais do legado autoritário em vários países na Europa e da América do Sul, o livro trata do ressurgimento e interpretação do passado autoritário durante as transições democráticas na Itália, Espanha, Portugal, Grécia e Brasil. Os casos são debatidos em um duplo sentido: as formas através das quais as elites políticas se apropriaram do acontecido e com ele lidaram, e a presença do passado no seio da sociedade.
O eixo que organiza a obra é a atitude perante o passado autoritário, notadamente as questões relacionadas à justiça de transição. Os capítulos estão embasados em forte teorização a respeito da transição democrática e de suas condicionalidades. O livro procura debater a hipótese de que a qualidade das democracias contemporâneas está fortemente influenciada pelo modo como as sociedades em transição lidaram com o seu passado autoritário. Punição das elites autoritárias, dissolução das instituições correspondentes, responsabilização dos indivíduos e do Estado pela violação dos direitos humanos são aspectos possíveis no cenário da justiça de transição ou do estabelecimento de uma “política do passado”.
Segundo a introdução de Costa Pinto, o volume está estruturado sobre três eixos, a saber: legados autoritários, justiça de transição e políticas do passado (p.19). No texto, um dos dois organizadores do volume procura esclarecer e estabelecer limites entre as definições de conceitos associados uns aos outros.
Por legado autoritário entendem-se “todos os padrões comportamentais, regras, relações, situações sociais e políticas, normas, procedimentos e instituições, quer introduzidos quer claramente reforçados pelo regime autoritário imediatamente anterior, que sobrevivem a mudança de regime…” (p.20). Os capítulos referem-se particularmente a dois legados: a permanência das elites políticas que apoiaram os regimes autoritários e a conservação de instituições repressivas.
Por justiça de transição entende-se toda “uma série de medidas tomadas durante o processo de democratização, as quais vão além da mera criminalização da elite autoritária e dos seus colaboradores e agentes repressivos e implicam igualmente uma grande diversidade de esforços extrajudiciais para erradicar o legado do anterior poder repressivo, tais como investigações históricas oficiais sobre a repressão dos regimes autoritários, saneamentos, reparações, dissolução de instituições, comissões da verdade e outras medidas que se tomam durante um processo de transição democrática” (apud Cesarini, p.22), ou “a justiça de transição é componente de um processo de mudança de regime, cujas diferentes facetas são uma parte integrante desse processo incerto e excepcional que tem lugar entre a dissolução do autoritarismo e a institucionalização da democracia” (p.23). Significa dizer que as decisões tomadas no âmbito da justiça de transição não são necessariamente punitivas. Podem ensejar a reconciliação ou combinar ambas as coisas. Ressaltam, pois, a forma como ocorrem as transições e a qualidade da democracia que está sendo proposta e instaurada.
Finalmente, por política do passado entende-se “um processo em desenvolvimento, no âmbito do qual as elites e a sociedade reveem, negociam e por vezes se desentendem em relação ao significado do passado autoritário e das injustiças passadas, em termos daquilo que esperam alcançar na qualidade presente e futura das suas democracias” (p.24). A política do passado envolve a forma como o passado é trazido à tona nos novos regimes democráticos, e a qualidade da democracia vai depender dessas atitudes, condenatórias ou sutilmente críticas. Ao longo dos capítulos do livro percebe-se que com respeito à política do passado, a ruptura foi menos frequente do que a convivência com os resíduos do autoritarismo, e que o tempo transcorrido entre a redemocratização e o estabelecimento de uma política do passado também deve ser considerado para comparar os diversos casos. A existência de múltiplos passados confrontados em sociedades recém-democratizadas conduz a uma diversidade de formas de lidar com o passado autoritário que vão desde a conciliação (transição pactuada ou negociada), com o estabelecimento de medidas de reconciliação em relação aos crimes cometidos pelo Estado, até a instauração de uma justiça de saneamento (transição por ruptura) com medidas punitivas.
Ao longo dos capítulos instauraram-se, portanto, as seguintes questões: nos casos estudados tratou-se de “esquecer ou reavivar o passado?”, “ocultar ou trazer à tona a memória do autoritarismo e/ou da resistência?”, “enfrentar ou não o passado autoritário?” e, finalmente, “é possível optar entre confrontar o passado ou esquecê-lo?”. Costa Pinto observa que mesmo diante da consolidação da democracia “as velhas clivagens da transição não desaparecem como por milagre: podem reemergir em conjunturas específicas” (p.29), e é isso que nos leva a compreender a frase que serviu de epígrafe à resenha: “O passado ressurgirá mesmo quando existe um acordo inicial de esquecê-lo” (p.300), aplicada aqui à realidade espanhola.
A instauração de uma política do passado depende de circunstâncias relacionadas com a força dos partidos políticos; os agentes que conduzem a transição; os traços singulares de cada ditadura (relativos à memória coletiva e ao terror instaurado no seio da sociedade); ao tempo de duração de cada ditadura; à qualidade da democracia anterior (cultura política); à autocrítica dos atores (políticos e intelectuais); o rompimento súbito ou prolongado com o regime autoritário; a capacidade dos atores políticos, intelectuais e midiáticos em incluir ou retirar os temas “política de memória, justiça de transição e avaliação do legado autoritário” da agenda a ser debatida pela sociedade como um todo, entre outros fatores mencionados ao longo dos capítulos.
No capítulo introdutório, Costa Pinto compara os casos de Itália, Espanha, Portugal e Grécia, sendo os três primeiros exemplos de ditaduras duradouras, com lideranças personalizadas e alto grau de inovação institucional, enquanto a Grécia assemelhou-se a um regime de exceção. As definições conceituais e a tentativa de comparação entre as quatro transições que aparecem no capítulo compensam a ausência de profundidade de cada um dos casos.
Marco Tarchi se debruça sobre “O passado fascista e a democracia na Itália”. Trata da queda do regime autoritário, do regresso da classe dirigente anterior ao fascismo, das diferenças entre o Sul e o Norte do país, dos matizes ideológicos de cada partido antifascista (dos mais moderados aos mais radicais) e, por consequência, das diferentes visões sobre a justiça de transição ou dos métodos para “desfascistizar o país” (p.51). Ainda se refere aos detalhes que envolveram o “ajuste de contas” – os ataques aos símbolos do regime, a dissolução das instituições do regime – e à política de saneamentos que vigorou na administração pública. No caso italiano, também se observa a pressão exercida pelos Aliados no sentido de garantir o julgamento dos que haviam colaborado com os alemães. A condenação pública do regime de Mussolini e atos de extrema violência verificados no processo transicional podem ser explicados também com base nessas pressões.
O capítulo sobre a justiça de transição em Portugal, escrito por Filipa Raimundo, trata da criminalização dos antigos membros da polícia política do Estado Novo. Aborda especialmente o papel dos partidos políticos no processo procurando elucidar como se constituiu o sistema partidário, quando a questão da justiça de transição entrou na agenda dos políticos e como os partidos se posicionaram a respeito das medidas punitivas. Através de quadros sintéticos, a autora verifica avanços e retrocessos nas medidas punitivas e, simultaneamente, aborda os reflexos na legislação que regulou o processo. Apresenta uma análise da imprensa diária e semanal, dos programas eleitorais e da imprensa partidária para avaliar a importância do tema.
Francisco Carlos Palomanes Martinho aborda “As elites políticas do Estado Novo e o 25 de abril”, através da memória construída em torno do último presidente do Conselho dos Ministros do Estado Novo, Marcello Caetano, em dois períodos: 1980, o ano de sua morte, e 2006, no ano do centenário de nascimento. Os dois períodos são contextualizados e ajudam a explicar a “batalha de memórias” (apud Pollak, p.128). O texto está apoiado em ampla bibliografia a respeito do político e verifica a ambivalência de sua trajetória, bem como questiona sobre o possível “encapsulamento” da memória no final do seu governo, o que reduziria, segundo Martinho, injustamente o papel dessa personagem. O capítulo não reabilita Caetano ou o Estado Novo, mas contribui para entender os objetivos do regime e as “artimanhas da memória” (p.155).
O caso da Espanha é abordado pelo capítulo de Carsten Humlebaek como um caso de transição negociada, em que a forte polarização da sociedade no período da ditadura resultou na necessidade de reconciliação na época da queda do franquismo. Segundo o autor: “A combinação da necessidade de reconciliar a nação com o medo de conflito traduziu-se numa procura obsessiva de consenso como um princípio indispensável para a mudança política depois de Franco, mas também fez os principais atores absterem-se de qualquer tipo de mudança abrupta que pudesse ser interpretada como revolucionária” (p.161). Humlebaek contextualiza o reaparecimento do tema na virada do século XXI, sobretudo na esfera pública, e descreve as organizações que surgiram em torno do tema.
Dimitri Sotiropoulos trata do caso grego e compara-o às transições na Espanha e em Portugal. O capítulo aborda o regime dos coronéis, a sua derrocada e a aplicação muito severa da justiça de transição que promoveu saneamento das instituições, inclusive das Forças Armadas. Revela igualmente, mediante pesquisa de opinião pública, que a sociedade grega não tem uma memória precisa de rejeição ao regime ditatorial. Segundo sua visão, o modelo grego de justiça de transição teve caráter “rápido e comedido” (p.212), o que ajuda a explicar o apagamento ou atenuação da memória a respeito do regime.
O capítulo dedicado ao Brasil, escrito por Daniel Aarão Reis Filho, debate a lei da anistia, aprovada no país em 1979, no que se refere aos “silêncios” que a legislação ajudou a produzir (p.217), quais sejam, dos torturados e torturadores, das propostas revolucionárias de esquerda e do apoio da sociedade à ditadura. Em seguida, o autor considera a possibilidade de revisão da Lei da Anistia e observa que a chegada de antigos militantes de esquerda ao poder impulsionou “questionamento aos silêncios pactados em 1979” (p.224). Finalmente, Reis Filho se pergunta se é positivo ou não para a sociedade brasileira discutir esses silêncios. Segundo sua visão, debater o passado é a “melhor forma de pensar o presente e preparar o futuro” (p.225).
Alexandra Barahona de Brito também aborda o caso brasileiro, considerando-o como uma das transições mais longas da América Latina, onde supostamente “a duração e o ritmo da transição se deram mais pela ação dos militares do que pela pressão da sociedade civil” (p.236). Ao descrever a forma como os militares tutelaram o processo e menosprezar a resistência e a pressão da sociedade no final dos anos 1970, Brito contribui para mais um silêncio, dos tantos referidos por Reis Filho. O capítulo, ao contrário dos demais, expressou opiniões sem a devida comprovação, bem como procedeu à caracterização de processos com utilização de adjetivos não muito esclarecedores, como aquele que qualifica a política de Lula e Fernando Henrique Cardoso em relação ao passado de “esquizofrênica” (p.244 e 246). Ainda assim, o capítulo mostra os avanços na direção do estabelecimento de uma política de memória. Finalmente, as explicações sobre os motivos que tornaram tão lento, no Brasil, o ritmo da “justiça de transição”, enunciadas na página 253, parecem mais uma vez fruto de opinião e não de um estudo de fontes históricas e da cultura política do país.
O capítulo 9, de Leonardo Morlino, propõe uma análise comparada dos “Legados autoritários, das políticas do passado e da qualidade da democracia na Europa do Sul”. Retoma conceitos e teorias formulados e apresentados ao longo de todo o volume e sugere uma relação entre “inovação dos regimes, duração e tipo de transição” (p.271). Seu texto apresenta dados de pesquisas de opinião pública nos países da Europa do Sul a respeito das atitudes da sociedade em relação ao passado autoritário e reflete sobre a qualidade da democracia em cada país.
Finalmente, no último capítulo Alexandra Baharona de Brito e Mario Sznajder refletem sobre a “Política do passado na América Latina e Europa do Sul em perspectiva comparada”. Completam assim um volume que pretendeu a cada passo comparar os casos e tirar experiências comuns e singulares para explicar as transições democráticas no final do século XX. Grécia, Portugal e Espanha, além de Argentina, Uruguai e Chile, são examinados no capítulo. A abordagem central é a respeito da transição e da instauração de mecanismos de acionamento do passado. Reflete igualmente sobre os legados da ditadura em cada país e como esse legado interfere na implementação da justiça de transição.
Diante de um “passado que não passa” e de resíduos autoritários que permanecem latentes em todas as sociedades estudadas, a leitura do livro nos faz pensar muito sobre as políticas de passado instauradas pelos Estados democráticos e sobre o papel do historiador de ofício nesse processo. Visto que as políticas de memória instauradas pelos Estados vão se modificando com o tempo porque respondem às preocupações do presente e são emolduradas pelo contexto histórico-social concreto, o livro nos induz a refletir sobre o ofício e a responsabilidade do historiador diante dessas políticas de memória instauradas pelos Estados e acerca dos processos traumáticos vividos pelas sociedades. As dimensões problemáticas do passado são a matéria-prima do historiador. Por isso, consolidada a democracia, cada nova geração de historiadores vai debruçar-se sobre o tema do autoritarismo e da ditadura e procurar incrementar o acervo de informações sobre o período. Com base nesse acervo de informações, caberá aos historiadores refletir a respeito das políticas de memória e estabelecer com a maior precisão possível a diferença entre o passado que emana dos interesses rememorativos dos Estados e os prováveis esquecimentos, omissões e artimanhas da memória que possam se contrapor às informações levantadas pelo historiador a partir das fontes e da pesquisa científica.
Claudia Wasserman – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisadora do CNPq. E-mail: claudia.wasserman@ufrgs.br.
[IF]
From Africa to Brazil: Culture, Identity, and an Atlantic Slave Trade, 1600-1830 – HAWTHORNE (RBH)
HAWTHORNE, Walter. From Africa to Brazil: Culture, Identity, and an Atlantic Slave Trade, 1600-1830. Cambridge (U.K.): Cambridge University Press, 2010. 254p. Resenha de: MACHADO, Maria Helena P. T. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.34 n.67, jan./jun. 2014.
Entre os povos do litoral da Alta Guiné, quando alguém cai doente ou morre, considera-se necessária a presença de um jambacous – palavra em crioulo para designar adivinhadores, curadores, médiuns e outras figuras sociais participantes do mundo do sagrado – capaz de curar o doente ou pelo menos restaurar o equilíbrio social perdido como consequência da ação maléfica de feiticeiros, causadores do mal. Utilizando-se de poções, amuletos ou grisgris, assoprando, declinando palavras sagradas e realizando outras performances, o jambacous, muitos deles mandinkas, assumia um importante papel na restauração do equilíbrio social das famílias, linhagens e comunidades. Nos séculos XVIII e inícios do XIX, para essas comunidades costeiras, era medida de grande importância detectar os feiticeiros maléficos para retirá-los da sociedade por meio da pena de morte ou da venda do indivíduo no circuito do tráfico transatlântico de escravos.
No Pará da década de 1760, o escravo mandinka José foi chamado para curar a escrava bijagó, Maria, que estava gravemente doente. Para tal, José preparou uma mistura de plantas e a administrou pronunciando palavras incompreensíveis, como parte de um ritual complexo que incluía tanto o conhecimento herbalista quanto o contato com o invisível. Nada sabemos da história pessoal de José. O fato, porém, de o tráfico entre a Alta Guiné e a Amazônia – como bem mostra o livro From Africa to Brazil – ter colocado em circulação um grande número de feiticeiros, pode lançar luz sobre aspectos ainda desconhecidos e insuspeitados da rica história atlântica que entrelaçou as sociedades costeiras e das terras altas da Alta Guiné com as da Amazônia colonial, mais particularmente o Maranhão da segunda metade do século XVIII e primeiras décadas do XIX.
Sintetizado em enxutas 254 páginas, o livro escrito por um dos maiores especialistas na história da Guiné, Walter Hawthorne, lança luz agora sobre diferentes aspectos que condicionaram a história da montagem de uma economia escravista atlântica no Estado do Grão-Pará e Maranhão.
Como mostra o autor, foi a dinâmica do tráfico transatlântico que promoveu a recuperação da economia da Amazônia, ocorrida a partir da fundação da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, em 1755, e até as primeiras décadas do século XIX. Analisando temas amplos e variados, o livro aborda a montagem e declínio de uma economia escravista amazônica baseada na mão de obra indígena, a estruturação do tráfico transatlântico – que permitiu a concretização das políticas reformistas pombalinas relativa ao desenvolvimento da cultura do arroz, principalmente no Maranhão da segunda metade do XVIII – e, finalmente, a estruturação de uma economia e uma sociedade escravistas na Amazônia.
A economia da Amazônia baseava-se, sobretudo, no labor que os trabalhadores escravizados da Alta Guiné desenvolviam no cultivo do arroz, trabalhando de sol a sol no inclemente clima tropical da região, em uma agricultura que sugava gigantesco volume de trabalho escravo, da etapa de derrubada da floresta à incessante capinação, colheita e beneficiamento do arroz carolina, o qual, muito apreciado pelos portugueses, encontrava um mercado consumidor voraz no ultramar. Assim, insisto, os escravos oriundos da Alta Guiné tornaram-se a base da economia e sociedade amazônicas do período. Os dados e análises dispostos nesse livro são ricos e variados, salvo engano o mais completo estudo a respeito da constituição da sociedade escravista transatlântica na Amazônia.
Entre a miríade de assuntos abordados por Hawthorne, dois aspectos sobressaem. Em primeiro lugar, ressalto a análise a respeito do tráfico de escravos, por meio da qual o autor corrige os dados disponíveis no The Transatlantic Slave Trade Database (www.slavevoyages.org). Utilizando-se de variados documentos – relatórios sobre tráfico de escravos, cartas, inventários de proprietários de fazendas e documentos eclesiásticos, entre outros, provenientes de ambas as regiões ligadas pelo tráfico transatlântico – Hawthorne mostra que o tráfico de escravos entre a Alta Guiné e a Amazônia, da segunda metade do século XVIII até meados do XIX, se desenvolveu principalmente à custa das sociedades costeiras e não das localizadas nas terras altas. Se, de fato, o tráfico engolia tanto populações de terras altas como costeiras – mandinkas, bijagós, papeis, balantas etc. – circunstâncias ligadas ao sistema social que produzia cativos acabaram por sugar majoritariamente grupos litorâneos. De fato, o livro discute como as sociedades costeiras da Alta Guiné se achavam particularmente sensíveis ao tráfico devido tanto à necessidade de consumo de instrumentos de ferro para a manutenção dos sistemas de irrigação e drenagem de águas nas áreas produtoras de arroz, quanto à dinâmica do sistema social de sequestro de indivíduos de etnias vizinhas e de perseguição de feiticeiros. As vítimas, vendidas aos agentes do tráfico local, a maioria destes “lançados”. Assim, From Africa to Brazil comprova que eram as sociedades costeiras que, subjugadas por suas próprias dinâmicas e demandas, se tornaram as mais fragilizadas frente ao tráfico.
Seguindo a interpretação proposta por Sidney Mintz e Richard Price, o autor argumenta que, mais do que o pertencimento a grupos étnicos específicos, a travessia do Atlântico produzia uma identidade pan-regional, estabelecendo profundos laços entre pessoas que usufruíam do mesmo universo cultural mais amplo, mas que, em suas sociedades originais, haviam permanecido separadas por pertencimentos étnicos específicos.
O segundo aspecto especialmente rico desse trabalho se materializa na discussão do sistema de produção de arroz e, neste, o papel desempenhado pelo trabalhador escravizado da Alta Guiné. Opondo-se à tese do “arroz negro”, desenvolvida por Judith Carney no livro Black Rice, cujo argumento central gira em torno da continuidade dos métodos e técnicas da produção desse cereal entre a África e as colônias das Américas, este livro documenta a descontinuidade entre o tipo de cultivo de arroz praticado nas terras alagadas da região costeira da Alta Guiné, que exigia um importante conjunto de saberes detidos pelos homens, e a agricultura de queimada e derrubada – a coivara –, dominante no espaço colonial amazônico dedicado à rizicultura. O que sugere este livro é que o sistema de plantio de arroz desenvolvido na Amazônia seria fruto da conjugação de saberes variados, provenientes dos indígenas, portugueses e, certamente, também dos trabalhadores provenientes da Alta Guiné– sendo, por seu caráter multicultural, mais bem conceituado como “brown rice”, algo como “arroz pardo”, que em inglês produz um trocadilho com o termo usado para definir arroz integral.
Se os homens teriam seus saberes tradicionais quase excluídos do sistema de produção colonial, teria cabido às mulheres a tarefa de manter e transmitir conjuntos de práticas e saberes ligados aos hábitos de vida e costumes alimentares originários das terras costeiras da Alta Guiné, permitindo a manutenção de fortes laços entre as populações escravizadas na Amazônia e o pan-regionalismo das sociedades étnicas de Cacheu e Bissau.
Finalmente, em seus últimos capítulos, Hawthorne se volta para a discussão do cotidiano do escravo na sociedade maranhense, marcado por crenças e práticas espirituais originárias da Alta Guiné. Aqui o autor se dedica a traçar as continuidades e permanências de práticas, ritos e crenças que permitem o rastreamento das íntimas conexões existentes entre a Alta Guiné e a Amazônia, de ontem e de hoje. Embora, sem dúvida, ele aí apresente instigantes dados e análises, essa é a parte menos aprofundada do livro. Resumida em capítulos curtos e carecendo de um maior diálogo com a história social da escravidão na Amazônia e em outras regiões do Brasil, essa parte do livro contrasta com a riqueza encontrada nas outras, embora ofereça dados raramente encontrados em estudos nacionais sobre a região.
Em suma, o livro como um todo apresenta ampla e aprofundada análise de aspectos cruciais da montagem, desenvolvimento e declínio do sistema de escravidão africana na Amazônia e de suas conexões com povos, práticas e ritos de povos variados, mas sobretudo costeiros, da Alta Guiné. Por isso, From Africa to Brazil é um livro que merece ser lido por todos os interessados na história da África, do tráfico transatlântico, do sistema escravista e dos povos da Amazônia. Um livro que devia também ser traduzido para divulgar a história da escravidão numa região em que ela é ainda pouco desenvolvida.
Maria Helena P. T. Machado – Departamento de História, Universidade de São Paulo. E-mail: hmachado@usp.br.
[IF]
In Search of the Amazon: Brazil, the United States, and the Nature of a Region – GARFIELD (RBH)
GARFIELD, Seth. In Search of the Amazon: Brazil, the United States, and the Nature of a Region. Durham: Duke University Press, 2014. 343p. Resenha de: DUARTE, Regina Horta. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.34 n.67, jan./jun. 2014.
Nas primeiras páginas de seu livro In Search of the Amazon, Seth Garfield evoca os antigos relatos de exploradores – narrativas emocionantes de jornadas hercúleas – para apresentar sua própria empreitada de anos de investigação sobre a Amazônia. As narrativas antigas de viagens às quais o autor alude, entretanto, representavam o meio tropical por meio de identidades bem estabelecidas e contrapostas ao mundo europeu, fundando mitos e firmando preconceitos. Diferentemente, estamos agora diante de uma refinada reflexão histórica que nos incita a questionar o que sabemos sobre a Amazônia. Com ele palmilhamos – página a página – as trilhas construídas no passado por diversos atores históricos, continuamente refeitas e redirecionadas no jogo dos enfrentamentos sociais e políticos. Munido de minuciosa pesquisa documental e disposto a trilhar territórios inexplorados, Garfield desmonta armadilhas de pretensas identidades, conceitos e representações arraigadas. Demonstra como a busca bem-sucedida de uma essência da Amazônia implica a conclusão de que ela não tem essência alguma, pois é lugar historicamente produzido em intricadas relações sociais de escalas locais, regionais, nacionais e globais. Com guia tão perspicaz, torna-se uma aventura intelectual estimulante adentrar a floresta. Garfield integra a melhor estirpe de historiadores, pois, como disse Marc Bloch (s.d., p.28), “onde fareja a carne humana, sabe que ali está sua caça”.
O tema da exploração da borracha na Amazônia brasileira no período do Estado Novo conduz o livro. A despeito de referenciar continuamente os tempos áureos dessa commodity no Brasil entre 1870 e 1910, e dedicar o epílogo às representações e práticas que delineiam a Amazônia desde os anos 1970 até os dias de hoje, o foco principal concentra-se nos anos da Segunda Guerra Mundial. O contrabando de sementes da Hevea brasiliensis, a seringueira, para o sudeste da Ásia, em 1876, e o sucesso das novas plantações nas primeiras décadas do século XX estabeleceram uma competição internacional na qual o Brasil saiu derrotado: no início dos anos 1930, a Amazônia produzia menos de 1% da borracha consumida no mundo.
Entretanto, com o lançamento da Marcha para o Oeste como projeto de integração nacional por Vargas e o avanço da conquista japonesa sobre o sudeste asiático em 1941, a Amazônia emergiu como local estratégico para o fornecimento dessa matéria-prima. In Search of the Amazon concentra-se na análise política, cultural e ambiental da região, acompanhando a produção de múltiplos sentidos para a Amazônia, no entrecruzamento de práticas sociais e disputas de poder.
A Amazônia é analisada como lugar instituído na temporalidade histórica por uma miríade de sujeitos que, por sua vez, enfrentam as condições do meio físico. Para tanto, Garfield dialoga com o geógrafo David Harvey, para quem os lugares são artefatos materiais e ecológicos construídos e experimentados no seio de intricadas redes de relações sociais, repletos de significados simbólicos e representações, produtos sociais de poderes políticos e econômicos. Com Bruno Latour, o autor argumenta que a “natureza” é inseparável das representações sociais, e que a sociedade resulta também de elementos não humanos. Com Roger Chartier, considera os conflitos sociais à luz das tensões entre a inventividade de indivíduos e as condições delineadas pelas normas e convenções de seu próprio tempo. Esses horizontes precisam ser avaliados na investigação do que homens e mulheres pensaram, fizeram e expressaram.
Garfield escarafunchou arquivos em Belém, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Rio Branco e Rio de Janeiro, como também nos Estados Unidos. Enfrentou condições diversas de conservação, organização e acesso aos acervos, nos quais encontrou jornais da época publicados em várias cidades, boletins e revistas de serviços ligados à borracha, programas de rádio, cinejornais, trabalhos científicos de diversas áreas do conhecimento, entrevistas com migrantes nordestinos, processos criminais e civis, relatórios diversos, correspondências pessoais de homens e mulheres envolvidos na saga dos “soldados da borracha” nos anos 1940, romances sobre a Amazônia, literatura de cordel e fotografias. As imagens são pedra de toque na caprichosa edição do livro. Vinte e oito fotografias – além de figuras e mapas – privilegiam aspectos urbanos de Ma-naus e Belém, cenas de trabalho e vida cotidiana, poses de autoridades políticas e técnicos, acampamentos de migrantes. O diálogo entre as análises do autor e as imagens é extremamente rico, mesmo que o leitor permaneça curioso sobre as condições de produção de algumas fotografias.
Desde a decadência da borracha em 1910, ruínas invadiram a paisagem amazônica, com cidades fantasmagóricas, retração demográfica e um rastro de miséria e doenças tropicais. Os ideólogos do Estado Novo elegeram a Amazônia como imperativo nacional, investindo-a de muitos significados: interior a ser desenvolvido pelo Estado centralizado, fronteira a ser delimitada e protegida, terra de promissão para os migrantes nordestinos, torrão natal e metonímia da nação. Vargas visitou Manaus em 1940, discursou, lançou financiamentos para migrantes, inaugurou serviços para incrementar o comércio da borracha, o abastecimento, condições sanitárias e transporte. Mas a invenção da Amazônia não seria urdida apenas “de cima”. Contou com outros atores e interesses: elites regionais, militares, médicos e sanitaristas, engenheiros, botânicos, agrônomos, geógrafos, literatos, cordelistas e migrantes.
A despeito do caráter espasmódico das articulações entre a Amazônia e o mercado internacional, a história investigada no livro é sobretudo uma história de conexões globais. As transformações tecnológicas colocavam a borracha – isolante, flexível, resistente e impermeável – entre os materiais mais estratégicos para as nações. Em 1931, Harvey Firestone Jr. gabou-se de como as coisas feitas de borracha se haviam tornado indispensáveis para o ser humano civilizado, desde o primeiro choro do recém-nascido até a lenta marcha para o túmulo. A borracha alimentou a cultura do automóvel na sociedade norte-americana e o crescimento da aviação por todo o mundo. Presente em milhares de produtos (como luvas cirúrgicas, sapatos, preservativos e pneus), a borracha revolucionou o cotidiano dos civis e a fabricação de artefatos militares. Evitando interpretações deterministas, o autor alerta para o fato de que as inovações tecnológicas e aplicações da borracha na indústria eram produtoras e produtos das mudanças políticas, econômicas e culturais resultantes de práticas dos agentes sociais (p.55).
Quando o ataque japonês à Malásia suspendeu o fornecimento de borracha, a atenção norte-americana se voltou para a Amazônia. Delinearam-se profundas divergências entre membros do governo de Franklin D. Roosevelt. Alguns, como o empresário e político Jesse Jones, viam a Amazônia como inferno verde e inelutavelmente bárbaro: uma vez que nenhuma ação poderia transformá-la, tratava-se de explorar a borracha da forma mais prática possível. Outros, como o vice-presidente Henry Wallace, apostaram na Amazônia como terra promissora, pedra fundamental da integração interamericana, defendendo projetos de saúde, melhorias e integração social. Ao delinear a ação norte-americana na Amazônia, o autor argumenta a multiplicidade de intenções e práticas dos Estados Unidos na região – resultantes paradoxais de enfrentamentos na política interna desse país – traçando uma análise complexa e original das relações entre o Brasil e os Estados Unidos naqueles anos.
O diálogo entre os norte-americanos defensores de projetos sociais paralelos à exploração da borracha e as autoridades nacionalistas do governo Vargas foi profícuo e gerou iniciativas conjuntas de formalização do trabalho e estabelecimento de condições mínimas de higiene, saúde e alimentação. Autoridades brasileiras e representantes norte-americanos se esforçaram pela presença efetiva do Estado brasileiro na Amazônia, com ações e estratégias para formação e controle da mão de obra. Todas essas práticas eram informadas por projetos políticos críticos da mera exploração descompromissada e inconsequente, embalados tanto pelos sonhos brasileiros de construção nacional como pelas aspirações dos Estados Unidos no sentido de estabelecer conexões interamericanas sob sua égide.
Os seringueiros, por sua vez, surgem nas páginas do livro como sujeitos sociais ativos. Garfield critica sua representação recorrente como vítimas passivas, fáceis de manipular, meros joguetes de campanhas pela borracha. Relatos orais transmitidos entre gerações acenavam com histórias pessoais de enriquecimento com a borracha. Signos de masculinidade abrilhantavam a aventura de partir para a Amazônia. O caráter sazonal, móvel e independente da atividade atraía muito mais que a perspectiva do trabalho nas fazendas de café do Sudeste. A informalidade e a mobilidade combatidas pelo Estado seduziram homens em busca de trabalho e com ganas de enriquecimento. A decisão de migrar foi fruto da seca e da falta de perspectivas nos locais de origem, mas também se baseou em cálculos informados por relações de parentesco, gênero e valores culturais.
Analisando as relações entre Brasil e Estados Unidos em torno da Amazônia em termos de interesses recíprocos, o autor afasta-se das interpretações do Brasil como país subdesenvolvido e vitimado pelo Tio Sam. Nem por isso desconsidera o legado impactante das políticas norte-americanas de guerra, que acirraram a competição em torno do acesso e uso dos recursos, representações divergentes da natureza e disputas pelo exercício do poder.
In Search of the Amazon encontrou também todos os indícios do sofrimento e miséria dos trabalhadores da borracha, e das tragédias de isolamento e abandono após o final da guerra. Entretanto, mostra como os seringueiros foram capazes de se reinventar nas décadas que se seguiram. Passaram de aventureiros desavisados a populações tradicionais e detentoras de saberes, de “soldados da borracha” a ambientalistas. Obtiveram apoio internacional para suas lutas e interesses na conservação da floresta. Investiram a Amazônia de novas significações e desafios. Explorando conexões regionais, nacionais e globais da saga da borracha no período da Segunda Guerra Mundial, Garfield problematiza a natureza da região, apresenta ao seu leitor um panorama instigante da Amazônia como lugar produzido socialmente, arena contínua de conflitos e lutas no jogo da história contemporânea, cenário de controvérsias garantidas dos tempos que virão.
Referências
BLOCH, Marc. Introdução à História. 4.ed. Lisboa: Publicações Europa-América, s.d. [ Links ]
DUARTE, Regina Horta.- Departamento de História, Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora CNPq. reginahorta duarte@gmail.com.
[IF]
Racecraft: the soul of inequality in American Life – FIELDS; FIELDS (RBH)
FIELDS, Karen E.; FIELDS, Barbara J. Racecraft: the soul of inequality in American Life. London and New York: Verso, 2012. 302p. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.33, n.65, 2013.
Karen e Barbara Fields são irmãs e, seguindo um gesto conforme à convenção racial norte-americana – principal objeto de análise deste livro, do seu fim abertamente iconoclasta e da indignação das autoras –, ‘afro-americanas’ por definição. Elas, no entanto, não pretendem disputar, nesta obra, o uso de outros termos nas terminologias raciais e de origem. Muito pelo contrário. Preferem tornar claro que, como projeto intelectual, mais que a liberdade de escolha entre tipologias, elas defendem o desenraizamento da ideologia da ‘construção social da raça’ (racecraft) do discurso político e de propostas de ordem social e convívio humano. Assim, em análises que pretendem iluminar como essa ideologia se atualiza e mantém-se contemporânea desde a Revolução Americana, as autoras buscam enfaticamente demonstrar por que elas a consideram, ao mesmo tempo, uma irracionalidade, uma fraude intelectual, uma evasão historiográfica, um crime político e um problema ético.
Naturais de uma centenária família da Carolina do Sul, radicada em Charleston – cidade tornada emblemática no memorialismo sulista, graças à importância de ilustres nativos na Confederação e na defesa do escravismo –, elas problematizam seu aprendizado intelectual e memórias familiares para expor que a manipulação da classificação racial tem limites estratégicos e éticos. Herdeiras de uma tradição praticamente defunta, o antirracismo com programa e raízes na Nova Esquerda, em uma era de agendas liberais e multiculturalismos, elas falam do interior dessa frente que as alcançou nos anos 1960 entre a longa história de luta e desobediência civil contra o Jim Crow 1 e o racismo reproduzido na ideologia da ‘construção social da raça’.
Publicado pela Verso – órgão da New Left Books, famoso por publicar a New Left Review nos anos 1960 –, o livro é composto de dez capítulos, entre textos inéditos e reeditados, e corresponde a uma trajetória intelectual que se iniciou, nos anos 1980, na investigação das formas populares das ideologias raciais, para alcançar, nos anos 2000, sua produção no universo acadêmico. Karen, socióloga e africanista, atualmente radicada na Duke University, é estudiosa das religiões e responsável pela nova tradução inglesa (1995) do clássico As formas elementares da vida religiosa, de Émile Durkheim. Barbara, historiadora da Columbia University, realizou vários trabalhos premiados sobre a história norte-americana e da escravidão, dentre os quais Slavery and freedom on the Middle Ground: Maryland during the Nineteenth Century (1985); The destruction of slavery (1985); Slaves no more: three essays on emancipation and the Civil War (1992), e Free at last: a documentary History of slavery, freedom, and the Civil War (1992), em coautoria.
Contra as expectativas e intenções de Barbara J. Fields, todavia, nenhum dos seus trabalhos se tornou tão influente quanto o ensaio de 1982, Ideology and Race in American History. Desde então, ela tem lutado contra a celebridade desse texto e a avaliação de que ele ofereceria suporte às visões sobre a história norte-americana como trajetória de caldeamentos e construção de distintos arranjos de ‘relações raciais’. Racecraft, pode-se dizer, é sua mais recente tentativa de explicar, aos expoentes dessas leituras, que estudar o Jim Crow não corresponde a aceitar sua fundamentação no truísmo da ‘construção social da raça’ como pressuposto analítico. Encerra-se no livro o argumento de que a ‘raça’ é sempre um predicado do racismo, e que a historiografia, contra o anacronismo, deve levar em conta que raça e racismo pertencem a modalidades diferentes de ‘construção social’.
O que as irmãs Fields propõem amiúde é a análise do lugar-comum da ‘raça’ como algo ‘socialmente construído’, resultado da produtividade ideológica do racismo. Tornando claro que não entendem por ideologia ideias como doutrina, dogma, propaganda, conjunto de atitudes ou crenças, e sim o “vocabulário descritivo da existência cotidiana, através da qual as pessoas estabelecem o sentido da realidade social na qual vivem e cuja materialidade criam e recriam dia a dia” (p.134), elas inventariam o modo como opera essa narrativa, definidora do laço social nas unidades humanas, sociais e políticas nas suas leituras da história norte-americana. O racismo se realizaria como uma atividade de duplo padrão – em sociabilidade, estratificação social, parentesco e percepção da alteridade –, na qual se confere a sujeitos atributos de objetos. Transforma-se, em ato, a ação do racista (aquele que reconhece na noção de ‘raça’ um princípio de realidade) em atributo racial. A dinâmica da ‘construção social da raça’ seria estruturada por esse hábito fundamental. Sua principal operação ideológica, a transformação de predicados em objetos de ação, cerca-se de um procedimento fundamental, o da obsessiva classificação, e encerra, segunda as autoras, dois resultados importantes: tornar relações humanas ‘relações raciais’ e distinguir o racismo (quando tomado como problema) de outras formas de desigualdade.
Essa evasão, do racismo transformado em raça, para elas central na história dos Estados Unidos desde a guerra de independência, teria apoiado a consolidação da anômala posição de classe dos escravos e, posteriormente, trabalhadores ‘afro-americanos’, em uma sociedade constitucional e militantemente democrática, como para sancionar, com o veto do racismo, as pressões por alterações nesse posicionamento. A linha predominante da historiografia norte-americana, ao registrar essa experiência no rol de ‘minorias’ – um eufemismo racial – teria, segundo elas, construído uma narrativa característica, que buscou (e ainda encontra) amparo em quatro posições principais:
- a) na limitação ao Sul, e à vida dos negros, das experiências de subordinação, divisão e convívio racial;
- b) na desconsideração da escravidão como dinâmica importante para a vida nas demais regiões do país, e na negação de que há um legado da escravidão, partilhado pelos norte-americanos;
- c) na redução analítica, mediante a oposição ‘segregação-integração’, do complexo universo de estratégias de ordenamento social produzidas e vividas nos Estados Unidos;
- d) na negação de qualquer legitimidade às agendas políticas que se expressam em ressentimentos e projetos de classe, sobretudo os levantados pelos ‘brancos’, supostamente do outro lado da ‘linha de cor’.
O nó-cego dessa narrativa histórica está, dizem as autoras, na pretensão em provar que a segregação, uma marca da vida norte-americana, gerou o que o Sul (mas não apenas) conheceu por Jim Crow. Para elas, “a escravidão era um sistema de expropriação do trabalho e não de administração das relações raciais” (p.161), explicando que o racismo, diversamente ao que se sustenta, inventou a separação de ‘grupos raciais’, e não o contrário. Na datação proposta, a formação dessa ideologia racial teria correspondido ao projeto revolucionário de defesa às liberdades dos homens livres, se atualizado como sustentáculo do escravismo e, em nova volta do parafuso, no estabelecimento, no plano político e intelectual, de eixo permanente de conversão de ressentimentos de classe em raciais, verdadeiro dilema dos Estados Unidos, concluem elas – ter múltiplos ressentimentos de classe, mas nenhuma linguagem para expressá-los.
Para as irmãs Fields, aqueles que tratam descendentes de africanos ou outras ancestralidades como raça – atualmente, menos sob organizações como a KKK que sob o discurso acadêmico das ‘identidades’ ou da ‘agência’ – realizam um ato de exclusão da História e da política. Com esse impulso, a preeminência da raça na linguagem pública sobre as desigualdades nos Estados Unidos reforçaria outro fenômeno norte-americano, talvez mais importante: a recusa em aceitar a problemática de classe como presença legítima na esfera pública, tornando ‘raças’ grupos cuja exclusão é pretendida.
Nesse registro, a posição das autoras diante da importância das cotas raciais nas agendas de políticas sociais segue a mesma avaliação: seriam incapazes de sustentar qualquer sentido de justiça que não represente concessão de prestígio à raça. A ‘tolerância racial’, corolário dessa agenda de ‘inclusão’, é igualmente execrada. Dizem, acompanhando argumento exposto por Richard Sennett em Respect in a world of inequality (2004), que ela seria inútil à democracia: como não se dirige às desigualdades e à exclusão que assolam a vida social e política norte-americana, a tolerância serviria à divisão da sociedade entre os que alegam respeito como direito e os que solicitam tolerância como expressão de boa vontade.
Em meio às expectativas de que a presidência de Obama e a reforma das categorias do censo norte-americano prenunciariam uma era ‘pós-racial’, o que Karen e Barbara Fields apontam é a renovada credibilidade da ciência e do folclore racial na inscrição de noções populares e velhas metáforas do sangue (parentesco e descendência) na ciência genética e do genoma, e delas, seu contrabando para a História e a Etnologia. Assistiríamos, no fascínio por tudo aquilo que pareça designar-se multirracial/multicultural, à atualização do debate novecentista sobre ‘variedades de mistura’ (miscigenação) – como hibridação e mesmo como poligenia – e à intrusão de noções racistas populares e eruditas, renovadas formas de afirmação da ‘pureza racial’.
Para quem o “conceito de raça pertence à mesma categoria do geocentrismo e da bruxaria” (p.100), o trabalho fundamental está em desenraizar a enorme produtividade terminológica e o potencial de ordenamento social do racismo com o seu legado de irracionalidade. Essa atividade de livramento da ‘superstição’ do racismo, essa amarra do passado, como acreditam, tem potencial para estimular a imaginação de novas linguagens políticas.
Notas
1 Por Jim Crow designavam-se todas as medidas de segregação e subordinação racial aplicadas nos Estados Unidos desde, aproximadamente, a década de 1870. O termo começou a circular no país nos anos 1830, em esquetes teatrais nas quais homens, pintados de preto, satirizavam o escravo como criatura bestial, ou degradada. A partir dos anos 1840, o termo passou a ser associado às medidas legais e consuetudinárias destinadas a estabelecer o lugar social e a forma de tratamento a ser devida à população branca pela população negra. A plena consolidação do Jim Crow, como categoria política e jurídica, foi alcançada após o período da chamada Reconstrução Sulista (1865-1877).
Wanderson da Silva Chaves – Pós-doutorando. Universidade de São Paulo (USP), Departamento de História. Avenida Professor Lineu Prestes, 338, Cidade Universitária. 05508-000 São Paulo – SP – Brasil. E-mail: wanderson_schaves@yahoo.com.br.
[IF]
A História como ofício: a constituição de um campo disciplinar – FERREIRA (RBH)
FERREIRA, Marieta de Moraes. A História como ofício: a constituição de um campo disciplinar. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2013. 464p. Resenha de: RODRIGUES, Lidiane S. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.33, n.66, jul./dez. 2013.
É na ponta de lança da pesquisa atual em história da historiografia que se localiza o livro de Marieta de Moraes Ferreira, recém-lançado pela editora da Fundação Getulio Vargas. Não o afirmo com favor, tampouco por protocolo do gênero resenha.
Qualquer observador sagaz da área nota que o crescimento de pesquisas em seu interior deu-se priorizando ‘grandes homens’ ou ‘grandes obras’, especialmente no que diga respeito aos tempos mais recentes e ao Brasil. Desde os estudos de Manoel Salgado Guimarães, o século XIX ganhou análises que se debruçaram sobre os nexos entre as instituições, sua sociabilidade e as concepções de história nelas correntes e delas decorrentes (Guimarães, 2011). Aos autores do século XX ficou reservado certo enlevo, como se fossem ‘intelectuais flutuantes’ – especialmente aos ensaístas anteriores à virada que deu origem às instituições universitárias que a partir dos anos 1930-1940 concentraram o ensino, e gradativamente a pesquisa, em história.1
Ultrapassamos lentamente tal fase, e A História como ofício: a constituição de um campo disciplinar parece, a um só tempo, colaborar nessa direção e ser sinal dela. O livro está dividido em três partes – a saber: “A História da História no Rio de Janeiro: da UDF à UFRJ”; “Perfis e trajetórias”; “Entrevistas com alunos e professores da UDF, da FNFI e do IFCS”.
Na primeira parte, encontra-se uma minuciosa reconstituição das vicissitudes que atravessaram o estabelecimento do primeiro curso de história no Rio de Janeiro, por meio de um conjunto de fontes diversificado e de uma quantidade considerável de informações: perfil social e intelectual dos professores, grade curricular, programas de curso, decretos federais, textos programáticos.
Na segunda parte, a escala muda, indo do quadro mais amplo de referência apresentado na primeira ao foco mais concentrado nas trajetórias de Henri Hauser, Delgado de Carvalho e Luiz Camillo, assim como da primeira geração propriamente ‘profissional’ do Rio de Janeiro. Vale assinalar a atenção cuidadosa da autora para a figura de Hauser, ligada à preocupação em esquadrinhar os caminhos da memória institucional que foi sobrevalorizando a presença das missões francesas em São Paulo, em detrimento da presença delas na capital (p.86 e 217). São cabíveis, de passagem, duas observações a respeito disso, aliás: Marieta de Moraes Ferreira foi aos arquivos do Ministério dos Assuntos Estrangeiro (MAE), em Nantes, auscultar redes envolvidas no recrutamento de quadros e no interesse da França pelo ensino no Brasil. Para os que não se satisfazem com uma história da historiografia que esconde os bastidores por que passaram os praticantes do ofício antes de brilharem em cena ou durante o espetáculo, a atitude é entusiasmante e abre um leque considerável para novas pesquisas.
Esta observação leva à segunda. Na qualidade de pesquisadora das missões francesas no curso de História e Geografia da Universidade de São Paulo (USP) em seus anos iniciais, encontrei na advertência de que as análises têm “supervalorizado o papel de Fernand Braudel e a influência dos Annales como elementos centrais na formação dos cursos de História” (p.92) a perspectiva aliada, que eu buscava há tempos. Pude, em outra oportunidade, assinalar, como o ‘historiador missionário’ manteve-se sob as rédeas dos laços de amizade mantidos e serviços prestados à sua clientela – a elite mentora da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, por sua vez em peleja constante com o governo federal. Eram limitadas as possibilidades que tinha de não reproduzir uma ‘historia historicizante’, contra a qual sua obra já vinha sendo elaborada. Padecerá minguando de lastro empírico aquele que ligar imediatamente a recepção dos Annales à presença de Braudel entre 1935 e 1937, e mesmo posteriormente em passagens breves, na USP (Rodrigues, 2012, p.256-276).
A terceira parte, em que são transcritas entrevistas, parece se revestir de especial interesse, lidas à luz da composição do livro. É como se nelas fosse possível encontrar versões alternativas aos conflitos que animam a narrativa da autora e vislumbrar quais foram as saídas que construiu para, simultaneamente, considerar o que escutava enquanto ia colocando, tête-à-tête, versões orais e documentação escrita.
Seria o caso de se assinalar, por fim, um traço peculiar do livro. É sem grandes alardes teórico-metodológicos que ele se apresenta, na contramão da tendência que se dedica a longos introitos e citações de autores momentosos, cujo nexo com a pesquisa desenvolvida, por vezes, fica a desejar. Lidando todo o tempo com noções de institucionalização e autonomização das práticas científicas, que remetem no limite ao conceito de campo, de Pierre Bourdieu, estas são reconstituídas em seu processo de constituição. Dito de outro modo, ganham destaque tanto avanços quanto recuos no percurso de separação entre poderes político e eclesiástico e instituições de saber – daí, para além da óbvia atenção dirigida às intervenções do governo federal no estabelecimento/fechamento das instituições, a atenção ao perfil dos docentes católicos e sua orientação de ensino (notavelmente, p.38-40). Concomitantemente, são objeto de atenção os processos de divisão do trabalho internos a esse mesmo espaço – não exatamente autônomo, mas em constante conflito por autonomia, a certa altura da rotação dos perfis docente e discente (notavelmente, a divisão em dois cursos separados, Geografia e História, e o estabelecimento da disciplina “Introdução aos Estudos Históricos”). Livro com o qual se aprende, livro para se devorar.
Referências
GUIMARÃES, Maria Lucia Paschoal. Debaixo da imediata proteção imperial: Instituto Geográfico Brasileiro (1838-1889). [1995]. São Paulo: Annablume, 2011. [ Links ]
MICELI, Sergio. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. [ Links ]
RODRIGUES, Lidiane S. A produção social do marxismo universitário em São Paulo (1958-1978). Tese (Doutorado) – FFLCH, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012. [ Links ]
Nota
1 Talvez por isso cause algum furor ainda o esquema analítico nem de longe incorporado para o entendimento desses “intelectuais/historiadores desvinculados de instituições” que oferece Miceli, 2001.
Lidiane S. Rodrigues – Centro Universitário Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado). E-mail: lidiane.rodrigues@fecap.br.
[IF]
A Poverty of Rights: Citizenship and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro – FISCHER (RBH)
FISCHER, Brodwyn. A Poverty of Rights: Citizenship and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro. Stanford, California: Stanford University Press, 2008. 488p. Resenha de: OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.33, n.66, jul./dez. 2013.
O livro A Poverty of Rights: Citizenship and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro é o resultado da tese defendida por Brodwyn Fischer, em 1999, na Universidade Harvard. A autora analisa o processo de formação dos direitos na organização do Estado e da sociedade brasileira e os conflitos de classe, raça e gênero que permearam a constituição do espaço urbano carioca.
Por eleger como cerne de sua análise os embates estruturados no cotidiano dos pobres do Rio de Janeiro, A Poverty of Rights é uma contribuição original à história social da pobreza urbana. O trabalho relaciona-se à renovação da historiografia em tempos recentes, dando destaque ao tema das favelas. Como observou Brum,
se a história urbana e, em especial, a história da cidade do Rio de Janeiro se consolidaram como campo de pesquisa institucionalizado de historiadores a partir da década de 1980, será apenas na primeira do século XXI que começou a tomar corpo uma produção dos programas de pós-graduação em história em que a favela é tomada como objeto de estudos históricos. (Brum, 2012, p.121)
Junto aos livros Um século de Favela (2001), organizado por Alba Zaluar e Marcos Alvito, Favelas Cariocas (2005), de Maria Lais Pereira da Silva, A invenção da favela (2005), de Lícia do Prado Valladares, e Favelas cariocas: ontem e hoje (2012), organizado por Marco Antônio da Silva Mello, Luiz Antônio Machado da Silva, Letícia de Luna Freire e Soraya Silveira Simões, a obra de Fischer inscreve-se na renovação dos estudos históricos sobre a cidade do Rio de Janeiro, tendo como eixo a problematização das práticas e representações da pobreza e do espaço urbano.
O diferencial da pesquisa de Fischer é o recorte temporal, o escopo de fontes que utiliza e a maneira como enfoca o tema da cidadania. Ao enfrentar uma questão de ampla tradição na História e nas Ciências Sociais que tratam do Brasil e da América Latina – a relação entre desigualdade, direito e espaço urbano –, Fischer desenvolve um argumento centrado em processos que transcorreram entre a década de 1920 e o início da década de 1960. Esse foi o período de rápida urbanização, industrialização e expansão dos subúrbios, favelas e outras formas urbanas. O corte temporal também se justifica em vista da estrutura de poder que presidiu o campo político carioca. Desde a primeira Constituição republicana (1891) até 1960, o Rio de Janeiro tinha um prefeito indicado pelo presidente e aprovado pelo Senado, elegia vereadores para o legislativo municipal e deputados e senadores para o legislativo federal. Sendo a capital da República, as reformas no sistema político encontravam ampla repercussão e expressão na vida política e cultural da cidade. Além disso, o governo de Lacerda (1961-1965) foi um marco para os estudos sobre a pobreza urbana no Rio de Janeiro: ao iniciar uma política de remoção que culminaria no despejo parcial ou completo de cinquenta a sessenta favelas (atingindo cerca de 100 mil pessoas), alterou profundamente a rotina e a conformação do espaço urbano carioca.
Além do recorte temporal, a autora usa diversos tipos de documentos para desenvolver o seu argumento. Uma vez que as classes subalternas não deixam arquivos organizados que informem sobre suas práticas, justifica-se o uso de sambas, jornais, fotografias, discursos políticos, relatórios de agências do poder público, projetos de lei, legislação, cartas e processos de justiça, entre outros documentos, para compreender as estratégias dos pobres na conquista da cidadania. O material acumulado pela autora é eclético, encontra-se disperso numa miríade de lugares e instituições, e estabelece vários filtros culturais para representar a pobreza urbana. Somente com a leitura de um caleidoscópio de registros, somada à análise da bibliografia específica sobre a relação entre direito e cidadania, consegue-se colocar em pauta problemas relevantes na análise da sociabilidade e das práticas dos grupos subalternos.
Para analisar o corpus documental heterogêneo que acumulou, a autora organizou a análise em quatro partes que possuem certa autonomia, cada uma das quais é constituída por dois capítulos. Na primeira parte, intitulada “Direitos na Cidade Maravilhosa”, analisa o processo de formação do espaço urbano do Rio de Janeiro e a classificação das formas de habitar da população pobre. Interessa à autora salientar como a construção do status de ilegalidade para as formas de habitar e viver na cidade, a restrição do espaço político dominado pela interferência do governo federal e as legislações restritivas ao crescimento das favelas contribuíram para a reprodução de uma incorporação clientelista dos pobres na política urbana. Na segunda parte, intitulada “Trabalho, Direito e Justiça Social no Rio de Vargas”, Fischer tem como principal material de análise as cartas enviadas para o presidente Getúlio Vargas. A promulgação da legislação trabalhista, o discurso varguista incorporando o trabalhador na comunidade política nacional, e as estratégias dos grupos populares para conquistar direitos sociais são o eixo de sua análise. Na terceira parte, intitulada “Direito dos pobres na Justiça Criminal”, a autora analisa a forma como o crime era definido por critérios do sistema jurídico e de uma moralidade popular, e como esse jogo de força foi alterado pela reforma do Código Penal na década de 1940, com o surgimento da noção de ‘vida pregressa’. Na última parte, intitulada “Donos da Cidade Ilegal”, Fischer analisa os conflitos pela terra e pelo direito à moradia travados na zona rural e nas favelas do Rio de Janeiro.
A “Era Vargas” (1930-1945) foi um período de grandes transformações no que toca o direito da classe trabalhadora. Esse fato político e social já foi analisado por diferentes autores, constituindo-se em uma questão clássica para a historiografia brasileira. Fischer consegue trazer uma novidade para o tema, pois não restringe a análise ao direito social e político, mas aborda como as reformas penal e urbanística do Rio de Janeiro também afetaram a cidadania dos grupos populares. Destarte, a política de massa e o Código Eleitoral de 1932, o direito à cidade e o Código de Obras de 1937 do Rio de Janeiro, o direito civil e o Código Penal de 1940, e o direito social e a Consolidação das Leis Trabalhistas (1943) são os eixos de sua análise, como fica evidenciado na divisão das partes do livro.
A autora mostra que a conquista de direitos para os ‘pobres’, para os trabalhadores informais e parcela significativa da população brasileira sem registro civil delineou-se em situações de grande ambiguidade. Longe de desenvolver uma narrativa linear da evolução do Estado e da sociedade na sedimentação dos direitos, como na análise clássica de T. H. Marshall em Cidadania, classe social e status, ou de incorporar o discurso das ideologias políticas que transformaram Vargas em um mito, a autora apresenta a contingência das situações vivenciadas pelos ‘pobres’. Preocupa-se com a forma pela qual as pessoas com baixa educação formal e com pouco poder econômico e político construíram várias estratégias para lutar por direitos, sempre marcadas pela contingência de suas vidas e experiências sociais.
Ao sublinhar o processo de formação dos direitos e da cidadania, Fischer enfatiza que os pobres “formam a maioria numérica em várias cidades brasileiras, e eles compartilham experiências de poucas conquistas, exclusão política, discriminação social e segregação residencial”, conformando “uma identidade e em alguns momentos uma agenda comum” (Fischer, 2008, p.4). Ela compreende que esse grupo não tem sido pesquisado de forma verticalizada, visto que a história social do período posterior à década de 1930 tem privilegiado a análise da consciência da classe trabalhadora, dos afrodescendentes, dos imigrantes estrangeiros e das mulheres. Segundo a autora,
a verdade é que no Rio – como em outros lugares, da Cidade do México a Caracas, a Lima ou Salvador – nem raça, nem gênero, nem classe trabalhadora foram identidades generalizadas e poderosas o suficiente para definir a relação entre a população urbana pobre e sua sociedade circundante, durante a maior parte do século XX. Muito poucas pessoas realmente pertenciam à classe trabalhadora organizada; muitas identidades raciais e regionais competiram umas com as outras em muitos planos; muitos laços culturais, econômicos e pessoais vinculavam os mais pobres aos clientes, empregadores e protetores de outras categorias sociais; também muitos migrantes foram para a cidade para alimentar suas esperanças. O povo pobre no Rio compreendeu a si mesmo, em parte, como mulheres e homens, em parte como brancos e negros, nativos ou estrangeiros, classe trabalhadora ou não. Mas eles também se entenderam como um segmento específico, simplesmente como pessoas pobres tentando sobreviver na cidade. (Fischer, 2008, p.3, tradução nossa)
Nesse sentido, Fischer também enfatiza que a experiência da pobreza urbana não pode ser reduzida à definição de classe trabalhadora no sentido clássico do marxismo. Ao reduzir a experiência da pobreza urbana a uma situação de classe, corre-se o risco de perder as dimensões étnicas, raciais e de gênero que moldam as identidades e as relações tecidas com as variadas instâncias sociopolíticas. A desigualdade social foi tomada no livro como uma condição que atravessa diversos tipos de situações e que perpassa transversalmente as relações tecidas na sociedade e no Estado brasileiros.
Por tudo isso, A Poverty of Rights constitui um importante trabalho para a renovação dos estudos sobre a cidadania no período posterior à década de 1930 e da história social da pobreza urbana no Rio de Janeiro.
Referências
ALVITO, M.; ZALUAR, A. (Org.) Um século de favela. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. [ Links ]
BRUM, Mario Sergio Ignácio. Cidade Alta: história, memórias e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de Janeiro. (Prefácio de Paulo Knauss). Rio de Janeiro: Ponteio, 2012. [ Links ]
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. [ Links ]
MELLO, M. A. da Silva; MACHADO DA SILVA, L. A.; FREIRE, L. L.; SIMÕES, S. S. (Org.) Favelas cariocas: ontem e hoje. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. [ Links ]
SILVA, Maria Lais Pereira da. Favelas Ccariocas (1930-1964). Rio de Janeiro: Contratempo, 2005. [ Links ]
VALLADARES, Lícia do Prado. A invenção da favela: do mito de origem à favela.com. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005. [ Links ]
Samuel Silva Rodrigues de Oliveira – Doutorando, Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC-FGV). Bolsista Faperj. E-mail: samu_oliveira@yahoo.com.br.
[IF]Cash for your trash: Scrap recycling in America – ZIMRING (RBH)
ZIMRING, Carl A. Cash for your trash: Scrap recycling in America. New Brunswick (NJ): Rutgers University Press, 2009. 221p. Resenha de: BOSI, Antonio de Pádua. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.33, n.66, jul./dez. 2013.
Publicado em 2009, Cash for your trash foi originalmente escrito como tese de doutorado na área de História na Carnegie Mellon University (Pennsylvania, EUA), em 2002. Embora seja um dos primeiros estudos especializados sobre a reciclagem de sucata nos Estados Unidos, seu alcance abriga fontes e reflexões que possibilitam rastrear algumas mudanças nas práticas sociais, desde o século XIX, relacionadas ao desperdício e à reutilização de todo tipo de materiais descartados. Este último aspecto é a característica mais relevante do livro.
Inicialmente, Carl Zimring propõe um difícil problema: qual é o significado da reciclagem? Por meio de uma rudimentar escala histórica o autor afirma que essa atividade é bastante antiga, e encontra registros desde os séculos VIII e VII a.C., quando Isaías e Miqueias profetizaram que Deus converteria os povos de tal modo que “das suas espadas forjariam relhas de arados, e das suas lanças, foices” (Zimring, 2009, p.13). Sua evidência seguinte aponta para a Europa medieval do século XII e para técnicas de produção de papel a partir de restos de pano. Deste ponto ele se aproxima rapidamente dos séculos XVIII e XIX, e identifica a presença de um incipiente mercado para a compra e venda de trapos e ferro-velho, cujos desdobramentos teriam causado forte impacto econômico e social no século XX, tornando-se um importante, lucrativo e monopolizado empreendimento:
Lidar com o lixo tornou-se um grande negócio na década de 1990. Diversas cidades privatizaram seus sistemas de recolhimento e processamento de lixo, estabelecendo contratos com empresas gigantes que passaram a dar um destino para o desperdício da sociedade. Firmas privadas estabeleceram contratos com cidades durante décadas, mas onde operavam 10 ou 20 mil companhias passou a haver lugar para apenas quatro corporações nacionais que agora dominam esse mercado. (Zimring, 2009, p.155, tradução nossa)
Na percepção do autor, a sobrevivência humana baseada no lixo surgiu como uma alternativa para pessoas pobres e sem repertório para entrarem no mercado de trabalho. Apoiado no estudo do sociólogo Stewart Perry (1998), sua caracterização acerca dessa atividade indicou um tipo de trabalho “sujo, perigoso e de baixo status“. Tratou-se, no início, de uma atividade restrita a imigrantes europeus pobres, principalmente italianos com pouco domínio da língua inglesa. A desconfiança tida contra tais imigrantes esteve aliada a uma percepção negativa sobre lidar com o lixo dos outros, produzindo uma sensibilidade generalizada de que essa atividade era mesmo suja e repulsiva – a razão fundamental da falta de prestígio que marcou homens e mulheres que se ocuparam com esse trabalho. Mesmo quando a sucata foi transformada em mercadoria e passou a ser vista também como um vantajoso negócio, o status daqueles que viviam desse comércio não mudou.
Zimring confirma que desde o século XIX diversos materiais foram sistematicamente recolhidos e negociados em muitas cidades. Borracha, panos velhos, garrafas, estanho, ferro, aço e até ossos (transformados em fertilizantes) constituíram a renda de muitos trabalhadores que, a serviço de negociantes (que atuavam como atacadistas dessas mercadorias), cruzavam grandes centros urbanos em carroças coletando ou comprando essas sobras. Contudo, sobre isso, suas reflexões e as fontes pesquisadas não ultrapassaram a contribuição de Susan Strasser (2000) acerca da realidade das pessoas que sobreviveram dessa atividade até a primeira metade do século XX.
A atenção de Zimring dirigiu-se predominantemente ao comércio de materiais descartados e à sensibilidade frente ao desperdício. Centrado na questão do comércio de materiais recicláveis, o autor oferece um retrato estatístico da conversão do lixo em negócio. Na segunda metade do século XIX, o crescimento das transações envolvendo sucata ao longo do século XIX nos Estados Unidos (especialmente restos de ferro e aço) foi bastante visível. Se em 1884 registrou-se a importação de 733 mil toneladas de ferro e aço, em 1887 o volume importado saltou para quase 2 milhões de toneladas. Tal crescimento tornou-se evidente desde as primeiras décadas do século XIX, quando o Estado taxou esse tipo de importação e arbitrou um sistema de classificação a fim de estipular a qualidade do material negociado. Entretanto, o comércio de materiais recicláveis, que aumentou continuamente no século XIX, não era motivado por nenhum tipo de preocupação centrada no desperdício ou na higiene.
Para Zimring, a preocupação com a preservação do meio ambiente surgida no início do século XX (particularmente as florestas e os recursos naturais ameaçados pela sociedade industrial e de consumo) esteve associada à estratégia de negócios da National Association of Waste Material Dealers (NAWMD). A utilização do sentimento preservacionista (aparentemente disseminado nos Estados Unidos desde o início do século XX) para legitimar o negócio de materiais recicláveis tornou-se uma prática publicitária recorrente e um poderoso argumento político para reconhecer e valorizar a função social dos empresários desse setor. Zimring identifica como esses empresários começaram a expressar repetidamente essa visão desde 1913, quando foi criada a NAWMD. Naquele ano, o presidente da entidade tentava afirmar a função social de seus pares e associados dizendo que “os negociantes de resíduos são os verdadeiros preservacionistas. Eles têm conseguido retirar milhões de dólares do lixo” (Zimring, 2009, p.73). Contudo, embora a referência ao sentimento preservacionista fosse clara por parte dos negociantes de sucata, o mesmo não acontecia com a população e com o Estado. Os programas públicos que estimularam a reciclagem só apareceram na década de 1940 em função, prioritariamente, da necessidade de fornecer metal e borracha para a indústria num contexto de guerra. O principal slogan do governo repercutia os efeitos de Pearl Harbor, e não uma preocupação ambientalista: “recolher sucata para explodir os japoneses!”.
De qualquer modo, a disseminação da prática da reciclagem parece ter sido estimulada pelo Estado, o que certamente fortaleceu os negociantes de sucata. Mas isso foi feito inicialmente sem recorrer a argumentos ambientalistas. A primeira grande intervenção estatal aconteceu em razão do esforço de guerra que envolveu a reutilização de materiais empregados na indústria bélica. Sobre isso, Zimring identificou o surgimento de propaganda governamental sistemática que buscava mobilizar a população para recolher itens como metais e borracha. Contudo, foi um esforço nitidamente datado, pois o final da Segunda Guerra Mundial encerrou também a cruzada moral da reciclagem. O Estado só voltaria a promover a reciclagem uma década depois, pressionado pelo resultado de um consumismo sem antecedentes nos Estados Unidos.
Sobre isso Zimring destaca o que uma abundante literatura já havia evidenciado, que ao longo dos anos 1940 e 1950 os estadunidenses foram encorajados a consumir numa escala crescente, de modo a converter esse comportamento em uma prática social rotinizada e exponencialmente poluidora. O rápido descarte de mercadorias envelhecidas ‘precocemente’ tornou-se um fenômeno social novo e surpreendente. Apenas no ano de 1951, aproximadamente 25 mil automóveis descartados estavam espalhados em diversos ‘cemitérios’ pelo país. Esse número cresceria para 8 milhões durante a década de 1960. Tal quadro parece ter justificado um novo esforço dirigido para o recolhimento e reaproveitamento dessa sucata, apelando para uma visão higienista centrada na limpeza e estetização de margens de estradas e terrenos urbanos que assustavam em razão da quantidade de entulhos, principalmente as carcaças de automóveis.
Zimring aponta ainda que seguidos governos investiram nesse sentido ao longo das décadas de 1960 e 1970, desenvolvendo um aparato institucional que buscou regulamentar as áreas para o depósito de sucata sem, contudo, garantir ou facilitar meios para a reutilização desse material. As inovações tecnológicas que possibilitavam a separação e transformação de ferro, aço, borracha e plástico, por exemplo, apresentaram outros ritmos, e o seu emprego logicamente dependia de mostrar-se mais barato que a produção de tais itens in natura.
O livro se torna mais interessante à medida que se aproxima do tempo presente e passa a abordar a articulação entre a reciclagem e o ambientalismo (datando e explicando o surgimento dessas duas éticas), mostrando, mesmo que brevemente, de que modo isso favoreceu a constituição de uma poderosa indústria da reciclagem. Além disso, a abordagem tentada por Zimring sugere e anima uma perspectiva sobre esse tema em que a escrita do historiador assume a força de uma intervenção política, uma vez que o autor conduz algumas de suas reflexões até a atualidade. Mas é também a parte mais curta e menos explorada do livro, permanecendo como um desafio para futuros estudos. Sua visão sobre o modo como se generalizou a percepção de que “reciclar é ecologicamente correto” é pouco precisa. Por um lado, tal inexatidão deve-se ao fato de que essa é uma questão recente, com desdobramentos ainda inacabados. Por outro lado, a sondagem do autor acerca desse problema é pouco profunda porque, em grande medida, maneja um volume tímido de fontes primárias e secundárias. Mas não se deve considerar isso um defeito do livro, pois, como observei, o capítulo final sugere importantes desafios para a pesquisa histórica e, também por este motivo, merece ser lido.
Uma última palavra sobre a importância das fontes referidas ao objeto histórico que o autor se propôs a discutir. Sua pesquisa reuniu um conjunto numeroso de fontes primárias e secundárias, indicadas no livro, que ainda podem e devem ser investigadas por pesquisadores que tenham interesse no tema. Isso pode ser mais claramente visualizado no que diz respeito à hipótese, apresentada por ele, sobre a mudança da sensibilidade diante do lixo, do desperdício e da prática do reaproveitamento. Nesse sentido, considerando que suas reflexões se basearam nos Estados Unidos, deveríamos manter aberta a indagação acerca dos percursos históricos da relação com o lixo – e com a produção do lixo – construídos em diferentes lugares. Lançar tal abordagem sobre países da América Latina seguramente ampliaria nossa compreensão acerca de valores e práticas sociais ligadas à relação homem-natureza, atualmente muito em voga. Nunca é demais lembrar que abaixo do equador a reciclagem é um evento histórico que envolve dezenas de milhares de pessoas que vivem do lixo.
Finalmente, a contribuição de Carl Zimring para esse tema tem sido enriquecida com a divulgação de reflexões iniciadas em Cash for your trash. É o caso de The Complex Environmental Legacy of the Automobile Shredder, de 2011, e The Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of Garbage, de 2012, onde Zimring aprofunda discussões sobre as tecnologias recentes de produção de lixo e o impacto no meio ambiente. Essa produção se beneficiou de sua trajetória intelectual, marcada por uma formação centrada na História, mas interdisciplinar. Sua atuação profissional na docência, por exemplo, diferentemente de nossa experiência que exige um envolvimento com o núcleo duro da História, caracterizou-se pelo ensino de conteúdos interdisciplinares ligados, sobretudo, ao tema História e Meio Ambiente. Enfim, os historiadores e demais pesquisadores interessados no tema certamente não se decepcionarão com tais leituras.
Referências
PERRY, Stewart E. Collecting Garbage: dirty work, clean jobs, proud people. New Brunswick (NJ): Transaction Publishers, 1998. [ Links ]
STRASSER, Susan. Waste and Want. A Social History of Trash. New York: Metropolitan Books, 2000. [ Links ]
Antonio de Pádua Bosi – Pós-doutorado em História Econômica (Universidade de São Paulo). Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Bolsista do CNPq. E-mail: antonio_bosi@hotmail.com.
[IF]En el combate por la historia: la República, la guerra civil, el franquismo – VIÑAS (RBH)
VIÑAS, Ángel (Ed.). En el combate por la historia: la República, la guerra civil, el franquismo. Barcelona: Pasado & Presente, 2012. 978p. Resenha de: MANSAN, Jaime Valim. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.33, n.65, 2013.
Em meados de 2011 vieram a lume na Espanha os primeiros 25 volumes do Diccionario Biográfico Español, cujo projeto prevê cinquenta volumes, cada um com 850 páginas. Até agora foram concluídos 36 volumes. Segundo o sítio da Real Academia de la Historia (RAH), organizadora da obra, deverão ser abordados mais de 40 mil “personajes destacados en todos los ámbitos del desarollo humano y en todas las épocas de la historia hispana”. Para viabilizar a publicação, o erário público espanhol já pagou 6,4 milhões de euros (El país, 27 maio 2011). Como comparação, estimou-se em 3 milhões de euros a construção de um bairro popular, com cem casas, destinado aos moradores despejados no início de outubro de 2012 de El Gallinero, a parte mais pobre de um dos maiores poblados chabolistas da Espanha, na periferia de Madrid (20 minutos, 9 out. 2012).
O Diccionario teve, portanto, um custo muito elevado, sobretudo considerando a conjuntura econômica pela qual o país tem passado nos últimos anos. No mínimo, teria um conteúdo de altíssimo nível. Contudo, a obra tem sido alvo de severas críticas, oriundas de diversos segmentos sociais. Na imprensa, pouco depois do lançamento, um dos principais questionamentos referia-se à ausência de referências à repressão franquista (Público, 28 maio 2011). Isso e a qualificação da guerra civil como cruzada ou guerra de liberación, dentre outros aspectos, constituem fortes indícios da pertinência das críticas ao dicionário (Público, 2 jun. 2011).
Ainda em meados de 2011, o Senado solicitou à RAH que paralisasse a distribuição, enquanto o Congresso decidia o congelamento das verbas destinadas à academia até que o dicionário sofresse correções, situação posteriormente revertida pelo governo (El País, 12 jul. 2011). Desde então, muito se discutiu a respeito da polêmica obra, que conta com irrestrito apoio do presidente espanhol Mariano Rajoy e de seu partido, o conservador Partido Popular.
No meio acadêmico, a reação mais notável foi a publicação de En el combate por la historia, no início de 2012. Organizado por Ángel Viñas, renomado historiador espanhol especialista nos estudos sobre a guerra civil e o franquismo, o livro foi elaborado com a assumida intenção de ser um contradiccionario. De fato o é, mas adota outra forma narrativa e restringe sua análise ao período 1931-1975, enquanto o Diccionario ambiciosamente busca abranger do século III a.C. aos dias atuais. Na visão dos autores de En el combate, a maioria dos biografados mais desfigurados pela obra da RAH vinculava-se ao período compreendido entre o surgimento da Segunda República e a morte de Franco, daí a escolha do recorte temporal.
Obra coletiva, En el combate por la historia contou com a participação de vários especialistas no estudo daqueles períodos da história da Espanha. Como escreve Viñas na apresentação, mobilizando conhecido ditado espanhol, “si bien no están todos los que son, sí son todos los que están”. Nomes internacionalmente conhecidos, como Josep Fontana, Julio Aróstegui, Paul Preston, Julián Casanova e o próprio Viñas, entre outros, assim como jovens investigadores cujos trabalhos já alcançaram reconhecimento entre pesquisadores europeus da área. É o caso, por exemplo, de Gutmaro Gómez Bravo e Jorge Marco. Alguns de seus livros, como El exílio interior, de Gómez Bravo, e Hijos de una guerra, de Marco, são hoje referências obrigatórias sobre o franquismo. 1
Com um título que faz clara referência ao clássico de Lucien Febvre, En el combate por la historia inicia com apresentação de Viñas explicando o sentido da obra e as condições de sua produção. Na sequência, há um texto de José-Carlos Mainer, historiador especialista na “edad de plata de la literatura española”. Voltado para a longa duração, oferece uma reflexão sobre rupturas e continuidades nas relações entre cultura e política na Espanha do século XX.
O livro foi organizado em quatro partes. Três delas são indicadas no subtítulo: República, guerra civil e franquismo.
O primeiro texto sobre a República é chave para sua compreensão. Nele, Preston aborda as transformações nas relações de força estabelecidas naquele período. Os capítulos seguintes aprofundam a análise de alguns dos principais grupos envolvidos naquelas conflituosas relações: Frente Popular, direitas, socialistas e anarquistas. Robledo trata da reforma agrária, “una de las señas de identidad del nuevo régimen”.
A segunda parte da obra, voltada para a guerra civil, é a maior em número de capítulos (vinte). São abordados temas como a sublevação militar de 1936, a atuação das Brigadas Internacionais e da Igreja Católica e os exílios de republicanos, entre outros. Destacam-se as sínteses das atuações do Exército Franquista e do Exército Popular apresentadas, respectivamente, por Losada e Rojo. Aróstegui e Casanova retomam a análise do socialismo e do anarquismo, temas tratados por eles na primeira parte do livro, enquanto Hernández Sánchez faz reflexão semelhante sobre os comunistas.
O terceiro conjunto de textos destina-se à análise do franquismo. Sánchez Recio faz uma discussão fundamental sobre o processo de institucionalização do regime. Vários outros temas são abordados: nacional-catolicismo, Falange, política repressiva, política exterior, o apoio da División Azul à luta nazista contra os soviéticos, a resistência armada ao franquismo, as transformações econômicas, o desarrollismo. A reflexão sobre o tardofranquismo, feita por Isàs, lança valiosas luzes sobre a história da transição.
A quarta parte, “Los grandes actores”, é o ponto em que a proposta de ser um contradiccionario se torna mais evidente. “Un contrapunto al Diccionario Biográfico Español”, nas palavras de Viñas. Mais uma vez, o organizador refere-se ao ditado espanhol anteriormente citado, desta vez para aclarar o critério de seleção dos treze grandes actores: José Antonio Aguirre Lekube, lendário dirigente basco; Manuel Azaña, líder republicano, presidente da República de 1936 a 1939; Ramón Serrano Suñer, falangista, cunhado de Franco, figura de destaque da direita desde a República até o primeiro franquismo e principal interlocutor com Hitler e Mussolini até 1942; Lluís Companys i Jover, importante dirigente catalão; Dolores Ibárruri (Pasionaria) e Santiago Carrillo, dois dos maiores nomes do comunismo espanhol; Francisco Largo Caballero, dirigente socialista vinculado à central sindical UGT (Unión General de Trabajadores) e ao Partido Obrero (depois PSOE, Partido Socialista Obrero Español) desde fins do século XIX; Emilio Moral, militar conspirador que, segundo Losada, foi el gran urdidor, artífice y organizador do fracassado golpe de 1936; Juan Negrín, importante liderança socialista, chefe de governo da República durante a maior parte da guerra civil e figura extremamente controvertida, expulso do PSOE em 1946 sob a injusta acusação de ter sido el instrumento de Stalin en España; Indalecio Prieto, outro nome de peso do socialismo espanhol; Vicente Rojo Lluch, militar republicano que liderou a defesa de Madri durante a guerra civil; José Antonio Primo de Rivera, um dos fundadores da Falange Española, filho do general que havia sido ditador entre 1923 e 1930; e, é claro, Francisco Franco, cuja trajetória é por Preston sintetizada com maestria.
O capítulo sobre Rojo, escrito por um neto do general, o sociólogo e jornalista José Andrés Rojo, é uma exceção dentre os textos que compõem o livro, não pela formação do autor, mas por seu vínculo familiar. A escolha de José Rojo provavelmente deveu-se não ao parentesco, mas ao fato de ter publicado diversos estudos sobre o tema desde 1974, particularmente Vicente Rojo: retrato de um general republicano (Barcelona: Tusquets, 2006). É plausível o questionamento sobre até que ponto escrever sobre o próprio avô não levaria a um abrandamento da crítica e a uma ênfase no elogio. A leitura dos apontamentos biográficos sobre o general Rojo mostra que seu neto conseguiu evitar tais armadilhas.
Fecha o livro um epílogo composto por um texto de Reig Tapia e outro dele com Viñas, ambos voltados para as permanências, para os ‘resíduos’ e ‘derivações’ do franquismo.
Como observa Viñas, o livro privilegia os “aspectos políticos, institucionales, culturales y militares”. Tratava-se de constituir um contradiccionario e, para os autores, naqueles aspectos “las controversias públicas son más intensas y muchas de las entradas del diccionario de la RAH más sesgadas o erróneas”.
Entre historiadores, definir uma obra como ‘revisionista’ é uma forma de desqualificá-la. Se há abusos no uso do termo, isso não significa que deva ser abandonado. Poder-se-ia argumentar que, por ser a revisão inerente ao ofício do historiador, toda história seria revisionista. O erro aqui estaria em definir o revisionismo pela revisão, pura e simples. Revisionismo é um tipo de revisão, aquela que se faz sem bases documentais consistentes, sem levar em conta princípios historiográficos básicos, escolhendo estudos e fontes convenientes à sustentação de um argumento e desconsiderando os demais. O revisionismo é uma falsificação da história. Faurisson é um de seus representantes mais conhecidos, e o dicionário da RAH, ao que tudo indica, é o mais recente exemplar dessa literatura.
En el combate por la historia surge como demonstração de que é possível enfrentar os revisionismos de maneira consistente, com argumentos sólidos e ampla documentação. Seus autores são exemplos do que Bedáridá definiu como ‘historiador expert‘, um tipo de profissional tão raro quanto necessário nos dias atuais.
Notas
1 Lista completa dos autores: ARÓSTEGUI, Julio; BARCIELA, Carlos; CASANOVA, Julián; COLLADO SEIDEL, Carlos; EIROA, Matilde; ELORZA, Antonio; ESPINOSA, Francisco; FONTANA LÁZARO, Josep; GALLEGO, Ferran; GÓMES BRAVO, Gutmato; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando; LEDESMA, José Luis; LOSADA MALVARÉZ, Juan Carlos; MAINER, José-Carlos; MARCO, Jorge; MARTÍN, José Luis; MEES, Ludger; MIRALLES, Ricardo; MORADIELLOS, Enrique; MORENO JULIÀ, Xavier; PEREIRA, Juan Carlos; PRESTON, Paul; PUELL DE LA VILLA, Fernando; PUIGSECH FARRÀS, Josep; RAGUER I SUÑER, Hilari; REIG TAPIA, Alberto; ROBLEDO, Ricardo; ROJO, José Andrés; SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep; SÁNCHEZ RECIO, Glicerio; THOMÀS, Joan Maria; VIÑAS, Ángel, e YSÀS, Pere.
Jaime Valim Mansan – Doutorando, bolsista Capes. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Av. Ipiranga, 6681, Partenon. 90619-900 Porto Alegre – RS – Brasil. E-mail: jaimemansan@gmail.com.
[IF]O que é um autor? Revisão de uma genealogia – CHARTIER (RBH)
CHARTIER, Roger. O que é um autor? Revisão de uma genealogia. São Carlos (SP): Ed. UFScar, 2012. 90p. Resenha de: MORAES, Kleiton de Sousa. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.33, n.65, 2013.
Retornar aos clássicos é sempre um risco, ainda mais quando se pretende fazer uma revisão crítica do clássico. Lançar-se a essa árdua tarefa é colocar-se diante de um desafio que pode resultar, não raras vezes, frustrante. Assumindo esse risco o historiador francês Roger Chartier, professor da cátedra Écrit et cultures dans l’Europe Moderne no Collège de France desde 2007, retorna à clássica conferência do filósofo Michel Foucault, pronunciada em fevereiro de 1969 sob o título “O que é um autor?”. Na esteira dela, Roger Chartier propõe-se em O que é um autor? Revisão de uma genealogia a revisitar as reflexões do filósofo na sua análise do funcionamento do que ele chamara de ‘função autor’ no mundo da escrita ocidental.
Fruto de uma conferência realizada na Sorbonne no ano 2000, e apresentada para a mesma Société Française de Philosophie que promoveu a conferência homônima de Foucault, O que é um autor? é o desdobramento de um diálogo profícuo do historiador com o filósofo esboçado já há alguns anos. Historiador especialista na cultura escrita, Chartier, em A Ordem dos livros (publicado em 1994), já havia visitado a famosa conferência de Foucault para analisar as representações dadas à figura do autor e fazer uma primeira correção nas reflexões do filósofo francês. Já naquela ocasião, Chartier buscava dialogar com Foucault, fundamentalmente no que tange à periodicidade do aparecimento do autor em textos ‘científicos’ e ‘literários’, tema que retomará neste novo livro.
Aqui, Chartier reitera a originalidade do filósofo ao chamar atenção para a pertinência de seu questionamento sobre o funcionamento do mecanismo segundo o qual um texto ou uma obra são identificados a um nome próprio. Reafirmando a tese central da conferência de Foucault, Chartier desenvolve uma análise histórica das distintas maneiras pelas quais foi acionada a ‘função autor’ no tempo. Para tanto, inicia com uma revisão da cronologia esboçada pelo filósofo francês a fim de corrigir algumas imprecisões em suas assertivas, renovando, assim, sua força interpretativa.
Nesse empreendimento, Chartier evoca outro frequente interlocutor em seus livros, o escritor argentino Jorge Luís Borges. No conto Borges e eu, que faz parte do volume O Fazedor, Borges conta, mediante um humor profundo, da não identidade entre o indivíduo que escreve e o autor, embora reitere a complementaridade fenomenológica inescapável entre ambos: “Seria exagerado afirmar que nossas relações são hostis. Eu vivo e deixo-me viver, para que Borges possa urdir sua literatura, e essa literatura justifica-me” (p.32-33).
A citação do conto borgiano não é gratuita. Trata-se de afirmar, com Foucault, que o funcionamento da ‘função autor’ não se inscreve no momento de uma prática de escrita, mas se insere dentro de uma ordem do discurso específica que a engloba. É essa adesão à tese foucaultiana o ponto de partida do qual Chartier empreende sua revisão crítica, evocando daí a vaga cronologia em três tempos esboçada por Michel Foucault na famosa conferência.
A primeira seria a do nascimento da concepção burguesa da propriedade literária, que Foucault localiza entre o final do século XVII e o início do século XVIII. Embora reafirme a importância desse momento como fundamental na construção de uma ‘função autor’, Chartier chama atenção para o fato de que a propriedade literária do autor nasce na Inglaterra não tanto no interesse do autor, mas do livreiro-editor londrino que, na iminência de perder seus direitos sobre determinada obra – direito exclusivo de reprodução adquirido pelos velhos estatutos e revogado por nova lei –, em inícios do século XVII e não no final, cria, ou faz criar, a propriedade do autor sobre seu texto. Chartier afirma que essa conquista do autor encobriria o verdadeiro objetivo que seria dar ao autor o direito de, ao repassar sua propriedade para determinado livreiro-editor, também transmitir os mesmos direitos de perpetuidade e imprescritibilidade da obra.
Avançando na reflexão, o historiador observa que a justificativa para a criação do copyright ainda nesse período fundou-se tanto no direito natural – segundo o qual o homem é proprietário de seu corpo e dos produtos do seu trabalho – quanto numa justificativa estética, fundada na originalidade daquele que produz, gerando, nessa esteira, a figura do indivíduo criador único e original. Isso significa, nos alerta Chartier, não só uma reivindicação econômica do direito do autor, mas a existência de uma antiga reivindicação que se baseava numa propriedade moral, segundo a qual o controle de uma obra poderia ser pedido em nome da honra de um autor.
A outra cronologia, aquela em que o historiador segue mais de perto Foucault, relaciona-se à distinção do processo de anonimato que caracterizaria os textos literários e científicos entre os séculos XVII e XVIII. Pensa Chartier que talvez a aporia existente nas reflexões de Foucault seria resultado de três problemas: o primeiro, uma inércia linguística, criada pela impossibilidade de definir-se prudentemente uma divisão entre ciência e literatura em períodos específicos; o segundo se referia à necessidade de se pensar a evocação de autoridades (Hipócrates, Plínio etc.), procedimentos comum antes dos séculos XVII ou XVIII, e essa relação com os autores de determinada época; e o terceiro, a ausência da ‘função autor’ em textos literários anteriores ao século XVII ou XVIII e a mesma ausência para enunciados científicos após essa mesma data, hipótese que Chartier rejeita.
Embora concorde em parte com Foucault, quando este salienta a necessidade da referência a um autor bem antes do século XVII para textos identificados como ‘científicos’, Roger Chartier não concorda quando nessa distinção acusa o anonimato em textos literários. Para Foucault, entre os séculos XVII ou XVIII, há uma mudança entre o aparecimento da figura do autor em textos literários e, inversamente, o seu desaparecimento em textos científicos. Para o historiador, mesmo depois do século XVII, uma descoberta ou um enunciado científico só tinham validação pela evocação de um nome próprio, não necessariamente o erudito, técnico ou profissional. Chartier identifica esse procedimento como um método de validação aristocrático, em que vale mais, para aceitação de um enunciado, aquele que tem o poder de dizer uma verdade – um poderoso, um príncipe ou um ministro. Em contrapartida, o desinteresse de um autor, representado pela não relação de propriedade por seus enunciados, é fundamental para que o erudito seja reconhecido como o autor ou autoridade nesse regime. Tal procedimento, ao contrário do que pensava Foucault, encontrava-se presente até mesmo nos textos literários posteriores a esse momento de ruptura que teria sido o século XVII, no qual, em prólogos, prefácios ou dedicatórias, o desinteresse do autor é evocado como fator de credibilidade para textos. Por fim, Chartier afirma, diferentemente do que Foucault pensava, que alguns textos com valor de verdade circulavam em anonimato desde a Idade Média, sem necessidade da referência a uma autoridade – os livros de segredos e os manuais técnicos, por exemplo.
Se o século XVIII revela a construção do autor-proprietário, a figura do autor é bem anterior a ela. A última cronologia esboçada por Foucault remete à ligação do autor a uma função ligada à identificação de um indivíduo com determinado texto para fins punitivos, notadamente os de censura. Chartier concorda com essa proposição citando fontes inquisitoriais do século XVII, onde o anonimato de um texto impresso já era motivo de sua censura, sendo os títulos de obras vinculadas a um nome próprio uma fórmula essencial de melhor vigilância para as autoridades.
Essa investigação levou alguns historiadores a concluir que a ‘função autor’ nasce com o livro impresso, a partir do aparecimento do nome de um indivíduo no impresso, com os processos acionados por escritores que tiveram seus textos publicados sem seu consentimento desde inícios do século XVI e com o aparecimento de um retrato do indivíduo autor. Mas Chartier julga errônea essa precipitação. Em primeiro lugar, seguindo a mudança lexical que se dá com os termos auctor e actor quando ainda o regime de circulação de textos era fundamentalmente manuscrito, no século XIV e no começo do século XV, com o primeiro designando uma autoridade e o segundo um compilador. Chartier aponta a conquista progressiva da autoridade dos auctores pelos actores e, já no final do século XIV e em inícios do XV, a existência da designação acteur valendo tanto para autoridades quanto para certos textos publicados em língua vulgar, nascendo daí a figura do escritor, não apenas como aquele que copia, mas aquele que compõe e inventa.
Essa forte presença da representação – palavra-chave em Chartier – do autor como criador em contraste com o decifrador, glosador ou compilador, impõe uma reflexão em torno da historicidade da identificação do nome à obra e à própria materialidade do objeto. Para Chartier, se desde a alta Idade Média a forma mais conhecida do livro era aquela da miscelânea, ou seja, de diferentes textos reunidos num objeto-livro, o que parece existir é uma suposta ‘função leitor’ – aquele que desejou que fossem reunidos textos distintos em um só objeto – e uma ‘função copista’ – o que copiou o texto num único livro. Mas, se a miscelânea é a característica desse tipo de livro, já no século XIV, quando a circulação de textos ainda se fazia em livros manuscritos, é possível identificar a ‘função autor’ a um indivíduo, ligando-o a uma obra ou livro. Aí reside para Roger Chartier a incontornável recomendação de que à genealogia da ‘função autor’ imersa na ordem do discurso deve-se acrescentar, concomitantemente, uma ordem dos livros. A consequência disso residiria na maneira de tratamento dada à investigação dos impressos, que não poderia prescindir também da investigação dos suportes que veiculam os textos como forma de identificar os seus sentidos.
Ao corrigir algumas imprecisões expostas na famosa conferência de Michel Foucault, Roger Chartier em O que é um autor? enfatiza a força interpretativa do filósofo francês incorporando alguns questionamentos advindos das pesquisas recentes sobre impressos, notadamente oriundos da História Cultural. Essa démarche não o conduz à negação da questão proposta por Foucault. O retorno visa reforçar o quanto sua reflexão crítica continua expressa em questionamentos atuais sobre o funcionamento de um determinado mecanismo de autoridade sobre os textos. Essa reflexão não finda na investigação da ordem do discurso, mas incorpora, de maneira fundamental, a dimensão da materialidade desse mesmo discurso. E isso porque, respondendo às questões ao final do livro, Chartier afirma que um leitor nunca encontra um texto a não ser por meio de uma forma específica, sendo a ordem do discurso sempre uma ordem de materialidade.
Por fim, cabe reiterar que tal visita a Michel Foucault como parte de um movimento que busca dialogar com um clássico se funda num espaço de tensão em que o interlocutor se apropria das ideias de outrem contribuindo de forma a torná-las vivas. Chartier não parece em seu O que é um autor querer cair nas armadilhas que pudessem confrontá-lo com o filósofo. Ele vai ao encontro do risco inevitável de, ao se apropriar das ideias de Foucault, tornar-se também ele um autor dessas ideias, aprofundado-as de forma crítica. Mas os sentidos que os leitores vão dar a essa apropriação respeitosa podem não ser tão compatíveis com os desejos do historiador. Esta última proposição Chartier assume como parte incontornável de uma prática de leitura que é também, sabe ele, espaço de imprevisíveis criações.
Kleiton de Sousa Moraes – Doutorando em História Social. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), IFCS – Programa de Pós-Graduação em História Social. Largo de São Francisco, 1, sala 205, Centro. 20051-070 Rio de Janeiro – RJ – Brasil. E-mail: kleiton_angra@yahoo.com.br
[IF]
Qual o valor da história hoje? – Marcia A. Conçalves, Helenice B. Rocha, Luís Resnik e Ana M. Monteiro
A inquietação que toma a forma de uma questão – Qual o valor da história hoje? – incomoda a todos os profissionais que têm como ofício escrever livros de história ou ensiná-la na educação básica. O Grupo de Pesquisa Oficinas da História colocou esta mesma pergunta aos seus próprios membros e a pesquisadores convidados para o Seminário Nacional O Valor da História Hoje, realizado em maio de 2010 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Seu objetivo foi problematizar a própria interrogação e pensar respostas múltiplas e provisórias. As instigantes apresentações, enriquecidas pelas profícuas discussões realizadas, deram origem ao livro que transformou o título do Seminário numa pergunta – “Qual o valor da história hoje?” – de maneira a potencializar ainda mais a inquietação que o inspirou. Mas, para entender essa publicação, é preciso contextualizá-la no grupo de pesquisa que a produziu e articulá-la com as contribuições anteriores do Grupo Oficinas.
O Grupo de Pesquisa Oficinas da História dedica-se a pesquisas na área do ensino de história e vem produzindo contribuições importantes para as reflexões acerca desde campo de pesquisa desde a sua fundação, em setembro de 2004. O grupo apresenta um perfil interinstitucional e é composto por vinte pesquisadores que atuam ministrando aulas na graduação e pós-graduação em cursos de educação e de história. O Grupo Oficinas está sediado na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a maioria dos seus membros está situada em instituições universitárias desse estado, apesar de alguns deles atuarem em instituições de outros estados. O livro Qual o valor da história hoje? é a terceira publicação organizada por membros do grupo desde a sua criação. A primeira foi o livro A história na escola: autores, livros e leituras, 1 resultado do projeto desenvolvido entre 2005 e 2007 pelo Oficinas intitulado O Livro Didático como Discurso Historiográfico. A segunda publicação foi o livro A escrita da história escolar: memória e historiografia, 2 resultado de um projeto mais amplo intitulado Culturas Políticas e Usos do Passado – Memória, Historiografia e Ensino de História, que contou com a participação de alguns membros do grupo Oficinas.
O livro Qual o valor da história hoje?, organizado por Marcia Gonçalves, Helenice Rocha, Luís Reznik e Ana Maria Monteiro, reúne 16 textos apresentados no seminário nacional realizado em 2010. Entre 2009 e 2011, o Grupo Oficinas desenvolveu o projeto Ensino de História e Historiografia que, entre outras iniciativas, organizou o Seminário Nacional O valor da história hoje. Os textos das apresentações no seminário foram reorganizados no livro em três partes: “Formas de escrever e ensinar história”, “Memória e identidade” e “Tempo e alteridade”. Os temas que organizam essas partes são escolhidos em função de sua forma de aproximação de respostas possíveis à questão proposta no título.
O capítulo inicial da primeira parte nos ajuda a situar a questão de acordo com as diversas perspectivas acerca da história. O texto de Durval Albuquerque Junior – “Fazer defeitos na memória: para que servem o ensino e a escrita da história” – faz uma revisão sintética sobre os diferentes regimes historiográficos e a maneira como cada um deles pensou os usos e a função da história na sua dimensão formativa das subjetividades. Revisão audaciosa, que não se limita a resumir, mas interpreta e apresenta uma leitura da possível função do ensino de história hoje, historicizando o tempo presente e utilizando a compreensão da alteridade numa dimensão diacrônica para preparar os contemporâneos para a valorização da diversidade.
Os outros três capítulos que compõem essa parte também investem em reflexões teóricas sobre a escrita da história e o seu ensino. Márcia de Almeida Gonçalves, no texto “O valor da vida dos outros…”, aceita o desafio de pensar a questão título da obra pelo viés que a relaciona ao problema da consciência histórica, discutindo as concepções de sujeito e a produção biográfica. Maria Nazaré de Camargo Pacheco Amaral, no texto “Ciências do espírito: relações entre história e educação”, recupera a concepção de pedagogia defendida por Dilthey, na qual esta é pensada como uma tarefa filosófica e elevada à categoria de ciência do espírito. Por fim, Valdei Lopes de Araujo, no texto “A aula como desafio à experiência da história”, propõe-se a pensar os desafios pedagógicos para o enfrentamento, em sala de aula, da temporalidade em geral, através do diálogo com as contribuições filosóficas de Husserl e Heidegger.
A segunda parte do livro traz seis textos sobre a temática da “Memória e identidade” sob diferentes abordagens e utilizando diferentes referenciais teóricos. Eunícia Barros Barcelos Fernandes, no texto “Do dever de memória ao dever de história: um exercício de deslocamento”, discute os usos da memória frente às inquietações surgidas com a legislação que tornou obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, a Lei 11.1645/2008, recorrendo ao conceito de consciência histórica. Luciana Heymann e José Maurício Arruti, no texto “Memória e reconhecimento: notas sobre as disputas contemporâneas pela gestão da memória na França e no Brasil”, traçam alguns paralelos entre as controvérsias públicas que envolvem o tema da memória nos contextos francês e brasileiro. Margarida de Souza Neves, no texto “Cartografias da memória: história, memória e ensino da história”, propõe um exercício de interpretação do mapa de Lopo Homem-Reinéis do século XVI como uma maneira metafórica de cartografar o continente da memória de forma a assinalar nesse mapa o lugar das disputas que lhe conferem relevo. Rui Aniceto Nascimento Fernandes, no texto “Uma província na disputa: como os fluminenses lidaram com a memória imperial na década de 1920”, discute as disputas em torno da memória imperial frente aos embates políticos da década de 1920, problematizando o impacto destas no campo das políticas públicas educacionais.
Os dois últimos capítulos da segunda parte enfrentam mais especificamente a temática da identidade. No texto “A história é uma escola: o paradigma do nacional na literatura didática de Viriato Correa”, José Ricardo Oriá Fernandes, utilizando uma concepção ampliada do conceito de livro didático, analisa a presença do nacionalismo nos livros escolares de Viriato Correa, com destaque para a História do Brasil para crianças (1934). Luís Fernando Cerri, no texto “Nação, nacionalismo e identidade do estudante de história”, discute e apresenta alguns resultados do projeto de pesquisa internacional “Nação, nacionalismo e identidade do estudante de história”, que, inspirado nas potencialidades do projeto europeu “Youth and history”, aplicou questionários aos jovens do Brasil, Argentina e Uruguai. Esses dois textos que concluem a segunda parte podem ser articulados com alguns dos textos da terceira parte que tratam do tema da alteridade. Cecilia Goulart, em “Alteridade e ensino de história: valores, espaços-tempos e discursos”, vai discutir o conceito de alteridade no contexto dos estudos da linguagem em perspectiva bakhtiniana, ilustrando-o com situações pedagógicas de diversas origens para, por fim, analisar situações de aulas de história. No texto “A leitura na aula de história como experiência de alteridade”, Helenice Rocha vai discutir a leitura comentada, uma prática comum no ensino de história, mediante a análise de aulas observadas na sua pesquisa. No capítulo intitulado “Do colorido à cor: o complexo identitário na prática educativa”, Júnia Sales Pereira busca discutir as polêmicas e disputas em torno das relações raciais no Brasil e os seus impactos na prática docente daqueles que se veem confrontados com essas questões em sala de aula.
Outra temática especialmente cara ao ensino de história é o objeto de três textos dessa última parte: o tempo. Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro, no texto “Tempo presente no ensino de história: o anacronismo em questão”, aborda a questão do presente no ensino de história, recorrendo aos conceitos de regimes de historicidade e de acronia para lançar uma nova luz sobre esse problema. Em “Que passados e futuros circulam nas escolas de nosso presente?”, Carmen Teresa Gabriel aposta na análise de temporalidades recontextua–lizadas no ensino de história apropriando-se especialmente das reflexões teóricas de Paul Ricoeur sobre o tempo e a narrativa. “Aprender e ensinar o tempo histórico em tempos de incertezas: reflexões e desafios para o professor de história”, de Sonia Regina Miranda, aponta alguns desafios contemporâneos enfrentados pelos professores de História ao lidar com a complexa questão do tempo histórico através da análise das representações do tempo encontradas em livros didáticos.
Esta breve apresentação das temáticas de cada uma das três partes do livro e um breve panorama dos objetos e objetivos de cada um dos seus capítulos serve apenas como um convite para aqueles que se interessam pelo ensino de história. O que constitui o maior mérito do livro é a maneira coerente como os diversos capítulos convergem de diferentes maneiras no enfrentamento da inquietação presente em seu título e a atualidade das discussões e referenciais teóricos utilizados. Mas o livro traz outra marca, além da inquietação com relação ao valor da história hoje: a tentativa de lidar com a perda do professor Manuel Salgado Guimarães, citado e mencionado em diversos textos que fazem parte desta coletânea. Os capítulos da obra reconhecem e valorizam a importância das obras de Guimarães para o estudo da historiografia, do ensino de história e da relação entre esses dois campos de pesquisa. O livro Qual o valor da história hoje? acaba por constituir uma bela homenagem à herança intelectual de um colega que fará tanta falta nas oficinas da História e de seu ensino.
Notas
1. ROCHA, H.; REZNIK, L.; MAGALHÃES, M. (Org.). A história na escola: autores, livros e leituras. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2009. [ Links ]
2. ROCHA, H.; MAGALHÃES, M.; GONTIJO, R. (Org.). A escrita da história escolar: memória e historiografia. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2009. [ Links ]
Fernando de Araujo Penna – Doutor em Educação (UFRJ), professor de história do Colégio Santo Inácio. R. São Clemente, 226, Botafogo. 22260-000 Rio de Janeiro – RJ – Brasil. E-mail: f_penna@yahoo.com.
GONÇALVES, Marcia de A.; ROCHA, Helenice Ap. de B.; RESNIK, Luís; MONTEIRO, Ana M. F. da C. (Org.) Qual o valor da história hoje?. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. 328p. Resenha de: PENNA, Fernando de Araujo. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.33, n.65, 2013. Acessar publicação original [IF]
História e documentário – MORETTIN (RBH)
MORETTIN, Eduardo; Napolitano, Marcos; Kornis, Mônica Almeida (Org.). História e documentário. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2012. 324p. Resenha de: MALAFAIA, Wolney Vianna. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.32, n.64, p.365-367, dez. 2012.
Nos últimos 15 anos, o audiovisual vem ocupando um espaço privilegiado na produção historiográfica, como objeto ou como fonte, principalmente na sua forma mais envolvente e instigadora: o cinema. E, dentro dessa forma, um gênero, por assim dizer, suscita preocupações no que diz respeito à sua análise, justamente por compartilhar com a história o tratamento dado às noções de verdade e realidade: o documentário.
Procurando enriquecer o debate instaurado em torno do uso do audiovisual, mais especificamente do documentário, como objeto ou fonte da história, Eduardo Morettin e Marcos Napolitano, professores da USP, e Mônica Almeida Kornis, da Fundação Getulio Vargas, organizaram História e documentário, contendo textos que, em seu conjunto, representam o resultado de pesquisas realizadas pelo grupo constituído junto ao CNPq e denominado “História e Audiovisual: circularidades e formas de comunicação”, coordenado pelos dois primeiros.
Salientam os organizadores, em sua apresentação, dois aspectos que justificariam a edição dessa obra coletiva: primeiramente, como já foi dito, a expansão da pesquisa histórica que privilegia o cinema como fonte e objeto, importando para o campo teórico dessa análise as preocupações concernentes à narrativa e à estética cinematográficas; em segundo lugar, o papel de protagonista que o documentário vem ocupando na produção cinematográfica nacional e, consequentemente, na pesquisa e na reflexão crítica acadêmicas, a partir de meados da década de 1990. Os trabalhos aqui apresentados refletem estas preocupações: a articulação da narrativa histórica com as peculiaridades da narrativa fílmica, e a representação do passado, trabalhando os conceitos de verdade e realidade, o que diz respeito à preocupação tanto do pesquisador quanto do documentarista.
Por causa dessa articulação geral, os textos formam um conjunto harmonioso, destacando-se afinidades entre alguns, no que diz respeito à fonte pesquisada ou ao tratamento teórico utilizado. Assim, os textos de Eduardo Morettin (“Dimensões históricas do documentário brasileiro no período silencioso”), e de Ismail Xavier (“Progresso, disciplina fabril e descontração operária: retóricas do documentário brasileiro silencioso”), ao abordar os primórdios da produção cinematográfica de caráter documental, lançam luzes sobre as diversas formas de utilização das imagens produzidas naquela época e a sua própria historicidade. Nesses dois textos encontramos uma análise que se preocupa com a distância entre o objetivo original da produção e os possíveis usos das imagens produzidas; essa distância é reveladora e possibilita a construção de variadas relações, que acabam por enriquecer o sentido dessas mesmas imagens.
Num segundo grupo, analisando documentários inspirados pela experiência imagética do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) do Estado Novo, temos os textos de Mônica Almeida Kornis (“Imagens do autoritarismo em tempos de democracia: estratégias de propaganda na campanha presidencial de Vargas de 1950”), Rodrigo Archangelo (“O Bandeirante da Tela: cenas políticas do adhemarismo em São Paulo – 1947-1956”), e Reinaldo Cardenuto (“O golpe no cinema: Jean Manzon à sombra do Ipês”). Nesses textos, destaca-se a preocupação com a articulação entre a propaganda política e uma determinada estética própria de cinema documentário inaugurada pelo DIP, mas enriquecida com a expansão dos meios de comunicação, como o rádio, e do próprio mercado exibidor cinematográfico, com um maior número de salas de cinema e o apogeu das comédias musicais populares, as chanchadas. Se, num primeiro momento, quando da campanha presidencial de Getúlio Vargas, encontramos uma estética ainda presa às propostas do DIP, num segundo momento, quando das campanhas de Adhemar de Barros, já verificamos uma sensível transição e, num terceiro momento, quando das produções de Jean Manzon, já percebemos a incorporação de recursos estilísticos próprios do cinema ficcional norte-americano e mesmo das chanchadas brasileiras.
Um terceiro grupo seria constituído pelos textos que trabalham imagens de arquivos. Marcos Napolitano (“Nunca é cedo para se fazer história: o documentário Jango, de Silvio Tendler – 1984″) e Rosane Kaminski (“Yndio do Brasil, de Silvio Back: história de imagens, história com imagens”) trabalham com produções nacionais, analisando filmes de dois profícuos cineastas: Silvio Tendler e Silvio Back; nos dois textos, a análise da narrativa cinematográfica é intermediada pela análise da narrativa histórica, pois os cineastas se preocupam em apresentar suas versões e conclusões, articulando imagens e discursos. Em outro texto, Henri Arraes Gervaiseau (“Imagens do passado: noções e usos contemporâneos”) analisa o documentário Videogramas de uma revolução, de Harun Farocki e Andrei Ujica, sobre a deposição do regime ditatorial de Nicolae Ceausescu, produzido em 1992, utilizando-se para tal das formulações teóricas de Georges Didi-Huberman, que privilegiam o momento da produção da imagem, a experiência de quem produz e sua relação com a imagem produzida, consagrando, assim, a noção de contemporaneidade, externa ao filme, mas cuja compreensão torna-se necessária para um melhor entendimento.
Ainda nesse terceiro grupo, os textos de Mariana Martins Villaça (“O ‘cine de combate’ da Cinemateca del Tercer Mundo – 1969-1973”) e Vicente Sanchez-Biosca (“A história e a providência: cinema e carisma na representação de Franco e José Antonio Primo de Rivera”) trabalham propostas antagônicas: a produção uruguaia voltada à revolução terceiro-mundista e a produção espanhola enaltecedora do fascismo ibérico; cada qual, falando do seu lugar, revela não só as opções ideológicas como as opções estilísticas que procuram apresentar suas propostas da forma mais convincente possível.
Por último, o texto de Fernando Seliprandy (“Instruções documentarizantes no filme O que é isso, companheiro?“), no qual o autor utiliza o conceito de ‘instruções documentarizantes’, formulado por Roger Odin, para analisar a produção de Bruno Barreto e o debate que a cercou. Aqui, mais uma vez, a noção de verdade, presente na narrativa fílmica e na narrativa histórica, é colocada em questão: a indução do espectador, levado a entender o filme como uma representação da realidade, é confrontada pela indução produzida por textos e análises críticas ao mesmo filme, os quais também se apresentam como reveladores daquilo que realmente teria acontecido.
Esse trabalho coletivo recusa a ambição de se constituir como uma referência de perspectivas rígidas sobre o papel dos documentários e cinejornais para os estudos históricos, propondo-se iniciar um debate sobre a rica relação desse gênero de cinema com a história. Considerando que esse debate há muito já foi iniciado, entendemos que História e documentário tem a função de enriquecê-lo e, mais do que isso, serve, sim, a despeito da modéstia de seus organizadores, como uma importante referência para aqueles que se interessam pela relação da história com o cinema, quer sejam pesquisadores ou não, mas, com certeza, todos que sejam encantados pela imagem em movimento.
Wolney Vianna Malafaia – Doutor em História, professor do Colégio Pedro II. Rua Piraúba, s/n – São Cristóvão. 20940-250 Rio de Janeiro – RJ – Brasil. E-mail: wolneymalafaia@ig.com.br
[IF]
Boletim Vida Escolar: uma fonte e múltiplas leituras sobre a educação no início do século XX – GALVÃO; LOPES (RBH)
GALVÃO, Ana Maria de Oliveira; LOPES, Eliane Marta Teixeira (Org.). Boletim Vida Escolar: uma fonte e múltiplas leituras sobre a educação no início do século XX. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 146p. Resenha de: LEON, Adriana Duarte. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.32, n.64, dez. 2012
O livro Boletim Vida Escolar: uma fonte e múltiplas leituras sobre a educação no início do século XX, organizado por Ana Maria de Oliveira Galvão e Eliane Marta Teixeira Lopes, foi lançado recentemente e reúne cinco textos de pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação da UFMG, produzidos especialmente para compor a reflexão apresentada na obra. Os capítulos são diferentes abordagens sobre o mesmo objeto, o Boletim Vida Escolar, que circulou na cidade de Lavras (MG) entre maio de 1907 e novembro de 1908.
Os estudos sobre impressos educacionais são recorrentes no campo da História da Educação, pois possibilitam emergir detalhes das tensões presentes no debate educacional. A imprensa educacional foi produzida de forma mais intensa a partir da segunda metade do século XIX, sobretudo como material de formação para os professores, considerando a quantidade limitada de compêndios para essa função. No século XX a imprensa educacional amplia sua abordagem e observa-se a criação de impressos vinculados a diferentes instituições.
O Boletim Vida Escolar se encaixa nessa lógica, pois era uma publicação do Grupo Escolar de Lavras, inaugurado no dia 13 de maio de 1907. Seu diretor, Firmino Costa, era também o editor do Boletim. O impresso compunha-se de quatro páginas e tinha periodicidade quinzenal, e foram publicados ao todo 34 números. Os textos apresentados no impresso eram didáticos ou pedagógicos, e alguns tinham caráter informativo. Observa-se que o impresso circulou em diversos locais do município e do estado, o que indica ampla divulgação das ideias ali publicadas.
A fim de precisar quem eram os leitores visados pelo editor do Boletim Vida Escolar, Ana Maria de Oliveira Galvão e Mônica Yumi Jinzenji realizaram a análise do impresso sob três ângulos: estudaram as matérias direcionadas para um leitor específico, o conteúdo das temáticas abordadas e, por último, as estratégias discursivas utilizadas pelo editor.
Como estratégia metodológica as autoras categorizam o conteúdo do Boletim de acordo com as três abordagens destacadas, para posteriormente estabelecerem uma interpretação dessa categorização. Sob inspiração de Umberto Eco buscaram identificar os leitores presentes no impresso e concluíram que esse público era masculino e inserido no mundo da escrita, o que transparece, respectivamente, na identificação de formas de tratamento (caríssimos, prezados, conterrâneos e amigos) e no vocabulário utilizado.
Sobre os temas mais tratados no impresso observa-se que o próprio Grupo Escolar recebe o maior destaque, assim como seu diretor. Na construção discursiva, ou nas estratégias discursivas adotadas pelo impresso, percebem-se a valorização de Firmino Costa e o destaque às atividades por ele desenvolvidas em prol do Grupo. Firmino Costa busca convencer o leitor de que está colaborando para o êxito da reforma da instrução no estado, e que os grupos escolares são uma opção moderna e de acordo com o período.
Tratando das construções discursivas presentes no Boletim e buscando identificar o que constitui o bem viver no Grupo Escolar de Lavras, Eliane Marta Teixeira Lopes e Andrea Moreno indicam que parece emergir a valorização da educação na cidade. Acompanhando as preocupações da época, Firmino Costa anuncia o bom trato da saúde e o estímulo a bons hábitos de higiene como característica positiva da escola. Tal ênfase poderia estar relacionada à preocupação da escola em promover uma imagem moderna e atual, e diversos artigos tratam desse tema no Boletim Vida Escolar. Pode-se inferir que a divulgação dessa característica no veículo do Grupo Escolar segue o pensamento higienista da época.
Além disso, o Grupo Escolar anuncia nos seus princípios e métodos uma comparação entre a velha e a nova educação, e chama a atenção para algumas qualidades dessa nova escola: deve ser polida, justa, carinhosa, animada, atraente e prática. Pela análise de tais afirmações pode-se inferir que o Grupo Escolar integra a modernidade urbana como instituição educacional adequada à urbanização do país.
No final do século XIX e no início do século XX o urbano assume características de civilidade acentuada, em oposição ao rural que predominava anteriormente. Cynthia Greive Veiga aponta profundas mudanças nas formas de tratamento entre alunos e professores, pois os castigos e as imposições se tornam menos aceitos na lógica da civilidade. A necessidade de produção de uma matriz urbana de comportamento social está atrelada ao crescimento das cidades. A autora afirma que a escola sempre foi parte da história das cidades, e que o crescimento destas torna necessário reorganizar a vida social.
Considerando a necessidade de regrar a vida urbana e implementar/internalizar os códigos de postura, a “escola estatal pública se desenvolve como fator de alteração da própria rotina das cidades”. Esse é o caso do Grupo Escolar de Lavras, um dos primeiros grupos de Minas a proporem diversas mudanças, até mesmo nas relações entre alunos e professores. No Boletim Vida Escolar Firmino Costa estimula as manifestações de carinho e delicadeza como formas de relacionamento no ambiente escolar. Há uma demarcação das diferenças geracionais, especialmente entre adulto e criança, com destaque para o papel relevante da mãe como responsável pelo cuidado da criança. Enfim, são diversos movimentos que indicam um novo trato do indivíduo e uma atenção à constituição de suas sensibilidades. O Boletim advoga a construção desse novo indivíduo sociável, de acordo com os tempos de civilidade.
É interessante que o repertório pedagógico de Firmino Costa foi construído com base nas ideias circulantes em um espaço de ambiência cultural, mas não se tratava de uma apropriação passiva, era um processo de apropriação e reelaboração, como bem destacam Juliana Cesário Hamdan e Luciano Mendes Faria Filho.
Por intermédio do Boletim, Firmino consegue propiciar visibilidade e circulação às ideias por ele defendidas, dentre as quais destacam-se a defesa do regime republicano, do ensino mútuo e do ensino profissional e a valorização da criança e das relações estabelecidas no interior do Grupo Escolar, enfim, diversas questões que se relacionavam com o período e anunciavam o seu repertório pedagógico.
No primeiro relatório que enviou às autoridades mineiras como diretor, Firmino relata que inaugurou o grupo em 13 de maio e logo publicou o primeiro número do Boletim. Ressalta que no impresso deveriam ser tratados assuntos relativos à instrução e à história do município. Dentre os temas educativos, o ensino profissional é o que mais povoa os textos de Firmino Costa no Boletim. A ideia predominante era de que a educação deveria aproximar o sujeito do trabalho, e que por meio do ensino profissional o governo poderia resolver o problema da educação do povo.
A ideia de que a escola deveria educar para o trabalho começou, lentamente, a ganhar espaço no século XIX, via escolarização dos ofícios manuais, dos Liceus de Artes e Ofícios, das escolas particulares e das instituições filantrópicas. Carla Simone Chamon, Irlen Antônio Gonçalves e Bernardo Jefferson de Oliveira analisam as proposições para o ensino profissional presentes no Boletim Vida Escolar. O processo de escolarização do trabalho ocorre concomitantemente às transformações das relações de trabalho em curso em Minas Gerais e em vários outros estados do país. Com o processo de industrialização, na virada do século XIX para o XX, ocorre um movimento de criação de escolas profissionais que visava alcançar os trabalhadores livres.
O ensino profissional foi incluído na reforma da instrução pública nacional em 1906, e um ano após já se percebem nas páginas do Boletim Vida Escolar estratégias discursivas que buscam convencer os leitores sobre a importância do trabalho e da escola. Nesse caso, preparar para o trabalho podia ser uma estratégia de convencer as famílias a manterem os filhos na escola, pois os índices de evasão eram consideravelmente altos no período.
Nas falas de Firmino Costa transcritas para o Boletim o ensino profissional na escola primária se relaciona à ideia da formação de um sujeito útil a si e à sociedade. Embora se perceba certo destaque no ensino técnico para as classes populares, há também notas que buscam desconstruir essa ideia: “nunca é demais saber um ofício”, afirmava Firmino Costa.
O Boletim Vida Escolar é uma possibilidade de investigação sobre diversos aspectos do processo de implementação e operacionalização dos grupos escolares em Lavras e em Minas Gerais. E ler o livro recém-lançado que analisa essa publicação é visitar, por meio do impresso, parte importante da história da escolarização no Brasil, considerando que a criação dos grupos escolares, no início do século XX, marca a ampliação e a complexificação da estrutura da escola pública brasileira..
Adriana Duarte Leon – Doutoranda, Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha. 31270-901 Belo Horizonte – MG – Brasil. E-mail: adriana.adrileon@gmail.com.
[IF]Colunas de São Pedro: a política papal na Idade Média central – RUST (RBH)
RUST, Leandro Duarte. Colunas de São Pedro: a política papal na Idade Média central. São Paulo: Annablume, 2011. 569p. Resenha de: COELHO, Maria Filomena Pinto da Costa. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.32, no.64, DEZ. 2012.
Leandro Rust é um historiador que, como poucos, enfrentou o desafio de Walter Benjamin: escovar a história a contrapelo. Tarefa difícil, sobretudo, se o objeto de estudo escolhido pertence à categoria dos grandes monumentos historiográficos, como é o caso do papado. Em termos políticos, sua história configura um modelo referencial que transcende as estruturas religiosas, para chegar a significar a fonte de inspiração e de experiência do Estado laico no Ocidente. Nesse sentido, a história do papado na Idade Média, principalmente entre os séculos XI e XIII, tem sido entendida como fundamental para a compreensão das origens do processo de fortalecimento/centralização do Estado. Mais concretamente, a historiografia chegou mesmo a criar um momento gerador, que ficou conhecido como Reforma Gregoriana.
A interpretação histórica que deu sustentação ao longo dos últimos dois séculos à matriz política e institucional do Ocidente vem sofrendo críticas e há uma série de trabalhos historiográficos que já se transformaram em referência obrigatória, oriundos de diferentes quadrantes (historiografia anglo-saxã, italiana, francesa e ibérica – esta em menor medida). Entretanto, esse fenômeno restringe-se basicamente às realidades políticas do poder laico. Há uma profusão de grupos de pesquisa dedicados a revisitar os documentos/monumentos que fundaram a história do poder e das instituições e a promover um debate intenso sobre a tradição explicativa que, sobretudo a partir do século XIX, apresenta o Poder sob uma única forma e fonte, derivativo, de cima para baixo e, comumente, agindo contra a sociedade para controlá-la e dominá-la desde fora. Os resultados dessas pesquisas e debates são evidentes e abrem novas possibilidades para se contar a história do Estado no Ocidente. Mas não deixa de chamar atenção que a Igreja, como objeto de estudo, tenha ficado de fora dessa renovação, a ponto de muitas vezes se achar que ela, como instituição do tipo estatal, foi a única a realmente entender e experimentar a essência daquele modelo político. As explicações para essa ausência/presença são variadas, e o livro de Leandro Rust é de grande ajuda para refletirmos sobre isso, pois desvela a construção da imagem de uma instituição que enfrentou grandes desafios políticos no século XIX e início do XX, e que se colocou como a guardiã e precursora dos melhores valores políticos do Ocidente, cujas fundações remontariam à Reforma Gregoriana.
Mas Leandro Rust não caiu na armadilha pueril de querer apresentar uma nova interpretação que desacreditasse a velha historiografia. Sua proposta denota outro sentido, totalmente afinado com o que deve ser o ofício do historiador, qual seja o de explicar por que, em determinados momentos da história, o passado é explicado de certa maneira. Sua reflexão desdobra-se em várias direções e cronologias. Interessam-lhe, evidentemente, os documentos da época a estudar, mas também a historiografia que deu sentido a esses registros. Assim, o livro Colunas de São Pedro reafirma a máxima de que a história se faz com documentos, claro, mas também com historiografia.
Colunas de São Pedro divide-se em duas partes que, de acordo com o título, dão sustentação à própria instituição da ecclesia: territorialidade do poder e o poder sobre o tempo. Embora essas duas colunas de sustentação sejam aparentemente familiares àqueles mais versados na historiografia da Igreja medieval, o fato é que reside justamente nelas o grande desafio que o autor propõe: perceber esses sustentáculos de forma diferente. Não se trata de diminuir sua força, mas de mostrar que o material de sua composição é outro.
Para tanto, foi necessário partir de uma profunda análise da historiografia – sem dúvida, um dos pontos altos do livro. A forma como os historiadores da Igreja e do político foram solidificando explicações e conceitos, a ponto de naturalizá-los, requer do pesquisador um refinado trabalho de crítica, permanente. Entre os muitos exemplos que vão surgindo ao longo do livro, destacamos o problema do conceito ‘instituição’, o qual Leandro Rust teve de enfrentar logo no início de seu trabalho. Se, por um lado, o conceito poderia adquirir uma feição explicitamente anacrônica, por outro, havia a dificuldade de definir seu conteúdo, uma vez que na experiência da pesquisa cabia quase tudo. O autor deixa entrever ao longo do livro os caminhos escolhidos – o método – para desentranhar o conceito às fontes. Um belo exercício de história que nos permite entender a instituição papal na Idade Média como ‘poder decisório dos papas’, por meio de registros já sobejamente conhecidos: sínodos e concílios. A pedra basilar, entretanto, assenta-se na maneira como o historiador olha para esses documentos/monumentos. Não como instituições ‘já prontas’, universais, mas com a curiosidade daquele que quer entender como é que se chegou à redação desse texto e o que ele quer dizer no momento da sua produção. A política que pulsa nas instituições.
Uma das colunas da tradição historiográfica da Igreja é a lei positivada. Nas palavras de Rust, uma “imagem, amplamente veiculada, dos integrantes do poder pontifício agindo sob cerrada obediência a regras textuais e coleções canônicas … a Sé Romana como um espaço social diferenciado no medievo, burocratizado e dominado por uma lógica de juristas” (p.27). Ao considerar a própria historiografia como parte integral do objeto de estudo, foi possível chegar à compreensão de que a imagem citada estava profundamente vinculada a outro problema historiográfico: o da ideia de Reforma. Uma ideia que se materializa e se ‘repete’ na história e que adquire na contemporaneidade a incontornável força de ‘um projeto político’. A esse respeito, os documentos escolhidos pelo autor – também usados por essa mesma historiografia – possibilitam outra interpretação. Os textos legais, quando interpretados em seu contexto, revelam-se não como fruto da vontade autocrática de um papa-monarca, mas como resultado de intensas negociações e pactos complexos que integram a voz do pontífice à dos mais diversos grupos de poder da cristandade, por toda a Europa. Uma territorialidade do poder que está longe de se centrar exclusivamente em Roma, que adquire conotações regionalizadas, e que só pode ser configurada graças às lógicas das redes pessoais, das quais o papado tenta participar ativamente. No mesmo sentido, a coluna do tempo não está feita de eternidade, mas de finitude; o papado recorre ao tempo dos homens para dar voz às suas decisões, mas, no mesmo espírito da maleabilidade e da pessoalidade jurídica, também o tempo é móvel e mutável. Assim, será possível, quando necessário e conveniente, inventar permanências e continuidades, legitimar causas e reestruturar a voz da autoridade.
Para Leandro Rust, as práticas reformadoras não são a chave explicativa para a compreensão da política do papado de 1040 a 1210. Ao propor que se entenda a ascensão do papado como um fenômeno político – e não cultural, social, ou econômico – há um deslocamento importante: não era a ‘reforma’ que conferia sentido histórico a essa ascensão. Então, deixar de falar em Reforma Gregoriana – como propõem alguns autores – para adotar expressões como Reforma Papal ou Reforma Eclesiástica não é uma saída para o problema historiográfico. O protagonismo da ‘reforma’ remete diretamente para o discurso reformista do catolicismo de fins do século XIX e do Concílio Vaticano II. A análise cuidadosa que Rust faz da documentação permite compreender que embora a questão moral e a espiritualidade fossem importantes, não eram estes aspectos que delineavam o curso da política.
A conclusão de Leandro Rust é historiograficamente contundente:
O século XI assinala a ascensão política da Sé de Roma, não como a precursora de uma centralização do tipo moderno e burocrático, mas como uma Igreja forçada a superar fraquezas excepcionais. Entre as décadas de 1040 e 1130, o exercício do poder pontifício seguiu à risca a mesma lógica delineada pelas experiências de tempo que pouco nos lembra a “construção de um Estado moderno”. Ele contou com uma disposição regular, perpetuada por gerações de modo constante, interpessoal, estabelecida como modalidade de integração decisória de grande abrangência social e prolongada permanência. Esta disposição estável e coletiva do modo de tomar decisões constitui o que entendemos por institucionalidade papal … As instituições pontifícias com as quais nos deparamos eram ações sociais dotadas de um sentido particular, elas tinham, de fato, finalidades específicas, que não eram alheias à sociedade senhorial, mas tampouco eram “criações” do papado … As instituições pontifícias, portanto, não podem ser definidas no ponto de partida de uma pesquisa histórica. Elas não podem ser previamente classificadas e categorizadas para que o investigador possa, só então, sondar o que a documentação tem a dizer sobre elas.
O capítulo 6, sobre o Cisma de 1130, merece um comentário destacado. Sem dúvida, é nele que o leitor consegue ver com mais clareza o descentramento da política papal, a sua natureza polinuclear, ou seja, como ela era sustentada por várias colunas senhoriais, ao ponto de o centro político do Cisma ter sido a Gália, e não Roma. Muito antes do século XIV, e de Avignon, a política papal já primava pelo deslocamento e pela mobilidade – não pela centralização e fixação.
Por último, não se pode deixar de destacar o exaustivo trabalho com as fontes. Leandro Rust encara o desafio de reler com cuidado uma documentação sobejamente conhecida para desvendar outros significados. O resultado desse esforço denota, apesar de sua juventude, grande conhecimento e erudição, o que lhe permite reconstruir intrincadas redes políticas e desvendar as tramas do discurso jurídico-institucional.
Maria Filomena Pinto da Costa Coelho – Programa de Pós-graduação em História (PPGHIS) e Departamento de História, Universidade de Brasília (UnB). Instituto de Ciências Humanas, Campus Universitário Darcy Ribeiro – ICC Norte. 70910-900 Brasília – DF – Brasil. E-mail: filo-coelho@hotmail.com.
Viagem ao cinema silencioso do Brasil.
PAIVA, Samuel; SCHVARZMAN, Sheila (Org.) Viagem ao cinema silencioso do Brasil. Rio de Janeiro: Editorial Azougue, 2011. 310p. Resenha de: SCHIAVINATTO, Iara Lis Franco. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.32, no.64, DEZ. 2012.
É bem-vinda esta obra escrita por pesquisadores do cinema que, desde 2002, se reúnem amiúde para ver filmes silenciosos na Cinemateca Brasileira. De partida, há uma lição de método: a escrita nasce da experiência de vê-los e da necessidade de melhor compreendê-los, considerando os sentidos da imagem e suas relações com o real. Desta maneira, reordena-se sua memória, atualizando-a. O livro inicia-se com um estudo sobre o estado atual da prospecção, restauração e preservação desses filmes no Brasil, dos catálogos à crítica, passando pela materialidade e pelo acesso. O acervo é concebido como uma coleção catalogada e mutável, pois pode se expandir e redimensionar. No âmbito da memória, a documentarista Guiomar Ramos retomou com d. Guiomar Rocha Álvares suas impressões ao assistir Voyage de nos souverains au Brésil (1920), isso porque d. Guiomar testemunhou, quando jovem, essa real visita. O filme dispara a memória, vindo à baila a cultura política da época. Já Mauro Alice descreveu seu interesse em usar o mesmo filme e Lembranças de velhos1 na elaboração de um roteiro cinematográfico. O livro apresenta um mapeamento comentado das Atualidades Gaúchas, o importante catálogo dos filmes disponíveis nesta Cinemateca, e o notável Relatório, escrito pelo major Reis sobre sua viagem a Nova York, extraído do acervo da Embrafilme – hoje, na Cinemateca. Major Reis explicitou as negociações e estratégias para exibir nos Estados Unidos Os sertões, produzido nas expedições do coronel Rondon. Dizia haver lá “quase uma prevenção” contra filmes estrangeiros. “Reduzidos aos assuntos não teatrais”, entravam como educational films. Exibiu seu filme, pioneiramente etnográfico, num circuito culto e científico, intermediado pelo coronel Theodore Roosevelt. No texto, transparecem tensões do mundo vincado pelo colonialismo. Pesa na memória o repúdio da Cinearte aos naturaes e cavadores. Cinearte condenou a presença de negros, índios, caboclos, traços de Congo nos filmes, numa “postura racista”, e buscou a imagem do Brasil moderno, depois vislumbrada na Cinédia. Ato contínuo, desmereceu uma gama de profissionais e procedimentos. A rememoração e a visibilidade desses filmes são temas correlatos e fortes no livro; seja ao recuperar sua constituição histórica entre 1896 e 1934, no momento da consolidação do cinema como meio de comunicação de massa e entretenimento, seja ao nuançar as perspectivas dos sujeitos sociais aí enredados.
O livro enfrenta algumas questões fundamentais do assunto, com discrepâncias e discordâncias. Dialoga com os críticos Paulo Emilio Salles Gomes, Maria Rita Galvão e Jean-Claude Bernardet, e com a noção de primeiro cinema no viés de Tom Gunning e Charles Musser. Seria um cinema fascinado pela sua própria atração e capacidade expositiva, embebido na representação do cotidiano e encantado por ela. Releva-se, nele, o processo de cosmopolitização das imagens e práticas expositivas. Contudo, não são réguas da sua inteligibilidade: a ausência de uma linguagem cinematográfica sistematizada e acabada, o progresso técnico ou o recorte nacional. Daí, o valor, para esses pesquisadores, em indicar a materialidade do filme e em situar os lugares, os circuitos, os momentos de exibição. Há diferença entre exibir No Paiz das Amazonas (1922) no Odeon ou no Palais e exibi-lo no espaço da Exposição Internacional de 1922, sempre no Rio de Janeiro. Porém, a maior parte dos filmes vistos no Brasil, principalmente a partir de 1912, era estrangeira. Da produção aqui realizada, preponderava o natural ao posado, para ficar no vocabulário dos profissionais de então. Em várias passagens, os autores distinguem natural, atualidade, cavação, travelogue e posado nos termos e implicações da época, explorando especificidades e ambiguidades.
Alguns autores debatem o gênero fílmico. Em parte, exploram a recepção e elaboração de gêneros, incorporando modelos cinematográficos, sem cair na cópia. Alfredo Supia aborda a ficção científica e flagra a recepção da sua iconografia e do seu imaginário em filmes posados e naturais – estes últimos reforçariam a verossimilhança científica. Luciana Araújo questiona a virada da figura dramatúrgica do herói, do mocinho em galã, ao comparar o norte-americano Tol’able David (1921) e Tesouro perdido (1927) de Humberto Mauro, observando essa mudança em filmes feitos em São Paulo e Pernambuco. Em suas tramas, importaria menos a construção do herói e mais a reafirmação da figura do senhor – entendido, pela autora, na esteira de Joaquim Nabuco. As relações sociais ditadas pela dialética do senhor-escravo explicariam essa dissociação entre herói e galã. Sheila Schvarzman mapeia a produção de travelogue em Cornélio Pires na condição de imagens também negociadas, onde se evidenciam a continuidade de certos tipos sociais e a grandeza do paulista. No plano das representações sociais, Luciene Pizoqueiro trabalha a figura feminina em três filmes paulistas centrados na sociabilidade burguesa e familiar. Eles mostram o papel da elite na cidade de São Paulo ao designar hábitos e emoldurar gestos e formas, bem como suas estratégias para cristalizar sua identidade.
Os filmes, além disso, funcionam como um elemento constitutivo da geografia imaginária da nação. Eduardo Morettin trata da geração de riqueza e do lugar da natureza em No País das Amazonas, Terra Encantada e No Rastro do Eldorado, de Silvino Santos, esmiuçando os significados da sua produção e exibição durante o ciclo comemorativo do centenário da Independência do Brasil, em 1922. Essa geografia imaginária ressurge em Ana Lobato e Paulo Menezes, ao exporem a montagem de uma cartografia que designa interior/litoral, campo/cidade, as fronteiras do país e, simultaneamente, insere o Brasil, como nação e simbolicamente, no contexto mundial. As irmãs Fabri desmontam os liames entre A Real Nave Itália no Rio Grande do Sul de Benjamin Camozato e a exposição itinerante levada pelo navio Regia Nave Italia por vários portos brasileiros, propagando uma iconografia fascista, o imaginário político do fascismo, o discurso eugenista e o entusiasmo da imprensa brasileira. O filme, hoje aos pedaços, dirigia-se preferencialmente ao público italiano. Alguns artigos, pontualmente, nomeiam os sentimentos de pertencimento e seus mecanismos, a exemplo do sentimento patriótico em Fabris ou o respeito cerimonioso de Cornélio Pires pela grande propriedade.
Em escalas distintas, alguns artigos problematizam as relações entre filmes vistos, de imagens precárias, e o real. Apontam a força da performance nessa filmografia, como no caso do major Reis a tomar posse, através da imagem, da fronteira, capturando-a com suas gentes para o Estado nacional. O assunto é menos a “autenticidade da imagem”, argumenta Flavia Cesarino Costa, mas o “relato acontecendo visualmente” na frente da câmera. Nessa condição, situações involuntárias, até mesmo indesejadas, vazavam. As imagens expunham o tal “atraso brasileiro” combatido pela Cinearte, que propunha a criação da filmografia de fato moderna. Por sua vez, as mediações com o real implicavam o diálogo com imagens oitocentistas, fotografias brasileiras ou não, denotando a frequência ao mundo das imagens que precede a emergência do cinema. Esse repertório imagético oitocentista, no geral, imbricou-se à viagem, na medida em que dela resulta e representa sítios visitados, inscrevendo-se muitas vezes na lógica colonial de reconhecimento do mundo e sua posse, ajudando a estabelecer o tráfego contínuo, rápido, simultâneo, em massa das imagens em ordem planetária. O fotográfico concorreu para o estabelecimento de uma percepção do lá e do aqui, do local e do global, da imagem que documenta e do objeto. Foi em si mesmo um mediador. Aí, a noção de viagem adquire, ao longo da leitura, sentidos entrecruzados: a captura da imagem na viagem, o gênero travelogue, o tema da viagem nos filmes, o alto trânsito das imagens a tecer entre si relações variadas em sua exibição. Alude às condições da e à própria experiência de ver os filmes naquelas circunstâncias e hoje. A viagem, ademais, revela a atitude por parte dos pesquisadores ao embarcar nessa experiência estética, acadêmica e cinematográfica.
Com base nesse livro, é possível refletir sobre o lugar que o corpo ocupa nessas relações entre imagem e real a considerar as conclusões de Luciana Araújo, sobre a centralidade do corpo nos filmes de major Reis e naqueles comentados por Pizoqueiro. Ou sobre a potência do ritual do poder, dizia Paulo Emílio, para gerar imagens capazes de representá-lo em celebrações de grandeza variada, do funeral de Rio Branco ao Centenário da Independência. No todo, o leitor é surpreendido pelo matiz político conservador desses filmes no temário, no tratamento das imagens, na narrativização, na recepção, nas negociações entabuladas, porque, no limite e no pinga-pinga, representavam do cotidiano a desigualdade social e espraiavam, no senso comum, uma percepção modulada pela noção de raça – expediente a justificar tal desigualdade. Ficam em mim perguntas: filmes como São Paulo: sinfonia da metrópole (1929) soaram mais arrojados do que pareciam até agora? Não caberia precisar mais os liames entre a geração de cavadores e da Cinearte? Há mais pistas no inteligente Baile perfumado (1997) para compreender essa produção tanto na fatura da imagem, no instante em que é feita, quanto sua transformação em moeda de poder e na sua rememoração?
Nota
1 Trata-se de BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
Iara Lis Franco Schiavinatto – Instituto de Artes, Departamento de Multimeios, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Rua Elis Regina, 50. Cidade Universitária Zeferino Vaz. 13083-970 Campinas – SP – Brasil. iara.schio@gmail.com.
The Atlantic Slave Trade from West Central Africa, 1780-1867 – SILVA (RBH)
SILVA, Daniel Domingues da. The Atlantic Slave Trade from West Central Africa, 1780-1867. New York: Cambridge University Press, 2017. 232p. Resenha de: ALFAGALI, Crislayne Marão Gloss. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.38, n.79, set./dez. 2018.
The Atlantic Slave Trade from West Central Africa conta em minúcia a história do comércio das gentes no auge de seu funcionamento, na principal região de procedência dos escravizados que foram deportados para as Américas, em especial para o Brasil. Esse fato, por si só, torna o livro imprescindível tanto para a compreensão das dinâmicas do tráfico e da escravização na África, quanto para a história dos africanos e seus descendentes na diáspora.
Os primeiros parágrafos escritos por Daniel Domingues dizem muito sobre suas escolhas teóricas e seu objetivo de unir métodos quantitativo e qualitativo. Na introdução narra-se a trajetória de Nanga, que foi penhorado por sua mãe para libertar um de seus tios, o qual, por sua vez, foi escravizado e vendido por adultério, uma ofensa que poderia ser punida com escravização, banimento e morte. Uma história repleta de reviravoltas que nos conta as experiências de escravidão e liberdade vivenciadas por Nanga e suas conexões com a era da abolição e a supressão do tráfico no Atlântico Norte. Acontecimentos concomitantes ao aumento da demanda por mercadorias primárias na Europa em franca industrialização e, consequentemente, à intensificação do comércio das almas da África Centro-Ocidental para as plantações nas Américas.
Nesse breve introito, delineiam-se alguns dos mais importantes diálogos historiográficos atuais sobre: os processos e critérios de captura e escravização; as origens dos escravizados que foram forçados a deixar a África Centro-Ocidental; o impacto do tráfico nas sociedades africanas e suas relações com a política interna dos Estados africanos; quais foram as motivações dos centro-africanos que participavam do tráfico; e as dificuldades e agruras enfrentadas por aqueles que foram atingidos pela maior migração forçada à longa distância da história.
Dessa forma, a fim de unir análises de cunho qualitativo com fontes seriais, o autor lança mão do cruzamento de informações fruto de seu trabalho como colaborador da maior base de dados sobre viagens escravistas “Voyages: The Trans-Atlantic Slave Database” (Eltis et al., s.d.) com as obtidas em variado conjunto documental. O livro traz listas e registros de escravizados e libertos produzidos pelas comissões mistas para a supressão do tráfico e pelas autoridades coloniais em Angola, arrolamentos de mercadorias que circulavam no comércio atlântico, relatos de viajantes, testemunhos de escravizados e libertos e toda sorte de documentos oficiais presentes em arquivos brasileiros, norte-americanos, portugueses, angolanos e britânicos.
Os dois primeiros capítulos esboçam o panorama geral das flutuações do comércio das almas de 1780 a 1867, bem como sua organização e agentes envolvidos desde a captura, escravização e transporte até a venda. Uma das conclusões apresentadas é a de que o número de escravizados dependeu mais de eventos relacionados à demanda da economia atlântica e a eventos como a rebelião de São Domingos e a abolição do tráfico inglês, que promoveram a expansão do comércio ibérico e brasileiro, que à oferta de cativos desencadeada por guerras provocadas pela expansão Lunda. A ênfase passa para o papel central desempenhado pelos comerciantes, intermediários e traficantes. Pessoas de variada procedência e condição social com ambições econômicas, políticas e de ascensão social, que não deixaram de influenciar diretamente a oferta e a demanda de cativos.
Domingues questiona a historiografia que associa as dinâmicas do trato dos viventes com processos de formação estatal no interior do continente africano. Especificamente para a historiografia sobre a África Centro-Ocidental, o volume e a origem dos escravizados que abasteciam o tráfico foram associados à expansão do Império Lunda e à formação do Reino Imbangala Kasanje.1 Tal como outros estudos (Ferreira, 2012; Ferreira, 2012a; Candido, 2013) permitem entrever, The Atlantic Slave Trade from West Central Africa relativiza a tese de Miller (1988) segundo a qual a fronteira da escravidão se moveria cronológica e progressivamente para o interior do continente africano. Isso porque o processo de escravização abrangeu também as populações costeiras, mesmo em áreas de ocupação portuguesa, que não estavam imunes ao sequestro, razias e outras formas de escravização (p.7).
Por isso, o Capítulo 3 traz uma das contribuições mais relevantes do livro, um estudo minucioso das origens dos escravizados que partiam da África Centro-Ocidental no século XIX. Há registros detalhados para 11.264 indivíduos, de 21 grupos linguísticos e 116 etnias, em sua maioria de regiões costeiras, de algumas áreas específicas próximas a portos de embarque, aspecto que ressalta as novas interpretações historiográficas acima citadas.
Ao estudar os etnômios predominantes, Domingues constata que escravizadores e escravizados frequentemente falavam a mesma língua e compartilhavam valores culturais similares. Contudo, salienta que esse processo respondia a pressões impostas pelo mundo atlântico. Por conseguinte, não é possível dissociar esse processo da crescente e complexa rede mercantil relacionada à demanda atlântica de produção de cativos para abastecer os portos das Américas.
Tampouco pode-se presumir que comerciantes e escravizados compartilhavam uma identidade única como o vocabulário africano erroneamente pode induzir; pelo contrário, não viam a si próprios com base em uma consciência comum de irmandade. “Eles [os escravizados] podiam falar a mesma língua que seus captores, viver próximo a eles, adorar as mesmas divindades, mas eles ainda assim poderiam ser considerados ‘de fora’ (outsiders)” (p.99, trad. nossa). Para o autor, esse “senso localizado e restrito de identidade” teve consequências desastrosas sobre algumas sociedades, como no caso do impacto demográfico do tráfico no Ndongo. Algo diferente do que foi visto para as populações Umbundu. Isso mostra que as consequências do tráfico foram desiguais nas diferentes sociedades africanas.
As tabelas, mapas e anexos que trazem a descrição dos etnômios dos escravizados são recursos fundamentais para composição mais abrangente da presença e das contribuições dos falantes de línguas bantu na constituição das sociedades americanas.
Os Capítulos 4, 5 e 6 buscam o ponto de vista africano do tráfico de escravizados. Em outras palavras, analisam como as concepções das sociedades africanas de gênero e idade, por exemplo, tiveram peso relevante na determinação do perfil demográfico dos escravizados que eram vendidos na costa. Havia relutância em vender mulheres adultas para a travessia atlântica em razão de sua importância para as sociedades locais.
Ademais, o autor analisa as mudanças nos padrões de consumo das sociedades africanas relacionadas à adição de uma variedade de itens, como os tecidos asiáticos e europeus, a suas produções locais. Africanos de diversa condição social e econômica, e não apenas líderes políticos, engajaram-se no tráfico, motivados principalmente pelas recompensas materiais. Contudo, em termos gerais, os escravizados pertenciam às camadas sociais inferiores, incluindo prisioneiros de guerra, vítimas de rapto ou trapaça e aqueles escravizados por ofensas como roubo e adultério. Enfim, eram várias as formas legais e ilegais de escravização.
Neste ponto, uma maior aproximação dos estudos sobre as mudanças nas políticas internas dos sobados e de seus padrões culturais possibilitaria outras interpretações. Jan Vansina, por exemplo, associa a intensificação da prática do penhor em meados do século XVIII à concentração de poder em “matrilinhagens corporativas”, governadas pelos “mais velhos” da linhagem que passaram a dispor de seus dependentes como forma de eles próprios escaparem da escravidão (entregando o penhorado em seu lugar) ou para pagar dívidas e obter bens e riquezas (Vansina, 2005, p.18).
Por fim, as análises de Domingues se sustentam em amplo lastreamento empírico e profícuo diálogo historiográfico. Ao enfatizar a agência africana e seus meandros não deixa de lembrar como o legado do trato das gentes é um obstáculo na formação de nações como Angola e outros países que hoje se localizam na África Centro-Ocidental (p.15).
Referências
BIRMINGHAM, David. The Date and Significance of the Imbangala Invasion of Angola. Journal of African History, Cambridge/New York: Cambridge University Press, v.6, n.2, p.143-152, 1965. [ Links ]
CANDIDO, Mariana P. An African Slaving Port and the Atlantic World. Benguela and its Hinterland. New York: Cambridge University Press, 2013. [ Links ]
ELTIS, David et al. Voyages: The Trans-Atlantic Slave Database. [ base de dados on-line]. s.d. Disponível em: Disponível em: www.slavevoyages.org/ ; acesso em: 12 set. 2018. [ Links ]
FERREIRA, Roquinaldo A. Cross-Cultural Exchange in the Atlantic World: Angola and Brazil During the Era of the Slave Trade. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. [ Links ]
_______. Dos sertões ao Atlântico: tráfico ilegal de escravos e comércio lícito em Angola, 1830-1860. Luanda: Kilombelombe, 2012a. [ Links ]
MILLER, Joseph. The Imbangala and the Chronology of Early Central African History. Journal of African History, Cambridge/New York: Cambridge University Press, v.13, n.4, p.549-574, 1972. [ Links ]
_______. Way of death: Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade, 1730-1830. Madison: University of Wisconsin Press, 1988. [ Links ]
VANSINA, Jan. The Foundation of the Kingdom of Kasanje. Journal of African History, Cambridge/New York: Cambridge University Press, v.4, n.3, p.355-374, 1963. [ Links ]
_______. Ambaca Society and the Slave Trade c. 1760-1845. Journal of African History, Cambridge/New York: Cambridge University Press, v.46, n.1, p.1-27, 2005. [ Links ]
1Esse assunto foi mote de amplo debate representado sobretudo por VANSINA (1963), BIRMINGHAM (1965) e MILLER (1972).
Crislayne Marão Gloss Alfagali – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Departamento de História. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: crisalfagali@puc-rio.br.
[IF]
Présent, nation, mémoire – NORA (RBH)
NORA, Pierre. Présent, nation, mémoire. Paris: Gallimard, 2011. 432p. Resenha de: BOEIRA, Luciana Fernandes. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.32, n.63, 2012.
No dia 6 de outubro de 2011 o historiador e editor francês Pierre Nora lançou, simultaneamente, dois livros: Historien public e Présent, nation, mémoire, ambos publicados pela prestigiada Gallimard, editora por ele dirigida desde 1965. As duas obras reúnem artigos escritos por Nora ao longo de sua extensa carreira. Nas mais de quinhentas páginas do primeiro livro, o autor apresenta inúmeros manifestos, intervenções públicas e tomadas de posição por ele sustentados nos seus mais de cinquenta anos de vida pública. Entre vários assuntos, Nora expõe considerações sobre o fazer editorial e tece observações sobre a história contemporânea e a nação francesa. Fala, ainda, sobre a Guerra da Argélia e a respeito da importante revista Le Débat, fundada por ele e por Marcel Gauchet em 1980 e que alcança, até hoje, grande êxito no mundo intelectual.
Présent, nation, mémoire integra a Coleção Bibliothèque des Histoires e reúne mais de trinta artigos do historiador, todos girando em torno das mutações entre história e memória. Essa volumosa gama de artigos é resultado das reflexões que precederam, acompanharam e sucederam a publicação de Les lieux de mémoire, a monumental obra coletiva em sete volumes escrita entre 1984 e 1992 e que constituiu o empreendimento editorial mais importante que Nora dirigiu em sua carreira, na qual soma-se, também, Faire de l’Histoire (organizado em parceria com Jacques Le Goff, em 1974), outro estrondoso sucesso da Coleção Bibliothèque des Histoires, composto por três volumes e no qual inúmeros historiadores franceses apresentavam suas reflexões sobre a nova história da década de 1970.
Tudo em Présent, nation, mémoire se relaciona com Les lieux de mémoire e, portanto, é inseparável da obra. Assim, o que dá uma unidade aos seus 32 artigos, alocados em três partes distintas – Presente, Nação e Memória (que são, também, os três eixos centrais através dos quais os artigos se relacionam e, como afirma Nora, constituem os três polos da consciência histórica contemporânea) –, é a pretensão de representarem uma introdução aos lieux de mémoire. Embora os assuntos de cada um dos artigos sejam bastante diversos (Nora explora desde a questão do patrimônio até referências a Michelet e Lavisse como modelos de história nacional, passando por temas como o fim do gaullo-comunismo na França, a aparição do best-seller no mercado editorial ou o trauma causado pela lembrança de Vichy), os três eixos sob os quais se dividem acabam por orientar a leitura do material. Um material que o próprio autor admite estar apresentado de maneira inabitual, tanto pelo assunto que o título da obra anuncia, quanto pelo conteúdo, que foge aos cânones eruditos da disciplina histórica. Porém, como ele mesmo sublinha, sua intenção, ao propor a coletânea, não foi a de fazer uma reflexão teórica sobre a história, e sim expor uma reflexão que brotou de sua prática enquanto historiador.
E é justamente essa prática historiadora e os eventos que a compuseram que Nora mostra, fazendo uma retrospectiva dos momentos mais importantes vividos pela disciplina histórica durante o século XX, particularmente a partir do advento dos Annales e que culminariam, nos anos 1970 e 1980, com a eclosão do que ele chama de uma ‘onda de memória’ que varreu não só a França, mas o mundo ocidental como um todo e do qual o momento presentista e dominado pela patrimonialização seria herdeiro.
Pensar o advento dessa onda memorialística generalizada e, com ele, o movimento de aceleração da história, que condenou o presente à memória, é a intenção maior do livro. Mesmo propósito, diz Nora, que ele e mais de cem historiadores tiveram quando lançaram Les lieux de mémoire, tentando entender quais foram os principais lugares, sejam eles materiais ou abstratos, em que a memória da França se encarnou.
Em fins da década de 1970 e no início dos anos 1980, os ‘lugares de memória’ de Nora constatavam o desaparecimento rápido da memória nacional francesa, e, naquele momento, inventariar os lugares em que ela efetivamente havia se encarnado e que ainda restavam como brilhantes símbolos (festas, emblemas, monumentos, comemorações, elogios fúnebres, dicionários e museus) era uma forma de destrinchar, de dissecar a memória nacional, a nação e suas relações. Em 2011, Présent, nation, mémoire, a reunião de artigos escritos ao longo de toda uma vida, apresenta uma dupla função: servir de base para Les lieux de mémoire, mas, independentemente disso, mostrar ao público como Nora constituiu seu próprio percurso enquanto pesquisador e, concomitantemente, como foi construindo um novo campo de estudos. Um campo, diz ele, delimitado por estas três palavras: presente, nação e memória. Termos que, para Nora, condicionam a forma da consciência histórica contemporânea e palavras que lhe permitiram, além disso, reagrupar os artigos que compõem o volume segundo uma lógica que ele chama ‘retrospectiva’ e que, para ele, teria um ‘sentido pedagógico’ eficaz em sua intenção de demonstrar como ele formou esse campo de estudos que envolve a memória e a história no tempo presente.
No livro, Nora não atualiza os artigos. No máximo, muda sutilmente alguns dos títulos. Também não apresenta-os de maneira cronológica, mas de acordo com o assunto que está tratando em cada parte, de forma que podemos ter um texto escrito em 1968 após outro escrito em 1973, ou um assunto trabalhado em 2007 colocado imediatamente após outro artigo, relacionado àquele, mas escrito em 1993. Esse recurso é bastante interessante, pois possibilita ao leitor perceber uma coerência no percurso do autor no que toca aos temas levantados e há quanto tempo estes fazem parte de seu universo de preocupações.
Nesse olhar retrospectivo acerca de sua própria obra enquanto escritor, Nora admite que cada um dos textos que formam a coletânea poderia ter sido objeto de um desenvolvimento maior e quem sabe, até mesmo gerado livros específicos, o que de fato não aconteceu. Isso porque, embora o volume de artigos que Nora publicou até hoje seja bastante grande, sua dedicação, como historiador, à escrita de obras próprias, é muito pequena. Antes da publicação desses dois volumes que reúnem alguns de seus muitos textos dispersos, Nora havia participado apenas de empreendimentos coletivos e publicado um único livro: Les Français d’Algérie, em 1961.
Seu interesse em dar a conhecer esses tão variados textos no volume que denominou Présent, nation, mémoire residiria, segundo Nora, tão somente em reconstituir um percurso intelectual e mostrar como ele formou, durante sua trajetória, um canteiro de obras composto por vários estratos historiográficos que esquadrinhou enquanto historiador.
Porém, pelo teor dos artigos que costuram o volume, o que se percebe é que Pierre Nora faz questão de pontuar o significado que sua própria obra teve na renovação dos estudos históricos na França. Somente para citar um exemplo, no artigo “Une autre histoire de France”, originalmente publicado no Diccionnaire des sciences historiques, de André Burguière (1986), sob o título de “Histoire national”, Nora destaca que o momento em questão era aquele da renovação historiográfica da história nacional, no qual os historiadores estavam interessados em dissecar a herança do passado. Para ele, Les lieux de mémoire se inseriam perfeitamente nessa perspectiva: apreendendo as tradições nas suas expressões mais significativas e mais simbólicas, os ‘lugares de memória’ souberam fazer uma história crítica da história-memória e produziram uma vasta topologia do simbólico francês. Aqui, uma forma até certo ponto sutil de Nora reverenciar seu empreendimento como uma contribuição singular para a renovação historiográfica contemporânea. No artigo seguinte, “Les lieux de mémoire, mode d’emploi”, um prefácio escrito pelo autor para a edição norte-americana da obra, publicada entre 1996 e 1998, Nora é muito mais enfático ao situar seu trabalho e, também, muito mais direto em reafirmar a importância que Les lieux de mémoire tiveram na ‘era da descontinuidade historiográfica’ da nova historiografia francesa.
E se Nora é mestre em pontuar a importância de sua obra, ele também sabe defendê-la. O texto por ele escolhido para fechar o volume, “L’histoire au second degré”, publicado em sua revista Le Débat em 2002, é uma resposta do autor às críticas que Paul Ricoeur fez aos “insólitos lieux de mémoire“, em A memória, a história, o esquecimento, publicado naquele mesmo ano. No artigo, Nora, mais uma vez, denuncia a atual invasão do campo da história pela memória ao ponto de estarmos mergulhados em um mundo do ‘tudo patrimônio’ e da história como comemoração. Diz ele partilhar das mesmas análises de Ricoeur sobre a comemoração e de suas irritações a respeito do ‘dever de memória’, mas com uma única diferença: para ele, não há a possibilidade de se escapar dessa situação, como acreditava o filósofo. Segundo Nora, a melhor forma de lidar com a tirania da memória seria apreendê-la e percebê-la em seu interior, como propõem, ao fim e ao cabo, seus lieux de mémoire.
Luciana Fernandes Boeira
[IF]
João Goulart: uma biografia – FERREIRA (RBH)
FERREIRA, Jorge. João Goulart: uma biografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 714p. Resenha de: MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.32, n.63, 2012.
João Goulart, ou Jango, é um dos personagens mais controvertidos da história brasileira e, por que não dizer, dos mais trágicos também. Presidiu a um governo que mobilizou as esperanças de milhares de pessoas sob a promessa de reformar o Brasil e atenuar suas mazelas sociais, projetos que provocaram medo e insegurança em outros grupos sociais, os mesmos que o derrubaram do poder em 1964. Dono de imagem inevitavelmente polêmica, a suscitar tanto admiração quanto desprezo, a importância de Goulart no contexto que levaria ao golpe é inquestionável, pois suas ações e projetos, mas sobretudo a maneira como foram interpretados, desempenharam papel chave no processo.
O livro João Goulart: uma biografia, de autoria do professor Jorge Ferreira, constitui extensa e cuidadosa análise sobre o ex-presidente e traz contribuição inestimável ao estudo do controverso líder, bem como do contexto político em que atuou. Trata-se de trabalho de grande fôlego, com base em pesquisa abrangente que inclui entrevistas, memórias, documentos pessoais, registros da imprensa e consulta a numerosa bibliografia, resultando em obra de mais de setecentas páginas. Dado o escopo do trabalho, resenhá-lo adequadamente em poucas linhas torna-se um desafio. Adotando postura realista, preferiu-se aqui apontar alguns traços fortes da obra, como um convite ao leitor para ler o trabalho e formular seu próprio juízo.
Motivado pela percepção de que a memória sobre Jango está presa aos eventos de 1964, Ferreira procurou lançar luz sobre outros pontos da trajetória política do ex-presidente, de modo a permitir visão mais ampla. Moveu o autor, também, o desejo de ir além das apreciações críticas ao político gaúcho, dominantes na literatura e na memória, e revelar as qualidades positivas do líder que, aliás, explicam sua ascensão. A intenção foi produzir análise mais equilibrada sobre Jango, fugindo das críticas que o rotulam de populista e fraco e o acusam de responsável pela crise que levou ao golpe. Isso não significa que o autor tenha escamoteado as críticas a Goulart, pois, no seu texto, aparecem referências aos erros cometidos pelo ex-presidente, principalmente em 1964; mas ele tende a destacar mais traços positivos como lealdade (ao varguismo, em especial), talento para a negociação e sensibilidade social. Goulart foi de fato político hábil, fiel ao estilo de seu mestre, e por isso mesmo conseguiu fazer carreira rápida no campo varguista e trabalhista, com o detalhe de defender projeto social bastante mais avançado em comparação às ações adotadas por Getúlio. A obra oferece excelente análise da trajetória inicial de Goulart, justamente a fase menos conhecida da sua vida, começando pelos primeiros contatos com Vargas, de quem era vizinho em São Borja, e prosseguindo pelos laços construídos por Jango com os sindicatos e a esquerda. Merece destaque a análise sobre a construção do relacionamento entre Goulart e os sindicalistas, no início dos anos 1950, graças à sua atuação como ministro do Trabalho na tormentosa segunda metade do mandato constitucional de Vargas, bem como a análise de suas atividades como presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), no mesmo período, as quais forneceram os pilares para toda sua carreira política.
Naturalmente, a biografia apresenta dados sobre a vida pessoal do político, como a explicação para o defeito na perna de Goulart, assim como suas aventuras amorosas com as mulheres. A propósito, os dois fatos tinham relação, as aventuras sexuais e o problema físico. Porém, Ferreira não se deixou levar pela atração fácil do escândalo e do espetáculo e, ainda que não tenha omitido informações úteis para o entendimento do personagem, tratou sua vida privada com sobriedade. Outro aspecto da vida privada de Jango analisado com propriedade pelo autor foi o talento empresarial do político gaúcho. Goulart herdou os negócios rurais do pai, mas ampliou consideravelmente a fortuna da família ao desenvolver notável faro para ganhar dinheiro, característica que seria muito útil na sua futura vida de exilado. Mas a biografia se concentra mais nos aspectos públicos da vida de Goulart, a sua atuação como líder que começou como afilhado político de Vargas e terminou no exílio, onde encontrou a morte, após tumultuado e inconcluso período como presidente.
Nesse percurso, Ferreira analisou os grandes eventos e processos políticos vivenciados por Jango nos anos 1950 e 1960, fase decisiva na história brasileira. No livro encontramos narrativas cuidadosas de alguns momentos importantes, como a passagem de Goulart pelo Ministério do Trabalho, a crise do governo Vargas e seu suicídio, a renúncia de Jânio Quadros e o movimento pela ‘legalidade’ (ou seja, pela posse do vice-presidente João Goulart), o comício de 13 de março de 1964 e outros acontecimentos às vésperas do golpe. O livro oferece informações e análises imprescindíveis ao conhecimento da nossa história política recente, aliás, pouco conhecida pelo grande público. Do período pós-1964 até a morte de Goulart, em fins de 1976, a biografia nos mostra os padecimentos da vida no exílio, dele e dos familiares, que viram as amarguras do desterro se associarem à angústia da insegurança, pois Uruguai e Argentina, países escolhidos por Goulart por sua proximidade com o Brasil, logo seriam convulsionados por episódios de violência política semelhantes aos experimentados no Brasil.
O autor demonstra certa simpatia/empatia pelo biografado, o que lhe permite analisar os objetivos políticos de Jango de maneira compreensiva, embora não indulgente. Mesmo que aponte algumas atitudes autoritárias do presidente, principalmente no controle do PTB, e não deixe de considerar o projeto pessoal de poder do político gaúcho, Jorge Ferreira nos mostra um Goulart sinceramente empenhado nas causas anunciadas em seus discursos. Ele desejava melhorar a vida dos mais pobres e reduzir a dependência externa (ou emancipar a nação, nos termos da época), e pretendia consegui-lo por meio de negociações e acordos, que evitassem rupturas revolucionárias. Não desejava questionar as bases do sistema capitalista, afinal era grande fazendeiro e negociante, mas queria construir modelo econômico menos injusto e mais ‘nacional’.
A análise do autor é convincente ao mostrar que o principal impulso do projeto político de Goulart era realizar reformas, e não utilizá-las para tornar-se ditador ou golpear as instituições. De fato, há poucos indícios de que Jango desejasse ou tenha planejado instituir um regime autoritário. Não obstante, o presidente aceitou e adotou uma estratégia de pressionar o Congresso Nacional para obter as reformas, fazendo uso de comícios e outros meios de pressão que deixaram no ar a dúvida sobre suas reais intenções e semearam confusão e intranquilidade no campo político. Os aliados de esquerda do ex-presidente fizeram movimentos mais agudos nessa direção, principalmente Leonel Brizola, com discursos agressivos dirigidos ao Congresso que podiam ser interpretados como ameaça às instituições liberais. Pessoalmente, Goulart repeliu sugestões de fechar o Congresso, porém, entre seus aliados nem todos pensavam assim.
Na correta avaliação de Jorge Ferreira, os principais erros de Goulart foram cometidos no front militar, e esses foram decisivos para sua queda. Ele confiou em oficiais pouco capazes que trouxe para seu círculo íntimo, e, no episódio da revolta dos marinheiros (março de 1964), chancelou uma solução para a crise totalmente favorável aos rebeldes, decisão considerada equivocada até por oficiais comunistas ligados ao governo. Com a libertação dos marinheiros, o presidente permitiu que a oficialidade o imaginasse favorável à quebra da hierarquia militar, e isso jogou contra o governo a maioria da corporação militar, até então neutra e na expectativa. Outro erro grave do presidente no campo militar e político foi sua atitude no episódio do pedido de estado de sítio, em outubro de 1963. Ele aceitou a sugestão dos ministros militares para solicitar ao Congresso a medida extrema, decisão incompreensível ainda hoje e surpreendente em vista da esperteza política do presidente. Como concordou com medida que não tinha apoio de nenhuma força política significativa, e que o deixou isolado tanto à esquerda quanto à direita, lançando insegurança e ansiedade em todos os quadrantes?
Por fim, vale destacar a análise de Jorge Ferreira sobre as razões para Goulart ter abdicado de resistência armada ao golpe, o que rendeu muitas acusações e críticas ao ex-presidente. Ao contrário de fraqueza, o autor viu no episódio a manifestação do cuidado de Jango em preservar o país de guerra civil, que possivelmente teria resultado em intervenção dos Estados Unidos. O desmoronamento do apoio militar ao governo e a fraca capacidade dos grupos de esquerda para arregimentar-se contra o golpe, apesar de honrosas e corajosas exceções, demonstram que as chances de vitória em caso de guerra civil eram poucas, e a decisão de Goulart bem pode ter poupado o país de violências ainda maiores. Mas é possível, também, que, além da violência da guerra civil, o presidente desejasse evitar outro desdobramento: a resistência armada poderia gerar radicalização esquerdista muito além do seu projeto político.
Enfim, trata-se de obra escudada em sólida pesquisa e análises consistentes, que se constitui em texto indispensável para os pesquisadores do tema e também para o público mais amplo. É produto maduro de historiador experiente, que passa a integrar o rol de leituras obrigatórias sobre a história política recente do Brasil.
Rodrigo Patto Sá Motta – Departamento de História, Universidade Federal de Minas Gerais. Avenida Antônio Carlos, 6627, Pampulha. 31270-901 Belo Horizonte – MG – Brasil, E-mail: rodrigosamotta@yahoo.com.br
[IF]
Leituras, projetos e (Re)vista(s) do Brasil (1916-1944) – De LUCA (RBH)
De LUCA, Tania R. Leituras, projetos e (Re)vista(s) do Brasil (1916-1944). São Paulo: Ed. Unesp, 2011. 357p. Resenha de: NEVES, Livia Lopes. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.32, no.63, 2012.
A autora Tania Regina de Luca, que é pesquisadora reconhecida no campo intelectual nacional e internacional, graduou-se em História na Universidade de São Paulo, instituição na qual obteve o título de mestre e doutora em História Social. Sua trajetória afina-se com as discussões relativas à História do Brasil República, e sua atuação profissional envolve principalmente os seguintes temas: Historiografia, História da Imprensa, História Social da Cultura e História dos Intelectuais. A imprensa na Era Vargas tem sido seu foco de pesquisa atualmente, tema esse contemplado em parte por seu livro recém-lançado e objeto da presente resenha. Se seus estudos muitas vezes fizeram referência à Revista do Brasil, como em Leituras, projetos e (Re)vista(s) do Brasil, a autora não deixou de dar continuidade a seus trabalhos anteriores de forte teor metodológico acerca do trato com o periodismo cultural brasileiro, e o que de fato se agregou ao debate foi o estudo de outras publicações de cunho cultural, o que proporcionou uma visão ampla acerca da produção intelectual do período veiculada por esse suporte. Tal acréscimo permite também a discussão sobre as leituras e os projetos do e para o Brasil, tanto políticos como culturais, que agregaram parte dessa intelectualidade envolvida com tais empreendimentos editoriais.
Ao longo do texto a autora frisa a importância de atentarmos para o percurso metodológico que orientou sua análise, o qual, segundo ela, representa uma colaboração para a construção de uma forma específica de abordagem dos impressos. As contribuições, dessa maneira, seriam dadas por conta de alguns aportes metodológicos, como por exemplo, atentar para a dinâmica dos grupos intelectuais, para os aspectos relativos ao suporte, e também para as apresentações de ordem material e tipográfica (capa, papel, ilustração, propaganda, paginação). Todos esses elementos, de maneira geral, já haviam sido objeto de reflexão da autora, figurando entre as importantes contribuições para estudos dessa natureza no campo da história. Além dos citados, ganharam destaque em sua análise fontes que colaboraram para a apreensão das relações e atuações dos editores e mentores das publicações: as correspondências, as memórias e as produções autobiográficas.
A soma dessas frentes de pesquisa, anunciada na introdução do livro, demonstra de antemão a amplitude da proposta da autora, que estabeleceu diálogo profícuo com autores que se propuseram a discutir as sociabilidades intelectuais, o campo intelectual (brasileiro ou não) e as relações que aproximaram ou distanciaram os intelectuais e o Estado, como Sirinelli (1990), Pluet-Despatin (1992), Bomeny (2001), Miceli (2001) e Candido (2001), ou com autores que, assim como ela, ofereceram aportes para a análise de jornais e revistas, como Doyle (1976), Prado e Capelato (1980), e mesmo com os que se debruçaram sobre publicações específicas, como Boaventura (1975), Caccese (1971), Guelfi (1987), Lara (1972), Leonel (1976), Napoli (1970) e Romanelli (1981), entre outros.
Estruturado em quatro capítulos que seguem cronologicamente as fases mais expressivas de sua publicação o livro confronta a Revista do Brasil às demais revistas coetâneas. Pareceu ser essa uma boa forma de se aproximar de um panorama editorial – ainda que sobremaneira calcado na retomada das mais destacadas revistas da época, certamente as mais estudadas atualmente – que consistiu em uma grande revisão bibliográfica sobre cada uma dessas publicações e na consulta a diversas fontes periódicas orientada por um olhar mergulhado em novas preocupações. Ao somar os estudos das fontes aqui citadas, De Luca nos apresenta uma obra enriquecida e madura, que evidencia a importância de se atentar para as redes de sociabilidade intelectuais e para a fluidez do campo intelectual, bem como para o impacto de um elemento sobre o outro.
No primeiro capítulo, “A Revista do Brasil (primeira e segunda fases) e os periódicos modernistas”, a autora procurou articular as fases iniciais da revista com as publicações modernistas fundadas a partir de Klaxon, realizando a análise com dupla perspectiva: da sincronia e da diacronia, sendo a primeira responsável por dar conta do momento da publicação de cada fase da Revista do Brasil e do diálogo com as congêneres contemporâneas. A segunda perspectiva ocupou-se das diferentes fases e de suas possíveis articulações. Para tanto, a autora elaborou um gráfico (reproduzido no livro entre as páginas 69 e 70), no qual apresenta uma seleção das revistas literárias e culturais em circulação entre o lançamento da Revista do Brasil, em janeiro de 1916, e meados da década de 1940, quando do encerramento de sua quarta fase. Nesse capítulo ganham destaque: Novíssima, Estética, A Revista e Terra Roxa e outras terras.
Já no segundo capítulo, nomeado “Revistas literárias e culturais (1927-1938)”, a autora nos traz uma visão panorâmica percebendo que em termos de longevidade, até o início da década de 1930 continuaram a ser fundadas revistas de breve duração – à exceção da Revista Nova, que circulou durante mais de um ano –, Verde, Festa, Revista da Antropofagia, Movimento Brasileiro, Boletim de Ariel, Revista Acadêmica, Lanterna Verde, Dom Casmurro, Diretrizes, Cultura Política e Movimento Brasileiro recebem uma análise não muito minuciosa, conforme previamente anunciado pela autora ainda no título. Nesse capítulo foram discutidos, do mesmo modo, aspectos como o alinhamento de projetos editoriais a tendências políticas e a elementos do mundo editorial na conjuntura do pós-1930, encerrando discussões sobre as condições do exercício da atividade intelectual e a proliferação de editoras no Brasil. A autora promove, de forma bastante pertinente, o debate sobre a censura à imprensa e o alinhamento de periódicos à plataforma governista durante o Estado Novo e defende uma análise historiográfica que priorize a dinâmica de posicionamentos em detrimento de rótulos unidimensionais, o que, via de regra, anula uma série de complexidades que envolvem os empreendimentos editoriais.
“Revista do Brasil (3ª fase): inserção no mundo letrado, objetivos, características e conteúdo” é o título do terceiro capítulo, que trata da retomada da publicação da Revista do Brasil em julho de 1938, com sua diversidade de assuntos e a preocupação com problemas nacionais, ainda que se explicitasse como um projeto cultural de corte elitista.
No quarto e último capítulo, intitulado “A Revista do Brasil e a defesa do espírito”, é retratado o momento em que a publicação voltou a circular, período marcado pela ascensão das forças autoritárias na Europa e do Estado Novo no Brasil, o que gerou limitações impostas à liberdade de expressão por parte do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Ao atentar para o fato de que as práticas liberais, o individualismo e a democracia eram aspectos defendidos por vários articulistas da revista, De Luca destaca a especificidade da publicação em questão frente a algumas coetâneas, quadro que se alterou após 1942 com a adesão brasileira à política pan-americana.
O que se apresenta em Leituras, projetos e (Re)vista(s) do Brasil é um método de análise novo e frutífero, capaz de esclarecer o lugar ocupado pela publicação na história da imprensa, especialmente com base em alguns diálogos com as congêneres contemporâneas, o que demandou, segundo De Luca, que se aliassem sistemáticas consultas às coleções citadas à leitura e ao estudo de outras fontes, sobretudo as advindas do que se convencionou chamar de ‘escritas de si’.
Sentiu-se certamente a ausência de imagens relacionadas ao tema e aos periódicos recorrentemente citados, o que enriqueceria a obra e poderia angariar, talvez, um público leitor mais amplo que o acadêmico. A iniciativa de dinamizar a leitura disponibilizando no site da Editora uma série de tabelas produzidas ao longo da pesquisa, conforme consta na nota dos editores presente no livro, mostrou-se pouco eficiente tendo em vista a dificuldade em encontrá-las de fato. Mais interessante seria que essas tabelas constassem na obra e acompanhassem a linha de pensamento desenvolvida, clarificando muitos dos nós relacionados ao objeto de estudo do livro.
Destarte, a contribuição que pode ser apreendida a partir desse trabalho reside, a meu ver, na aplicação metodológica plural que propôs a agregação de aportes que tratam do estudo de periódicos como objeto e fonte, desde os primeiros estudos gerais sobre periódicos – empreendidos sob a coordenação do professor José Aderaldo Castello, que estribou sua pesquisa preferencialmente nos acervos do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP) – aos obtidos a partir da renovação das práticas historiográficas, que vislumbram a importância do estudo do periodismo cultural cotejado com outras fontes, como as iconográficas, epistolares, os relatos memorialísticos e autobiográficos.
NEVES, Livia Lopes.- Mestranda do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Bolsista CNPq. [endereço] livialneves@hotmail.com.
Cláudio Manuel da Costa: o letrado dividido – MELLO E SOUZA (RBH)
MELLO e SOUZA, Laura de. Cláudio Manuel da Costa: o letrado dividido. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 240p. FERREIRA, Cristina. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.32, no.63, 2012.
A biografia de Cláudio Manuel da Costa, escrita pela historiadora Laura de Mello e Souza, integra a Coleção “Perfis Brasileiros”, editada pela Companhia das Letras sob a coordenação do jornalista Elio Gaspari e da antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, portanto, cabe pensá-la no âmbito desses pressupostos editoriais, do contrário, correria o risco de praticar um equivocado isolamento e ignorar a simbiose entre o perfil editorial e as escolhas metodológicas feitas pela autora. A coleção destina-se tanto aos leitores em geral quanto aos especialistas no assunto, e contempla a vida de personalidades brasileiras, com destaque para estadistas, artistas e intelectuais. Os biógrafos, em sua maioria, são historiadores ou profissionais ligados às Ciências Humanas e se dedicam a trabalhar a história de personagens por meio de um texto conciso e pesquisa documental diversificada.
Esses parâmetros definem a linha editorial, o formato da obra e a opção da historiadora em escrever um texto com o mínimo possível de interrupções e citações. Laura de Mello e Souza faz um trabalho pautado em uma vasta bibliografia e alguns dados documentais inéditos. A citação das fontes de pesquisa consta em um dos itens finais da obra, sob a denominação “Indicações e comentários sobre bibliografia e fontes primárias”, com uma breve descrição da aplicabilidade e do uso das fontes, sistematizadas por temáticas no decorrer da obra. A obra contém imagens que retratam lugares – Rio de Janeiro e interior de Minas Gerais – e retratos atribuídos ao biografado, bem como personagens ‘ilustres’ contemporâneas a ele, sua assinatura e reproduções de trechos do principal documento original utilizado pela autora – o inventário de João Gonçalves da Costa, pai de Cláudio Manuel da Costa. Todas as imagens estão legendadas e referenciadas quanto aos acervos de origem, mas reunidas no centro do livro, característica editorial que não permite a sua integração com o texto.
Cláudio Manuel da Costa, poeta e advogado, homem de grande prestígio, viveu entre 1729 e 1789, a maior parte do tempo em Ouro Preto, na época Vila Rica, a capital das Minas Gerais. Sua educação formal aconteceu no colégio jesuíta do Rio de Janeiro, e a formação de bacharel foi obtida na Universidade de Coimbra. Morreu solteiro, mas viveu por trinta anos com Francisca Arcângela de Sousa, nascida escrava e alforriada quando deu à luz o primeiro filho de Cláudio. Foi a companheira de sua vida toda e mãe de seus cinco filhos, um indelével indicativo de que o costume suplantou a legislação, mas não na íntegra, porque segundo a letra da lei, os bacharéis a serviço do Império não podiam casar-se com mulheres ‘da terra’. Cláudio Manuel da Costa não era português, mas sim luso-brasileiro, e não conseguiu superar sua formação jesuítica e escolástica, que de certo modo o aprisionava às leis, para de fato desenvolver coragem suficiente e assumir publicamente sua relação com uma negra.
A dupla atuação como homem de lei e de governo permitiu a Cláudio Manuel da Costa tornar-se um exemplo típico do que foi a promoção social em Minas, passados entre 25 e 30 anos do início da mineração, porque diferentemente das regiões do litoral, Minas era uma região nova, aberta no final do século XVII, e a consolidação das elites locais acontece apenas ao longo do século XVIII. A poesia fez dele um homem de letras, que “nunca abandonou os livros e as musas da história”, mas seus conflitos internos o dilaceravam e dividiam entre direitos políticos e comércio ilícito, liberdade e valores do Antigo Regime, corroído pela delação que fez de seus amigos e envolto em uma morte conflituosa e controversa.
Laura de Mello e Souza faz uso da personagem para definir vários elementos que compõem a biografia, desde temas e periodização até a definição dos espaços de análise. Um aspecto evidente na obra é a opção da autora em deixar a personagem garantir o tom de originalidade à pesquisa, situação que se exemplifica por meio da divisão dos capítulos em temas como: significado do nome, pais, infância, formação, poesia, profissão, amizades, prisão e morte. Ainda assim, a autora não cai na armadilha de se deixar enredar por privilegiar a temática da Inconfidência, sua firme decisão de historiadora-biógrafa está originalmente pautada na personagem, em seus conflitos, sua poesia e os sentidos de sua vida. Laura de Mello e Souza dialoga, de fato, com a vasta tradição historiográfica sobre a Inconfidência Mineira, amplia o debate sobre as incongruências e conflitos dos indivíduos envolvidos nesse processo histórico e investiga também os problemas relacionados à documentação e aos laudos inconsistentes que constituem os autos da Devassa.
A concepção de tempo adotada na obra remete a uma espécie de fluidez, pois as fases da vida do biografado não estão encerradas em si mesmas, muito menos aparecem como rígidas e imóveis, portanto, há constantes retomadas a diferentes momentos, seja no passado ou no futuro de Cláudio Manuel da Costa. É nítida a recusa da historiadora à forma tradicional, linear e factual na composição biográfica, pois o tempo comporta rupturas e não há como conceber a constituição de modelos de racionalidade que estabeleçam personalidades estáveis ou coerentes aos seres humanos. A autora demonstra que a vida do biografado não cessa com sua morte, o que leva a um ponto de vista interessante: escrever a vida é um trabalho inacabado e infindável, porque sempre se abrem pistas novas que podem arrebatar o pesquisador para outros caminhos epistemológicos, com uma única certeza: dificilmente o biógrafo ficará livre das incertezas, por mais que circunscreva sua pesquisa em fontes e documentos.
A autora não cita as leituras específicas que realizou sobre os ‘usos da biografia’, porém, faz referência aos importantes textos sobre o assunto cedidos pela historiadora Vavy Pacheco Borges, a quem a biógrafa dedica o livro. Arrisco dizer que sua escolha metodológica remete à proposta de Giovanni Levi, que relaciona Biografia e Contexto também no sentido de preencher lacunas documentais em relação ao biografado, por intermédio de comparações com outras personagens com as quais ele conviveu.
Cláudio Manuel da Costa é dado a conhecer, em geral, por meio do contexto que, por sua vez, elucida aspectos relacionados à Minas Gerais setecentista. A autora utiliza a biografia para se aproximar do contexto, não com o propósito de reconstituí-lo, mas com a intenção de estabelecer uma relação de reciprocidade entre a personagem e seu campo de atuação. A historiografia brasileira acerca do período colonial em Minas Gerais, consolidada e em constante renovação, é o alicerce da autora e gera uma combinação que demonstra sua familiaridade com as fontes e arquivos relacionados às temáticas e ao período histórico analisado.
O problema mais emblemático com o qual a biógrafa lida na pesquisa é a escassez de documentos que relacionem, em um sentido direto, o biografado. A estratégia de Laura de Mello e Souza para apresentar novidades em torno da vida de ‘seu’ biografado consiste na valorização do Inventário de João Gonçalves da Costa (pai de Cláudio); dos processos de habilitação para o hábito de Cristo de dois de seus irmãos e, em especial, alguns documentos autógrafos de Cláudio Manuel da Costa. Mas, parte do ofício de historiador consiste em viver “às voltas com os limites fluidos entre a verdade e a mentira, o fato e a ficção, a narrativa e a ciência” (p.190) e deixar-se dominar pela vontade de compreender a personagem em seus aspectos conflitantes e notáveis.
O poeta foi biografado por conta de algumas inquietações da autora em relação a aspectos de sua vida que se relacionam diretamente com o espaço e lugar do vivido. Cláudio era considerado um poeta obsessivo, um cultor da forma perfeita, mas um dado instigante é o fato de que sua poesia conquista pouco espaço na lírica brasileira e, embora seus sonetos sejam belíssimos, não têm uma característica de universalidade, pelo contrário, apresentam uma linguagem muito marcada por sua época.
Toda a vida do poeta foi estigmatizada pela ambiguidade e pela contradição, e sua morte permanece até hoje sob o signo da incerteza, tendo se tornado um dos objetos mais controvertidos da historiografia brasileira, criando-se verdadeiras facções que, ou defendem o assassinato, ou sustentam o suicídio. Laura de Mello e Souza, ao referendar os riscos e necessidades que a compreensão impõe ao historiador, não se esquiva em se posicionar: “se entendi o homem que foi Cláudio Manuel da Costa, sou levada a afirmar que decidiu pôr um termo a sua vida. Nunca se saberá se o fez por desespero ou excesso de razão. Se porque viveu dividido e nunca se encontrou, ou porque, dividido que era, resolveu, afinal, juntar os pedaços. A seu modo” (p.190).
Essa é uma clara indicação de que a biógrafa não está obcecada por uma ‘verdade histórica’ irrevogável sobre sua personagem, mas sim em busca de uma concebível integração entre realidade e possibilidade, plausível ou verossímil. Os impedimentos naturais para recorrer a uma vasta documentação ‘direta’ permitiram à autora a legitimação do uso de conjecturas e inferências. Em vários momentos a biógrafa faz um exercício de imaginação histórica e aplica, na dosagem certa, uma espécie de imaginação ‘controlada’, amplamente referenciada nas fontes. Essa opção metodológica é garantia de uma narrativa elegante e instigante, por isso, a obra merece ser lida e relida por todos que se interessam em descobrir as sutilezas e incongruências da vida humana.
Cristina Ferreira – Doutoranda em História Social na Unicamp. Departamento de História – Universidade Regional de Blumenau. Rua Antônio da Veiga, 140. 89012-900 Blumenau – SC – Brasil, E-mail: cris@furb.br.
O dia em que adiaram o Carnaval: política externa e a construção do Brasil – SANTOS (RBH)
SANTOS, Luís Cláudio Villafañe G. O dia em que adiaram o Carnaval: política externa e a construção do Brasil. São Paulo: Ed. Unesp, 2010. 278p. Resenha de: DULCI, Tereza Maria Spyer. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.31, n.62, São Paulo, dez. 2011.
O livro de Luís Cláudio Villafañe G. Santos impressiona desde o começo, pelo título, que relaciona a festa popular do carnaval à política externa, e também pela capa, uma imagem do vitral da Catedral Nacional de Washington retratando o barão do Rio Branco. Imediatamente somos levados a perceber que o livro tem como ponto de partida José Maria Paranhos da Silva Júnior, o barão do Rio Branco, responsável pela consolidação do território brasileiro, que figura naquele conjunto de vitrais, com Bolívar e San Martín, entre os heróis da América do Sul.
O autor, diplomata de carreira, mestre e doutor em História pela Universidade de Brasília, desenvolveu neste livro, O dia em que adiaram o Carnaval: política externa e a construção do Brasil, publicado pela Editora Unesp, um excelente estudo sobre as relações entre nacionalismo, identidade e política externa. Partindo de Rio Branco, Villafañe percorre o panorama histórico do país, do século XIX até os dias atuais, para investigar como foi construída a ‘consciência nacional’, a ‘ideia de raça brasileira’, a ‘consciência do atraso nacional’ e a ‘liderança natural’ do Brasil na América Latina.
O adiamento das festividades populares de 1912 em razão da morte do barão do Rio Branco, ocorrida na véspera do carnaval, demonstra o prestígio e o poder do diplomata não só diante das autoridades, mas também perante a população. Este seria, para Villafañe, um caso único na história, no qual a figura de um diplomata torna-se referência para a construção da nação ao obter importantes vitórias nas disputas de fronteiras.
Embora não sejam contemporâneos, Bolívar, San Martín e Rio Branco teriam sido, cada um a seu modo, responsáveis pela consolidação das nacionalidades na América do Sul. O que salta aos olhos é que, no caso do Brasil, uma figura da República, e não do Império, foi protagonista desse processo de construção da nação brasileira. Mas como explicar o lugar ocupado por Rio Branco na memória e no imaginário da nação brasileira, quase um século depois do processo de independência?
Villafañe afirma que a independência brasileira se fez sem a presença dos famosos ‘libertadores’ dos demais países americanos, e que o Império teria criado um sentimento de pátria comum ainda atrelado à legitimidade dinástica, nos moldes dos Estados europeus do Antigo Regime, o que explica a pequena adesão da sociedade ao sentimento de identidade nacional. Isso teria mudado com a República, momento em que se buscou desenvolver um sentimento nacional brasileiro vinculado à ‘comunidade imaginada’, conceito de Benedict Anderson, do qual o autor se vale muitas vezes ao longo do livro.
Ao argumentar que a política externa é um dos aspectos mais característicos da ação do Estado na construção do nacionalismo, Villafañe destaca que a questão do território conformou o ‘interesse nacional’ brasileiro, já que é um dos elementos essenciais daquilo que o autor denomina “santíssima trindade do nacionalismo”, composta por “Estado, Povo e Território”.
Por sua vez, a identidade de um Estado, auxiliada pela política externa, se constrói muitas vezes a partir de sua relação com os demais Estados, daí a importância do conceito de ‘alteridade’, que leva o pesquisador a investigar, não apenas quais foram os ‘outros’ externos, mas também os ‘outros’ internos. Segundo Villafañe, na tentativa de criar uma ‘comunidade imaginada’ brasileira, o “outro pode assumir várias formas: brasileiros versus portugueses, brasileiros versus africanos, América versus Europa, império versus república, civilização versus barbárie, americanismo continental versus nacionalismos particulares”.
Sendo assim, o objetivo central das primeiras gerações de intelectuais da República foi reinserir o Brasil na América e superar o ‘atraso’ gerado pela colonização e pela monarquia portuguesa. O autor identifica, nesse contexto, duas vertentes de debate sobre a identidade brasileira, as quais engendraram as ideias do ‘atraso nacional’: uma baseada nas relações entre o meio e a raça (que valorizava a mestiçagem) e outra assentada numa visão antilusitana e antiafricana (que valorizava o americanismo).
O historiador afirma que, com o advento da República, transformou-se o lugar do Brasil no continente, especialmente a partir da incorporação das premissas do pan-americanismo, caras à política externa brasileira, principalmente durante a gestão de Rio Branco como chanceler, entre 1902 e 1912.
Segundo o autor, a diplomacia de Rio Branco é paradigmática para compreender a relação entre nacionalismo e territorialidade, pois buscava definir as fronteiras, aumentar o prestígio internacional do Brasil e afirmar a liderança ‘natural’ de nosso país na América do Sul, deixando como herança um ‘evangelho’ que descrevia o Brasil como “um país pacífico, com fronteiras definidas, satisfeito territorialmente”. Um exemplo interessante, analisado pelo historiador, foi a presença do Brasil nos trabalhos da Liga das Nações, participação que tinha como meta aumentar o prestígio internacional do país, mas que contribuiu, ao mesmo tempo, para a sustentação política do governo e para fortalecer as rivalidades entre Brasil e Argentina na disputa pela preponderância política e militar no Cone Sul.
Villafañe destaca ainda o Estado Novo como forte instrumentalizador da identidade nacional, já que nesse período ocorreu o processo de consolidação dos dois símbolos culturais da identidade brasileira atual: o carnaval e o futebol. Através do Departamento de Imprensa e Propaganda – órgão responsável por auxiliar as “festas populares com intuito patriótico, educativo ou de propaganda turística” – Getúlio Vargas institucionalizou o carnaval, tornando-o oficialmente símbolo da nacionalidade brasileira, e profissionalizou o futebol, com o intuito de difundir um conjunto de valores supostamente pertencentes a um caráter nacional, “produto de uma alma brasileira”.
Também a partir da Era Vargas, o nacionalismo teria se vinculado à ideia de desenvolvimento econômico e social, o que, segundo o autor, teria “acrescentado um novo elemento ao evangelho do Barão”. O desenvolvimento patrocinado pelo Estado levaria à superação do atraso e projetaria o Brasil para o futuro, ao desenvolver uma ‘autonomia da dependência’, componente ausente da política externa, tanto do Império, quanto da República Velha.
É nesse momento que, segundo Villafañe, a retórica diplomática brasileira incorpora de fato o pertencimento à América Latina, ao se perceber membro do grupo de países menos desenvolvidos e buscar a superação do ‘atraso nacional’. Dessa fase, o historiador destaca o nacional-desenvolvimentismo, característico dos governos de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart; analisa a teoria da modernização, criada pela academia norte-americana no pós-Segunda Guerra Mundial (que contrapõe as sociedades ‘modernas’ às ‘tradicionais’) e explica por que os Estados Unidos se tornaram o ‘outro’, em contraste com a identidade latino-americana.
A partir da Política Externa Independente, do início da década de 1960, o Brasil abandonou a ‘aliança não escrita’ com os Estados Unidos, reforçou a identidade latino-americana e desenvolveu as afinidades com a África e com a Ásia, que viviam o processo da descolonização. O autor ressalta esse período, sem deixar de considerar o fato de a identidade continental americana ter sido utilizada pelos Estados Unidos como forma de controle, ao excluir Cuba do sistema interamericano em função de seu sistema político, ‘incompatível’ com os demais países da América.
Por fim, ao analisar a Ditadura Militar, o historiador realça a posição de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos (uma volta aos velhos padrões da política externa) e enfatiza o discurso anticomunista e nacionalista dos militares (que percebem o Brasil como ‘potência regional’). Além disso, Villafañe destaca o retorno e o fortalecimento da identidade latino-americana entre o final do século XX e o princípio do século XXI, discutindo como as nações são inventadas e reatualizadas de acordo com os diferentes contextos históricos.
O autor termina o livro em tom levemente provocativo, questionando se houve ou não um rompimento com o ‘evangelho’ de Rio Branco. O grande panorama apresentado cuidadosamente por Villafañe nos permite comparar os variados períodos da nossa história, levando-nos a entender as complexas relações de poder dos diferentes projetos identitários e da ‘comunidade imaginada’ que é o Brasil. Mesmo para aqueles que discordem das premissas e das teses do autor, esta obra lúcida e instigante aponta novos caminhos de reflexão sobre a imbricada relação entre a política externa e a longa e incessante ‘construção’ do Brasil.
DULCI, Tereza Maria Spyer.- Doutoranda, Departamento de História, FFLCH/USP; bolsista Fapesp, Av. Prof. Dr. Lineu Prestes, 338 – Cidade Universitária. 05508-000 São Paulo – SP – Brasil, E-mail: terezaspyer@hotmail.com.
Acessar publicação original
[IF]Inventar a heresia? discursos polêmicos e poderes antes da Inquisição – NOGUEIRA; ZERNER (RBH)
NOGUEIRA, Carlos Roberto Figueiredo; ZERNER, Monique (Org.). Inventar a heresia? discursos polêmicos e poderes antes da Inquisição. Campinas (SP): Ed. Unicamp, 2009. 304p. Resenha de: NOGUEIRA, Carlos Roberto Figueiredo. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.31, n.62, dez. 2011.
Após mais de 30 anos de estudos sobre o aparecimento de seitas de ‘adoradores do Diabo’, que constituíram o tormento e a preocupação da Igreja ao longo do período medieval e que foram metodicamente mapeadas e perseguidas com rigor cada vez maior até culminarem na caça às bruxas da Europa moderna, uma questão foi se tornando cada vez mais clara: na construção dessas seitas existia uma combinação trágica, porém eficaz do ponto de vista repressivo, o amálgama da alteridade com uma enorme carga de erudição.
Daí, então, tornava-se cada vez mais óbvio para nós que, igualmente, não haveria um estranhamento, uma ‘estrangeirice’ nas seitas heréticas. Não eram crenças que migraram e se instalaram no seio da boa coletividade cristã, tampouco ‘sobrevivências de um paganismo’ há muito perdido e do qual restavam símbolos fragmentados e desenraizados ou vestígios de uma gestualidade claramente cristianizada. Tratava-se, sim, do produto dos intentos de uma ortodoxia de impor a outros a existência de outras interpretações do que era viver (espiritual e materialmente) a religião cristã.
O cristianismo nasce como uma religião que se propõe universal em um mundo de particularismos, em especial, particularismos religiosos. Para levar a Boa Nova a todos os homens, o cristianismo precisava se impor a partir do Outro.
Assim é construída a ecclesia, antes de tudo se apartando do judaísmo, o primeiro e mais incômodo ‘outro’, pela proximidade e pela responsabilidade de haver gestado a nova religiosidade.
Eliminados os ‘assassinos de Cristo’, os discordantes e opositores – em suma, os heterodoxos – são calados ou perseguidos, objetos de uma retomada erudita que mergulha na Antiguidade Clássica para buscar identidades, estabelecer ligações para garantir a credibilidade e legitimar a repressão.
Dessa maneira a ‘reação folclórica’, a sobrevivência pagã, criadora da heresia, muda de significado. O paganismo ganha o direito de existir por intermédio da ação de uma ortodoxia em busca de uma tradição que lhe permita estabelecer paralelismos e impor rótulos aos seus opositores.
Assim, é com grata surpresa que vemos aparecer no mercado editorial brasileiro o livro Inventar a heresia?, organizado por Monique Zerner.
Obra plural, mas com uma coesão interna bastante singular: a análise de tratados que constroem a heresia e ‘identificam’ o herege. Produto de investigações produzidas e discutidas em seminários, retoma, a nosso ver com grande acerto, os textos escritos antes da constituição dos Tribunais da Inquisição. Postura acertada, pois se o objetivo era confrontar os documentos com a ‘realidade’ das heresias, o período de ação inquisitorial traz enormes problemas, uma vez que a perseguição acaba consagrando a heresia ipso facto, tornando-a uma realidade irreversível, cuja punição traz aos olhos da comunidade a sua materialização objetiva e inquestionável. Realidade viciada que levou muitos historiadores a acreditarem na realidade das heresias, ou mesmo imaginá-la como outra religião, como no caso do Catarismo.
Inventar a heresia? percorre uma larga trajetória temporal, começando por santo Agostinho e o seu procedimento na polêmica contra o maniqueísmo que o havia desencantado, e se estende até um caso de não-heresia na Gasconha dos inícios do século XII.
E por que um intervalo de tempo tão alargado? A resposta está na perspectiva dos autores. Sabemos que no princípio do cristianismo a tônica é a persuasão. No entanto, no Contra Faustum Agostinho já prefigura a atitude que virá depois: se não persuadidos, os adversários serão por fim condenados.
De maniqueístas e exegetas gregos da Bíblia, a obra saltará para o século XI, o período de emergência das heresias, momento que Jacques Le Goff leu equivocadamente como um ressurgimento folclórico, o que justificava o aparecimento dos movimentos heréticos.
A obra que examinamos inverte a questão, buscando a ‘confecção’ dos hereges no interior dos embates de uma Igreja que tenta impor a sua hegemonia reformista. A heresia é esgrimida por Gerardo, no sínodo de Arras, como resposta à sua tentativa de manter sob controle um domínio que escapa por entre as suas mãos, pois remete a um sistema carolíngio antiquado, que não dá conta da nova ordem social.
Contudo, ainda com Pedro, o Venerável, e seu Contra Petrobrusianos, persiste a argumentação. No entanto é singular que esse abade de Cluny invista contra os hereges, contra os judeus e contra os sarracenos. O século XI, e fundamentalmente Cluny, preparam as armas para defender a Igreja. A argumentação ‘defensiva’ de nosso abade não resiste a uma política de hegemonia da religiosidade. Ao final do século XI, está aberto o caminho para a ausência de diálogo com a heresia, substituído pelo procedimento judiciário de fazer aqueles que a Igreja condena, confessarem a verdade.
E a ofensiva se intensifica. O front cada vez mais ampliado, o inimigo cada vez mais irredutível. A heresia com a incorporação do Direito Romano ao Direito canônico, tornada crime de lesa-majestade no século XIII, acaba necessariamente no apelo às armas contras os hereges, cujo exemplo emblemático foi a Cruzada Albigense.
“Mas quem são os hereges?”, pergunta-se Michel Lauwers, buscando os hereges nas tensões sociais (as contestações aos privilégios e às determinações eclesiásticas) e analisa como exemplo o tema “Os sufrágios dos vivos beneficiam os mortos?”, demonstrando como os polemistas passaram da recusa das práticas impostas pela instituição à doutrina, fazendo dela um instrumento de julgamento da recusa: a heresia.
“Albigenses: observações sobre uma denominação”, cujo título despretensioso oculta o seu verdadeiro teor, é de longe o ponto alto da coletânea. Nele Jean-Louis Biget identifica a origem e analisa a história do nome ‘albigenses’, protagonistas de uma história que começa em 1209, mas que bruscamente foram ‘esquecidos’ após 1960, sendo substituídos pelos ‘cátaros’. Para isso retoma o papel da ordem de Cister como construtora da heresia. Empenhada em consolidar a reforma da Igreja, traduz os conflitos internos e regionais que comprometem a tão almejada unidade, como as expressões de divergências doutrinárias. Ou seja: a invenção de um nome para batizar os desvios da verdadeira unidade até designar todos os dissidentes religiosos do Midi.
Como lembra Dominique Iogna-Prat, a escassez de análises de discursos anti-heréticos é marcante até nossos dias. Os trabalhos sobre heresia analisam os documentos como fontes que expressam a realidade herética e não como um discurso construído com base na ótica constitucional.
Assim, este livro nos ensina um princípio fundamental. Frente aos documentos que tratam da heresia deve-se, em primeiro lugar, duvidar da realidade dos fatos descritos pelos textos produzidos pelo meio eclesiástico ou por autores a ele vinculados. R. I. Moore em seu posfácio vai além: “nem mesmo de um movimento não enquadrado e relativamente inocente de entusiasmo pela vita apostolica entre rustici“. A acusação de heresia tornou-se a principal ferramenta de construção da unidade, revestindo de uma ‘aura sagrada’ a tarefa bem menos momentosa aos olhos da comunidade cristã de eliminar desvios e manter o rebanho cristão dentro da ortodoxia proclamada como religiosa, mas cuja real ameaça não está no plano do sagrado, mas nas divergências políticas e sociais que ameaçam a instituição eclesiástica.
Apenas um senão que não compromete fundamentalmente a qualidade da obra. A tradução dos capítulos, ainda que feita de maneira correta, ressente-se do fato de ter sido executada por diversos colaboradores, o que leva o texto a variar seu estilo, ora mais fluido ora mais ‘trancado’. Mas repetimos: isso afeta a estética, não o conteúdo dos capítulos.
Não poderíamos terminar sem tratar de um pequeno, mas não menos importante capítulo (altamente esclarecedor do caráter rigoroso dessa coletânea) que estabelece ao final da obra um precioso contraponto: “Um caso de não-heresia na Gasconha do ano de 1208”. Frente a uma ‘revolução’ dos leigos dependentes de Saint Sever, na Gasconha, o legado papal reinverte os papéis, ignora práticas e faz dos episódios uma leitura não-herética – extremamente necessária em razão da crise que se estabeleceu entre Inocêncio III e João I da Inglaterra, o qual detinha os domínios das terras insurgentes. Estamos diante de uma boa demonstração da exceção que confirma e elucida a regra!
Enfim, o livro reúne artigos instigantes, que abrem as portas à dúvida e ao questionamento da construção da heresia. O que nos leva a terminar esta resenha assumindo como nossas as palavras do autor Benoît Cursente, que resume a perspectiva de todos os demais: “E nessa circunstância, para que a heresia não existisse, era necessário e suficiente não nomeá-la”.
Carlos Roberto Figueiredo Nogueira – Professor Titular, Universidade de São Paulo. Av. Lineu Prestes, 338 – Cidade Universitária. 05508-000 São Paulo – SP – Brasil, E-mail: crfnogue@usp.br.
[IF]O pequeno x: da biografia à história – LORIGA (RBH)
LORIGA, Sabina. O pequeno x: da biografia à história. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 231p. Resenha de: ARIENTI, Douglas Pavoni. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.33, no.66, JUL./DEZ. 2013.
Em obra publicada na França sob o título de Le Petit x: de la biographie à l’histoire, que foi recentemente traduzida e publicada no Brasil pela Editora Autêntica, integrando a coleção “História e historiografia”, sob o título de O Pequeno x: da biografia à história, a historiadora e professora da École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), de Paris, Sabina Loriga revisita a historiografia do século XIX e nos brinda com um trabalho que discute o espaço destinado ao indivíduo no Século da História. Retomando a discussão sobre biografia, já trabalhada no capítulo “A biografia como problema”, publicado no livro organizado por Jacques Revel e traduzido no Brasil como Jogos de escala, a autora se aprofunda e nos oferece uma análise acerca da atualidade de obras soterradas em nome de uma história mais científica.
Com uma produção acadêmica conhecida no Brasil, seu primeiro trabalho traduzido foi “A experiência militar”, publicado no livro História dos Jovens, organizado por Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt. Destaquemos aqui também o capítulo “A tarefa do historiador”, do livro Memórias e narrativas (auto)biográficas; o artigo “A imagem do historiador, entre erudição e impostura”, da coletânea Imagens na história: objetos de história cultural; o artigo intitulado Ser historiador hoje, publicado pela revista História: debates e tendências, e duas entrevistas: para a revista Métis: história e cultura, realizada por Benito Schmidt e intitulada “Entrevista com Sabina Loriga: a História Biográfica”, e outra mais recente, realizada por Adriana Barreto de Souza e Fábio Henrique Lopes, professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e disponível na Revista História da Historiografia, intitulada “Entrevista com Sabina Loriga: a biografia como problema”.
Profissional atenta ao estado atual do debate historiográfico, a autora tem se dedicado a compreender os desafios e os limites do trabalho historiográfico e as tarefas da história nos aspectos epistemológicos e teóricos, a relação entre história e biografia, memória e história e construção do tempo histórico. Assim, O Pequeno x se junta a outros trabalhos que se dedicam a discutir a tão em voga relação entre história e biografia, como, por exemplo, o trabalho de François Dosse, publicado no Brasil em 2009 sob o título de O desafio biográfico. Embora tanto Dosse como Loriga centrem suas discussões na relação biografia-história ou indivíduo-coletivo, as duas obras se distinguem principalmente pelo foco: a autora opta pelo século XIX, ao passo que o historiador francês passa pelo gênero biográfico de maneira mais geral, dos gregos à publicação de sua obra. Com o objetivo de discutir do ponto de vista teórico o que é escrever uma vida, o autor identifica três tipologias que, apesar de não serem estanques, permitem localizarmos temporalmente os diferentes gêneros de narrativas biográficas: os modelos heroico, modal e hermenêutico. Segundo Dosse, a biografia modal “consiste em descentralizar o interesse pela singularidade do percurso recuperado a fim de visualizá-lo como representativo de uma perspectiva mais ampla … O indivíduo, então, só tem valor na medida em que ilustra o coletivo” (Dosse, 2009, p.195).
Esse momento que o autor intitula de “eclipse da biografia”, localizado no século XIX, período em que a disciplina se aproxima das outras ciências sociais ávidas por cientificidade, principalmente da sociologia durkheimiana, contribui para o desdém dos historiadores (mas não só destes) em relação à biografia. É exatamente esse o período em que se centra a obra de Sabina Loriga. Ao recuperar autores como Carlyle, Humboldt, Meinecke, Burckhardt, Dilthey e Tolstoi, ela nada contra a corrente e busca perceber a importância das individualidades em um período marcado por explicações totalizantes, cujas preocupações obscureciam os sujeitos históricos ou até os excluíam das narrativas.
Tomando o indivíduo como mote do seu trabalho, embora não se restrinja a discutir somente aspectos referentes à biografia, Loriga escreve uma história da historiografia em um período posterior aos abalos provocados pelo linguistic turn na História, e chega a ser bastante ácida nas suas críticas aos relativismos da pós-modernidade. Assumindo explicitamente que não se trata de um “retorno à ordem”, acredita ter encontrado no século XIX trabalhos heurísticos ainda úteis aos historiadores contemporâneos, obras essas que a autora analisa de uma perspectiva hermenêutica.
Pouco contextualizados, por vezes lançados num vazio, segundo a visão dos menos íntimos da historiografia europeia do século XIX, tais autores aparecem como figuras valorizadas sob uma análise interpretativa crítica. A autora dá voz à imaginação ao aproximá-los às preocupações atuais dos historiadores – são obras do seu tempo lidas por um olhar do século XXI. Além do trabalho de transposição temporal e de inserção desses autores em um debate contemporâneo, Loriga aproxima-os dos problemas enfrentados atualmente na escrita da história, sem deixar de nos apresentar os limites, contradições e paradoxos presentes em suas obras. Todavia, inegavelmente, advoga em favor deles com base em fontes convencionais para quem trabalha com historiografia, principalmente livros e conferência, por vezes cruzados a missivas. Dessa forma, a autora lê e interpreta, mergulha nas obras e proporciona um debate entre autores em que ela atua como árbitro, selecionando e orientando as falas, criando coesões e dando sentido aos textos, pinçando os pontos positivos aos olhares do historiador contemporâneo e elucidando projetos distintos daqueles vencedores, ou cristalizados como vencedores, que expulsaram os indivíduos das narrativas históricas no século XIX.
Apresentando-nos esses velhos historiadores como sábios anciãos, Loriga demonstra que muitas críticas e preocupações consideradas pós-estruturalistas já estariam presentes nesses autores do século XIX: como as críticas de Droysen à ideia de origem, comungada por Tolstoi, e a assumida perspectiva hermenêutica do autor, assim como o posicionamento acerca da impossibilidade de reconstrução do passado, apregoada pelo autor a partir da metáfora de que a justaposição de todos os cacos de um prédio não o recriaria. Também nos expõe as denúncias de Hintze às naturalizações e de Meyer às generalizações, além da valorização da subjetividade do historiador como fonte de conhecimento por parte de Meinecke. O assumido posicionamento de Dilthey acerca da impossibilidade da racionalidade humana pura e da sua perspectiva analítica que considerava a dinamicidade da vida, e que por isso não deveria ser fragmentada na escrita da história, também entra na pauta da historiadora. Já para Carlyle, como a vida não era coesa, não era função dos historiadores atribuírem sentido a ela.
Humboldt, por sua vez, valorizava a imaginação do historiador, mas se afastava da ficção, o que, para a autora, pressupõe o dever do historiador. Loriga também analisa Dilthey com base na assumida postura do autor diante da relação entre indivíduo, meio e temporalidade, suas relações estabelecidas com as expectativas do futuro, suas memórias e seu presente. O historiador da arte Burckhardt também nos é apresentado com base em sua relação com o tempo, ou melhor, em seu problema com o próprio tempo. Além da valorização dos mitos por parte do autor suíço, suas críticas à ideia de progresso – uma vez que para ele o único ponto positivo da modernidade seria a consciência histórica –, a autora mobiliza fragmentos da sua obra que ilustram a sua descrença na existência de um método universal para a história e destaca a importância da imaginação do historiador, ideia comungada por Humboldt quando este se refere aos preenchimentos lacunares.
Em O Pequeno x, a perspectiva multicausal de Tolstoi também é valorizada. Ademais, as diferenças existentes entre a realidade e a narração histórica, o passado compreendido como inacessível e as causas dos fenômenos inalcançáveis à razão, as relações do autor com a memória e o testemunho, a possibilidade de alcançar a liberdade apenas como experiência interior e suas estratégias narrativas, possibilitam uma leitura heurística das obras de Tolstoi. A lucidez desses autores, ou a lucidez dos desenhos criados por Loriga desses intelectuais é surpreendente.
Partindo desses autores, Sabina Loriga retorna ao século XIX e, longe de propor uma análise acusatória contra historiadores que excluíram os sujeitos da história, pinça os que atuaram na valorização das individualidades e escreveram histórias que se aproximavam do que a autora aprecia atualmente no fazer historiográfico, sobretudo com base na atual importância adquirida pelas biografias. Por mais que existam silenciamentos, recortes e por vezes uma demasiada valorização dessas obras, o livro de Loriga possibilita questionarmos a pretensa hegemonia das explicações que excluíam as atuações individualizadas dos sujeitos no século XIX e problematizarmos a construção e valorização de uma memória científica da História. Além disso, sua leitura proporciona o debate sobre as atuais análises críticas ao modelo científico de história que tem proliferado nos trabalhos que discutem historiografia e que excluem de suas narrativas obras que fogem aos modelos que buscavam bases científicas, estáveis e objetivas para a história, seus alvos principais.
Douglas Pavoni Arienti– Mestrando, Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Bolsista CNPq. douglasarienti@gmail.com.
O alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico negro (1822-1853) | João Rosé Reis e Flávio dos Santos Gomes
A história de Rufino … não foi de maneira alguma típica. O interesse em narrá-la decorre de que a história não é somente feita do que é norma, e esta pode amiúde ser mais bem assimilada em combinação e em contraste com o que é pouco comum. Foi, aliás, o que buscamos aqui fazer: nosso personagem nos serviu de guia para uma história bem maior do que caberia na sua experiência pessoal. Ele foge com enorme regularidade de nosso campo de visão para dar lugar ao drama colossal da escravidão no mundo atlântico no qual desempenhou seu pequeno mas interessante, às vezes nefasto, papel. (p.360)
Ao estudarem a trajetória de Rufino José Maria, João José Reis, Flávio dos Santos Gomes e Marcus de Carvalho nos oferecem um extraordinário painel, no espaço micro e macrossocial, do que foi o tráfico transatlântico de cativos africanos para o império do Brasil no século XIX. Por certo o tema não é novo, mas a maneira como foi abordado, sem dúvida é muito inovador. Se houve, realmente, um considerável aumento no número de pesquisas sobre o assunto desde o final da década de 1980, que culminou com o primeiro centenário da Lei Áurea, além de se terem firmado novos marcos para a análise do sistema escravista e das políticas inclusivas no país, o tema do tráfico de escravos também recebeu revisão significativa, como indicam trabalhos como Em costas negras, de Manolo Florentino.
Nos Estados Unidos, assim como no Brasil e no Caribe, o tema do tráfico de escravos e do sistema escravista tem sido repensado, como indica Gerald Horne em O sul mais distante. Destoando dos estudos indicados, os autores deste O alufá Rufino deixam os dados quantitativos apenas como complemento, para abordarem a trajetória de um desses africanos que se tornou cativo nas Américas, onde alcançaria a alforria. Rufino tornou-se também traficante e dono de escravos, e nesse percurso transatlântico aprendeu a ler e escrever e cultivou a religião segundos as regras do Alcorão, praticando-a no Império do Brasil, motivo pelo qual foi preso. É bem presumível que a escolha do objeto deva-se não apenas à sua riqueza documental e exemplaridade, mas também às evidências que João José Reis trouxe com Domingos Sodré, um sacerdote africano. Contudo, diferentemente desse livro, em O alufá Rufino os autores aproveitam-se mais do que o personagem oferece para, a partir dele, reconstituírem certos nexos entre atores sociais que povoaram o mundo do tráfico de escravos. Circunstanciam os grandes comerciantes do período, descrevem suas principais embarcações e expõem como burlavam o bloqueio inglês nas costas do continente africano, como agiam quando eram capturados e que tipo de mercadorias levavam das Américas, para tornarem o negócio ainda mais lucrativo. Nesse ponto, habilmente os autores demonstram que quase toda a tripulação das embarcações fazia parte desse comércio, com caixas e rubricas próprias, como foi o caso de Rufino – embora até onde o acompanharam não tenham encontrado suas iniciais entre as mercadorias. Como cozinheiro, Rufino aproveitava o ensejo para comerciar doces – e até, provavelmente, comprar escravos – na África. Outra diferença entre os dois livros é que neste as afirmações seriam mais pautadas em suposições do que em comprovação documental.
Como mostram os autores, a “história dos africanos no Brasil do tempo da escravidão”, assim como a de Rufino, “em grande parte, é escrita a partir de documentos policiais” (p.9), que têm sido vasculhados de modo mais sistemático nas últimas décadas pelos pesquisadores brasileiros. Assim, com a história de Rufino os autores nos apresentam o perfil de alguns dos compradores de escravos no Império do Brasil, como João Gomes da Silva, homem pardo que exercia o ofício de boticário. Provavelmente, Rufino foi seu aprendiz por certo período, antes de seguir para Porto Alegre e lá ser vendido, porque é “possível que suas habilidades na cozinha viessem a ter alguma valia na preparação de remédios de origem animal e mineral” (p.31). No início da década de 1830, Rufino desce para o Rio Grande do Sul em companhia de seu senhor-moço, Francisco Gomes, que algum tempo depois o venderá para José Pereira Jardim, comerciante em Porto Alegre, onde “Rufino encontrou … alguma gente de sua terra escravizada ou já alforriada” (p.52). Em 1835, alguns meses após o levante dos malês na Bahia, ironicamente, Rufino alcançaria sua alforria pagando a quantia de 600 mil-réis.
Com a liberdade, Rufino passaria a figurar de volta na documentação, meses depois seguindo para o Rio Grande, “onde funcionava o governo legal antifarroupilha, talvez na companhia de seu ex-senhor, o desembargador José Maria Peçanha”, e lá “ficou … envolvendo-se com a comunidade muçulmana local até que, no final de 1838, teve lugar a ação policial em Porto Alegre contra aquela escola muçulmana” (p.69). Com isso, como sugerem os parcos documentos sobre ele, provavelmente seguiu para o Rio de Janeiro, entre o final de 1838 e o início de 1839, “e não três anos antes, como deixou transparecer no Recife em 1853, quando tinha boas razões para omitir a verdadeira história de sua saída do Rio Grande do Sul: preso por suspeita de conspiração, ele não podia revelar que suspeita semelhante já havia pairado sobre ele quinze anos antes” (p.70).
No Rio de Janeiro, “Rufino teria percebido que podia conseguir proteção e boa vida – além de dinheiro – alistando-se como trabalhador do tráfico” (p.81). Aqui, os autores demonstram como Rufino participará do comércio transatlântico de escravos, além de pormenorizarem o perfil de tripulantes dos navios negreiros e suas mercadorias (além das quantidades médias de escravos transportados na viagem de volta), e também circunstanciarem os principais organizadores desse mercado arriscado, em função da proibição inglesa, desde o início da década de 1830, mas, ainda assim, incomparavelmente lucrativo.
Nesse percurso, os autores nos apresentaram as histórias de vários personagens do tráfico da época, dos tripulantes aos chefes do comércio. Ao lado da Ermelinda, embarcação na qual Rufino trabalhou, eles indicam os destinos da escuna Paula, do patacho São José e da União (embarcação em que Rufino esteve antes de ir para a Ermelinda), quando estas foram confiscadas e julgadas pelos ingleses em Serra Leoa, juntamente com outras embarcações. Destaque-se ainda que havia muitas evidências, apesar da fiscalização inglesa, de que “traficantes e ingleses se irmanavam nos entrepostos do trato de gente”, pois “os verdadeiros ‘irmãos’ dos ingleses no terreno eram outros brancos, mesmo se traficantes, e não os negros traficados, de quem se diziam ‘irmãos’ os abolicionistas na distante Inglaterra” (p.157).
Embora não tenha sido condenada, apesar das tentativas na reunião de indícios que a apontassem como embarcação de tráfico negreiro – o que de fato era -, os prejuízos foram evidentes para a Ermelinda, sua tripulação e seus donos. Ainda que extraordinariamente rica a exposição dos autores, não há como em tão poucas linhas circunstanciarmos todas as ramificações e detalhes desse empreendimento e suas consequências, ao serem capturadas as embarcações e levadas até Serra Leoa, onde foram julgadas.
De Serra Leoa para o Recife, Rufino, como toda a tripulação e os comerciantes do trato de gente, teve de computar os prejuízos do empreendimento, não levado a cabo em função da captura inglesa nas costas do continente africano. Em Recife, Rufino se fixaria na rua da Senzala Velha, nome representativo para um ex-cativo e traficante, como ele. Os autores fazem uma primorosa análise do perfil e das características das práticas religiosas na Recife do século XIX, onde Rufino não estaria sozinho, haja vista a pluralidade étnica, cultural e religiosa ali presente. Como alufá, Rufino conhecia os meandros de sua religião, e a sua prática o ajudou a ultrapassar aquele período conturbado. Quando foi detido em meados de 1853 pela prática de rituais religiosos, Rufino manteve uma atitude serena, apesar de a “preocupação das autoridades pernambucanas” ter sido “atiçada não só porque sabiam que na Bahia os rebeldes possuíam papéis escritos em árabe como aqueles encontrados com Rufino, mas também porque, segundo as notícias que circularam o país, muitos dos rebeldes malês eram africanos libertos e nagôs como ele” (p.331). Dito isso, vale destacar ainda que “Rufino certamente desenvolveu uma visão cosmopolita de um mundo dificilmente alcançada pela maioria dos africanos e, menos ainda, dos brasileiros seus contemporâneos” (p.355), o que torna mais representativa sua trajetória.
Portanto, os autores nos oferecem a interpretação de um personagem rico e complexo, inserido no próprio núcleo do movimento dinâmico do tráfico de cativos do século XIX. Desse modo, tracejando pela microanálise (com a trajetória de Rufino) e pela macroanálise (com o estudo pormenorizado do tráfico de escravos), o texto também sugere avanços e traz inovações sobre o uso desses instrumentais metodológicos de análise das fontes e apresentação dos dados.
Diogo da Silva Roiz – Doutorando em História (UFPR), bolsista do CNPq. Departamento de História da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Campus Amambai. Cidade Universitária de Dourados. Caixa Postal 351. 79804-970 Dourados – MS – Brasil. E-mail: diogosr@yahoo.com.br.
REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus Joaquim de. O alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico negro (1822-1853). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 481p. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.31, n.61, 2011. Acessar publicação original
[IF]
O Café de Portinari na Exposição do Mundo Português: modernidade e tradição na imagem do Estado Novo brasileiro – LEHMKUHL (RBH)
LEHMKUHL, Luciene. O Café de Portinari na Exposição do Mundo Português: modernidade e tradição na imagem do Estado Novo brasileiro. Uberlândia: Edufu, 2011. 268p. il. Resenha de: PIAZZA, Maria de Fátima Fontes. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.31, n.61, 2011.
O livro O Café de Portinari na Exposição do Mundo Português: modernidade e tradição na imagem do Estado Novo brasileiro, da historiadora Luciene Lehmkuhl, docente na Universidade Federal de Uberlândia, foi originalmente tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina e está inserido metodologicamente nas fileiras da História Cultural, que com rara sensibilidade adentra na chamada ‘virada pictórica’ (pictural turn).
Café (1935),1 óleo sobre tela do pintor de Brodósqui, é visto como um ícone da história cultural brasileira. Pertence ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes, e com esse quadro Portinari ganhou a segunda menção honrosa do Carnegie Institute, em Pittsburgh, no ano de 1935, distinção obtida por Salvador Dalí e Kokoschka. Da tela despontam trabalhadores braçais negros colhendo café e carregando sacos do produto, na época o principal item de exportação do Brasil e símbolo da pujança nacional.
Essa tela é simbólica das contradições inerentes à sociedade brasileira egressa de séculos de escravidão, mas dela também emergem representações que irão povoar a obra portinariana com suas colonas, com seus lavradores, com seus negros e mestiços, com suas culturas agrícolas – como a cafeicultura – que integram o universo da sua produção pictórica.
Café foi a “nota dissonante à harmonia estética” – na feliz expressão da prefaciadora da obra, professora Maria Bernardete Ramos Flores – no conjunto de obras brasileiras que integraram o “Stand de Arte” do Pavilhão do Brasil na Exposição do Mundo Português, que se realizou em Lisboa, em 1940, comemorativa aos centenários portugueses. As obras expostas são egressas do Museu Nacional de Belas Artes e estão em consonância com a hierarquia de gêneros, como a pintura de história, a pintura de retrato, a pintura de gênero, a pintura de paisagem e a pintura de natureza-morta. Essas obras transitam entre o realismo, o impressionismo, o simbolismo e o naturalismo.
Nesse conjunto pictórico de 24 óleos, Café não está em consonância com o conjunto apresentado de características ‘acadêmicas’ ou da arte tradicional. Além disso, o “Stand de Arte” não é representativo da produção artística brasileira da década de 1930, pois ignora Lasar Segall, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Ismael Nery, Cícero Dias e Vicente do Rego Monteiro, entre outros. O que mostra que a estética modernista em ebulição no Brasil não era unanimidade no campo cultural e nas hostes estado-novistas.
Com base nesses dados a autora propõe várias questões, entre as quais: por que Café integrou essa exposição do Estado Novo português, uma pintura modernista num lugar dedicado à tradição? Por que a comissão organizadora do “Stand de Arte” do Brasil selecionou Café entre tantas obras representativas da estética modernista? Por que Café mereceu tanta visibilidade naquela exposição? Que imagem o Brasil estado-novista levou para as comemorações nacionalistas da sua ex-metrópole?
Para respondê-las, a autora com argúcia se debruçou sobre arquivos e bibliotecas do Brasil e de Portugal e perquiriu cuidadosamente o acervo dessas instituições, sem descuidar do cotejo entre as obras do Museu Nacional de Belas Artes que atravessaram o Atlântico e foram expostas no Pavilhão do Brasil. O que denota o trabalho criterioso de Luciene Lehmkuhl, quanto ao métier do historiador.
A escolha de Café para integrar o “Stand de Arte” do Pavilhão do Brasil deve-se, entre outros motivos, ao capital simbólico da obra que tinha sido premiada pela prestigiada instituição estadunidense e ao fato de ser considerada um símbolo da arte moderna brasileira pela crítica nacional e internacional. Também, Portinari integrava uma importante rede de sociabilidade intelectual que abrangia até mesmo a burocracia estatal, o que permitiu encomendas oficiais (as obras para o Ministério da Educação e Saúde Pública) e a realização da Exposição Portinari no Museu Nacional de Belas Artes, em 1939.
A autora chama atenção para a magnitude do Pavilhão do Brasil na Exposição do Mundo Português às margens do Tejo, o qual é emblemático da “coroação da campanha da formação da intimidade luso-brasileira”. No bojo da política nacionalista, o Estado Novo português queria mostrar ao mundo o Brasil com uma “imagem forte”, ao passo que Portugal potencializava sua imagem virtual de “berço de descobridores e de criadores de nações”.
Se o conjunto pictórico apresentado pretendia mostrar a autoimagem do Brasil à ex-metrópole ibérica, o que sobressaiu são paisagens bucólicas, naturezas-mortas, nus femininos e Lindoia (uma índia, bem ao gosto oitocentista). O que corrobora a visão de que o “Stand de Arte” estava imerso na tradição acadêmica da arte brasileira, compatível com a orientação das instituições oficiais, como o Museu Nacional de Belas Artes, sob a direção de Oswaldo Teixeira, e o Salão Anual.
O impacto visual causado por Café entre pinturas identificadas como acadêmicas propiciou que Portinari e sua obra ficassem conhecidos em Portugal e se tornassem assunto da imprensa portuguesa. A repercussão envolveu o campo cultural daquele país nas discussões sobre questões centrais e prementes em torno da arte moderna no Brasil e em Portugal, como nacional/internacional e arte pura/arte social, além das aproximações arte/vida e arte/política.
A recepção de Café, em 1940, marcou indelevelmente os caminhos a serem trilhados pelos artistas e pela crítica de arte em Portugal. A historiografia da arte em Portugal menciona Café como um ponto de inflexão na história do modernismo português; para alguns, teve importante papel no estabelecimento do neorrealismo naquele país. A autora adverte que Portinari só foi recuperado pelos neorrealistas portugueses em 1946, quando concedeu entrevista ao poeta, ensaísta e pintor Mário Dionísio, após a exposição na Galerie Charpentier, em Paris.
Café é visto como o melhor exemplo da estética modernista brasileira, embora na Exposição do Mundo Português tenha sido exposto em meio à preponderância da imagem da tradição do Estado Novo brasileiro.
O livro de Luciene Lehmkuhl é de suma importância para a história da arte brasileira, merece ser lido não só pelos acadêmicos que se debruçam sobre história e arte, imagens, práticas historiográficas, acervos documentais e visuais. Deve-se proceder à leitura como a “uma operação de caça” – no sentido proposto por Michel de Certeau – na qual se descobrem muitas sutilezas metodológicas.
Notas
1 Café (1935), pintura a óleo sobre tela, 130 x 195 cm. Assinada e datada no canto inferior esquerdo, “Portinari Brasil 935”. Coleção Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.
Maria de Fátima Fontes Piazza – Doutora pelo PPGH/UFSC. Departamento de História, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, UFSC. Campus Universitário. 88040-900 Florianópolis – SC – Brasil. E-mail: md.piazza@uol.com.br
[IF]Pierre Nora- homo historicus – DOSSE (RBH)
DOSSE, François. Pierre Nora- homo historicus. Paris: Perrin, 2011. 660p. Resenha de: SILVA, Helenice Rodrigues da. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.31, n.61, 2011.
Dando sequência ao gênero de ‘biografia intelectual’ de autores franceses que marcaram a segunda metade do século XX (Michel de Certeau, Paul Ricoeur, Gilles Deleuze/Félix Guattari), François Dosse completa um extenso trabalho sobre Pierre Nora. Figura singular no espaço intelectual francês, esse autor atravessa, de maneira discreta e silenciosa, diferentes domínios de produção e difusão (literatura, jornalismo, edição e ensino) nestes últimos 50 anos.
Conhecido pelos historiadores como um dos coordenadores (com Jacques Le Goff) de “Fazer a história” e o idealizador dos “lugares da memória”, Pierre Nora é, sobretudo, visto como o editor da maison Gallimard e o criador da famosa “Bibliothèque des sciences humaines”. Nessa coleção, a ‘nata’ da intelligentsia francesa e estrangeira (Michel Foucault, Georges Dumézil, Émile Benveniste, entre tantos outros) promove, nas décadas de 1960 e 1970, “os anos dourados das ciências humanas”.
Professor universitário (assistente na École des Hautes Études en Sciences Sociales e no Institut d’Études Politiques, nas décadas de 1970 e 1980), idealizador de diferentes coleções de ciências humanas (inicialmente na editora Julliard, em seguida na Gallimard), fundador (com Marcel Gauchet), em 1980, da revista Le Débat (importante mídia intelectual ancorada na crítica de ideias e nas análises da atualidade), imortal (eleito para a Académie Française em 2002), Pierre Nora ocupa ainda uma posição de destaque nos debates atuais da Cité (esfera pública) no que diz respeito, notadamente, aos imbróglios da memória, da história e do patrimônio francês.
No entanto, autor de um único livro, publicado durante a guerra da Argélia, Les Français d’Algérie, e de numerosos artigos (jamais agrupados) sobre história do presente e epistemologia da história, Pierre Nora encarna o intelectual solitário, o escritor de talento que duvida do caminho a seguir, e que se sente incapacitado para edificar uma obra individual.
Ao longo de um trabalho denso e detalhado, graças, notadamente, a uma extensa documentação do arquivo pessoal do biografado, François Dosse reconstitui os diversos itinerários desse historiador, buscando entender o enigma do acadêmico ‘fora da norma’. Como bem mostra a biografia, o paradoxo de Nora, editor de grandes livros em todas as disciplinas – da linguística à economia, da antropologia à história, da filosofia à política – residiria na sua impossibilidade de se afirmar como autor de uma obra.
Sensível à recepção de novas ideias, Pierre Nora publica, desde a década de 1960, textos até então inéditos e originais, produzidos na França e no estrangeiro. De As palavras e as coisas, de Michel Foucault, a Montaillou, povoado occitâneo, de Leroy Ladurie (300 mil exemplares vendidos), Pierre Nora, na Gallimard, lança os best sellers das ciências humanas e sociais. No entanto, duas obras de peso que marcaram seu tempo constituíram exceções. Tristes trópicos, de Lévi-Strauss, e A era dos extremos, de Eric Hobsbawm, foram recusados pela editora.
Ora, como explicar a trajetória de um autor sem obra, mas que parece ter feito de sua existência sua própria obra? Tal interrogação constitui um ‘desafio biográfico’ (título de um dos livros de François Dosse). Pierre Nora seria mais solícito a ideias de seus autores que à produção de suas próprias ideias. Escritor talentoso, ele teria dito: “os melhores editores são, certamente, escritores reconvertidos, reprimidos, transformados”.
Pautada por sucessos e fracassos, sua trajetória intelectual é reveladora de um Ser em busca permanente de si mesmo. Nora coloca em dúvida seu percurso, critica as normas acadêmicas e recusa fechar-se dentro de uma disciplina. Mas, ao lado de aparentes frustrações e insucessos (os concursos de admissão para a École Normale Supérieure, a renúncia a uma tese já iniciada, a desistência de trabalhos coletivos) encontram-se incontestáveis conquistas. Graças a seu dom de escritor, a sua visão antecipada e a sua incansável curiosidade, Pierre Nora obtém a difícil agrégation em história (concurso para se tornar professor da Educação Nacional), antecipa a criação de novos modelos historiográficos e consegue sobreviver à crise das ciências humanas e sociais, criando, em 1980, uma revista aberta aos debates intelectuais.
Relatar essa ‘aventura intelectual’ solicita, por parte de um bom biógrafo, recursos da psicanálise. François Dosse é, assim, levado a ressaltar uma experiência traumática, vivida pelo jovem Pierre aos 12 anos. De origem judia, totalmente assimilada à República francesa, a família Nora (originalmente Aron, antes do século XIX) se considera, no entanto, “uma família judia mais francesa do que francesa”. Refugiado com os parentes no sul da França, no momento da ocupação alemã, Pierre se salva de uma rafle (uma blitz para prender judeus) organizada pela Gestapo. Nas palavras do biógrafo, esse episódio drástico acrescentará certa inquietação e gravidade a sua existência, marcando-o para sempre.
Na opinião de François Dosse, a lembrança desse acontecimento incidirá, provavelmente, sobre seu trabalho intelectual posterior, levando-o a repensar as categorias da memória e da história: “[Esta] será, incontestavelmente, a contribuição mais decisiva de Pierre Nora à historiografia; a sua singularidade de judeu o leva a valorizar a memória – o Zakhor [‘lembre-se’] -, mas a submete a uma artilharia ininterrupta da crítica à disciplina histórica, à vigilância histórica”.
Outras pistas que podem explicar suas escolhas ou suas recusas são recenseadas: o autoritarismo do pai, o sucesso de um irmão mais velho (aluno brilhante na prestigiosa École Nationale d’Administration – ENA, alto funcionário das finanças e conselheiro de Mendès France, presidente do conselho de ministros da IV República), a paixão inicial pela literatura e poesia, o espírito crítico em relação à retórica e à filosofia ensinadas na juventude. Este último aspecto justificaria seu triplo fracasso no concurso de admissão para a École Normale Supérieure. Destinada aos futuros filósofos, a ENS constitui um dos ‘lugares de passagem’ da elite intelectual e ‘republicana parisiense’.
No entanto, a escrita de Les Français d’Algérie (1961) despertará seu interesse pelos arquivos. Nora idealiza, ainda na editora Julliard, o lançamento de uma coleção de bolso que apresentaria aos leitores a integralidade dos arquivos, acompanhados de comentários por parte de especialistas. Intitulada “Archives”, essa coleção, publicada em 1964, parece renovar a disciplina história. Seu projeto de lançamento de novas coleções, desta vez na editora Gallimard, se concretizaria na “Bibliothèque des sciences humaines”, na “Bibliothèque des histoires” e na coleção “Témoins”.
Seus sucessos editoriais, no entanto, o impedem de elaborar seu próprio pensamento. Em carta redigida no final da década de 1960, Edgar Morin demonstra sua inquietude e afirma:
cada vez mais, você encarcera sua primeira personalidade, que penso que é sonhadora, meditativa, afetuosa, plena de curiosidades profundas que vão alhures. Não existe uma solução em vista, mas existe um caminho: cultive sua própria filosofia. Isto não quer dizer: faça uma tese ou um livro, ou ande a cavalo. Isto quer dizer, apenas, que é hora de partir em busca da expressão daquilo que mais conta dentro de você mesmo.
Ora, segundo François Dosse, a grande obra na vida de Pierre Nora realizar-se-á através de sua ligação íntima com a França, por intermédio dos ‘lugares da memória’; ele até afirma que um ‘momento Nora’, semelhante a um ‘momento Michelet’ e a um ‘momento Lavisse’, marcará a historiografia francesa.
Esse empreendimento ‘memorial’, coordenado por Pierre Nora, tem por origem seu seminário sobre história do presente, na École des Hautes Études en Sciences Sociales, e durará mais de 10 anos, concluído em 1993 com a publicação do último tomo dos “Lugares da memória”. Propondo o retorno ao questionamento sobre a nação mediante a análise dos ‘lugares da memória’ (material, simbólico, funcional), o primeiro tomo consagra-se à “República” (1 volume sobre o século XIX), o segundo (3 volumes) à “Nação” (a partir da Idade Média), e o terceiro (3 volumes) às “Franças” (les France).
Trabalho historiográfico e epistemológico notável na trajetória intelectual de Nora, esse ‘empreendimento’ ocupa um espaço central em sua biografia. No capítulo intitulado “A fábrica dos lugares da memória”, François Dosse descreve a confecção dessa produção historiográfica lembrando que, nas décadas de 1980 e 1990, a expressão ‘lugares de memória’ passa a integrar a linguagem corrente. Se a noção da memória emerge no território dos historiadores franceses, ela se apresenta como coadjuvante da categoria da história. Através dos ‘lugares da memória’, Pierre Nora fornecerá “uma resposta histórica pessoal a esta situação ‘ambígua’ do intelectual francês judeu; desta [situação] resulta sua relação passional com este monumento editorial”.
No entanto, a partir da década de 1970, a França conhece o ressurgimento das memórias ocultas, reprimidas e recalcadas pela história oficial. Consequentemente, o fenômeno do après coup, do traumatismo, expresso pelos sobreviventes das catástrofes do século XX, modificará sensivelmente a abordagem do passado. Contudo, longe de exprimir a dialética da memória e do esquecimento (da memória coletiva), os ‘lugares da memória’ (responsáveis pelo retorno da questão nacional, por intermédio da memória e da política) se erigem como um estudo do patrimônio francês.
Embora reconhecendo seu valor heurístico, compartilho as críticas emitidas por alguns historiadores franceses (citadas por Dosse). Enquanto patrimônio nacional (simbólico e material), os ‘lugares da memória’ sacralizam a história oficial, os mitos da nação, os lugares de culto. Assim, os sete volumes que formam os três tomos dessa coletânea não deixam de representar um ‘monumento histórico’, uma celebração da história nacional francesa. Voltados à trilogia – a República, a Nação e as Franças – os ‘lugares da memória’, injustificadamente, não levam em conta a análise do passado colonial, ou seja, do império francês e da guerra da Argélia, esquecendo-se dos traumatismos da memória coletiva (o governo de Vichy, a guerra da Argélia e o tráfico de escravos, dentre outros).
Analisar, retrospectivamente, o chamado ‘momento Nora’ nos tempos atuais da vigência do paradigma da global history leva os historiadores a exprimir sérias reservas em relação à matriz histórica do Estado-nação. Além do mais, a noção de ‘identidade nacional’ (intrínseca e explícita a esta obra), que se transformou em uma categoria polêmica e perigosa na França atual, obriga os historiadores a rever as interpretações históricas e historiográficas das décadas anteriores.
Em contrapartida, é de fundamental importância o empreendimento posterior de Pierre Nora para a história intelectual. Criada em 1980, a revista Le Débat (dirigida por Pierre Nora, Marcel Gauchet e Krzysztof Pomian) se propõe a repensar novos modelos intelectuais e/ou ‘a mudança de paradigmas’ nas ciências humanas. Aberta à inovação, à reflexão, às contribuições estrangeiras e, sobretudo, à heterogeneidade das ideias, ela se instala na paisagem intelectual como uma referência obrigatória.
“A palavra-chave para caracterizar Le Débat é a abertura, uma vontade de descompartimentalização, de romper as fronteiras, tanto disciplinares como nacionais.” Ao longo dos 30 anos de sua existência, o espírito de renovação e a sensibilidade em relação às mutações históricas e intelectuais do momento da revista permanecem atuais.
Conjugando história do intelectual, história intelectual e história da historiografia francesa (dos últimos 50 anos), este estudo biográfico oferece ao leitor um estimulante percurso através das ideias. Abordando diferentes cenários – instituições, pessoas, obras e redes sociais -, François Dosse reconstitui tensões políticas e intelectuais, debates ideológicos, modelos de análise etc. através do percurso original de um discreto ‘aristocrata de esquerda’..
Helenice Rodrigues da Silva Silva – Professora Associada, Universidade Federal do Paraná. Rua General Carneiro, 460. 80060-150 Curitiba – PR – Brasil. E-mail: helenrod@terra.com.br.
[IF]Memórias e narrativas (auto) biográficas – GOMES; SCHMIDT (RBH)
GOMES, Ângela M. de Castro; SCHMIDT, Benito Bisso (Org.). Memórias e narrativas (auto) biográficas. Rio de Janeiro: Ed. FGV; Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2009. 278p. Resenha de: SILVA, Weder Ferreira. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.31, n.61, 2011.
O entusiasmo dos historiadores pela pesquisa no campo das narrativas biográficas e autobiográficas vem ganhando destaque nas publicações recentes no Brasil e no mundo. Um breve passar de olhos em catálogos de editoras e em estantes de livrarias atesta que o país experimenta grande aumento de publicações de caráter biográfico e autobiográfico – a título de exemplo citemos apenas O retorno de Martin Guerre, de Natalie Z. Davis (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987) e D. Pedro II, de José Murilo de Carvalho (São Paulo: Companhia das Letras, 2007).
Esse entusiasmo dos pesquisadores do campo das ciências sociais se deve ao fato de que o contato com fontes primárias, documentos, papéis, cartas, bilhetes e fotografias é capaz de revelar parcelas desconhecidas ou até então invisíveis da história e do mundo social vivenciado tanto por homens e mulheres ‘comuns’ quanto por personagens de maior relevo na história. Essa sensação é fortalecida quando o material foge aos rigores institucionais da produção documental, às características seriais e ao formato burocrático, e tem uma origem privada, um caráter pessoal, conferindo a impressão de que se está tomando contato com aspectos muito íntimos da história de seus personagens. O acesso a tais fontes tem a força de simular o transporte no tempo, a imersão na experiência diretamente vivida, sem mediações.1 Paralelamente a esse movimento, é importante ressaltar que é cada vez maior o interesse do leitor por certo gênero de escritos – uma escrita de si – que inclui diários, cartas, biografias e autobiografias, independentemente de serem memórias ou entrevistas de trajetórias de vida, por exemplo.
Como apontou Giovanni Levi, nosso fascínio de arquivistas pelas descrições impossíveis de corroborar por falta de registros documentais alimenta não só a renovação da história narrativa, como também o interesse por novos tipos de fontes – nas quais se poderiam descobrir indícios esparsos dos atos e das palavras da vida cotidiana dos atores sociais.2 É nesse mesmo movimento historiográfico que se enquadra a publicação do livro Memórias e narrativas (auto)biográficas, organizado por Ângela de Castro Gomes e por Benito Bisso Schmidt.
O conjunto de textos apresentado no livro constitui significativo exemplo de como os chamados escritos de si ou autorreferenciais vêm ganhando terreno no campo da historiografia, ilustrando, assim, as várias possibilidades e os resultados de pesquisas que utilizam tais escritos como fonte de investigação histórica. Nesse sentido, o livro Memórias e narrativas (auto)biográficas apresenta ao leitor uma nova possibilidade heurística para os arquivos privados. De acordo com os organizadores do livro, “a atenção de muitos historiadores voltou-se para os arquivos privados, nos quais passaram a procurar não apenas rastros das ações e ideias de seus personagens, mas também a forma pela qual eles constituíram a si mesmos, à medida que selecionavam e guardavam seus documentos e, assim, propunham um sentido para suas vidas” (p.7).
Na esteira das transformações pelas quais a historiografia passou desde a década de 1980, a biografia, isto é, o indivíduo, emerge como tema relevante para a compreensão não apenas do social, mas também de questões ligadas à ‘invenção’ de si. Essas novas abordagens passam a ocupar espaço privilegiado no conhecimento histórico, suscitando, com isso, reflexões sobre o espaço privado e o público, sobre o individual e o coletivo e sobre as formas narrativas e analíticas da escrita da história. Daí a importância dos acervos pessoais como elementos para a compreensão da ‘superfície social’ em que age o indivíduo numa multiplicidade de campos, a cada momento. Nos textos que compõem o livro é possível observar que as narrativas autobiográficas evidenciam de forma clara como a trajetória de um indivíduo varia no tempo, o que atesta, mais uma vez, aquilo que Pierre Bourdieu chamou de ilusão biográfica – a ilusão de uma linearidade e coerência do indivíduo.3 Dito isto, cabe ainda ressaltar a proposição de Paul Ricoeur, para quem a história de vida de indivíduo não cessa de ser refigurada por todas as histórias verídicas ou fictícias que um sujeito conta de si mesmo. Essa refiguração faz da própria vida um tecido de histórias narradas.4
Os textos que integram o livro em questão estão dispostos em quatro partes. A primeira – “O historiador entre a história e a memória” – compõe-se de um artigo de Sabina Loriga em que a autora aborda ‘as porosas fronteiras’ entre história e memória. Com base na obra A memória, a história, o esquecimento, de Paul Ricoeur (Campinas: Ed. Unicamp, 2007), a historiadora tece considerações sobre as múltiplas relações estabelecidas entre a história e a memória. Nesse sentido, o texto de Loriga antecipa o contexto historiográfico em que se situam os artigos subsequentes da obra.
Na segunda parte do livro, Ângela de Castro Gomes, Haike Roselane Kleber da Silva, Yonissa Marmitt Wadi e Keila Rodrigues de Souza abordam facetas das trajetórias de indivíduos com base nas correspondências que trocaram. Ao leitor, ficará evidente que a documentação epistolar permite ‘decompor’ a vida de indivíduos aproximando-se da sua esfera privada de atuação. Ao investigarem a troca de correspondência entre figuras de relevo da política e da intelectualidade da Primeira República, as cartas de germanistas no Brasil e bilhetes de pessoas que cometeram autoviolência, os autores tecem reflexões sobre a construção do ‘Eu’, demonstrando que as escritas de si também se constituem em lugares de memória.
Na sequência, Joseli Maria Nunes Mendonça, Benito Bisso Schmidt e Gisele Venâncio ocupam-se em investigar como determinados atores sociais construíram suas imagens por meio de narrativas autobiográficas. Essas análises são reveladoras para pensar as estratégias utilizadas de forma consciente ou não – no processo de construção de si mesmo. Nesse espectro de análise é possível notar as disputas, os silêncios, as hipérboles, enfim, as oscilações das narrativas que pretendem ‘forjar’ uma imagem de si projetadas para a posteridade.
Por fim, os artigos de Márcia de Almeida Gonçalves, Bruno Barreto Gomide, Marcelo Timotheo da Costa e Maria Elena Bernardes têm como objeto de análise as produções biográficas e autobiográficas que pretenderam traçar um sentido social e existencial para as trajetórias de notáveis intelectuais e políticos brasileiros dos séculos XIX e XX. No capítulo que encerra o livro, Maria Elena Bernardes faz uma incursão à instigante trajetória de vida da escritora e militante comunista Laura Brandão. Nessa biografia, como que em um jogo de escalas, a autora articula aspectos da vida da militante com elementos mais amplos da história do Brasil e mundial, revelando, assim, as potencialidades que a biografia pode oferecer ao campo do ofício do historiador.
Não obstante a diversidade dos objetos e de enfoques, os artigos que compõem a obra Memórias e narrativas (auto)biográficas podem ser conectados um ao outro formando, assim, um ‘hipertexto’ que se constitui em importante contribuição para o campo da historiografia que se ocupa em investigar a multiplicidade de temas relacionados aos fenômenos da lembrança, do esquecimento e da produção do ‘eu’.
Notas
1 HEYMANN, Luciana Quillet. Indivíduo, memória e resíduo histórico: uma reflexão sobre arquivos pessoais e o caso Filinto Muller. Estudos Históricos, Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, v.19, p.41, 1997. [ Links ]
2 LEVI, Giovanni. Usos da biografia. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína. Usos e abusos da história oral. 8.ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006. p.169. [ Links ]
3 BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA; AMADO, 2006, p.183-191. [ Links ]
4 RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Campinas (SP): Papirus, 1997. t 3. p.425. [ Links ]
Weder Ferreira Silva – Doutorando em História Social pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Largo de São Francisco de Paula, nº 1, sala 205. Centro. 20051-070 Rio de Janeiro – RJ – Brasil. E-mail: wedhistoria@yahoo.com.br.
[IF]The case for books: past, present and future – DARNTON (RBH)
DARNTON, Robert. The case for books: past, present and future. New York: Public Affairs, 2009. 240p. Resenha de: ARAÚJO, André de Melo. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30, n.59, jun. 2010.
Com base nas correspondências trocadas entre editores, filósofos escritores e livreiros, como também nos contratos de concessão de direitos de impressão e comercialização da Encyclopédie, Robert Darnton identifica, em O Iluminismo como negócio (1979), conflitos editoriais e manobras lucrativas no mercado da cultura letrada setecentista. Trinta anos após a primeira edição desse estudo, e ainda tendo em vista os mecanismos de controle da produção e circulação do conhecimento impresso, Darnton apresenta em The case for books (2009) divergências desafiadoras e identidades lúcidas entre os (quase) dois séculos e meio que separam a França pré-revolucionária do final da primeira década do século XXI.
A identidade temática entre as duas obras se mostra presente já na recomposição atual da frase de abertura do texto de 1979. Em O Iluminismo como negócio Darnton expõe o resultado de suas pesquisas como “a book about a book”. Em The case for books, o historiador reexplora sua fórmula consagrada ao publicar um livro sobre livros: “this is a book about books” (p.vii). No plural, o autor inscreve a primeira situação divergente. Em 1979, Darnton estuda a história da publicação de um único livro, a Encyclopédie. Trinta anos depois, e já com a experiência de pouco mais de dois anos como diretor da rede de bibliotecas da Universidade Harvard, Darnton identifica no cargo que assumiu em junho de 2007 “uma oportunidade para fazer alguma coisa sobre as questões que … havia estudado como fenômeno histórico” (p.ix).1
E tais questões eram prementes: “assim que me transferi para o novo escritório, descobri que a Biblioteca de Harvard estava envolvida em conversas secretas com o Google sobre um projeto que tirou meu fôlego”, relata Darnton. “O Google planejava digitalizar milhões de livros, começando com o acervo de Harvard e de mais outras três bibliotecas universitárias, e comercializar as cópias digitais…” (p.ix). O projeto de comercialização de milhões de livros em formato digital faz o historiador relembrar os traités que lera ao estudar o grande negócio do Iluminismo e identificar a forma necessariamente plural do seu novo ponto de partida. Com base no grande volume de livros já digitalizados, Darnton resolve refletir principalmente sobre o papel das bibliotecas de pesquisa e seus possíveis caminhos na era do conhecimento armazenado em memórias de silício.
The case for books é uma coletânea de onze textos, publicados entre 1982 e 2009, dividida em três partes editadas nesta ordem: futuro, presente e passado. No título do livro, Darnton não só sugere a forma tradicional de se armazenar livros em uma estante – a book case -, como também faz ecoar por meio da assonância entre os termos four [quatro] e for [para] o núcleo da fantasia futurística de Louis Sébastien Mercier, conhecida desde 1771 e segundo a qual o volumoso conhecimento impresso seria coisa do passado. A verdade do futuro caberia em quatro estantes, “into the four bookcases” (p.44). Assim, Darnton parte do futuro do passado para fazer um alerta quanto ao presente do futuro: “Nós poderíamos ter criado uma Biblioteca Nacional digital – o equivalente, no século XXI, à Biblioteca de Alexandria. Já é tarde. Não somente fracassamos em conceber tal possibilidade, quanto, o que é pior, estamos permitindo que uma questão de política pública – o controle do acesso à informação – seja determinada por processo judicial de caráter privado [private lawsuit]” (p.17). Aqui resumo três preocupações centrais de Darnton quanto ao futuro.
1) Ao estudar a cultura letrada do século XVIII, o historiador localizava, a partir do caso francês, um projeto de abertura e divulgação do conhecimento que era, em princípio, universalista. No entanto, o projeto iluminista restringia paradoxalmente o seu universalismo à população economicamente favorecida. O primeiro alerta de Darnton quanto ao futuro diz respeito ao acesso pago às redes de conhecimento, controladas, por sua vez, por um monopólio privado. É certo que Darnton fala tanto do Google quanto de projetos de digitalização de acervos com bastante entusiasmo. Sua preocupação recai, no entanto, sobre o que ele chama de “tendências monopolistas” (p.33).
2) O autor insiste na presença mais ativa das instituições públicas nas decisões políticas de acesso ao conhecimento: “Sim, temos que digitalizar. Mas mais importante: temos que democratizar. Temos de abrir acesso à nossa herança cultural. Como? Reescrevendo as regras do jogo, subordinando interesses privados ao bem público…” (p.13). Desse modo, Darnton propõe a união das bibliotecas no futuro em nome do projeto de uma grande biblioteca pública digital (p.57): “Abertura, livre acesso [openness], é o princípio-guia que procuraremos seguir para adaptar as bibliotecas às condições do século XXI” (p.50).
3) Ao enfatizar o alto preço que as bibliotecas hoje já pagam para manter em dia seus acervos com periódicos, Darnton se preocupa com o comprometimento do orçamento das bibliotecas de pesquisa com as altas taxas de acesso aos acervos digitais, baseados originalmente em acervos públicos. Como consequência, as bibliotecas do futuro teriam de adquirir menos livros (p.18-19)!
Dessas três preocupações centrais decorrem ainda outros problemas estruturais. A instabilidade da informação, tal como Darnton a define (p.23), requer a possibilidade de exploração das mínimas variações no mundo das ideias: várias cópias de um mesmo título – algo que se pode deixar de lado para que o mundo digital se resuma em quatro estantes – podem apresentar dissonâncias reveladoras da cultura letrada (p.29-31). Historiador de profissão, o novo bibliotecário desconfia da eficácia do sistema de preservação de acervos digitais: a materialidade temporária – ou quase “imaterialidade” – dos livros nascidos em formato digital pode se dissipar no espaço cibernético (p.37). Darnton ainda amplia o alerta ao mencionar a fragilidade do registro das comunicações no mundo contemporâneo (p.53). Sua tônica incide principalmente sobre a necessidade de discutir as políticas públicas de preservação de acervos e de controle dos canais de divulgação do conhecimento. E esse é o motivo pelo qual a responsabilidade das bibliotecas aumenta na era digital, não apenas por terem em vista o ideal de livre acesso a fontes de pesquisa, mas também por se verem responsáveis por preservar o passado do futuro. O pressuposto de todo historiador é bem conhecido: se o presente não deixar rastros para o futuro, ele jamais poderá ser passado.
Algumas das preocupações de Darnton quanto ao futuro se repetem na segunda parte do texto, ou seja, no presente. As repetições dos argumentos, quando não dos próprios exemplos, marcam a leitura dessa coletânea de textos em que se procura destruir o mito de que o futuro eletrônico coloca em risco a tradição dos livros impressos (p.67). De forma a explorar a convivência da tinta sobre papel com as tecnologias da informação eletrônica no mundo contemporâneo (p.77), The case for books foi lançado simultaneamente tanto como livro eletrônico (e-book), quanto no formato tradicional do códice impresso.
No último capítulo, ou seja, na parte que diz respeito mais diretamente ao passado, Darnton reedita seu estudo clássico de 1982 sobre a história dos livros, já disponível ao público brasileiro há duas décadas em O beijo de Lamourette. Nesse texto, discute como as formas de transporte e de comunicação influenciaram decisivamente a história da literatura (p.199). Ao revisar recentemente o artigo de 1982, Darnton insiste no caráter material do objeto chamado livro,2 e tal insistência se faz mais uma vez presente em The case for books. Familiarizado com o mundo em que as notícias se viam atreladas à forma em papel (p.109), Darnton aponta a importância para o historiador do contato material com as suas fontes de pesquisa: a cor, o tamanho das páginas (p.125), até mesmo a experiência de passá-las uma a uma fazem parte do estudo das práticas de leitura.
E como Darnton insiste em buscar uma saída conciliatória entre a forma impressa e a forma eletrônica para o passado, para o presente e para o futuro dos livros – ao dar provas de que o historiador não se ocupa apenas do passado -, também prefiro aqui esboçar um caminho conciliador das duas atividades profissionais de Robert Darnton, historiador do Iluminismo francês e diretor da rede de bibliotecas da Universidade Harvard. Parto do núcleo deflagrador das divergências – entre o passado e o futuro – que desafiam o presente e a partir do qual Darnton procura com lucidez indicar, em The case for books, algumas identidades.
O projeto de digitalização – e comercialização – de milhões de livros, tal como Darnton o descobriu em seu novo escritório em Harvard, relembra o modelo econômico e epistemológico de filiação iluminista, para o qual The case for books oferece uma resposta cética e um desafio. No plano epistemológico, o modelo das Luzes procura ordenar e encadear o conhecimento dos homens – tal como D’Alembert propunha no discurso preliminar da Encyclopédie, em 1751 – ou ainda reunir o conhecimento disseminado na face da Terra, como Diderot sugere no quinto tomo da mesma obra. Aqui atua o ceticismo de Darnton, ao apontar lacunas e fragilidades em projetos de caráter supostamente totalizante. No caso dos acervos digitais, páginas incompletas e ausência potencial de variantes são índices claros de tal fragilidade.
Do ponto de vista econômico, a promessa de acesso a volumes compactos da cultura escrita mais uma vez se mostra como um grande negócio. Mas eis que o desafio proposto por Darnton procura renovar, no século XXI, os termos da utopia setecentista, segundo a qual uma grande biblioteca pública digital asseguraria o acesso universal ao conhecimento. Ou seja, se por um lado as reflexões publicadas em The case for books ensaiam a crítica ao projeto das Luzes, ao identificar com lucidez semelhanças entre os interesses de mercado dos grandes negócios do passado e do futuro, bem como entre as formas de privilégio de acesso à cultura escrita, por outro, Darnton procura ampliar o mesmo projeto que havia estudado como fenômeno histórico, na medida em que aposta na redefinição dos mecanismos de acesso universal ao conhecimento letrado. Em The case for books, o futuro do presente é uma aposta ao fracasso do universalismo do passado.
Notas
1 As traduções do texto de Robert Darnton foram feitas pelo autor da resenha, o qual agradece ao prof. dr. Luiz Sávio de Almeida a leitura crítica de todo este texto.
2 Cf. DARNTON, Robert. “What is the history of books?” Revisited. Modern Intellectual History , Cambridge: Cambridge University Press, v.4, Issue 3, p.495-508, 2007. [ Links ]
André de Melo Araújo – Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI). Institute for Advanced Study in the Humanities, Goethestr. 3145128 Essen Germany. E-mail: andre_meloaraujo@yahoo.com.br.
[IF]A experiência do tempo: conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845) – ARAUJO (RBH)
ARAUJO, Valdei Lopes de. A experiência do tempo: conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845). São Paulo: Hucitec, 2008. 204p. Resenha de: CALDAS, Pedro Spinola Pereira. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30, n.59, jun. 2010.
A publicação de A experiência do tempo, de Valdei Lopes de Araujo, deve ser vivamente aproveitada. Trata-se de um livro rico, digno de se encontrar nas estantes dos interessados em história política e intelectual do Brasil no século XIX, mas também nas bibliotecas dos estudiosos da história da historiografia e – por que não? – da filosofia da história. Melhor ainda: pode despertar no estudioso de vocação empírica o interesse pelas questões filosóficas mais abstratas, bem como mostrar à mente mais especulativa e reflexiva que os conceitos podem encontrar correspondência na realidade histórica mutável.
Valdei Lopes de Araujo é professor na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), onde integra o Núcleo de Estudos em História da Historiografia e Modernidade (NEHM). O livro é fruto de sua tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura da PUC-Rio, resultante de pesquisa orientada por Luiz Costa Lima. A refinada abordagem feita por Valdei Araujo se explica, sem nenhum demérito para a originalidade da obra, em parte pela formação obtida sob orientação de um intelectual que sempre estimulou a reflexão teórica e foi um dos responsáveis pela difusão da hermenêutica literária no Brasil, e que resulta na grande contribuição do livro de Valdei Araujo para o debate teórico e historiográfico. Seu mérito, portanto, consiste na sofisticada incorporação de discussões teóricas desenvolvidas na Alemanha na segunda metade do século XX, sobretudo aquelas herdeiras e críticas da hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, autor que influenciaria tanto o historiador Reinhart Koselleck como um teórico e crítico literário do porte de Hans-Ulrich Gumbrecht. Sente-se a influência de Koselleck e Gumbrecht no texto de Valdei Araujo: do primeiro, a preocupação com a história conceitual, gênero no qual o autor se sai extremamente bem, dando bom exemplo de como os conceitos não são reflexos polidos da vida histórica, mas a própria forma pela qual esta se torna inteligível. Destarte, o conceito é lugar de experiência, e não de distanciada e desinteressada cognição por parte de intelectuais diletantes. Nada melhor que uma boa obra de história dos conceitos para que o estudioso da história do Brasil e da historiografia brasileira tenha a chance de manchar a imagem homogênea do intelectual brasileiro retórico e desocupado, que se preocupava com o mundo das letras somente por distração e ornamento. Mas o conceito – e aqui se percebe a influência de Gumbrecht – é também fruto de uma radical presença histórica, situada circunstancialmente. O livro, portanto, é profundamente feliz em se apropriar de textos teóricos como os de Koselleck e Gumbrecht sem, em momento algum, cair no erro de fazer de sua pesquisa uma exposição de conceitos importados, uma aplicação que viria meramente a confirmar o já sabido. Assim, embora a obra lide com fontes em grande parte já analisadas por outros historiadores, a maneira de lidar com elas é bastante original e criativa.
O livro inicia-se com uma questão fundamental para se pensar não somente a independência do Brasil, mas o que ela representa categorialmente como experiência moderna. Como diz Valdei Araujo em suas considerações finais: “A relação com o tempo e com o passado estava ainda condicionada, de um lado, por elementos clássicos da imitação e do exemplo e, de outro, por um entendimento geral do universo como a repetição de leis eternas e eventos cíclicos” (p.185).
A primeira parte de A experiência do tempo, denominada “A História do Sistema”, basicamente descreve e analisa a trajetória um tanto trágica de José Bonifácio de Andrada e Silva, o qual, tomando por base ainda uma visão cíclica de história, concebia o sentido da história do Brasil a partir da regeneração. Regeneração é possível somente se for entendida como a etapa subsequente à decadência, termo fundamental para a compreensão morfológica das ciências naturais. A propósito, é instigante perceber a semelhança do debate intelectual brasileiro sobre a modernização com a discussão travada no espaço alemão no último quarto do século XVIII, como demonstram as pesquisas de Peter Hans Reill.1 Porém, “regeneração”, para Bonifácio, se implicava a recuperação da essência de ser português, ainda que transplantada para o Brasil, não significava um retorno. Para usar os termos do autor, ao “espelhar” a história de Portugal, a história do Brasil abria uma possibilidade em sua busca de consciência, a de ser “uma outra história que já não podia mais ser de Portugal” (p.63). É esta a dialética delineada por Valdei Araujo, a do “tempo como repetição” (título do primeiro capítulo) para o “tempo como problema” (título do segundo capítulo). A tentativa da natural superação da decadência abria, portanto, a fresta para o projeto moderno. Afinal, a regeneração dar-se-ia em uma natureza virgem, pura, plenamente visível em seus princípios criadores, a qual teria sua potencialidade moldada pela ciência.2 O dilema da singularidade da história brasileira, posto pelo autor desde Bonifácio, é detidamente desdobrado no exame da possibilidade da existência histórica da língua e da literatura brasileiras, que deveriam ser construídas tendo por base o eixo clássico greco-latino, mas sem fazer dessa base um modelo a ser meramente copiado.
A segunda parte do livro (“O Sistema da História”), que compreende um excurso e dois capítulos adicionais, trata justamente da maneira pela qual os intelectuais brasileiros enfrentaram o incômodo gerado pela necessidade incontornável de se afirmar a singularidade nacional. Incômodo? Necessidade? Sim. O autor afirma-os muito precisamente: “As teorias disponíveis que poderiam explicar a constituição de novas formas, sejam animais, sejam políticas, estavam muitas vezes fundadas na ideia de degeneração” (p.126), e conclui, demonstrando a dimensão do problema, que, sendo verdadeiro o modelo organicista, “a mudança só poderia ser entendida como aperfeiçoamento, regeneração ou degeneração. O mesmo não seria válido então para as nações? Como entender o surgimento de uma nova nação?” (p.126).
Valdei Araujo apresenta, então, os esforços dos intelectuais envolvidos com a revista Nitheroy (como Domingos José Gonçalves de Magalhães) e com a própria fundação do IHGB. Se na primeira se percebia a tonalidade romântica com a qual se coloriria a singularidade nacional em fase de afirmação (mas na qual a história pertencia a um grupo amplo das “letras”), no documento fundador do IHGB, de 16 de agosto de 1838, percebe-se a presença de traços marcantes daquilo que – lembra muito bem o autor – Arnaldo Momigliano considerou fundamental para a caracterização da historiografia moderna, a saber, a conjunção da tradição antiquária e erudita, a preocupação com o sentido filosófico da história, e, por fim, a narrativa. Para Valdei Araujo, o primeiro traço é muito mais visível que os dois subsequentes, principalmente o terceiro, ainda muito discreto.
Outra faceta da modernidade ressaltada pelo autor, tão importante quanto o estabelecimento das bases da pesquisa histórica (mas dela decorrente), reside na abertura da possibilidade da experiência no lugar da imitação. O fato, assim, não é a recapitulação de um exemplo já feito, registrado, ensinado e conhecido, mas, sobretudo, a expressão da individualidade de uma época. O fato, portanto, é impensável dentro do modelo cosmológico ou exemplar, mas torna-se cognoscível em sua assimilação pela pesquisa antiquária e erudita no escopo da tentativa de afirmação da singularidade nacional.
A singularidade, de alguma forma, operava uma interessante transformação semântica: a degeneração deixava lugar para a consciência da finitude, para a consciência de uma experiência tipicamente moderna – a sensação da transitoriedade de todas as experiências. O projeto inicial do IHGB era, mostra muito bem Valdei Araujo, marcado por uma ambiguidade essencial: distante do organicismo que animara um José Bonifácio, o mundo letrado que girava em torno ao Instituto não respirava ainda o ar do pensamento evolucionista, naquele momento o único capaz de, para me apropriar de uma expressão de Henry James, ser o fio capaz de unir todas as pérolas. Como diferenciar as épocas da história do Brasil? Como organizar os fatos?
O livro de Valdei Araujo cumpre papel importante no ambiente atual de discussões teóricas e historiográficas, bastante marcadas pelo embate entre o ceticismo quase cínico dos ditos “pós-modernos” e os racionalistas. Afinal, Experiência do tempo mostra que a historiografia brasileira dá uma guinada fundamental em um momento de crise de orientação – para usar um termo de Jörn Rüsen. Portanto, não há problema algum em se escrever história em tempos de incerteza. De alguma maneira, sempre foi assim e esse foi o desafio sempre respondido, ainda que de muitas maneiras diferentes, pelos historiadores.
Notas
1 Cf. REILL, Peter Hans. Vitalizing nature in the Enlightenment. Berkeley: University of California Press, 2005; [ Links ] ______. Die Historisierung von Natur und Mensch. Der Zusammenhang von Naturwissenschaften und historischem Denken im Entstehungsprozess der modernen Naturwissenschaften. In: KÜTTLER, Wolfgang; RÜSEN, Jörn; SCHULIN, Ernst. Geschichtsdiskurs Band 2: Anfänge modernen historischen Denkens. Frankfurt am Main: Fischer, 1994. [ Links ]
2 Nesse sentido, permito-me uma comparação. José Bonifácio lembra muito o Goethe que viaja pela Itália. Na península, encontra a serenidade juvenil e a naturalidade de cuja falta tanto se ressentia em Weimar, onde já era um grande nome intelectual, sufocado pelas formalidades cortesãs. Vale lembrar que ambos – Bonifácio e Goethe – dedicavam-se largamente à ciência natural. Para uma visão da concepção de natureza em Goethe, ver MOLDER, Maria Filomena. O Pensamento morfológico de Goethe. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1995. [ Links ]
Pedro Spinola Pereira Caldas – Professor Adjunto II do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica. Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco H, sala 1H42. 38400-902. Uberlândia – MG – Brasil. E-mail: pedro.caldas@gmail.com.
[IF]Os índios na história do Brasil – ALMEIDA (RBH)
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na história do Brasil. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2010. 168p. Resenha de: GARCIA, Elisa Frühauf. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30, n.59, jun. 2010.
Até muito recentemente, os índios eram sujeitos praticamente ausentes em nossa historiografia. Relegados à condição de vítimas passivas dos processos de conquista e colonização, seu destino inexorável era desaparecer à medida que a sociedade envolvente se expandia. Nas últimas duas décadas, porém, significativas mudanças teórico-metodológicas, associadas a criteriosas pesquisas empíricas, proporcionaram o surgimento de uma nova perspectiva sobre as populações nativas.
A trajetória da inserção dos índios em nossa historiografia, contemplando as mudanças conceituais e os avanços obtidos pelas pesquisas recentes, foi muito bem sistematizada por Maria Regina Celestino de Almeida em Os índios na História do Brasil. A publicação, inserida na coleção FVG de Bolso, Série História, sem dúvida será de grande valia àqueles que têm interesse na temática, cumprindo sua função de divulgação do conhecimento produzido na academia. Além disso, o lançamento também ocorre em momento pertinente. Em 2008 foi sancionada pelo governo federal a Lei 11.645, que estipula a obrigatoriedade do ensino da história indígena nas escolas de nível fundamental e médio, tanto públicas quanto privadas. Diante dessa exigência, muitos professores encontram dificuldades para ministrar tal conteúdo, pois ele ainda não foi devidamente inserido nos cursos de graduação em história do país.
A autora inicia o livro apresentando a mudança no lugar ocupado pelos índios na história do Brasil, os quais, nas suas palavras, passaram dos “bastidores” ao “palco”. Debatendo em linhas gerais as principais modificações teórico-metodológicas que possibilitaram tal mudança, demonstra como as novas perspectivas sobre os significados de cultura e identidade foram fundamentais para uma alteração no paradigma sobre as ações dos índios em diferentes conjunturas. Como demonstrado de forma clara e concisa no texto, a aproximação entre a história e a antropologia, ancorada no diálogo entre os profissionais dessas áreas, possibilitou que as antigas noções de cultura e identidade, percebidas como “fixas e imutáveis” (p.21), passassem a ser consideradas como fruto de processos históricos, resultado das interações dinâmicas dos diferentes agentes envolvidos em situações específicas.
Articulando as questões teórico-metodológicas às pesquisas recentes na temática, a autora aborda aspectos fundamentais para a compreensão do lugar dos índios na história do Brasil, começando com uma discussão sobre a dinâmica das guerras. Sem negar a sua importância para os grupos nativos, como demonstrado por autores como Florestan Fernandes, Regina Celestino enfatiza a impossibilidade de analisá-las sem referência ao seu contexto, pois, a partir dos primeiros contatos e das disputas pelo território americano, as guerras indígenas passaram a convergir com as guerras coloniais. Associada às guerras e à construção da sociedade colonial, a autora enfrenta ainda a difícil questão da formação das etnias, uma das grandes discussões atuais nos estudos sobre os povos indígenas. Pesquisas sobre o surgimento e a operacionalidade dos etnônimos desenvolvidas em várias regiões das Américas, inclusive no Brasil, demonstraram como muitas etnias, antes consideradas anteriores aos contatos com os europeus, originaram-se no decorrer do processo de conquista e das diferentes formas de inserção dos índios na sociedade colonial. Para exemplificar a questão, a autora utiliza como base os dados de sua tese de doutorado, demonstrando como os temininós, aliados fundamentais dos portugueses na Guanabara, provavelmente nada mais eram do que uma dissidência dos tamoios consolidada com o processo de conquista.1
Ao analisar a formação dos etnônimos, a autora enfatiza como eles estavam entrelaçados com o domínio dos povos indígenas por parte do Estado colonial. A criação e cristalização de etnônimos e a rígida separação dos índios entre aliados e inimigos eram uma forma de classificar a população nativa e viabilizar o empreendimento colonial através da sua alocação em determinados lugares na hierarquia social. Regina Celestino, porém, demonstra muito bem como esse processo era mais complexo, pois aborda ainda os mecanismos através dos quais os índios se apropriaram dessas categorias, utilizando-as como base para elaborar as suas próprias estratégias para interagir com a sociedade colonial. Afinal, como apontou John Monteiro, “a tendência de definir grupos étnicos em categorias fixas serviu não apenas como instrumento de dominação, como também de parâmetro para a sobrevivência étnica de grupos indígenas, balizando uma variedade de estratégias”.2
Um dos espaços por excelência de inserção dos índios na sociedade colonial e, consequentemente, de redefinição de suas identidades e culturas eram os aldeamentos, analisados com propriedade pela autora no capítulo quatro. Até muito recentemente, nossa historiografia abordava os aldeamentos pela ótica do Estado colonial, dos moradores ou dos missionários. Eles eram então definidos como espaços de agrupamento de índios de origens diversas, que deveriam servir aos intuitos coloniais, possibilitando tanto a concentração da mão de obra disponível, a ser empregada em atividades variadas, quanto a implementação do projeto de catequização dos nativos. Em tal perspectiva, os índios eram sempre objeto de diferentes políticas e de disputas entre determinados agentes, mas nunca sujeitos atuantes na construção do espaço dos aldeamentos. Para a autora, porém, eles devem ser considerados também a partir das motivações dos nativos. Pesquisas recentes permitem afirmar o seu interesse em tais estabelecimentos, pois eles “participaram de sua construção e foram sujeitos ativos dos processos de ressocialização e catequese” ocorridos naqueles espaços (p.72).
Outra importante discussão contemporânea abordada no livro, especialmente nos capítulos quatro e cinco, é a relação dos índios com as diretrizes coloniais, articulando políticas indígenas com políticas indigenistas. Novamente, Regina Celestino redimensiona certos pressupostos historiográficos. De maneira geral, a política indigenista da Coroa portuguesa era apresentada como inoperante, na medida em que não se fazia valer nas práticas coloniais, especialmente em relação à condição de liberdade jurídica outorgada à maioria dos índios, ameaçada diante das estratégias dos moradores interessados nessa mão de obra. Como já assinalado por Thompson, porém, mais do que um mero instrumento de dominação, a legislação também se configura como um campo de lutas.3 Assim, tal como outros sujeitos históricos, os índios, ainda que em posição subalterna, aprenderam a utilizá-la em prol dos seus interesses. Como muito bem demonstrado pela autora, se é fato que a legislação indigenista colonial era aplicada de acordo com conflitos e negociações envolvendo vários agentes (principalmente missionários, funcionários reais e moradores), é imprescindível considerar o papel dos índios nesse processo. Em tal discussão, adquire importância fundamental o capítulo cinco, sobre a aplicação das políticas pombalinas, cujas linhas gerais se orientavam à extinção da categoria dos índios aldeados, promovendo a sua diluição no conjunto da população. Na análise dessa legislação, uma das mais pesquisadas pelos historiadores da temática, fica evidente como a constante negociação com os índios foi uma das marcas da construção e manutenção da sociedade colonial.
No último capítulo a autora aborda o século XIX, enfocando as diferenças entre as políticas imperiais em relação aos índios do presente e o lugar a eles destinado na identidade nacional então em construção. Os índios do presente, especialmente aqueles que habitavam as aldeias fundadas durante o período colonial, deveriam ser rapidamente integrados ao conjunto da população, consonante às linhas anteriormente estabelecidas por Pombal. Já os índios ainda não inseridos plenamente na sociedade imperial, comumente chamados “selvagens”, deveriam ser aldeados, também com o objetivo de preparar a sua diluição no conjunto da população, ou implacavelmente combatidos, caso não aceitassem o aldeamento e resistissem à expansão das frentes de ocupação. Assim, o Império projetava uma população homogênea, sem espaço para a permanência dos índios como grupo diferenciado. Reservava, porém, lugar de destaque aos nativos no passado da jovem nação. Apesar de significativas divergências, prevaleceu entre os intelectuais envolvidos na construção da identidade nacional a proposta de atribuir aos índios importante papel no momento fundador do Brasil, simbolizado na sua união com os portugueses.
Ao abordar o lugar dos índios na história do Brasil contemplando diferentes conjunturas, interesses e agentes, Regina Celestino oferece ao leitor uma importante iniciação na temática. Após a leitura, ficará evidente que não se trata apenas de perceber as histórias específicas de diferentes grupos nativos, certamente importantes, mas de considerá-los agentes fundamentais no processo de construção da sociedade colonial e pós-colonial. Apesar de terem enfrentado situações extremamente difíceis e uma série de restrições jurídicas e sociais, eles ajudaram também a delinear os limites e possibilidades daquelas sociedades.
Notas
1 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003. [ Links ]
2 MONTEIRO, John. Tupis, tapuias e historiadores: estudos de história indígena e do indigenismo. Tese (Livre Docência em Antropologia) – Universidade Estadual de Campinas. Campinas (SP), 2001, p.58. [ Links ]
3 THOMPSON, Edward P. Senhores e caçadores: a origem da lei negra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p.358. [ Links ]
Elisa Frühauf Garcia – Professor Adjunto da Universidade Federal Fluminense. Centro de Estudos Gerais, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Campus Gragoatá. Bloco O, 5º andar, Gragoatá. 24210-350 Niterói – RJ – Brasil. E-mail: elisafg@terra.com.br.
[IF]Subsistência e poder: a política do abastecimento alimentar nas Minas setecentistas – SILVA (RBH)
SILVA, Flávio Marcus da. Subsistência e poder: a política do abastecimento alimentar nas Minas setecentistas. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008. 293p. Resenha de: BASSO, Rafaela. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30, n.60, 2010.
Subsistência e poder: a política do abastecimento alimentar nas Minas setecentistas, escrito por Flávio Marcus da Silva, traz uma contribuição significativa para o campo da historiografia sobre Minas Gerais colonial, na medida em que analisa a dinâmica do abastecimento alimentar na região no século XVIII, a partir de uma perspectiva política. Nesse sentido, a proposta do historiador é atentar para as diferentes estratégias empreendidas pela Coroa Portuguesa para garantir o acesso da população aos gêneros alimentares de primeira necessidade e evitar qualquer desordem pública. Porém, acreditamos que essa não é a única importância da obra, uma vez que o estudo desenvolvido por ela perpassa várias instâncias da sociedade mineradora, buscando decifrá-la e repensá-la não só no âmbito geral da política e da economia, mas também no cotidiano, através do estudo da alimentação. Vejamos por quê.
O problema da instabilidade do mercado de víveres, no que diz respeito ao suprimento regular da população, era frequente em várias regiões da América Portuguesa. Ainda mais na sociedade mineira, que nesse período estava em seus primórdios e sem estrutura para receber o contingente de pessoas que para lá migravam, vindas de várias partes, inclusive da metrópole, em busca de ouro e pedras preciosas. Não foram raros os problemas referentes à escassez, à má qualidade e à carestia dos gêneros alimentares, os quais afligiam a população dessa região na primeira metade do século XVIII e geravam conflitos com as autoridades locais. Esses conflitos criavam um ambiente propício para a sublevação dos povos, o que de fato ocorreu algumas vezes no período. O livro analisa, portanto, a questão do abastecimento, cujo papel era fundamental para garantir
o êxito da administração na região e também para aquietar a população. Para se embrenhar nas tessituras da cultura política metropolitana, o his toriador revisita obras de autores como Adam Smith, E. P. Thompson, John Bohstedt, Adrian Randall e Andrew Charlesworth, que também se dedicaram ao estudo das políticas intervencionistas no âmbito do abastecimento alimentar. Esse debate forneceu ao autor acesso a conceitos explicativos, tal como o de economia moral extraído da obra A economia moral da multidão inglesa no século XVIII, de E. P. Thompson. Nesse trabalho, o historiador inglês aponta como as intervenções do poder público na comercialização de gêneros de primeira necessidade na Inglaterra moderna foram resultado de uma série de motins da população contra a fome generalizada no período. De acordo com Thompson, as revoltas eram motivadas por uma visão “consistente tradicional das normas e obrigações sociais, das funções econômicas peculiares a vários grupos da comunidade, as quais, consideradas em conjunto, podemos dizer que constituem a economia moral dos pobres”. Tal postura estaria relacionada com noções que a comunidade tinha sobre o que era direito e dever do Estado, as quais seriam legitimadas por antigas tradições.
Deve-se ressaltar que essa categoria analítica será reavaliada por Flávio Marcus da Silva, tendo em vista dar conta da especificidade da realidade colonial de Minas. Para ele, o conceito deve ser mais abrangente a fim de esmiuçar
o equilíbrio de forças estabelecido entre governantes e classes populares, mediante um acordo implícito para garantir o cumprimento das obrigações sociais. Nesse ponto entra em cena a teoria corporativa do Estado, de António Manuel Hespanha. De acordo com essa teoria, a sociedade portuguesa – incluindo também suas possessões coloniais – deveria ser entendida como um organismo onde cada indivíduo tinha uma função para o bom funcionamento do corpo social e político. Nesse sentido, o soberano ocupava a posição da cabeça do “corpo”, cuja função deveria ser a de garantir o cumprimento da justiça mantendo a ordem e a harmonia dentro de seus domínios.
O uso dessas noções, em seu arcabouço teórico, permitiu a Flávio Marcus da Silva analisar as seguintes estratégias empreendidas pela Coroa para sanar os problemas advindos da crise de subsistência: a concessão de terras para a agricultura, a taxação dos gêneros de primeira necessidade, a fiscalização dos pesos e medidas, bem como a preocupação com a manutenção das estradas. Por desenvolver essa análise, acreditamos que o autor se propõe a romper com interpretações que, através de uma perspectiva política, trabalham com a dicotomia entre colonizadores e colonizados, como se não houvesse interesses comuns entre ambas as partes. Tais interpretações seriam advindas de uma visão que entende a colonização portuguesa somente como um vasto empreendimento predatório, voltado a explorar a colônia para atender os interesses da Coroa, sejam eles econômicos, políticos ou religiosos, entre outros. O historiador, por sua vez, quer trabalhar de uma nova maneira a relação entre colônia e metrópole, pois a pesquisa por ele desenvolvida o levou à elaboração da tese de que uma das preocupações centrais da administração em Minas era garantir a subsistência dos povos.
Nesse contexto não podemos deixar de mencionar que Flávio Marcus da Silva não se centra apenas nas ações das autoridades, pois ele nos possibilita visualizar a atuação dos mais diversos agentes históricos envolvidos, desde a produção e a circulação até o consumo dos alimentos. O que nos chama atenção é a negociação desses sujeitos com as autoridades e as relações sociais mantidas entre ambas as partes. De acordo com o autor, os habitantes de Minas perceberam que uma vez o Estado estando estabelecido por aquelas partes, sua obrigação seria garantir a subsistência da população. Além do mais, havia a noção da vulnerabilidade do aparelho administrativo metropolitano e o temor de que a população se amotinasse contra a falta de víveres. As autoridades, desta forma, não poupariam esforços para evitar conflitos, pois haveria o receio de que esses fossem duradouros, a ponto de ameaçar a estabilidade do controle sobre a área.
O que se pretende mostrar é a ação dos mais diversos indivíduos pressionando as autoridades por meio de ameaças, protestos e pequenas sublevações, a fim de que atitudes fossem tomadas com relação ao problema do abastecimento alimentar. Mesmo que na maioria dos casos as ações dos moradores não objetivassem solapar o domínio dos portugueses na região e sim firmar as bases legítimas desse domínio, sua postura política não pode ser deixada de lado, uma vez que demonstram a capacidade do povo de se organizar e defender seus interesses. Nessa proposta, Flávio Marcus da Silva analisa ainda o papel de indivíduos que, de certa forma, representaram um empecilho para o estabelecimento eficaz das políticas de controle sobre a dinâmica do mercado alimentar, tais como proprietários de terras, quilombolas, mercadores, negras de tabuleiro e atravessadores.
Podemos propor que o livro, além de trazer um olhar inovador sobre a política colonial empreendida em Minas, também traz contribuições no que diz respeito à maneira como aborda a economia local. O autor, influenciado por trabalhos que buscam repensar o papel da economia interna dentro da sociedade colonial,1 relativiza algumas ideias consagradas acerca da pobreza da Capitania, a qual estaria ligada ao exclusivismo da extração mineral e à lógica externa desse setor econômico. Dessa forma, ele se opõe à interpretação que relega para segundo plano a estrutura produtiva interna e a comercializa ção alimentar da região, preocupando-se em acompanhar o dinamismo da produção e do comércio interno. Para tanto, o diálogo com obras mais recentes sobre a historiografia de Minas Gerais2 é também fundamental, visto que elas apontam para uma diversificação desses setores, através de uma rede de abastecimento que procurava atender a demanda crescente dos moradores da zona aurífera. Contexto este que existia desde o início dos Setecentos, contrariando a imagem consagrada em outros estudos, segundo a qual a produção alimentar só teria ganhado espaço com a crise da mineração, no final do XVIII.
Ademais, acreditamos que a importância da obra Subsistência e poder reside no fato de que nela a alimentação é utilizada como chave para o entendimento das relações estabelecidas entre colônia e metrópole. Não é de hoje que a alimentação tem chamado atenção dos historiadores. Tal interesse veio se desenvolvendo desde o início do século passado, porém esse campo ainda é muito recente e pouco explorado pelos historiadores brasileiros. Acreditamos que ao trabalhar na perspectiva da História da Alimentação, a obra de Flávio Marcus da Silva é uma das contribuições que surgiram nos últimos anos para suprir essa lacuna.
O autor, ao se mover nessa perspectiva, faz uso dos mais variados enfoques para adentrar seu objeto de estudo, tais como o econômico, o social e o cultural. A presença do primeiro se manifesta na medida em que Flávio Marcus da Silva se preocupa com os problemas referentes à economia de subsistência e à sua dinâmica interna, abrangendo desde a produção até o consumo dos alimentos e sua comercialização com outras partes. O enfoque social se faz presente, visto que são abordados no livro os temas da fome e da desordem social, provenientes dos problemas de abastecimento, bem como a questão da atuação “estatal”, cujo objetivo era sanar o problema através de políticas públicas. Quanto ao enfoque cultural, apesar de não ser uma preocupação do autor e de infelizmente ser o menos explorado pelos trabalhos na área de História da Alimentação, visualiza-se sua presença ainda que tímida no livro, pois temos alguns indícios do cotidiano desenvolvido em torno da alimentação. O autor nos fornece um panorama dos hábitos alimentares daquela região, mostrando alimentos consumidos, bem como alguns de seus usos.
A obra Subsistência e poder de Flávio Marcus da Silva traz várias contribuições para os estudos históricos sobre Minas Colonial, na medida em que reflete sobre aspectos da colonização portuguesa empreendida naquelas terras. Dentre esses aspectos destaca-se a oposição à ideia de pobreza generalizada, decorrente do exclusivismo da indústria mineradora. Tal exclusivismo teria consumido todos os esforços dos colonos e relegado a produção dos gêneros de subsistência para um segundo plano. Além de apontar a importância desta última produção para o mercado interno, o autor apresenta outra face da colonização, diferente daquela intransigente e alheia aos problemas que afetavam a população. Nesse sentido, ao buscar penetrar na sociedade mineira partindo das tensões que a constituíam, ele move constantemente as fronteiras do econômico, do político e do social, apresentando um estudo revelador de toda uma complexa rede de relações que permearam tal sociedade.
Notas
1 Dentre essas obras podemos citar os trabalhos pioneiros de LINHARES, Marie Yeda. História da agricultura brasileira, combates e controvérsias. São Paulo: Brasiliense, 1982; [ Links ] e de LAPA, José Roberto do Amaral. Economia colonial. São Paulo: Perspectiva, 1973, [ Links ] bem como outros que os seguiram, como o de FRAGOSO, João. Homens de grossa ventura: acumulação e hierarquia na praça do Rio de Janeiro 1790-1830. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. [ Links ]
2 GUIMARÃES Carlos Magno. Uma negação da ordem escravista: quilombos em Minas Gerais no século XVIII. São Paulo: Ícone, 1988; [ Links ] FURTADO, Júnia. Homens de negócio: a interiorização da metrópole e do comércio nas Minas setecentistas. São Paulo: Hucitec, 1999; [ Links ] e MENESES, José Newton Coelho de. O Continente rústico: abastecimento alimentar nas Minas Gerais setecentistas. Diamantina (MG): Maria Fumaça, 2000. [ Links ]
Rafaela Basso – Mestranda da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Departamento de História. Rua Cora Carolina, s/n – Campinas – SP. E-mail: rafaelabasso28@gmail.com.
[IF]Cultura escrita: séculos XV a XVIII – CURTO (RBH)
CURTO, Diogo Ramada. Cultura escrita: séculos XV a XVIII. Lisboa: ICS, 2007. 438p. Resenha de: DURAN, Maria Renata da Cruz. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30, n.60, 2010.
O livro Cultura escrita: séculos XV a XVIII, de Diogo Ramada Curto, é categórico em sua proposta: “orientado analiticamente … desafia toda e qualquer forma de modelação dos sistemas de comunicação, visando trazer para o centro da análise a instabilidade criativa que se encontra presente na intervenção de cada agente (autores, impressores, mecenas, censores, leitores, etc.)” (p.12).
Seu autor, professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, na Escola dos Altos Estudos, nas universidades de Brown e Yale, no King’s College e no Instituto Universitário Europeu, funda a proposta ora apresentada na prerrogativa de que “tais estruturas podem ser vistas como definindo lugares onde se enraízam regimes de práticas” (p.14). Tal constructo nos é apresentado por meio de 12 capítulos, dispostos segundo uma lógica em que as fontes de pesquisa, a noção de história, os agentes do processo, seu modo de produzir e seu tipo de produção são concatenados em textos já conhecidos do público europeu, seja por meio de palestras ou de artigos. Separados, em sua escrita, por cerca de dez anos, os ensaios serão abordados pontualmente.
No primeiro capítulo, intitulado “Gravura e conhecimento do mundo em finais do século XV”, Curto procura abstrair do estudo do modo de produção dos livros que circularam na Alemanha, na Itália e na Península Ibérica a longevidade da combinação entre textos e imagens impressas, e as interferências entre a forma de transmissão de uma mensagem e o sentido dos conteúdos transmitidos.
No segundo capítulo, “A língua e a literatura no longo século XVI”, o foco são as “questões que supõem a possibilidade de determinar a vitalidade do uso social de uma língua” (p.58), por meio de um estudo sobre o estabelecimento de hierarquias em luta pela imposição de discursos legítimos.
No terceiro capítulo, “Historiografia e memória no século XVI”, o autor se volta para a corte de d. João II, propondo uma sondagem acerca da genealogia das obras no âmbito cotidiano e ordinário de sua existência.
No quarto capítulo, “Orientalistas e cronistas de Quinhentos”, Curto pretende demonstrar o vínculo entre feitos e obras a partir de um sentido comum, por ele afixado nas lógicas de família e de parentesco.
No quinto capítulo, “Uma tradução de Erasmo: Os louvores da parvoíce“, Curto reproduz palestra proferida no colóquio “Erasmo na Cultura Portuguesa”, realizado pela Academia de Ciências de Lisboa em maio de 1987.
No sexto capítulo, “Uma autobiografia de Seiscentos: a Fortuna de Faria e Sousa”, o autor repassa a figura do bricoleur, apontando registros autobiográficos, discursos confessionais, relatos picarescos e memoriais de serviços como interessantes fontes de pesquisa para o estudo dos homens de letras. Para mais, recorre à noção de tomada de consciência para traçar o percurso e distinguir a consciência de si de homens como Faria e Sousa.
No sétimo capítulo, “Grupos de rapazes, violência e modelos educativos”, o descentramento em relação aos processos de organização social, a valorização da esfera privada e o fim de “uma determinada concepção de espaço público” compõem o texto.
No oitavo capítulo, “Mercado e gentes do livro no século XVIII”, Ramada Curto é diligente, procurando nos arquivos notariais, comerciais e religiosos as referências pessoais das “gentes do livro” residentes em Portugal. O que o autor, outrora editor da coleção Memória e Sociedade da Difel portuguesa, acompanha são as mudanças na forma de trabalhar do escritor ocidental, o que encontra é o estabelecimento de uma relação com um público alargado e com novos tipos de mecenas.
No capítulo nono, a presença da corte portuguesa nos domínios da cultura escrita lhe permite traçar sua noção de iluminismo. Com “D. Rodrigo e a Casa Literária do Arco do Cego”, apresentam-se “numa lógica de relações claramente cortesãs” as tensões de uma época em que coabitavam figuras como d. Rodrigo e Pina Manique, protagonistas do excerto.
No décimo capítulo, “Literaturas populares e de grande circulação”, o historiador português prossegue na companhia dos documentos notariais, mas, agora, sai das casas e vai para as ruas, procurando valorizar o espaço urbano “a partir dos significados atribuídos a cada espaço particular, bem como às suas respectivas relações” (p.299).
Em “Notas para uma história do livro em Portugal” e em “Da tradição bibliográfica à história do livro” o autor problematiza as pesquisas lusófonas sobre o livro. Primeiro apontando a subalternização da produção e da divulgação de novos conhecimentos em função da cristalização de algumas explicações; depois, afirmando que suas observações têm “a ambição exclusiva de poder funcionar como guia crítico de futuras investigações” (p.414).
Nessa construção de uma “história dos sistemas de conhecimento imperiais” tendo em vista o modo como nela se desencadearam “novas perspectivas em relação ao estudo da cultura escrita” (p.17), Curto procura orientar seu pensamento a partir de dois modelos historiográficos: o de Lucien Febvre, com seu Rabelais “vivendo numa época cujas estruturas mentais não lhe permitiam pensar sequer no problema da descrença”, e o de Carlo Ginzburg, com seu Menocchio “que, uma vez interrogado pelos inquisidores, demonstrava a sua originalidade em fabricar uma visão própria do mundo” (p.14). Não se trata, todavia, de optar por um desses rumos, mas, sim, de “reforçar um ponto de vista capaz de explorar as diferentes dinâmicas sociais presentes mesmo quando se trata de sociedades altamente hierarquizadas e caracterizadas – como sugeriu Vitorino Magalhães Godinho – por diversos bloqueios” (p.15).
Do mais, que Ramada Curto traga novas questões e novas fontes para enriquecer o estudo dos domínios da cultura escrita é tão certo quanto sua proposta de movimentar a historiografia lusófona. Acerca dessas provocações e do lançamento de Cultura imperial e projetos coloniais (séculos XV a XVIII), editado pela Unicamp em 2009, deu-se um encontro ocorrido no dia 23 de outubro de 2009, no IFCH da Unicamp, aqui descrito para melhor esclarecer o lugar do autor na historiografia contemporânea.
No encontro, Silvia Hunold Lara apresentou e Alcir Pécora debateu um texto de Ramada Curto pautado pela discussão do barroco, da cultura letrada e do período compreendido entre o final do século XVI e o início do XVII. Em sua fala, o historiador português ponderou que a assistência teria contato com uma visão estrangeira de sua terra e, então, anunciou a pretensão de analisar um “conjunto de atitudes” capaz de desenhar uma autorrepresentação da época à luz dos seus “diversos contextos pertinentes”.
A arguição de Alcir Pécora distinguiu o ardil de Curto: cria-se no seu tipo de historiografia um inventário calculado que dissolve lugares comuns, mas que, ao mesmo tempo, esquiva-se de polêmicas. Ramada Curto respondeu mencionando a necessidade do historiador de buscar novas fontes e de tirar das mais comuns o estatuto absoluto por elas alcançado, não para desautorizá-las, mas para avançar com a pesquisa – no que evoca Irving Leonard, afirmando a prerrogativa de se fugir às totalizações para não perder as distinções.
A réplica de Pécora foi enfática – “Mas seu texto não responde o que pergunta!” –, no que Curto se explicou descrevendo a própria formação: lecionou uma Sociologia da Literatura Brasileira em universidades norte-americanas; aprendeu, na juventude, a ideia de mosaico; participou da efervescência francesa sobre o estudo do fragmento (o que considera um privilégio). Em Portugal, tomou lições sobre o neolusotropicalismo e aprendeu a manter o discurso sobre as colônias “a panos quentes”. Em seguida, Ramada Curto afirmou que sua intenção não é tanto fazer uma proto-história, quanto ressaltar os contrastes de cada época para dar a ideia de sua dinâmica, tendo em vista que “uma cultura deve ser vista a partir de seus fragmentos e em relação a um conjunto de práticas que envolva pessoas concretas”. Alcir Pécora não expressou convencimento ou concordância. Os espectadores, inquietos, passaram a perguntar.
Laura de Mello e Sousa foi a primeira, indagando sobre sua proximidade com Nathalie Zamon Davies na obra “A ficção no arquivo” e sobre sua opinião acerca de uma construção literária que permite o tipo de história que ela detectava nos livros do historiador português.
Para responder, Curto citou Naipaul, se disse longe de Davies e afirmou sua posição como a de alguém que busca na realidade, e não na ficção, os seus recursos. Concluiu essa resposta recomendando a leitura de Pierre Chaunu para os espectadores mais jovens.
Silvia Hunold Lara, brincando com a expressão de Pécora sobre o texto de Curto – “uma muralha” –, refere-se a ele como um mar, cujos vagalhões vêm na forma de notas de rodapé e onde as correntes têm maior importância que a desembocadura. Para ela, Sérgio Buarque de Holanda é correnteza subterrânea nesse mar, no que um aceno de Ramada Curto nos faz crer que estava certa.
Iris Kantor assinalou que não apenas os historiadores portugueses não conhecem a bibliografia brasileira, como os brasileiros não conhecem a historiografia portuguesa; que talvez esse seja um problema geracional, mas que ele só tem aumentado. Menciona a ideia de uma geografia política de intelectuais e pede que Ramada Curto se localize ali.
Ramada Curto enunciou Pierre Vilar a propósito do que colocou como uma de suas principais perguntas: “Como pensar a nação?”. Depois, descreveu suas preocupações acerca do desconhecimento da historiografia e, sobretudo, das fontes históricas assinalando, relutante, que as bibliotecas e arquivos possuem muito mais manuscritos guardados que catalogados, e que, destes, “basta que a ficha seja roubada, para se perder a memória do mesmo”.
Faço uma pergunta: de onde vem e para onde vai a ideia de uma tomada de consciência em sua obra? Ele responde: vem de uma tradição marxista e da necessidade, no momento em que vivemos, de suscitar ideias como essa. Daí por diante, entre fragmentos dispersos, tais como algo sobre a impossibilidade de classificar o passado, mas buscando conferir se seus agentes o fazem, recordo que Ramada Curto, respondendo a uma reivindicação de Pécora sobre sua metodologia, assinalou: “Não digo isso no próprio texto porque não posso estar sempre a dizer das regras do jogo que estou a jogar”.
Maria Renata da Cruz Duran – Doutora pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Quadra 02, Bloco L, 7º andar Brasília – DF. E-mail: mrcduran@bol.com.br.
[IF]Um nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista, 1945/1966 – FONTES (RBH)
FONTES, Paulo. Um nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista, 1945/1966. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2008. 436p. Resenha de: DUARTE, Adriano Luiz. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30, n.60, 2010.
Um nordeste é desses livros raros que arejam nossas ideias, ampliam nossos horizontes e abrem inúmeras janelas à reflexão. Areja nossas ideias por nos mostrar que devemos pensar a história social e política da cidade de São Paulo considerando o impacto das migrações internas, nos últimos 60 anos. Nesse período, aproximadamente 38 milhões de pessoas saíram do campo em direção às áreas urbanas, e seu principal destino era a cidade de São Paulo. A capital paulista triplicou seu tamanho, enquanto sua população de origem nordestina cresceu dez vezes. Entre 1950 e 1960, a cidade recebeu 1 milhão de migrantes, representando 60% do seu crescimento. Em 1970, o censo apontava que “70% da população economicamente ativa na cidade havia passado por algum tipo de experiência migratória” (p.46).
Norte, Nordeste, nordestino, como mostra o autor, são categorias genéricas que se referem a diferentes lugares, origens e experiências. No entanto, ao chegar à cidade de São Paulo, as diferenças eram esquecidas e todos se tornavam “baianos”. Ser “baiano” tinha uma implicação cultural e étnica, cuja função era, principalmente, marcar a sua diferença em relação aos moradores mais antigos: “[nordestinos] são essas pessoas morenas e de pele mais escura que não eram como nós” (p.78). A migração nordestina cruzava dois elementos bastante explosivos: a origem racial e o baixo grau de instrução. Pesquisas discutidas com muita propriedade por Paulo Fontes mostram que, em 1962, 60% dos trabalhadores que migravam para a capital paulista eram analfabetos (p.64). Não demorou muito para que “os nordestinos” fossem responsabiliza-dos pelas mazelas do crescimento urbano desordenado da cidade: a debilidade dos serviços públicos, o crescimento da criminalidade, a expansão de cortiços e favelas.
A segregação era tanto espacial quanto social e cultural. Uma pesquisa realizada entre universitários paulistas, em 1949, revelou que um em cada três não considerava a hipótese de matrimônio com “baianos ou nortistas” (p.69). Por isso é possível dizer que a identidade de muitos bairros paulistanos, nas décadas de 1960 e 1970, está profundamente marcada por certa percepção dos “nordestinos” como o lado obscuro do progresso: sua presença seria o preço a pagar pelo desenvolvimento. Junte-se a isso a violenta segregação espacial do processo de urbanização da cidade. O seu “padrão periférico de crescimento urbano” – que reservava áreas vazias próximas ao centro da cidade para especulação imobiliária – alterou completamente o cenário. Os trabalhadores foram paulatinamente expulsos das áreas centrais e de industrialização antiga e forçados a se deslocar para áreas periféricas desprovidas de serviços urbanos como água, luz, esgoto, correios etc. Esse processo desencadeou o fenômeno da autoconstrução, que marcou fortemente o cenário suburbano. Segundo Paulo Fontes, em 1980 calculava-se que 63% das moradias na grande São Paulo haviam sido construídas desse modo. São Miguel Paulista, a “Bahia Nova”, foi um exemplo: de um vilarejo com 7 mil habitantes em 1940, chegou a 140 mil em 1960. Mas a autoconstrução supunha a inestimável ajuda de parentes e amigos expressa no mutirão, fortalecendo os laços de solidariedade e consolidando a identidade de moradores e trabalhadores.
Um nordeste em São Paulo amplia nossos horizontes ao mostrar que não era apenas de segregação, isolamento, baixos níveis educacionais e “barbarismo” que se fazia a epopeia da migração nordestina para São Paulo. Solidariedade talvez seja o substantivo que melhor define as múltiplas redes que conectavam os migrantes. Começando pelo simples fato de que sair do Nordeste pressupunha um contato prévio na cidade grande. Ou seja, o processo de migração não era, de modo geral, desordenando e desprovido de planejamento. Era escolha racional, assentada numa cuidadosa teia de contatos que facilitava a decisão de partir, ajudava na viagem e no processo de adaptação na cidade. Essas “redes” forjavam as relações de vizinhança e alcançavam o interior das fábricas, chegando sólidas aos partidos políticos. Elas foram fundamentais para tecer uma identidade específica de trabalhador nordestino, identidade de classe, embora nem sempre suficientes para configurar uma comunidade.
A migração nordestina era fartamente descrita na imprensa como associada à ignorância, à violência irracional e à pobreza. Caracterizados como grosseiros e rudes, tinham sua “propensão natural à violência” atribuída ora à herança de um ambiente hostil e agressivo, ora a um estágio civilizacional inferior. Paradoxalmente, a imagem do “cabra-macho que não leva desaforo pra casa”, simbolizada pelo cangaceiro, foi largamente cultivada pelos migran tes como símbolo de coragem, força e determinação que os diferenciava dos sulistas. Porém, a reação mais comum diante das hostilidades que recebiam não implicava violência, mas a valorização da sua capacidade de trabalho – e, portanto, da sua identidade de operário – sob o argumento de que sem eles São Paulo não seria o que é.
Ao seu suposto atraso, responderam também com forte atuação política no pós-guerra. A despeito de suas ambiguidades, o PCB contou com forte adesão dos moradores de São Miguel e dos operários da Nitro Química. Sua popularidade expressou-se na célula Augusto Pinto, a maior célula comunista do estado, e nos mais de 35% de votos dados ao partido nas eleições para a Assembleia Legislativa, em janeiro de 1947. A cassação do registro legal do PCB pulverizou as fidelidades partidárias em São Miguel, embora não tenha arrefecido o envolvimento político no bairro. As agremiações partidárias saíram a campo para disputar o espólio do “partidão” – espólio eleitoral e organizativo. Adhemar de Barros e Jânio Quadros seriam os principais destinatários do voto operário em São Miguel. Mas não eram apenas os partidos políticos que disputavam a consciência dos operários: o Círculo Operário Cristão também contou com a adesão dos operários, embora – para tristeza dos circulistas – não pelas razões “certas”. A estreitíssima relação entre o Círculo Operário e a Nitro Química era vista com grande desconfiança pelos trabalhadores que o utilizavam como um clube, um espaço de lazer e assistência numa cidade profundamente carente de ambos, mas recusavam seu pacote ideológico.
A crescente repressão do governo Dutra e a cassação da direção do sindicato dos químicos levaram muitos militantes para as Sociedades Amigos de Bairro (SABs) que se tornaram os centros da chamada “luta pelo direito à cidade”. O golpe civil-militar de 1964 acentuaria os vínculos entre as SABs e os sindicatos, visto que muitos militantes e simpatizantes de esquerda se refugiaram nelas. Estabelecendo uma conexão entre as SABs e os chamados “novos movimentos sociais” surgidos na cidade no final da década de 1970, Paulo Fontes sugere que a existência de “uma longa e subterrânea tradição organizativa no bairro iria alimentar e ‘dialogar’ com esses novos militantes e organizações” (p.284). As SABs foram fundamentais também nas campanhas pela autonomia de São Miguel Paulista, movimento iniciado em 1962 e por três vezes derrotado. A primeira metade da década de 1960 foi marcada também pelo crescimento da ação sindical na Nitro Química e no bairro de São Miguel. A expectativa pelas “reformas de base”, prometidas pelo governo de João Goulart, mobilizou a população e desencadeou inúmeras greves. Mas esse período coincidiu também com uma profunda crise econômica na empresa, cuja resposta imediata foi o esvaziamento do famoso serviço social que ela mantiverapor mais de 30 anos. Às milhares de demissões, seguiu-se a deslegitimação do papel desempenhado pela empresa no bairro; assim, o ano de 1966 marcou o fim de uma era.
Um nordeste em São Paulo abre inúmeras janelas à nossa reflexão ao tomar com desassombro a decisão de lidar com o cotidiano operário, com a cultura popular, com as relações de gênero, as identidades étnicas, as formas de lazer e sociabilidade dos trabalhadores na chave das mais atualizadas abordagens sobre esses temas. Problematiza as relações entre campo e cidade, não apenas colocando sub judice uma versão tradicional que percebia a migração como a destruição dos vínculos de solidariedade, mas também mostrando que ela não significava, em geral, rompimento com o campo. O “problema” da comunidade, que emerge quando os historiados buscam a ampliação das análises da formação de classe para além do espaço fabril, é tratado com o devido cuidado, supondo a solidariedade não como uma consequência “natural” da proximidade geográfica, mas como resultado de um esforço humano deliberado e reatualizado cotidianamente, tanto nas redes de lazer quanto nas lutas. Comunidade emerge não como simples categoria teórica, mas como problema historiográfico a ser investigado. Um nordeste em São Paulo é leitura obrigatória não apenas para os historiadores preocupados com o problema da formação da classe operária no Brasil, mas para historiadores, sociólogos, antropólogos e outros preocupados em entender este misterioso lugar chamado Brasil.
Adriano Luiz Duarte – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Campus Trindade – Departamento de História. Av. Engenheiro Max de Souza, 620 – Florianópolis – SC. E-mail: adrianoduarte@hotmail.com.
[IF]













