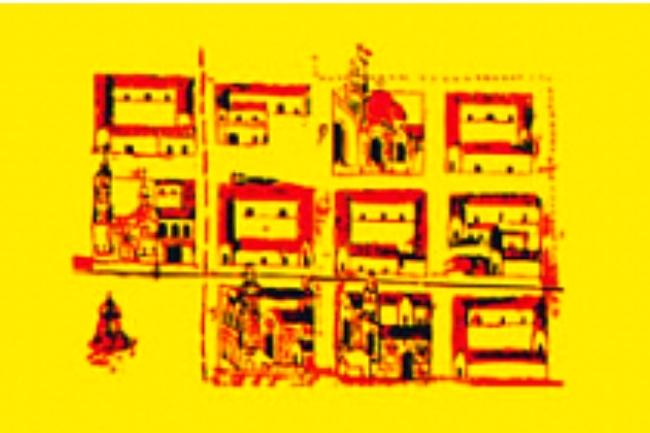Posts com a Tag ‘Religião’
Exploration/religion and Empire in the sixteenthcentury Ibero-Atlantic world: a new perspective on the history of modern Science | Mauricio Nieto
La era de los descubrimientos supusieron una transformación social y cultural del continente europeo, relacionada con la aparición de nuevos actores y su geografía. América, y su relación con Europa, produjo cambios estructurales. Dentro de este proceso, el conocimiento producido en el siglo XVI por cosmógrafos, pilotos, cartógrafos y cronistas fue fundamental para consolidar del proyecto imperial español sobre el Nuevo Mundo. El desafío más grande de tal expansión imperial y religiosa fue el problema de “controlar a distancia”. Este, que es esencialmente un problema de comunicación, no se puede pensar desde la historia de la ciencia sin referirse a la relación entre religión, exploración e imperio. Mauricio Nieto (2022) nos relata el proceso de conquista y expansión española como una empresa enfocada en la identificación y el control de una ruta para realizar el cruce atlántico de manera segura y consistente durante el siglo XVI. Esta empresa necesitó la creación de complejas redes tecnológicas e instituciones dirigidas a solucionar tal desafío, y a sostener el imperio y sus relaciones en los territorios de ultramar, dominando el mar con sus barcos. Leia Mais
Pandemia cristofascista | Fábio Py
Fábio Py | Imagem: CONIC
Quando o presidente de um país, cujos mandatários há décadas não ousam descuidar do eleitor religioso, precisando também lidar com uma crescente bancada evangélica, usa o termo “cristofobia” em discurso diante da Organização das Nações Unidas – ONU, é sinal de que a religião ali não pode ser um tema menor na escrita da História atual. Pelo menos desde as últimas duas décadas do século XX enchendo estádios, templos e urnas, o movimento evangélico no Brasil, todavia, tem participação no curso dos acontecimentos da nossa contemporaneidade desproporcional à atenção que lhe tem sido dedicada pela academia. O livro Pandemia cristofascista, do teólogo Fábio Py, pode ser visto como um alerta sobre o custo que temos pago pela falta de compreensão deste fenômeno.
Trabalho sucinto, cujo eixo principal é a análise da “unção” conferida ao presidente Jair Bolsonaro por líderes das maiores organizações evangélicas do país durante a semana da Páscoa de 2020, o opúsculo divide-se em quatro seções. São elas: introdução; histórico e crítica da Frente Parlamentar evangélica (mais conhecida como “bancada evangélica”); estudo do processo de construção de uma imagem santificada do presidente da República em meio à escalada da pandemia de Covid-19; e conclusão, onde o comportamento dos líderes religiosos que contribuíram para a minimização da crise sanitária de 2020 é criticamente contraposto ao que seria esperado de sacerdotes genuínos, segundo o livro bíblico Levítico. Leia Mais
Da direita Moderna à Direita Tradicional | Cesar Ranqueta Júnior
Cesar Ranqueta Júnior | Imagem: Unipampa
De autoria de Cesar Ranqueta Jr, o livro Da direita Moderna a Direita tradicional, publicado em 2019, tem duas ambições. A primeira delas é reconstituir historicamente o conceito de Direita, sistematizando argumentos e compilando autores que são ícones para sua fundamentação no mundo ocidental. A segunda é, a partir de uma análise dessa corrente de pensamento no Brasil, apresentar suas fragilidades, incongruências, antinomias e propor, a partir dessas análises, uma fundamentação teórica a ser seguida.
 O interesse do autor por essa questão tem como base uma dupla crítica que é por demais razoável em uma sociedade cada vez mais polarizada e marcada por uma naturalização de conceitos do campo da política. A primeira é a recusa aos autores filiados ao pensamento de direita, assim como às suas ideias nos círculos especializados de debate, implicando em seu desmerecimento. A segunda está na forma pela qual esses pensadores tendem a ser adjetivados: “fascistas” e “anacrônicos”. Para Ranqueta, esta última é uma clássica estratégia da esquerda em desmerecer seu maior rival ideológico. Para nós, trata-se de um problema de metodológica científica. Leia Mais
O interesse do autor por essa questão tem como base uma dupla crítica que é por demais razoável em uma sociedade cada vez mais polarizada e marcada por uma naturalização de conceitos do campo da política. A primeira é a recusa aos autores filiados ao pensamento de direita, assim como às suas ideias nos círculos especializados de debate, implicando em seu desmerecimento. A segunda está na forma pela qual esses pensadores tendem a ser adjetivados: “fascistas” e “anacrônicos”. Para Ranqueta, esta última é uma clássica estratégia da esquerda em desmerecer seu maior rival ideológico. Para nós, trata-se de um problema de metodológica científica. Leia Mais
Para a Glória de Deus, e do Rei? Política, religião e escravidão nas Minas do Ouro (1693-1745) | Renato da Silva Dias
D. João VI, Rei de Portugal | Detalhe de capa de Para a Glória de Deus, e do Rei? Política, religião e escravidão nas Minas do Ouro (1693-1745)
A obra em questão vem a lume dezesseis anos após a sua apresentação como tese de doutoramento em História, defendida pelo autor em 2004, na UFMG, sob orientação da professora Carla Anastasia. Nesse intervalo muita coisa se escreveu a respeito da história mineira no século XVIII.2 O trabalho de Renato da Silva Dias, Professor de História na Universidade Estadual de Montes Claros, não se preocupou em antecipar modismos e talvez por isso, recolocado no contexto atual, tenha preservado sua originalidade. Tributário da riquíssima historiografia que, nas décadas de 1980 e 1990, reescreveu a história de Minas Gerais no período colonial, Para a Glória de Deus e do Rei? explorou, em grande parte, as peculiaridades que tornaram a experiência mineradora um evento histórico singular no âmbito da América Portuguesa.
O tema investigado foi o das dimensões políticas do catolicismo luso penosamente imposto aos súditos de Minas. Em especial, Dias preocupou-se em avaliar de que forma a religião católica foi apropriada e reelaborada por africanos detentores de enormes diversidades étnicas, culturais, religiosas e políticas. Aprisionados na terra natal, traficados para a América Portuguesa e revendidos a senhores situados nos arraiais mineradores e em seus respectivos campos e currais, esses trabalhadores sofreram as consequências do escravismo colonial. Estilhaçados seus antigos vínculos e pertencimentos sociais, eles foram obrigados a adotar uma Leia Mais
La ciudad secular. Religión y esfera pública urbana en la Argentina | Roberto di Stefano
Detalhe de capa de La ciudad secular. Religión y esfera pública urbana en la Argentina
La ciudad secular. Religión y esfera pública urbana en la Argentina es una compilación realizada por Roberto Di Stefano, uno de los especialistas más destacados que tiene el país en historia de la iglesia y las religiones. Publicada en el marco de la colección ‘Las ciudades y las ideas’ de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, está compuesta por siete contribuciones hechas por historiadores de distintas universidades. La originalidad del tomo radica, por un lado, en aproximarse al vínculo entre religión y ciudad, y por otro, en hacerlo no solamente sobre Buenos Aires sino también sobre ciudades de posición intermedia como Córdoba o Santa Fe, e incluso algunas estrictamente periféricas como las del Territorio Nacional de La Pampa (hoy provincia). Los autores presentan trayectorias académicas particularmente orientadas a la investigación en historia de la iglesia y las religiones, e integran un equipo cofinanciado por el CONICET y la Agencia para la Promoción Científica y Tecnológica, cuyo objetivo más general radica en identificar los momentos en que el conflicto religioso se ubicó en el centro de la escena pública y la manera en que incidió en las inflexiones centrales de la historia argentina.1
La introducción presenta al lector el enfoque que encontrará en el conjunto del estudio. Di Stefano y José Zanca realizan una excelente síntesis de la historia de las prácticas religiosas proyectadas sobre el espacio público de Buenos Aires entre las invasiones inglesas de 1806-1807 y mediados del siglo XX. Sugieren que La ciudad secular abordará manifestaciones religiosas tensionadas por el proceso secularizador del mundo moderno, tomando como lente de observación al escenario urbano. Sobre esto último, bueno es señalar, como lo hace luego Ignacio Martínez en su capítulo, que la ciudad es en general concebida por los autores bajo la acepción material de lo público: espacios concretos, pero de fronteras simbólicas difusas, frecuentados por vecinos/ciudadanos motivados por la proyección de sus acciones para recepción de un otro.2 Leia Mais
This life: secular faith and spiritual freedom | Martin Hägglund
Martin Hägglung | Foto: SSE |
“You realize the sun doesn’t go down It’s just an illusion caused by the world spinning ‘round” — The Flaming Lips, “Do You Realize??” [1]
 Why aren’t there life expectancy protests? I asked myself this question often while reading Martin Hägglund’s This Life: Secular Faith and Spiritual Freedom, which begins with an atheistic confrontation with our mortality and builds toward a philosophical argument on behalf of democratic socialism. In some countries, and conspicuously in the United States, where I live, there are powerful correla- tions between wealth inequality and inequality of life expectancy. In some cases, the disparity in life expectancy stretches beyond a decade, equaling thousands of days of life. Writing in the New York Times in April 2020, David Leonhardt and Yaryna Serkez observed, “Rich and poor Americans used to have fairly similar lifespans. Now, however, Americans in the bottom fourth of the income distribu- tion die about 13 years younger on average than those in the top fourth.” [2] Why don’t we see organized political movements that target the link between wealth and longevity and protest the fact that without a strong system of socialized medicine, a healthy bank balance and secure employment are the only means to ensure not longevity—long life is never certain—but treatment for the injuries and diseases that cut life short? Why don’t we protest the fact that the wealthy tend, as a group, to live longer than the rest of us?
Why aren’t there life expectancy protests? I asked myself this question often while reading Martin Hägglund’s This Life: Secular Faith and Spiritual Freedom, which begins with an atheistic confrontation with our mortality and builds toward a philosophical argument on behalf of democratic socialism. In some countries, and conspicuously in the United States, where I live, there are powerful correla- tions between wealth inequality and inequality of life expectancy. In some cases, the disparity in life expectancy stretches beyond a decade, equaling thousands of days of life. Writing in the New York Times in April 2020, David Leonhardt and Yaryna Serkez observed, “Rich and poor Americans used to have fairly similar lifespans. Now, however, Americans in the bottom fourth of the income distribu- tion die about 13 years younger on average than those in the top fourth.” [2] Why don’t we see organized political movements that target the link between wealth and longevity and protest the fact that without a strong system of socialized medicine, a healthy bank balance and secure employment are the only means to ensure not longevity—long life is never certain—but treatment for the injuries and diseases that cut life short? Why don’t we protest the fact that the wealthy tend, as a group, to live longer than the rest of us?
One plausible answer is that life expectancy simply lags after food and shelter, not to mention other basic necessities, in most people’s hierarchies of needs. But even when we are fed and housed, length of life might be too abstract a matter to motivate protests. We need a specific threat to our collective health if we are going to rise up. Exemplary threats might include a government failure to clean up environmental contaminants, the closure of a much-needed hospital, or the state cutting aid programs. Longevity itself often seems too inchoate a thing, and perhaps too personal a matter, to rally people around. I suspect that the idea of life expectancy protests just sounds silly. Still, I ask my questions: if this mortal life is so important, why do we not get more collectively animated about the measure of our years and advocate so that each of us can live as long as is healthfully possible? And why isn’t inequality of life expectancy across class differences an issue to march over? To be clear, these are my questions, not Hägglund’s. His interest in mortality is not exactly about lifespan; it is instead about the way our mortality gives us (in his view) a powerful reason to commit ourselves to worldly projects while abandoning religion’s promise of salvation. According to the reli- gious imagination, he argues, mortal life derives its dignity from its relationship with immortal life. Hägglund wants us to instead see the end of life as the only horizon against which our lives can mean anything at all—not despite the vulner- ability, interdependence, and finitude of our lives but because of them. Through a series of engagements with literary, philosophical, and political readings (among them Søren Kierkegaard and Karl Ove Knausgaard, Karl Marx and Martin Luther King Jr.), Hägglund argues that the value of mortality lies in its power to make us choose the specific commitments that will define our temporal lives. In par- ticular, we should commit ourselves to overcoming capitalism, which forces us to sell our time piecemeal and keeps us from achieving the truer democracy we might have if we could make decisions about our own time. Where Hägglund’s insistence on commitment seems strongly influenced by Martin Heidegger, his arguments that mortality ought to lead us to democratic socialism are strongly influenced by Hegel and Marx. This Life is a passionately argued skein woven out of two strands of originally European thought: Existenzphilosophie and Marxism. Hägglund does not detain himself with the matter of those strands’ past conflicts but charges ahead to demonstrate how they might cooperate in the liberation of our personal and collective time.
In this review essay, I want to simultaneously express empathy for Hägglund’s account of mortality, sympathy for his argument on behalf of democratic social- ism, and deep doubts about his presentation of religion as an effort to transcend this world, which I think is historically underinformed, perhaps on purpose. But first I want to note something curious about his idea of “secular faith.” In asking us to treat our mortality itself as the source of revelatory experiences that compel us to reorganize our lives, Hägglund may ask for too much. Certainly, reminders of one’s mortality are a constant feature of life. I write this review essay during the COVID-19 pandemic, which has killed about half a million people worldwide as of late June 2020. The news recalls to us each day our mortal fragility and our literal ability to kill one another by transmitting a lethal virus. Because so many COVID-19 carriers are nonsymptomatic, we may not even know we’re doing it. But the news is still full of reports of people taking stupid risks by socializing in public without wearing masks. Even during less fraught times, it seems surprising that human mortality doesn’t motivate us more than it does. Many people have difficulty getting much Du mußt dein Leben ändern out of everyday reminders of aging, like grey hairs, wrinkles, and the chorus of “Mother’s Little Helper” by The Rolling Stones (“What a drag it is getting old”).[3] This is why I became so intrigued by the idea of life expectancy protests, an entirely counterfactual notion that would involve people organizing collectively in hopes of living a little (or a lot) longer, thus making our mortality into a feature of our politics. Hägglund hopes that entirely secular accounts of mortality, such as the one he offers, can motivate us to make radical change. As Knox Peden points out in a review of This Life, in Hägglund’s view, the question underlying any normative determina- tion we make is, “what should I do with my time?” [4] Hägglund describes himself gazing out at the landscape of his ancestral home in northern Sweden, seagulls flapping against the horizon. “The horizon” is one of Hägglund’s terms for our mortality, too, and the visible horizon is readily recruited as a figure for a limit to life, encompassed by the human gaze in a way that the totality of an individual’s experiences cannot be (200). But horizons are tricky. I borrowed this essay’s epigraph from the song “Do You Realize??” by the band The Flaming Lips; the song is about mortality and the ineluctable passing of life. But as the song sug- gests, human perspectives have their limits. The horizon isn’t really the edge of the world. The sun doesn’t actually go down—“It’s just an illusion caused by the world spinning ‘round.” The fact that life ends may occasionally fill us with a sense of urgency, but mortality can’t tell us what to do. The book opens with an image of the Hägglund family’s house on the Baltic sea: “The dramatic landscape—with its sweeping forests, ragged mountains, and tall cliff formations looming over the sea—is carved out by the descent of the ice from the last glacial period, twelve thousand years ago.” “The rocks under my feet are a reminder of the geological time in which we are but a speck,” Hägglund explains (3). Anyone who is familiar with Heidegger’s interest in landscape and place may feel a certain resonance. From there, Hägglund introduces his book’s core argument on behalf of “secular faith”: “To have secular faith,” he writes, “is to be devoted to a life that will end, to be dedicated to projects that can fail or break down” (5-6). Secular faith is juxtaposed against religious faith because, according to all religions, our finitude is a lack or imperfection that heaven or nirvana will eventually fix. The proper objects of secular faith are the kinds of things that would disappear without our effort: “the object of devotion does not exist independently of those who believe in its importance and who keep it alive through their fidelity” (7). To put this a bit differently, the essence of secular faith is personal commitment to norms and activities that we define and embrace consciously because they serve our needs and purposes. One obvious example is a marriage bond, which is supported by the secular faith of those wedded; another is the current wave of support for democratic socialism in the US, which is mani- fest in the rise of the Democratic Socialists of America after the 2016 presiden- tial election. To our freedom to choose what we embrace through secular faith, Hägglund gives the label “spiritual freedom,” as opposed to the merely natural freedom of animals like seagulls. All we have is secular faith, spiritual freedom, and the time of our lives itself.
“Secular faith” may seem plausible enough as a model for personal commit- ment and a principle on which to lead a life of worldly purpose, but there is a twist: much depends on how much freedom we retain to do anything besides committing ourselves. If Hägglund’s secular faith means that we have a kind of obligation, in the face of our mortality, to the particular style of valuation and commitment that his secular faith implies, then we aren’t fully free at all. And here the tone of Hägglund’s book is worth mentioning. If given only one word to describe it, I would choose “insistent.” He seems to enjoin the reader to embrace his mode of valuation, but I couldn’t help but experience the constant injunctions to involvement, attachment, and engagement as limiting rather than enhancing my spiritual freedom. Drawing energy and interest from worldly pleasures and human connections, as I do, does not make me think that they can be the sum of my freedom. I can, for example, find value in the very ascetic and world-tran- scending projects Hägglund seems to abhor. Or I can find value in things without naming them as substantial commitments worthy of a lofty term like “secular faith.” If I enjoy listening to pop music or baking bread, the way that I enjoy them matters; I like to do them without thinking to myself, “life is too short for this, I ought to be reading Kant.” Not all of our preferences and desires have much to do with the motif of authentic commitment implied by “secular faith,” and it isn’t obvious that activities are better for us when authenticity motivates and organizes them. “In the prison of his days / Teach the free man how to praise,” W. H. Auden wrote in “In Memory of W. B. Yeats,” but we prisoners do more than praise.[5] This is not our failure to commit but rather a sign of our greater emotional range. In a response to This Life, Robert Pippin noted that Hägglund seems to be asking for “a massive transformation of the emotional economy of the human soul.” [6] This is exactly right.
The book is in two parts. The first, which is titled “Secular Faith,” meditates on the implications of the idea of secular faith, in part through close studies of Augustine and Kierkegaard. The second, titled “Spiritual Freedom,” is more primarily concerned with our freedom in the world we share, and it contains an extended reading of Marx, focusing on the idea of human time as the source of all value, and the claim that this idea can set us free. The book concludes with a Hegelian reading of Martin Luther King Jr.’s activism as a form of “secular faith,” surprisingly (and for some, I imagine, offensively) against the grain of King’s self-presentation as a man of God whose activism—indeed, whose social- ism—was an extension of his ministry rather than in conflict with it. It is not so much religion itself that seems to trouble Hägglund as religion as the promise of otherworldly salvation, which he thinks distracts us from worldly engage- ment. In the midst of all this, he seems to argue that even religious faith must, in essence, be secular faith, essentially because we are temporal beings who are incapable of caring for anything (including redemption) that unfolds outside of time.[7] Hägglund’s readings of texts are nuanced and scholarly, and they include stirring meditations on the experience of time, a topic Hägglund has treated in previous works.[8] Especially notable is his examination of Knausgaard’s My Struggle, which he establishes as a response both to Augustine’s Confessions and to Marcel Proust’s In Search of Lost Time. Hägglund’s meditations on the way the fragility of our lives seems to demand care are often quite moving; reading him, I was sometimes reminded of Emmanuel Levinas, a student of Heidegger who constructed an ethics out of the vulnerability of other people.
In the second half of the book, Hägglund—through a prolonged reading of Marx—argues that capitalism is the form of life in which we fail to understand what really matters, which is our time itself. A crisis of value results from this, and the idea of freedom “demands that we overcome the social form of wage labor” (237). However, socialism alone does not resolve the problem because merely changing the way the fruits of our labor are distributed among us cannot resolve that crisis of value; it is democratic socialism that allows us to state our values and work together to understand what norms we should collectively share. That’s the utopian hope beneath This Life. Socialism, for Hägglund, is the eman- cipation of our time, which capitalism forces us to sell off and which religion, as the opiate of the masses, once encouraged us to simply give away. Indeed, Hägglund’s argument could be understood as a logical extension of Marx’s view that all criticism begins with the criticism of religion. Fredric Jameson called Marxism “the collective struggle to wrest a realm of Freedom from a realm of Necessity.”[9] Hägglund seems to hope that we can accomplish something similar, understanding mortality as the ultimate substrate of “Necessity.” Democratic socialism, Hägglund thinks, is the kindest and wisest answer to the brevity of life.
It is over the problem of secular versus religious faith that Hägglund often sacrifices nuance. Hägglund reduces all religious thought and experience to the devaluation of this world in preference of the next one. “To have religious faith,” he writes, “is to disown our secular faith in a fragile form of life” (52). As Peter E. Gordon has pointed out in his own review of This Life, even traditions that seem fixated on overcoming death through the salvation of the soul, such as Christianity, have more complicated histories than this suggests.[10] Christianity incorporates not only God’s incarnation in a mortal body but also the Divine experiencing finitude through the suffering of Christ, Jesus. “Even the eternal,” Gordon writes, “cannot remain unscathed.” The resulting attunement to mortal suffering has inspired many Christians to aid the poor and even to conceive of Christianity as having a special option for the poor. The Vatican contains many treasures, but Latin American liberation theologians like Gustavo Guittiérez have led a movement that speaks of wealth inequality as a systematic sin and calls for the faithful to push against that sin—and all this without rejecting the notion of salvation. Other examples abound in other traditions Buddhism, Islam, and Judaism all have their engaged, worldly activists. That Hägglund ignores this fea- ture of religion cannot be a sign that he is ignorant of it—liberation theology, for example, is quite well known—but perhaps it is simply inconvenient for his argu- ment. Or maybe Hägglund wants something that the history of religion seldom provides: a consistency between philosophical intention and worldly practice, a kind of total authenticity—something Heidegger also praised. For Hägglund, the deeds of religious charities are actions taken in bad faith, especially in light of do-gooders’ failure to abjure the world to come. Did I call Hägglund’s book “insistent”? Another word to describe it would be “devout.”
As Gordon also argues, Hägglund often appears to have elevated death to the status of an ens realissimum in the place of God. This, in turn, suggests that he still operates within the metaphysical structures (if not the content) established by Christianity, just as his tone and his key term “secular faith” suggest. This sheds light on the way the idea of “secular faith” seems to secularize an originally religious style of value-claim. I think this is a line of thought worth developing. Gordon seems to imply that Hägglund, for all his avowed atheism and material- ism, still has a tacit metaphysics, one in which there is still something transcen- dental (death, rather than God) that we grant dominion over our lives. This yields a rather flat picture of our moral universe and of our moral options. Since Hägglund writes as though his truth-claims simply outflank those of the religious, this sim- ply makes his truth-claims the inverse of the claims that religious orthodoxies use against unbelievers. This is secularism as dogmatism, so we are entitled to ask questions. I understand that, in Hägglund’s terms, it is because of death that our time seems to have value. But why should our eventual death be the measure of our actions in this life? Does this mean that those actions are not praiseworthy in and of themselves but are so only because they allow us to pursue our desired ends? I don’t think that Hägglund wants to open the door for a consequentialist morality, in which the value of our actions registers in their effects (he is too attached to the idea of the value of our will for this to be the case), but I found myself alert to the possibility. It’s odd when a tacit metaphysical argument opens the way to a form of consequentialism, but the history of philosophy has contained stranger things.
Hägglund seems to turn an is (our mortality) into something with the force of an ought. Or to reason through it more slowly, our mortality gives us a power- ful incentive to turn our various worldly desires, and especially what Hägglund suggests is our spiritual freedom to pursue them, into oughts. All normative determination, he tells us, should stem from our mortality, from our sense that life is too short. But again, mortality doesn’t tell us what’s right any more than it tells that to the seagulls. Perhaps more importantly, it isn’t clear that we’re at our best when dealing with the vertiginous prospect of our mortality; some clas- sic midlife recommitments are the equivalent of a flashy motorcycle or a poorly chosen affair. And sometimes invocations of mortality are a rhetorical cudgel. Life may be too short for bad coffee, but “life is too short for bad coffee” is still an advertising slogan.
What would life look like under Hägglund’s version of democratic social- ism? Although This Life doesn’t spell this out, it is clear that we would reorga- nize our means of production, and social reproduction, in ways that yield more freedom. It’s thus appropriate that late in the book Hägglund engages in a criti- cal reading of Theodor W. Adorno’s essay “Free Time.” [11] In this essay, Adorno observes that in the developed West, our free time has increased and seems likely to continue increasing; industrialization and technological change are the unnamed but implied lever of change. But Adorno finds free time on its own quite inadequate. He calls it “vacuous.” [12] For Adorno, real freedom isn’t just free time; it’s free time plus the material and social resources to pursue activi- ties that are ends in and of themselves rather than forms of consumer behavior. Real freedom isn’t defined by hobbies, however much I enjoy my bread baking or pop music listening (the former may, in fact, be what Adorno calls a “pseu- do-activity,” a parody of productive behavior).[13] Instead, it involves activities in which we have something personally at stake because in their fulfillment we recognize something of ourselves. At the end of his essay, Adorno claims to detect, in people’s pleasure at free-time entertainments, an element of disbelief or reservation. He hopes that this might be a sign of maturity (Mündigkeit) and the ability to eventually move from free time to freedom. As Pippin puts it, “What we need is not mere free time. In Hegelese that would be mere negative freedom within an insufficiently determinate institutional structure. Rather, we need socially significant and productive (and respected) work, loving rela- tionships and genuine mutuality.” [14] We need time, yes, but it takes more than time and free will to learn to recognize ourselves in our activities and through reciprocal relationships with our activity partners. Indeed, our finitude isn’t jus our mortality but our other personal limitations, and out of those limitations comes our need for other people. Taken to its fullest extension, an account of our interdependence might produce a picture of the human as simply not fully human outside of the polis, a current in philosophy that runs from Aristotle to Hegel and beyond.
Was I right, earlier in this essay, to say that there’s no such thing as a life expectancy protest? Yes and no. As I write this review, one particular political slogan is very much in circulation: “Black Lives Matter.” Although it’s true that people don’t organize politically in order to live longer or make equality of life expectancy their central issue, a concern for life and its fragility have stood behind the protests that have swept the US following the police killing of a Black man named George Floyd on 25 May 2020. The slogan “Black Lives Matter” is explicitly particularist rather than universalist (the universalist version is “All Lives Matter”) for good reason. Black Americans suffer disproportionately from violence, including at the hands of the police; because of the correlations between race and income distribution, they often have shorter life expectancies too. All this demands recognition. Solidarity in support of the struggles of Black Americans isn’t about the length of life, of course; Black Lives Matter isn’t a life expectancy protest. But it certainly involves protesting the unequal degree to which many Black Americans are exposed to violence, and violence is one way to make life itself an unevenly distributed good. This is one of the most remarkable waves of political protest this country has seen in support of Black lives, even as the COVID-19 pandemic rages. One must imagine Hägglund happy.
Notes
- The Flaming Lips, “Do You Realize??” by Wayne Coyne, Steven Drozd, Michael Ivins, and Dave Fridmann, track 9 on Yoshimi Battles the Pink Robots, Warner Brothers, 2002.
- David Leonhardt and Yaryna Serkez, “America Will Struggle After Coronavirus,” New York Times, 10 April 2020.
- The Rolling Stones, “Mother’s Little Helper,” by Mick Jagger and Keith Richards, track 1 on Aftermath, Decca, 1966.
- Knox Peden, “Philosophy in Troublous Times,” Sydney Review of Books, 26 May 2020.
- W. H. Auden, “In Memory of W. B. Yeats,” in The Norton Anthology of English Literature, ed. M. H. Abrams, 6th ed. (New York: W. W. Norton and Company, 1993), 2:2269.
- Robert Pippin and Martin Hägglund, “Limited Time: Robert Pippin and Martin Hägglund on This Life,” The Point, 22 May 2019.
- See Peden, “Philosophy in Troublous Times,”
- See, for instance, Martin Hägglund, Dying for Time: Proust, Woolf, Nabokov (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012).
- Fredric Jameson, The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1981), 19.
- Peter E. Gordon, “Either This World or the Next,” The Nation, 23 September 2019.
- Theodor W. Adorno, “Free Time,” in The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture, ed. J. M. Bernstein (London: Routledge, 2001), 187-97.
- Ibid., 191.
- Ibid., 194.
- Pippin and Hägglund, “Limited Time.”
Benjamin Aldes Wurgaft – Cambridge, Massachusetts.
HÄGGLUND, Martin. This life: secular faith and spiritual freedom. New York: Pantheon, 2019. 464.p. Resenhado por: WURGAFT, Benjamin Aldes. Seagulls! On MartinHägglund’s This life: secular faith and spiritual freedom. History and Theory, v.60, n. 1, p.177-184, mar. 2021. Acessar publicação original [IF].
Rites et religion à Rome – SCHEID (APHG)
SCHEID, John. Rites et religion à Rome. Paris: CNRS Editions, 2019. Resenha de: LAMNNAIS, Noémie. Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). 24 aoüt 2020. Disponível em: <https://www.aphg.fr/John-Scheid-Rites-et-religion-a-Rome-CNRS-Editions-Paris-2019>Consultado em 11 jan. 2021.
John Scheid, professeur émérite au Collège de France, responsable de la chaire « Religion, institutions et société de la Rome antique » de 2001 à 2016, est l’auteur de nombreux ouvrages qui ont marqué l’étude de la religion et de la pratique religieuse à Rome : Quand faire c’est croire. Les rites sacrificiels des Romains (2011) et Les dieux, l’État et l’individu. Réflexions sur la religion civique à Rome (2013). Depuis sa thèse d’État, publiée en 1990, Romulus et ses frères, la plus grande partie de son travail porte ainsi sur la religion et les rituels des Romains.
En 2019, John Scheid a publié un nouveau livre : Rites et religion à Rome aux éditions CNRS. Sa publication résonne avec la nouvelle question d’histoire romaine au programme de l’agrégation d’histoire : « Religions et pouvoir dans le monde romain de 218 av. J.-C. à 235 ap. J. C. ». Cela en fait un ouvrage intéressant pour les candidats aux concours. John Scheid offre au lecteur une analyse très fine sur l’univers rituel singulier de la Rome antique, en s’appuyant notamment sur les sources archéologiques, ce qui permet d’aller au-delà des sources littéraires, souvent reflets des élites. L’ouvrage de John Scheid a pour ambition d’abandonner l’approche traditionnelle du ritualisme romain qui vide les rites de leur sens. À la place, il offre une mise au point renouvelée et appuyée sur un corpus de sources diverses pour approcher au mieux « le rite qui constituait l’essence des systèmes religieux du monde gréco romain » (p.9).
La très riche introduction du livre propose d’utiles rappels historiographiques et étymologiques sur la place et le sens des rites dans la religion romaine.
Des pages 10 à 14, John Scheid offre une réflexion étymologique sur le mot ritus, dont le sens latin premier est difficile à percevoir, tant il a été dévoyé par le sens moderne. Il insiste sur l’apparente difficulté à traduire ce terme à cause de l’imprécision des dictionnaires. Si l’on suit Varron, il semble que « la notion de cérémonie religieuse, c’est-à-dire du rite au sens moderne, n’est pas contenue dans ritus, mais dans sacra ou des termes semblables (caerimoniae, religiones), et que ritus signifie « manière traditionnelle de faire, coutume » (p. 10). Le terme de « rite » est ainsi l’objet de discussions et de débats entre les historiens faisant émerger une opposition entre le rite de l’époque de Cicéron et le rite à l’époque primitive : le premier est assimilé à une idole ancienne, tandis que le deuxième est réalisé pour sa signification religieuse.
Dans la deuxième partie, intitulée « Rite et religion », John Scheid revient sur les changements historiographiques et plus précisément sur la construction d’une théorie générale de l’évolution religieuse faisant du rite un symbole vidé de son sens. Il commence par présenter les travaux des « primitivistes », alimentés par Georg Rohde notamment, qui ont pour point commun d’avoir évacué la question de la signification des rites vers l’époque primitive. Cette position, bien que combattue « en Allemagne par Walter F. Otto et ses élèves, ou par Karola Valhert, et en France par Georges Dumézil » (p.17), survit dans les études ultérieures de façon plus ou moins consciente. Il explique ensuite l’analyse évolutionniste proposée par Willima Fowler qui estime que le système rituel romain « était fossilisé et n’exprimait qu’un conservatisme exacerbé qui vidait la religion traditionnelle de toute substance » (p.18). À l’arrière-plan de cette théorie, on devine l’influence des théories romantiques, représentées par Ludwig Preller et Karl Otfried Müller, qui distinguent trois phases successives dans la formation de la religion romaine : la religion de la nature animée, l’institution par le roi Numa des règles cultuelles et une troisième phase introduite par les Tarquins et Servius Tullius. Dans cette théorie, les rites sont nés à l’époque la plus reculée de l’histoire romaine et ont perdu leur sens à mesure que se constituent les peuples.
Dans une troisième partie, John Scheid continue sa quête historiographique en interrogeant la primitivité du rite. Il présente donc l’analyse primitiviste de Kurt Latte qui conduit à une aporie : le problème du sens est renvoyé vers le passé, mais on le donne toujours vivant. Face à cette école, il y a la position des sociologues, représentée par James Ellen Harrison, qui va dans le sens d’une théorie symbolique des rites et du mythe. Cette approche très féconde, mais qui a connu un relatif échec à cause du mépris envers le rite, ouvre la « voie qui permet d’expliquer le ritualisme antique dans son présent historique, sans devoir projeter celui-ci dans les temps inaccessibles des origines en le privant ainsi de tout contenu spirituel » (p.25).
Dans la dernière partie, John Scheid revient longuement sur les travaux novateurs de Georges Dumézil, dont la « démarche a clairement rompu avec l’anti-ritualisme traditionnel » (p. 29), et ceux de Jean-Pierre Vernant, et de Walter Burkert. Les travaux de Georges Dumézil ont clairement révolutionné la perception et l’analyse du rite, grâce à son projet de recherche de structures idéologiques (trifonctionnelle ou non) « qui le poussait à accorder une grande importance aux actes et à leur interprétation » (p. 30). Dumézil conteste le fait que les Romains ne comprenaient plus du tout le sens de ce qu’ils faisaient, prenant le contre-pied de l’école primitiviste, en analysant en détail tout ce qui concerne le rite sacrificiel et le statut des animaux sacrifiés. Pour lui, « il existerait une homologie entre les énoncés des rites et ceux des mythes ou des théologies. Le rite ne transcrit pas le mythe, il n’est ni antérieur ni postérieur à celui-ci. Il existe à coté des récits […] » (p.33). On peut néanmoins s’interroger sur la capacité d’une société à conserver intacte pendant des millénaires la signification de ces rites. Les travaux de Dumézil sont rejoints par ceux de Jean Pierre Vernant sur le sacrifice grec, analysé comme un partage et constituant le groupe social tout en énonçant également le système des choses. Ces travaux ont participé au développement de l’anthropologie des images et donc des représentations des rites.
Ainsi, l’introduction de cet ouvrage, d’une très grande richesse, propose une mise au point scientifique bienvenue sur un sujet qui permet d’appréhender au mieux la piété romaine dans son ensemble. Il s’agit clairement de pages à lire et les candidats aux concours gagneront à s’en imprégner.
Plan du livre
La première partie du livre, intitulée « À la redécouverte du rite », dresse un tableau général des attitudes rituelles des Romains, ainsi qu’une explication du sens des rites. John Scheid rappelle que la religion des Romains est intrinsèquement différente des religions modernes, et non simplement « plus primitive ». Elle est différente parce qu’elle est fondée sur le rite, qu’elle n’exige aucune croyance explicite et conforme à une doctrine (p. 41). Toutes ces caractéristiques expliquent qu’il est plus pertinent de parler de « religions » au pluriel plutôt que de « religion » au singulier. Cette précision est utile pour les candidats aux concours puisque le sujet porte sur « les religions ». De fait, la pratique religieuse diffère en fonction du groupe social, de la cité, de l’unité militaire, de la famille, voire même du collège d’artisans. Il ne peut donc qu’être question de religions romaines et non de la religion romaine. Dans le deuxième chapitre, John Scheid cherche à savoir si un système religieux fondé sur le rituel peut générer des croyances, et si les rites des Romains avaient un sens pour eux mêmes. (p. 60).
Dans la deuxième partie, « Quand le geste compte », John Scheid défend l’idée d’une archéologie du rite en intégrant les avancées les plus récentes de l’archéologie dans ce domaine. De fait, les chances de voir apparaître un texte nouveau sont faibles, tandis que l’archéologie s’adapte aux nouvelles perspectives et permet d’apporter des témoignages neufs et consistants sur les ritualismes antiques (p. 86). John Scheid offre également une réflexion sur le ritus Graecus, perçu traditionnellement comme un nouveau rite et une nouvelle piété issue d’une influence étrangère qui aurait complètement transformé la religion traditionnelle. Néanmoins, cette analyse ne tient pas face à une étude attentive des sources, car « cette nouvelle manière de célébrer sacrifices et fêtes ne peut être ni dissociée du ritualisme romain, ni simplement rattachée au processus de l’hellénisation » (p. 98). De fait, les sources ne témoignent que de rites et d’une représentation traditionnelle des relations avec les dieux.
La troisième partie est celle qui pourrait intéresser le plus le candidat aux concours, puisqu’elle porte sur « Le rite, reflet de la hiérarchie sociale » à travers cinq chapitres qui rappellent les fondements du fonctionnement de la religion romaine : « Le sacrifice de l’animal et le système des êtres à Rome », « La mise à mort de la victime sacrificielle. À propos de quelques interprétations antiques du sacrifice romain », « Les offrandes végétales dans les rites sacrificiels des Romains », « Les espaces cultuels et leur interprétation », et enfin « Épigraphie et rituel. De quelques formulations ambiguës relatives au culte impérial ». Ces cinq chapitres enrichiront la réflexion de la relation entre « religions et pouvoir » en abordant l’organisation de la vie religieuse publique impliquant l’ensemble des citoyens dans la pratique rituelle, et sur les institutions civiques ayant contrôle et décision en matière religieuse. De fait, toute consommation de viande ou d’un végétal, organisée autour d’un banquet formel, était liée à un rituel de partage avec les dieux. Ces modalités sacrificielles donnaient pendant le sacrifice une illustration cohérente de la « hiérarchie « sociale » de ce monde-ci, et définissaient implicitement la nature de la divinité » (p.131). Enfin, les espaces cultuels offrent un témoignage intéressant des ces implicites du rite par leurs aménagements. L’intention de cette organisation est de représenter l’ordre des choses. Le dernier chapitre étudie l’épigraphie et les formulations relatives au culte impérial, chapitre qui sera d’une grande utilité pour les candidats. Les analyses de nombreuses sources dans cette partie permettront aux candidats de constituer une série d’exemples intéressants à reprendre dans la préparation du concours.
La quatrième et dernière partie s’interroge sur « Le culte dans le cadre privé » en articulant les pratiques collectives et personnelles dans le domaine religieux. Cette partie est composée de deux chapitres : « Les rites dans la famille des vivants » et « Contraria facere, faire le contraire de tout. Renversement et déplacements dans les rites funéraires ». Dans le cadre domestique, « c’est l’individu qui détient le pouvoir religieux et gère ces obligations qui en découlent » (p.193). John Scheid propose donc une analyse de ce pouvoir en revenant sur plusieurs étapes : le passage à l’âge adulte, le mariage, les vœux et le culte quotidien. Le dernier chapitre est réservé à l’attitude des Romains face à la mort, étudiée à l’origine dans une perspective évolutionniste et dont « la finalité consistait à éclairer l’apparition et le développement de la croyance à l’immortalité de l’âme » (p.233). Selon John Scheid, c’est une perspective qu’il faut dépasser en abordant l’attitude romaine face à la mort à travers le rituel funéraire et en mettant de côté l’idée de l’immortalité de l’âme, problème bien secondaire pour les Romains de cette période.
Conclusion
En définitive, le livre de John Scheid est essentiel pour qui s’intéresse à la religion romaine puisqu’il offre une description des principales conduites rituelles des Romains, mais aussi des réflexions sur le sens des rites dans la religion romaine. Il interroge également la manière dont il convient d’aborder les sources qui les décrivent. John Scheid livre une analyse des principaux rites romains, en commençant par les rites sacrificiels et leur arrière-plan théologique, dans le culte d’État et dans les cultes privés, en essayant aussi de démontrer, à l’aide des espaces cultuels, que tous les éléments du dispositif rituel entraient dans les sens transmis par les rites.
Enfin, ce livre intéressera tous les candidats aux concours de l’enseignement (CAPES et Agrégation) parce qu’il permet d’étoffer la réflexion sur la question d’histoire romaine « Religions et pouvoir dans le monde romain de 218 av. J.-C. à 250 ap. J.-C. (235 ap. J.-C. pour l’agrégation) ». Les différents chapitres explorent les interactions entre la religion publique, la religion privée, les différentes pratiques associées, et enfin les rapports des individus avec les dieux. La lettre de cadrage de la question mentionnant les « gestes pratiqués comme dans les relations codifiées, présidées et contrôlées par les magistrats et le sénat, sous la conduite des collèges sacerdotaux », il est donc important pour les candidats d’avoir une bonne connaissance de ce que sont concrètement les rites. Le glossaire et la bibliographie en fin d’ouvrage constituent des outils toujours utiles pour les candidats.
Noémie Lemennais – Professeure d’histoire-géographie au lycée Maxence Van der Meersch de Roubaix, doctorante en histoire romaine, HALMA – UMR 8164, Université de Lille.
[IF]Desarrollo non sancto: la religión como actor emergente en el debate global sobre el futuro del planeta | Adrián E. Beling, Julien Vanhulst
La presente es una reseña del libro titulado “Desarrollo Non Sancto: la religión como actor emergente en el debate global sobre el futuro del planeta” coordinado por Adrián E. Beling y Julien Vanhulst. Esta obra fue editada en la Ciudad de México por Siglo XXI en el año 2019 y tuvimos el agrado de participar en su presentación en la ciudad de Mendoza y compartir con uno de los coordinadores. Leia Mais
La revista Criterio y el siglo XX argentino. Religión/cultura y política | Miranda Lida, Mariano Fabris
A principios del siglo XX, a contramano de los discursos que aún resonaban contra la modernidad, el catolicismo argentino se fue adaptando a los tiempos que corrían y lo hizo a través de la apropiación de diversos formatos de organización y de comunicación. La revista Criterio y el siglo XX argentino. Religión, cultura y política coordinado por Miranda Lida y Mariano Fabris recorta una serie de problemas que ofrecen una vía de ingreso para comprender históricamente el impacto de esta iniciativa. Desde diversas perspectivas y periodizaciones, se aborda la trayectoria de una revista central en la cultura católica argentina y en la historia política e intelectual del país. Leia Mais
Olhar sobre a história das Áfricas: religião, educação e sociedade | Thiago Henrique Sampaio e Patrícia Teixeira Santos
A obra Olhar sobre a História das Áfricas: religião, educação e sociedade aqui resenhada é resultado de reflexões desenvolvidas pelo grupo internacional de pesquisa Fontes e Pesquisas sobre as missões Cristãs na África, arquivos e acervos, cuja coordenação no Brasil se dá pelas Professoras Patrícia Teixeira Santos (UNIFESP) e Lucia Helena Oliveira Silva (UNESP) e na parte internacional, pela Professora Elvira Cunha Azevedo Mea (CITCEM Universidade do Porto).
A coletânea foi publicada em 2019 pela Editora Prismas e organizada por Thiago Henrique Sampaio (UNESP), Patrícia Teixeira Santos (UNIFESP) e Lucia Helena Oliveira Silva (UNESP), agregando 17 artigos agrupados em duas partes: a primeira intitulada Missões e missionários no continente africano, a qual trata da história das missões dentro do continente africano e a segunda Patrimônio, Acervos e Religiosidade: práticas e representações das missões, que aborda as possibilidades de pesquisas com acervos, documentos, patrimônios e instituições missionárias. Leia Mais
Entre a religião e a política: Eurípedes e a Guerra do Peloponeso – MOERBECK (Topoi)
MOERBECK, Guilherme. Entre a religião e a política: Eurípedes e a Guerra do Peloponeso. Curitiba: Prismas, 2017. Resenha de: SILVA, Uiran Gebara. Conflito social, política e culto na Atenas de Eurípedes. Topoi v.20 n.41 Rio de Janeiro May/Aug. 2019.
O livro Entre a religião e a política: Eurípedes e a Guerra do Peloponeso é um importante trabalho sobre a relação da tragédia com a dimensão política e religiosa da sociedade ateniense do V a.C. Há no Brasil uma grande quantidade de estudos dedicados à poética da tragédia, mas poucos voltados para a investigação histórica por meio das tragédias, não sendo incomum que muitos dos estudantes só possam recorrer ao clássico conjunto de estudos sobre essa intersecção de Jean Pierre Venant e Pierre Vidal-Naquet.1 O autor do livro, Guilherme Moerbeck, já tem um conjunto respeitável de estudos que lida com a intersecção entre política e tragédia na Grécia Antiga. Esse conjunto de investigações se expressa em vários artigos e no livro Guerra, política e tragédia na Atenas Clássica.2 Enquanto no trabalho anterior o propósito foi perseguir a hipótese de que a relação entre política, guerra e a tragédia seria mais bem compreendida por meio da noção de “gerações”, nesta nova obra há um estudo mais interessado em Eurípedes, que põe no centro de suas preocupações a hipótese de que a dinâmica da participação política em Atenas no século V a.C. pode ser entendida como a configuração de um campo político, noção tomada de Pierre Bourdieu.
Para desenvolver essa ideia, na primeira parte do livro Moerbeck articula de maneira bastante competente uma série de questões teóricas. No primeiro capítulo, “Poder simbólico e habitus: aproximações teóricas para a análise das tragédias nas Grandes Dioni síacas”, o autor apresenta e delimita o emprego que faz da teoria dos campos (pensando a distribuição de bens simbólicos, distinções sociais e poder simbólico) e da noção de habitus (produção e reprodução e práticas no interior dos campos), ambas de Bourdieu. Seu ponto de partida é o teatro ateniense como uma prática engastada ou incrustada (seguindo a terminologia de Moses Finley), isto é, uma prática social integrada em outras práticas sociais. Como o teatro está incrustrado tanto na política quanto na religião, no segundo capítulo, “Espaço, ritual e performance na cidade das Grandes Dionisíacas”, o autor busca, por um lado, compreender a dimensão ritual do teatro em sua espacialidade na cidade de Atenas na sua relação com o festival das Grandes Dionisíacas, e, por outro, apreender as conexões com o desenvolvimento das práticas políticas atenienses entre a sua constituição democrática e sua vocação imperial. Isso resulta em intuições significativas no que diz respeito à hipótese da formação de um campo político (e talvez até mesmo de um campo artístico, associado) na Atenas do século V a.C. e ao papel do conflito social como elemento constitutivo da formação desse campo. A contraparte dessa perspectiva atenta à existência integrada das práticas sociais está nas dificuldades oferecidas pelas práticas religiosas na Antiguidade para com as interpretações modernas. O instrumental intelectual desencantado da modernidade3 tem muita dificuldade em compreender adequadamente o lugar do conflito dentro das práticas religiosas (em geral pensadas como homogeneizantes), em lidar com o grau de integração da religião com outras práticas sociais, e em pensar a força do religioso em relação ao político.
Na segunda parte do livro, Moerbeck analisa de modo sistemático duas tragédias de Eurípedes, As suplicantes e As fenícias. Aqui, ao se observar a relação do teatro ora com o campo político, ora com as práticas religiosas (um campo? O autor não o articula nesses termos), aquelas dificuldades se fazem presentes. No terceiro capítulo, “Política, posição social e guerra em As suplicantes de Eurípedes”, o autor demonstra como a recriação de Eurípedes do episódio mítico em que Teseu interfere no ciclo tebano se articula com temáticas políticas e religiosas prementes para a Atenas do V a.C. Do ponto de vista das relações da tragédia com a política, a interferência remete ao próprio debate ateniense sobre a guerra contra a Liga do Peloponeso, ainda em sua primeira fase. Aqui Moerbeck dá destaque aos significados da representação dramática do caráter democrático do governo de Teseu, com especial destaque para a configuração de um discurso de oposição à tirania e para a elaboração da voz do camponês como o representante do bom senso do conjunto dos cidadãos. Já ao observar a relação da tragédia com as práticas religiosas, a análise de Moerbeck adentra o território dos costumes enraizados em um passado distante, o pressuposto religioso por trás do tabu desrespeitado por Creonte ao não permitir o sepultamento devido dos invasores mortos no conflito entre Etéocles e Polinices. Há um conflito de contornos religiosos servindo de motivação para a ação de Atenas em Tebas, uma vez que o estatuto de Atenas e seu rei como responsáveis por zelar por esse costume na Ática é um dos elementos que entram no debate na assembleia presente na tragédia
Já no quarto capítulo, “Ambição, poder e política em As fenícias”, a tragédia que é analisada tem como conteúdo mítico episódios cronologicamente anteriores, mas foi composta posteriormente a As suplicantes. Aqui, Moerbeck reflete sobre como o conflito aristocrático entre Polinices e Etéocles, nela representado, também pode ser articulado com temáticas políticas e religiosas associadas a uma fase tardia da Guerra do Peloponeso. Por um lado, o das conexões com as temáticas políticas, o debate sobre a rotatividade de governantes e a invasão de Tebas por estrangeiros é remetido aos conflitos entre os legisladores e estrategos atenienses da última década do século V, com um papel de destaque para Alcebíades. Essa operação ilumina a dimensão sofística e demagógica dos discursos de Etéocles em favor da tirania na tragédia. Por outro, no que diz respeito às relações da tragédia com as práticas religiosas, o contexto de guerra e o imperialismo ateniense colocam em relevo os vários juramentos quebrados em As fenícias, que Moerbeck remete à problemática da recente destruição de Melos pelos atenienses e a justificativa do poder pelo poder.
Ao abordar nesses dois últimos capítulos a articulação entre esses três conjuntos de práticas sociais, Moerbeck se preocupa em não reduzir uma coisa à outra, buscando integrar da melhor maneira possível tanto as posições de Julian Gallego4 quanto as de Christiane Sorvinou-Inwood.5 O resultado da sua investigação não é transformar a tragédia em metáfora da política, nem reduzi-la a uma forma racionalizada de rituais dionisíacos, mas mostrar como essa tríplice articulação permite ver a formação do campo político em Atenas. E, por isso, o conflito social tem um papel muito importante na sua economia argumentativa. É, porém, exatamente essa centralidade do conflito social que nos reenvia às previamente mencionadas dificuldades da interpretação moderna no que tange às práticas religiosas.
Quando se trata de analisar o conflito social em termos políticos, as ciências humanas têm um instrumental teórico bastante apurado. A História, em particular, uma vez que a observação do conflito social sempre está associada às temáticas da permanência e da transformação de uma sociedade. Na investigação de Guilherme Moerbeck o conflito social com contornos políticos é, sem nenhuma surpresa, definido de várias maneiras em relação às cidades, à polis: há conflito dentro das cidades, fora das cidades, entre cidades. Nesse sentido, na análise de Moerbeck das relações entre o teatro e o campo político em formação, adentra-se numa esfera de observações que a hermenêutica moderna tende a ver como mais dinâmico no que diz respeito à observação dos conflitos sociais. Enquanto o autor busca resguardar a autonomia relativa da prática dramática, há também um esforço de interpretação da relação e do desvelamento das conexões com o conflito. Há uma dificuldade de fundo que se apresenta a interpretações desse tipo, que é o estatuto do mito recriado em cada tragédia específica, de modo que a investigação pode resultar em leituras redutoras que tratam o mito como metáfora ou alegoria do conflito social, da história. A solução de Moerbeck é pensar a própria historicidade da produção do mito (recusando tacitamente visões unitaristas do mito), preocupando-se em incluir na sua análise a diversidade de interpretações concorrentes e as reescritas do mito. Isto é feito por meio da análise tanto intra quanto extradiscursiva das duas tragédias de Eurípedes, principalmente no que diz respeito à observação dos contextos de encenação e as ambiguidades do conceito de performance (e suas implicações em termos de reprodução e criação do mito e das próprias tragédias). Assim, o conflito não é encontrado na metáfora, mas no contrapelo do texto.
A relação do teatro com as práticas religiosas cria dificuldades diferentes, pois, como já dissemos, aquela hermenêutica moderna configura o religioso como um campo mais estático: os ritos são primariamente pensados como tradição e permanência (uma derivação teórica persistente da atenção durkheimiana para com a coesão social). Aqui o risco é a redução do teatro à alegoria moral do costume tradicional, agora como rito que encena o costume. Nesse contexto interpretativo, a associação das tragédias de Eurípedes com uma moralidade pan-helênica pode levar a uma visão a-histórica dessa moralidade, ou tornar certas passagens incompreensíveis, como é o caso da nossa dificuldade em decifrar o sentido do ritual que leva ao sacrifício de Meneceu. A solução de Moerbeck é novamente pensar a produção histórica dos fenômenos, isto é, historicizar o rito.6 O tratamento dado pelo autor à dimensão espacial da produção e reprodução das relações sociais das Grandes Dionisíacas na Atenas do século V a.C. tem como resultado explicitar a interpenetração do político, do econômico e do religioso nos festivais. Outro importante resultado é que aquela moralidade pan-helênica com a qual as tragédias dialogam é vista como algo que é criado, transformado, que se consolida ou se enfraquece, isto é, em termos propriamente históricos. As tragédias de Eurípedes se revelam como um território de observação da contestação constante que se ofereceu a essa moralidade no contexto da Guerra do Peloponeso.
O lugar do religioso em meio às guerras contra os persas e à Guerra do Peloponeso remete necessariamente às regras de comportamento entre as cidades gregas nesse contexto belicoso. Do mesmo modo, a efetividade dessas regras conecta-se à efetividade da dimensão religiosa que lhes dá suporte. A análise de Moerbeck demonstra que tanto as tragédias de Eurípedes quanto a narrativa histórica tucidideana (como no caso de Mitilene e Melos) denunciam a falha sistemática em se cumprir tais regras. E, nesse sentido, uma das poucas lacunas que se pode apontar ao trabalho de Moerbeck é a de não ter explorado mais o quanto sua abordagem de historicizar essa moralidade permite colocar em questão a homogeneidade da identidade pan-helênica, uma homogeneidade que até pouco tempo era tida como consolidada nesse momento da história das cidades da Grécia. Ainda assim, seu estudo é um excelente ponto de partida para os futuros pesquisadores interessados em desenvolver essa linha de investigação.
1 VERNANT, Jean-Pierre, & VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 2005.
2 MOERBECK, Guilherme. Guerra, política e tragédia na Atenas Clássica. Jundiaí: Paco Editorial, 2014.
3Cf. PIERUCCI, Antônio Flávio. O desencantamento do mundo: todos os passos do conceito em Max Weber. São Paulo: Editora 34, 2013.
4 GALEGO, Julian. La democracia em tiempos de tragédia: asamblea ateniense y subjetividad política. Buenos Aires: Miño y Davila, 2005.
5 SOURVINOU-INWOOD. Christiane. Tragedy and Athenian religion. Lanham, MD: Lexington Books, 2003.
6Para uma colocação precisa destes problemas, cf. VERSNELL, H. S.Inconsistencies in Greek and roman Religion 2. Transition and Reversal in Myth & Ritual. Leiden: Brill, 1994.
Referências
GALEGO, Julian. La democracia em tiempos de tragédia: asamblea ateniense y subjetividad política. Buenos Aires: Miño y Davila, 2005. [ Links ]
MOERBECK, Guilherme. Guerra, política e tragédia na Atenas Clássica. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. [ Links ]
MOERBECK, Guilherme. Entre a religião e a política: Eurípedes e a Guerra do Peloponeso. Curitiba: Prismas, 2017. [ Links ]
PIERUCCI, Antônio Flávio. O desencantamento do mundo: todos os passos do conceito em Max Weber. São Paulo: Editora 34, 2013. [ Links ]
SOURVINOU-INWOOD. Christiane. Tragedy and Athenian religion. Lanham, MD: Lexington Books, 2003. [ Links ]
VERNANT, Jean-Pierre, & VIDALNAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 2005. [ Links ]
VERSNELL, H. S. Inconsistencies in Greek and roman Religion 2. Transition and Reversal in Myth & Ritual. Leiden: Brill, 1994. [ Links ]
Uiran Gebara da Silva – Professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco/Instituto de História, Programa de Pós-Graduação em História, Recife/PE – Brasil. E-mail: uirangs@hotmail.com.
21 lecciones para el siglo xxi – HARARI (I-DCSGH)
HARARI, Y.N. 21 lecciones para el siglo xxi. Barcelona: Debate, 2018. Resenha de: OCHOA PELÁEZ, Vanessa. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.94, p.83-84, jan. 2019.
21 lecciones para el siglo xxi nos revela los principales agentes que están hoy presentes en el tablero de juego de nuestra sociedad global, con objeto de poder plantear así los problemas a los que el género humano nos enfrentaremos a lo largo de este milenio, y que nosotros mismos estamos creando.
Yuval Noah Harari (Israel, 1976) consiguió un gran número de lectores y lectoras con sus dos anteriores libros: Sapiens, un relato sobre la historia de la humanidad, y Homo Deus, que nos transporta a nuestro futuro como especie. En esta ocasión, sin embargo, Harari nos invita a conocer el presente con el fin de vislumbrar hacia dónde nos dirigimos en el porvenir más cercano.
La obra se divide en veintiún capítulos, y en ellos se exponen las diversas problemáticas planetarias a las que habrá de hacer frente la comunidad global: trabajo, religión, justicia o terrorismo, entre otras. Buena parte de estos capítulos son ensayos filosóficos acerca de algunas de las cuestiones más preocupantes hacia las que nos aproximamos, como el uso de la inteligencia artificial, el auge de los nacionalismos o el papel de la religión hoy en día. Al respecto, el propio autor refiere que esta obra es fruto de diferentes ensayos y artículos que ha ido publicando en otros medios, «en respuesta a preguntas que le dirigieron los lectores, periodistas o colegas».
Resalta su forma de reflexionar: a partir de los datos históricos analiza cómo se comportó con anterioridad el ser humano en distintas épocas, a fin de inferir así unas predicciones concluyentes, un método historiográfico en el que se percibe el eco de los estudios de historia que cursó en la Universidad de Oxford.
La sinceridad tiñe todo el texto. Así, el autor no duda en sacar a colación aspectos de su vida personal y reflexionar acerca de los dogmas recibidos durante su propia educación. No obstante, Harari es capaz de distanciarse de este fondo subjetivo, recapacitar y someterlo a crítica, objetivando tales problemas.
La portada del libro –un ojo que todo lo ve– nos sugiere la visión tiránica del Gran Hermano de la novela 1984 de George Orwell, un modelo de totalitarismo al que quizá poco a poco nos dirigimos.
Al igual que en esta famosa ficción, está en juego perder nuestro libre albedrío, sobre todo a causa de factores como la «tecnología disruptiva». Sin embargo, ese gran ojo también nos invita a ser la mirada de los espectadores que contemplamos el nuevo mundo que estamos implantando.
Para ello, el autor propone una única forma de conseguirlo: profundizar en nosotros mismos de forma personal.
Precisamente por ello, los docentes de ciencias sociales debemos prestar un especial interés a las lecciones que Harari nos imparte. Nos corresponde investigar los fenómenos que nos rodean, para poder comprender el mundo. Sobre nuestra profesión recae la responsabilidad de presentar a los estudiantes el medio en el que habitarán: cada uno de ellos recogerá el testigo, y cada uno de ellos habrá de decidir si será o no un constructor de ese nuevo escenario.
Tan relevante es para el autor este cometido que incluso dedica uno de los capítulos a la educación, afirmando que «el cambio es la única constante» y especificando que «las escuelas deberían dedicarse a enseñar las cuatro C: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad», es decir las habilidades de uso general necesarias para la vida cotidiana. Así, este libro nos ayudará a presentar a los estudiantes los problemas a los que se enfrentarán durante sus vidas adultas, los cuales quizá podamos introducir con ayuda de muchas de las metodologías activas ya implantadas en las aulas.
Harari culmina la obra dedicando el último de sus capítulos a la meditación, una práctica muy extendida en la actualidad junto con otras terapias de tercera generación como el mindfulness, muy presentes entre los miembros de Silicon Valley. Al respecto, el autor afirma que medita durante dos horas al día y realiza un retiro de dos meses al año en completo silencio. Y es que, como ya anuncian varios medios de comunicación, entre ellos la BBC, Harari se está convirtiendo «en el gurú involuntario de Silicon Valley».
A través de la meditación, este pensador israelí nos invita a conocernos a nosotros mismos, a considerar el momento presente para poder observar con nitidez cada uno de los acontecimientos que estamos presenciando. No en vano, Harari sostiene que su intención es aportar luz al mundo, pues «la claridad es poder». Está en nuestras manos decidir cómo utilizarla.
Vanessa Ochoa Peláez – E-mail: vaann8a@gmail.com
[IF]Homo Deus: Breve historia del mañana – HARARI (RHYG)
HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: Breve historia del mañana. Barcelona: Editorial Debate, 2017. 496p. Resenha de: SÁNCHEZ FUENTES, Roberto. Revista de Historia y Geografía, Santiago, n.40, p.159-164, 2019.
Cada cierto tiempo surgen intelectuales que ponen en la discusión pública temáticas de gran relevancia para las élites políticas y empresariales, a la vez que generan cierta suspicacia en las cúspides académicas: hacen que se sientan convocadas transversalmente a debatir y reflexionar sobre el porvenir del planeta y la humanidad que lo habita. Es en este contexto que el profesor Yuval Noah Harari pasó de ser un desconocido académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén a convertirse en una especie de oráculo o profeta del mañana. Diversos medios lo posicionan como uno de los intelectuales de moda, un rockstar de las famosas charlas TED bajo el lema “ideas que vale la pena difundir”, al punto que sus recientes libros son recomendados por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, el empresario fundador de Microsoft, Bill Gates, y el informático creador de Facebook, Mark Zuckerberg.
Un tipo de gurú al que líderes mundiales, como Angela Merkel y Emmanuel Macron, desean consultar y con el cual intercambiar ideas. Hoy por hoy lleva vendidos cerca de quince millones de ejemplares de sus ensayos en todo el mundo. Los más famosos son una trilogía sobre la historia de la humanidad contada sin convencionalismos, en la que encontramos Sapiens, de animales a dioses (Editorial Debate, 2014), el que triunfó primero en Israel en 2011 y luego en todo el mundo, y se convirtió en un best seller internacional tras ser publicado en inglés el año 2014. Actualmente ha sido traducido a unos cincuenta idiomas. Este éxito vino seguido por Homo Deus, breve historia del mañana , libro abordado por la presente reseña. Y, más recientemente, 21 Lecciones para el siglo XXI (Editorial Debate, 2018), en el que reflexiona sobre el mundo actual y realiza advertencias para este siglo. Leia Mais
O Peregrino e o Convertido: a religião em movimento | Danièle Hervieu-Léger
A obra o Peregrino e o convertido foi publicada pela primeira vez no ano de 1999, tendo posteriormente traduções para várias línguas, como o português, italiano e alemão. Dentre outras publicações importantes da autora estão: Vers un nouveau christianisme? Introduction à la sociologie du christianisme occidental (1986); De l’émotion en religion (1990); La religion pour mémoire (1993); Sociologies et religion: Aproches classiques en sciences sociales des religions (2001); La religion en miettes ou la question des sectes (2001); Catholicisme français: la fin dun monde (2003); Quest-ce mourir? (2003) (HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 07).
A autora demonstra uma vasta experiência nos estudos da religião desde a década de 70, tornando-se uma referência no estudo da modernidade, memória e tradição religiosa. A socióloga é presidente da École de Hautes Études de Sciences Sociales (Paris) e diretora da revista Archives des Sciences Sociales des Religions. A apresentação da segunda edição da obra é de autoria do professor Faustino Teixeira da PPCIR / UFJF, que realiza uma descrição do currículo da socióloga francesa Danièle Hervieu-Léger. Leia Mais
História, religiões e religiosidade: da Antiguidade aos recortes contemporâneos, novas abordagens e debates sobre religiões – RODRIGUES; aguiar
RODRIGUES, André Figueiredo; AGUIAR, José Otávio (orgs). História, religiões e religiosidade: da Antiguidade aos recortes contemporâneos, novas abordagens e debates sobre religiões. São Paulo: Humanitas, 2017. Resenha de: SÀ, Charles Nascimento de; OLIVEIRA, Cintia Gonçalves Gomes. Nos caminhos da fé: história, religião e religiosidade da Antiguidade ao mundo contemporâneo Antítese, v. 11, n. 21, 2018.
Composto por uma coleção de artigos de diferentes autores, o livro História, Religiões e Religiosidade: da Antiguidade aos recortes contemporâneos, novas abordagens e debates sobre religiões, tem como organizadores: André Figueiredo Rodrigues, professor da UNESP/Assis, e José Otávio Aguiar professor da UFCG. Sua proposta é de abordar o debate sobre a religiosidade nos diferentes contextos da História, desde a Antiguidade Clássica até a atualidade, perpassando diferentes culturas, práticas, cultos, dogmas, levando o leitor a pensar não somente nas diferenças existentes entre as religiões, mas também no quanto tais particularidades são importantes para a composição das sociedades e da própria História. Por se tratar de uma obra coletiva o livro, tem a capacidade de contemplar múltiplas falas e uma diversidade de olhares sobre seu objeto de estudo. Este elemento representa um ganho ao conjunto da obra, mas, como todo trabalho coletivo fica a dever sempre que um assunto interessa mais ao leitor, e este não tem a possibilidade de maiores páginas para aprofundar o estudo.
Os textos reunidos em História, Religiões e Religiosidade foram organizados em quatro partes: Identidade, religiosidades e Antiguidade Clássica; Religiões, recepções e impérios Ultramarinos; Universo católico e problemas de História Contemporânea e Protestantismo, espiritismo e religiões Orientais no presente. Todos eles se apresentam de forma clara e os organizadores tiveram o cuidado de sistematizá-los no livro de modo a ficarem conectados, como se um texto conduzisse ao outro. Assim, a primeira parte do livro, composta por quatro ensaios e com o título “Identidade, religiosidades e Antiguidade Clássica”, tem como foco estudos sobre a Antiguidade Clássica e seus reflexos e receptibilidade na sociedade contemporânea e se inicia com o ensaio de Aila Luzia Pinheiro de Andrade, no qual a autora reflete sobre a crise de identidade cristã, bem como os desafios da atualidade ligados a tal identidade, como a questão da fé em Jesus ou mesmo o conceito de messias, tanto para o judaísmo quanto para os primeiros grupos que seguiam os ensinamentos de Jesus.
Em seguida, Nelson de Paiva Bondioli e Andrea Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi, propõem ao leitor analisar as ações dos Principes Julio-Claudianos, considerando o imaginário que os circundavam e a sua inter-relação com os ideais de tradição e transgressão religiosa, bem como compreender as consequências de tais condutas para seus governos e mesmo para a construção da identidade dos povos romanos do período.
A questão das identidades judaicas é retomada com Fernando Mattiolli Vieira, que chama a atenção para o debate sobre a importância da busca e do reconhecimento da identidade do grupo detentor dos manuscritos de Qumran, uma grande incógnita para os historiadores do assunto, mas que se faz fundamental, pois, todas as análises dos manuscritos são pautadas na organização social e religiosa do grupo, em suas bases culturais e identitárias.
Fechando esta parte inicial do livro, Haroldo Dutra Dias examina os estudos históricos sobre Jesus, que possuem como fonte documentos dos primeiros séculos do cristianismo, dando destaque a suas cronologias e como tais estudos são apropriados e dialogam com informações e dados da doutrina espírita no Brasil, numa relação de complementação de informações e na busca pela solução de questões ainda não respondidas.
A segunda parte do livro, “Religiões, Recepções e Império Ultramarinos”, volta-se para a questão da religiosidade e suas diferentes perspectivas e particularidades nas possessões portuguesas e inglesas. Abrindo esta parte, André Figueiredo Rodrigues analisa a sociedade mineira dos setecentos, mostrado o convívio entre os indivíduos, principalmente entre os religiosos e clérigos e o restante da população que vivia nos entornos das minas e nas cidades, além da relação entre a Igreja local e a Coroa, com suas disputas, reclamações e abuso de poder. Ainda sobre Minas Gerais no século XVIII, Jeaneth Xavier de Araújo Dias investiga a história das festas religiosas de Minas, sua importância para a população do período, a preocupação do povo com a organização e a beleza das mesmas, utilizando para tanto a chamada arte efêmera, com seus ornatos, cenários e decorações. Neste ambiente, a autora mostra que em vários momentos ocorreu a combinação das festas religiosas cristãs com datas e comemorações da Antiguidade grega e romana.
Deixando um pouco o continente americano, o foco volta-se para as possessões inglesas na África, com o texto de Lúcia Helena Oliveira Silva, o qual nos mostra o surgimento e atuação da Church Missionaire Society – CMS e os relatos de indivíduos africanos convertidos, os artifícios utilizados por bagandas e missionários anglicanos tanto para a conversão religiosa quanto para as negociações, além de salientar os paradoxos ligados a tais eventos e suas consequências para os grupos envolvidos.
De volta a América, Joaci Pereira Furtado analisa a poesia árcade em Portugal e em sua possessão americana, procurando explicar, de modo detalhado, os motivos que levaram à referência e mesmo a presença de elementos da cultura clássica, principalmente, o paganismo nestes escritos. Para tanto, volta-se para o contexto da segunda metade do século XVIII e início do século XIX, mostrando os jogos e as disputas de poder num momento no qual o movimento ilustrado tinha influência não somente no Reino, mas também em seus domínios. A questão da literatura igualmente se faz presente nas ponderações de Gustavo Henrique Tuna, o qual estuda a presença de escritos religiosos na livraria de Silva Alvarenga, tida como uma das mais relevantes do período colonial. Além de revelar as transformações na constituição das livrarias da América portuguesa, seu trabalho também evidencia as mudanças de pensamento em relação à religião e sua posição na sociedade.
No artigo seguinte, Renato da Silva Dias realiza uma investigação das argumentações presentes no discurso do padre Manoel Ribeiro da Rocha em defesa em defesa do tráfico e posse de escravos africanos no Brasil, além de ressaltar a utilização por parte do religioso não somente de fundamentos religiosos, mas também de pressupostos jurídicos, empregados com o intuito de embasarem a legalidade de seu ponto de vista. Nesta mesma linha de análise, Rubens Leonardo Penagassi problematiza, tendo por base o contexto e os pensamentos do início da Época Moderna, os relatos e descrições alimentares feitos pelos jesuítas das populações nativas da América Portuguesa, evidenciando como tais escritos acabam por delimitar e caracterizar as identidades dos grupos envolvidos.
O último artigo desta segunda parte do livro, de Paula Ferreira Vermeersch versa sobre o patrimônio artístico e cultural brasileiro, tomando como exemplo a análise a Igreja Matriz de Sant’Ana, composta por a arquitetura de taipa, sistema de construção colonial típica dos setecentos no Brasil colonial. Para desenvolver suas investigações, a autora mostra o quão importante é conhecer e realizar um exame cuidadoso não somente da história e da documentação que envolve o patrimônio a ser estudado, mas também analisar criteriosamente do próprio prédio. Isso porque, pequenos traços ou modificações realizadas no decorrer do tempo auxiliam no desenvolvimento do trabalho e até mesmo gera a possibilidade de reconstruir ou preencher lacunas e perguntas ainda em aberto.
A metade final dedica-se a temas contemporâneos brasileiros. Se até aqui o mundo antigo e partes das conquistas europeias na Idade Moderna foram abordados nos textos iniciais, as duas últimas partes do livro dedicam-se ao Brasil contemporâneo e sua religiosidade. Nesse sentido uma maior pluralidade de elementos são aí discutidos: Igreja católica e sua importância no sociedade; espiritismo, protestantismo e suas concepções, e dois artigos sobre religiosidade hindu ou de matiz indiana.
A terceira parte dessa trama dedica-se ao estudo do mundo católico brasileiro no período republicano. Os trabalhos presentes passeiam pelas mudanças vivenciadas pela Igreja Católica. O primeiro artigo, da pesquisadora Patrícia Teixeira Santos, estuda a proposta sobre a civilização do amor do Papa Paulo VI e sua influência sobre os países do Terceiro Mundo, de modo particular no Brasil e em Moçambique. Em seguida, Milton Carlos Costa, versa sobre a militância do intelectual católico Jonathas Serrano nas primeiras décadas do século XX no Brasil.
Jorge Miklos e Adriano Gonçalves Laranjeira analisam a imprensa católica em São Paulo no período da Ditadura Civil-Militar com a importante atuação do cardeal D. Paulo Evaristo Arns e sua defesa dos direitos humanos e as contendas envolvendo este pastor e outros líderes da Igreja. Nesse texto abordam-se as variantes de concepções que nortearam o pensamento católico e sua relação com a sociedade e a política nacional.
A seguir tem-se um interessante texto sobre a demonização das igrejas protestantes no universo da literatura de cordel. Elemento fundamental para a cultura sertaneja no Nordeste brasileiro, o cordel e o repente são instrumentos com os quais os artistas populares representam, em sua simbologia, aspectos da vida cotidiana dos moradores do sertão. Neste texto é analisado como a expansão do protestantismo na primeira metade do século XX foi vista por esses artistas. A abordagem aqui fica a cargo de Francisco Cláudio Alves Marques e Esequiel Gomes da Silva. Tem-se ainda um texto sobre a importância da religiosidade católica e seu uso no desenvolvimento turístico, tema sempre recorrente em estudos que abordam essa área, sendo analisado aqui o Círio de Nazaré em Belém em trabalho de Elder P. Maia Alves e Greciene Lopes dos Santos. Encerrando esse terceiro momento do livro há um estudo sobre a coleção Reconquista do Brasil, lançada na segunda metade do século XX e sua abordagem sobre a religião católica e o patrimônio cultural nacional feita por Gisella de Amorim Serrano.
A última parte a compor o livro destaca estudos sobre protestantismo, espiritismo e religiosidade com matiz indiana. São seis textos, dois abordando cada tema. No primeiro texto Iranilson Buriti de Oliveira e Roseane Alves Brito fazem interessante trabalho sobre a correlação entre palavras e expressões médicas, tais como cura, remédio, limpeza e o discurso dos pastores nas igrejas neopentecostais. A outra abordagem a trabalhar o protestantismo fica a cargo do professor João Marcos Leitão Santos. Instigante texto sobre a questão conceitual e teórica na historiografia que aborda o protestantismo. Apesar de fazer um interessante debate teórico conceitual sobre o entendimento do protestantismo e sua história, o texto peca ao não apontar um caminho, do mesmo modo que utiliza referências que o guiam a um só entendimento em detrimento de um maior debate envolvendo esse assunto.
Os estudos sobre espiritismo ficam a cargo de Alexandre Caroli Rocha e José Otávio Aguiar. Nesses dois textos aspectos salutares do movimento espírita no Brasil são abordados, seja ao ser estudado um dos maiores representantes do gênero: Humberto de Campos; sejam ao ser analisado características do movimento espírita e sua inserção na mídia.
Por fim, encerrando o livro têm-se duas abordagens sobre a religiosidade de matiz indiana em sua influência na religiosidade contemporânea brasileira. No texto de Maria Lucia Abaurre Gnerre e Gustavo Cesar Ojeda Baez estuda-se o uso da religiosidade indiana no desenvolvimento do Yoga por Mircea Eliade. Já o estudo de Deyve Redyson aborda aspectos sobre meditação e desenvolvimento espiritual nas leituras do Sutra do coração. Nos dois casos nota-se um maior enquadramento dos autores com seu objeto de pesquisa, item também presente no estudo de João Marcos Leitão Santos. Talvez esse seja o componente principal a ser destacado, afinal, ao denotarem sua afinidade ao tema pesquisado, os textos abordados ganham uma vivacidade e um envolvimento que outros, de modo particular alguns constantes no estudo sobre a Igreja Católica no Brasil contemporâneo não possuem. Se a neutralidade é algo que se deve perseguir em um estudo científico, isso não significa que a paixão e o prazer que determinado objeto traz ao seu pesquisador não possa ser evidenciado. Há, porém, que se definir limites, para que a abordagem e o que se conclui no estudo, não venham a ser afetados.
O livro História, religiões e religiosidade traz importante contribuição para o estudo e entendimento de assunto tão presente na sociedade brasileira. Tendo sempre sido destacado a importância e o impacto da religião na formação e construção de nossa identidade e cultural nacional e local, faltam, porém abordagens que trabalhem este assunto. Carecem também, estudos que possam abordar o máximo possível da multiplicidade de assuntos que compõem o universo religioso do país ou que fujam dos chavões e temas que são sempre abordados, como a religião católica ou as africanas.
Ao caminhar para abordagens que privilegiam o mundo antigo, o universo colonial e a diversidade religiosa no mundo contemporâneo brasileiro a obra organizada pelos professores André Figueiredo Rodrigues e José Otávio Aguiar contribuem para ampliar e enriquecer o debate sobre o assunto, mostrando preocupação com a intolerância religiosa, tão presente nos últimos tempos. O livro representa também, o sempre bem vindo diálogo envolvendo duas Instituições distintas. O colóquio foi sempre, ponto fulcral para que a Ciência pudesse ampliar seus horizontes e desenvolver novos olhares e outras abordagens sobre temas e problemas que a sociedade e a História nos impõem. Boa leitura.
Charles Nascimento de Sá – Professor na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus XVIII. Doutorando na UNESP/Assis. Bolsista UNEB PAC-DT. E-mail: charles.sa75@gmail.com.
Cintia Gonçalves Gomes – Doutoranda em História e Sociedade na UNESP/Assis. E-mail: c_cintiagoncalves@hotmail.com.
Índios cristãos / Almir D. Carvalho Júnior
Há muito que tardava, mas, finalmente, foi publicado, em meados do ano passado, o livro “Índios cristãos: poder, magia e religião na Amazônia colonial”, da autoria do professor Amir Diniz de Carvalho Júnior. De fato, a tese de doutoramento da qual a obra é resultado já havia sido defendida no ano de 2005, na Universidade de Campinas (UNICAMP)1. De certo modo, esta demora surpreende, se levarmos em conta a grande relevância que a pesquisa tem para a Historiografia Indígena e do Indigenismo no Brasil e, de forma mais específica, na Amazônia. Resta a esperar que o formato de livro contribua a tornar o estudo ainda mais conhecido no meio acadêmico!
O autor, professor lotado na Faculdade de História e credenciado no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em Manaus, começa a apresentação de seu livro com a observação de que “toda criação é solitária”. Pode-se questionar esta afirmação, visto que Almir Diniz de Carvalho Júnior construiu seu estudo, à toda evidência, enquanto pesquisador bem conectado e inserido em uma rede com outros pesquisadores e pesquisadoras que, como ele, trabalharam e trabalham o protagonismo de indígenas na época colonial. Nesta rede, composta, em grande parte, de historiadores e antropólogos, seu orientador de tese, o já falecido John Manuel Monteiro – à memória do qual o livro é dedicado – ocupa um lugar central, além de Maria Regina Celestino de Almeida, que fez o prefácio, Marta Amoroso, Manuela Carneiro da Cunha, João Pacheco de Oliveira Filho, Ronaldo Vainfas, entre outros e outras. Todos eles e elas são prógonos conhecidos da Nova História Indígena e marcaram, como se percebe ao longo da leitura, as reflexões de Almir Diniz de Carvalho Júnior.
Como já indica o título da obra, os “índios cristãos” estão no cerne da pesquisa do autor. Não se trata, como ele deixa claro logo no início (pp. 21-29), de uma categoria supostamente compacta e genérica de subalternos, atrelados ao projeto de cunho colonial salvacionista. Ao contrário, ele se propõe a analisar sujeitos históricos que, apesar das relações e classificações assimétricas nas quais foram enquadrados, participaram da construção do universo colonial, dentro do qual conseguiram formar e ocupar espaços próprios. A partir desses espaços os índios engendraram, por meio de complexas mediações e negociações, práticas culturais, referências sociossimbólicas e balizas identitárias novas. O autor realça, sobretudo, a dimensão sociossimbólica, como o apontam os termos “poder”, “magia” e “religião”, que, por sinal, constam no subtítulo. Neste sentido, Almir Diniz de Carvalho Júnior consegue conjugar, em termos metodológicos, uma análise criteriosa das múltiplas fontes – que vão de crônicas missionárias a processos inquisitoriais – com o recurso a relevantes investigações antropológicas acerca das cosmologias indígenas.
O livro consiste – como também a tese – em três partes que, por sua vez, estão subdivididas em com um número variável de capítulos. A primeira parte (pp. 39-108) aborda, em dois capítulos, as complexas relações entre os colonizadores portugueses e os povos indígenas no espaço amazônico. No primeiro capítulo, aprofunda-se o processo de implantação e consolidação do projeto colonial e, no segundo, a instalação da rede de missões sob as orientações do padre Antônio Vieira. Em ambos os contextos, os índios não são tratados como meros figurinos, mas agentes centrais. Assim, o autor dá destaque à revolta dos Tupinambá, ocorrida na Capitania do Maranhão, em 1617-1619, logo no início da colonização, como também à reação dos índios da aldeia de Maracanã, lugar estratégico onde se situaram as importantes salinas no litoral do Grão-Pará, à prisão do principal Lopo de Souza, em 1660- 1661. Ambos os eventos apontam os impactos diretos de lideranças indígenas no processo da aplicação das políticas colonizadora e evangelizadora. Embora não tenha sido o objetivo da pesquisa, mas faltou, talvez, abordar também, paralelamente a estes aspectos etnossociais, a questão do espaço em sua dimensão geoétnica e geopolítica. Assim, teria sido interessante trabalhar a Amazônia dos séculos XVII e XVIII enquanto “fronteira”, que, conforme uma definição fornecida por Hal Langfur, seria:
aquela área geográfica remota da sociedade já estabelecida [ou em vias de se estabelecer], mas central para os povos indígenas, onde uma consolidação ainda não foi assegurada e onde ainda paira uma dúvida sobre o desfecho dos encontros culturais multiétnicos2.
A segunda parte (pp. 111-257), mais extensa, pois composta de quatro capítulos, versa tanto sobre os métodos aplicados pelos padres para doutrinar os índios quanto sobre as estratégias usadas pelos últimos ao se reconstituírem como “grupos étnicos autônomos”, incorporando, neste processo, padrões culturais barroco-cristãos. Desta feita, o terceiro capítulo, retoma o tema da centralidade dos grupos Tupinambá no contexto da colonização e evangelização; por sinal, um tópico muito defendido pelo autor. Neste contexto, é oportuno apontar pesquisas mais recentes que tendem a frisar a complexa mobilidade de grupos indígenas de troncos etnolinguísticos não tupi no vale amazônica em torno da chegada dos portugueses. Assim, a tese do pesquisador Pablo Ibáñez Bonillo chama a atenção a “sistemas regionais multiétnicos”, em razão das presenças (no plural) de falantes de idiomas aruaque e caribe, principalmente, no estuário e no curso inferior do rio Amazonas, relativizando, de certa forma, a suposta predominância tupinambá3. O quarto capítulo aprofunda o projeto de “conversão”, levado a cabo, sobretudo, pelos jesuítas, conforme diretrizes exatas e, também, pragmáticas. Neste contexto, o autor lança mão de duas fontes fundamentais acerca da presença e atuação inaciana na Amazônia: a crônica do padre luxemburguês João Felipe Bettendorff, redigido na última década do século XVII, e os tratados do padre português João Daniel, escritos no terceiro quartel do século seguinte. É com base nesta documentação que Almir Diniz de Carvalho Júnior delineia, de forma nítida e envolvente, a peculiaridade das práticas de missionação na colônia setentrional da América portuguesa. A análise teria ficado mais completa com a inclusão da rica correspondência interna dos inacianos, arquivada no Archivum Romanum Societatis Iesu em Roma4. O fato de esta ter sido escrita, em grande parte, em latim dificulta, infelizmente, o acesso de muitos autores às informações nela contidas. Estas fontes são interessantes, pois, em geral, não reproduzem o estilo marcadamente edificante e moralizante das crônicas, tratando de questões polêmicas ou de dificuldades experimentadas com mais franqueza. O quinto capítulo, que constitui, por assim dizer, o miolo da obra, é diretamente dedicado aos “índios cristãos”. Estes são descritos e analisados como sujeitos inseridos no universo colonial do qual são partícipes – mas, salvaguardando seus interesses –, enquanto principais, pilotos e remeiros, artesãos de diferentes ofícios e, também, guerreiros. Atenta-se igualmente aos “meninos” e às “mulheres” indígenas, o que não é de se admirar, pois ambos os grupos recebem destaque nas crônicas pelo fato de seus integrantes terem sido percebidos pelos missionários como mais acessíveis aos objetivos e pretensões de seu projeto salvacionista. Este capítulo demonstra, de forma “plástica”, o que o autor entende por “índios cristãos”, conceito que, com já mencionamos, foi elucidado no início do livro. Neste contexto, merece menção que refere, por diversas vezes, ao termo de “índios coloniais”, formulado, há quarenta e cinco anos, por Karen Spalding em relação à colonização hispânica5. Embora não cite o nome desta historiadora, Almir Diniz de Carvalho Júnior segue, mesmo em outras circunstâncias e com base em outras experiências, a pista lançada por ela. Enfim, o sexto capítulo, que já constitui uma transição para a terceira parte, apresenta os mesmos “índios cristãos” enquanto praticantes de diversos rituais considerados heterodoxos, resultantes do contato entre suas tradições e cosmovisões xamânicas – ou, como detalha o autor, tupinambá – com os dogmas ensinados e as liturgias encenadas no âmbito das missões.
Finalmente, a terceira parte (pp. 261-320) enfoca, em dois capítulos, os índios cristãos e as “heresias” geradas por eles nas suas interações com o universo católico ibero-barroco, tanto em sua dimensão disciplinadora/institucional como inspiradora/vivencial. Neste sentido, o sétimo capítulo familiariza o leitor com a organização e o funcionamento do Tribunal da Inquisição de Lisboa, que atuava na Amazônia desde meados do século XVII mediante um sistema de captação de denúncias6. Para compreender esta instituição e seu agenciamento na colônia, o autor coloca uma tônica especial na elucidação tanto da concepção erudita quanto da mentalidade popular acerca da magia e feitiçaria na cultura portuguesa da época. Faltou, talvez, neste capítulo um maior aprofundamento da percepção desses fenômenos por parte das autoridades locais e dos moradores do Grão-Pará, visto que o universo de crenças e práticas heterodoxas trazido da Europa se reconfigurou, também por iniciativa dos próprios “brancos”, no contato com as religiosidades indígenas. Implicitamente, isso fica evidente no oitavo, e último, capítulo que aborda casos concretos, bem apresentados e analisados, que envolvem “feiticeiros” e, sobretudo, “feiticeiras” indígenas. Comparando a interpretação inquisitorial, tal como ela transparece nas fontes, com as lógicas próprias do universo simbólico xamânico, estabelecidas por pesquisas de cunho antropológico, Almir Diniz de Carvalho Júnior conclui que as heresias eram “formas autônomas de novas práticas culturais”, engendradas não tanto numa postura de resistência, mas, antes, para fornecer sentido ao mundo ao qual foram forçados a inserir-se. Como já antes, na apresentação dos diferentes grupos de índios cristãos, também neste último capítulo, o autor permite, mediante o aprofundamento de diversos casos e personagens de feiticeiros e feiticeiras, mergulhar no universo ameríndio colonial. Com efeito, o emprego de uma linguagem clara e envolvente parece dar vida às índias Sabina, Suzana e Ludovina que, mesmo taxadas como “feiticeiras” ou “bruxas”, circularam amplamente pela sociedade colonial de seu tempo. Neste contexto, convém lembrar que – e a farta documentação inquisitorial o demonstra – os desvios morais e doutrinais dos “brancos” estiveram muito mais na mira dos oficiais da Inquisição do que os dos índios, mamelucos, cafuzos ou negros, mesmo quando esses eram cristãos. Para aprofundar este aspecto, teria sido interessante dialogar com as pesquisas recentes do historiador Yllan de Mattos, cujos trabalhos, aliás, enfocam a atuação inquisitorial na Amazônia colonial7.
Dito tudo isso, fica óbvio o quanto o livro de Almir Diniz de Carvalho Júnior se destaca por dar visibilidade aos indígenas e suas múltiplas (re)ações dentro das conjunturas e conjecturas que marcaram o processo de colonização do Estado do Maranhão e Grão-Pará. Este processo, em muitos aspectos, diferiu das dinâmicas colônias aplicadas na colônia-irmã mais ao sul, o Estado do Brasil, sendo que a evidência da peculiaridade da colônia amazônica, com seu grande contingente de povos indígenas – seja nas missões, seja nos sertões – constitui outro aspecto significativo da obra a ser retido.
Quanto à agência e ao protagonismo dos índios, o autor, ao examiná-los sob um prisma multifacetário, supera a visão binômica que, durante muito tempo, viu o índio, em primeiro lugar, como indivíduo oprimido e vitimado. A (re)leitura criteriosa feita nas entrelinhas das fontes coloniais deixou evidente o quanto os documentos, embora redigidos com um olhar unilateral – pois sempre imbuído do ensejo do respectivo autor de comprovar o suposto sucesso do projeto da colonização ou missionação – falam necessariamente do índio e trazem, assim, à tona suas práticas culturais heterodoxas e suas negociações ambíguas. Em última análise, estas agências “imprevistas” forçaram os missionários a abrir mão de suas pretendias ortodoxias para, num patamar ortoprático, poder se comunicar, mesmo incompletamente, com seus catecúmenos e neófitos indígenas8.
Enfim, vale ressaltar que a pesquisa Almir Diniz de Carvalho Júnior é uma contribuição fundamental para a Historiografia acerca da Amazônia Colonial, que, nos últimos anos, conheceu um crescimento significativo, sobretudo devido à consolidação dos Programas de Pós-Graduação em História em diversas universidades da região. A leitura da obra é, assim, imprescindível não só para aqueles e aquelas que pesquisam, academicamente, as agências indígenas na fase colonial, mas também para todos e todas que procuram entender mais a fundo o devir das populações e culturas tradicionais da Amazônia que, de uma forma ou outra, descendem e/ou emanam dos sujeitos analisados por Almir Diniz de Carvalho Júnior.
Notas
1 O título da tese foi “Índios cristãos: a conversão dos gentios na Amazônia Portuguesa (1653-1769)”. O autor jádivulgou antes, o resultado de sua pesquisa de doutoramento sob forma de artigo científico: CARVALHOJÚNIOR, Almir Diniz de. Índios cristãos no cotidiano das colônias do Norte (séculos XVII e XVIII). Revista deHistória. São Paulo, 2013, vol. 168, fasc. 1, pp. 69-99.
2 LANGFUR, Hal. The Forbidden Lands: Colonial Identity, Frontier Violence, and the Persistence of Brazil’s Eastern Indians, 1750-1830. Stanford: Stanford University Press, 2006, p. 5. Tradução do inglês pelo autor da resenha.
3 BONILLO, Pablo Ibáñez. La conquista portuguesa del estuario amazónico: identidad, guerra, frontera. Tese de doutorado, História e Estudos Humanísticos: Europa, América, Arte e Línguas, Departamento de Geografia, História e Filosofia, Universidad Pablo de Olavide, Sevilha, 2015, pp. 120-147. Em co-tutela com a University of Saint Andrews, Reino Unido.
4 No Archivum Romanum Societatis Iesu, os documentos referentes à Missão e, a partir de 1727, Vice-Província do Maranhão encontram-se, principalmente, nos códices Bras. 3/II, 9 e 25-28.
5 SPALDING, Karen. The Colonial Indian: Past and Future Research Perspectives. Latin American Research Review. Pittsburgh, 1972, v. 7, n. 1, pp. 47-76.
6 Neste sentido, os “Cadernos do Promotor”, arquivados no Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT), em Lisboa, e muito citado Almir Diniz de Carvalho Júnior, são importantes.
7 MATTOS, Yllan de. A última Inquisição: os meios de ação e o funcionamento do Santo Ofício no Grão-Pará pombalino, 1750-1774. Jundiaí: Paco Editorial, 2012; MATTOS, Yllan de & MUNIZ, Pollyanna Mendonça (Orgs.). Inquisição e justiça eclesiástica. Junidaí: Paco Editorial, 2013.
8 Quanto à alteração da ortodoxia em “ortoprática” no processo de missionação, ver GASBARRO, Nicola. Missões: a civilização cristã em ação. In: MONTERO, Paula (Org.). Deus na aldeia: missionários, índios e mediação cultural. São Paulo: Globo, 2006, pp. 71-77.
Karl Heinz Arenz – Professor da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará (UFPA).
CARVALHO JÚNIOR, Almir Diniz de. Índios cristãos: Poder, magia e religião na Amazônia colonial. Coritiba: Editora CRV, 2017, 355p. Resenha de: ARENZ, Karl Heinz. Canoa do Tempo, Manaus, v.10, n.1, p.216-221, 2018. Acessar publicação original. [IF]
Política y religión en el Mediterráneo antiguo. Egipto, Grecia, Roma | Marcelo Campagno, Julián Gallego, Carlos G. GArcía Mac Gaw
Sería lógico pensar que los campos que actualmente identificamos con el nombre de “religión” y “política” en nuestro universo simbólico son esferas diametralmente opuestas, dado que el imaginario colectivo contemporáneo asume que la dimensión que abarcan una y otra son asuntos totalmente distintos, en tanto a la primera le conciernen cuestiones vinculadas con el mundo de “lo sagrado”, “lo trascendente” y la espiritualidad del ser humano, mientras que la segunda se inclina a asuntos netamente terrenales conectados grosso modo con las acciones que tienen lugar en la esfera pública y afectan por tanto la vida de una determinada sociedad. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la política y la religión han coincidido en varios aspectos, así como también tejido numerosos vínculos y construido escenarios comunes, al punto de confundirse y llegar a semejar un único plano de la realidad, desdibujándose de este modo la línea entre lo espiritual y lo terrenal. En efecto, las relaciones entre lo religioso y lo político han marcado de manera diversa, abigarrada y compleja la trayectoria de las más variopintas culturas a lo largo de la historia. Para bien o para mal, las prácticas y representaciones de la religión interactuaron con las prácticas y representaciones de la política a lo largo de diversos contextos espacio-temporales, dando por resultado una suerte de trasvase de actitudes, comportamientos, sentimientos, aspiraciones, ideas, referencias, imágenes, significaciones y concreciones. Indudablemente, este tipo de argumentaciones puede aplicarse al mundo antiguo, una de cuyas principales características radica en el hecho de que el conjunto de sus formas de ejercicio del poder, instituciones, prácticas económicas, modos de sociabilidad, costumbres rituales y percepciones se ve afectadas – de un modo directo y profundo – tanto por las dinámicas producto de la religiosidad como por aquellas que se originan en el ámbito político, aunque sus respectivos alcances no siempre son fácilmente discernibles, ya que ambas esferas definían una realidad inextricablemente unida y no una simple interconexión o superposición de capas, como parecen demostrar la articulación entre las costumbres rituales y las prácticas institucionales, el rol del templo y la religión en el ejercicio del poder, o la amalgama entre el universo simbólico y las dinámicas políticas. En consecuencia, la escisión entre ambos aspectos es acertada sólo en términos analíticos cuando el objetivo pase por comprender cómo operaban la política y la religión en la estructuración y funcionamiento de las sociedades antiguas. Leia Mais
Religion and Emotion. Approaches and Interpretations | John Corrigan
El estudio sobre la vida emocional de los seres humanos desde una perspectiva sociohistórica y cultural es relativamente nuevo. En su artículo seminal “Anthropology of emotions”, Lutz y White2 plantearon con claridad las dificultades a que se enfrenta la teoría de las emociones cuando aspira a interpretar estas últimas desde la cultura y a entenderlas como parte de un entorno social, sean éstas mediadas por relaciones interpersonales o constituidas a partir de la propia vida en sociedad. Ellos señalaron las dicotomías cuerpo/mente y universalismo/relativismo como algunas de las tensiones más importantes en el campo de conocimiento que se conformó como tal en las últimas dos décadas del siglo pasado. Leia Mais
A religião na sociedade urbana e pluralista – OLIVEIRA (C)
OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A religião na sociedade urbana e pluralista. São Paulo: Paulus, 2013. Resenha de: KRINDGES, Sandra Maria. Conjectura, Caxias do Sul, v. 19, n. 3, p. 217-223, set/dez, 2014.
A religião na sociedade urbana e pluralista, de Manfredo Araújo de Oliveira, instiga-nos à reflexão acerca do lugar ocupado pelo fenômeno religioso nos tempos hodiernos, caracterizado como elemento imprescindível de análise para a compreensão do fenômeno da globalização. Esse não se reduz a transformações meramente na esfera econômica, mas de amplas e complexas transformações da realidade a partir do progresso tecnológico-científico e de sistemas de comunicação multifacetados, astutos e revolucionários para denominar o que ora se entende por era da informação e do conhecimento. O texto situa o leitor tanto nos aspetos tradicionais e históricos da ciência e da cultura, mas também e fundamentalmente, quanto à presença da religião ante os desafios da cultura contemporânea nesse contexto de modernidade tardia.
O texto divide-se em duas partes, sendo que na primeira o capítulo intitulado: “A religião no contexto sociocultural da modernidade tardia”, é subdivido em dois subcapítulos: o primeiro refere-se ao “Saber científico como determinante na sociedade contemporânea” e o segundo, “A presença da religião no novo contexto societário”. Nessa primeira parte, Oliveira aborda a cientificidade e seu determinismo na sociedade contemporânea e a religião inserida nesse contexto. Discorre a respeito das transformações no campo das ciências e das novas concepções de saber, e da racionalidade concebida como a possibilidade do homem de compreender o ser e a realidade em sua totalidade, a partir da compreensão ontológica do homem e do universo. Passa-se, porém, à era da tecnicização das ciências, caracterizando-se como um saber ou uma racionalidade instrumental. Leia Mais
A religião, novos e antigos contornos: repensando teorias, métodos e formas de classificação | Ciências da Religião | 2014
Recentemente, a religião tem sido fonte de inspiração tanto para novas formas de associativismo quanto de sectarismo. Enquanto na Europa cresce o número de islâmicos, nos países ao sul do Equador, os grupos pentecostais arregimentam milhares de fiéis, fomentando transformações que evidenciam o imbricamento do campo religioso com a cultura moderna. Assiste-se a uma série de hibridações que vão dos movimentos de Nova Era aos poucos estudados “movimentos pentecostais gays”, passando pelo ciberativismo religioso e o revigoramento de antigas formas de associativismo religioso. Assim, se, por um lado, a persistência do discurso religioso levou teóricos a afinarem seus antigos instrumentos de pesquisa, por outro, lançou sobre esse campo de estudos certa crise de paradigmas, fomentando trabalhos que não só propunham reformas, mas também que apregoavam a obsolescência do modelo da secularização. Leia Mais
War/ Religion, and Empire: The Transformation of International Orders | Andrews Phillips
The issue of international orders is a specially pressing one in the field of International Relations. Orders change with times, either being transformed by circumstances and/or being outrightly abandoned and substituted with another such form. Notwithstanding, these shifts bring in their wake very important consequences and can even change completely the way peoples, nations, polities and states view themselves in relation to each other and in raletion with the world.
No matter how one sees international orders, which are understood by Phillips as an ensemble of constitutional norms and institutions through which co-operation is fostered and conflict undermined and contained between different polities, it is difficult to play down their importance to International Relations, as a discipline, and as a practice. That is precisely the theme adressed by Phillips in his book. The author adresses three bascic questions in this work: 1) what are international orders?; 2) what elements contribute to and can be held accountable for their transformation?; 3) and how can they be maintained even when faced by violent shocks challenges? Drawing on two basic empirical cases, Christendom and Sino-centric East Asian order, he contends that, despite their idiosyncrasies, both cases share some common characteristics. Based on theses common elements the builds his conception of order which is, to some extent, a synthesis exercise between the constructivist and realist traditions of IR. Leia Mais
Revisão legal e renovação religiosa no antigo Israel | Bernard M. Levinson
É com entusiasmo que recebemos em língua portuguesa uma obra de Bernard M. Levinson.2 Temos em mãos uma pesquisa multidisciplinar seminal, cujo objetivo do autor é “abrir o diálogo entre os Estudos Bíblicos e as ciências humanas” (p. 33). As abordagens científicas são dos documentos legais da Bíblia hebraica, mas não se restringem a eles, tendo como cenário o Sitz im Leben siro-palestino no contexto das transições sociais envolvendo a população judaíta entre os séculos VIII-V a.C. Diante das quase restritivas especializações acadêmicas o objetivo é digno de nota, por isso o livro traz já em seu primeiro capítulo, “Os estudos bíblicos como o ponto de encontro das ciências humanas”, a argumentação conceitual sobre o “cânon” como uma possível ponte entre disciplinas que trabalham a reavaliação das forças intelectuais e históricas, as ideologias e códigos definidores do cânon bíblico e de outros cânones.[3]Para o autor, a “ausência de diálogo com os Estudos Bíblicos empobrece a teoria contemporânea em disciplinas nas ciências humanas e a priva de modelos intelectuais que de fato favoreceriam o seu intento” (p. 28), mormente em seu emprego crítico das teorias das suposições ideológicas que objeta a noção de um cânon por ser a mesma uma entidade autossuficiente, um fóssil literário imutável.
É por este pressuposto que os estudos em história, arqueologia, filosofia, filologia e antropologia – acrescentaríamos a psicologia –, mesmo como disciplinas, podem contribuir conjuntamente com os Estudos Bíblicos quanto ao exame das construções teóricas e processos metodológicos com base histórica, pois o próprio cânon sanciona a centralidade da teoria crítica. Nesse sentido, “a interpretação é constitutiva do cânon” (p. 39). As camadas literárias, particularmente, e os livros da Bíblia hebraica não devem ser vistos somente como “teologia”, mas mormente como obra intelectual. Desse modo, a teoria cultural, por exemplo, atingiria maior fundamentação em diálogo com a pesquisa cujo foco é o rigor filológico. Aqui está realmente um dos temas em que o livro se encaixa nos debates contemporâneos, problematizado por várias abordagens.
Em princípio, a eliminação dos códigos legais do corpus bíblico da noção de lex ex nihilo. A cultura material do antigo Oriente-Próximo tem comprovado que as leis cuneiformes, originadas na Suméria no final do terceiro milênio a.C. e descobertas em escrita suméria, acadiana e hitita, ao espalhar-se pelo Mediterrâneo influenciaram inclusive os escribas israelitas, que passaram a copiá-las (como o modelo de tratado neoassírio pressuposto como modelo no livro do Deuteronômio, capítulo 28). “Usando as categorias da crítica literária, pode-se dizer que uma voz textual era dada a essas coleções legais por meio de tal moldura, que as coloca na boca de um monarca reinante. Não é que o divino esteja desconectado da lei no material cuneiforme” (p. 46). De fato, as chamadas leis humanitárias israelitas são expressão revelada do divino, de forma que inexiste atribuição autoral, mas um mediador venerável.
Nessa reorganização de textos, surge a necessidade por parte dos revisores de evitar o questionamento à infalibilidade de Deus e o conceito de revelação divina, resolver o acaso de injustiça de Deus e manter a perpetuidade das leis. Estas questões estão arguidas e pesquisadas exemplarmente do capítulo dois ao quatro no livro e com suas implicações melhor elaboradas no capítulo cinco – intitulado “O cânon como patrocinador de inovação”. Entretanto, resta a constatação, não vista por Levinson, de que o Deus do antigo Israel nunca refere a sua palavra (dabar) como “lei” (dat), mas como “instrução” (torah). Estes problemas são elucidados pelo autor à medida que identifica as técnicas literárias israelitas, mormente nas composições sacerdotais do período pós-exílico (após 538 a.C.) com evidências na Antiguidade Clássica, nomeadamente a subversão textual estruturada como “lema”, “retórica de encobrimento”, “exegese harmonística”, modelos e terminologias dos tratados de Estado hititas, neoassírios e aramitas, o straw man (técnica retórica de superar a proposição original), o tertium quid (presente no Targum), a paráfrase homilética, retroprojeção, adição editorial, pseudepigrafia, glosa. Todo o trabalho hermenêutico intracanônico, literariamente revisionista, ocorre tendo como tempo narrado o ambiente político das ameaças neoassíria e, em seguida, neobabilônica aos grupos populacionais israelitas na faixa leste-oeste da região do Jordão, cujo tempo presente dos escribas são os períodos arqueológicos persa e grego.
Decerto, a apresentação de uma obra ou biblioteca autorizada como obra aberta não é novidade, mas não a tarefa de repensá-la a partir da sua “fórmula de cânon” em relação à exegese e à hermenêutica intracanônicas,[4] histórica e filologicamente apropriadas como instrumentos de renovação cultural. Bernard M. Levinson empreende tal pesquisa com as camadas literárias legais tendo como fontes as coleções legais reais do Oriente-Próximo e a sua noção de um vínculo jurídico obrigatório, compreendidas como sendo feitas em perpetuidade. A fórmula nos textos do antigo Oriente tem a intenção de impedir inovações literárias, preservar o texto fixado originalmente. Com isso, as gerações posteriores têm o desafio de ampliar um corpus delimitado, suficiente e autorizado através da incorporação das suas vidas, adaptando-o às realidades em suas amplas esferas não contempladas na época de sua composição. Destarte, esses procedimentos etnográficos, não raros no antigo Oriente-Próximo, estão presentes na literatura do antigo Israel.
A originalidade da historiografia bíblica [5] é explorada na pesquisa sobre a revisão legal para demonstrar a própria ideia de história legal em que o tempo narrativo serve como um tropo literário em apoio à probabilidade jurídica. Quanto a isso, Bernard M. Levinson apresenta uma interpretação metodologicamente complexa e inovadora do livro de Rute da Bíblia hebraica, apresentando-o como oposição revisionista e talvez subversiva das “leis mosaicas” operadas pelo escriba judeu Esdras no final do século V a.C. Assim, ele introduz o debate sobre as identidades étnica e social no âmbito das questões jurídicas e sua transferência para o domínio teológico.
Fundamentando-se em sólido trabalho documental (chamamos a atenção para as notas de rodapé!), a pesquisa da revisão legal no antigo Israel apresenta como seu ponto alto da multidisciplinaridade os textos do livro do profeta Ezequiel da Bíblia hebraica (profeta ativo de c. 593-573 a.C.).[6] Aqui o debate profético dá-se com o Decálogo e a sua doutrina do “pecado geracional”. O profeta revisa a doutrina, minuciosamente historicizada por Levinson apreendendo a técnica do straw man: o profeta lança mão de uma estratégia para absolvição por rejeição popular da torah divina através de institucionalização de sabedoria popular, o que extrapola como história social os limites da teologia. De forma adequada para prosseguir na abordagem da interpretação e revisão da “lei” no livro do Deuteronômio e nos Targumim, [7] Levinson demonstra que o livro do profeta Ezequiel ao rejeitar por completo a doutrina do pecado geracional está argumentando “que o futuro não está hermeticamente fechado” (p. 78), o que para a sua época soaria como uma pedagogia da esperança. O argumento é de que “a despeito da sua terminologia religiosa, ela [a formulação da liberdade elaborada pelo profeta] é essencialmente moderna em sua estrutura conceitual” (p. 79), comparável na história da filosofia ao conceito de liberdade moral de Immanuel Kant (1724-1804).
Tanto quanto Ezequiel fez, Kant prepara uma crítica pungente da ideia de que o passado determina as ações de uma pessoa no presente. Ele desafia qualquer colocação que reduza uma pessoa ao seu passado e impeça o exercício do livre arbítrio ou a possibilidade de mudança. Ele sustenta que as pessoas são livres a cada momento para fazerem novas escolhas morais. Sua concepção de liberdade é dialética: embora não exista na natureza nenhuma liberdade proveniente da causalidade (de uma causa imediatamente precedente), a liberdade de escolha existe para os seres humanos com base na perspectiva da ética e da religião (p. 79).
Assim como o filósofo Immanuel Kant rejeita filosofias coetâneas (Thomas Hobbes, o determinismo associado ao “espinosismo”, Gottfried Leibniz), o profeta Ezequiel rejeita o determinismo pactual templar do período da monarquia israelita, tendo a seu favor o caráter dialético do conceito de autoridade textual presente no antigo Israel. Portanto, não é difícil desfazer o ponto cego filosófico entre razão e revelação. E, ao contrário do que comumente se pensa, a revisão do cânon é intrínseca ao próprio cânon, pois “a revelação não é anterior nem externa ao texto; a revelação é no texto e do texto” (p. 95); daí a pseudepigrafia mosaica, que contribui teórica e metodologicamente para uma história da recepção e interpretação dos textos.
Em adição, um terço do livro, isto é, o sexto capítulo, dedica-se ao pesquisador, a nosso ver, sem prejuízo dos demais leitores; o autor o chama de “genealogia intelectual” ou história da pesquisa por meio de pequenos ensaios bibliográficos de várias das mais importantes obras científicas sobre a literatura e a sociedade do antigo Israel, desde a produção do final do século dezenove até a mais recente. Por fim, saliente-se que o autor do livro não esboçou alguma tentativa de conceituar “etnicidade e identidade” – assim mesmo enunciado, como fundações construcionistas isoladas [8] – e a sua aplicação aos grupos populacionais da Antiguidade, omissão que não compromete a importância e a qualidade científica do livro, que certamente interessará aos estudiosos da grande área de Ciências Humanas.
Notas
3. Com relação à literatura clássica ocidental, basta consultar as últimas obras de Harold Bloom (Yale University) para perceber que ele dedicou-se a esta tarefa; com relação à literatura hebraica, mencionamos a importante produção de Robert Alter (University of California). Sem embargo, é sempre pertinente voltarmos à obra-prima fundante de Eric Auerbach, Mimesis (publicada no Brasil pela editora Perspectiva).
4. Para Levinson, exegese ou hermenêutica é o conjunto de estratégias interpretativas destinado a estender a aplicação de um cânon à vida e suas circunstâncias não contempladas. Para conceito e abordagem diferentes sugerimos a opus magnum em três volumes de Jorn Rüsen, publicada pela editora da Universidade de Brasília, Teoria da história I (2001), Teoria da história II (2007) e Teoria da história III (2010).
5. Este domínio da História há muito tem sido tema de importantes pesquisas de historiadores, arqueólogos, antropólogos e filólogos, das quais arrolamos algumas não citadas por Levinson: CHÂTELET, François. La naissance de l’histoire. Tomes 1 et 2. Paris: Éditions de Minuit, 1996; MOMIGLIANO, Arnaldo. Problèmes d’historiographie ancienne et moderne. Paris: Gallimard, 1983; SETERS, John van. Em busca da história: historiografia no mundo antigo e as origens da história bíblica. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008; ASSMANN, Jan. La mémoire culturelle: écriture, souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques. Paris: Éditions Flammarion, 2010; PRATO, Gian Luigi. Identità e memoria nell’Israele antico: storiografia e confronto culturale negli scritti biblici e giudaici. Brescia: Paideia Editrici, 2010; LIVERANI, Mario. Oltre la Bibbia: storia antica di Israele. 9. ed. Roma, Editori Laterza, 2012 [1. ed., 2003].
6. John Baines em importante investigação sobre a realeza egípcia (BAINES, John. “A realeza egípcia antiga: formas oficiais, retórica, contexto”. In: DAY, John (org.). Rei e messias em Israel e no antigo Oriente Próximo. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 48-49), ao referir-se à religião e crenças egípcias oferece uma informação relevante sobre a Bíblia hebraica: “Assmann [Jan] considera a evocação pelo rei da ordem geral parte do caráter de ‘religião primordial’ das crenças egípcias: a ‘religião’ egípcia é de uma sociedade ou civilização única e não pode ser separada da ordem social dessa sociedade. O mundo da Bíblia Hebraica era um mundo de fé declarada e de compromisso com uma divindade e um sistema religioso determinados por grupos principalmente de elite em uma sociedade organizada relativamente pequena que se insurgiu contra outras sociedades circundantes, mas também tinha aspirações universalizantes; suas crenças normativas também eram objeto de intensa discussão interna”. Em adição, a nosso ver, por uma forte corrente religiosa posicionar-se em favor do “povo da terra” e contra a monarquia, que mantinha o templo como uma espécie de anexo legitimador do palácio, a religião do antigo Israel pré-exílico manteve características suprassociais e maior atenção aos movimentos vitais.
7. Apenas como informação geral, a grafia para expressar uma determinada quantidade de Targum ou o seu plural não é “targuns”, como traduzido no livro (p. 92), mas Targumim.
8. Em contrário, “identidade” é um termo autoexplicativo usado de diferentes maneiras, não é algo estático, mas um processo contínuo e interativo; portanto, construímos identidades étnica, religosa, de gênero etc. Sobre isto, à época da sua pesquisa Bernard M. Levinson teria provavelmente acesso à importante obra: DÍAZ-ANDREU, Margarita et al. The archaeology of identity: approaches to gender, age, status, ethnicity and religion. London: Routledge, 2005. Em adição, recomendamos ao leitor: CARDOSO, Ciro Flamarion S. “Etnia, nação e a Antiguidade: um debate”. In: NOBRE, Chimene Kuhn; CERQUEIRA, Fabio Vergara; POZZER, Katia Maria Paim (eds.). Fronteiras e etnicidade no mundo antigo. Anais do V Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Pelotas, 15-19 de setembro de 2003. Pelotas: Editora e Gráfica da Universidade Federal de Pelotas; Canoas: Editora da Universidade Luterana do Brasil, 2005, p. 87-104. Recentemente publicamos uma pesquisa com esta temática: SANTOS, João Batista Ribeiro. “Os povos da terra. Abordagem historiográfica de grandezas sociais do antigo Oriente-Próximo no segundo milênio a.C.: uma apresentação comparativa”, Revista Caminhando, v. 18, n. 1, p. 125-136, 2013.
João Batista Ribeiro Santos – Mestre em Ciências da Religião, com pesquisa na Bíblia hebraica, pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e mestre em História, com pesquisa em história antiga, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
LEVINSON, Bernard M. Revisão legal e renovação religiosa no antigo Israel. Tradução de Elizangela A. Soares. São Paulo: Paulus, 2011. Resenha de: SANTOS, João Batista Ribeiro. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.9, n.1, p.164-169, 2014.
Acessar publicação original [DR]
Medicine & Health Care in Early Christianity | Gary B. Ferngren
Em 1874, o inglês John William Draper publicou o livro The history of the conflict between religion and science. Como o próprio título denota, o autor adotava uma perspectiva segundo a qual existiria um antagonismo entre religião e ciência desde que o cristianismo ascendeu politicamente.[2] Cerca de vinte anos depois, Andrew Dickson White publicou A history of the warfare of science with theology in Christendom, em que adotava uma ótica similar à de Draper. [3]
Esses dois trabalhos experimentaram um grande sucesso comercial, influenciando na produção posterior dos historiadores da ciência. Dessa forma, tornaram-se as principais referências numa tendência historiográfica conhecida como tese do conflito. Segundo seus adeptos, a História da Ciência seria constituída de uma série de conflitos entre religião e ciência, tendo nos casos de Galileu Galilei e Charles Darwin seus exemplos mais ilustres. Leia Mais
Religion, Politics and International Relations: selected essays | Jeffrey Haynes
Fruto de uma preocupação maior com o impacto de atores não-estatais religiosamente motivados no sistema internacional, o estudo do fenômeno religioso nas Relações Internacionais é uma tendência relativamente nova dentro da área no Brasil e no exterior. Em especial, os atentados de 11 de setembro trouxeram à tona a necessidade de um entendimento maior de como aspectos ligados a religiosidade e a prática de valores ligados a aspectos transcendentais podem impactar decisivamente no relacionamento político entre os países.
Frente a essa preocupação, é notório no Brasil o aumento de estudos, teses e artigos sobre a temática da religião, com especial ênfase à influência da mesma na política externa dos EUA. Não obstante, nota-se ainda a necessidade de uma ampliação desse debate, com um rigor maior no uso dos conceitos e na clarificação de como a religião pode ser entendida em diferentes atividades políticas domésticas e internacionais. Leia Mais
A religião contestada: elementos religiosos formadores do messianismo do Contestado | J. de Almeida Junior
Uma obra singular que propõe abordar, em três centenas de páginas, um assunto de amplo desconhecimento por parte daqueles que estão ausentes da vida e história do Sul do Brasil. Acrescente-se ainda a intersecção realizada por Almeida Jr. de um viés antropológico-religioso, e a leitura de A religião contestada torna-se mais instigante e inusitada, como o antropólogo João Baptista Borges Pereira sinaliza em seu curto, porém rico e profundo prefácio.
Elaborado com uma introdução em que o autor delineia as fronteiras de seu trabalho – resultante de uma dissertação de mestrado –, definido por ele mesmo não como um estudo de caso, mas como uma “abordagem histórico-descritiva” que transita entre a teorização e a narrativa. O que acabará conferindo à obra um salutar dinamismo, afastando-a do enfado que por vezes está presente nos trabalhos acadêmicos transformados em literatura (ALMEIDA JR., 2011, p. 17). A obra divide-se em cinco capítulos que são enunciados a partir de um paralelo com o que seria o crescimento da árvore sagrada, temática tratada com mastreia pelo autor, que tem formação teológica e a usa, não como constritora das ideias, mas como um instrumento que auxilia e enriquece a abordagem a que se propõe. Leia Mais
Religion and Cultural Memory: ten studies | Jan Assmann
O egiptólogo alemão Jan Assmann, juntamente com sua esposa e também pesquisadora Aleida Assmann, vem desenvolvendo nas últimas duas décadas o conceito de “memória cultural”, sendo o volume “Religion and Cultural Memory” uma coletânea de dez artigos sobre o tema, publicada originalmente em alemão (2000), e cuja tradução para o inglês de 2006 é aqui resenhada. São poucos os historiadores do mundo antigo que se aventuram numa incursão teórica que englobe campos do saber e períodos históricos mais abrangentes do que seu próprio tema de estudos. Além das dificuldades inerentes desse tipo de abordagem, o mundo antigo parece distante e desconhecido demais, de forma que habitualmente faz-se a opção de ressaltar a alteridade do antigo através de uma abordagem etnológica, ou então simplesmente fazer vistas grossas aos problemas implicados na distância milenar como condição para a inteligibilidade desse passado. No entanto, Assmann torna a transmissão de cultura pelos milênios o objeto de sua atenção, descortinando assim as profundezas do tempo, e dando maior consistência teórica ao estudo da antiguidade e sua memória ao longo dos séculos.
A obra de Assmann é caracterizada por rara capacidade de concisão e rígida definição conceitual, além disso, suas assertivas são sempre argumentadas com base em fenômenos ocorridos na história, e não em raciocínio puramente abstrato. Como introdução ao seu instrumentário conceitual, é necessário ressaltar três distinções realizadas ao longo da obra que culminam na definição de “memória cultural”
Primeiro, Assmann define a teoria da memória cultural como um acréscimo à hermenêutica, disciplina que a sustenta e a distingue simultaneamente. A hermenêutica concentra-se na compreensão dos textos dos eventos memoráveis, enquanto a teoria da memória cultural investiga, em contraste, as condições que permitem que o texto seja estabelecido e transmitido, dando atenção às formas nas quais o passado se apresenta a nós, assim como os motivos que impelem nosso recurso a ele. Dessa forma, reforça-se o papel do texto, da tradição e da memória dentro da estrutura linguística decodificada pela hermenêutica, apoiando-se principalmente no pensamento de Gadamer e sua concepção da hermenêutica em que “todo entendimento é alimentado por um préentendimento que vem da memória” (ASSMANN, 2006: IX-X).
A segunda distinção consiste em manter clara a definição de memória social, deixando de lado as dimensões neurais da memória, bem como as formas de memória motora, envolvidas na ação de caminhar, nadar, andar de bicicleta, etc.. O estabelecimento da memória como um fenômeno socialmente mediado, que remonta ao sociólogo francês Maurice Halbwachs, é o ponto de partida para compreender a base cultural da memória. No ato de lembrar-se não somente descemos nas profundezas da nossa mais íntima vida interior, mas introduzimos uma ordem e estrutura nesta vida interna socialmente condicionada e que nos liga ao mundo social (idem, 2006: 1-2). Decorre daí que não há distinção clara entre memória individual e coletiva, pois a memória cresce na relação com outras pessoas e as emoções cumprem um papel crucial neste processo. Dentro da dimensão social do fenômeno, é necessário distinguir a “memória comunicativa do cotidiano” – limitada ao círculo de algumas poucas gerações capazes de transmitir memória através da oralidade – e a “memória cultural” – que consiste em formas de cultura objetivada e cristalizada em textos, imagens, rituais, monumentos, etc.[154]
A terceira definição consiste em compreender a “memória coletiva de ligação”, que Assmann desenvolve em diálogo com as obras de Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Para estes pensadores, a cultura agia como uma camisa-de-força que treina, forma e ajusta o indivíduo conforme determinados objetivos e funções. No entanto, Nietzsche e Freud tinham uma visão pessimista desse processo, e ignoravam o lado oposto: o desejo do indivíduo de pertencer a algo, em última análise, a dimensão política da “memória coletiva de ligação” cuja função normativa e formativa não se limita a manipulações maquiavélicas e políticas, mas faz parte da própria estrutura da vida em sociedade do “animal político”. A “memória coletiva de ligação” é a inscrição que a sociedade faz de si mesma na memória, com as suas normas e valores, criando no indivíduo o que Freud chamou superego, e que é tradicionalmente conhecido como consciência (idem, 2006: p. 6-7). Este tipo de memória é suscetível às formas politizadas do lembrar-se, ilustradas por slogans como: “Masada não deve cair novamente” ou “Auschwitz: nunca mais”. Nestes casos, a memória é visivelmente “construída”: é o encontro da projeção de parte do coletivo que deseja lembrar-se com o indivíduo que lembra para pertencer. Para tanto se recorre ao arquivo cultural de tradições, o arsenal de formas simbólicas, o imaginário de mitos e imagens, de grandes histórias, sagas e lendas, cenas e constelações que vivem, ou podem ser revividas, dentro do tesouro de estórias de um povo. Este arquivo monumental e milenar, e seu recurso como memória coletiva de ligação, correspondem ao que Assmann entende por memória cultural.
Como reforço para o desejo do lembrar, criam-se as “memórias de ajuda”, como os “lieux de memóire”, sítios nos quais se concentram a memória nacional ou religiosa de uma nação, seus monumentos, rituais, dias de festas e costumes. Assmann procura demonstrar a antiguidade deste tipo de fenômeno através do ritual instituído pelos Assírios. Para evitar que seus vassalos se esqueçam do juramento de lealdade ao Imperador Assurbanipal, o lembrar-se é corporificado através de um ritual repetido regularmente, que marca o renascer de uma memória esquecida, ou do perigo compreendido em ser esquecida (idem, 2006: 9-11). O ritual como “memória de ajuda” com finalidades políticas fica instituído na sua transparência de objetivos.
Este tipo de memória coletiva e conectiva estabiliza uma identidade comum e um ponto de vista, e não necessariamente está ligado à história. Assmann exemplifica com as tradições dos ameríndios da América do Norte, e da China pré-moderna, remontando à divisão de Lévi-strauss entre sociedades “quentes” e “frias”, isto é, sociedades com e sem história. A mesma relação de uma tradição ou mito agindo como “sistema de classificação” é observado no mito de Osíris no Egito Antigo, que periodicamente reforça a unidade das diferentes regiões da terra do Nilo (cada uma delas sendo responsável por guardar uma das partes do cadáver de Osíris), através do ritual que abarca o ciclo natural das cheias e a ascensão do poder do Estado (idem, 2006: 13-5).
O exemplo mais completo, segundo o próprio Assmann, provém da Bíblia Sagrada, quando Moisés, no Deuteronômio, expõe todo seu complexo mnemônico para fazer com que a geração crescida no deserto lembre o Êxodo e mantenha as leis do Senhor na Terra Prometida. Assmann descreve os vários procedimentos mnemônicos que visam estabilizar toda uma cultura e uma identidade, revelando-se uma complexificação em relação ao ritual Assírio, e, além disso, denota uma clara noção do papel da cultura neste processo (idem, 2006: 16-20). O projeto de Moisés culmina na codificação e canonização da memória, bem como da criação do grupo de pessoas especializados em lembrar, transmitir e interpretar os textos sagrados.
Após esta concisa, mas riquíssima definição conceitual e exposição de exemplos, Assmann conclui sobre o significado da teoria da memória cultural. Ela investiga a cristalização, ou canonização, dos precipitados culturais que rompem as barreiras da transmissão oral e do limite temporal de poucas gerações. Nesse processo a escrita cumpre papel primordial, pois ela contém a possibilidade de transcender a memória de ligação em favor da memória do aprendizado. Este é um dos objetivos do Deuteronômio: impor ao fluxo de tradições um rígido controle e seleção. No entanto, a escrita ao mesmo tempo liberta o indivíduo do constrangimento da memória de ligação, na medida em que permite uma expansão indefinida do horizonte de memória, e também permite ao indivíduo dispor livremente do seu estoque de memórias e garante a ele a oportunidade de orientar-se em toda a sua extensão. A memória cultural liberta as pessoas dos constrangimentos da memória de ligação (idem, 2006: 20-1).
Até aqui nos limitamos à definição de Assmann no primeiro texto do seu livro: “Introduction: What is ‘Cultural Memory’?” Os outros noves artigos exploram demais aspectos deste mesmo quadro de problemas, principalmente os que envolvem religião e escrita dentro do campo conceitual da sua teoria da memória cultural.
Dentro dos artigos que abordam o primeiro tema, temos “Invisible Religion and Cultural Memory” que aborda a relação da sua teoria com o conceito de “Religião Invisível” de Thomas Luckmann, e avalia como o conceito de memória cultural interage com esses universos simbólicos, principalmente com a distinção entre “religião visível”, que se aproxima mais do significado comum do termo, a as “religiões invisíveis” que significam um universo mais geral de ordem cósmica que independe de determinada institucionalização. Além disso, há o capítulo “Monotheism, Memory, and Trauma: Reflections on Freud’s Book on Moses” onde Assmann discute a pertinência da última obra de Freud, que relaciona os temas de “trauma”, “culpa” e “memória” com a religião, especialmente a monoteísta.
Os artigos que priorizam a questão das “mídias” da memória cultural, principalmente a escrita e a canonização de textos, são os seguintes: “Five Stages on the Road to the Canon: Tradition and Written Culture in Ancient Israel and Early Judaism”, “Remembering in Order to Belong: Writing, Memory and Identity”, “Cultural Texts Suspended Between Writing and Speech” e “A Life in Quotation: Thomas Mann and the Phenomenology of Cultural Memory”. Por fim, há os artigos que abordam ambos os temas, investigando dentro deste campo conceitual o papel das “mídias” da religião, principalmente os rituais e textos sagradas: “Text and Ritual: The Meaning of the Media for the History of religion” e “Officium Memoriae: Ritual as the Medium of Thought”. O livro encerra com um capítulo que talvez seja a aplicação mais ambiciosa da teoria: “Egypt in Western Memory”, que investiga o lugar do Egito Antigo na memória da sociedade moderna.
Assmann possui a capacidade de reabilitar antigas questões com novas definições, de uma forma clara e original. Em suma, sua perspectiva de trazer à tona a dimensão da memória social com um novo olhar, enriquecido com leituras sociológicas e hermenêuticas, e assim lançar uma contribuição objetiva ao problema das profundezas do tempo e as condições de constituição de um cânone. Por outro lado, o seu método pode facilmente desviar em incoerências se não levar em conta alguma das inúmeras mídias e caminhos nos quais o complexo e múltiplo fenômeno da memória cultural transcorre os milênios, mas este é o tipo de risco que se assume quando se propõe compreender um fenômeno muito complexo. No entanto, sua contribuição ao debate é notável, e vem somar-se às outras abordagens sobre o tema [155].
Notas
154. Esta definição é analisada mais detalhadamente em outro artigo do autor: ASSMANN, Jan. “Collective Memory and Cultural Identity”. Translated by John Czaplicka. New German Critique. Nº 65, Cultural History/Cultural Studies (Spring-Summer, 1995), pp. 125-133
155. Penso especialmente na obra RICOEUR, P.. A Memória, a história, o esquecimento. Campinas: Unicamp, 2007, que possui considerável relevância na academia brasileira.
Denis Correa153 – Licenciado e Mestrando em História pela UFRGS. E-mail: dniscorrea@gmail.com Curriculum Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4212929P9
ASSMANN, Jan. Religion and Cultural Memory: ten studies. Translated by Rodney Livingstone. Stanford: Stanford University Press, 2006. Resenha de: CORREA, Denis. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.2, n.2, p.125-128, jul./dez., 2011.
Acessar publicação original [DR]
Monuments, Empires, and Resistance: The Araucanian Polity and Ritual Narratives – DILLEHAY (C-RAC)
DILLEHAY, Tom D. Monuments, Empires, and Resistance: The Araucanian Polity and Ritual Narratives. Nueva York: Cambridge University Press, 2007. 484P. Resenha de: Chungara – Revista de Antropología Chilena, Arica, v.42 n.2, p.539-540, dic. 2010.
Este libro ofrece una nueva mirada sobre la organización sociopolítica y religiosa de los Araucanos en la región central sur de Chile entre 1550 y 1850, a través del análisis arqueológico de paisajes sagrados, fuentes etnohistóricas y las narrativas rituales de chamanes (machi) contemporáneos. Dillehay aborda los amplios contextos regionales, intelectuales y materiales del monumentalismo araucano desde diferentes ángulos, incluyendo la economía política, la historia cultural, el materialismo cultural, la ideología, la teoría de la práctica, el simbolismo y el significado. Los montículos de tierra ceremoniales (kuel) son monumentos estéticos, líneas temporales, monumentos conmemorativos, identidades e ideologías arquitectónicas. Ilustran cómo se desarrollaron los paisajes sociales como parte de una nueva organización política, muestran cómo los líderes políticos tradicionales y los chamanes sacerdotales habitaban espacios sagrados y cómo les conferían valor a estos espacios para articular sistemas ideológicos dentro de la sociedad en general. El mapa araucano de rutas y lugares sagrados conecta los kuel con el mundo espiritual, cosmológico y natural así como con la historia de estos lugares en un recorrido topográfico sagrado. La articulación del poder ritual, social y del conocimiento era, por lo tanto, esencial para la construcción y expansión de la organización política regional araucana. Esta organización resistió eficazmente el avance extranjero durante tres siglos -primero de los españoles y luego de los chilenos-, hasta su derrota definitiva en 1884. Dillehay demuestra cómo los Araucanos manipulaban los conceptos de espacio, tiempo, memoria y pertenencia para oponerse a los intrusos y expandir su poder geopo-lítico en una organización política unificada, a medida que cambiaban las relaciones interétnicas a lo largo de la frontera española.
Dillehay cuestiona las percepciones anteriores de los Araucanos como grupos patrilineales descentralizados de cazadores y recolectores enfrentados unos con otros. Muestra que los valles de Purén y Lumaco utilizaron modelos andinos de autoridad estatal y su propio esquema cosmológico para desarrollar una organización política agrícola regional compuesta por patrilinajes dinásticos confederados con un alto grado de complejidad social y poder político. Esta confederación de organizaciones geopolíticas cada vez más amplias se constituyó en primera instancia en el nivel local de multipatrilinaje (ayllarehue) y, finalmente, en el nivel interregional (butanmapu). Dillehay sostiene que la organización política era jerárquica, aunque al servicio de un sistema religioso y sociopolítico heterárquico horizontal en el que los líderes compartían posiciones de poder y autoridad. Dillehay cuestiona la idea de que el control político esté ligado a la acumulación de riqueza material y poder ritual. Los Araucanos apreciaban y rivalizaban en gran medida por el prestigio y el respeto y el control del pueblo, pero existían muy pocas diferencias materiales entre los distintos líderes araucanos hasta fines del siglo XVIII. El período de uso del kuel dependía de la capacidad de liderazgo y de la sucesión de linajes dinásticos. Hoy en día las alianzas entre los kuel establecidas a través del matrimonio y su distribución en los valles de Purén y Lumaco emulan la organización espacial y de parentesco de los linajes que habitan el valle.
Los montículos interactivos de aspecto humano construidos por los Araucanos entre 1500 y 1850 requerían rituales para apaciguar, ofrendas de chicha y sangre de oveja, y obediencia a la ideología panaraucana a cambio de bienestar, protección, fertilidad agrícola y predicciones futuras. Los montículos, volcanes y montañas son equivalentes conceptuales y están asociados con las necesidades araucanas de defensa, territorio, refugio, contención e identidad relacional con volcanes y espíritus ancestrales. Los kuel son parientes vivos que unen a los Araucanos de diferentes regiones y promueven la soberanía étnica. Los kuel eran enterratorios de chamanes y jefes, monumentos conmemorativos de ancestros y genealogía, señales de estatus para líderes de linaje y lugares de ceremonias, festividades y poder político. Los sacerdotes chamanes (machi) realizaban rituales colectivos en los kuel para obtener consuelo, curación y bienestar. Los líderes políticos y militares (Ulmén, longko y toqui) utilizaban los kuel para sus discursos políticos. Estas performancias públicas reorganizaban los conceptos araucanos de culto a los ancestros, religión e ideología comunitarios en un marco más amplio y complejo para brindar apoyo a la organización política, y servían para reclutar mano de obra y soldados.
Si bien con Dillehay hemos documentado anteriormente y en forma independiente la práctica de los chamanes sacerdotales araucanos en los valles centrales del sur de Chile en el siglo XVII y en contextos contemporáneos, este libro es el primero en vincular las prácticas rituales sacerdotales de las machi con los montículos sagrados. El libro detalla cómo las machi contemporáneas se comunican con los montículos a través de ñauchi (alfabetización de montículos) y ofician de mediadores entre el montículo, la comunidad y otras deidades y espíritus. Los montículos son espíritus parientes que interactúan con machi contemporáneos, lugares de conocimiento donde las comunidades recuerdan su historia y expresiones materiales de la cosmología araucana. Los Araucanos contemporáneos de los valles de Purén y Lumaco continúan utilizando montículos para mantener relaciones entre pratilinajes y entre los vivos y muertos, el pasado, el presente y el futuro. Queda por ver el rol que los montículos y sus marcos sociopolíticos desempeñan en los movimientos contemporáneos de resistencia panaraucana.
Monuments, Empires and Resistance es un texto importante para arqueólogos y antropólogos interesados en los procesos demográficos, ideológicos y sociopolíticos asociados con el monumentalismo.
Ana Mariella Bacigalupo – State University of New York En Buffalo, USA. E-mail: anab@buffalo.edu
[IF]
Igreja e educação feminina (1859-1919): uma face do conservadorismo – MANOEL (REF)
MANOEL, Ivan Aparecido. Igreja e educação feminina (1859-1919): uma face do conservadorismo. Maringá: UEM, 2008. 102 p. Resenha de: FONSECA, André Dioney. Religião, Estado e educação feminina. Revista Estudos Feministas v.18 n.3 Florianópolis Sept./Dec. 2010.
O chamado catolicismo ultramontano tem sido nas últimas décadas objeto de inúmeros estudos na área de história. É compreensível o interesse dos pesquisadores nesse projeto católico ao se considerarem os reflexos dessa autocompreensão em diferentes esferas da sociedade, em seu longo período de vigência (1800-1960). Em poucas palavras poderíamos afirmar que o ultramontanismo foi uma resposta da Igreja às ameaças que vinham se avolumando desde a ruptura das relações feudais e da ética católica, com a introdução do assalariamento, da ética mercantilista, da constituição dos Estados nacionais e da preponderância do poder civil sobre o religioso e, em especial, das transformações abruptas na esfera intelectual que abririam caminho, a partir do humanismo, à Reforma Protestante, ao Iluminismo, ao Liberalismo, ao materialismo dialético e ao socialismo.
Em face de todas essas perdas, no século XIX, a Igreja resolveu agir de maneira radical, provocando uma verdadeira agitação sociopolítica ao anunciar sua reação ao mundo moderno, condenando o capitalismo e suas teorias, bem como a esquerda em todas as suas vertentes. Em suma, o projeto político ultramontano estruturou-se em torno da rejeição à ciência, à filosofia e às artes modernas, condenando o capitalismo, a ordem burguesa, os princípios liberais e democráticos e todos os movimentos esquerdistas, como o socialismo e o comunismo. Leia Mais
Religión y poder en las misiones de guaraníes | Guillermo Wilde
A promoção de lideranças indígenas e a busca da sua colaboração com o sistema colonial, mediante a ação de vários tipos de dispositivos de poder, constituíram um fenômeno marcante da experiência dos Guarani no espaço das missões. Tal experiência, longe de se caracterizar pela passividade, foi antes capitalizada pelos mesmos caciques a fim de requisitar benefícios da administração colonial, manter relações com populações do entorno das missões e manejar uma complexa atualização de suas tradições culturais. Fruto de ampla pesquisa documental e bibliográfica, o livro de Guillermo Wilde procura problematizar o processo de formação de lideranças indígenas entre os Guarani missioneiros, e sugere que os caciques não somente tiveram papel importante na formatação dos pueblos, mas também interferiram no tipo de poder instaurado ali pelo sistema colonial: “ocupando cargos en instituciones coloniales como los cabildos que se impusieron en todos los pueblos misionales”, afirma o autor, “fueron sujetos activos en la incorporación y transformación de categorías e instituciones” (p. 23-24).
Ao atuarem, de um lado, como reguladores das relações entre o interior do espaço missioneiro e o exterior, a vizinhança com colonos espanhóis e portugueses, índios não reduzidos e demais pueblos; e de outro, ao manejarem a relação entre o antes e o depois, entre “el ser infiel” e “el ser cristiano”, as lideranças indígenas (cujo poder era delegado pela própria colonização) contribuíam para a reconstrução e manipulação de identidades e relações políticas com os poderes coloniais. Leia Mais
Religião como tradução: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil colonial | Cristina Pompa
Abordagens interdisciplinares são recorrentes nas histórias das etnias americanas. Embora viabilizem uma análise mais consistente das sociedades indígenas, sobretudo de seus ritos e mitos, elas nem sempre se coadunam com a perspectiva da análise diacrônica. De todo modo, esses historiadores buscam harmonizar a diacronia à sincronia dos modelos teóricos, mas, de fato, ao recorrer às Ciências Sociais, eles, muitas vezes, negligenciam a temporalidade dos registros do passado. Este procedimento raramente é explicitado nas obras dedicadas à etno-história que, em geral, acabam por apresentar critérios pouco objetivos para estabelecer similitudes entre os conjuntos mítico-rituais. Essas filiações teóricas também incentivam uma apropriação do passado que, não raro, contraria a crítica aos testemunhos, a análise dos contextos narrativo e cultural, bem como a sua inserção social e geográfica.
Esses impasses, porém, não se encontram apenas nos escritos da história das etnias americanas. Nos anos 1990, o ambicioso livro de Carlo Ginzburg, História noturna (1989), provocou uma enorme polêmica ao combinar a morfologia e a história do Sabá, seus significados sincrônicos e desenvolvimento diacrônico. O historiador italiano pretendia, então, harmonizar o estruturalismo à perspectiva histórica dos mitos, descobrir homologias formais e reconstruir seus contextos espaço-temporais.1 Para explicar a existência de substrato comum de crenças e rituais eurasianos, Ginzburg recorreu à difusão cultural promovida pelas migrações e a uniformidade psíquica, combinação capaz de promover o entrelaçamento entre história e morfologia. Leia Mais
Ganarse el cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en Colômbia / Luis J. O. Mesa
O grupo de pesquisa Religión, Cultura y Socieáad, criado em 1998 em Medellín quando ali se realizou o X Congresso de História da Colômbia, propõe-se pensar historicamente os problemas da sociedade colombiana segundo padrões universais de conhecimento, partindo de perspectivas culturais, com ênfase nas manifestações religiosas. Considerando que as guerras e a Igreja Católica constituem duas chaves decisivas para a compreensão histórica, como fatores de longa duração operando no centro da lenta, gradual e violenta formação nacional do país, o grupo criou a linha de pesquisa “Guerras civis, religiões e religiosidades na Colômbia, 1840- 1902”. Ganarse el Cielo… é parte e resultado de uma série de atividades acadêmicas de pesquisadores colombianos e estrangeiros, privilegiando abordagens voltadas para as sociabilidades, vida cotidiana, iconografia, literatura, educação, memórias, recrutamento, eleições e formas de religiosidade, e indagando de que maneira indivíduos e grupos sociais viveram esta longa seqüência de guerras civis, como participaram, como as interpretaram, escreveram e representaram.
No preâmbulo, Diana L. Ceballos Gómez pergunta: por que a Colômbia parece irremediavelmente mergulhada no conflito? Por que, pelo menos desde o último quarto do século XIX, aí ocorre o emprego desmedido da força, dos meios políticos violentos, contrastando com a relativa estabilidade da maior parte dos países latino-americanos? Por que a violência parece ser o sangrento fio condutor da história colombiana? Após resenhar várias tentativas de resposta a tais angustiantes questões, Diana Ceballos indica a tipologia das guerras civis proposta por Peter Waldmann e Fernando Reinares como um instrumento a ser levado em conta.1 Entre 1830 e 1902, houve em território colombiano 9 grandes guerras civis generalizadas e 14 guerras localizadas; e, desde o assassinato do dirigente liberal Jorge Eliecer Gaitán, em abril de 1948, há guerrilhas em atividade no país.
No primeiro capítulo, “Guerras civiles e Iglesia católica en Colômbia en la segunda mitad dei siglo XIX”, Luis Javier Ortiz Mesa sistematiza teorias e concepções da guerra e da guerra civil, faz um balanço dos estudos sobre guerras civis e Igreja na formação da nação colombiana, e conclui com uma interessante comparação entre duas maneiras de fazer a guerra, contrapondo as regiões do Cauca (capital: Popayán) e Antioquia (capital: Medellín). As guerras civis e a intolerância religiosa foram fatores de polarização entre os colombianos e de exclusão de aspirações de grupos sociais cujos projetos de vida (“comunidades vividas”, cf. Eric Van Young2) não foram incorporados na formação das “comunidades imaginadas” pelas elites; mas, contraditoriamente, assim mesmo foram duas chaves de construção e integração do Estado e da Nação. A guerra é destruição, mas também é simultaneamente construção,3 e é festa de morte e de vida: Festa da comunidade finalmente unida pelo mais entranhado dos vínculos, o indivíduo finalmente dissolvido nela; capaz de dar tudo, até sua vida. Festa de poder-se afirmar sem sombras e sem dúvidas diante do inimigo perverso, de crer ingenuamente ter a razão, c de acreditar ainda mais ingenuamente que podemos dar testemunho da verdade com o nosso sangue.
A comparação entre os modos de fazer a guerra no Cauca e em Antioquia é particularmente interessante. Popayán, berço dos célebres caudilhos rivais Tomás Cipriano de Mosquera e José Maria Obando, foi o foco mais ativo das guerras civis até 1876, quando passam a triunfar na guerra os conservadores apoiados no modelo político da Regeneração e na profissionalização do exército. No Cauca, centro da mineração de ouro no período colonial, em crise desde a segunda metade do século X V I I I , a quebra dos laços de sujeição dos escravos e dos índios, a desarticulação do eixo hacienda-mina, a fragmentação regional — ascensão de Cali, proliferação de novos municípios no Vale do Cauca, expansão das fronteiras internas – favoreceram a emergência da guerra como meio de vida para muitas milícias de gente subalterna dispostas a acompanhar velhos ou novos caudilhos, geralmente de corte liberal. A sociedade antioquenha, com grupos de intermediação mais amplos e dotados de melhores condições econômicas e sociais (garimpeiros, pequenos e médios comerciantes, tropeiros, rede escolar mais extensa), era mais coesa e sua composição socio-racial mais homogênea que a caucana; seus circuitos comerciais articulavam eficazmente a mineração, a agricultura e a pecuária. Aí predominaram o conservadorismo, a Igreja e a família nuclear, e a guerra se fazia somente até certos limites, evitando-se maiores riscos de devastação, saques e endividamento.
No segundo capítulo, “La Constitución de Rionegro y el Syllabus como dos símbolos de nación y dos banderas de guerra”, Gloria Mercedes Arango de Res trepo e Carlos Arboleda Mora examinam o liberalismo radical da Constituição de 1863 e o integrismo do Syllabus do papa Pio IX, de 1864, como as duas modalidades possíveis de construção do Estado-Nação e da modernidade na Colômbia do século XIX: nação-cristandade ou nação liberal; modernidade tradicionalista, teocêntrica, controlada pelo clero, ou modernidade liberal, antropocêntrica, autônoma e legalmente ordenada. As divergências acerca da liberdade religiosa, do casamento civil, da presença dos jesuítas, da tutela estatal dos cultos, da desamortização, da educação laica, etc, começam com a independência, radicalizam-se no período 1861-1885 (separação entre a Igreja e o Estado) e quase silenciam por muitas décadas a partir de 1886/1887 (Regeneração e Concordata). A Colômbia vive ainda hoje sob o peso opressivo de um imaginário social extremamente belicoso, difundido pelos órgãos de imprensa do século XIX, que estigmatiza e exclui o opositor, tomado não como adversário, mas como um inimigo a abater.5 Também aqui, a comparação entre Antioquia e o Cauca é muito elucidativa.
Diana Luz Ceballos Gómez analisa, no capítulo 3, a iconografia colombiana das guerras civis do Oitocentos, dialogando com a perspectiva antropológica de Jack Goody sobre a imagem.’ Um CD-Rom com um conjunto precioso de imagens e de mapas históricos acompanha o livro. Juan Carlos Jurado Jurado trata de “Soldados, pobres y reclutas en Ias guerras civiles colombianas” e “Ganarse el cielo defendiendo la religión. Motivaciones en la guerra civil de 1851”. Seguem alguns estudos de caso sobre a guerra de 1876: Margarita Árias Mejía, “La reforma educativa de 1870, la reacción dei Estado de Antioquia y la guerra civil de 1876”; Paula Andréa Giraldo Restrepo, “La percepción de la prensa nacional y regional de Ias elecciones presidenciales de 1875 y sus implicaciones en la guerra civil de 1876”; Gloria Mercedes Arango de Restrepo, “Estado Soberano dei Cauca: asociaciones católicas, sociabilidades, conflictos y discursos político-religiosos, prolegómenos de la guerra de 1876”; e Luis Javier Ortiz Mesa, “Guerra, recursos y vida cotidiana en la guerra civil de 1876-1877 en los Estados Unidos de Colômbia”.
A última guerra civil do século X IX (1899-1902), conhecida como a Guerra dos Mil Dias, é abordada pelo viés das memórias publicadas por ex-combatentes em duas conjunturas distintas (início do século, conservador; anos 30, hegemonia liberal) por Brenda Escobar Guzmán. Ana Patrícia Ángel de Corrêa apresenta “Actores y formas de participación en la guerra vistos a través de la literatura”; Gloria Mercedes Arango de Restrepo destaca “Las mujeres, la política y la guerra vistas a través de la Asociación dei Sagrado Corazón de Jesus. Antioquia, 1870- 1885”. O volume se completa com um ensaio de Carlos Arboleda Mora sobre o pluralismo religioso na Colômbia.
Esta obra coletiva do grupo de pesquisa “Religión, cultura y sociedad” de Medellín, sobre a religião e as guerras civis do século X IX colombiano, é mais uma indicação da excelente qualidade da historiografia colombiana contemporânea, que acompanha as inquietações das demais disciplinas das ciências humanas e de toda a sociedade a propósito do problema crônico da violência. Além de Bogotá, que concentra o maior número de cursos universitários, pesquisadores e editoras, a historiografia acadêmica produzida em três capitais de departamentos: Medellín, Barranquilla e Cali, se destacam com maior visibilidade e merecem melhor divulgação no exterior. Sem maior espaço para prolongar esta resenha, cabe assinalar que os autores de Ganarse el cielo têm o privilégio de contar entre seus modelos de vida (e não somente de trabalho intelectual) com dois brilhantes historiadores precocemente desaparecidos: Germán Colmenares (1938-1990) e Luis Antônio Restrepo Arango (1938-2002).
Notas
1. WALDMANN, Peter e REINARES, Fernando (orgs.) Sociedades en guerra civil. Conflictos violentos de Europa y América Laúna. Barcelona: Paidós, 1999.
2. VAN YOUNG, Eric. Los sectores populares en el movimiento mexicano de independência, 1810-1821. Una perspectiva comparada, em URIBE URÁN, Victor Manuel e ORTIZ MESA, Luis Javier, (orgs.), Naciones, gentesj territórios. Ensayos de historia e historiografia comparada de América Latina y el Caribe. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2000.
3. Esse tema é tratado em detalhe no capítulo 10 por Luis Javier.
4. ZULETA, Estanislao. Elogio de la dificultady otros ensayos. Cali: Sáenz Editores, 1994.
5. V. a este respeito ACEVEDO CARMONA, Darío. La mentalidad de Ias elites sobre la violência en Colômbia (1936-1949). Bogotá: El Âncora, 1995.
6. GOODY, Jack. Contradicciones j representaciones. La ambivalência hacia Ias imágenes, el teatro, la ficción, Ias relíquias y la sexualidad. Barcelona: Paidós, 1999.
Jaime de Almeida – Universidade de Brasília
ORTIZ MESA, Luis Javier et ai. Ganarse el cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en Colômbia, 1840-1902. Medellín: Universidad Nacional de Colômbia, 2005. Resenha de: ALMEIDA, Jaime. Textos de História, Brasília, v.13, n.1/2, p.245-249, 2005. Acessar publicação original. [IF]
El arte palestino de tallar el nácar. Una aproximación a su estúdio desde el Caribe colombiano – YIDI et al (M-RDHAC)
YIDI, Enrique; DAVD, Karen; LIZCANO, Martha. El arte palestino de tallar el nácar. Una aproximación a su estúdio desde el Caribe colombiano. Barranquilla: Panamericana formas e Impresos, 2004. 128p. Resenha de: HAYDAR, Jorge Mizuno. Memorias – Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Barranquilla, n.1, jun./dic., 2004.
Jorge Mizuno Haydar – Jefe y professor del Departamento de Idiomas de la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia.
[IF]Religión, Ritual y Vida Cotidiana en los Andes: Los Diez Géneros de Amarete; Segundo Ciclo ANKARI: Rituales Colectivos en la Región Kallawaya, Bolivia; Mundo ANKARI – RÖSING (C-RAC)
RÖSING, Ina. Religión, Ritual y Vida Cotidiana en los Andes: Los Diez Géneros de Amarete; Segundo Ciclo ANKARI: Rituales Colectivos en la Región Kallawaya, Bolivia; Mundo ANKARI, Vol. 6. Madrid: Iberoamericana – Vervuert, 2003. Resenha de: Van KESSEL, Juan. Chungara – Revista de Antropología Chilena, Arica, v.36, n.1, p.246-247, ene. 2004.
Comentado por Juan van Kessel*
Se trata de la edición en castellano del sexto volumen de la obra MUNDO ANKARI, sobre rituales de los Kallawayas de Bolivia. Recordemos: los 4 volúmenes del primer ciclo de la serie aparecidos entre 1987 y 1991 tratan de manera clásica y absolutamente definitiva sobre los rituales curativos de los Kallawayas en el círculo de la familia (1). El segundo ciclo investiga sus rituales colectivos y pretende “superar los déficit en el tratamiento de estos rituales”. El volumen 5 trata de los rituales para llamar la lluvia, y el actual volumen, con el extraño título “Los diez géneros de Amarete”, trata de los rituales colectivos en Amarete, una comunidad particular de la región Kallawaya, que merece atención especial por la curiosa organización social en que se basan sus ceremonias: “los diez géneros”. Son géneros simbólicos de las personas con amplias repercusiones prácticas en la vida cotidiana, la religión y el ritual. Su fundamento es el género de la chacra que cada comunero, tanto hombre como mujer, posee y transmite a sus hijos (pp. 106-107). Así se encuentran: hombres masculinos, hombres masculinos-masculinos, hombres masculinos-femeninos, hombres femeninos-masculinos, hombres femeninos-femeninos, mujeres masculinas-masculinas, etc. Curioso es también que los amareteños pueden cambiar su género simbólico, de manera que entonces deben sentarse, caminar, bailar, actuar y ofrecer sacrificios de una manera diferente a la de antes. Es el caso de algunos cargos de representación comunal con género propio. Al asumir un cargo con género, se deja a un lado el propio género de chacra por el tiempo que dura el cargo. En última instancia, el género simbólico es determinado por el sol (salida/ocaso) y el cuerpo humano (derecha/izquierda) y sus dos indicadores resultan ser hanan/hurin (arriba/abajo) y kuraq/sullk’a (mayor/menor).
La pregunta impaciente del lector es: El sistema de los múltiples géneros simbólicos, ¿es algo más que una simple curiosidad? ¿Tiene un real sentido transcendental para el mundo amareteño? Sin duda es este el caso. El género (biológico y simbólico) es el principio de la organización social y del orden cosmológico (cf. p. 636). La máxima es que “todo debe estar pareado, casado” -cada cosa con su contraparte: ofrendas, chacras, aguas, rituales, dirigentes, etc.- para que sea completa, estable y equilibrada, operativa, eficiente y fértil. Sin su contraparte, las cosas no tienen sentido y no SON realmente. Me atrevo a interpretar el argumento así: en la cosmo-visión del amareteño, y del andino en general (y prefiero decir: “en su pacha-vivencia”) todo tiene vida, es ser viviente y debe ser alimentado, criado, regenerado a la manera de los seres vivientes. Todos los seres vivientes participan de la vida universal del pacha, el megaorga-nismo. En los grandes rituales colectivos -como verdadera tecnología simbólica- se regenera, alimenta, cría y fortalece la vida del pacha, del triple mundo de los humanos, la naturaleza y las divinidades. En síntesis, el ritual colectivo de Amarete basado en sus 10 géneros pretende juntar las cosas con su contraparte y casarlas para su regeneración, fuerza y duración. Así se asegura la vida del pacha: divinidades, naturaleza y runa (la comunidad humana). El ritual colectivo de Amarete basado en los 10 géneros simbólicos es para reafirmar el orden existencial. El género que se recibe de la chacra expresa, a la vez, una sorprendente relación co-existencial hombre-tierra, concretamente del comunero con su chacra.
La autora confiesa (p. 640) que el descubrimiento y la explicación de los diez géneros simbólicos y de los principios en adjudicar el género simbólico le tomó seis años con largas estadías en terreno. El principio de los géneros simbólicos echa una luz particular sobre el ritual colectivo de Amarete, una luz indispensable para ver y entender el sentido émico? de los rituales. La autora los describe e interpreta bajo esta luz. Ina Rösing (en adelante: IR) cumple con este propósito y logra una verdadera obra maestra: inédita y de mayor relevancia en la producción antropológica contemporánea. Veamos la estructura de la obra.
El libro con sus 878 páginas está articulado en tres secciones. Encontramos dos capítulos introductorios, que describen la geografía y el contexto social de la región, definen el objeto de la investigación y señalan sus premisas metodológicas, las que por su carácter innovador en la investigación sociocultural merecen que las destaquemos más abajo. Se señala también la impresionante base de datos de este volumen registrada en decenas de libros con apuntes de campo, en centenas de cintas grabadas y transcritos en varios miles de páginas, y en muchas centenas de excelentes fotografías. Luego la autora presenta sin más preámbulos el tema mismo de los diez géneros y su notable importancia en la vida de la comunidad. IR agrega amplia información sobre la historia de su investigación y su insólita odisea como investigadora. Con esta información previa, la autora describe (cap. 3) la vida en Amarete, a partir de su geografía sagrada, articulada, y de su concepto del tiempo con un calendario festivo extraordinariamente rico en que a cada paso se encuentran las reglas relativas a los géneros. Con un ejemplo -la labor familiar cotidiana del cultivo de la papa- IR muestra que es imposible cotidianizar el trabajo aparentemente profano y que el tiempo y el espacio siempre son especiales y de carácter sagrado. ¡Elocuente ejemplo! que le vale como un previo teórico muy significativo, porque enseña que las ocupaciones de cada día, el carácter sagrado del espacio y la articulación festiva del tiempo “sólo son tres polos de un mismo centro: la religión andina”.
En la segunda sección (cap. 4-8), la parte principal del libro, la autora trata del ritualismo colectivo en que el tema de los diez géneros es el hilo conductor que atraviesa los cuatro rituales agrícolas cíclicos que ella describe: La papa en el ritual Irwi (cap. 4), el ritual Q’owa con el baile y la labranza de los varones másculinos y femeninos (cap. 5), la labranza ritual en el Jach’ana (cap. 6) y la huilancha en la cumbre de una montaña sagrada (cap. 7). Como complemento, describe un ritual amare-teño de emergencia para llamar la lluvia (cap. 8).
En la tercera sección (cap. 9-10) la autora intenta descifrar la lógica de las temáticas de género y espacio, una lógica flexible, variable y llena de improvisación, que permite la innovación y la evolución del ritual conforme las circunstancias y contextos cambiantes (cap. 9). En el último capítulo ella compara el ritual amareteño basado en los diez géneros, con el de las otras comunidades kallawayas, demostrando así su absoluta peculiaridad. Luego revisa toda la literatura andina para reforzar esta conclusión y termina con un listado de las cuestiones que siguen abiertas y que muestran la urgencia de una investigación etnohistórica para entender el proceso enigmático de la formación y transformación del ritual kallawaya (cap. 10).
Ina Rösing (IR) tiene un estilo de escribir agradable y entretenido; sabe presentar la investigación como un desafío y la descripción de los hechos culturales como una aventura. Por otra parte, pareciera que la traducción desde el alemán ha sido tan cuidadosa y detallada, tan cercana al texto original, que a ratos afecta a la fluidez y la fácil comprensibilidad del texto español. La autora rechaza enérgicamente y con buenas razones la “antropología muda” de Wachtel, Rivière, Platt, y otros (p. 80). (“El yachac masculla una oración y procede a…” ¿Qué oración? No se sabe). Grato efecto de la “antropología hablada” de IR es la inclusión de gran número de oraciones andinas (transcritas en quechwa y castellano), extensas, hermosas, fuertes, que acompañan e interpretan los rituales irradiando andinidad y haciendo brillar la pacha-vivencia de los ritualistas andinos (ver: pp. 250-257, 402-406, 442-449, 555-559, etc.). El libro contiene también 75 excelentes fotografías etnográficas que son más ilustrativas que largas descripciones verbales. Además de ello, IR logra facilitar considerablemente la comprensión del tema y el discurso, de por sí complejos, por el recurso de “cajas de sinopsis”, 54 en total. Finalmente encontramos amplios y valiosos anexos de vocabulario, bibliografía e índice de autores citados, y un apéndice de 43 “reglas relativas a los 10 géneros de Amarete”. Aparecen pocos errores de imprenta. El libro lleva también 15 croquis fotocopiados del cuaderno de apuntes de la investigadora, que le confieren la grata fragancia del campo y situaciones complejas y confusas, pero es lamentable que, en tan prestigiosa edición, estos croquis son difíciles de leer y, al menos en parte, casi imposibles de descifrar. Otra observación sería que en la base de datos, tan completa en su registro de los rituales, se echaría de menos -como rica vena no aprovechada- que no quedaron registrados y analizados la música y la textilería en el contexto del ritual colectivo. Para el antropólogo, éstas dos son también elocuentes portadoras de información cultural. Lo mismo vale decir también sobre la dieta y la gastronomía en el contexto ritual, que interpretaría el significado de la presencia y la actividad ritual de la mujer, y con mayor razón por cuanto IR lamenta el papel ritual demasiado pobre de la mujer amareteña. Se supone que la música de conjunto producida en Amarete (mal llamada “folklórica”) nunca es simple diversión, sino expresión ritual propia y orgánica; los tejidos, como las vestimentas llevadas en los rituales, las prendas y manteles usados para la mesa ritual, son también expresión de identidad y rol social, de cosmovisión y estructura religiosa.
Vale ir a una discusión crítica sobre la metodología investigativa que IR maneja en todas sus pesquisas kallawayas, pero que en este volumen ella aplica con mayor rigor y llegando hasta sus consecuencias. Como investigadora, IR se ubica entre los revolucionarios de la epistemología del saber científico que no aceptan el objetivismo clásico y con mayor razón rechazan el positivismo en ciencias socioculturales. En cambio, apuestan no al subjetivismo ni al personalismo, sino a la dialéctica y la intersubjetividad como base de la confiabilidad y la veracidad del conocimiento científico generado en la aventura de la investigación antropológica (2). De ahí también el interés de IR por una “antropología hablada”, es decir, por los investigados tales como son: no objetos de estudio, sino seres humanos e interlocutores. La dialéctica y la intersubjetividad es la postura casi inevitable de todo investigador que adopta en forma consecuente las técnicas de la observación y la investigación `participante’. La exigencia de neutralidad valórica y la pretensión de la objetividad más absoluta eran las características de la postura del positivismo clásico y la conditio sine qua non para `generar conocimiento científico’. En cambio, en el ambiente de una epistemología de la dialéctica y en un proceso interactivo entre investigador e investigado que ha de generar el conocimiento científico, la postura intersubjetiva es la que garantiza la veracidad y la confiabilidad del saber científico en ciencias socioculturales. De ahí también que IR como investigadora participante incluye su presencia activa en el registro de los rituales colectivos. Ella nunca pretende un registro simplemente objetivo y anónimo; nunca disimula su presencia, tal como lo exigía en tiempos pasados el código de objetividad y cientificidad positiva. La vemos continuamente presente en el proscenio de la investigación. Ella participa en la acción registrada (p.ej. p. 336) y sus colaboradores participan en la investigación en calidad de verdaderos coinvestigadores de su propia realidad, y ya no como simples informantes locales (pp. 68 ss). Es la observación (e investigación) participativa llevada a sus consecuencias. Cuando IR presenta sus tres coinvestigadores indígenas como muy apreciados amigos de confianza y compadres (p. ej. las pp. 648 y ss.), es ésta la actitud consecuente de la observación (e investigación) participativa. IR, la investigadora académica, es al mismo tiempo la portavoz de confianza de los investigados, donde ellos como coinvestigadores no saben expresarse en el lenguaje académico: ella los interpreta. Atención: la posición de los “coinvestigadores” no es la misma que la del(a) investigador(a) académico(a). Además, aparece otra piedra en el camino: en el informe final, la investigadora asume el papel de traductora del lenguaje popular al académico. En la investigación participativa (la que en sus consecuencias llega a ser “investigación interactiva“; nada lo prohíbe), la perspectiva de la investigación depende, en parte, de la posición que ocupa la investigadora en el proscenio y de la postura valórica que ella lleva.
Vislumbramos en el libro de IR el supuesto que a los kallawayas -los coinvestigadores, sujetos de la investigación- corresponde también garantizar la confiabilidad y la veracidad del saber científico generado en la investigación intersubjetiva interactiva. De ser así, la autodefinición de los investigados, la autointer-pretación de su propia realidad cultural, tiene cierta prioridad sobre la visión del académico que es una visión externa y desde fuera. La primera no reemplaza ni degrada la segunda, sino que ambas se complementan en el proceso de la investigación intersubjetiva, interactiva. Pero los mismos kallawayas pasan a ser la primera autoridad moral para sustentar la veracidad y por eso la cientificidad del saber generado en la odisea de la investigación. Al final, y como exigencia propia del método, encontramos que el ritualista de Amarete y los comuneros en general -los sujetos de la investigación, y ya no simplemente su objetivo- han de reconocerse en la interpretación de su ritual y autorizarla de algún modo, como sello y garantía de veracidad. Es lógico que IR no se conforma con interpretaciones de tipo ético (pp. 759ss), que sólo representan la visión académica del investigador. Ella presenta una interpretación compartida. Efectivamente, la interpretación debe ser de alguna manera reconocida, adoptada y autorizada por los investigados.
Puntualizamos que -aparte de una epistemología dialéctica- este método participativo-interactivo llevado por IR está basado en dos componentes especiales: 1. la presencia y actuación de la investigadora en el proscenio de la investigación, y 2. la participación de los kallawayas en calidad de coinvestigadores.
Sin embargo, esta metodología y la epistemología subyacente llegan necesariamente a su punto crítico. En la discusión al respecto, la consecuencia de su rigor es un punto criticable y criticado, pero también un punto justificable y sostenible.
- La actitud y postura del investigador respecto a su objeto de estudio puede llegar a un punto crítico. IR no escapa a esta `crisis’. Consecuente con su principio metodológico, ella se identifica `émicamente’, en visión y criterio, con sus coinvestigadores kallawayas. ¡CASI siempre! Ella asume desde la primera página una actitud de admiración por la organización social y ritual kallawaya, pero alguna vez abandona esta posición, p. ej. cuando se refiere a la interpretación de los ritualistas con respecto a catástrofes y desgracias naturales, explicándolas como castigo por errores en el ritual y por la deuda sacrificial. Entonces IR se expresa necesariamente en forma neutral, objetiva, distante, reservada; “En la opinión de los amare-teños…”; “Según ellos…” (pp. 514-519).
- Otro efecto inevitable del método participativo-intersubjetivo (digamos ya: interactivo) es que la investigadora influye en el proceso formativo del ritual que ella investiga. IR lo reconoce (p. 678). Esta es una real consecuencia del método. El rechazo de la interpretación científica objetiva y valóricamente neutra en ciencias socioculturales, y la adopción del principio de la intersubjetividad como base del conocimiento generado, abren la posibilidad de la intervención del investigador en su objeto de estudio. Es más: la justifican dentro de exigencias estrictamente éticas. Esto es un elemento totalmente nuevo en el discurso sobre el conocimiento científico y en la metodología de la investigación socio-cultural, postmoderna.
- Otro efecto del método es que ya no se niega ni se disimula la relación emocional y afectiva entre el investigador y la comunidad investigada. IR lo reconoce y ella asume este compromiso. Tocando el tema del futuro incierto y la fe en la fuerza de la tradición amareteña, ella suspira: “…solo cabe compartir con los amareteños esta esperanza” (p. 681). Por lo mismo se explican y se justifican las expresiones dramáticas y nostálgicas de la autora (pp. 781ss.), haciéndose eco de la denuncia del “etnocidio del desarrollo (de la modernización, del inevitable cambio)”, llamado también “holocausto al progreso”. Impresiona también la frase final del libro donde IR pone de hecho su firma autográfica bajo la obra (3): “Irrefutablemente Amarete va a cambiar. Pero lo que Amarete hasta ahora ha realizado y creado, lo que ha configurado y desplegado constituye en todo caso una hazaña cultural fascinante a la que, con este mi libro, le quisiera levantar un monumento” (p. 785). Es la `antropología de compromiso’. Efectivamente, en la metodología de IR no hay rastro de la pretención de la `neutralidad valórica de la investigación’, pero ella demuestra que en ciencias socio-culturales se trata de una cienti-ficidad diferente.
Lo anterior no significa de ninguna manera dar paso a cierta permisividad en los códigos de la metodología, ni una falta de rigor científico. La prueba está en el capítulo 10 del libro donde alguien podría reprocharle un excesivo rigor del método, un perfeccionismo irritante, una odisea casi absurda y masoquista. En los párrafos 3 y 4 (pp. 694-780) se trata de demostrar que la estructura social y ritual de Amarete basada en los 10 géneros es un caso único en la región de los kallawayas, en todo el mundo andino y en el mundo tout court. Sabemos que el desafío más difícil siempre es demostrar empíricamente que no existe un segundo caso; parece una misión imposible. Sin embargo, IR la asume, provocando en el lector más pragmático no solo admiración, sino también irritación, cuando se siente llevado por 85 largas páginas de sofisticados senderos para demostrar que “Amarete es único”. El pragmático diría que este párrafo es sólo para el metodólogo y para el fiscalizador crítico. Para él, esta parte del libro vale como pieza digna del archivo. Nótese que, mientras el pragmático se irrita, el Prinzipienreiter entre los metodólogos quedaría insatisfecho, porque la prueba empírica de IR referente a la unicidad de Amarete no es (y nunca podrá serlo) totalmente impermeable y hermética.
Sin embargo, aun sin meterse en esta discusión queda la pregunta: ¿Se trata en estos párrafos “sofisticados” de un juego personal de IR, fascinada por el misterio de Amarete? ¡No! Los conceptos de los géneros simbólicos, sus principios y sus indicadores resultan ser definiciones y comparaciones salidas de la concepción de los amareteños, de su modo de concebir la realidad (ritual y social) local, no de la imaginación creadora de IR. Los conceptos relacionados de los 10 géneros de Amarete son, irrefutablemente, conceptos “émicos” (pp. 759ss.).
La conclusión de que “Amarete es único” -aunque parezca banal- levanta un problema mayor: ¿Cómo se explica que Amarete sea único? Los capítulos 9 y 10, que contienen las conclusiones del libro, son los de mayor interés para la formación de la teoría antropológica. Muestran una de las vías de un proceso de cambios rituales y de estructuras sociales. Las pp. 646-647 señalan ya el origen etno-histórico local de Amarete, y de su proceso de creciente complejidad del sistema de ordenación basado en el género. La comunidad de Amarete parece haberse aferrado tenazmente a este sistema de ordenación; lo elaboró y lo amplió constantemente conforme las nuevas situaciones. En cambio, las otras comunidades kallawayas parecen haber soltado poco a poco este principio de ordenación social y cúltico, al compás de los cambios socio-económicos y políticos. Resulta que la etno-historia puede ser muy local, conforme a: (a) los contextos locales cambiantes, y (b) las respuestas diferentes de los lugareños y sus dirigentes y ritualistas. IR habla de un proceso etno-histórico de traducción: se trata de la capacidad creativa local de traducir el ritual tradicional en un contexto nuevo, un proceso de traducción (p. 717). No parece aceptable que la aparición de un gran maestro ritualista carismático en la historia local, como Pasqual Tapia (compadre e informante principal de IR), sea un único y fantástico cometa en la historia kallawaya; debe haber una tradición ritual mayor. En una investigación etno-histórica podrían descubrirse los maestros de Don Pascual y la razón por la que precisamente en Amarete se haya desarrollado tan complicado y sofisticado, tan único e impresionante ritual colectivo basado en los 10 géneros simbólicos de los comuneros y la pacha, con sus cerros, chacras y agua.
Para explicar el extraño hecho que en todo el universo kallawaya sólo los amareteños se han organizado en base a los 10 géneros simbólicos y para conseguir más claridad en el bosque de las posibilidades e hipótesis, resulta definitivamente necesario desentrañar la dimensión etno-histórica de la investigación; una exhaustiva investigación etno-histórica para entender la formación y transformación del ritual local de Amarete. La autora es la primera en reconocerlo y sugerirlo (pp. 676, 680, 691).
Sobre la investigadora: IR, la maestra investigadora, es admirable por su asombrosa capacidad de trabajo, su inagotable energía, su absoluto rigor científico. Admirable es también por su actitud de autocrítica y su exigencia hasta el extremo con respecto a su propia investigación. Como investigadora es perfeccionista, incansable. Ciertamente no peca de falsa modestia; muestra sin reservas su propia excelencia. En las partes de su investigación bibliográfica, critica implacablemente los vacíos y las deficiencias metodológicas de insignes colegas investigadores, pero siempre reconociendo cabalmente sus valores y valorando generosamente sus logros (p.ej. el cap. 10, en que valora y critica a P. Flores, N. Wachtel, T. Platt y G. Rivière). Como colega investigadora IR es tan respetable como temible. Como maestra investigadora ella sabrá, sin duda, potenciar el todo de sus discípulos.
Sobre la investigación: En mi opinión, la obra completa del MUNDO INKARI de IR es y será siempre un clásico en creatividad científica e información antropológica; y un abre-caminos para la metodología postmoderna en ciencias socio-culturales. La obra es una digna continuación de los tomos anteriores. Una investigación de largo alcance, de gran rigor, de mayor relevancia y que descubre una realidad cultural muy profunda, jamás sospechada e imposible de descubrir con una metodología positivista: demostrando que las grandes obras nacen no del robot académico, sino de un gran amor.
Notas
(1) El primer ciclo del Mundo Ankari (los Vols. 1-4) comprende:
IR: Die Verbannung der Trauer (Llaki Wij’chuna). Nächtliche Heilungsrituale in den Hochanden Boliviens; Mundo Ankari, Band 1; Nördlingen: Greno, 1987.
IR: Dreifaltigkeit und Orte der Kraft: die Weisze Heilung. Nächtliche Heilungsrituale in den Hochanden Boliviens; Mundo Ankari, Band 2; Nördlingen: Greno, 1988.
IR: Abwehr und Verderben: die Schwarze Heilung. Nächtliche Heilungsrituale in den Hochanden Boliviens; Mundo Ankari, Band 3; Frankfurt: Zweitausendeins, 1990.
IR: Die Schlieszung des Kreises: Von der Schwarzen Heilung über Grau zum Weisz. Nächtliche Heilungsrituale in den Hochanden Boliviens; Mundo Ankari, Band 4; Frankfurt: Zweitausendeins, 1991.
El segundo ciclo del Mundo Ankari comienza con el volumen 5 de la obra, titulado:
IR: Rituale zur Rufung des Regens. Zweiter ANKARI-Zyklus: Kollektivrituale der Kallawaya-Region in den Anden Boliviens; Mundo Ankari, Band 5; Frankfurt: Zweitausendeins, 1993.
(2) Con Peter Kloos podemos considerar el conocimiento intersubjetivo como el fundamento de la epistemología dialéctica y del saber científico en las ciencias socio-culturales de la época actual, postpositivista: P. Kloos, Filosofie van de antropologie, Ed. Martinus Nijhoff, Leiden, pp. 25 ss.
(3) Este modo personal de hacerse presente el antropólogo en su informe, es lo que Peter Kloos, o.c. (defensor de la postura intersubjetiva como fundamento epistemológico del nuevo método científico en ciencias socio-culturales, y como garantía de credibilidad y veracidad) señala como “la autografía del investigador” justificándola y exigiéndola por la misma razón que el artista tiene para firmar su obra, ya que se trata de su interpretación fidedigna de la realidad observada.
Juan van Kessel – Instituto para el Estudio de la Cultura y Tecnología Andina (IECTA), Av. Diego Portales 2046, Iquique. E-mail: iecta@chilesat.net.
[IF]
As artes de curar: medicina, religião, magia e positivismo na República Rio-Grandense, 1889-1928 – WEBER (RBH)
WEBER, Beatriz Teixeira. As artes de curar: medicina, religião, magia e positivismo na República Rio-Grandense, 1889-1928. Santa Maria: Editora da UFMS; Bauru: EDUSC, 1999. 249p. Resenha de: SILVEIRA, Anny Jackeline Torres. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.22, n.43, 2002.
O final do século XX reservou descobertas surpreendentes no campo do conhecimento médico, tanto na área da identificação como no tratamento dos males que atingem o corpo de homens e mulheres. O anúncio do mapeamento da seqüência dos genes que compõem o DNA humano, realizado durante a última década pelos pesquisadores do consórcio público internacional Projeto Genoma Humano (PGH), tem sido tratado como a maior conquista da área médica, inaugurando mesmo uma nova era do conhecimento sobre a humanidade. Alguns afirmam que a medicina aproxima-se agora das ciências exatas, pela precisão com a qual esta descoberta poderá municiar o saber médico na identificação e solução das doenças1.
Estamos cada vez mais próximos de uma visão de doença pautada exclusivamente por uma explicação científica, em que os exames realizados por equipamentos ultra-modernos e o recurso à bioquímica responderiam a todas as necessidades e enfermidades do corpo humano? Não há como negar que tal descoberta representa uma grande vitória da medicina laboratorial, pautada no desenvolvimento da técnica e da tecnologia que envolve as descobertas do que se convencionou chamar a “era bacteriológica”. Porém, notícias como estas tendem a reforçar no imaginário social uma visão homogeneizadora e evolucionista do saber médico e de suas práticas. É sobre um mundo bastante contraposto a tal visão que nos fala o livro de Beatriz Weber, As artes de curar.
Elegendo como espaço de pesquisa a sociedade do Rio Grande do Sul na passagem do século XIX para o XX, a autora examina aspectos variados e interligados que caracterizariam a história do saber médico nesta região. Dentre eles, podemos citar as diferentes práticas de cura a que recorria sua população, a luta pela constituição de um campo profissional pelos médicos diplomados, as interferências que a ideologia positivista exerceu no reconhecimento da profissão, o papel da religião, da caridade e da magia na percepção da doença pelos leigos e sua interferência na posição que era assumida pelos médicos diante das mesmas. Sua análise aponta para uma realidade na qual práticas, saberes e crenças, diversos em seus fundamentos e procedimentos, partilhavam de forma às vezes conflituosa, às vezes em sobreposição ou harmonia, um mesmo espaço de ação.
Segundo Beatriz Weber, o poder da medicina é fruto de um processo que foi sendo construído durante todo o século XIX, e vai se consolidar no Rio Grande do Sul apenas por volta da década de quarenta. A teoria positivista e a forma como a medicina era por ela encarada tiveram papel importante neste processo. Conforme a autora, o positivismo era uma marca na formação das elites políticas do Rio Grande Sul e interferiu nas reações do poder público às tentativas de parte do corpo médico em criar restrições ao exercício de sua prática profissional, à adoção de medidas de intervenção para evitar a propagação das doenças e àquelas relativas à organização do espaço e da higiene urbana.
Bastante interessante é a descrição que a autora efetua sobre o modo como o saber médico é percebido por Comte e pelos partidários do positivismo, especialmente a idéia de que a medicina está subordinada à moral e à imagem que aproxima o médico do sacerdote: “aquele que diz o que é preciso fazer e o que se pode esperar, que traz a resignação em nome de uma ordem superior quando a ação não pode modificá-la” (p. 36). Havia, no Rio Grande do Sul, vários médicos partidários do positivismo. No entanto, nem todos partilhavam completamente das proposições dos seus teóricos a respeito do saber e da prática médica, mostrando, assim, como são variadas as possibilidades de apropriação das teorias que circulavam naquele momento, com leituras específicas dentro de contextos determinados.
Sobre este aspecto, chamam a atenção as justificativas elaboradas pelos membros do Apostolado Positivista do Brasil a respeito da defesa da liberdade no exercício da arte de curar. O profissional desta arte devia exercer uma influência espiritual sobre seus pacientes, era preciso que o médico se esforçasse para conquistar sua confiança. Era através dela, somada à sua conduta e ao seu devotamento, que o médico imporia a autoridade de sua palavra, e não por uma reserva de mercado estabelecida pela lei ou pela força. Antes de criticar os empíricos, dos quais teria nascido, a medicina (dita científica) devia apropriar-se dos seus resultados que foram confirmados pela experiência. Além disto, a confiança angariada pelos práticos e empíricos junto à população era fruto de uma identidade de crenças por eles partilhada, de concepções de mundo muito mais próximas do que, por exemplo, as que seriam professadas e propostas pelos médicos diplomados. Miguel Lemos, do Apostolado Positivista, contrapunha a figura do médico moderno aos seus “primitivos confrades, que sabem sinceramente fazer partilhar aos seus doentes a confiança que eles têm nos meios que empregam” (p.43). Este fator talvez também explicasse o sucesso de muitos “charlatães indignos”. À ciência, dizia então, era necessário penetrar no espírito da população para ser aceita.
A autora aborda também as relações entre as crenças positivistas e as questões da higiene e da intervenção pública nos espaços urbanos, e a influência que as teorias científicas sobre o contágio/transmissão (miasmas, bacteriologia) exerceram sobre a administração gaúcha, marcada pela ação de políticos positivistas. Ela frisa que, muitas vezes, concepções teóricas diferenciadas eram agregadas pelas instituições públicas, assim como pelos próprios médicos. Isto põe em cheque a perspectiva evolucionista e triunfalista do conhecimento científico, pautado por conquistas cada vez mais amplas e por uma aproximação sempre maior com a verdade. E não eram só filiações a abordagens distintas sobre a doença e a cura ¾ muitas das quais na época eram consideradas “científicas”, como o espiritismo e a homeopatia, entre outros ¾ que caracterizavam os médicos do período. Havia as crenças de caráter “subjetivo”, como a própria religião, que também marcava a prática de muitos desses profissionais.
Beatriz Weber aborda ainda o processo de constituição de “uma solidariedade corporativa e de um consenso profissional” entre os médicos diplomados. Isto se faz através de instituições como hospitais, associações ou entidades profissionais e da própria Faculdade de Medicina. Porém, como mostra a autora, este não é um processo linear ou simples, mas um caminho conflituoso marcado por desavenças políticas e filosóficas. Ao mostrar que estes médicos não eram os únicos portadores de um saber sobre as doenças e a cura; que seu conhecimento era marcado por incertezas teóricas, além das dificuldades práticas (como o instrumental precário, por exemplo); que participavam de outras crenças, como a religião, que influíam na forma como viam o processo de cura e seu próprio papel como profissionais, a autora desmistifica mais uma vez a velha imagem gloriosa e triunfante da medicina e a noção de que a constituição do poder que este saber exerce sobre a sociedade tenha sido fruto de um projeto homogêneo e sempre vitorioso.
Faz parte, ainda, da sua análise, o papel desempenhado pela Santa Casa de Misericórdia no processo de formação de um campo de saber específico, a transformação de suas funções assistênciais em terapêuticas e de produção de conhecimento, e as tensões que eram criadas pela convivência de práticas e saberes distintos. Por fim, Beatriz Weber mostra a permanência, durante todo este processo de afirmação do saber médico “científico”, das outras diversas práticas de cura às quais recorriam os diferentes grupos sociais. Nesta parte, a autora enfatiza uma perspectiva de análise que toma os grupos populares como sujeitos atuantes na organização do mundo no qual viviam, superando as interpretações que vão apresentar estes grupos como meros objetos ou pacientes de um projeto de normatização (neste caso, de “medicalização” da sociedade), ou que encaram suas ações apenas como uma reação à imposição destas normas disciplinadoras e dominadoras. Conforme afirma Beatriz Weber, estes setores sociais “interagiram socialmente com criatividade e participaram ativamente das definições do mundo em que viveram”(p.18).
Em sua conclusão, a autora nos diz que
(…) as diversas formas de organização para a cura … não se impuseram inclementes umas sobre as outras, garantindo o predomínio de uma visão. Intercambiaram-se elementos entre as concepções, compondo universos explicativos próprios, muitas vezes ambíguos e contraditórios … Muitas desenvolveram formas de atuação que as mantiveram em atividade até hoje. (p.228).
Isto nos leva a pensar sobre as afirmações emitidas pela imprensa sobre a conquista representada pela descoberta do código genético humano, apresentadas no início deste texto. Será mesmo tão absoluto o triunfo identificado nesta conquista? Como têm reagido as pessoas comuns a este avanço anunciado? O que muda na sua perspectiva sobre a doença e o processo da cura? Será que esta descoberta vai fazer esvaziar a peregrinação de pacientes que procuram o “Lar São Luiz”, o Centro do médium Chico Xavier2 e outras diversas “casas de cura”, terreiros de umbanda ou benzedeiras que se espalham através do País? Vamos deixar de lado os velhos chás para o resfriado, a enxaqueca ou outro mal-estar qualquer?
A feição que tem tomado o noticiário a respeito destas descobertas se inscreve na tradição, apontada por Maria Clementina P Cunha na apresentação da obra em exame, que
(…) atribui ao saber [especialmente ao saber dito científico], com sua intrínseca pretensão de deter a verdade, um potencial quase ilimitado de controlar e moldar a sociedade segundo seus próprios desígnios (p.15).
Se a genética promete à sociedade grandes conquistas, ela também apresenta fracassos e erros ¾ que, porém, não encontram publicidade tão marcante nos meios de comunicação. Além disto, ela propõe questões de caráter ético que afetam toda a sociedade e que, portanto, não deverão ser decididas num âmbito cultural, social e político restrito, como até então tem sido feito. É preciso, como nos mostra o livro em exame, ultrapassar a imagem asséptica da medicina [e da ciência como um todo] que lança fora toda crença, toda subjetividade, toda diversidade que fundamentou este saber e suas práticas sobre a cura. A ciência não é tão poderosa e hegemônica como muitas vezes deixa transparecer, nem homens e mulheres vivem ou elaboram o seu cotidiano a partir de uma perspectiva exclusivamente científica, de uma visão de mundo informada apenas pelos saberes que compõem esta esfera da produção cultural da sociedade. A leitura de Beatriz Weber contribui de forma significativa para ultrapassarmos essa visão linear e progressista que ainda hoje marca a imagem do conhecimento científico.
Notas
1 “[O] Projeto Genoma Humano, promete a era da bio-medicina de precisão”; “A transcrição … do código genético inaugura a era da medicina como ciência quase exata”. Folha de S. Paulo, “Genoma” (Caderno Especial). São Paulo, 27 de junho de 2000.
2 O “Lar São Luiz” e o centro de Chico Xavier são conhecidas “casas de cura” que realizam consultas e operações espirituais. A primeira está localizada no Rio de Janeiro, e a segunda, em Minas Gerais.
Anny Jackeline Torres Silveira – Coltec – UFMG, Doutoranda UFF.
[IF]As artes de curar: medicina/ religião/ magia e positivismo na República Rio-Grandense – 1889-1928 | Beatriz Teixeira Weber
Na paisagem sociocultural do século XX, as profissões apareceram como criaturas naturais, dotadas de legítima autoridade para influenciar ou mesmo dirigir os negócios humanos. Cada expertise reivindicava especial competência técnico-científica sobre a definição, avaliação e solução de nossos problemas cotidianos em áreas cada vez mais amplas. A medicina era geralmente apresentada como o arquétipo das profissões. Nela encontraríamos a forma mais bem-acabada de poder profissional. A demonstração da espetacular simbiose entre razão científica e ética de serviço tem sido a tônica de toda uma tradição historiográfica voltada a cultuar e justificar a autoridade que ela hoje goza, como sistema de conhecimentos e práticas dedicado a evitar, curar ou atenuar doenças.
Muita tinta tem sido gasta também na denúncia dessas formas de poder secular que se espalharam pelas sociedades modernas como contraponto do fenômeno que Weber cunhou como desencantamento do mundo. Da inspirada boutade de Oscar Wilde, para quem “toda profissão é uma conspiração contra os leigos” à “sociedade disciplinar” de Foucault, excelentes análises revelaram como as profissões lograram monopolizar o acesso e a aplicação do conhecimento que haviam adquirido, tendo em vista a preservação do status e de privilégios por elas reclamados. Dessa forma, toda uma vertente de estudos históricos e sociológicos dedicou-se à análise da influência política e cultural das profissões, buscando esclarecer a relação entre as profissões, as elites políticas e econômicas e o Estado; as relações entre elas, o mercado e o sistema de classes no mundo moderno. Leia Mais