Posts com a Tag ‘Portugal’
Fascismos (?): análises do integralismo lusitano e da ação integralista brasileira (1914-1937) | Felipe Cazetta
Fascismos… | Detalhe de capa |
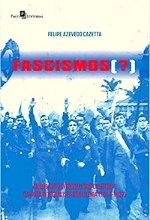 En la amplíssima literatura dedicada al anàlisis del fascismo, no faltan los trabajos comparativos. A título de ejemplo pueden citarse a Linz, Poulantzas, Nolte. Payne, Levy, Felice y se puede recordar que uno de los primeros congresos, después de la revolución de los claveles, que reunieron a los historiadores portugueses en 1986 [2], recibió las contribuciones de sus colegas (Woolf, Payne, Tusell, Paxton, Gentile, Fischer.Galati. Kühnl….) de otros países que precisamente se habían dedicado a esta labor comparativa. Pero, salvo alguna excepción [3] no abundan las investigaciones que contrastan la evolución del ideario fascista entre Europa y América Latina, y aún menos, estrictamente entre Brasil y Portugal. Por lo tanto, esta ausencia que ahora queda cubierta, sería una primera razón para poner de relieve el valor de la obra de Felipe Acevedo Cazetta
En la amplíssima literatura dedicada al anàlisis del fascismo, no faltan los trabajos comparativos. A título de ejemplo pueden citarse a Linz, Poulantzas, Nolte. Payne, Levy, Felice y se puede recordar que uno de los primeros congresos, después de la revolución de los claveles, que reunieron a los historiadores portugueses en 1986 [2], recibió las contribuciones de sus colegas (Woolf, Payne, Tusell, Paxton, Gentile, Fischer.Galati. Kühnl….) de otros países que precisamente se habían dedicado a esta labor comparativa. Pero, salvo alguna excepción [3] no abundan las investigaciones que contrastan la evolución del ideario fascista entre Europa y América Latina, y aún menos, estrictamente entre Brasil y Portugal. Por lo tanto, esta ausencia que ahora queda cubierta, sería una primera razón para poner de relieve el valor de la obra de Felipe Acevedo Cazetta
Una segunda razón para resaltar este trabajo es que el realizar esta comparación, permite iluminar con mayor intensidad determinados aspectos, que si solo se hiciera un examen nacional no saldrían a la luz. Una tercera razón es la coherencia y el rigor de este libro que es el resultado adaptado de una tesis presentada en el año 2016
El autor de este libro acierta con su título “Fascismos”, por cuanto como más se profundiza en el análisis del fascismo más se descubre que, sobre un fondo comùn, aparece su carácter heteróclito. Así cada vez está más claro que hubo variadas expresiones fascistas influenciadas por las evoluciones económicas, sociales, políticas y culturales de cada estado, que aun dentro de un mismo país, estas expresiones tenían connotaciones diversas y que fueron adaptando su discurso en las diferentes fases que vivieron. Este es el caso del integralismo lusitano y de su correspondiente brasileño. No solo hubo organizaciones diversas sino dentro de ellas, discursos relativamente heterogéneos, que de todos modos alimentaban un tronco común. Descubrir este tronco común y al mismo tiempo ser sensible a las diferencias no es tarea fácil. Esto es lo que hace esta publicación
Esta característica se pone de manifiesto en este libro por cuanto su principal óptica es la de hacer un análisis teórico doctrinario de los fascismos brasileño y portugués y ver cuales son sus principales similitudes y diferencias y sus mutuas influencias. Para concretar este objetivo, el autor recorre a explicar sintéticamente las biografías de los principales líderes, a estudiar detalladamente sus discursos y publicaciones y a rastrear las referencias que se hacían mutuamente, en sus periódicos y revistas, donde destacan Naçao Portuguesa y América Brasileira
Viajes, contactos, noticias, artículos compartidos y alabanzas mutuas prueban que el Integralismo Lusitano y el Nacional Sindicalismo de este país no estaban tan lejos de la Acçao Integralista Brasileira y aun de la Acçao Imperial Patrianovista Brasileira. Durante un cierto tiempo bebían unos de otros y encontraban una común inspiración en Maurras y el corporativismo que la Iglesia católica preconizaba desde la encíclica Rerum Novarum y que la Qudragesimo Anno de Pio XII reafirmó en 1931. También admiraban los avances de Mussolini en Italia. En cambio, no deja de ser sorprendente que casi no se encuentren referencias a los autores y líderes fascistas españoles o al rumano Manoilescu que fue uno de los divulgadores del corporativismo más conocido en Europa en los años treinta. Parece evidente que la lusofonia y un pasado comùn entre Brasil y Portugal debió jugar un positivo y contradictorio papel entre aquellos movimientos
Contradictorio, porque la afirmación nacionalista y su fijación por reconstruir la historia, propias de estas posiciones, les llevaban a ensalzar la época imperial de Portugal y su dominio sobre Brasil. De ahí que como Cazetta ilustra, algunos líderes brasileiros oscilasen entre la lusofilia y la lusofobia. Pudo más la primera y por lo que parece las relaciones fueron estrechas y positivas. Queda por ahora sin responder la pregunta de hasta que punto estas relaciones fueron favorecidas por los emigrantes portugueses en Brasil y por la propaganda que el Estado Novo hacía en este país [4]. De todos modos, ¿que tenían en común los integralismos brasileño y portugués y sus líderes? En primer lugar, según Cazetta, comparten un pasado literario y hasta cierto punto elitista. Hubiera sido interesante profundizar en el primero ya que el modernismo [5] artístico y literario fue predominante en aquella época y hubiera podido dar algunas claves para entender mejor los origenes culturales de aquellos líderes y de sus expresiones fascistas. No deja de ser curioso que algunos de ellos compartan estudios jurìdicos en las facultades de derecho de Coïmbra y de Recife y Sao Paulo y que allí se forme una identidad de grupo. En el caso portuguès no deja de ser sorprendente que autores tan diferentes como Herculano, Garrett y Antero de Quental sean los referentes anteriores del naciente integralismo
En segundo lugar, ambos movimientos comparten su crítica al liberalismo y a los regímenes parlamentarios a los que adjudican todos los males históricos y reaccionan contra el comunismo. Dios. Patria y Familia podría ser el lema que les une en una concepción tradicionalista que tratan de justificar con una visión histórica peculiar que ellos reconstruyen a su manera. Esta visión les lleva hasta la época medieval en la que florecían organicismo y corporativismo, que constituyen sus fundamentos organizativos para la sociedad que se proponen construir. Un estado fuerte, con ansias expansionistas y centralizado políticamente, pero que otorga poderes administrativos a los municipios les parece ser la mejor fórmula de gobierno. Monárquicos convencidos en su origen, algunos aceptan un cierto republicanismo que no caiga en los defectos de las denunciadas constituciones de 1891 en Brasil y del régimen republicano portugués de 1910
La descripción de estas características es una parte muy substantiva de este libro, que a veces se hace repetitiva como cuando se alarga la presentación del ideario Maurrasiano. Era casi inevitable, ya que, a pesar de pequeñas matizaciones ligadas a itinerarios personales, las expresiones doctrinarias de estas dos corrientes fascistas se parecen y no brillan por su originalidad. Quizás, hubiera sido útil dedicar más espacio a explicar su articulación con el contexto cronológico y politico de cada país. Esto hubiera facilitado la tarea de los potenciales lectores de los dos países. Los brasileños no conocen muy bien la evolución política de Portugal de después de la primera guerra mundial y al revés, no muchos portugueses saben las vicisitudes de la vida política brasileña
Igualmente, si se hubiesen caracterizado mejor a las organizaciones (fuerza, afiliados, modos de organización interna, actividades externas, …) se habría podido pasar a otros niveles de interpretación [6]. Pero esto se escapa a los objetivos del trabajo. El cual hace avanzar en el conocimiento de dos movimientos protofacistas en sus inicios y más declaradamente fascistas en sus respectivas maduraciones, en dos países, tan lejanos y cercanos, como Brasil Y Portugal
Igualmente contribuye a comprender mejor sus relaciones y mutuas influencias, Abre así un estimulante campo, relativamente inexplorado, que hay que esperar sea cultivado por otros investigadores. En cualquier caso, permite sugerir que las expresiones fascistas en Brasil, como en el caso de Mejico [7], no fueron meras copias o mimetismos de lo que sucedía en Europa
Tuvieron sus rasgos específicos. En este sentido, con esta publicación, se da un paso adelante con respecto a las consideraciones que formulaba Helgio Trindade [8] hace casi cuarenta años atrás
Por fin, para finalizar esta nota de lectura hay que constatar como lo hace Felipe Cazetta que en los últimos tiempos los movimientos y las posiciones de extrema derecha han aumentado no solo en su presencia en gobiernos y administraciones en todo el mundo sino también en las practicas cotidianas de muchos ciudadanos y compartir con el, su preocupación por este crecimiento. Conocer mejor sus origenes y despliegues ideológicos se convierte así en una manera de empezar a combatirlo. Es lo que hace este libro que ahora se recomienda
Notas
2. AA.VV. (1987) O estado Novo. Das origens ao fim da dictadura. 1926-1959. Lisboa Ed. Fragmentos. II Vol
3. Larsen, S.U. (Ed.) (2001). Fascism outside europe. N.Y. Columbia University Press7
4. Paulo.E. (2000 ) Aquí tambem é Portugal: a colónia portuguesa no Brasil e o Salazarismo. Coimbra, Quarteto
5. Griffin,R. (2003) Modernism anf fascism. The sense of a beguining under Mussolini and Hitler. N.Y. Palgrave Mac-Millan.
6. Para una interpretación comparativa de las politicas sociales de los fascismos en Portugal, Itàlia, España y Alemania ver Estivill. J. (2020) Europa nas trevas. As politicas sociais nos fascismos. Lisboa Universidad Nova de Lisboa
7. Meyer, J. (1977) Le sinarquisme: Un mouvement fasciste Mexicain. Paris. Ed. Hachette
8. Trindade, H.(1982) El tema del fascismo en America Latina, Revista de Estudios Politicos n. 50
Jordi Estivill – Universidade de Barcelona – Espanha. E-mail: jordi_estivill@hotmail.com
CAZETTA, Felipe. Fascismos (?): análises do integralismo lusitano e da ação integralista brasileira (1914-1937). Jundiaí: Paco editorial, 2019. Resenha de: ESTEVILL, Jordi. Caminhos da História. Montes Claros, v.26, n.1, p.241-244, jan./jun. 2021. Acessar publicação original [IF]
Regalismo no Brasil colonial: a Coroa portuguesa e a Ordem do Carmo – Rio de Janeiro 1750-1808 | Leandro F. L. Silva
Superando a tradicional concentração de estudos nas atividades da Companhia de Jesus, as historiografias portuguesa e brasileira produziram nas últimas décadas uma quantidade significativa de trabalhos sobre a atuação de outras ordens religiosas na Época Moderna.[3] Apesar disso, no que tange ao impacto das medidas adotadas na segunda metade do século XVIII para reforçar a autoridade da Coroa face às corporações regulares, o caso paradigmático da expulsão dos jesuítas dos territórios lusitanos em 1759 continua a ser visto como evento quase exclusivo da prática regalista naquela esfera. Nesse quadro, o trabalho de Leandro Ferreira Lima da Silva oferece novas luzes para a compreensão mais ampla das medidas de controle da Coroa portuguesa sobre as ordens religiosas daquele período. Defendida originalmente em 2013 como Dissertação de Mestrado no Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo, a obra foi contemplada em 2016 com o prêmio História Social do referido Programa.
Duas características se destacam na investigação do autor: a abrangência da análise e o caráter minucioso da reconstituição de diferentes contextos que atravessam o período em exame. A consequência é o ambicioso plano da obra, desdobrando-se em quinze capítulos divididos em cinco partes, num total de 556 páginas. A matéria-prima para a análise proveio de diferentes acervos documentais. Devido à perda de grande parte da documentação da antiga Província Carmelitana Fluminense, o autor montou um repertório documental procurando recompor um quebra-cabeça cujas fontes estavam dispersas em arquivos tão distintos e distantes como o Arquivo Central da Província Carmelitana de Santo Elias, em Belo Horizonte; o Arquivo Nacional, o Arquivo Geral da Cidade e o Arquivo da Cúria Metropolitana, no Rio de Janeiro; e diferentes fundos documentais digitalizados do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. A impressão que fica é que o autor praticamente esgotou as fontes disponíveis no Brasil, restando por analisar apenas os arquivos europeus.
A historiografia também recebeu cobertura extensiva no livro. Dialogando com as obras de Evergton Sales Souza e José Pedro Paiva, para mencionar apenas alguns, Leandro Silva se mostra atualizado com relação à produção luso-brasileira sobre as questões da Igreja católica, da Ilustração, da Coroa e da colonização portuguesas no século XVIII. Com base na historiografia, Leandro Silva define o regalismo praticado nos domínios portugueses na segunda metade do século XVIII segundo uma dupla dimensão: a subordinação da Igreja e do clero aos poderes temporais da Coroa, “erradicando privilégios e imunidades”; e a manutenção do catolicismo como religião oficial do Estado, livrando-se, não obstante, das pressões da Santa Sé (p. 27). O tema da reforma regalista na Província do Carmo do Rio de Janeiro não é novo na historiografia. Inaugurado por Francisco Benedetti Filho, foi continuado por Sandra Rita Molina, cuja leitura o rigoroso escrutínio do autor deixou escapar.[4] As questões da administração dos bens da Província, da limitação do quantitativo de religiosos e do relaxamento moral dos carmelitas atravessam as três investigações sobre o tema. Mais recentemente, outro trabalho de Sandra Molina estendeu a análise dos referidos pontos até o final do período imperial, mostrando a continuidade da política regalista do Império do Brasil em relação às medidas adotadas anteriormente pela Coroa portuguesa.[5]
O diálogo com a historiografia internacional é relativamente pequeno na obra de Leandro Silva. Em que pese a lembrança do importante livro coletivo organizado por Ulrich Lehner e Michael Print, como também do já clássico estudo de Samuel Miller, o trabalho carece de referências mais amplas sobre o impacto de medidas de teor regalista que, adotadas por diferentes monarquias europeias na segunda metade do Setecentos, tiveram consequências diretas sobre as atividades das ordens religiosas em seus territórios.[6] Por fim, não existe a tentativa de efetuar um balanço historiográfico das mudanças estimuladas pelas reformas bourbônicas no campo da administração eclesiástica dos domínios hispano-americanos, cujo exame comparativo poderia constituir uma frutífera via de análise para o autor.Mesmo assim, o trabalho possui abrangência e profundidade incomuns para um projeto desenvolvido no âmbito do Mestrado. É o momento de se retomar essa dupla característica, aproximando-se agora do objeto. Trata-se de uma pesquisa que tem como objetivo assinalar os efeitos de diferentes medidas regalistas tomadas pela Coroa portuguesa com relação à Província do Carmo do Rio de Janeiro. Fundada em 1720, a Província do Carmo do Rio de Janeiro constituía desde 1595 uma vice-província que se encontrava até então dependente da Província de Portugal. A fundação fluminense abrangia os conventos do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Angra dos Reis, de Santos, de São Paulo e de Mogi das Cruzes, bem como o hospício de Itu. Em informação remetida à Corte em 1763, o bispo do Rio de Janeiro denunciava que a própria fundação da Província ocorrera “com o dinheiro angariado através de negociações nas Minas e em outras regiões do Brasil”, com cujos recursos fr. Francisco da Purificação, o primeiro provincial, “soube merecer o agrado dos religiosos de Roma, onde tudo se compra” (p. 146, grifos do autor).
O recorte necessariamente monográfico da pesquisa não impede comparações com outros contextos. O autor traz à análise a recepção de medidas de teor análogo ocorridas nas províncias do Carmo da Bahia e na reformada de Pernambuco. Paralelamente, no que tange à capitania do Rio de Janeiro, o autor discute seu tema à luz de outros quadros, como as medidas de reforma empreendidas pela Coroa junto aos frades capuchos da Província Franciscana da Imaculada Conceição e o papel de carmelitas e franciscanos no mencionado território após o afastamento dos missionários jesuítas. A primeira parte da obra, abrangendo um único capítulo intitulado “A mentalidade regalista setecentista e o clero regular no Império Português”, anuncia o caráter amplo da abordagem do autor. Nessa parte, busca em textos basilares da Ilustração portuguesa, como o Testamento político de D. Luís da Cunha, um conjunto de argumentos que depois seriam postos em prática, ao longo dos reinados de D. José I e de D. Maria I, para o controle das corporações regulares. No discurso dos estrangeirados, a ênfase recai sobre o acúmulo de bens efetuado pelas ordens religiosas, quase sempre pela via de legados testamentários; o ingresso muito numeroso de noviços nas fundações conventuais; a ociosidade dos religiosos; as isenções relativas aos poderes seculares; e a falta de observância das regras. No processo da reforma dos frades carmelitas do Rio de Janeiro, tais pontos reapareceram com força nas ações das autoridades da Província.
A fina reconstituição dos contextos representa o que há de mais valioso no trabalho de Leandro Silva. A segunda parte, a maior da obra e que abrange seis capítulos, intitula-se “A Província de Nossa Senhora do Carmo do Rio de Janeiro e o ‘tímido’ regalismo pombalino (1750-1778)”. Na verdade, o material tratado no capítulo é mais amplo do que o indicado no recorte cronológico. O autor examina inicialmente a sublevação ocorrida no Convento do Carmo do Rio de Janeiro em 1743, quando lutas de facções davam o tom da administração da Província, dividindo ocupantes dos cargos em dois grupos opostos: os “filhos do Rio”, que abrangiam os religiosos naturais da referida capitania, e os “filhos de fora”, que, em sua maior parte, agrupavam os religiosos nascidos em Portugal e nas demais capitanias da Colônia (p. 106). Ao longo da segunda parte, o autor desenvolve um argumento muito convincente. Apesar da existência de sérios conflitos na Ordem, e da edição de numerosas medidas que, idealizadas por Sebastião José de Carvalho e Melo na década de 1760, destinavam-se a limitar a entrada de noviços e a diminuir o volume dos bens que ingressavam nas corporações regulares, ao longo do reinado de D. José I as diferentes autoridades coloniais não tomaram medidas rígidas de controle sobre os frades carmelitas do Rio de Janeiro. No contexto em pauta, os poderes coloniais sediados na capitania encontravam-se inteiramente envolvidos nas disputas de limites com a Espanha na região sul da Colônia, que foram apenas solucionados com o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777.
A terceira parte da obra abrange dois capítulos. Conforme o seu argumento principal, “se o consulado pombalino deu embasamento teórico às políticas regalistas e aos poderes dos bispos na Igreja nacional e frente à Santa Sé, no reinado mariano a Coroa aprofundou essas posições”. (p. 378). Seguindo, assim, as tendências da historiografia mais recente, o autor não identificou mudanças significativas na política regalista após a saída do Marquês de Pombal, em 1777. Além disso, as autoridades coloniais encontravam-se na ocasião já desembaraçadas dos problemas nas fronteiras do sul. Após a suspensão das eleições da Província em 1783, o vice-rei do Estado do Brasil apresentou à rainha D. Maria I um dossiê, “para fazer conceito do miserável estado em que se acha uma Corporação Religiosa que só serve de descrédito à Religião e de peso e mau exemplo ao Estado” (p. 259). No documento, que pautou os rumos da reforma que seria iniciada dois anos depois, acusa-se uma sucessiva quebra das regras religiosas e dos fundamentos da economia da Província: religiosos adquiriam em Roma ou em Lisboa privilégios honoríficos, afastando-se dos atos litúrgicos e do trabalho em comum; possuíam grande número de escravos pessoais para lhes servir, em contrariedade aos votos de pobreza; e tinham até concubinas, por vezes estabelecidas publicamente em residências próximas às sedes dos conventos, contrariando os votos de castidade. O vasto patrimônio imobiliário da Província, constituído por dezenas de moradias urbanas e fazendas, era mal administrado, chegando ao ponto de não produzir alimento suficiente para os próprios religiosos.
A quarta parte da obra estende-se por cinco capítulos. Após o envio da denúncia do vice-rei à Corte, D. José Joaquim Mascarenhas Castelo Branco, o bispo do Rio de Janeiro, foi nomedo como visitador e reformador da Província do Carmo. A atuação reformadora deste se direcionou principalmente a combater as irregularidades já apontadas pelo vice-rei. Suas ações visaram aprimorar o rendimento econômico das fazendas dos conventos, combater a concessão de distinções pessoais de caráter honorífico e regulamentar as atividades da comunidade, obrigando os frades à celebração dos atos litúrgicos e à assistência no refeitório coletivo. Além da intervenção direta de poderes externos à Ordem, a reforma na Província do Carmo do Rio de Janeiro se distinguiu por sua longa duração se comparada a iniciativas semelhantes introduzidas em outras ordens regulares. Após a resistência dos religiosos, e em aliança com poderes locais, como a Câmara do Rio de Janeiro, a reforma foi encerrada em 1800. A atuação do bispo promoveu um verdadeiro expurgo nos quadros da Província. Seu quadro de religiosos passou de 180 para 47 entre 1780 e 1799.Da perspectiva metodológica, a obra leva em conta que as inúmeras cartas produzidas pelos agentes administrativos envolvidos na reforma da Província Carmelita Fluminense – tais como o bispo do Rio de Janeiro, o vice-rei, os frades representantes da Província, o Senado da Câmara e o Conselho Ultramarino – podem ser vistas simultaneamente como instrumento de dominação da Coroa e como veículo “de negociação de súditos instalados nos mais longínquos pontos do ultramar” (p. 47). Recentemente, essa linha de estudos se revelou importante para um expressivo conjunto de historiadores, que sistematizou o funcionamento dos canais de comunicação política que uniam os diferentes poderes em funcionamento na monarquia portuguesa, nos dois lados do Atlântico.[7]
Introduzida na América Portuguesa em 1580 para cuidar da catequização do gentio e atender demandas espirituais dos colonos moradores na capitania de Pernambuco8, a Ordem do Carmo estabelecida no Rio de Janeiro não foi mais considerada capaz de realizar aquelas tarefas na segunda metade do século XVIII. Analisando os avanços e recuos das iniciativas de reforma, as relações estabelecidas entre os agentes seculares e eclesiásticos, bem como as bases teológicas e canônicas que fundamentaram a iniciativa da Coroa, a obra de Leandro Silva merece figurar ao lado de outras que constituem pontos de partida obrigatórios para o tema, como o clássico trabalho de Caio César Boschi, ou a recente coletânea organizada por Francisco Falcon e Cláudia Rodrigues.9
Notas
3. Com relação à América Portuguesa, a título ilustrativo: AMORIM, Maria Adelina. Os franciscanos no Grão-Pará e no Maranhão: missão e cultura na primeira metade de Seiscentos. Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa: Universidade Católica Portuguesa, 2005; SOUZA, Jorge Victor de Araújo. Para além do claustro: uma história social da inserção beneditina na América portuguesa, c. 1580 – c. 1690. Niterói: Eduff, 2014.
4. BENEDETTI FILHO, Francisco. A reforma da Província Carmelitana Fluminense (1785-1800). 1990. 190f. Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990. MOLINA, Sandra Rita. (Des)obediência, barganha e confronto: a luta da Província Carmelita Fluminense pela sobrevivência (1780-1836). 1998. 338f. Dissertação (Mestrado em História), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1998.
5. MOLINA, Sandra Rita. A morte da tradição: a Ordem do Carmo e os escravos da Santa contra o Império do Brasil (1850-1889). Jundiaí: Paco Editorial, 2016. Esta obra foi resenhada por BARBI, Rafael José. Catolicismo, escravidão e a resistência ao Império: Um outro olhar. Almanack, n. 15, 2017, pp. 366-370.
6. LEHNER, Ulrich L.; PRINT, Michael (Dir.). A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe. Leiden: Brill, 2010; MILLER, Samuel J. Portugal and Rome (c. 1748-1830). An Aspect of the Catholic Enlightenment. Roma: Universitá Gregoriana Editrice, 1978; BEALES, Derek. Prosperity and Plun der. European Catholic Monasteries in the Age of Revolution, 1650-1815. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
7. FRAGOSO, João; MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Um Reino e suas repúblicas no Atlântico: comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola nos séculos XVII e XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.
8. HONOR, André Cabral. Envio dos carmelitas à América portuguesa em 1580: a carta de Frei João Cayado como diretriz de atuação. Tempo, v. 20, 2014, p. 1-19.
9. BOSCHI, Caio César. Os leigos e o poder: irmandades leigas e política colonizadora em Minas Gerais. São Paulo: Ática, 1986; FALCON, Francisco; RODRIGUES, Cláudia (Orgs.). A “época pombalina” no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: FGV: Faperj, 2015.
Referências
AMORIM, Maria Adelina. Os franciscanos no Grao-Para e no Maranhao: missao e cultura na primeira metade de Seiscentos. Lisboa: Centro de Estudos de Historia Religiosa: Universidade Catolica Portuguesa, 2005.
BARBI, Rafael Jose. Catolicismo, escravidao e a resistência ao Imperio: Um outro olhar. Almanack, n. 15, 2017, pp. 366-370.
BEALES, Derek. Prosperity and Plunder. European Catholic Monasteries in the Age of Revolution, 1650-1815. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
BENEDETTI FILHO, Francisco. A reforma da Provincia Carmelitana Fluminense (1785-1800). 1990. 190f. Dissertacao (Mestrado em Historia), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 1990.
BOSCHI, Caio Cesar. Os leigos e o poder: irmandades leigas e politica colonizadora em Minas Gerais. Sao Paulo: Atica, 1986.
FALCON, Francisco; RODRIGUES, Claudia (Orgs.). A “epoca pombalina” no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: FGV: Faperj, 2015.
FRAGOSO, Joao; MONTEIRO, Nuno Goncalo. Um Reino e suas republicas no Atlântico: comunicacoes politicas entre Portugal, Brasil e Angola nos seculos XVII e XVIII. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2017.
HONOR, Andre Cabral. Envio dos carmelitas a America portuguesa em 1580: a carta de Frei Joao Cayado como diretriz de atuacao. Tempo, v. 20, 2014, p. 1-19.
LEHNER, Ulrich L.; PRINT, Michael (Dir.). A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe. Leiden: Brill, 2010.
MILLER, Samuel J. Portugal and Rome (c. 1748-1830). An Aspect of the Catholic Enlightenment. Roma: Universita Gregoriana Editrice, 1978.
MOLINA, Sandra Rita. A morte da tradicao: a Ordem do Carmo e os escravos da Santa contra o Imperio do Brasil (1850-1889). Jundiai: Paco Editorial, 2016.
MOLINA, Sandra Rita. (Des)obediência, barganha e confronto: a luta da Provincia Carmelita Fluminense pela sobrevivência (1780-1836). 1998. 338f. Dissertacao (Mestrado em Historia), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1998.
SOUZA, Jorge Victor de Araujo. Para alem do claustro: uma historia social da insercao beneditina na America portuguesa, c. 1580 – c. 1690. Niteroi: Eduff, 2014.
William de Souza Martins – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro – RJ – Brasil. Professor Associado da Área de História Moderna do Instituto de História da UFRJ, onde atualmente ocupa a função de vice-diretor. Membro permanente do Programa de Pós-graduação em História Social da UFRJ, atuando como editor associado da Topoi: Revista de História. Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (2001) com a tese Membros do corpo místico: ordens terceiras no Rio de Janeiro (c. 1700 – 1822), que foi publicada em 2009 pela Edusp. Participa dos grupos de pesquisa Ecclesia (UNIRIO), ART (Antigo Regime nos Trópícos – UFRJ) e Sacralidades (UFRJ).
SILVA, Leandro Ferreira Lima da. Regalismo no Brasil colonial: a Coroa portuguesa e a Ordem do Carmo, Rio de Janeiro, 1750-1808. São Paulo: Intermeios/USP; Brasília: CAPES, 2018. Resenha de: MARTINS, William de Souza. Monarquia portuguesa e política regalista: ordens religiosas no final do setecentos. Almanack, Guarulhos, n.25, 2020. Acessar publicação original [DR]
Rock cá/ rock lá: a produção roqueira no Brasil e em Portugal na imprensa – 1970/1985 | Paulo Gustavo da Encarnação
Bichos escrotos saiam dos esgotos
Bichos escrotos venham enfeitar […]
Bichos, saiam dos lixos
Baratas me deixem ver suas patas
Ratos entrem nos sapatos
Do cidadão civilizado
(TITÃS, 1986).
Nas favelas, no Senado
Sujeira pra todo lado
Ninguém respeita a Constituição
Mas todos acreditam no futuro da Nação
(LEGIÃO URBANA, 1987)
O primeiro fragmento citado compõe a letra da música “Bichos escrotos”, do álbum Cabeça Dinossauro da banda Titãs. Ainda que apresentada em shows desde o começo da década de 1980, a música foi gravada apenas em 1986. O motivo: a censura imposta no regime militar. Já o segundo excerto compõe o disco Que país é este, da banda Legião Urbana. Lançado no álbum de 1987, a música, igualmente intitulada “Que país é este”, rapidamente se transformou num hit da banda e embalou gerações. Ambas foram oficialmente lançadas nos anos iniciais do processo de redemocratização do Brasil. Contêm críticas profundas ao período e aos fundamentos da Nova República, denominação cunhada para tratar do período iniciado com o fim da ditadura militar (FERREIRA; DELGADO, 2018).
Elas foram (e são) entoadas por jovens de diferentes gerações como canções de protesto e contestação à ordem política vigente e à estrutura social. Embora trintonas, são extremamente atuais para pensarmos o cenário político brasileiro, as relações entre Executivo e Legislativo e, principalmente, as práticas políticas adotadas. Afinal, atualmente ainda sobram “bichos escrotos” que desrespeitam a Constituição, mas, apesar da dura realidade enfrentada pelo cidadão brasileiro, entoam fábulas encantadoras sobre o “futuro da Nação”.
Não obstante, as canções também possibilitam aprofundar a discussão acerca das complexas relações entre história, rock, mídia e política. E suscitam outras importantes indagações, tais como: O que é rock? É um gênero nacional ou estrangeiro? É popular ou elitista? É música de caráter alienante ou música de protesto? É expressão de posturas progressistas ou conservadoras? Como é comumente classificado por agentes do campo midiático?
Esses são alguns dos problemas argutamente debatidos pelo trabalho recém-publicado por Paulo Gustavo da Encarnação, doutor em história pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e com estágio pós-doutoral realizado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Fruto da sua tese de doutorado, sob a orientação do professor doutor Áureo Busetto, e com estágio de pesquisa em Portugal, o historiador publicou o livro intitulado Rock cá, rock lá: a produção roqueira no Brasil e em Portugal na imprensa (1970-1985).
A obra apresentada se inscreve no horizonte da chamada “história política renovada”, que, como formulado por René Rémond (1996), concebe a amplitude dos objetos enfocados pela história política. Toma o rock como objeto com potencial para o conhecimento de práticas políticas diversas e múltiplas dimensões da identidade coletiva — perspectiva que possibilita adentramos “terrenos que, mesmo aparentemente apresentados como paisagens desérticas e estéreis, são searas para serem trilhadas pelo historiador do contemporâneo” (ENCARNAÇÃO, 2018, p. 32). O autor do livro observa a “relação rock/política como resultado de um feixe de relações sociais, cujos subsídios principais podem ser percebidos em discursos, nos comportamentos e, inclusive, nas aparentes ausências de elementos e ingredientes da política” (ENCARNAÇÃO, 2018, p. 32).
Com tais preocupações, Paulo Gustavo da Encarnação procura demonstrar as proximidades entre o rock brasileiro e o lusitano entre as décadas de 1970 e 1980. Aponta semelhanças entre os países; por exemplo, os períodos de ditadura. Mas também cuida das particularidades. Munido de uma perspectiva comparativa, afasta-se de visões totalizantes, hegemônicas e uniformes para pensar os agentes e expedientes dos universos roqueiros brasileiro e português. Como bem lembrou Marc Bloch sobre o trabalho do historiador (2001, p. 112), “no final das contas, a crítica do testemunho apóia- se numa instintiva metafísica do semelhante e do dessemelhante, do Uno e do Múltiplo”.
Assim, o livro busca refletir comparativamente acerca das características do rock lusitano e do brasileiro. Para tanto, leva em conta parâmetros linguístico-poéticos e musicais na análise de canções com críticas sociais e políticas. Procura demonstrar como o gênero foi classificado, respectivamente, por agentes brasileiros e portugueses, ocupando-se especialmente das definições e dos estereótipos formulados pelos integrantes do universo midiático, assim como da constituição e atuação da crítica musical veiculada em cadernos jornalísticos específicos e/ou em revistas especializadas. Portanto, historiciza o rock e o modo como o gênero foi tomado pela imprensa nos universos brasileiro e português.
Com relação à imprensa, concebe as diferentes e, por vezes, antagônicas facetas que conferem existência a uma empresa midiática. Compreende o estatuto das suas fontes e explica, detalhadamente, os passos trilhados para a realização do estudo. Apresenta, por exemplo, o modo como constituiu quadros temáticos para realização da pesquisa documental e para o trabalho com a bibliografia — expediente que possibilitou estruturar uma narrativa fluente e pouco afeita apenas à exposição cronológica e linear dos fatos.
Com base nos dados obtidos em pesquisa documental de fôlego e a partir da consulta crítica e assertiva à ampla e diversificada bibliografia, o pesquisador expõe consistente tese sobre o tema:
O rock produzido em língua portuguesa, no Brasil e em Portugal, desde os anos 1950 vinha num processo de nacionalização que culminaria, a partir da década de 1970 e, com especial destaque, para os anos 1980, no denominado rock nacional. […] defendemos a tese de que o rock produzido durante o período de 1970-1985 expressou e lançou mensagens musicais e críticas políticas. Ele se tornou, por conseguinte, um catalisador e um difusor de anseios e visões de mundo de uma parcela da juventude que não estava disposta a ver suas expectativas com relação à vida cultural e à política encerradas nas dicotomias: nacional/ estrangeiro, popular/elitista, capitalismo/socialismo (ENCARNAÇÃO, 2018, p. 25).
Além de fértil e sólida tese, o leitor terá a oportunidade de conhecer o trabalho de um pesquisador incansável que minerou e lapidou dados e elementos históricos. Ademais, o livro de Paulo Gustavo da Encarnação é leitura obrigatória para pesquisadores que apreciam a constituição de séries no trabalho de pesquisa documental, a organização do material e sua exposição numa narrativa envolvente, sem, contudo, renunciar ao enfretamento de densas e qualificadas questões teórico-metodológicas. Ao longo dos quatro capítulos, o leitor terá a chance de conhecer a história do rock e, também, uma potente análise sobre as relações desse gênero musical com a mídia e a política no Brasil e em Portugal.
Se, por um lado, o trabalho de Paulo Gustavo nos ensina sobre um objeto específico e a operação do historiador num recorte temporal definido, comparando práticas em dois espaços distintos, por outro lado, chama atenção para a importância de entendermos o universo político para além das leituras simplistas sustentadas por visões duais e dicotômicas de mundo. Essa não seria, aliás, uma necessidade da nossa frágil democracia? Que a leitura de Rock cá, rock lá fomente a reflexão e o debate. E que os leitores experimentem mais do que visões binárias e esquemáticas de mundo. Afinal, como o autor colocou, o rock “é uma miscelânea de difícil definição”, mas como “posicionamentos que buscam criticar os pilares da sociedade”, expressando, “muitas vezes, elementos, mensagens e linguagem contestadoras” (ENCARNAÇÃO, 2018, p. 267-8).
Referências
BLOCH, Marc. Apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
ENCARNAÇÃO, Paulo Gustavo da. Rock cá, rock lá: a produção roqueira no Brasil e em Portugal na imprensa – 1970/1985. São Paulo: Intermeios; Fapesp, 2018.
FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucila de Almeida Neves (Org.). O tempo da Nova República: da transição democrática à crise política de 2016 – Quinta República (1985-2016). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. v. 5.
LEGIÃO URBANA. Que país é este. In: LEGIÃO URBANA. Que país é este. Rio de Janeiro: EMI-Odeon Brasil, 1987. 1 áudio (2 min. 57).
RÉMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: UFRJ/FGV, 1996.
TITÃS. Bichos escrotos. In: TITÃS. Cabeça Dinossauro. Rio de Janeiro: Warner, 1986. 1 áudio (3 min. 17).
Edvaldo Correa Sotana – Mestre e doutor em História pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/Assis). Professor da Graduação e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). E-mail: edsotana11@gmail.com
ENCARNAÇÃO, Paulo Gustavo da. Rock cá, rock lá: a produção roqueira no Brasil e em Portugal na imprensa – 1970/1985. São Paulo: Intermeios/Fapesp, 2018. Resenha de: SOTANA, Edvaldo Correa. Rock, mídia e política: história numa perspectiva comparada. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 12, n. 24, p. 225-228, jul./dez., 2020.
Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX) – DOMINGUES et al (FH)
DOMINGUES, Ângela; RESENDE, Maria Leônia Chaves de; CARDIM, Pedro (orgs). Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX). Lisboa: Atlantica Lisbon Historical Studies. Centro de História da Universidade de Lisboa, CHAM – Centro de Humanidades (NOVA FCSH-UAc) e Programa de Pós-Graduação em História/Universidade Federal de São Joao del-Rei (PPGH-UFSJ), 2019. 364 p. Resenha de: ARAÚJO, Lana Gomes de. Protagonismos indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.486-492, jan./jun., 2020.
Em 2019, sob a organização de Ângela Domingues, Maria Leônia Resende e Pedro Cardim, foi publicado o livro Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX) composto por vários artigos de pesquisadores que entendem a sociedade colonial não só como um espaço dinâmico, mas complexo, diverso e criativo, onde o tratamento dado aos indígenas gerava uma pluralidade de respostas e das suas justiças frente à cultura jurídica da sociedade colonial da América espanhola e portuguesa.
Abrindo as discussões, Ailton Krenak denuncia as violências reais e simbólicas sofridas pelo povo Krenak ao longo dos séculos. Foram perseguidos, tiveram suas famílias escorraçadas, massacradas, despejadas, expulsas de suas próprias terras e perambularam por diversas regiões do Brasil. Situação agravada durante o regime militar, quando juntamente com outras etnias foram jogados em um Reformatório, sob a desculpa governamental de que precisavam ser reeducados, enquanto tomavam-lhes as suas terras. Terras que as famílias indígenas nunca desistiram.
Em Os Povos Indígenas, a dominação colonial e as instâncias de Justiça na América portuguesa e espanhola, Pedro Cardim discute os esforços dos próprios indígenas ao longo da história em se afirmarem enquanto grupo étnico. Apontando que o movimento indígena, a produção acadêmica mais recente desenvolvida pelos próprios pesquisadores indígenas, a aproximação da história com outras disciplinas, métodos, conceitos, assim como as técnicas de manuseio de fontes documentais e as influências do conceito de subaltern studies1, têm sido importantes ferramentas para “superação dos silêncios nada inocentes e mostrar a voz e o rosto dos ameríndios”2. (FISCHER, 2009 apud CARDIM, 2019, p.31) Apesar dos avanços, Pedro Cardim destaca que é preciso estar atento ao “vocabulário da conquista” (CARDIM, 2019, p. 41), referindo-se aos termos comumente encontrados nos documentos coloniais como “índio”, “gentio”, “bárbaro” e outros. Uma vez que estes possuíam efeitos jurídicos diferentes dentro do cenário da América portuguesa e podiam significar manutenção ou perda de direitos, por exemplo.
Em Da ignorância e rusticidade: os indígenas e a inquisição na América portuguesa (séculos XVI-XIX), Maria Leônia Resende traz uma importante abordagem sobre a atuação do Tribunal da Inquisição e como a produção historiográfica sobre tratou o tema, apresentando uma luta ideológica entre as diversas facções religiosas da Europa na Idade Moderna: ora uma visão detratora por sua crueldade, ora pelo certo grau de misericórdia diante aos considerados ataques ao catolicismo.
Todavia a história institucional do dito Tribunal se deu no plural na Europa e nos domínios ultramar, ao ponto de podermos afirmar que houve Inquisições. E, os estudos das denúncias e processos têm mostrado as maneiras que a Inquisição lidou com as expressões das práticas religiosas, costumes e culturas indígenas tendendo, muitas vezes, em uma interpretação jurídica-canônica mais benevolente para as “populações desprotegidas”, fundamentada no uso do conceito “persona miserabilis” e da “ignorância (in)vencível”.
O conceito de persona miserabilis permeia o debate de outros pesquisadores, como o de Jaime Goveia, Maria Regina Celestino de Almeida, Hal Lagfur e de Pedro Cardim. Este último, inclusive, compreende que a classificação de miserabile garantia certa proteção aos indígenas, situando-os numa condição especial frente à Inquisição, aos tribunais ordinários, ou ainda, aos colonos, sustentadas por uma posição evangelizadora mais benevolente. Esse entendimento, de pessoas “miseráveis, ignorantes, pessoas rústicas”, fazia com que acreditasse que os indígenas eram incapazes de dar conta dos seus próprios erros, por não terem consciência plena do “pecado”.
As principais denúncias contra os indígenas fundamentavam-se em questões de feitiçaria, adivinhações, bigamia, blasfêmias, por comerem carne em dias proibidos e até por pequenos roubos, como foi o caso de Anselmo da Costa. Este, um jovem índio de 14 anos, confessou ter roubado pequenos adereços e pedaços de fita do berço do Menino Jesus para confeccionar uma bolsa de mandigas, a fim de se livrar dos perigos de mordidas de cobras e onças. O jovem passou 4 anos no cárcere, mas teve seu processo encerrado quando o Tribunal alegou sua capacidade de discernimento (RESENDE, 2019, p.113).
Em Sem medo de Deus ou das justiças (…), a professora Ângela Domingues analisou os “poderosos do sertão” através dos discursos do capitão-mor e governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado na Capitania do Grão-Pará e como eles estavam alinhados com a política pombalina. De acordo com ela, através da análise desse período administrativo é possível perceber as estratégias, alianças e negociações interétnicas, revelando situações em que os indígenas passaram a ser considerados infratores por não se enquadrarem nos projetos do Estado para a Amazônia e desafiarem a vontade dos poderosos da região.
Em Índios, territorialização e justiça improvisada nas florestas do sudeste do Brasil, Hal Langfur levanta uma interessante questão acerca da implementação da justiça no Brasil colonial imposta em prejuízo aos indígenas. Segundo ele, a legislação colonial mascarou uma realidade jurídica, retirou os índios das suas terras, legitimou o trabalho forçado etc., mas “os indígenas não aceitaram esta perseguição jurídica sem resistência” (HANGFUR, 2019, p.157).
Jaime Gouveia, em Os indígenas nos auditórios eclesiásticos do espaço luso-americano, debate sobre as relações envolvendo os povos indígenas e a justiça episcopal no período colonial, tema que gerou algumas generalizações equivocadas, sobretudo, por não ter existido no caso português um “direito canônico” como existiu na América hispânica.
No Brasil, os auditórios tinham alçada sobre todo o clero secular – excetuando alguns crimes (como os de lesa-majestade e disputas relativas aos bens da Coroa) – e leigos (membros da Capela Real e das ordens militares). E poderes quanto a matéria, ou seja, sobre a natureza dos delitos, abrangendo os pecados públicos, independente dos autores serem leigos ou eclesiásticos. Mas, não tinha competência para julgar as consideradas heresias indígenas.
Porém, com os índices populacionais nos territórios indígenas, as necessidades de evangelização esbarravam na escassez de estruturas necessárias a esse exercício, passando a exigir responsabilidades mais amplas. De todo modo, os processos judiciais contra os réus indígenas decorriam na mesma formalidade de praxe dos não-indígenas, com exceção do privilégio jurisdicional de miserabilidade, que era visto como concessão de uma graça do direito canônico aos indígenas.
No sétimo artigo, Maria Regina Celestino de Almeida apresenta uma nova versão de dois capítulos de seus livros publicados em 2005 e 20093, desenvolvendo uma relevante análise sobre a cultura política indígena e política indigenista no Rio de Janeiro colonial através das disputas jurídicas sobre as terras e a identidade étnica dos índios aldeados entre os séculos XVIII e XIX. Evidenciando o fato de que, para evitarem a perda total de suas terras, os indígenas passaram a assumir nitidamente a identidade de índios aldeados e súditos cristãos, assumindo uma posição de privilégios em relação aos negros e índios escravos (ALMEIDA, 2019, p. 221).
Isso porque, assumindo essa condição, podiam solicitar mercês, ter direito à terra, embora uma terra reduzida. Tinham direito ainda a não se tornarem escravos, embora obrigados ao trabalho compulsório. Por fim, o direito a se tornarem súditos cristãos, embora tivessem de se batizar e abdicarem de suas crenças e costumes. Sendo que as lideranças ainda tinham direito a títulos, cargos, salários e prestígio social, o que dentro de condições limitadas, restritas e opressivas, eram possibilidades de agir para valer o mínimo de direito assegurado por lei.
Como parte das investigações mais recentes, escrito em espanhol, o artigo de Pablo Ibáñez-Bonillo, Procesos de Guerra Justa en la Amazonía portuguesa (siglo XVII), aponta a influência indígena na construção das fronteiras coloniais, partindo da premissa de que a guerra justa é uma ferramenta para se explorar as relações de fronteira. Com isso, a construção de alteridades e a influência das dinâmicas indígenas na história colonial não podem ser vistas como um mecanismo de dominação, mas sim um processo mais amplo de negociação e resistência.
O texto do professor Juan Marchena e da Nayibe Montoya (2019) traz um valioso estudo sobre as justiças indígenas andinas e sua relação com a aprendizagem da cultura escrita. Os autores destacam que as sociedades originárias lutaram e lutam permanentemente pela independência, justiça, dignidade e necessidade de combater a pobreza, não se renderam, não se deixaram comprar, mesmo enquanto eram abatidos e destruídos. Sendo que, com a luta mantida durante os séculos até o presente, por suas terras, cultura e identidade, representam uma luta que deveria ser de todas e todos nós.
Por fim, o artigo de Camilla Macedo alude sobre a propriedade moderna e a alteridade indígena no Brasil entre meados de 1755-1862, partindo da análise da implementação do Diretório dos Índios e suas implicações para as questões de terra e propriedade privada, observando as rupturas e continuidades através das políticas indigenistas na transição da jurisdição eclesiástica para a secular, envolvendo os indígenas, administradores coloniais, religiosos etc.
Com esta obra, os autores dão continuidade ao relevante trabalho que o movimento indígena juntamente com os historiadores e antropólogos vêm desenvolvendo ao longo das últimas décadas. As reflexões contribuem para a percepção de que os homens e mulheres indígenas foram e continuam sendo protagonistas das suas próprias histórias através das suas ações, ressignificações e agenciamentos4 frente aos ditames da Coroa portuguesa.
As pesquisas apresentadas nos permitem refletir acerca dos regimes de memória5, trabalhados e discutidos por João Pacheco de Oliveira (2011), que construíram no Brasil imagens preconcebidas sobre os índios, definindo-os e limitando-os negativamente, condicionando o indígena exclusivamente ao passado colonial e estereótipos como de nomadismo, bravura ou de exuberante beleza extraído da literatura romântica.
Além de ressaltar as questões de estratégias e que interações proporcionadas pelos contatos interétnicos na realidade política colonial eram plurais, como fez a professora Maria Cristina Pompa (2001). E problematizar sobre a circularidade cultural entre os indígenas e os outros agentes coloniais, como fez Gláucia de Souza Freire (2013), ao apontar que os missionários religiosos se prevaleciam de práticas ritualísticas dos indígenas que eram consideradas “feitiçarias”, como o uso da jurema sagrada.
Os diálogos contrariam ainda a historiografia dita oficial que reservava aos indígenas um papel secundário e descarta antigas concepções sobre “índio puro”, “índio aculturado”, “resistência”, “aculturação”, embasados nas tentativas de reduzir a participação dos indígenas a um processo inevitável de extinção e desaparecimento. Sendo que os indígenas estão cada vez mais presentes nas questões políticas, se apropriando e ressignificando sua cultura e lutando pelo reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos após muita persistência do próprio movimento indígena.
Notas
1 O conceito de Subaltern Studies trabalhado por Florencia Mallon (1994) foi utilizado para tratar da análise de “baixo para cima” realizada por um grupo de estudiosos sobre a Índia e o colonialismo, mas que forneceu inspiração para historiadores americanicistas. MALLON, Florencia. The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American. History. The American Historical Review: 1491-1515. DOI:10.1086. 1994.
2 FISHER; O’HARA. Introduction Racial Identities and their Interpreters in Colonial Latin America. In: FISCHER, Andrew; O’HARA, Matthew Imperial Subjects. Race and Identity in Colonial Latin America. Durham: Duke University Press. 2009. p. 1-37.
3 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Índios, Missionários e Políticos: Discursos e Atuações Político-Culturais no Rio de Janeiro Oitocentista.” In: SOIHET, Racehel el al (org). Culturas Políticas. Ensaios de História Cultural, História Política e Ensino de História. Rio de Janeiro: Mauad, 2005, p. 235-255; ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Cultura Política Indígena e Política Indigenista: Reflexões sobre Etnicidade e Classificações Étnicas de Índios e Mestiços no Rio de Janeiro – Séculos XVIII e XIX. In.: AZEVEDO, Cecilia et al (org.) Cultura, Política, Memória e Historiografia. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 211-228
Referências
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Índios, Missionários e Políticos: Discursos e Atuações Político-Culturais no Rio de Janeiro Oitocentista. In: SOIHET, Racehel el al (org). Culturas Políticas. Ensaios de História Cultural, História Política e Ensino de História. Rio de Janeiro: Mauad, 2005, p. 235-255.
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Cultura Política Indígena e Política Indigenista: Reflexões sobre Etnicidade e Classificações Étnicas de Índios e Mestiços no Rio de Janeiro – Séculos XVIII e XIX. In.: AZEVEDO, Cecilia et al (org.) Cultura, Política, Memória e Historiografia. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 211-228
DOMINGUES, Ângela; RESENDE, Maria Leônia Chaves de; CARDIM, Pedro (orgs). Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX). Lisboa: Atlantica Lisbon Historical Studies. Centro de História da Universidade de Lisboa, CHAM – Centro de Humanidades (NOVA FCSH-UAc) e Programa de Pós-Graduação em História/Universidade Federal de São Joao del-Rei (PPGH-UFSJ), 2019. 364 p.
FISHER; O’HARA. Introduction Racial Identities and their Interpreters in Colonial Latin America. In: FISCHER, Andrew; O’HARA, Matthew Imperial Subjects. Race and Identity in Colonial Latin America. Durham: Duke University Press. 2009. p. 1-37.
MALLON, Florencia. The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American. History. The American Historical Review: 1491-1515. DOI:10.1086. 1994.
MONTEIRO, John. Negros da Terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
OLIVEIRA, João Pacheco de (org). A presença indígena no Nordeste: processos de territorialização, modos de reconhecimento e regimes de memória. Rio de Janeiro: Contra Capa. 2011.
POMPA, Maria Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e “Tapuia” no Brasil Colonial. 2001. 455 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2001.
SOUZA, Glaucia Freire. Das “feitiçarias” que os padres se valem: circularidade cultural entre indígenas Tarairiú e missionários na Paraíba setecentista. 2013. 159 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Campina Grande, PB, 2013.
Lana Gomes Assis Araújo – Bacharela em Direito pelo Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande – PB, licenciada em História pela Universidade Federal de Campina Grande – PB, mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande – PB, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Recife – PE. Bolsista CAPES. E-mail: lana.araujo@ufpe.br.
[IF]Ditadura e Democracia: legados da memória – RAIMUNDO (RTA)
RAIMUNDO, Filipa. Ditadura e Democracia: legados da memória. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2018. Resenha de: SILVA, Paulo Renato da. Os “cravos” da memória: democracia e passado autoritário em Portugal. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.11, n.28, p.546-552. set./dez., 2019.
Ditadura e Democracia: legados da memória, da socióloga Filipa Raimundo, foi publicado em 2018 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O livro é o 87o da coleção “Ensaios da Fundação”, uma das mais importantes coleções portuguesas tendo em vista a publicação de títulos que superem o meio acadêmico.
Escrito em linguagem acessível – mas não simplista –, e bem estruturado, o livro é composto por uma introdução, quatro capítulos e uma conclusão. Na introdução, De que é que trata este livro?, a autora evidencia o propósito do livro, a análise “(…) da relação da democracia portuguesa com o seu passado autoritário e dos elementos que têm contribuído para a construção da memória deste período (…)” (p. 9). No caso de Portugal, o passado autoritário se refere ao Estado Novo (1933-1974), período marcado pelo governo de António de Oliveira Salazar (1889-1970), Presidente do Conselho de Ministros entre 1932 e 1968, quando sofreu um acidente e foi afastado de suas funções. A Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 1974, representou o fim da ditadura do Estado Novo1. Para leitores que não sejam de Portugal, é importante acrescentar que o primeiro governo constitucional eleito depois da ditadura se estabeleceu apenas em julho de 1976, informação que ajudará a compreender alguns elementos tratados no livro e críticas feitas à condução da Revolução dos Cravos por diferentes grupos políticos portugueses.
O capítulo 1, Democracia e passado autoritário, destaca como as democracias de cada país se relacionam de modo diferente com os seus respectivos passados autoritários. “A decisão de punir ou não os responsáveis pelo regime deposto é, em larga medida, um produto das condições políticas existentes durante a mudança de regime. (…). Mais tarde, só conjunturas críticas permitem mudar a relação entre um povo e o seu passado autoritário” (p. 17). No capítulo 2, Ajustar contas com o passado, Raimundo passa a focar no caso português; analisa como alguns nomes ligados ao Estado Novo sofreram sanções institucionais e políticas depois da queda da ditadura e como outros foram processados criminalmente pelos atos cometidos. O capítulo 3, Romper com o passado, mas sem o apagar, analisa as novas narrativas sobre o passado promovidas a partir da Revolução dos Cravos, “(…) acções no plano simbólico e museológico [que] permitiram que a democracia se legitimasse tanto por oposição como por rejeição ao regime anterior, mesmo que ela nem sempre tenha sido tão profunda quanto a narrativa revolucionária faria supor” (p. 55). No capítulo 4, O antifascismo como imagem de marca, a autora investiga o tema das reparações econômicas e simbólicas aos perseguidos pela ditadura até os dias atuais. No início, as associações de perseguidos tinham o principal objetivo de libertar os presos políticos e “(…) sua existência foi relativamente efémera, tendo em conta a relativa rapidez com que os presos políticos foram libertados” (p. 77). Atualmente, poucas associações reuniriam ex-membros da oposição e da resistência e as atuais propostas de reconhecimento estariam muito concentradas nas mãos dos partidos políticos. Enquanto as associações primariam pelo reconhecimento simbólico, dos partidos políticos viriam as principais propostas de compensação financeira aos perseguidos. “(…) os beneficiários desses mecanismos parecem ser, em grande medida, os militares e simpatizantes dos partidos que lideram as propostas legislativas” (p. 78). De acordo com Raimundo, a reunião das iniciativas de sucessivos governos e dos principais partidos, sobretudo de esquerda, “(…) mais do que dar resposta a (…) certos sectores da sociedade, poderá ser encarada (…) como uma forma de cultivar uma imagem de marca através da qual podem reforçar as suas credenciais democráticas e chamar a si a herança da luta pela democracia e contra o autoritarismo” (p. 78). Na Conclusão, a autora faz um balanço do tratado em todo o livro e aponta aquilo que ficou de fora2.
Os méritos do livro começam pela própria temática, pois a memória de um passado autoritário é sempre um tema complexo e controverso. Ao abordar o tema, Raimundo sistematiza e analisa as principais ações quanto a esse passado3, destacando as contribuições, limites e contradições das medidas adotadas por governos, partidos e associações de perseguidos pela ditadura. Além disso, a autora evidencia as relações entre esse passado e a política portuguesa contemporânea, indicando como os usos dessa memória variam entre governos e partidos de diferentes vertentes políticas. Já comentamos que, segundo o livro, os usos desse passado estariam relacionados à construção de “credenciais democráticas” para os partidos e governos e a maioria das propostas de reconhecimento dos perseguidos partiria de governos e partidos de esquerda. Entretanto, ainda que não haja reivindicação do passado autoritário pelos atuais partidos portugueses, a autora demonstra que existem divergências sobre o reconhecimento aos perseguidos e a condução do processo revolucionário, o que aponta para diferentes concepções de democracia em Portugal após a Revolução dos Cravos. Para mencionar apenas um exemplo tratado no livro, além de indicar divergências existentes entre os próprios partidos de esquerda, Ditadura e Democracia mostra como o CDS, partido conservador português, procurou estender uma lei que beneficiava os perseguidos pela ditadura aos que sofreram sanções pelo processo revolucionário iniciado em abril de 1974, o qual teria cometido abusos semelhantes aos da ditadura:
Como mostram os registros da Assembleia da República, duas semanas depois da aprovação da Lei 20/97, aquele partido [CDS] apresentou uma proposta de alteração da lei que se baseava no facto de muitos portugueses terem sido “perseguidos e vítimas de repressão em virtude das suas convicções democráticas e anticomunistas [grifo meu]. Foram deste modo prejudicados no exercício das suas profissões, afastados ou saneados dos cargos e funções que desempenhavam, impedidos de ensinar, obrigados a recorrer à clandestinidade ou ao exílio, tendo em alguns casos sido presos por longos períodos. (p. 91) Se na Assembleia existem tensões sobre o tema, na sociedade portuguesa não poderia ser diferente. Raimundo destaca várias reivindicações de António de Oliveira Salazar em Santa Comba Dão, terra natal do ditador, e na imprensa, como o caso do documentário da RTP – uma das principais redes de televisão de Portugal – que apresentou Salazar como o expoente do século XX português (p. 10-14). “Tendo já superado a longevidade do regime autoritário, a democracia portuguesa dificilmente poderá continuar a ser apelidada de ‘jovem’. Ainda assim, estes temas surgem no debate com relativa frequência (…)” (p. 14). Ao apontar para as divergências existentes na Assembleia e na sociedade portuguesa – ainda que pontuais, esporádicas e minoritárias –, o livro nos leva a considerar que existem elementos que poderiam mudar a relação dos portugueses com seu passado autoritário diante de eventuais “conjunturas críticas”, conforme a autora defende no início de Ditadura e Democracia sem mencionar especificamente o caso português.
Ainda sobre a sistematização das ações e medidas tomadas em relação ao passado autoritário português, o livro se destaca pela comparação com o ocorrido em outros países europeus, africanos e latino-americanos, destacando convergências e divergências em relação a Portugal. A autora defende que “(…) o conhecimento sobre a forma como se ajustou contas com o passado noutros países poderá contribuir para mitigar a avaliação negativa que os portugueses fazem do seu próprio processo de ajuste de contas (…)” (p. 53). Raimundo apresenta dados de uma pesquisa que coordenou, na qual 95% de 131 perseguidos pela ditadura responderam que não teria ocorrido justiça no caso português (p. 51). A autora cita que nos casos de Espanha e Brasil, por exemplo, a opção punitiva não esteve nem sequer à disposição da elite política (p. 53). Além desse esforço de História Comparada, é necessário valorizar, ainda, o diálogo multi e interdisciplinar apresentado pelo livro entre áreas como História, Direito, Ciência Política e Sociologia.
Quanto às polêmicas suscitadas pelo livro, uma delas se refere ao termo “ajuste de contas” para se referir às sanções e processos sofridos por nomes ligados ao Estado Novo depois da Revolução dos Cravos. A polêmica, por exemplo, apareceu em 21 de setembro de 2018 no lançamento do livro no Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, uma das principais referências quanto à memória do Estado Novo português. O lançamento no Museu do Aljube contou com comentários de Fernando Rosas e Riccardo Marchi. Rosas foi enfático na crítica ao termo “ajuste de contas”: “Ajuste de contas ou responsabilização cívica e criminal de responsáveis da ditadura e dos seus crimes? Ajuste de contas tem um subtexto. É o subtexto da vingança. Não se trata bem de um ajuste de contas. Trata-se de justiça.” (2018, 17m30s).
Para leitores da maioria dos países latino-americanos e em particular do Brasil, como é o caso do que aqui escreve, o livro pode soar deveras crítico quanto à forma como a Revolução dos Cravos lidou e como os governos constitucionais têm lidado com a memória do passado autoritário português. Deveras crítico, pois muitos de nós ainda esperamos ansiosamente por um “ajuste de contas”, ainda que limitado e com imperfeições. Assim, para muitos de nós latino-americanos, ler o livro é experimentar um choque entre a nossa temporalidade e a portuguesa no que se refere à relação com o passado autoritário. Só é possível criticar o “ajuste” com o passado quando o processo foi feito ou pelo menos tentaram fazê-lo.
A crítica feita por Ditadura e Democracia é necessária e muito bem-vinda. Serve de experiência e referência àqueles que ainda esperam por um “ajuste” com o passado. Entretanto, faltou ampliar a contextualização das limitações e contradições apresentadas no caso português. Ressaltamos: os excessos cometidos no pós-25 de Abril de 1974 devem ser lembrados e criticados para (des)construir e historicizar os discursos políticos em Portugal desde então. Devem ser lembrados e criticados, pois, em alguns casos, foram muito graves e resultaram em “(…) diversas prisões arbitrárias, uso de tortura e violenta agressão física” (p. 99-100), conforme apontou comissão constituída para averiguar os excessos. Contudo, esses excessos também estão profundamente relacionados a um estrangulamento do espaço público promovido por décadas pelo Estado Novo. O (re)estabelecimento de princípios legais e constitucionais depois de períodos autoritários não é um processo simples. Por sua vez, que os excessos de Abril sejam “esquecidos” ou silenciados por forças políticas que outrora os promoveram ou defenderam (p. 99-101) também deve ser analisado como um sinal de revisão do passado revolucionário por essas forças e de seu alinhamento – ou submissão – a valores presentes na sociedade portuguesa contemporânea ou em setores expressivos dela. Para além dos interesses imediatos, presentes nos usos que os partidos e governos fazem do passado autoritário, caberia apontar como a experiência democrática transformou as forças políticas portuguesas e provocou mudanças na forma de lidar com a memória da ditadura e da Revolução dos Cravos. Em outras palavras, o “esquecimento” ou o silenciamento dos excessos cometidos por Abril talvez indiquem um aprendizado maior com a democracia do que reivindicações de Salazar em sua terra natal ou em programas de televisão de grande alcance. Enfim, faltou ao livro um equilíbrio entre a crítica à memória de Abril e os legados que a Revolução dos Cravos deixou para a democracia portuguesa, o que implica conceber a democracia para além do seu aspecto institucional.
Em tempos nos quais o passado autoritário brasileiro é minimizado ou mesmo negado por expoentes e setores de nossa política e sociedade – o que se verifica com variações em outros países latino-americanos –, a leitura de Ditadura e Democracia nos conecta com experiências históricas vividas pelos portugueses desde a queda da ditadura. Ajuda-nos a pensar nas particularidades de cada processo, mas também nos problemas e dilemas em comum deixados por governos autoritários e ditatoriais. Quanto às críticas que Filipa Raimundo faz aos usos da memória do passado autoritário português e da Revolução dos Cravos, estas nos servem, sobretudo, para que a sociedade civil seja a grande promotora de nosso “ajuste” e, assim, não fiquemos à mercê das instabilidades que marcam a política partidária e institucional. 1 Entre 1968, quando Salazar se acidentou, e 1974, quando ocorreu a Revolução dos Cravos, a presidência do Conselho de Ministros foi exercida por Marcello Caetano. 2 “Este livro não teve a pretensão de apresentar uma análise exaustiva das ferramentas e mecanismos usados para lidar com o passado em Portugal. (…). Ficaram de fora desta análise muitos outros aspectos, tais como: o exílio forçado da cúpula do regime, a punição dos funcionários da Legião Portuguesa, o Tribunal Cívico Humberto Delgado, a mudança na toponímia, a proibição de constituição de partidos fascistas, a amnistia aos desertores e refractários, entre outros temas (…)” (p. 98). 3 No que se refere à sistematização, são dignas de nota as tabelas 1 “Funções abrangidas pela restrição de direitos políticos em 1975-76” (p. 31) e 2 “Temas, conteúdos e principais conclusões dos 25 relatórios publicados pelo Livro Negro” (p. 65). O Livro Negro foi uma proposta iniciada em 1977 pelo primeiro governo constitucional depois da queda da ditadura e teve o objetivo de reunir documentos sobre o autoritarismo e a repressão durante o Estado Novo.
Paulo Renato da Silva – Doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Foz do Iguaçu, PR – BRASIL. E-mail: paulo.silva@unila.edu.br.
Trabalho docente sob fogo cruzado – MAGALHÃES et al (TES)
MAGALHÃES, Jonas E. P.; AFFONSO, Claudia R. A.; NEPOMUCENO, Vera Lucia da C.. Trabalho docente sob fogo cruzado. Rio de Janeiro: Gramma, 2018. 268 pp. Resenha de: BOMFIM, Maria Inês. Precarização estrutural do trabalho docente: o fim do professor intelectual? Revista Trabalho, Educação e Saúde, v.17, n.3, Rio de Janeiro, 2019.
Trabalho docente sob fogo cruzado é uma coletânea organizada por Jonas Magalhães, Cláudia Affonso e Vera Nepomuceno, reunindo 12 capítulos que analisam, de forma crítica e sob perspectivas diversas, a desvalorização do trabalho docente, em tempos de precarização estrutural do trabalho (Antunes, 2018).
Com prefácio e apresentação de Gaudêncio Frigotto e Marise Ramos, respectivamente, o livro reúne estudos de pesquisadores membros do Grupo de Estudos Trabalho, Práxis e Formação Docente vinculado ao Grupo de Pesquisa THESE-Projetos Integrados de Pesquisas em História, Educação e Saúde (UFF/UERJ/EPSJV/FIOCRUZ) e de outros autores convidados, abordando ‘questões de natureza política, socioeconômica e ideológica’ sobre o trabalho docente. Dentre elas, assegurando a especificidade que o tema requer, a mecanização do trabalho na escola e a expropriação da subjetividade docente, em especial desde a década de 1990.
No Capítulo 1 da coletânea, “Trabalho de professor no fio da navalha: reengenharia das escolas e reestruturação produtiva em tempos de Escola Sem Partido”, Cláudia Affonso articula três dimensões centrais que estarão, também, presentes em outros capítulos: “a reestruturação produtiva das escolas, a Reforma do Ensino Médio e o avanço do Movimento Escola Sem Partido” (p. 4). Retomando o rico debate sobre a natureza do trabalho, analisa os sentidos conferidos à profissionalização docente nas últimas décadas por autores de matrizes teóricas diversas, e problematiza os limites da autonomia docente na atualidade. A participação docente desqualificada, que restringe a condição de intelectual dos professores no processo de ensino aprendizagem, articulada às implicações trazidas pela Reforma do Ensino Médio (2017) e, ainda, ao fortalecimento de ideologias de criminalização sinalizam duas preocupantes tendências: o esvaziamento da prática docente e o desemprego de professores.
Valéria Moreira é a autora do Capítulo 2, “A organização do trabalho do professor e a qualidade do ensino”. A autora busca apreender a “inviabilização da incorporação do trabalho ao objeto do trabalho” (p. 28), processo vivido pelos professores de Sociologia, em virtude da redução da carga horária da disciplina na proposta curricular do Ensino Médio do Estado do Rio de Janeiro. Discutindo o processo de trabalho, em geral, o processo de trabalho no século XX e o trabalho docente na atualidade, toma como objeto de estudo a emblemática materialidade fluminense, na qual os professores da rede estadual resistem às condições de trabalho severamente precarizadas.
“Carrera profesional docente en Chile: la construcción de un nuevo modo de ser profesor” é o terceiro capítulo da coletânea, escrito por Paulina Cavieres. O Chile, precursor do ciclo neoliberal que atingiu boa parte do mundo, possui uma legislação extremamente hierarquizada em relação à carreira docente, na qual os professores são permanentemente avaliados e certificados, o que estimula a promoção de certo tipo de subjetividade docente ‘assujeitada’. Diante desse quadro, a autora defende a potencialidade das chamadas ‘linhas de fuga’ (Miranda, 2000), que explicitam a resistência dos professores chilenos às novas formas de controle docente.
O quarto capítulo, “História da docência e autonomia profissional: notas sobre experiências em Portugal, Quebec (de língua francesa) e Canadá”, de Danielle Ribeiro, destaca a atualidade do movimento pela profissionalização docente. Recuperando, historicamente, avanços e retrocessos na constituição da profissionalização docente, problematiza os limites impostos à conquista da autonomia docente, aspecto central na luta pela ‘profissionalidade’. Na contemporaneidade, analisa os debates sobre autonomia docente em Portugal, Quebec e no restante do Canadá, evidenciado suas ambivalências, singularidades e conflitos.
Vera Nepomuceno é a autora do Capítulo 5, cujo título é “Reforma do Ensino Médio: uma estratégia do capital?”. O estudo sublinha os nexos históricos entre a dualidade estrutural na educação, os interesses da burguesia brasileira e a intensificação da escala e da profundidade da associação entre o público e o privado, com destaque para o protagonismo de fundações e instituições empresariais nas decisões do Estado, ignorando as condições concretas das escolas e dos jovens.
“Da ‘desnecessidade’ da educação à ‘desnecessidade’ do trabalho docente no Ensino Médio” é o título do Capítulo 6, escrito por Cláudio Fernandes. O tema é, igualmente, a Reforma do Ensino Médio e suas implicações para o trabalho docente, mas sob outra perspectiva.
Para o autor, a reforma de 2017 revelou-se como a continuidade e o aprofundamento da reforma realizada nos anos 1990, ambas marcadas pelas demandas da empresa flexível. Os efeitos dessa flexibilização configuram, na atualidade, a ‘desnecessidade’ tanto da educação como do trabalho docente, ainda que de forma contraditória. Buscando a materialidade que a reflexão requer, o estudo analisa a proposta implementada no Rio de Janeiro, produzida pelo Instituto Ayrton Senna (IAS), denominada de ‘Solução Educativa para o Ensino Médio’.
Amanda da Silva é a autora do Capítulo 7, intitulado “A presença de frações da classe burguesa na educação pública brasileira e as interferências no trabalho docente”. A análise parte da teoria de Estado como uma relação permeada de contradições. O conceito de ‘bloco no poder’ (Poulantzas, 1977), ganha centralidade na investigação sobre as ações empresariais no âmbito do Estado, mediante parcerias público-privadas. O trabalhador docente, nesse projeto da burguesia, tem sua autonomia severamente ameaçada.
O Capítulo 8 da coletânea é “Qual escola? Para que sociedade? Desafios da formação docente em um contexto de contrarreforma e retrocessos na gestão da educação pública brasileira”, de autoria de Maria Aparecida Ribeiro. Com base em um estudo de caso que retrata o percurso formativo de um aluno de licenciatura em Filosofia, suas conquistas, desafios e descobertas, a autora traz uma inquietante indagação: “como atuar na formação docente neste contexto de severa intervenção político-governamental nos processos de escolarização?” (p. 151).
Francisca Oliveira, por sua vez, aborda políticas regulatórias para o magistério no Capítulo 9, cujo título é “O Fundeb e a Política Nacional de Formação de Professores da Educação Básica: uma nova regulação para a valorização do trabalho docente?” A autora prioriza as políticas sancionadas no segundo mandato do presidente Lula da Silva (2003-2010), sendo o recorte empírico o estado do Ceará. A Política Nacional de Formação de Professores para o Magistério da Educação Básica, com suas ambivalências e o Fundeb, com suas contradições, são os alvos da análise apresentada no capítulo.
O Capítulo 10, escrito por Maria da Conceição Freitas, tem como título “Trabalho docente no ideário do materialismo histórico- dialético- Redecentro: 2010 a 2014”. A Redecentro é uma rede de pesquisadores do Centro-Oeste brasileiro, com a participação de sete universidades, em busca da qualidade nas produções acadêmicas, considerando duas lógicas: a mercadológica e a que, com base na ética e na relevância social, inclui a emancipação e a formação crítica e integral dos pesquisadores. A autora recupera diferentes tendências presentes na literatura internacional sobre trabalho docente e profissionalismo, apresentando dados referentes à produção acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília no período de 2010 a 2014.
Fechando o conjunto de textos da coletânea, Jonas Emanuel Magalhães é o autor do Capítulo 11: “Saberes docentes e epistemologia da prática: apontamentos críticos e possibilidades de investigação a partir do materialismo histórico-dialético”. Trata-se de estudo sobre conceitos que ganharam expressiva importância nos processos de formação inicial e continuada de professores nas últimas décadas, com base nas produções de vários autores, particularmente Maurice Tardif, principal referência sobre o tema no Brasil.
Uma primeira vertente de análise questiona se a ‘epistemologia da prática’ proposta por Tardif não estaria promovendo a secundarização da base científica necessária à formação docente, visto que “a produção de saberes da prática e pela experiência não implica necessariamente a compreensão efetiva dos fenômenos” (p. 204). Tendo em mente as categorias saber, ‘ação, interação, cultura e experiência’ propostas por Tardif (2002), o autor propõe o conceito de ‘consciência socioprofissional’, no qual o saber analítico sobre o trabalho se destaca, na sua historicidade, diferenciando-se do conceito de ‘consciência profissional’, proposto por Tardif.
Por fim, o Capítulo 12 traz a entrevista realizada com o historiador Fernando Penna, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, intitulada “Projeto Escola sem Partido: a ofensiva ultraconservadora contra o professor”.
As origens do movimento e sua ascensão nos últimos anos, particularmente quando se articulou a outros grupos reacionários, permitiram a Fernando Penna, destacar um aspecto de extrema relevância, isto é, o ódio direcionado à figura do professor, com fortes implicações para o esvaziamento da função docente. No plano legal, modelos de projetos de lei foram replicados pelo movimento, sendo aprovada a Lei Escola Livre, em Alagoas, alvo de ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A disputa, porém, não ocorre apenas no plano legal, mas, também, no plano ideológico, marcado por uma determinada concepção de ética profissional docente contrária à autonomia do professor. Diante disso, em tempos de trabalho docente sob fogo cruzado, a resistência precisará ser ativa, articulada e permanente.
Referências
ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018. 325p. [ Links ]
MIRANDA, Luciana L. Subjetividade: a (des) construção de um conceito. In: SOUZA, Solange J. (org.) Subjetividade em questão: a infância como crítica da cultura. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2000, p. 29-45. [ Links ]
POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes sociais. São Paulo: Martins Fontes, 1977. [ Links ]
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. [ Links ]
Maria Inês Bomfim – Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: mariaines.uff@gmail.com
(P)
Candidata a la corona: La infanta Carlota Joaquina en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas – TERVANASIO (HU)
TERVANASIO, Marcela. Candidata a la corona: La infanta Carlota Joaquina en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2005. 284 p. Resenha de: ACRUCHE, Hevelly Ferreira. Uma princesa entre dois mundos: Carlota Joaquina e o projeto de regência na América. História Unisinos 23(1):124-127, Janeiro/Abril 2019.
No contexto das comemorações do bicentenário da vinda da Corte portuguesa para o Brasil e do início do processo das revoluções de independência na América ibérica, eventos comemorativos foram realizados, livros foram publicados, promovendo uma maior interlocução entre pesquisadores interessados no tema ao revisitar questões até aquele momento abandonadas pelo senso comum e/ou satisfeitas por certo consenso historiográfico. Novas lacunas passaram a ser tratadas no universo destes eventos e a constante busca pelo preenchimento e elaboração de novas questões permite que sempre nos voltemos ao tema das independências, cuja importância não se esgota na figura de grandes homens e heróis nacionais2.
Período conturbado, o início do Oitocentos nos apresenta novas leituras em torno de ideias como representação, soberania e poder, as quais foram revistas de modo a atender as demandas dos pesquisadores em busca de uma maior compreensão das mudanças e das expectativas de um conjunto de sociedades que viviam num mundo convulsionado pelos efeitos da Independência dos Estados Unidos (1776), da Revolução Francesa (1789), da Revolução Haitiana (1794) e do surgimento do Império Napoleônico (1799-1815) com todas as suas peculiaridades no conjunto do equilíbrio europeu e americano. No bojo destas transformações, houve a construção de valores e ideais opostos aos modelos sociais e políticos vigentes. A colonização na América encontrava-se ameaçada pelos preceitos de igualdade e de representatividade política, pois os espaços coloniais foram ganhando crescente importância no seio das metrópoles europeias.
No decorrer dos últimos anos, historiadores de várias nacionalidades têm se debruçado no tema das revoluções que culminaram na independência dos atuais países latino-americanos. No âmbito das Américas, os trabalhos pioneiros de Tulio Halperín-Dongui e José Carlos Chiaramonte propõem uma reflexão sobre a construção dos Estados-Nação e suas implicações no continente3.
O trabalho de João Paulo Garrido Pimenta (2002) tem apontado as relações entre guerra e identidades no contexto pelas lutas pela posse da Província Cisplatina, o atual Uruguai. Outro trabalho importante a ser considerado é Independencias iberoamericanas: nuevos problemas y aproximaciones, coletânea organizada pela professora Pilar Quirós (2015).
Esta última tem trazido à tona uma série de reflexões em torno do caráter internacional das independências latino-americanas.
Embora o Brasil tenha levado mais tempo para tornar-se independente de Portugal em relação às colônias hispânicas, a presença da Família Real foi fundamental para a compreensão de diversas facetas de nossa história nacional, assim como de uma história internacional e atlântica. E uma dessas facetas incorpora a figura da princesa Carlota Joaquina, membro da dinastia dos Bourbon e princesa de Portugal ao contrair matrimônio com o príncipe D. João, aos 10 anos de idade. Eles assistiram às abdicações ao trono espanhol e ao cativeiro do rei Fernando VII, irmão da Infanta, nas mãos de Napoleão Bonaparte entre 1807 e 1814. Pessoa vista sob uma série de lentes de análise na literatura, na produção cinematográfica, nos materiais didáticos e acadêmicos, Carlota Joaquina era uma princesa espanhola que partia para o Rio de Janeiro em meio às turbulências ocorridas com seus familiares na Europa.
Diversas vezes apresentada como uma mulher “ambiciosa, conspiradora e dona de um caráter audaz e temerário”, a Infanta espanhola assumiu um papel importante no decorrer dos problemas enfrentados pela Espanha e, consequentemente, pelo Império espanhol após a deposição de Fernando VII. Situação até aquele momento inesperada, o trono vacante tornou-se problemático aos súditos do rei tanto no âmbito das relações internas de poder como no conjunto mais amplo das relações internacionais; isso, por sua vez, garantiu novas possibilidades de representação no meio político e permitiu que a figura de Carlota Joaquina se apresentasse como uma opção de poder frente a um governo estrangeiro. Na historiografia brasileira, o trabalho de Francisca Nogueira de Azevedo (2003) mostra Carlota Joaquina como personagem político importante: de uma mulher marcada por uma visão excêntrica e destinada à alcova, descortina-se uma mulher com poder político, ciosa de suas prerrogativas monárquicas e atuante.
Este momento de protagonismo político remete às aspirações desta mulher em torno da manutenção de sua linhagem, do ordenamento social e das relações de poder com base na lógica do Antigo Regime. Ao se colocar como herdeira do trono espanhol, em substituição ao seu irmão, Carlota Joaquina abria outra possibilidade de governo para seus súditos, forma esta abraçada por alguns e rechaçada por outros em nome de projetos políticos mais ou menos audaciosos. A diplomacia aparece como aliada importante a projetos políticos de médio e longo prazo, os quais envolviam tanto o continente europeu quanto a América. Portanto, uma das alternativas vigentes para a Infanta era se portar enquanto depositária da soberania espanhola para pleitear a Coroa e, consequentemente, o império colonial hispânico. Isso, por sua vez, nos permite o afastamento do senso comum com relação a princesa espanhola, ainda que a mesma seja limitada pelas questões de gênero de seu tempo.
O trabalho de Marcela Tervanasio, especialista em história política argentina e ibero-americana nas primeiras décadas do século XIX, remete-nos a um universo conspiratório e intrigante cujo epicentro era Carlota Joaquina.
Observar a princesa enquanto objeto nos coloca diante de um tema importante, porém pouco estudado – à exceção da pesquisa de Francisca Nogueira de Azevedo, citada anteriormente. Os “silêncios” historiográficos em torno desta figura emblemática foram acumulados ao longo dos anos, de modo que a mesma se tornou desprovida de importância em inúmeras obras.
Ao procurar afastar-se desta leitura, repleta de preconceitos, especialistas têm repensado o carlotismo como parte de série de redes que uniram as monarquias ibéricas tanto na América quanto na Europa. Este parece ser o maior esforço de Tervanasio em seu livro: ressaltar uma espécie de geografia em torno das repercussões do carlotismo e – por que não? – das possibilidades (reais ou ilusórias) de uma mulher assumir o poder na monarquia espanhola. Ao nos apresentar uma leitura dinâmica e conectada dos processos históricos, numa relação de ir à Europa e vir para a América e vice-versa, a autora ressalta como as ideias da Infanta espanhola incidiram em conflitos importantes para um mundo contemporâneo em construção: absolutismo versus liberalismo; o poder das Juntas provinciais versus a regência em nome do Rei e, não menos importante, colonialismo versus revolução.
Dentro do campo da história política e em meio à série de escolhas teórico-metodológicas efetuadas pela autora, o livro pode ser tratado em partes, embora seja dividido em capítulos. Um primeiro momento consiste na apresentação do trono vacante e como a natureza jurídica espanhola tratou da questão nos idos de 1808. O decorrer do texto nos aponta quais possibilidades a princesa teria numa situação inesperada como aquela. Já num segundo momento, a ideia de soberania aparece como elo fundamental ao projeto carlotista em oposição às outras opções de governo para a Espanha, representadas pelas Juntas provinciais. Os capítulos 2 e 3 se entrelaçam no sentido de tratar da discussão sobre a soberania na América e na Península na medida em que, em meio aos conflitos de autoridade e à instabilidade política vivida, a figura de Fernando VII foi elevada a um patamar de Rei amado e desejado, ao passo que a América hispânica passava a ser vista como parte cada vez mais importante do Império. Assim, a presença da Infanta na América era crucial aos interesses espanhóis e também lusitanos, pois o Rio da Prata era uma região estratégica aos objetivos geopolíticos da dinastia dos Bragança.
Gradualmente, a formação de uma identidade política e institucional entrava em oposição às justificativas baseadas em direitos dinásticos, destacando-se as fragilidades do projeto de Carlota Joaquina no conjunto do Império espanhol. A ideia de “americanizar o império” era vista como uma ameaça às relações de poder estabelecidas entre a Espanha e suas colônias, subvertendo a ordem colonial ao ponderar a possibilidade de uma princesa assumir a regência na América e, por conseguinte, disputar direitos ao trono no futuro. Tais inquietações foram expressas desde manifestos até ações de espionagem para burlar a busca de apoio a uma regência sediada na América. Nesta linha de raciocínio, os diversos interesses dos impérios atlânticos europeus estavam imbricados, e o apoio ou não a Carlota Joaquina era interpretado de distintas formas.
Em continuidade a uma dimensão geográfica e espacial dos impactos do carlotismo, Tervanasio dedica dois capítulos à América: um ao conjunto do continente e outro especificamente à cidade de Buenos Aires. Enquanto seus projetos foram rechaçados por muitos espaços coloniais, na cidade de Buenos Aires, uma parte da elite portenha passou a ser favorável ao possível reinado de Carlota Joaquina. Dentre estes membros, destaca-se a figura de Manuel Belgrano, um dos artífices do processo de independência, em 1810. Especificamente no capítulo 4, “Las dos máscaras de la monarquía”, Tervanasio se debruça sobre os sentidos da palavra independência a fim de revisar pressupostos da historiografia tradicional inspirados na concepção de que, em nome do rei Fernando VII, os sentimentos de independência eram encobertos.
A perspectiva de um sentimento de independência e a ideia de uma nacionalidade preconcebida têm sido refutadas na produção historiográfica dos últimos anos. Contudo, a percepção dos apoios angariados pelo projeto de regência espanhola na América nos mostra a viabilidade de uma terceira via de governabilidade, ainda que mantendo intactas as estruturas e a ordem colonial.
Tervanasio nos mostra como a imprensa, os políticos locais e a princesa levaram a sério esta terceira via de governabilidade. Uma “guerra de papéis” ressaltando os prós e contras da regência mostrava o empenho de muitos em apoiar ou destruir o projeto. O receio do domínio dos Bragança, sobretudo na região meridional, era importante, porém não se apresenta como única chave de interpretação dos interesses envolvidos pelas elites criollas locais e os peninsulares na Espanha.
No decorrer do capítulo 4, um dos mais interessantes do livro, percebemos como foi possível a construção de uma retórica política para que Carlota Joaquina partisse do Rio de Janeiro em direção a Buenos Aires a fim de ser coroada regente no Rio da Prata. Porém, os efeitos da revolução de 1810 contribuíram para pensar o impacto das propostas de regência da Infanta no seio dos conflitos locais. A regência passava a ser, por um lado, um mal menor se comparado à criação de uma Junta em nome de Fernando VII na capital do Prata. Por outro, esse mal menor não garantia sucessos para a via reformista, o que fez com que os maiores representantes do carlotismo se transformassem em líderes do processo revolucionário e, consequentemente, depositários da soberania do rei.
No último capítulo se revela o impulso da Infanta em realizar seu propósito de assumir seu lugar na Península, ocupando o trono de seu irmão, sem abrir mão do restante do Império já envolvido pelos movimentos de independência. Nesse sentido, antes de realizar uma tentativa de golpe de Estado, Carlota Joaquina procurava manter a legitimidade do irmão dentro dos limites que ela conhecia e em que fora formada: a defesa da linhagem, da família e da casa, elementos estes diminuídos pelos efeitos das ondas liberais e pela perspectiva de transformação social. O retorno de Fernando VII ao poder, em 1814, “apagou” os anseios do projeto de Carlota Joaquina, que se resignara à sua posição anterior. Contudo, o retorno do rei abria uma nova luta tanto na Espanha quanto na América: restauração versus revolução.
Distante de ser uma biografia narrativa e factual, o livro nos desperta para o labirinto de possibilidades nas quais Carlota Joaquina estava política e diplomaticamente inserida. Por um viés político, a princesa estava diante de possibilidades concretas de governar na América, o que era sumamente interessante para o propósito de união das coroas ibéricas, invertendo a lógica das relações coloniais. Diplomaticamente, a irmã de Fernando VII buscava conferir legitimidade ao seu projeto de governo ao assegurar que o rei reassumiria o poder tão logo saísse do cativeiro, evidenciando as desconfianças em torno de sua figura feminina e, também, em torno do conjunto dos Bragança e seus interesses expansionistas, destacadamente no Rio da Prata. Ao longo do livro, podemos observar uma série de escolhas efetuadas pela princesa no intuito de proteger os seus interesses naqueles anos incertos.
A incerteza é, para fins deste livro, a pedra de toque para a compreensão do período e, ao mesmo tempo, evidencia o quanto o carlotismo era um projeto político passível de ser implantado no mundo colonial hispano-americano e não uma mera conspiração política contra o rei. Os caminhos percorridos pela princesa para galgar o poder e o retorno de Fernando VII ao poder nos remetem a um labirinto onde, ao final do seu percurso, um monstro os espera: a crise dos valores coloniais e do poder absoluto.
Referências
ANNINO, A.; GUERRA, F.-X. (org.). 1994. De los imperios a las naciones: Iberoamérica. Fórum Internacional das Ciências Humanas.
Paris, Ibercaja, 620 p.
AZEVEDO, F.N. de. 2003. Carlota Joaquina na corte do Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 400 p.
CARVALHO, J.M. de. 2008. D. João e as histórias dos Brasis. Revista Brasileira de História, São Paulo, 28(56):551-572.
https://doi.org/10.1590/S0102-01882008000200014 CHIARAMONTE, J.C. 2007 [1997]. Ciudades, provincias, estados: orígenes de la Nación Argentina, 1800-1846. Buenos Aires, Emecé. 645 p.
CHUST, M. 2008. Reflexões sobre as independências ibero-americanas.
Revista de História, 159:243-262.
https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v0i159p243-262 HALPERÍN-DONGUI, T. 2005 [1972]. Revolución y guerra: formación de una élite dirigente en la Argentina criolla. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Argentina. 480 p.
LUSTOSA, I. 2008. O período joanino e a eficiência analítica de alguns textos desbravadores. Revista da Casa de Rui Barbosa / Fundação, 2(2):353-371.
MELLO, E.C. de. 2004. A outra independência: o federalismo pernambucano de 1817 a 1824. São Paulo, Ed. 34, 264 p.
PAMPLONA, M.A.; MADER, M.E.N. (org.). 2007. Revoluções de independência e nacionalismos nas Américas: região do Prata e Chile.
São Paulo, Paz e Terra, 299 p.
PIMENTA, J.P.G. 2002. Estado e nação no fim dos impérios ibéricos no Prata: 1808-1828. São Paulo, Edusp. 266 p.
QUIRÓS, P.G.B. de (org.). 2015. Independencias ibero-americanas: nuevos problemas y aproximaciones. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 383 p.
SCHULTZ, K. 2008. Versalhes Tropical: Império, monarquia e a corte real portuguesa no Rio de Janeiro, 1808-1821. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 444 p.
SLEMIAN, A.; PIMENTA, J.P.G. 2008. A corte e o mundo: uma história do ano em que a família real portuguesa chegou ao Brasil. São Paulo.
Notas
2 Alguns trabalhos importantes nessa discussão são Lustosa (2008), Carvalho (2008), Slemian e Pimenta (2008) e Schultz, Kirsten. Versalhes Tropical: Império, monarquia e a corte real portuguesa no Rio de Janeiro, 1808-1821. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, (2008). Uma posição crítica ao processo de independência, ressaltando que a vinda da corte lusitana atendeu aos interesses do Centro-Sul em detrimento do Nordeste, é a do historiador e diplomata Evaldo Cabral de Mello (2004). Outra iniciativa importante e de debates profícuos foi o Congresso Internacional 1808: a corte no Brasil, realizado na Universidade Federal Fluminense, março de 2008.
3 Halperín-Dongui (2005 [1972]); Chiaramonte (2007 [1997). Para refletir sobre a temática das identidades e construção de nacionalismos nas Américas, ver também Pamplona e Mader (2007). Alameda. 180 p.
Hevelly Ferreira Acruche – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Largo São Francisco de Paula, 1, Centro, 20051-070 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: hfacruche@gmail.com.
O Meças – CARVALHO (A-EN)
CARVALHO, J. Rentes de. O Meças. Lisboa: Quetzal, 2016. Resenha de NOGUEIRA, Carlos. O Meças, by Rentes de Carvalho: polyphonic novel about Portugal. Alea, Rio de Janeiro, v.20 n.2, may./aug., 2018.
Em 2013, numa entrevista concedida ao JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias, referindo-se ao romance que acabava de publicar, J. Rentes de Carvalho (1930) afirmava: “Creio, aliás, que não voltarei tão cedo ao género, pois é difícil manter a sequência e evitar que os personagens não baralhem o enredo”. O novo romance de J. Rentes de Carvalho não vem necessariamente contradizer aquelas palavras, uma vez que passaram já três anos desde a saída de Mentiras & Diamantes (2013). Mas não nos parece arriscado dizer que a maioria dos leitores do autor de Ernestina terá recebido com grande surpresa a notícia da publicação de O Meças, o oitavo romance de um escritor que também tem sobressaído na crônica, no conto e no diário.
Rentes de Carvalho é um escritor moderno desde o seu primeiro romance, Montedor (1968), reeditado em finais de 2014. Este livro expõe o mundo interior de uma personagem, em discurso de primeira pessoa, mas não descuida a realidade exterior: o contrabando, a emigração, a política obscura e corrupta, a desvergonha e a impunidade dos poderosos, a influência do clero, as desigualdades econômicas e sociais, o atraso sociocultural.
Montedor é um romance psicológico, mas é também um romance de formação de matriz autobiográfica e de ação, e não menos um romance realista que vai buscar os temas e motivos ao quotidiano mais comum e nos revela uma sociedade em conflito. Assistimos a um número significativo de peripécias dramáticas e ao drama interior do protagonista desde o momento em que ele reprova nos exames que lhe dariam acesso a um “diploma” e a um bom emprego, testemunhamos os momentos principais da sua vida, desde a ida para a tropa, ao regresso a casa e ao casamento por obrigação; e somos levados a estabelecer uma comparação com a vida de quem escreveu o livro. J. Rentes de Carvalho deixou Portugal, viveu em cidades como o Rio de Janeiro, Nova Iorque e Paris, e estabeleceu-se na Holanda em 1956, onde teve condições para desenvolver uma carreira como escritor de méritos rapidamente reconhecidos no país que o recebeu. O protagonista de Montedor ficou em Portugal, e aí, fechado dentro de si, perdeu toda a liberdade e dignidade. Um romance, como se vê, e por razões óbvias, tão atual na década de sessenta como hoje.
O Meças, como Montedor, é um romance sobre Portugal. Esta fórmula, que tem sido usada para definir a ficção de J. Rentes de Carvalho, apesar de não ser inexata, é muito incompleta. Montedor articula a representação da intimidade mais profunda de uma personagem com a representação dos problemas de Portugal, e estabelece uma relação entre o tempo interior do protagonista e o tempo cronológico do país salazarista. A um tempo histórico e a um quotidiano em que existem figuras que dir-se-ia terem séculos, a um tempo que passa sem que se alterem as questões que em Portugal parecem ser irremediáveis (o patriarcado, as diferenças e a hostilidade entre ricos e pobres, o atraso sociocultural e econômico, o imobilismo, a corrupção), corresponde o tempo interior vivido pelo narrador-personagem, que é um perdedor atormentado até ao paroxismo. Com diferenças de perspetiva, de intensidade e de técnica narrativa, esta leitura aplica-se a outros romances do autor, em particular a O Rebate (1971) e A Amante Holandesa (2000, Holanda, 2003, Portugal). Mas o que traz originalidade a estes conteúdos é a omnipresença da memória e das emoções que afligem o sujeito e se sobrepõem à sua vontade. O Meças, organizado em quatro partes, ou em cinco, se considerarmos as “Anotações” finais, está em consonância com a sensibilidade, o pensamento e escrita de J. Rentes de Carvalho, que tem procurado compreender a origem, o significado, os mecanismos e as expressões, quer da sua memória e das suas emoções, quer da memória e das emoções portuguesas (e não só).
No primeiro capítulo, o narrador de terceira pessoa apresenta-nos António Roque, conhecido como o Meças, e é através do seu discurso inquiridor que assistimos à tragédia permanente deste homem violento e angustiado pela presença inexorável de um passado que se faz presente e futuro devido a uma complexa e incontrolável relação de causa e efeito entre perdas humilhantes e comportamentos, sentimentos e emoções induzidos por essas perdas e humilhações. No segundo capítulo, agora em discurso de primeira pessoa assumido pelo meio-irmão de Meças (que não sabe que aquele é seu meio-irmão, filho, como ele, do “Senhor Engenheiro”), a memória, enquanto presença interior hipersensível, é também constante. No terceiro capítulo, regressa o narrador de terceira pessoa, que mais uma vez representa o interior mortificado de Meças, e no quarto volta o meio-irmão da personagem que dá título ao romance. O meio-irmão de Meças, que se fixou em Newcastle, vem a Portugal com a intenção de revelar a Meças o que os une, mas, afinal, decide não o fazer. Educado, civilizado, preso às origens e ao mesmo tempo distante ou distanciado delas, ele é também, por circunstâncias diversas (o caráter violento do pai, ter-se visto a “crescer sozinho”, como ele próprio diz, saber-se nascido num país corrupto e atrasado), assaltado pela memória involuntária (Bergson) e dolorosa.
O Meças, que recebeu o prémio de Melhor Livro de Ficção, relativo a 2016, da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), como toda a obra ficcional deste autor, representa as emoções e as memórias repentinas e avassaladoras de personagens portuguesas, e indaga e explora a sua raiz, os seus sentidos e as suas implicações. O meio opressivo e opressor português está na origem das emoções e das memórias dos dois meios-irmãos deste livro, um culto e bem-educado, o outro precisamente o oposto. O Meças é uma representação de grande parte da sociedade portuguesa de meados do século XX até aos nossos dias, ou da sociedade portuguesa de qualquer tempo e de qualquer lugar. As personagens do romance não encontraram soluções para o seu desassossego, mas podem ajudar-nos a ver Portugal mais em profundidade, a compreender as inquietações, as memórias e as respostas da chamada, num sentido muito amplo, portugalidade.
Nem simplesmente realista à maneira de Eça de Queirós, nem exclusivamente subordinado aos procedimentos da narrativa anglo-saxônica (em cuja feição realista, que vem já do século XVIII, entram a sobriedade estilística e a valorização da interioridade das personagens), nem incondicionalmente subordinado às técnicas do noveau roman francês (que, por exemplo, num tempo de crise humanista, elimina ou reduz ao mínimo a intriga, e marca a impossibilidade de construir uma personagem bem delineada), O Meças encerra um conhecimento vasto da literatura portuguesa e internacional, e impõe-se como um livro singular que participa na modernidade da ficção portuguesa, tal como Montedor participou na década de sessenta na renovação literária portuguesa.
Não existe contradição entre a clareza e a exatidão e o registo predominantemente emotivo. O equilíbrio e a disciplina clássica da linguagem de O Meças estão perfeitamente de acordo com o estilo que reconhecemos a J. Rentes de Carvalho. A musicalidade intrínseca à escrita deste autor impede-a de incorrer em monotonia e automatismo, e em O Meças essa harmonia resulta numa expressão em que despojamento e inquietude se combinam e alternam. A sequência mais comum deste romance inclui orações ou expressões próprias do escritor clássico que o autor de Ernestina é, e momentos, consideravelmente extensos, em que a emotividade da personagem domina, representada pelo discurso indireto livre e/ou pelo monólogo interior. Esta sobriedade e esta emotividade acolhem, não raramente, um discurso autoirônico, como dissemos, mas também irônico, cômico e satírico cujo alvo é a sociedade em geral, das classes economicamente mais favorecidas às mais baixas, e da unidade da família à ética sexual e às estruturas e comportamentos religiosos. Mais do que de humor deve falar-se de comédia trágica, de desconstrução, através de uma paródia relativamente discreta, dos preconceitos e das verdades da sociedade portuguesa de meados do século XX: «Alguns até parece que nascem doutores, e ele, vinte e tal anos na Alemanha, nem sequer a língua foi capaz de aprender, só palavras soltas, os colegas às gargalhadas, obrigando-o a repetir tudo, dizendo que ninguém o entendia e a chamar-lhe “turco”» (p. 107).
O Meças combina a representação da intimidade mais recôndita de duas personagens com a representação discreta mas perceptível dos problemas de Portugal, e estabelece uma relação entre o tempo interior dos protagonistas e o tempo cronológico do país em que eles vivem ou viveram. Prevalece o conhecimento do mundo íntimo das personagens, ora em discurso de terceira pessoa, ora de primeira pessoa, mas não se perde a noção da realidade exterior (a emigração, a política obscura e corrupta ou a influência do clero, por exemplo), que, aliás, determina a desintegração das personalidades que, no caso da personagem Meças, vemos em desequilíbrio psicológico desde o início do romance. A um tempo histórico e a um quotidiano em que se inscrevem figuras que parecem ter séculos, indiferentes ao tempo do calendário, a um tempo que passa sem que mudem as questões que em Portugal parecem ser insolúveis (as diferenças entre ricos e pobres, e o atraso sociocultural e econômico, essencialmente), correspondem os tempos interiores vividos pelos narradores-personagens, que nos surgem como uma consciência e um corpo angustiados até ao paroxismo. Todo o romance é um prolongamento do primeiro parágrafo:
Alguém terá de lhe emprestar as palavras, porque as desconhece, mas se lhas tivessem ensinado seria incapaz de dizê-las, estonteado pelo remoinho, a vida a desfilar em ondas de desespero, ocasiões falhadas, sempre ele o que perde, a sofrer envergonhado, o que baixa os olhos e até si próprio tem de fugir. (p. 9)
Rentes de Carvalho – Esta resenha faz parte dos trabalhos da Cátedra Internacional José Saramago (Universidade de Vigo), projeto POEPOLIT (FFI2016-77584-P, Ministério de Economia e Competitividade da Espanha) e do Programa Estratégico UID/ELT/00500/2013 da FCT (Portugal).
[IF]
História, religiões e religiosidade: da Antiguidade aos recortes contemporâneos, novas abordagens e debates sobre religiões – RODRIGUES; AQUIAR (HU)
RODRIGUES, A.F.; AGUIAR, J.O. (org.). História, religiões e religiosidade: da Antiguidade aos recortes contemporâneos, novas abordagens e debates sobre religiões. São Paulo: Humanitas, 2016. 490 p. (História Diversa, n. 6). Resenha de CABREIRA, Maria Alda Barbosa. Religiões e religiosidades em debate. História Unisinos 22(1):149-152, Janeiro/Abril 2018.
Estudos relacionados a religiões e religiosidades vêm recebendo cada vez mais interessantes contribuições que ajudam a alargar o debate e o reconhecimento de formas diversas de expressar o religioso, notadamente, na sociedade contemporânea.
A problemática dos fenômenos religiosos, e mesmo das maneiras científicas e acadêmicas de como o universo do sagrado, as religiões e as religiosidades foram interpretadas, é resultante de processos históricos e sociais ligados a relações de privilégios e poder.
Como um conjunto de práticas e doutrinas organizadas em uma cosmologia bem definida, a religião e seu estudo permitem entender o universo cotidiano, as relações sociais, as instituições políticas, as ideias e as formas de expressão religiosa que compõem determinados regimes do crer, como práticas, espiritualidades, filosofias de vida e experiências do sagrado (Arnal, 2000).
Com análise detida destes nuances, a coletânea História, religiões e religiosidade: da Antiguidade aos recortes contemporâneos, novas abordagens e debates sobre religiões, coordenada pelos professores André Figueiredo Rodrigues e José Otávio Aguiar, faz-se presente no debate que analisa as religiões e seu desenvolvimento e discussões históricas ocorridas em diferentes épocas, nos mais diversos povos e nas suas muitas manifestações.
Reunindo 24 capítulos, o livro apresenta quatro divisões temáticas que convidam o leitor a refletir sobre as diversidades humanas na abordagem dos espaços e discursos dedicados ao religioso, em perspectiva ligada principalmente à história cultural. Aliás, do conjunto, 17 textos dedicam-se ao multifacetado universo religioso brasileiro, dominado pela matriz do cristianismo. Observando- -se os dados do Censo demográfico 2010 sobre religião, divulgados pelo IBGE em 29 de junho de 2012, confirmam-se tendências de transformação do campo religioso brasileiro, aceleradas a partir da década de 1980, quando se iniciou o recrudescimento da queda numérica dos fiéis seguidores da fé católica frente à vertiginosa expansão dos pentecostais e das pessoas que se declaravam sem religião. Os números interessam: entre 1980 e 2010, os católicos declinaram de 89,2% para 64,6% da população, queda de 24,6 pontos percentuais; os evangélicos passaram de 6,6% para 22,2% da população, acréscimo de 15,6 pontos percentuais em 30 anos, representando 42,3 milhões de pessoas, sendo a segunda religião com o maior número de adeptos no país. Apesar destes números, o catolicismo ainda se faz predominante, com mais de 123 milhões de pessoas, classificando o Brasil como o maior país católico do mundo em números nominais. No período, o conjunto das outras religiões, incluindo espíritas e cultos afro-brasileiros, também dobrou de tamanho, passando de 2,5% para 5% (Mariano, 2013, p. 119).
De 1980 para cá, a partir dos dados informados, prosperou a diversificação da pertença religiosa e da religiosidade no Brasil, mas se manteve “praticamente intocado seu caráter esmagadoramente cristão” (Mariano, 2013, p. 119).2 As raízes de nossa formação cristã, assim como a análise de aspectos da história religiosa brasileira, vislumbrada naqueles números e nas práticas sagradas católicas, espíritas e protestantes, seguem como eixo articulador dos capítulos relacionados ao universo brasileiro contemporâneo presentes na coletânea.
As manifestações cristãs majoritárias aparecem desde o texto de abertura do livro. Dividida em quatro partes, a obra em sua primeira seção procura reunir reflexões dedicadas aos temas da Antiguidade Clássica ou da recepção de suas produções sociais e históricas em nosso tempo. Sob o título de “Identidades, religiosidades e Antiguidade clássica”, tem-se o capítulo de Aíla Luzia Pinheiro de Andrade (Universidade Católica de Pernambuco e Faculdade Católica de Fortaleza) sobre as expectativas messiânicas no tempo de Jesus Cristo e a sua relação com a identidade cristã, construída a partir de então.
A seguir, Nelson de Paiva Bondioli (professor visitante no Programa de Pós-Graduação em História na Universidade Federal do Espírito Santo) e Andrea Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi (Universidade Estadual Paulista, campus de Assis) analisam, com base nos escritos da época, a figura dos Príncipes Júlio-Claudianos (governantes Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero) e sua posição dentro da hierarquia política e religiosa romana durante o século I da Era Comum para falarem de tradição e de transgressão na religião romana.
Na sequência, Fernando Mattiolli Vieira (Universidade de Pernambuco) apresenta-nos a interessante história da descoberta dos manuscritos de Qumran e as suas condições de produção e recepção. Os documentos estudados por ele foram encontrados em 1947, entre o deserto da Judeia e a orla do mar Morto e próximo às ruínas de um sítio arqueológico conhecido por khirbet Qumran, e representam a maior conquista da arqueologia do século XX, pois neles foram encontrados 930 manuscritos, sendo que deste total 210 documentos reproduzem livros da Bíblia hebraica (chamada pelos cristãos de Antigo Testamento): Salmos, Deuteronômio e o Gênesis. Essa história e os desdobramentos destes achados para o conhecimento e as comprovações empíricas de fatos narrados nos livros sagrados cristãos estão relatados ali por ele.
O último texto desta parte pertence a Haroldo Dutra Dias (juiz de Direito e palestrante espírita) sobre o surgimento da crítica histórica nos estudos sobre a vida de Jesus Cristo e o constructo de sua figura profético- -apocalíptica, assim como sobre a origem do cristianismo.
A segunda parte do livro, Religiões, recepções e impérios ultramarinos, congrega estudos que marcam a presença do catolicismo em terras brasileiras e africanas, notadamente durante o período colonial. Nesta seção, estão presentes as pesquisas de André Figueiredo Rodrigues (Universidade Estadual Paulista, campus de Assis) sobre as religiosidades e as sociabilidades nas relações entre o clero e a sociedade nas Minas Gerais do século XVIII, mostradas a partir das manifestações religiosas católicas instaladas na região desde a chegada dos primeiros buscadores de ouro. Ainda no cenário das Minas Gerais setecentistas, Jeaneth Xavier de Araújo Dias (Universidade do Estado de Minas Gerais) brinda-nos com as histórias das festas e das celebrações religiosas para analisar os ritos, os ornamentos e as decorações feitas para a realização das procissões celebradas durante o Triunfo Eucarístico em Vila Rica no ano de 1733, quando se comemorou a condução triunfal da imagem do Santíssimo Sacramento da Igreja de Nossa Senhora do Rosário para a nova Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar.
Já Lúcia Helena Oliveira Silva (Universidade Estadual Paulista, campus de Assis) narra as estratégias de conversão e os processos de negociação entre bagandas e missionários anglicanos ingleses no reino de Uganda no século XIX.
Na continuidade, Joaci Pereira Furtado (Universidade Federal Fluminense) discute a relação entre catolicismo e paganismo na poesia árcade que vicejou durante a segunda metade do século XVIII e primeiras décadas do século XIX entre Portugal e a América portuguesa, destacando a presença de elementos referenciais clássicos remetentes à mitologia e aos deuses gregos e latinos.
Por sua vez, Gustavo Henrique Tuna (doutor em História pela Universidade de São Paulo) discute o gradiente da fé católica (o sagrado e a descristianização) encontrado na biblioteca do poeta Manuel Inácio da Silva Alvarenga, considerada uma das mais relevantes do período colonial, com 1.576 volumes. Ainda no palco das letras coloniais, Renato da Silva Dias (Universidade Estadual de Montes Claros), em instigante texto, analisa a dimensão do político na esfera discursiva religiosa empreendida pelo clérigo secular Manoel Ribeiro Rocha para justificar o tráfico e a escravização dos africanos no Brasil na obra Ethíope resgatado, de 1758. Rubens Leonardo Panegassi (Universidade Federal de Viçosa) apresenta os hábitos alimentares e a sua relação com o discurso religioso dos primeiros jesuítas quinhentistas que empreenderam missões catequéticas na América portuguesa.
Passando da literatura para a arquitetura de taipa, Paula Ferreira Vermeersch (Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente) examina o patrimônio histórico e a arte sacra encontrada no interior da Igreja Matriz setecentista barroca de Sant’Ana Mestra do Sacramento, localizada na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.
Nas duas partes seguintes, os capítulos centram-se em análises do diálogo e da recepção de textos antigos e modernos, tanto do Oriente quanto do Ocidente, no universo religioso contemporâneo. A terceira seção, “Universo católico e problemas de história contemporânea”, inicia-se com o interessante texto de Patrícia Teixeira Santos (Universidade Federal de São Paulo, campus de Guarulhos) sobre as missões do Papa Paulo VI no contexto do catolicismo social, a partir de experiências no Brasil e em Moçambique. A militância católica se faz presente no capítulo de Milton Carlos Costa (Universidade Estadual Paulista, campus de Assis) ao analisar o pensamento e a trajetória intelectual de Jonathas Serrano, um importante batalhador pelos ideais cristãos durante a República Velha no Brasil.
No decurso da oposição ao Estado autoritário brasileiro (1964-1985), a partir da década de 1960, um de seus mais destacados opositores foi a Igreja Católica. Partindo desse contexto, Jorge Miklos (Universidade Paulista) e Adriano Gonçalves Laranjeira (Universidade Paulista) analisam a atuação da imprensa católica paulistana na defesa dos direitos humanos, por meio do resgate da história do semanário O São Paulo, jornal oficial da Arquidiocese de São Paulo, criado em 1956 com o objetivo de difundir os valores católicos entre os fiéis. Porém, a partir de 1970, quando a Arquidiocese de São Paulo é liderada por dom Paulo Evaristo Arns, o jornal sofre uma mudança na sua linha editorial e passa a atuar como crítico ao Estado autoritário.
Já Francisco Cláudio Alves Marques (Universidade Estadual Paulista, campus de Assis) e Esequiel Gomes da Silva (Universidade Federal do Pará, campus de Marajó- Breves), com habilidade e brilhantismo, brindam-nos com interessante análise, a partir de exemplos cantados no repente e estampados nos folhetos de cordel, das condições históricas e sociais que contribuíram para a representação de negros, adeptos de religiões de ascendência africana e protestantes associada à ideia de demônio, bem como das relações sociais que se estabeleceram no sertão nordestino marcado por práticas e crenças medievais, sobretudo nas primeiras décadas do século XX.
Ainda pelo viés da cultura, Elder Maia Alves (Universidade Federal de Alagoas) e Greciene Lopes dos Santos (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Alagoas) elegem como foco de análise de seu texto as interfaces entre a política do patrimônio imaterial, as festas e celebrações religiosas e o turismo religioso no Brasil, apresentando-nos como exemplo a festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, uma das maiores celebrações religiosas do mundo, que ocorre todos os anos no segundo domingo do mês de outubro na cidade de Belém, capital do Estado do Pará.
Por sua vez, Gisella de Amorim Serrano (pós- -doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais) analisa as edições de cunho religioso, para se compreender a correlação entre História e identidade nacional, na importante coleção Reconquista do Brasil, editada numa parceria da Editora Itatiaia, de Belo Horizonte, com a Editora da Universidade de São Paulo, de 1976 a 1984, responsáveis pela impressão de 306 volumes.
Na última parte, “Protestantismo, espiritismo e religiões orientais no presente”, discutem-se assuntos relacionados ao evangelismo, protestantismo e atuação das igrejas reformadas no Brasil. Inicia-se com o capítulo de Iranilson Buriti de Oliveira (Universidade Federal de Campina Grande) e Roseane Alves Britto (mestra em História pela Universidade Federal de Campina Grande) comentando as metáforas de cura no discurso neopentecostal brasileiro. Na sequência, João Marcos Leitão Santos (Universidade Federal de Campina Grande) discorre sobre a crise conceitual sobre o protestantismo na historiografia brasileira.
A história recente do movimento espírita brasileiro aparece analisada nos dois artigos seguintes. O primeiro, de Alexandre Caroli Rocha (doutor em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas), escrutina as repercussões geradas pelo chamado Caso Humberto de Campos, que mostra como um problema que envolvia uma disputa por direitos autorais estava além dos domínios jurídicos. E, depois, José Otávio Aguiar (Universidade Federal de Campina Grande) historia a trajetória do SER, “organização sociorreligiosa espírita recente, ecumênica e dedicada à tradição dos evangelhos em diálogo com a obra psicografada de exegese de Francisco Cândido Xavier” atribuída a diversos espíritos, mas em especial a Emmanuel (p. 10).
Os dois últimos autores dedicam seus escritos aos assuntos relacionados a religiões do Oriente Distante. Maria Lucia Abaurre Gnerre (Universidade Federal da Paraíba) e Gustavo Cesar Ojeda Baez (doutor em História pela Universidade Federal de Campina Grande) abordam em seu capítulo a perspectiva hermenêutica que o historiador das religiões Mircea Eliade desenvolve sobre a tradição do Yoga na Índia enquanto prática de religiosidade. Por último, Deyve Redyson (Universidade Federal da Paraíba) expõe as leituras meditativas do texto budista Sutra do coração e sua relação entre sabedoria e realidade.
Apesar de em seu conjunto os textos apresentarem diversidade temática, eles ilustram no todo a diversificação do campo religioso como fonte de pesquisa e de crença do universo sagrado e religioso multifacetado que se evidencia no dia a dia das pessoas. Tanto assim que, ao surgir da necessidade dos indivíduos se ligarem com o divino, a religião ou a pluralidade religiosa resultante das diversas maneiras de entender e perceber o mundo – e por que também não o homem a si mesmo – se faz presente como eixo articulador da obra, independentemente da época retratada ou das práticas e questões religiosas analisadas.
Os dados religiosos explicitados nos números do Censo 2010 permitem-nos traçar o rico e diverso panorama das “religiões e religiosidade” no Brasil contemporâneo. Guiando-se por essa perspectiva, mas sem esta se fazer explicitamente presente no corpo do livro, conseguimos observar nos capítulos interessantes interpretações da história e dos pressupostos religiosos do catolicismo e das igrejas protestantes – com suas múltiplas diversidades –, do universo espírita, das religiões afro-brasileiras, do sincretismo urdido entre elementos cristãos, afro-brasileiros e indígenas representados na cultura popular, do judaísmo, das religiões orientais e do budismo. Infelizmente faltou o islamismo! No cenário atual, ao propor “novas abordagens e debates sobre religiões”, a obra, plural em todo o seu sentido, revela o quanto assuntos como práticas religiosas e religiosidades desde a “Antiguidade aos recortes contemporâneos” não são temas pacíficos, já que em muitos trechos se evidenciam competições entre religiões, conceituações e personagens. Isto, aliás, permite-nos hoje visualizar a exacerbada quantidade de conflitos, cenas de intolerância e preconceito que se vivenciam na sociedade não só brasileira, mas mundial. No fundo, o livro nos faz refletir sobre a finalidade última das práticas religiosas: propor e transmitir a paz.
Notas
2 Os números do Censo mostram que as religiões no Brasil em 2010 dividiam-se em: Católica Apostólica Romana (123.280.172 = 64,63%), Evangélicas (42.275.440 = 22,16%), Sem religião (15.335.510 = 8,04%), Espírita (3.848.876 = 2,02%), Outras religiosidades cristãs (1.461.495 = 0,77%), Testemunhas de Jeová (1.393.208 = 0,73%), Não determinada e múltiplo pertencimento (643.598 = 0,34%), Umbanda e Candomblé (588.797 = 0,31%), Católica Apostólica Brasileira (560.781 = 0,29%), Budismo (243.966 = 0,13%), Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (226.509 = 0,12%), Não sabe (196.099 = 0,10%), Novas religiões orientais (155.951 = 0,08%), Católica Ortodoxa (131.571 = 0,07%), Judaísmo (107.329 = 0,06%), Tradições esotéricas (74.013 = 0,04%), Tradições indígenas (63.082 = 0,03%), Sem declaração (45.839 = 0,02%), Islamismo (35.167 = 0,02%), Outras religiosidades (11.306 = 0,01%), Hinduísmo (5.675 = 0,00%) (Somain, 2012).
Referências
ARNAL, W.E. 2000. Definition. In: W. BRAUN; R.T. McCUTCHEON (ed.), Guide to the study of religion. London, Continuum, p. 21-34.
MARIANO, R. 2013. Mudanças no campo religioso brasileiro no Censo 2010. Debates do NER, Porto Alegre, 14(24):119-137. Disponível em: http://oldsociologia.fflch.usp.br/sites/oldsociologia.fflch.usp.br/files/Campo%20religioso%20no%20Censo%202010.pdf Acesso em: 15/12/2017.
SOMAIN, R. 2012. Religiões no Brasil em 2010. Confins: Revista Franco- Brasileira de Geografia, n. 15. Disponível em: http://confins. revues.org/7785. Acesso em: 16/10/2017.
Maria Alda Barbosa Cabreira – Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), campus de Assis. Professora da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC), unidade de Garça. Av. Presidente Vargas, 2331, 17400-000, Garça, SP, Brasil. E-mail: mabcabreira@yahoo.com.br.
A Diplomacia do Estado Novo: Crepúsculo do Colonialismo (1949-1961) – PEREIRA (LH)
PEREIRA, Bernardo Futscher. A Diplomacia do Estado Novo: Crepúsculo do Colonialismo (1949-1961). Lisboa: D. Quixote, 2017, 312 pp. Resenha de: REIS, Bruno Cardoso. Ler História, v.73, p. 262-266, 2018.
1 Bernardo Futscher Pereira é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Columbia, foi jornalista antes de ingressar na carreira diplomática, foi embaixador na Irlanda de 2012 até 2017, período durante o qual redigiu esta obra. Embora eu resista à ideia de reduzir uma obra às circunstâncias ou a uma das identidades de quem a escreve, parecem ser de notar estes dados biográficos, pois poderão ajudar a perceber algumas das suas opções de partida. A obra assume-se, como seria de esperar, como a continuação, em termos cronológicos e de abordagem, do livro anterior do autor sobre A Diplomacia de Salazar, 1932-1949 (Lisboa: D. Quixote, 2012). Este é, portanto, “um livro essencialmente de história diplomática” o qual “procura sintetizar, em registo narrativo, os lances essenciais da política externa portuguesa, situando-os no contexto internacional da época”, oferecendo numa linguagem acessível uma visão geral da forma como a elite governativa e diplomática portuguesa foi gerindo os principais desafios da política externa.
2 Isso fará sentido tendo em conta as tendências atuais na História? A resposta é sim, a não ser que se queira impor (à maneira do Estado Novo) uma determinada agenda à História. Se o que se pretende é alargar os horizontes da disciplina então trata-se de adicionar novas dimensões às tradicionalmente dominantes, não de eliminar estas últimas. É tão legítima e válida a história “a partir de baixo” como “a partir de cima”, tudo depende das perguntas a que se quer responder. Independentemente das modas, a “alta política” e a diplomacia continuam a ser altamente relevantes. Veja-se o enorme impacto na vida de todos os portugueses, angolanos, moçambicanos, guineenses, e no curso da história nacional e global, das guerras coloniais tardias do Estado Novo. Guerras que, como este livro mostra, foram o pesado preço a pagar pela política seguida por Salazar na defesa do império ultramarino português.
3 Futscher Pereira também deixa claro que esta obra “baseia-se essencialmente em fontes secundárias e em fontes primárias publicadas”. É o normal em obras de síntese deste tipo, que quando muito complementam a sua síntese de obras e fontes publicadas com pesquisa de arquivo sobre alguns temas não suficientemente tratados na literatura existente. Foi o que Futscher Pereira fez, em especial sobre as “provações de Portugal nas Nações Unidas”, a que dá justificado destaque. Significa isto que esta obra se destina apenas ao público em geral, e não tem especial interesse para historiadores focados em análises originais? Como iremos procurar mostrar, esta é não apenas uma obra de referência útil, desde logo para o ensino destes temas, ela tem também elementos novos que merecem ser debatidos no quadro da agenda de investigação da história da política externa portuguesa neste período. É uma obra de divulgação, mas não é simplesmente descritiva.
4 Futscher Pereira avança efetivamente com uma interpretação geral deste período da política externa do Estado Novo. A tese central do livro, que justifica o seu subtítulo, é a de que já neste período a Guerra Fria europeia foi secundária, e o anticomunismo foi instrumental na política externa de Salazar. O foco principal de atenção ao longo da década de 1950, a prioridade da ação externa do regime salazarista, era já, defende o autor, a defesa das colónias, em particular a mais diretamente ameaçada neste período – o Estado Português da Índia. O principal alvo da política externa de Salazar era já o anticolonialismo militante da União Indiana, muito ativo nos fora multilaterais da ONU. Isso importava mais do que a NATO, a defesa face à ameaça soviética, ou mesmo a relação bilateral com os EUA, todas elas, segundo esta obra, estavam subordinadas à prioridade máxima que era a defesa da dimensão ultramarina, colonial de Portugal. Esta é uma ideia fundamental a que voltaremos no final desta recensão.
5 Como avaliar genericamente esta primeira história geral da diplomacia do Estado Novo por um só autor? Desde logo, notando que esta é uma obra bem escrita, numa linguagem acessível, adequada ao seu objetivo de fazer divulgação de qualidade. Tem uma estrutura clara. Embora nos pareça questionável a opção por os títulos dos capítulos serem um par de datas. Os títulos temáticos dos subcapítulos tornam, apesar disso, relativamente fácil navegar na obra; dão também uma ideia de algo em que os praticantes da política externa insistem: a dificuldade de terem de lidar com problemas urgentes e inesperados em partes muito diversas do mundo simultaneamente ou em rápida sucessão. Mas isso não deixa de afetar um pouco a coerência da exposição e da análise. Depois, deve ser sublinhado que este tipo síntese, um tour d’horizon por um só autor, é uma novidade. Existem outras sínteses da história da política externa do regime de Salazar, mas não por um só autor e como parte de obras mais genéricas.1 Além disso, há que destacar que a obra tem uma base empírica e bibliográfica sólida. Como já vimos anteriormente, o livro resulta da consulta de fontes publicadas, mas também de alguma pesquisa original de fontes de arquivo. De notar também como ponto positivo que o autor utiliza inclusive algumas teses de doutoramento ainda inéditas sobre temas relevantes.2
6 Antes de terminarmos destacaríamos duas interpretações mais específicas desta obra, uma que nos parece particularmente pertinente, e a outra que nos suscita dúvidas. Sendo que, no entanto, qualquer delas nos parecem ser contribuições pertinentes para o debate sobre a política externa do Estado Novo. Quanto à primeira, um ponto forte desta obra é efetivamente a análise dos principais atores da política externa portuguesa. Poucos discutirão a afirmação de Futscher Pereira de que embora Salazar deixe de ser formalmente Ministro dos Negócios Estrangeiros, em 1947, continua a ser a figura central da política externa portuguesa. Apesar da mudança de título deste volume para o anterior, a Diplomacia do Estado Novo, é, no fundo, mais um volume sobre a Diplomacia de Salazar. O peso de Salazar é especialmente marcante quando o titular da pasta é fraco, como é o caso de Caeiro da Matta, entre 1947 e 1950. Mas Salazar continua a pesar na diplomacia portuguesa mesmo com os mais sólidos Paulo da Cunha, entre 1950 e 1958 (sendo que este terá ficado diminuído por razões de saúde a meio do seu consulado), ou Marcelo Mathias, entre 1958 e 1961.
7 Salazar nunca abdicou de escolher os principais embaixadores e de comunicar diretamente com eles. Vários deles são ainda, neste período, escolhas pessoais e políticas do ditador vindos de fora da carreira. É nova, no entanto, a tese de Futscher Pereira de que entre os diplomatas “no estrangeiro” neste período “o papel de maior destaque coube a Vasco Garin”, pois que “como embaixador em Nova Deli e, de seguida, em Nova Iorque, foi ele que, na primeira linha, sofreu o embate dos conflitos diplomáticos” mais importantes. Este parece-nos um ponto válido. Garin é, claramente, uma figura a merecer um bom estudo de fundo. Também de notar, por ser rara a valorização da história das informações e das operações especiais neste tipo de obra, é a atenção de Futscher Pereira à figura menos ortodoxa de Jorge Jardim, que por várias vezes foi os olhos e os ouvidos de Salazar em zonas de crise. O real papel de Jardim pode ser difícil de avaliar com rigor, mas esta dimensão de diplomacia paralela e recolha de informações secretas merece atenção.
8 Outro ponto forte na análise por Futscher Pereira dos atores da política externa é o destaque dado Delgado, a Henrique Galvão e à ação internacional da oposição. Uma oposição que desenvolve, pela primeira vez, uma estratégia internacional paradiplomática e mediática eficaz que cria dificuldades sérias ao regime. Teria sido interessante que o autor tivesse dado mais atenção ao papel da rede diplomática na vigilância e gestão da presença internacional da oposição, assim como ao papel do PCP e da sua relação especial com a URSS. A acção internacional dos movimentos independentistas africanos é referido pelo autor – sobretudo a presença do líder da UPA em Nova Iorque, aquando do início do levantamento armado no norte de Angola, feita precisamente para coincidir com a discussão da situação angolana no Conselho de Segurança da ONU.
9 Um ponto fraco da análise do autor, do meu ponto de vista, é a apreciação repetida ao longo da obra de que as chefias militares leais ao general Botelho Moniz – como Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e, depois, como ministro da Defesa entre 1958 e 1961 – tinham uma boa visão da política internacional e, por isso, defenderam uma boa estratégia militar e política de resposta ao desafio independentista africano, bloqueada pela austeridade cega de Salazar. Ora, como o autor bem assinala, Salazar frequentemente mostrou nas suas comunicações privadas temor pelo elevado preço que seria preciso pagar internacionalmente para o Estado Novo manter a África portuguesa, em contraste com a confiante retórica pública da sua propaganda. Um temor que aumentou com as conhecidas reservas relativamente ao colonialismo do jovem senador John Kennedy, eleito presidente dos EUA em 1960. A realidade é complexa e parece-me claro que Salazar pode ter estado errado na sua opção de política externa para Portugal, mas esteve certo na sua análise da política internacional. Já os militares em torno de Botelho Moniz, a meu ver, estão menos unidos quanto ao que fazer antes e depois do início da luta armada em Angola; estão menos certos quanto à análise que fazem do contexto internacional; e estão claramente errados quanto às possibilidades de uma mudança limitada da política colonial portuguesa ser viável a prazo ou ser recompensada internacionalmente. Moniz e os seus próximos aparentemente acreditavam que Portugal, sem Salazar, manteria as possessões coloniais durante pelo menos uma década e conseguiria consolidar uma federação lusófona depois disso. Estas chefias militares também me parecem sobretudo desejosas de defender o interesse corporativo das Forças Armadas em obter mais recursos, em vez de, como pretendia Salazar, com recursos semelhantes mudarem radicalmente de prioridades e passarem de uma guerra convencional na Europa para uma guerra de guerrilha em África.
10 Para terminar voltamos à tese central desta obra. Afirma o autor: “a disputa com a União Indiana acerca de Goa, Damão e Diu foi a questão principal que ocupou a diplomacia portuguesa nestes anos.” Afirma também que o comunismo no quadro da Guerra Fria é uma ameaça meramente instrumental para a diplomacia de Salazar. Discordo desta última tese. Creio que se trata mais propriamente de um caso da diplomacia de Salazar acreditar na sua própria propaganda. Havia, efetivamente, a ideia na elite salazarista de que muitos destes movimentos anticoloniais eram hostis ao bloco ocidental e estavam dispostos a aliar-se ao bloco soviético, fossem ou não propriamente comunistas. O próprio Futscher Pereira nota de forma pertinente que, em plena Guerra Fria, “a ameaça comunista era o fator decisivo na política externa dos EUA e da Grã-Bretanha, as duas grandes potências ocidentais e atlânticas que eram, também, os principais aliados de Portugal”, acrescentando que “durante a quase totalidade deste período estiveram no poder em Washington e em Londres governos de direita, que olhavam para o Estado Novo com complacência”. Também nos parece apressado dar por adquirido “o descrédito completo das doutrinas raciais” no bloco ocidental ou, mesmo, no soviético. Ainda havia muito racismo, embora de uma variante mais paternalista. Isto não significa que discordemos do autor de que se deve dar muito maior peso à questão colonial na diplomacia de Salazar logo na década de 1950, e de que este facto tem sido algo descurado em favor de uma maior atenção dada à Guerra Fria. Parece-nos, porém, que ambos os contextos estão intimamente ligados, mesmo que seja necessário repensar a respetiva ordem de prioridades na política externa do Estado Novo.
Notas
1 Um exemplo recente são os capítulos sobre política externa nos cinco volumes de António Costa Pinto (…)
2 O que não significa que não seja possível sugerir alguma adição ou notar alguma gralha. Por exemplo (…)
Bruno Cardoso Reis – ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal. E-mail: bcreis37@gmail.com.
Consultar publicação original
Contra o vento. Portugal, o império e a maré anticolonial (1945-1960) – VALENTIM (LH)
VALENTIM, Alexandre. Contra o vento. Portugal, o império e a maré anticolonial (1945-1960). Lisboa: Círculo de Leitores, 2017, 840 pp. Resenha de: NASCIMENTO, Augusto. Ler História, v.73, p. 257-261, 2018.
1 Contra o vento, um de três livros sobre “um tempo mais longo” do império português, foca a resistência do governo de Salazar à descolonização entre 1945 e 1960. De uma perspectiva comparativa e global, esta excelente narrativa histórica do mundo em tempos de descolonização equaciona os condicionalismos dos múltiplos actores, desde as entidades internacionais aos colonizados, passando por Salazar, cujos processos decisórios escrutina minuciosamente, conquanto o livro não se debruce sobre Salazar e a sua política. Um dos condicionalismos é o contexto internacional – diga-se, uma variável crucial para o império português desde a sua constituição em oitocentos –, do qual, a par da emergência do bloco afro-asiático, da abdicação das potências coloniais e das disputas na ONU, avulta a política americana, pautada pela inclinação para a autodeterminação dos povos, com maior ou menor convicção consoante as conveniências do combate ao comunismo, que por vezes favoreceram as aspirações nacionalistas.
2 Contra essa determinante, o vento, Salazar, chefe quase incontestado, tentou ganhar tempo para manter a arquitectura política interna. Dos estéreis areópagos institucionais, atentos sobretudo ao lado de onde soprava o vento, brotava a corroboração da palavra do chefe. À luz da rígida subordinação prevalecente nos meandros do regime, percebe-se que, aquando da adopção da ideia de “nação una” contra a mística imperial, começava um debate de ilusões. As personalidades acreditavam ou forçavam-se a acreditar por força do corriqueiro acatamento das intenções do chefe, que passavam pela instrumentalização da ideia de integração nacional que, diz-nos o autor, teve uma função retórica, de justificação de soberania colonial – sobretudo quando esta se encontrava ameaçada do exterior. A mutação terminológica de “colónias” para “províncias ultramarinas” indiciava o intuito de recusar qualquer solução gradualista e prenunciava a resistência à descolonização, aparentemente em consonância com o consenso nacional acerca do património colonial.
3 Ao tempo, avultava a questão de Goa, que levou a que no PCP – cujos militantes não escapavam à crença generalizada na bondade da colonização – se advogasse o direito à autodeterminação já em 1955. Porém, tal posição do PCP era irrelevante para o regime, que a usava como prova de que o anticolonialismo era um manejo comunista contra o ultramar português. Com uma visão anacrónica do mundo, Salazar não se apercebeu da amplitude da retirada do poder colonial na Ásia, forçada pelos movimentos nacionalistas e pela crise das potências europeias. Desprezando os sinais do tempo – a propósito do Padroado, a Santa Sé sapou os fundamentos ideológicos da presença colonial –, Salazar acreditou em vão na fragmentação da Índia e não quis ver a aposta inglesa na interlocução com o Congresso Nacional Indiano. Se o recurso ao Tribunal de Haia constituiu um engulho para União Indiana, já da descrição das conversações secretas se infere uma obstinada cegueira perante as várias possibilidades oferecidas a Goa. Este livro não se queda nos meandros das dilações e mais expedientes diplomáticos na defesa do indefensável, evidentes no caso de Goa. Proporciona-nos uma viagem pelas várias situações coloniais – entre elas, o modus vivendi em Macau e o indirect rule em Timor – de que, ao arrepio do palavreado, se compunha a recém-baptizada “nação una”.
4 Portugal acordaria para o enorme hiato entre a imagem que a “nação construía de si e do seu Império” e as opressões vividas nas colónias por força da ameaça resultante da vaga descolonizadora que, além de rápida, era perturbante por fazer implodir os planos das potências coloniais de controlar o processo de descolonização. Contagiado por esta evolução política, subitamente o ambiente nas colónias de África tornou-se volátil, também devido às debilidades da administração e às sujeições impostas aos colonizados. Os massacres de finais dos anos 50 desmentiriam a vangloriada pax lusitana, aparente porque assente na repressão. A realidade era pouco conforme à harmonia racial ou, de outro modo, à presunção da subordinação natural do negro à tutela portuguesa. Todavia, mesmo se em perda, a sobranceria racista, incomparavelmente mais operante do que as lucubrações em torno do luso-tropicalismo à la carte e do benfazejo paternalismo dos portugueses, induzia ilusões quanto à capacidade de prevenir e conter a insurgência. Por exemplo, advogava-se a repressão dura, “dentro das leis que eles entendem”, de qualquer acto violento ou desrespeitoso para evitar o surgimento de uma “Argéliazinha” corrosiva de recursos e de energias, tal a expressão do optimismo baseado nos presumidos resultados da repressão infrene e selvagem, cinicamente justificada com a selvajaria imputada aos africanos.
5 Por convicção ou cedência aos interesses instalados, o poder colonial manteve até aos anos 50 formas arcaicas de exploração – trabalho forçado e culturas obrigatórias –, evidenciando relutância em subscrever a convenção de 1930 sobre trabalho forçado. Portanto, não estava em causa o “fracasso de uma política de integração”, mas, sim, a “aplicação de uma política que de integradora nada tinha”. Afinal, até nos relatórios de matiz reformista se obliterava a instituição marcante do colonialismo, o indigenato (conquanto possamos supor que a abstenção da menção ao indigenato, revelando muito da rigidez hierárquica do regime, não significasse que a sua abolição não estivesse pensada enquanto consequência das propostas reformistas). Não se aboliu o indigenato nos anos 50, retocando-se apenas os aspectos mais chocantes que poderiam chamar a atenção da opinião pública mundial.
6 Nestes anos, o rumo do colonialismo compôs-se do atrito entre o monolitismo da política colonial e as tentativas reformistas, para Valentim Alexandre, genuínas, mesmo se falhadas. Dada a rigidez do controlo das instituições e a consequente expressão apenas das ideias com cunho oficial, os alvitres reformistas tinham de ser ambíguos e contidos para poderem ser apresentados conquanto depois inexoravelmente rejeitados por afrontarem, minimamente que fosse, interesses instalados. Nada pareceria menos certo do que o idealismo de reformistas, para quem o pressentimento dos perigos levaria os colonos a mudar a posição relativamente aos negros. Como já há décadas Valentim Alexandre chamou a atenção, aos colonos que lidavam com as “realidades” no terreno, os idealismos afiguravam-se risíveis… Como convencer os colonos e os potentados de que, afinal, o interesse nacional era diverso do que vigorara durante décadas a seu benefício? Aventar que só com uma política indígena sã e verdadeira se asseguraria a confiança e a lealdade dos indígenas, base de uma ordem interna estável e sólida, afigurava-se um idealismo sem sentido. Nas colónias, e não só, sabia-se que tal não era verdadeiro. Por exemplo, cria-se que não seria por se pagar melhores salários que se obteria mão-de-obra (a que acrescia o desinteresse na redução do sobrelucro esperado nos empreendimentos coloniais).
7 Maior certeza subjazia à predição de que era mais do que duvidosa a sobrevivência de qualquer governo ao abalo da eventual perda das colónias. Justamente, dada a subordinação de tudo à preservação do seu poder, Salazar pendia para a PIDE e para os que, contrariamente às sugestões reformistas – que, diga-se, não salvariam as colónias –, achavam que a repressão era a chave da resolução de qualquer crise. No equivocado debate sobre a política colonial, truncado no tocante a conteúdos e condicionado porque operando desigualmente entre indivíduos e Salazar, a opção pela repressão foi levando a melhor sobre as reformas, para Valentim Alexandre, duas faces da política tendente a preservar a soberania sobre o império. Ao mesmo tempo que os luso-tropicalistas e reformistas produziam relatórios com sugestões para correcção das injustiças, já operava a disposição de conduzir o país para a guerra.
8 Em suma, contra o vento… ganhar tempo? A tal se resumiu a estratégia do governo de Portugal, cujos interesses foram subordinados aos de Salazar. Contra a aura de “estadista”, a história aqui narrada sugere, para não dizer que confirma, a senda de um ditador norteado pelo desejo de não querer assistir ao fim do seu poder, instrumentalizando tudo e todos, pouco lhe importando os portugueses. Para isso, construiu uma narrativa – composta de denúncias das frágeis verdades da conjuntura e, até, da duplicidade dos aliados de momento, assim como de antevisões etnocêntricas e racistas conquanto parcialmente confirmadas pelas convulsões supervenientes às independências – aparentemente irrebatível, sobretudo, por a ditadura vedar qualquer discurso dissonante. A este respeito, afigura-se sugestivo o facto de Salazar, cônscio da precariedade da soberania em Goa, auscultar o Conselho de Estado sobre (remotíssimas, se não falaciosas) hipóteses de um plebiscito ou de uma entrega institucional – soluções inconstitucionais –, qual forma de “apalpar o terreno” no topo do estado, de onde, presume-se, recolheria opiniões condicionadas não só pelos bordões do regime, mas até pela eventual intuição dos conselheiros de estar à prova a sua fidelidade.
9 Este livro insere breves diálogos com outros autores. Reconhece a António José Telo o mérito de aludir às mudanças nos apoios internacionais em finais da década de 1950, contestando, todavia, a ideia de inversão de alianças, até pela pouca firmeza dos apoios, pontuais e não comprometidos para o futuro. O autor discorda da qualificação, de Bruno Cardoso Reis, de Portugal como um estado pária, incluso na categoria dos estados que se colocavam contra as normas globais. Ora, apesar de isolado, Portugal pertencia à ONU, à NATO, à EFTA e tinha apoio da França e da Alemanha. Mais, as “relações com muitos dos novos países africanos” viriam a ser “mais complexas do que à primeira vista parecem”, uma perspectiva particularmente relevante para quem queira entender os posteriores desenvolvimentos em África.
10 A par destes diálogos, sopesam-se problemáticas, por exemplo, a da equiparação entre nazismo e colonialismo. Para o autor, a equiparação das práticas coloniais às nazis não deve ser levada longe por subsistirem diferenças, desde logo, por o poder colonial ser, não necessariamente mais humano, mas mais cônscio dos limites. Apesar de nem todos terem resultado de desmandos, os massacres coloniais tinham um carácter instrumental, não sendo, por regra, uma solução final ou uma política em si mesma. Ditatorial, o colonialismo português desdobrava-se facilmente na prevalência da arbitrariedade administrativa sobre a lei, factor propício a processos similares aos dos sistemas totalitários. Ainda assim, e mesmo que se desvalorize a ideologia que buscava a legitimação do colonialismo na missão evangelizadora e na integração, atente-se, por exemplo, na debilidade da ocupação administrativa, que limitava os efeitos das práticas discriminatórias e opressivas.
11 Nesta obra assente num vastíssimo leque de fontes, é notável a profundidade com que são retratados actores, situações conjunturais, possibilidades, estratagemas, decisões políticas, episódios e cenários de uma história global. O conhecimento não reproduz a vida, mas este livro quase nos torna testemunhas presenciais dos processos e das vicissitudes dos desempenhos na luta “contra o vento”. Esta narrativa, a que não falta, aqui e além, uma coloquialidade bem-humorada, não é uma história exaltante nem ideologicamente orientada. Pauta-a a atenção à multiplicidade de posições, incluindo a ambiguidade das enunciações para serem interpretadas pelo chefe providencial e tendencialmente absoluto. Traçados os caminhos da concretização dos supostos e reais objectivos da acção colonizadora, o autor arrola, sempre que pertinente, as várias interpretações possíveis. Pela criteriosa selecção das questões e perspectivas, valorizada pela exímia escolha de trechos citados, mormente dos papéis de Salazar, Valentim Alexandre foge ao maniqueísmo, que comummente não inspira senão a mera enunciação do consabido rol de malfeitorias insanáveis do colonialismo.
12 Obviamente, emergirão questões para responder, entre elas, a (eventualmente calada) percepção da parca valia do que se dizia (o que, aduza-se, tanto vale para os colonialistas, como, noutras circunstâncias, para os anti-colonialistas), a que se segue a questão de saber da convicção com que se lutava… “contra o vento”. Escasseiam as dúvidas: uma refere-se ao “regime colonial português tardio”, noção a aclarar pelos historiadores quanto ao período a que respeita e ao que caracteriza. Outra atém-se à grande influência do massacre de Pindjiguiti na evolução do nacionalismo guineense, do que se poderá duvidar, menos por se poder infirmar a asserção do que pela intuitiva relutância ao que poderá compor mais uma “biografia perfeita” do que uma relação intrínseca na génese do nacionalismo guineense, decerto avivado pelas influências advindas dos países limítrofes.
13 Esta obra interpela quanto às consequências de uma política que, independentemente das duras provas e de pequenas vitórias diplomáticas, não tinha saída: não se tratava de não se poder deixar de sacrificar os filhos à pátria, tratava-se de os instrumentalizar quando provavelmente já prevaleceria a consciência de que tal era inútil. Se esta hipótese estivesse certa, então, tudo não teria servido senão para Salazar preservar o poder até à morte, fito a que imolou o país. Fascinante viagem no tempo, esta é uma obra que, à margem dos nebulosos “factores de impacto”, nos enriquece. Resulta do exercício livre e competente do ofício de historiador, para que a sociedade e, infelizmente também, as universidades parecem ter deixado de ter tempo… Seja lá como for, após este, ficamos à espera dos próximos livros.
Augusto Nascimento – Centro de História da Universidade de Lisboa, Portugal. E-mail: anascimento2000@yahoo.com
Côa e Seridó, dois rios na Pré-História – MARTINHO et al (CA)
MARTINHO, António; MARTIN, Gabriela; PESSIS, Anne-Marie. Côa e Seridó, dois rios na Pré-História. Recife: Editora da UFPE, 2017. Disponível em: https://www3.ufpe.br/editora/ufpebooks/serie_extensao/coa_serid/html5forwebkit.html?page=0 . Resenha de: CISNEIROS, Daniela. Clio Arqueológica, Recife, v.2, n.2, p.247-252, 2017.
Este livro é uma idéia original que liga Portugal ao Brasil de uma maneira nova e que tem um alcance que ultrapassa o seu conteúdo. Forma parte de uma série de publicações realizadas sob o lema Movimento Recife Porto na Arte, criado em 1992 e caracterizado como um espaço de articulação entre artistas e pesquisadores brasileiros e portugueses procedentes de várias universidades e centros culturais de Portugal e Brasil no intuito de constituir uma rede de relações culturais de amplo espectro. Nesse âmbito, já foram publicados vários livros de conteudo diverso, embora no denominador comúm da cultura luso-brasileira sob a coordenação de Maria Betânia Borges Barros.
O livro Côa e Seridó, Dois Rios na Pré-História é dedicado à arte rupestre préhistórica do Brasil e de Portugal, centrado na apresentação de dois rios e duas culturas num futuro comum. Seguindo-se o roteiro da ocupação humana préhistórica nos vales de dois rios: Côa, em Portugal, e Seridó, no Brasil, apresentam-se as raizes de dois povos que, milênios depois, o destino uniria numa cultura semelhante: as dos caçadores-coletores pré-históricos.
Descrevem-se e analisam as gravuras rupestres existentes no vale do rio Côa, afluente do rio Douro, e as gravuras e pinturas rupestres do vale do Rio Seridó no Rio Grande do Norte. Duas regiões muito distantes, sem contacto possível numa época longinqua. O contexto arqueológico e ecológico das respectivas áreas tem em comum os vales de dois rios nos quais assentaram-se grupos humanos que deixaram as marcas do seu passo, representadas nas gravuras e pinturas rupestres.
A sobriedade das representações rupestres paleolíticas de Foz Côa, contrastam com a riqueza das informações antropológicas e as manifestações da vida cotidiana das pinturas do Seridó.
A primeira parte do livro é da autoria de António Martinho Baptista que há décadas estuda as gravuras rupestres do vale do Côa e que, como diretor do Parque Arqueológico do Côa, criado em 1996, empenhou-se no reconhecimento do mesmo como Patrimônio Mundial (1998).
Além do enorme valor intrínseco das gravuras do Côa, a sua descoberta modificou o conceito de que a “arte das grutas” seria a manifestação artística quase exclusiva dos tempos paleolíticos. Mais, a partir de 1994, com a revelação das primeiras gravuras paleolíticas na Canada do Inferno, na margem esquerda do Côa, perto do local onde se pretendia construir uma grande barragem, mudou a forma de entender a arte do homem fóssil. Foram identificados 26 sítios com arte paleolítica num total de 234 rochas gravadas ao ar livre, embora algumas estejam permanentemente submersas pela construção de uma barragem da década de 1980. Os sítios estão integrados na área do Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC), criado em 10 de Agosto de 1996, com sede em Vila Nova de Foz Côa.
Gabriela Martin e Anne-Marie Pessis assinam em parceria a segunda parte da obra dedicada às pinturas e gravuras localizadas no vale do Seridó e de seus afluentes, no Rio Grande do Norte. As duas autoras, professoras da Universidade Federal de Pernambuco e membros da Fundação Museu do Homem Americano e da Fundação Seridó, pesquisam há décadas a Arte Rupestre nas diferentes regiões do Nordeste Brasileiro, onde está situado o Parque Nacional Serra da Capivara, Patrimônio Mundial desde 1991.
As pesquisas arqueológicas iniciadas na região do Seridó a partir da década de 1980 demonstraram a semelhança das pinturas rupestres de mais de um centenar de sítios daquela região, com as registradas na Serra da Capivara. A diversidade das figuras, as características técnicas e a existência de figuras emblemáticas permitiram identificar o padrão gráfico de um tronco cultural, conhecido como Tradição Nordeste. Há cerca de 9.000 anos começou o processo de mudança climática que vai radicalizar as condições de existência na região. Ocorre uma diminuição das chuvas, iniciando-se uma gradativa transformação do clima tropical-úmido em semiárido, época em que se inicia a diáspora das comunidades humanas pertencentes à Tradição Nordeste a partir de um epicentro localizado no SE do Piauí. Pelos dados disponíveis podemos estabelecer que, em torno do nono milênio BP, grupos originários da área do atual Parque Nacional Serra da Capivara, dispersaram-se por outras regiões do Nordeste brasileiro, abandonando seu primitivo habitat. Uma das levas da diáspora se instala na região de Seridó.
Os grupos étnicos que pintaram os abrigos do Seridó, enriquecerem a sua arte originaria com elementos novos, entre os quais destacam maior riqueza nos ornamentos, na pintura corporal e nos objetos que as figuras humanas carregam.
Cenas violentas de luta e de atividade sexual estão também presentes. A escolha da região do Seridó deve-se primeiramente à existência de numerosos pontos d’água e ao fato de constituir uma área de Brejo, que teria características climáticas mais favoráveis e melhores condições de sobrevivência.
Niède Guidon, Presidente da Fundação Museu do Homem Americano, instituição que cela pelo acervo cultural do Parque Nacional Serra da Capivara, tece no Prefácio uma série de comentários oportunos e que merecem uma reflexão no dizer da própria autora ao refletir sobre a Arte Rupestre de dois mundos tão diversos e distantes, tanto no clima como nos biomas e nas representações rupestres das figuras humanas e animais. Mas, como pano de fundo dessa diversidade existe, também, um bloco cerrado de semelhanças. As populações autoras dessa arte tinham um mesmo estilo de vida de caçadores e coletores.
O Parque Nacional Serra da Capivara e a área arqueológica do Seridó na região Nordeste do Brasil abrigam centenas de sítios com pinturas rupestres notáveis por seu caráter narrativo, realizados no decorrer de milênios. É fonte inesgotável de dados para a reconstituição da vida das populações que habitaram o Nordeste do Brasil na Pré-história.
Como em Foz Côa, as gravuras do Nordeste brasileiro são sempre ligadas à presença da água, geralmente foram realizadas nas vizinhanças de corredeiras, quedas de água, ou poços profundos nos leitos dos rios. Hoje, em Foz Côa, o rio corre no fundo de um canyon estreito e profundo, na Serra da Capivara os rios secaram faz cerca de 8.000 anos e no Seridó, o rio é um fio de água.
Praticamente em todo o mundo, no mesmo momento o Homem iniciou a prática rupestre, e, na aparente diversidade de suas manifestações, encontramos sempre o mesmo fundo espiritual, a forte ligação entre essas representações e o universo mítico e estético dos homens do paleolítico que externa suas ligações com os ecossistemas no qual viviam.
Outro ponto de convergência entre as duas provincias rupestres, neste caso relativo ao mundo das relações humanas, os intereses políticos e economicos e do reconhcimento científico é que a descoberta da Arte do Côa nasceu envolta em polémica, da mesma maneira que mais de um século antes acontecera com a revelação de Altamira, embora na atualidade o Vale do Côa é hoje reconhecido como um dos primeiros e mais notáveis centros da arte paleolítica da Europa.
Da mesma forma, encontramos também que a resistencia ao cambio e ao reconhecimento do que poderia ser mais antigo e impactante do ponto de vista estético, criou polêmicas sobra a importância e a antiguidade dos registros rupestres do Nordeste do Brasil, com é também o caso do Seridó em franca fase de destruição pelos interesses das mineiradoras e da ocupação das terras.
Este livro mostra que a globalização não é um fenômeno novo. O Homem moderno vem de uma só raiz pré-histórica e sua evolução seguiu um mesmo caminho em todo o mundo, embora as manifestações do fenomeno gráfico sejam tão diferentes. O livro apresenta, também, numerosas fotografias de ambas regiões que ilustram os respectivos textos dos autores.
Daniela Cisneiros – Departamento de Arqueologia, UFPE. E-mail: danielacisneiros@yahoo.com.br
[MLPDB]Antropologia e Performance: Agir, Atuar, Exibir – GODINHO (AN)
GODINHO, Paula (Coord.). Antropologia e Performance: Agir, Atuar, Exibir. Castro Verde: 100Luz, 2014. Resenha de: KNACK, Eduardo Roberto João. Em diálogo com as Ciências Sociais. Anos 90, Porto Alegre, v. 23, n. 44, p. 361-369, dez. 2016.
O livro organizado pela Professora Doutora em Antropologia Paula Godinho, da Universidade Nova de Lisboa/Instituto de História Contemporânea, Antropologia e Performance – Agir, Atuar, e Exibir, publicado pela Editora 100Luz em 2014, permite, além de conhecer pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento nas ciências sociais em Portugal (tendo como tema principal a performance), estabelecer um diálogo profícuo, teórico e prático, com a pesquisa em história. Inicialmente, é importante apresentar algumas considerações sobre o conceito performance e os temas desenvolvidos nos capítulos da obra.
Para Godinho, […] a relação entre a ação, a atuação e a encenação são o fulcro desse livro, que trata de performances, de ritos, de jogos e de quem os realiza e realizou, indagando passagens rápidas ou lentas, tempos e espaços de fronteira (GODINHO, 2014, p. 11).
Momentos que devem ser pensados com um rigor crítico que acabou se esvaindo dos estudos sobre esse tema. Eis uma primeira ponte erguida entre história e antropologia. A autora faz questão de contextualizar historicamente os sujeitos e grupos estudados, pois as práticas em foco ocorrem no presente, que “é histórico, resultado de um processo”, ou seja, não é possível estudar a performance, a ação e atuação de indivíduos e/ou grupos sem levar em consideração sua historicidade e como suas práticas vão se (re)significando ao longo do tempo.
As performances são encaradas como uma atuação que requer algum tipo de palco e uma audiência, apresentando uma dimensão espetacular, com “[…] atores e espectadores que se interlegitimam, tendendo a constituir uma forma de escrutinar o mundo quotidiano, visto como tragédia, comédia, melodrama, etc.” (GODINHO, 2014, p. 14). Essas performances estão presentes nos diferentes grupos sociais, entre “dominantes e dominados”. Ao introduzir a noção de “dialética do disfarce e da vigilância”, que permeia a relação de forças entre dois grupos, é utilizada a tipologia dos “discursos públicos”, que vão ao encontro das visões hegemônicas, que capitulam frente a seus interesses e valores, e a performance exerce papel chave na sua legitimação e dos “discursos escondidos” (SCOTT, 2013), que tem certa liberdade de ação, podendo contradizer e até ridicularizar os dominantes.
A partir dessas considerações iniciais, a obra está dividida em três partes. A primeira apresenta alguns textos que buscam delinear uma “antropologia da performance”, com o subtítulo: Antropologia e performance( s): atuar, encenar, exibir. O primeiro capítulo dessa primeira parte do livro, intitulado For years, I have dreamed of a liberated Anthropology, de Teresa Fradique, indaga sobre a definição do conceito de performance a partir de elementos que lhe seriam próprios, como a participação, a ação e o estranhamento, que estão presentes na própria prática, no comportamento do antropólogo. Assim, emerge a defesa de uma etnografia como experiência subjetiva sem que isso venha a solapar a antropologia enquanto área das ciências sociais e humanas. Embora essas considerações resultem de uma reflexão sobre a prática de uma área vizinha, a questão da subjetividade na pesquisa em história é importante, envolvendo o papel das instituições que legitimam a própria prática, o fazer da história e a dinâmica acadêmica, a partir do estímulo à apresentação dessas pesquisas aos pares, o que envolve performance (apresentação) e audiência.
O próximo capítulo da primeira parte é A dimensão reflexiva do corpo em ação: contributos da antropologia para o estudo da dança teatral, de Mario José Fazenda. Além de empreender uma revisão da literatura de autores que trabalharam com o seu objeto, busca observar a dança teatral em uma perspectiva histórica, entendida como uma ação social, simbólica enquanto sistema de significações dos seres humanos que não é mero reflexo da cultura, mas uma prática cultural construída pelos corpos em movimento. O capítulo A política do jogo dramático: marginalidade descentrada como resistência criativa (estudo de um grupo de teatro universitário), de Ricardo Seiça Salgado, se debruça sobre a história de um grupo teatral, o CITAC (Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra), para pensar o conceito de “jogo dramático” como propulsor de mudanças na arte e na sociedade.
No capítulo Práticas artísticas contemporâneas: imaginação e exibição da nação, Sónia Vespeira de Almeida relaciona os conceitos de prática artística e performance, associados a maneiras de fazer e à criatividade cultural dos grupos sociais. Sua análise volta-se para uma exposição realizada em um museu e no trabalho de dois artistas de gerações diferentes, concluindo que as práticas de arte, enquanto modos de comunicação, articulam a capacidade de significar, construir e exibir a subjetividade dos sujeitos. No último texto da primeira parte, Metateatro da morte: as encomendadoras das almas numa aldeia da Beira Baixa, Pedro Antunes e João Edral centram sua análise em um ritual de culto dos mortos realizado durante a quaresma em aldeias de Portugal, onde segundo os autores, as práticas e discursos de uma religiosidade popular são indissociáveis de ações performativas e políticas.
A segunda parte do livro, O lugar do político: memória, ação e drama social, inicia com o capítulo Os ataques anticlericais na I República (1910-1917): historiografia, violência e performance, de Diogo Duarte, que estuda as ações que envolveram a danificação, destruição ou mesmo uso profano de objetos religiosos em um contexto de transformação nas relações entre Estado e Igreja em Portugal. Processo que tem início com o governo do Marquês de Pombal, mas atinge seu auge na implantação da República a 5 de outubro de 1910. Seu olhar recaí sobre a performance desses atos como reveladora de intenções políticas e/ou provocadoras, e não apenas servindo a interesses superiores, muitas vezes alheios aos sujeitos que os praticaram. Em A performance do viver clandestino, segundo texto dessa parte do livro, Cristina Nogueira observa, durante o fascismo português, uma cultura política da clandestinidade comunista, com diferentes regras a serem cumpridas que alteravam o comportamento dos sujeitos, obrigando-os a assumir uma nova forma de ser, através da criação de um papel a ser representado, o que envolve viver em uma permanente performance.
Paula Godinho escreve o capítulo A violência do olvido e os usos políticos do passado: lugares de memória, tempo liminar e drama social, no qual realiza um estudo sobre três momentos onde o passado é evocado a partir da construção de placas comemorativas, rompendo silêncios e omissões por parte de grupos dominantes, como aquele em que uma placa foi colocada, em 1996, em uma aldeia de Cambedo da Raia, zona fronteiriça que sofreu com a repressão por ter abrigado fugitivos do franquismo; em 2012 um monumento foi erguido em Ourense, para lembrar as vítimas portuguesas do franquismo na Galiza; e, ainda em 2012, o descerramento de uma placa de homenagem a trabalhadores portugueses que construíram a estrada de ferro Zamora e Ourense. Ao observar essas cerimônias, conclui a autora que existe a necessidade de rememorar, comemorar, para ultrapassar o trauma deixado pelas feridas da repressão de regimes autoritários nas localidades analisadas.
Elsa Peralta também se dedica à análise de monumentos com o capítulo O Monumento aos Combatentes: a Performance do Fim do Império no Espaço Sagrado da Nação. Partindo da ideia de que cemitérios e cultos dos mortos constituem representações simbólicas da ordem social dos grupos envolvidos, Peralta pesquisa o Monumento aos Combatentes do Ultramar nas guerras coloniais em que o regime português se envolveu entre 1961 e 1975. Tal monumento teria sido erguido em nome da normalização da ordem social partindo de uma associação própria dos combatentes e de seu ressentimento, ao observar a opinião pública oscilar entre posições contrárias e a favor das guerras e de suas ações nesse contexto. O último capítulo da segunda parte, Teatro de amadores em Almada: performance e espoir em tempo de Revolução, de Dulce Simões, observa um grupo de teatro amador, o TACA (Teatro de Animação Cultural de Almada), formado por estudantes das escolas técnicas de Almada entre 1974-1976. A autora conclui que as companhias teatrais, nesse momento, aparecem como uma força representativa de opções políticos-ideológicas diferentes que emergiram com uma descentralização do teatro promovido pelo processo revolucionário.
Fazer teatro era participar das transformações sociais e políticas significativas que estavam em curso em Portugal, e a performance desses sujeitos produziam significados que circulavam com força na sociedade.
A terceira e última parte do livro, Homo Performans: entre ação e atuação, começa com o texto de Sónia Ferreira, “Magazine Contacto”: Media e Performance na Construção da Identidade Nacional, onde a autora analisa um programa televisivo sobre comunidades portuguesas na diáspora enquanto prática performativa.
O capítulo de Nuno Domingos, Boxe e Performance: Lisboa, anos quarenta, busca interpretar o jogo, o boxe em particular, enquanto performance histórica, percebendo as atividades desportivas como espaços de intenção normativos, em constante disputa e negociação pela própria linguagem performativa que legitima modos de agir no cotidiano. Xerardo Pereiro e Cebaldo León escrevem o capítulo Turismo e performances culturais: uma visão antropológica do turismo indígena onde observam como o turismo indígena guna do Panamá recria espaços sociais e culturais através de práticas performativas, buscando analisar todos os envolvidos nesse turismo controlado, desde os gestores, até os serviços oferecidos aos sujeitos que desempenham, recriam performances ritualísticas para os turistas.
Maria Alice Samara, no capítulo Outras cidades: as cooperativas e a resistência cultura no final do Estado Novo, busca identificar modos de vida alternativos e sociabilidades comunitárias de grupos que lutavam contra o regime ditatorial, assim analisa algumas cooperativas culturais na grande Lisboa como a Pragma (Cooperativa de Difusão Cultural de Acção Comunitária) criada em 1964, a Devir Expansão do Livro, de 1969 e a Livrelco, do início de 1960.
O último capítulo, Vidas e performances no lúdico de Ana Piedade, apresenta suas considerações a partir de um trabalho realizado ao longo de vários anos na localidade de Lavradio, em Portugal. A autora reflete sobre o papel da memória na reprodução do gesto lúdico e como o lúdico (entendendo o jogo como prática ritual, como performance) se constitui como memória, “culturalizando” tempos e espaços vividos na infância.
A obra demonstra com clareza que as performances não são apenas simples reflexos ou mesmo expressões de uma cultura, mas são elas mesmas agentes ativos de mudanças (TURNER, 1988, p.
24). A referência a Turner não é mero acaso, pois se trata de um dos autores citados com recorrência nos diferentes capítulos descritos acima. Juntamente com Schechner (2003), baliza as fundamentações sobre o principal conceito/tema tratado – performance. Para Schechner: The phenomena called either/all ‘drama’, ‘theater’, ‘performance’ occur among all the world’s peoples and date back as far as historians, archeologists, and anthropologists can go (SCHECHNER, 2003, p. 66).
Em síntese, fazem parte da existência humana. Soma-se a esta contribuição de caráter geral e legitimador do estudo da performance as noções de “Drama”, “Script”, “Theater” e “Perfomance” (SCHECHNER, 2003, p. 71).
Drama pode ser entendido como o domínio dos autores de uma prática/produção, o srcipt como domínio daqueles que ensinam, theater aparece como a atuação daqueles que desempenham as performances, e a performance adentra no domínio da audiência. É claro que um indivíduo pode realizar mais de uma dessas funções, mas essas definições permitem, metodologicamente, observar todo o trabalho realizado em torno de uma performance em diferentes grupos e cenários culturais, como bem demonstram os temas abordados no decorrer do livro. As próprias danças e demais atividades teatrais, as práticas artísticas levadas a cabo por grupos que visam construir/legitimar identidades nacionais, rituais populares, as encenações que envolvem inaugurações de monumentos, a movimentação dos corpos, práticas esportivas, enfim, uma variedade de atividades desempenhadas em público podem ser pensadas, analisadas a partir das contribuições de Schechner.
Turner (1988, p. 25) contribui com a autonomização da noção de “liminality”, que caracteriza a fronteira de um ritual, de uma performance, “[…] entre um antes (de que nos desfazemos, purificando- nos) e um depois, em que nos reagregamos” (GODINHO, 2014, p. 12). A liminaridade constitui, portanto, uma espécie de ápice das práticas performativas, permitindo observar como elas mudam os sujeitos e/ou grupos que participam, seja como atores ou como audiência. Outro autor que está presente nas discussões no transcorrer da obra é James C. Scott (2013) e a formulação dos conceitos “discurso público” e “discurso oculto”. Os discursos públicos designam “[…] as relações explícitas entre os subordinados e os detentores do poder”, e o discurso oculto é aquele que ocorre nos bastidores, “[…] fora do campo de observação directa dos detentores do poder” (SCOTT, 2013, p. 28, p. 31).
Dentre os diálogos possíveis com a história que a obra Antropologia e Performance pode trazer, sua aproximação fundamental está na própria base da pesquisa. A crítica das fontes, dos documentos produzidos por sujeitos e grupos no passado, pode ser concebida, em muitos casos, como uma prática performativa, as próprias fontes, muitas vezes, são produzidas em virtude de práticas culturais, ritualísticas e performáticas. A sociedade política é permeada de ritualizações que envolvem produções documentais. A imprensa, seja escrita, falada ou televisionada, também é marcada por essa dimensão performativa. Assim, levar em consideração as diversas performances envolvidas na produção de documentos analisados pelos historiadores pode revelar traços importantes dos modos de ser, agir e pensar de determinados grupos. A própria performance é carregada de uma historicidade particular, o que abre outro diálogo possível com a antropologia.
Pesquisar a historicidade das práticas performativas pode revelar mudanças profundas não apenas nos rituais, festividades, jogos, etc., mas transformações importantes pelas quais as sociedades passaram, alterando, ou estruturando, o cotidiano vivido dos indivíduos. Também é importante pensar nas relações de poder que envolvem as performances, pois se há um “drama”, um “script”, agentes que organizam, desempenham e muitas vezes se apropriam dessas práticas, há uma audiência, que não permanece imobilizada, mas também se envolve, e em certas ocasiões passando à condição de organizadores, em um processo dinâmico de (re)construção das práticas performáticas. A noção de discurso público e discurso oculto também abre portas para os historiadores, que devem buscar mais do que a produção de uma massa documental e de um investimento material e simbólico em representações de grupos que figuram como elites em determinado contexto. Mas há, mesmo entre as elites, discursos ocultos que ocorrem fora do palco (o mesmo ocorre com os grupos subalternos) que podem ser percebidos ao se aproximar o olhar para as performances, especialmente em seus momentos liminares. Dessa forma, a leitura da obra proporciona um diálogo profícuo entre historiadores, antropólogos e demais pesquisadores das ciências sociais, abrindo horizontes e possibilidades de estudos interdisciplinares.
Referências
GODINHO, Paula (Coord.). Antropologia e Performance: Agir, Atuar, Exibir. Castro Verde: 100Luz, 2014.
SCHECHNER, Richard. Performance Theory. London: Routledge, 2003.
SCOTT, James C. A dominação e arte da resistência: Discursos Ocultos. Lisboa: Letra Livre, 2013.
TURNER, Victor. The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications, 1988.
Eduardo Roberto Jordão Knack – Doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Pós-Doutorando na Universidade Federal de Pelotas – UFPel.
Revolução dos Cravos e os trânsitos coloniais – LIMA et al (AF)
LIMA, Edilson Vicente et al; FERNANDES, José Antônio da Costa (Org). Revolução dos Cravos e os trânsitos coloniais. São Paulo: Editora Kafka, 2016. Resenha de: PAOLIELLO, Guilherme. Artefilosofia, Ouro Preto, n.21, 2016.
Organizado a partir de um evento promovido pelo Ministério da Cultura em parceria com a Casa de Portugal (SP/BR) e o Centro Cultural 25 de Abril, sobre a Revolução de 25 de abril-entre nós mais conhecida como a Revolução dos Cravos-, o livro “A Revolução dos Cravos e os trânsitos coloniais” aborda temáticas que englobam aspectos políticos, sociais, históricos e culturais, e amplia não apenas nossa compreensão daquele movimento inspirador para o destino da democracia no mundo, como estabelece reflexões aprofundadas acerca das possibilidades de relações entre Portugal e Brasil.
O livro é estruturado em três capítulos, cada qual precedido de uma introdução elucidativa.
O capítulo 1, intitulado “desafios de Portugal: da revolução aos dias de hoje” trás dois textos. No primeiro, “Revolução e contrarrevolução em Portugal (1974-1976)”, Augusto Buonicore contextualiza o ambiente politico e social que possibilitou o advento da revolução que democratizou o país após os anos de ditadura salazarista, projetando a nação para um futuro que se identifica com ideais mais libertários e progressistas. A fim de compreender a grande complexidade da sociedade portuguesa no período pós-revolucionário, o segundo texto, intitulado “Portugal entre prósperos e calibans: ontem e hoje”, de José Antônio da Costa Fernandes, interliga momentos da história de Portugal numa perspectiva de longa duração, desde o Portugal Imperial, anterior ao 25 de abril, até o Portugal europeu, da União Europeia, em busca de uma identidade ressignificada no mundo globalizado. Para isso se vale d o potencial crítico de conceitos definidores da identidade portuguesa, a partir de autores como Boaventura de Sousa Santos, tais como “pós-colonialismo”, “neocolonialismo”, “barroco”, “periferia e semiperiferia”, a fim de perspectivar o papel das ciências sociais na compreensão e significação de Portugal.
O capítulo 2, “Revolução dos Cravos: cultura e trânsitos coloniais” é composto por três textos que enfatizam o papel da cultura, das artes e das letras na construção de todo um contexto de longa duração no qual se insere a Revolução.
Edilson Vicente de Lima e Rosemeire Moreira, em “F ado, trânsitos coloniais e resistência” traçam um painel histórico no qual o fado, enquanto manifestação musical autenticamente portuguesa, tem origens e se relaciona com gêneros musicais híbridos, tais como a modinha e o lundu, todos eles resultantes dos trânsitos e das trocas culturais triangulares entre Portugal, Brasil e países africanos de colonização portuguesa.
Tendo a diáspora negra como fator determinante na construção da cultura ocidental, “ressoa no fado atual uma memória longínqua de quando nos encontrávamos na festa, na dança e na música, ou seja, nos fados, compartilhando nossos destinos plurais”. Assim como a música sintetiza os trânsitos e as trocas culturais, outras linguagens também inscrevem seu modo de interpretar o mundo. É assim que Alexandre Huady Torres Guimarães, em “ A Revolução dos Cravos pelo olhar foto jornalístico” analisa um conjunto de fotografias de jornais no período da Revolução estabelecendo uma leitura dessas imagens tanto do ponto de vista de sua significação histórica, quanto da composição propriamente fotográfica. No terceiro texto deste capítulo, Lincoln Secco, em “Fernando Pessoa depois da Revolução” investiga a produção textual política do poeta portugues, esquecida nos anos da ditadura, mas de interesse crescente após a Revolução. Não apenas a produção poética e textual propriamente dita mas a fotografia jornalística e a música são tratadas, neste capítulo, como textos a serem lidos e interpretados, no sentido que propõe Alberto Manguel, para quem ler é um “processo de reconstrução desconcertante, labiríntico, comum e, contudo, pessoal”.
Após contextualizar e problematizar os desdobramentos da Revolução dos Cravos no primeiro capítulo e ampliar o arco interpretativo tendo como referência diferentes modos de ler a cultura e a história, no segundo, o terceiro capítulo do livro se volta para os sujeitos da relação Portugal-Brasil.
Daí o título “Imigrantes, resistências e acomodações”. Neste capítulo podemos observar parte das discussões que envolvem a Revolução dos Cravos e seus desdobramentos, pois durante o período da ditadura salazarista, vários foram os deslocamentos de portugueses pelo globo, e que impactaram os países receptores e construíram formas novas de sociabilidade e de inserção nestes países. O primeiro texto deste terceiro e último capítulo, “Ações antissalazaristas e protagonismo feminino: Maria Archer e Arajaryr Campos (décadas de 1950-1970)”, de Maria Izilda Santos de Matos, parte de uma sólida pesquisa documental para evidenciar o processo de recepção de imigrantes portugueses em São Paulo e sua atuação política na condição de exilados.
O texto ressalta a importância do jornal “ Portugal Democrático ”, que funcionou numa das salas do Centro Republicano Português de São Paulo, editado ininterrupta e mensalmente, entre 1956 e 1977 com tiragem de cerca de 3000 exemplares, por iniciativa de membros do Partido Comunista Português.
O texto final do livro, “Influências políticas na programação cultural da Casa de Portugal de São Paulo”, de Leandro Rodrigues Gonzalez Fernandez, analisa, sob a ótica da história cultural, parte da programação desta instituição que recebeu algum tipo de influência política, mormente as homenagens e honrarias concedidas pela Casa, já num período mais recente, a membros de partidos políticos brasileiros de viés conservador.
Dessa maneira, o livro “A revolução dos cravos e os trânsitos coloniais”, surge num momento crucial da história de nosso país. Chama a atenção para a urgência de discussão e ampliação do aparato crítico em tempos de retrocesso social e desestabilização da ordem democrática. Conhecer e discutir o processo de democratização perpetrado pela Revolução de 25 de abril de 1974, em Portugal, representa não apenas uma oportunidade de aprofundar as relações entre esses dois países, mas é, sobretudo, um alento para nós brasileiros, n o momento em que se instaura em nosso país uma espécie de estado de exceção operado por um aparelho judiciário historicamente vinculado a setores conservadores da sociedade, sustentado por um oligopólio midiático sem precedentes no mundo contemporâneo e um a tendência à regressão no campo dos costumes pressionada pela atuação de grupos religiosos com forte atuação nos poderes legislativo e executivo.
Guilherme Paoliello-Professor do curso de Música no Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: paolielloguilherme@gmail.com
A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI) (vol. I). (Séculos XVI e XVII) (vol. II) – CALAFATE (FU)
CALAFATE, P. A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI) (vol. I). (Séculos XVI e XVII) (vol. II). Coimbra: Edições Almedina, 2015. Resenha de: NASCIMENTO1, Marlo do. Os mestres da Escola Ibérica da Paz. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.17, n.1, p.81-84, jan./abr., 2016.
A publicação da obra A Escola Ibérica da Paz vem a ser um resgate de textos latinos manuscritos e impressos de alguns professores renascentistas das Universidades de Coimbra e Évora. Os dois volumes da referida obra foram publicados sob a direção de Pedro Calafate, professor da Universidade de Lisboa, e são fruto do trabalho de uma equipe interdisciplinar que realizou suas atividades via projeto Corpus Lusitanorum de Pace: o contributo das Universidades de Coimbra e Évora para a Escola Ibérica da Paz2. Este grupo de pesquisadores tratou de investigar, transcrever e traduzir manuscritos e textos latinos impressos de autores como Luís de Molina, Pedro Simões, António de São Domingos, Fernando Pérez, Martín de Azpilcueta, Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
O volume I tem por título A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI), com direção de Pedro Calafate e coordenação de Ana Maria Tarrío e Ricardo Ventura. Este volume contém dois estudos introdutórios, apresentação dos textos e, em seguida, a transcrição e tradução de textos de Luís de Molina, Pedro Simões, António de São Domingos, Fernando Pérez (todos em versão bilíngue latim/português) e ainda, em anexo, um texto transcrito de autor anônimo. Os temas abordados versam sobre questões da guerra e da paz, relacionando-as a temáticas que implicam problemáticas de cunho ético, político e jurídico. Conforme aponta Pedro Calafate, est es textos não deixam de ser verdadeiros manifest os sobre o valor da paz e o respeito pela soberania dos povos.
O Estudo introdutório – I, escrito por Pedro Calafate, tem por título “A Guerra Justa e a igualdade natural dos povos: os debates ético-jurídicos sobre os direitos da pessoa humana”. Nest a introdução, o autor aborda várias temáticas desenvolvidas pela Escola Ibérica da Paz, entre elas: o limite do poder papal e do imperador, a legitimidade das soberanias indígenas, a noção de que o poder dos príncipes pagãos não difere daquele dos príncipes cristãos, a compreensão de que a rudeza dos povos não lhes impede a liberdade nem o direito de domínio e de posse. Discute ainda as punições de crimes contra o gênero humano (sacrifícios humanos, morte de seres humanos inocentes) e apresenta a compreensão de que o cumprimento de ordens superiores não deve justificar o ato de um soldado cometer um crime contra o gênero humano. Ressalta ainda a importância do respeito ao direito natural de sociedade e comunicação, e ainda o direito ao comércio, sendo justa causa de guerra o caso de haver impedimentos violentos contra est es direitos.
No Estudo introdutório – II, escrito por Miguel Nogueira de Brito, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o qual versa sobre “A primeira fundação do Direito Internacional Moderno”, ressalta o autor a relevância dos escritos dos teólogos-juristas da segunda escolástica para a fundação do direito internacional moderno. Para isso, ele apresenta o contraste entre as doutrinas dos autores da segunda escolástica (primeira fundação do direito internacional) e os autores da “segunda” fundação do direito internacional público, com destaque para Grócio e Pufendorf. Assim, expõe que os da primeira fundação entendem o direito internacional como direito dos povos e os da segunda assumem que a comunidade é como um instrumento de proteção do indivíduo. Compreender o direto internacional a partir do direito dos povos conduz o autor a relacionar o pensamento dos autores da segunda escolástica com o pensamento de John Rawls. Isso porque a obra de Rawls A Lei dos Povos (1999) é alvo de muitas críticas justamente porque ele aborda as relações internacionais na perspectiva dos povos havendo uma grande semelhança com o pensamento dos autores da segunda escolástica. Por fim, enaltece a importância das ideias destes escolásticos para as discussões sobre o direito internacional mais recente.
Antes de adentrar propriamente os textos transcritos e traduzidos, Ricardo Ventura, da Universidade de Lisboa, tece uma apresentação dos textos, o que muito auxilia na posterior leitura. A apreciação destes textos não só traz à tona a cultura presente nas universidades portuguesas do século XVI, como também mostra o que se tem de mais original no pensamento português, fruto de uma extensão da influência da Escola de Salamanca.
Como primeiro texto temos o escrito de Luís Molina intitulado Da fé – Artigo 8 Se os infiéis devem ser forçados a abraçar a fé (p. 76-105), transcrito e traduzido por Luís Machado de Abreu. A primeira conclusão que se tem é que não é lícito obrigar nenhum dos infiéis a abraçar o batismo e tampouco a fé, e que não é lícito fazer guerra contra eles por est a razão ou subjugá-los. Como uma segunda conclusão se tem que é lícito atrair aqueles que são infiéis com favores, dinheiro e afabilidade, para que desta forma possam ser levados a prestar culto a Deus. A terceira conclusão é que qualquer pessoa tem o direito de anunciar o Evangelho em qualquer lugar. Quarta conclusão: é lícito fazer guerra, se for necessário, contra aqueles que impedem a pregação do Evangelho como forma de vingar alguma ofensa, com a devida proporcionalidade. Mostra-se lícito forçar os hereges e apóstatas a conservar a fé que receberam no batismo ou fazê-los abraçá-la novamente, porque a ideia é que a Igreja tem poder sobre aqueles que receberam o batismo.
Em seguida, temos o texto chamado Notas sobre a Matéria acerca da Guerra, lecionadas pelo Reverendo Padre Pedro Simões no ano de 1575 (p. 106-209). Este teve a transcrição de Joana Serafim, tradução e anotação de Ana Maria Tarrío e Mariana Costa Castanho, com o estabelecimento do texto e revisão final de Ana Maria Tarrío e Ricardo Ventura. Pouco se sabe sobre Pedro Simões: apenas que em 1557 ingressou na Companhia de Jesus e em 1569 foi professor da Universidade de Évora. Nest e escrito, o autor trata da questão da guerra em três momentos. Além da referência tomista, o texto tem como inspiração as cinco questões sobre a guerra apresentadas na suma de Caetano. Os três momentos abordados por Pedro Simões são: (i) Acerca das condições da guerra justa; (ii) acerca dos soldados e dos restantes que cooperam na guerra; e (iii) acerca do que é lícito fazer em uma guerra justa. Uma das temáticas que permeia est es momentos e vale ser destacada é a importante discussão sobre os títulos que legitimam o poder português nas Índias.
Em seu escrito, António de São Domingos também discute sobre a matéria da guerra. Este autor nasceu em Coimbra em 1531 e professou em 1547 no convento de São Domingos em Lisboa. Assumiu a cadeira prima na Universidade de Coimbra em 1574 e veio a falecer entre 1596 e 1598. Seu texto De bello. Questio 40 (p. 210-341) tem a mesma estruturação feita por São Tomás ao tratar do tema em sua Suma Teológica, ques ão 40, que a estrutura em quatro artigos. Este escrito teve a transcrição e o estabelecimento do texto feitos por Ricardo Ventura e contou com a revisão final da transcrição, tradução do latim e notas de António Guimarães Pinto. Os quatro artigos são assim apresentados: no Artigo 1º, a questão é se fazer guerra é sempre pecado; no artigo 2º, se é lícito aos clérigos combater; no artigo 3º, se numa guerra justa é lícito usar de ciladas; e no artigo 4º, se é lícito combater nos dias santos. É importante destacar, deste manuscrito, que Frei António, ao elencar os títulos que dão direito à guerra justa, diverge de Francisco de Vitória e seus discípulos que defendiam que o direito que Cristo concedeu aos apóstolos de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura (Mc 16,15) era um direito natural. Para Frei António de São Domingos não era assim, pois est e direito concedido por Cristo não poderia ser confundido com um direito natural. Além disso, salienta (f. 68) que o Evangelho deve ser pregado com mansidão e não por força das armas. Desta maneira, é possível revelar o reconhecido respeito que o autor possuía por quem ainda não era conhecedor da revelação cristã.
Temos ainda o escrito de 1588 intitulado Sobre a Matéria da Guerra (p. 342-497), de Fernando Pérez. A transcrição e o estabelecimento do texto são de Filipa Roldão e Ricardo Ventura, e ele teve como revisor final da transcrição e tradutor António Guimarães Pinto. Fernando Pérez, nascido em Córdoba por volta de 1530, foi professor da Universidade de Évora, ocupando a cadeira prima nesta Universidade de 1567 a 1572. In materiam de Bello a Patre Doctore Ferdinandus Perez é um texto inspirado, principalmente, na questão 40 da II-II da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Desta forma, o autor também desenvolve sua temática por meio de quatro artigos a partir das questões levantadas por São Tomás. Cabe lembrar que o texto de Pérez é semelhante em estruturação ao De Bello de António de São Domingos. Talvez a novidade apresentada neste texto seja justamente a relação que Pérez faz das questões levantadas por Tomás com questões pertinentes à sua época, como, por exemplo, reflexões sobre a questão da soberania dos hispânicos sobre as Índias, sobre a guerra contra mouros e turcos, sobre o poder papal, se o mesmo se estende para fora da Igreja, sobre a defesa do direito natural no caso de matar inocentes, sobre a legitimidade de subjugar povos considerados bárbaros (africanos, indígenas do Brasil e outros).
No final deste primeiro volume, também podemos encontrar a minuta de uma carta dirigida a D. João III, de autor anônimo, de 1556 (?), e nela se encontram as causas pelas quais se poderia mover guerra justa contra infiéis. A minuta desta carta tem a transcrição paleográfica de João G. Ramalho Fialho. Este texto carece de um pouco mais de atenção do leitor pelo fato da grafia ser um pouco distinta daquela com que est amos acostumados.
É possível dizer que este primeiro volume é um convite a pensar o direito internacional e seus vários desdobramentos, principalmente no diz respeito a questões de guerra e de paz. O que fica muito claro nestes escritos é a preocupação dos autores em pensar a guerra em função da paz, e est a relação é um dos motivos que tornam seus escritos fascinantes. Por fim, imagino que seja preciso ressaltar uma pequena falha do volume I, que é a falta do Índice Onomástico, o que se pode encontrar no Volume II, que em seguida abordaremos. Ressalto a falta deste tipo de índice porque est a é uma obra com uma da gama de autores importantes citados e a busca dos mesmos se torna um pouco mais difícil sem est a ferramenta.
Ao adentrar o Volume II, deparamo-nos com escritos sobre a justiça, o poder e a escravatura. Sob a direção e coordenação de Pedro Calafate, est e volume é estruturado em duas partes. A primeira parte contém uma introdução à Relectio C. Novit de Iudiciis de Martín de Azpilcueta, de autoria de Pedro Calafate. Em seguida, temos o texto propriamente dito e, no final dest a primeira parte, em anexo o Novit Ille de Inocêncio III. A segunda parte também possui uma nota introdutória elaborada por Pedro Calafate. Na sequência temos três capítulos, nos quais encontramos, respectivamente, a tradução dos escritos de Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
Inicialmente, é importante ressaltar que a introdução à Relectio de Martín de Azpilcueta, feita pelo Pedro Calafate, é muito válida, pois ela cumpre o intuito de realmente introduzir o leitor no escrito de Azpilcueta que vem em seguida. Nela, Pedro Calafate apresenta claramente o contexto em que o escrito se insere, além de destacar as principais questões discutidas nele. O escrito Sobre o Poder Supremo (p. 23-181), propriamente dito, de Martín de Azpilcueta, tem a tradução do latim e anotação realizada por António Guimarães Pinto. Martín de Azpilcueta, que foi professor da Universidade de Coimbra, aborda em sua Relectio C. Novit de Iudiciis variados temas, porém a discussão central gira em torno do poder supremo dos reis e dos papas, uma temática um tanto delicada de ser trabalhada, pois o que est á em pauta são os limites do poder temporal e do poder espiritual, questões que envolvem a relação de soberania do Estado e da Igreja.
A Relectio é estruturada em forma de anotações, seis no total. Elas foram desenvolvidas a partir da reflexão sobre o texto de Inocêncio III Novit Ille (1204), que pode ser encontrado em anexo à Parte I deste volume, logo após o escrito de Azpilcueta. Nas duas primeiras anotações, encontramos discussões de questões referentes à onisciência divina à sua relação com o livre-arbítrio, e a crítica à astrologia supersticiosa e às práticas de adivinhação, pelo fato de que elas interferem no âmbito da ciência divina. Porém, é nas anotações III a VI que podemos encontrar o centro do escrito, que versa mais propriamente sobre a questão do poder supremo dos monarcas supremos (tanto reis como papas). Cabe ainda ressaltar que Azpilcueta, fazendo jus à Escola Ibérica da Paz, trata da defesa da soberania legítima dos povos do Novo Mundo, defendendo, no âmbito jurídico, que nem o papa nem o imperador possuíam direito sobre o território e a soberania indígena do Novo Mundo.
Na segunda parte deste volume, podemos encontrar uma nota introdutória seguida de três capítulos onde temos, respectivamente, a tradução de escritos de Martín de Ledesma, Fernão Rebelo e Francisco Suárez.
A nota introdutória desta parte, de autoria de Pedro Calafate, apresenta a relevância do conjunto de textos escolhidos dos professores das Universidades de Évora e Coimbra, que tratam de questões como: origem e natureza do poder civil, a escravatura, as relações entre infiéis e cristãos no período entre os séculos XVI e XVII.
No primeiro capítulo, encontraremos excertos de Martín de Ledesma, professor na Universidade de Coimbra entre os anos de 1540-1562, tendo como título Secunda Quartae (p. 197-202). A seleção de textos e a tradução do latim são de Leonel Ribeiro dos Santos a partir da edição príncipe (Coimbra, 1560). São seis excertos intitulados pelo próprio tradutor. Neles são tratados temas que envolvem a defesa da soberania dos povos e do direito natural, o combate do argumento de que a inferioridade civilizacional justifica a guerra e a escravatura, condenando, assim, a escravatura e declarando-a ilegítima quando se tem como pretexto tornar cristãos os escravos. Também discorre sobre o poder papal, destacando que o mesmo não é senhor das coisas temporais e que o poder civil não está sujeito ao poder temporal do papa.
No segundo capítulo, temos o texto de Fernão Rebelo, nascido em 1547, que foi professor da Universidade de Évora. Este escrito tem por título Opus de Obligationibus, Justitiae, Religionis et Caritatis3 (p. 203-241), cuja tradução do latim é de António Guimarães, a partir da edição príncipe (Lyon, 1608). A opção por traduzir apenas algumas questões desta obra se deve à escolha temática. Pelo fato deste escrito possuir uma gama variada de temas, explica Calafate (p. 194), optou-se traduzir apenas as questões relativas à escravatura. E é dentro dessa temática que Fernão Rebelo discorre sobre algumas questões como: quando é legítimo um homem tornar-se escravo de outro, o que legitima a posse de escravos, que tipo de poder tem o senhor sobre o escravo e quais os limites desse poder, quais direitos possui um escravo, quando é lícita a fuga de um escravo e quando est e deve tornar-se livre.
No terceiro e último capítulo deste volume, encontramos o texto de Francisco Suárez chamado Defensio Fidei Catholicae et Apostolicae Adversus Anglicanae Sectae Errores4 (p. 243-301). Suárez é movido a escrever est a obra no intuito de combater a teses jusdivinistas do rei Jaime I de Inglaterra. A tradução destes capítulos do livro III, cujo título Principatus Politicus se justifica pelo fato deles incidirem mais especificamente sobre a questão da fundamentação da doutrina democrática de Francisco Suárez, conforme explica em nota o tradutor do texto, André Santos Campos (p. 245). Já o capítulo IV do livro VI, que tem por título De Iuramento Fidelitatis, vem de certa forma complementar o que foi exposto no livro III, porém com destaque para o direito à resistência ativa e a discussão em torno do poder indireto do papa ao tratar de questões de ordem temporal.
Cabe ressaltar que a obra A Escola Ibérica da Paz (vol. I e II) é importante por vários motivos. Dentre eles, pode-se destacar que est a obra é válida por resgatar o pensamento destes autores do Renascimento através de seus escritos, pensamento est e que ilumina de maneira crítica vários acontecimentos históricos dos séculos XVI e XVII referentes às questões de guerra e paz, justiça, poder e escravatura. Ela também resgata uma memória histórica que nos auxilia e influencia a pensar o presente e o futuro sob uma nova perspectiva, ou seja, sob a perspectiva de quem compreende o direito como algo inclusivo, do qual todos fazem parte, não distinguindo as pessoas por raça, credo, classe social, costumes, etc. Além disso, é importante ressaltar que a obra A Escola Ibérica da Paz (vol. I e II), que pode ser adquirida através do site da Editora Almedina, permite o contato, de maneira mais fácil, com textos de autores que, de outra forma, seriam de difícil acesso ao público menos especializado.
Notas
1 Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Av. Unisinos, 950, Cristo Rei, 93022-750, São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: marlo_kn@hotmail.com 2 Projeto PTDC/FIL-ETI/119182/2010 do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, tendo como investigador responsável o Professor Pedro Calafate.
2 Projeto PTDC/FIL-ETI/119182/2010 do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, tendo como investigador responsável o Professor Pedro Calafate.
3 Desta obra foram traduzidas as questões 9, 10, 11, 12, 13 do livro I.
4 Traduziram-se do latim, a partir da edição príncipe (Coimbra, 1613), apenas os capítulos II, III e IV do livro III, que possui em sua totalidade nove capítulos, e o capítulo IV do livro VI, que possui em sua totalidade 12 capítulos.
Marlo do Nascimento – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: marlo_kn@hotmail.com
[DR]
O Atlântico revolucionário: circulação de ideias e de elites no final do Antigo Regime | José Damião Rodrigues
O livro deriva de um evento homônimo de 2010, ocorrido no Museu de Angra do Heroísmo, nos Açores, Portugal, organizado pelo Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar (CHAM), com apoio da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Boa parte das apresentações se converteu em artigos para a publicação de 2012, havendo o acréscimo de apenas um autor não relacionado na programação original do colóquio.
O organizador e autor de um dos artigos, José Damião Rodrigues – professor da Universidade dos Açores na oportunidade do evento, e atualmente docente na Universidade Nova de Lisboa -, desvela na Nota Introdutória mais detalhes acerca da justificativa e dos parâmetros deste O Atlântico revolucionário: circulação de ideias e de elites no final do Antigo Regime. Comentando a retomada de interesse do estudo acerca dos impérios, indissociável de um panorama onde designações como Atlantic history e global history parecem entrar cada vez mais em voga, o autor enaltece a fomentação de pesquisas revisitando as turbulências e transformações entre os centros políticos europeus e suas respectivas periferias – sobretudo os espaços de domínio ibérico – nos século XVIII e XIX.
Dessa forma,
esta acção (…)pretendeu analisar o período axial que vai de 1750 a 1822 e no qual registramos a ocorrência de um conjunto de eventos fundadores da contemporaneidade política, social e intelectual à escala regional, nacional e internacional, como foram as revoluções americana e francesa, a revolta e a independência do Haiti, a mudança da Corte portuguesa para o Brasil, o início do processo das independências na América espanhola, a primeira experiência liberal em Espanha e a independência do Brasil. Sob este ângulo, pretendeu-se revelar a importância do Atlântico como um espaço para a circulação das elites enquanto factor de difusão de novas ideias e de valores fundamentais das sociedades contemporâneas e de construção de redes de informação. De igual modo, foi destacado o papel das ilhas açorianas que se, por um lado, mantinham as características de uma periferia, por outro, pela sua centralidade geográfica no coração do sistema atlântico, funcionavam como ponto nodal e placa giratória de uma densa rede de fluxos e refluxos (…) (p. 15).
Não obstante ter situado a temática das transformações desse âmbito atlântico, Rodrigues expõe outro tema que encontra muito espaço no desenvolver da obra. Pois tanto o colóquio original quanto a publicação se baseiam na celebração da memória de um acontecimento ilustrativo das transformações do final do Antigo Regime em Portugal: a Setembrizada. O evento constituiu-se no exílio de dezenas de presos sem culpa formalizada, acusados pela regência do Reino de colaborar ou simpatizar com a nova invasão francesa de 1810, chefiada pelo marechal Massena. Os deportados chegaram em 26 de setembro do mesmo ano às ilhas açorianas e muitos deles voltaram a ter participação ativa na conjuntura revolucionária liberal de 1820. Portanto, o colóquio organizado pelo CHAM também busca homenagear esses personagens ligados a introdução da modernidade política em Portugal.
Sem dúvida, a coexistência dos dois temas é uma das características mais marcantes do livro: a diversidade entre os artigos que o compõe. E, de fato, a obra se faz notável por exibir uma rica gama de matizes e vieses possíveis, através dos quais aborda a questão da circulação atlântica de elites e de ideias, deixando clara a fecundidade do objeto. Ao perpassar o índice, o leitor confirma isso ao se deparar com a listagem dos vinte artigos, saltando aos olhos a existência de capítulos escritos tanto em português como em espanhol, cujos títulos elencam desde revoltas escravas na Bahia do século XIX, passando pela ilustração no Peru durante o século XVIII, até um estudo sobre a heráldica portuguesa de finais do Antigo Regime.
Por outro lado, ainda que a diversidade de objetos e temas escolhidos no interior do espaço Atlântico seja latente, existe uma metodologia dominante em O Atlântico revolucionário .Dos vinte autores, oito optaram por se concentrar em um personagem, refazendo e evidenciando, através de suas respectivas trajetórias e produções documentais, pontos concernentes e reveladores de diversas dimensões da realidade pertencentes a essa conjuntura de transformações, compreendida entre os anos de 1750 e 1822, no espaço atlântico. Ao considerar as menos de quinhentas páginas para os vinte textos, fica clara a impossibilidade da publicação de estudos mais extensivo e análises mais minuciosas, contemplando dados e corpos de fontes mais volumosos. Portanto, a opção mais frequente de desenvolver os artigos sobre um personagem se revela bem conveniente, além de resultar em capítulos bastante objetivos e claros em suas intenções, expondo, por meio de casos de grande relevância, ainda que deveras circunscritos, uma profusão de aspectos de um mesmo espaço em um mesmo período de tempo. No mínimo, ficamos diante de valorosas indicações de caminhos para futuras pesquisas, aguardando trabalhos de maior densidade em sua continuidade.
“O espaço público e a opinião política na monarquia portuguesa em finais do Antigo Regime: notas para uma revisão das revisões historiográficas”, de Nuno Gonçalo Monteiro, abre oportunamente o livro, situando o leitor num panorama de referências e subsídios teóricos úteis para a apreciação de muitos dos artigos subsequentes, proporcionando um balanço historiográfico centrado sobre os dois conceitos presentes no título do capítulo – basilares para a compreensão das transformações do século XIX.
Em meio aos debates e pontos de inflexões historiográficos abordados por Gonçalo, são relembrados tanto Fernando Novais, para quem “desde meados do século XVIII (…) existiria uma crise estrutural do sistema colonial”, quanto o posterior trabalho de Valentim Alexandre, que “contraria claramente a ideia de crise do império ou da monarquia antes de 1808” (p. 22). Esse debate, retomado por Monteiro exemplifica o préstimo desse balanço historiográfico e sua aproximação com outros artigos do livro. Um dos elos possíveis se dá com “Remanejamento de identidades em um contexto de crise: as Minas Gerais na segunda metade do século XVIII”, de Roberta Stumpf. Desde o próprio título – ao reafirmar a crise do Império Português no século XVIII articulada com a Inconfidência Mineira – é visível não apenas a influência do pensamento de Novais sobre a produção de Stumpf, mas a própria vigência do acima citado debate nas páginas deO Atlântico revolucionário ,reiterando a adequação do balanço historiográfico de Monteiro na condição de primeiro capítulo.
Ainda a propósito do trabalho de Stumpf, a autora indica, observando o cada vez maior descompasso de interesses entre os naturais de Minas e a Coroa portuguesa nos fins do século XVIII, que, pelo estudo do vocabulário político dos Autos da Devassa da Inconfidência Mineira, torna-se latente a cisão identatária dos acusados para com as autoridades metropolitanas, ainda que os mesmos acusados ainda não tivessem uma nova identidade para o projeto no qual se empenharam.
Stumpf aplica, no recorte da Inconfidência Mineira, uma linha de trabalho anteriormente desenvolvida sobre a questão das transformações das identidades no interior da América portuguesa no período de crise, tema bastante pujante em uma historiografia que, nas das últimas duas décadas, inclui a própria autora. Nesse mote, são exemplos e referencias trabalhos como Peças de um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emergência da identidade nacional brasileira) (István, Jancsó e João Paulo G. Pimenta, São Paulo, Editora Senac, 2000) e Filho das Minas, americanos e portugueses: identidades políticas coletivas na Capitania de Minas Gerais (1763-1792) (Roberta Stumpf, São Paulo, Hucitec, 2010).
Em “Wellington em defesa dos jacobinos? A setembrizada de 1810”, Fernando Dores Costas analisa a efeméride que serviu como ponto de partida para o colóquio, esmiuçando-a e delineando-a como ação arbitrária e desesperada da Regência portuguesa. O intuito desta seria angariar a confiança da população no momento de crise, em uma Lisboa abandonada pela família real e sob ameaça de uma nova invasão de tropas francesas, contra algumas figuras transformadas em bodes expiatórios, acusadas de colaboração com os franceses. Ao centrar-se na trajetória nos escritos de alguns dos exilados nas ilhas açorianas – como o baiano Vicente Cardoso da Costa; José Sebastião de Saldanha de Oliveira e Daun, elemento de primeira nobreza e o médico Antonio Almeida -, o autor demonstra disparidades de pensamentos e trajetórias desses chamados setembrizados, invalidando um pressuposto, decorrente da acusação, de que formariam um grupo coeso e agindo organizadamente em apoio ao exército invasor francês.
“Domenico Pellegrini (1769-1840), pintor cosmopolita entre Lisboa e Londres”, de Carlos Silvera, é uma contribuição de um historiador da arte que demonstra que tanto o artista como sua produção podem ser considerados bons exemplos de vetores de circulação de ideias. Porém, esse mesmo artigo também ilustra um caso de incompatibilização entre os dois temas do livro destacados na Nota Introdutória, a Setembrizada e o próprio espaço atlântico. Se por um lado, a temática do Império Português e da lembrança da Setembrizada – já que Pellegrini foi um dos presos exilados – se mantém em primeiro plano, o espaço atlântico, por outro, tem papel pequeno no artigo. Pois, a trajetória de Domenico compreende rotas entre Itália, Inglaterra, Portugal e um irrisório exílio nos Açores. Dessa maneira, o espaço atlântico não é aqui explorado em toda sua potencialidade de articulador e canal entre dois continentes contendo partes dos impérios ibéricos, tendo, então, sua presença minimizada. Logo, o tema principal do espaço atlântico é sobrepujado pela temática mais secundária da Setembrizada.
Já o artigo do organizador, José Damião Rodrigues, “Um europeu nos trópicos: sociedade e política no Rio joanino na correspondência de Pedro José Caupers”, de forma diferente, demonstra plena articulação e harmonização entre os temas ressaltados na Nota Introdutória . Ao se debruçar sobre a produção epistolar de um membro da Corte lusitana, que atravessou o oceano após a invasão napoleônica, o autor identifica uma rede de conexões, interlocutores e relações que ligam Portugal, Rio de Janeiro e ilhas açorianas, além de incluir um dos setembrizados. Não obstante, o capítulo mostra, sob a ótica de Caupers, e em sua latente inadaptação à condição de reinol perante a nova dinâmica da Corte no Rio de Janeiro, como “em períodos de aceleração da dinâmica histórica ou de mudança social, as divisões e as redefinições que se operam em torno das identidades colectivas adquirem uma importância fundamental, mas complexificam o cenário social e político” (p. 194).
Também lidando com um personagem ilustrativo está Lucia Maria Bastos Neves, com “Um baiano na setembrizada: Vicente José Cardoso da Costa (1765-1834)”. Condizente com seu já conhecido trabalho acerca do vocabulário político, utilizando uma abordagem apoiada em uma história dos conceitos – como no livro Corcundas e constitucionais: a cultura política da Independência (1820-1822) (Lúcia Maria Bastos P. das Neves, Rio de Janeiro, FAPERJ, 2003) -, a historiadora propõe analisar os escritos de Vicente da Costa produzidos contemporaneamente à Revolução Vintista, enfatizando os embates entre o Antigo Regime e o Liberalismo presentes na linguagem política utilizada pelo personagem.
Atentando-nos ao trabalho de Neves, confirmamos que a circunscrição da análise histórica a um personagem não necessariamente corresponde a uma circunscrição de resultados e nem a um extremo particularismo, havendo brechas de interlocução com outros artigos. Aqui, é possível até mesmo constatar o início de um possível debate no interior do livro. Pois, ao examinar o mesmo personagem, em seu já referido artigo, Fernando Dores Costas chega a um diagnóstico consideravelmente diferente do da historiadora sobre o setembrizado Vicente José Cardoso da Costa e seu pensamento acerca das novas formas políticas que, no século XIX fixavam-se nos impérios ibéricos. De acordo com Dores Costa, “Cardoso da Costa defendeu energicamente a tradição pombalina, absolutista. Afirmava a referida obrigação ilimitada de obediência aos governos. Os súbditos estavam impedidos de avaliar, estando obrigados a acatar as ordens tanto dos maus como aos bons governos” (p. 48). Por outro lado, é de maneira mais contemporizada que Neves, após sua análise, descreve o mesmo Cardoso da Costa como um homem imerso em uma conjuntura de crise e partilhando múltiplas linguagens políticas, oscilando entre tradição do Antigo Regime e as novas formas políticas em oposição ao despotismo.
Vicente José Cardoso da Costa ainda volta a ser objeto de estudo em “Experiencia y memoria de la revolución de 1808: Blanco White y Vicente José Cardoso da Costa”, de Antonio Prada. Nesse caso, as conclusões do autor, após análise dos escritos de Cardoso da Costa, são mais próximas às de Lúcia Maria Bastos Neves do que às de Dores Costa.
Ainda no campo da análise do espaço atlântico do Império Português, também situam-se “A heráldica municipal portuguesa entre o Antigo Regime e a monarquia constitucional: reflexos revolucionários”, de Miguel Metelo de Seixas; “Circulação de conhecimentos científicos no Atlântico. De Cabo Verde para Lisboa: memórias escritas, solos e minerais, plantas e animais. Os envios científicos de João da Silva Feijó”, de Maria Ferraz Torrão; “Rotas de comércio de livros para Portugal no final do Antigo Regime”, de Cláudio DeNipoti; “Em busca de honra, fama e glória na Índia oitocentista: circulação e ascensão da nobreza portuguesa no ultramar”; de Luis Dias Antunes, “A difusão da modernidade política. A ficcionalidade da Revolução de 1820”; de Beatriz Peralta García; “Revoltas escravas na Baía no início do século XIX”, de Maria Beatriz Nizza da Silva e “República de mazombos: sedição, maçonaria e libertinagem numa perspectiva atlântica”, de Junia Ferreira Furtado.
Podendo ser visto como uma ponte entre os artigos acerca do Império português e sua contraparte hispânica, temos o derradeiro “Las independencias latinoamericanas observadas desde España y Portugal”, de Juan Marchena. Mais detidos no universo espanhol estão “Entre reforma y revolución. La economía política, el libre comercio y los sistemas de gobierno em el mundo Altlántico”, de Jesús Bohórquez; “Política y politización en la España noratlántica: caminos y procesos (Galicia, 1766-1823)”, de Xosé Veiga e “A través del Atlántico. La correspondencia republicana entre Thomas Jefferson y Valentín de Foronda”, de Carmen de La Guardia Herrero.
Ainda no espaço hispânico, abordando as transformações do fim do Antigo Regime nas colônias, destacam-se “Azougueros portugueses en Aullagas a fines del siglo XVIII: Francisco Amaral”, de María Gavira Márquez e “La ilustración posible en la Lima setecentista: debate sobre el alcance de las luces en el mundo hispánico”, de Margarita Rodríguez García. O primeiro traz o curioso caso de um membro da elite colonial portuguesa exercendo atividade mineradora no atual território boliviano no fim do século XVIII, mesmo apesar do pleno desenrolar da guerra entre Portugal e Espanha, declarada no outro lado do Atlântico. O segundo, focado no periódico Mercurio Peruano, bebe na fonte dos trabalhos de François-Xavier Guerra, ao caracterizar as particularidades da formação de uma esfera pública no espaço colonial de uma monarquia absolutista, portanto, uma realidade não abarcada pelo modelo original de esfera pública desenvolvida por Habermas.
Enfim, O Atlântico revolucionário: circulação de ideias e de elites no final do Antigo Regime modela uma perspectiva desse espaço como um feixe de encontros, com participação fundamental em diversas realidades e processos históricos. Um canal de pleno trânsito de ideias e elites, passíveis das mais diversas nuances e abordagens historiográficas, em uma variação ampla de escala. Um lembrete de que, mesmo considerado em sua unidade de dimensão global, seu sentido nunca pode ser reduzido a um único.
Luis Otávio Vieira – Graduando em História pela Universidade de São Paulo (FFLCH / USP – São Paulo-SP / Brasil). E-mail: luis_vieira_mail@yahoo.com.br
RODRIGUES, José Damião (Org.). O Atlântico revolucionário: circulação de ideias e de elites no final do Antigo Regime. Ponta Delgada: Centro de História de Além-Mar (CHAM), 2012. Resenha de: VIEIRA, Luis Otávio. Os diferentes universos do espaço Atlântico. Almanack, Guarulhos, n.9, p. 208-212, jan./abr., 2015.
O primeiro Duque de Palmela: político e diplomata. Lisboa: D. Quixote, 2015 / Maria de Fátima Bonifácio
Após a sua já consagrada Apologia da história política2 publicado pela Quetzal em Lisboa, Maria de Fátima Bonifácio3 publicara já uma série de estudos no âmbito de uma defesa da História Política e de suas perspectivas de análise. Com vista a críticas de uma história das estruturas, “invisível” e “profunda”, defende em sua apologia as formas e os métodos da História Política, ao mesmo tempo em que passa a oferecer ao público acadêmico estudos de biografia política de destacadas figuras portuguesas, desde os finais do século XVIII e todo o século XIX. Fora com esse ímpeto que em 2002 publica A segunda ascensão e Queda de Costa Cabral, 1847-1851 e em 2013, pela Editora D. Quixote, uma extensa análise em Um homem singular – biografia política de Rodrigo da Fonseca Magalhães, 1787-18584. O seu estudo já conhecido e reeditado várias vezes sobre D. Maria II5 também entra na lista de sua bibliografia sobre biografias de personalidades políticas, sejam elas envoltas nas tentativas de instituição de um liberalismo em Portugal ou mesmo nos períodos posteriores ao “radicalismo” vintista, setembrista e cabralista.
Em 2006, pela Quetzal, escreve um longo posfácio à edição portuguesa de Correspondência Madame de Staël e Dom Pedro de Souza6, organizada e comentada por Béatriz d’Andlau7. Neste posfácio levanta já alguns dos fatos que seriam retomados na edição das Memórias do Duque de Palmela8, transcritas e editadas por ela e que, num detalhado prefácio, analisa a trajetória do diplomata, tendo atuado em Londres, Madrid e no Congresso de Viena (1815). Esse prefácio, acrescido de mais um capítulo, fora reediado pela Editora D. Quixote e é agora publicado com o título O primeiro Duque de Palmela- político e diplomata em edição de junho de 2015, objeto desta resenha.
No texto, analisa a trajetória política e biográfica do primeiro Conde, primeiro Marquês e primeiro Duque de Palmela, D. Pedro de Sousa Holstein. Nascido em Turim em 1781, descendia de membros da alta aristocracia portuguesa, da Casa Palmela,9 tendo desempenhado uma ascendente carreira diplomática10, desde Conselheiro de embaixada em Roma (1802-1805), Ministro em Cádiz (1810-1812), embaixador em Londres (1812), representante português no Congresso de Viena (1815), dentre diversos outros cargos de grande representação política e social, tendo sido Secretário de Negócios Estrangeiros e da Guerra por diversos períodos.
O texto divide-se em três partes: (I) Vocação e caráter de um conservador liberal, (II) Em luta pela liberdade portuguesa e (III) Em busca de um “partido moderado e médio”; esses foram resgatados do prefácio que a autora havia publicado em Memórias do Duque de Palmela11. Em “o capítulo que falta”, Maria de Fátima Bonifácio detalha aquele que, segundo sua análise, fora um dos principais desafios do ministro português: a abolição do fatídico Tratado de Amizade, Comércio e Navegação luso-britânico de 181012 e a aprovação de outro tratado que seria colocado em ratificação apenas em 1842. O livro encerra-se com uma detalhada cronologia da vida política e pessoal de D. Pedro, de 1781 à sua morte por pneumonia dupla, em 12 de outubro de 1850.
O ambiente internacional de formação de D. Pedro envolve um período de conturbações importantes de finais da era moderna. A conjuntura após a Revolução Francesa que se desdobra, dentre outras coisas, em movimentos de controle e de fortalecimento das Monarquias, temerosas de contestações de tal calibre, encontra terreno para movimentos reformistas e de algumas reorientações no campo político internacional. No caso português, que vivia na órbita de aproximação e conflito entre ingleses e franceses, a ascensão de Napoleão e a definição clara de sua linha de atuação na Europa, antibritânica, encurrala em perigosas negociações as tomadas de posição da Coroa Lusa. Os desdobramentos do Bloqueio Continental (1806) e do ultimatum de Napoleão ao Príncipe Regente D. João VI (julho de 1807) pelo cumprimento ou guerra com o exército francês, que culmina na transferência da família real ao Rio de Janeiro (novembro de 1807), serão eventos chave para os movimentos que se seguiram e que seriam colocados pelos representantes portugueses no Congresso de Viena (1814-1815)13.
A atuação de D. Pedro de Sousa no Congresso de Viena fora, para um jovem diplomata de 33 anos, o início de uma consagrada carreira nos orbes europeus. Chega a Viena em 27 de setembro, antes do “início”14 do Congresso e passa a apurar os estados das negociações. Os problemas que pareciam postergar as atividades congressuais apontavam, dentre outras coisas, ao direito de voto das potências, sendo que inicialmente Portugal estava fora deste seleto grupo15. Após longas conversas e ofícios enviados, D. Pedro consegue16 que Portugal fosse alçado ao pé de igualdade das demais grandes nações europeias: Rússia, Prússia, Suécia, Inglaterra, Espanha e Áustria.
O fantasma de Napoleão rondou o Congresso no seu andamento e somente após a chegada das notícias de Waterloo (18 de junho) que a tranquilidade se instalou nos ministros, depois da assinatura do “Ato Final”. Estes representavam quase todos os Estados e principados europeus, até os que não eram reconhecidos por alguns chefes, sendo que muitas destas questões foram colocadas em resolução. O ambiente era de total cosmopolitismo e de ostentações, festas e vaidades, com os mais importantes chefes das nações europeias17; D. Pedro circulava com total liberdade pelos principais salões de Viena, correspondendo-se com os mais importantes ministros acerca das pautas portuguesas, além de aumentar consideravelmente seu círculo de contatos, essencial para sua carreira ao retornar a Portugal.
As principais questões colocadas por D. Pedro de Sousa e os demais ministros, como o Caso da Guiana, não resultaram em grandes modificações do que já ficara acordado entre França e Inglaterra no tratado de Paris (1814); no entanto, os plenipotenciários portugueses além de D. Pedro, como Antonio Saldanha da Gama e Joaquim Lobo da Silveira, conseguiram que as definições fronteiriças entre a Guiana e a América portuguesa ficassem definidas na linha do Rio Oiapoque18. A questão da abolição da escravatura, colocada sobre forte pressão britânica19, e do tráfico de escravos ficara limitada ao norte da linha do Equador, o que provocara, na então ex-colônia e agora Reino Unido20, elevação aprovada em Carta de Lei de dezembro de 1815 no próprio Congresso, do preço médio dos escravos vindos da África, principalmente nas províncias do Norte do Brasil21. Em torno das indenizações que a França deveria pagar aos Estados lesados, Portugal não saíra com grandes quantias e, segundo Ana Faria22, a participação fora tão baixa quanto da Suíça e Dinamarca.
Uma das principais questões portuguesas no Congresso seria a restituição de Olivença pelos Espanhóis. Após o Tratado de Badajoz de 1801, que pôs fim a chamada Guerra das Laranjas e que deu ao espanhóis a soberania de Olivença desde o Rio Guadiana e suas possessões, que essa questão se arrastava pelos campos diplomáticos. Em 1808, já no Rio de Janeiro, D. João VI denunciara o tratado que seria, por D Pedro de Sousa, quando enviado a Cádiz (1810), retomado às negociações que, dentre outras coisas, determinava a devolução de Olivença aos portugueses; no entanto, este acordo não fora cumprido e não figurava no Tratado de Paris. Em Viena, dado o reconhecimento das demais nações da soberania portuguesa sobre Olivença, fora adicionado ao tratado um artigo que definia a devolução em favor de Portugal23. Por mais que a Espanha tenha reconhecido, à época, a soberania portuguesa, a devolução nunca veio a acontecer.
No entanto, a coroação da brilhante carreira de D. Pedro de Sousa aconteceria logo em seguida ao Congresso de Viena, com o seu envio como embaixador em Londres. Desde esse momento, o nome Palmela já era, mais que antes, conhecido e admirado na Europa24. A partir desse momento, mais particularmente após o movimento vintista e sua passagem pelo Brasil (1820), passa a ser uma importante figura de conciliaçao nacional.
Sempre a buscar um partido moderado e a simbiose dos diferentes interesses postos no jogo político, D. Pedro será figura-chave nas querelas pela coroa portuguesa após o Vintismo, sendo que suas raízes aristocráticas o farão25 ao mesmo tempo lutar pela soberania de D. Maria II e também ser alvo, em diversos momentos, da ira dos Miguelistas, mesmo depois de derrotados. A sua tentativa progressista de compor ministérios com ambas as partes, vistas como conciliatórias, foram rechaçadas e sua tomada de partido sempre colocada sobdúvida.
As ambiguidades do primeiro Duque de Palmela, sempre a ostentar “a gala da sua independência partidária”, acabaram por torná-lo mal visto até mesmo pela Rainha, acabando por isolá-lo do círculo palaciano. Conforme Maria de Fátima, no final de seu texto, apesar dos revezes de sua trajetória política, fora o único ministro português conhecido em todos os palácios europeus e sua casa uma das mais ricas e reconhecidas casas aristocráticas do Reino; de seu tempo, fora um dos mais representativos agentes da história portuguesa.
Notas
- Resenha submetida à avaliação em junho de 2015 e aprovado para publicação em novembro de 2015.
- BONIFÁCIO, Maria de Fátima. Apologia da história política: estudos sobre o século XIX português. Lisboa: Quetzal Editora, 1999.
- Com larga carreira em ensino e pesquisa, fora professora da Universidade Nova de Lisboa de 1980 a 2006, tendo sido doutorada com agregação pela mesma universidade; licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e fora investigadora-coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da mesma universidade até 2012.
- BONIFÁCIO, Maria de Fátima. Um homem singular: biografia política de Rodrigo da Fonseca Magalhães (1787-1858). Lisboa: D. Quixote, 2013.
- BONIFÁCIO, Maria de Fátima. D. Maria II: 1819-1853. Lisboa: Temas e Debates, 2007.
- D’ANDLAU, Béatriz (Org.). Correspondência de Madame de Staël e Dom Pedro de Souza. Lisboa: Quetzal, 2010.
- Ao estar com o pai em Roma, ainda com vinte e quatro anos, D. Pedro de Sousa conhece a famosa romancista francesa (1804), Mme de Stäel que viaja à Itália para recolher notas a um novo romance. A efusiva correspondência entre os dois demonstra um longo relacionamento, com cartas inflamadas e saudosas. Com o retorno do Duque a Portugal, a correspondência passa a cessar nomedamente depois dos planos de casamento de D. Pedro. Cf. CAMPOS, Claudia. A Baronesa de Estäel e o Duque de Palmella. Lisboa: Tavares Cardoso & Irmão, 1901.
- BONIFÁCIO, Maria de Fátima. Memórias do Duque de Palmela. Lisboa: D. Quixote, 2011.
- Cf. URBANO, Pedro. A casa Palmela. Lisboa: Livros Horizonte, 2008.
- Filho de D. Alexandre de Sousa Holstein, Conde de Sanfré, e de D. Isabel Juliana de Sousa Holstein; D. Alexandre já tinha desempenhado na diplomacia diversos cargos, Embaixador em Copenhaga (1785-1789), Berlim (1789-1790), Viena (1790) e Roma (1808-1803) para onde leva o filho. Desde então, D. Pedro adquire o gosto pelos mais requintadores salões da política europeia do período, tendo contato com as mais importantes famílias.
- BONIFÁCIO, Memórias…op. cit.
- BONIFÁCIO, Memórias…op. cit. p.83: “Não confundir com o Tratado de Aliança e Amizade também celebrado em 1810, destinado a regular as relações políticas entre Portugal e a Grã-Bretanha durante o domínio napoleônico na Europa, tendo sido abolido na sequência da Paz Geral oficializada pelo Congresso de Viena em 1815”.
- Cf. FARIA, Ana Leal de. Arquitectos da paz: a diplomacia portuguesa de 1640 a 1815. Lisboa: Tribuna, 2008. p.152-157.
- Segundo Maria Amália Vaz de Carvalho (1898, p.293, nota I), o Congresso nunca possuiu uma “abertura”, não havendo a constituição efetiva de um Congresso; na prática, apenas algumas comissões entre ministros plenipotenciários foram instaladas, com assinaturas de tratados unilaterais ou de interesses comuns que foram feitos. No final de todas essas negociações, em 19 de junho de 1815, há a assinaura de um Ato final do Congresso de Viena. Cf. CARVALHO, Maria Amália Vaz de (1898). Vida do Duque de Palmela D. Pedro de Sousa e Holstein. Lisboa: Imp. Nacional, 1898.
- O temor inicial das demais nações era que a presença de mais uma nação alinhada com os interesses ingleses pudesse representar um voto a mais para o Império Britânico, para além da já presença de uma nação Ibérica, a Espanha. Cf. CARVALHO, Maria Amália Vaz de (1898), p.292-294.
- BONIFÁCIO, O primeiro Duque…op. cit., p. 28.
- Cf. ZAMOYSKI, Adam. Ritos de paz: a queda de Napoleão e o Congresso de Viena. São Paulo: Record, 2012.
- Cf. ALÇADA, Isabel; FERNANDES, Paulo Jorge. MAGALHÃES, Ana Maria. As invasões francesas e a Corte no Brasil. Lisboa: Caminho, 2011. p.216-219.
- Cf. VICK, Brian E. The Congress of Vienna: power and politics after Napoleon. London: Havard University Press, 2014. p. 196-198.
- Segundo FARIA, op cit., p.157, fora a elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal que permitiu as negociações que conseguiram consumar o casamento do Príncipe D. Pedro com D. Carlota Josefina Leopoldina de Habsburgo (maio de 1818).
- Cf. GALVES, Marcelo Cheche. The Congress of Vienna and the matter of slavery in the North of the Portuguese America. In: THE CONGRESS OF VIENNA AND ITS GLOBAL DIMENSION, 2014, Vienna. Book of abstracts… Viena: Universitat Wien, 2014. v. 1. p. 9.
- FARIA, op cit., p.156-157.
- Cf. MENDONÇA, Antonio Pedro Lopes de. Notícia histórica do Duque de Palmella. Lisboa: Imprensa Nacional, 1859. p.36-39.
- BONIFÁCIO, O primeiro Duque…op. cit., p.30-32.
- Ibid., p. 57-59.
Romário Sampaio Basilio – Mestrando em História Moderna e dos Descobrimentos, Universidade Nova de Lisboa, FCSH, Lisboa, Portugal. E-mail: E-mail: rombasilio@gmail.com.
BONIFÁCIO, Maria de Fátima. O primeiro Duque de Palmela: político e diplomata. Lisboa: D. Quixote, 2015. Resenha de: BASILIO, Romario Sampaio. A Diplomacia portuguesa no Congresso de Viena (1815): a trajetória do primeiro Dugue de Pamela, D. Pedro de Sousa Holstein. Outros Tempos, São Luís, v.12, n.20, p.288-292, 2015. Acessar publicação original. [IF].
L’histoire, pour quoi faire? – GRUZINSKI (DH)
GRUZINSKI, Serge. L’histoire, pour quoi faire? Paris: Fayard, 2015, 300p. Resenha de: NICOD, Michel. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.1, p.203-204, 2015.
Comment et avec quelles précautions enseigner l’histoire de la première mondialisation du xvie siècle? Cet ouvrage montre que, parmi les modes de représentation du passé, le recours à l’histoire est particulièrement adéquat pour élaborer une démarche critique, surtout lorsqu’il s’accompagne de l’utilisation de supports iconiques, tels le cinéma ou le jeu vidéo. Ces supports, en effet, facilitent en classe le travail de distanciation face aux conceptions spontanées.1 L’histoire, pour quoi faire? est l’aboutissement de vingt années de recherches menées par l’historien français Serge Gruzinski. Celui-ci y reprend ses thèmes favoris: la conquête de l’Amérique du Sud et du Mexique par les Portugais et les Espagnols au xvie siècle, le métissage et la rencontre des cultures qui s’ensuit, le rôle et la place de l’image en histoire.
L’auteur plaide pour une étude des regards que colonisateurs et colonisés se sont mutuellement jetés. Il nous entraîne à scruter de l’extérieur notre propre histoire, pour voir comment l’Europe s’est emparée du monde, non seulement avec les armes mais aussi avec ses représentations, ses cartes, sa géographie.
Dans les premiers chapitres, le livre nous invite à une analyse fine des modes de représentation du passé, des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques aux jeux vidéo, des feuilletons télévisuels aux superproductions des cinémas chinois ou américains, qui ont tous bien davantage d’audience que les historiens. L’auteur s’interroge sur le message véhiculé par ces superproductions qui mettent en scène des époques et des lieux différents. Or leurs reconstitutions stéréotypées n’apportent que rarement une réflexion critique. Il en est de même des jeux vidéo qui n’ont rien d’innocent.
Ils mettent trop souvent en scène des idéologies conservatrices exaltant le goût du pouvoir, l’opposition des barbares aux civilisés. Loin d’être des supports de cours idéaux, ils se prêtent néanmoins à une analyse critique.
Ainsi, l’ouvrage met en lumière les nombreux supports qui existent parallèlement aux récits des historiens. En le parcourant, le lecteur prend conscience du décentrement nécessaire à l’étude des sociétés, de l’importance de décloisonner, puis de reconnecter les différents domaines historiques.
L’auteur montre que c’est à partir du local, en l’occurrence de l’étude de l’Amazonie, que pourra s’étudier la globalisation. Cette dernière est au coeur du livre, où le présent se fait l’écho du passé: aujourd’hui au Brésil, par exemple, le trafic de DVD piratés a remplacé le trafic de produits tropicaux du xvie siècle.
En résumé, Serge Gruzinski met en relief la nécessité de poser d’autres questions, de chausser d’autres lunettes pour envisager le passé comme le futur. Selon lui, notre vision du monde est décalée par rapport aux questions actuelles, car les sociétés se mélangent: l’ailleurs est venu en Europe, tandis que celle-ci s’est étendue au monde. Ainsi, une culture de l’entre-deux, mélangée, fragile mais nécessaire, est apparue, celle des métis, passeurs de culture. Le livre en fait l’éloge tout en montrant sa fragilité.
Serge Gruzinski nous interpelle et nous bouscule par les rapprochements qu’il opère entre le xvie siècle et l’époque inquiète que nous vivons.
Son livre est une bonne introduction à ses recherches antérieures et à l’histoire des mentalités.
Il offre une réflexion enrichissante sur notre temps.
Son questionnement nourrit les réflexions de ses lecteurs en les invitant à se demander si nous ne construisons pas des passés afin de construire du sens, des repères pour affronter les « incertitudes du présent ».
Né en 1949, l’historien français Serge Gruzinski, directeur d’études à l’EHESS de Paris, enseigne l’histoire en France, aux États-Unis et au Brésil.
Il a notamment publié La pensee metisse, Paris: Fayard, 1999 ; Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris: La Martinière, 2004 ; L’aigle et le dragon, Paris: Fayard, 2012.
Michel Nicod
[IF]
A geografia dos afectos pátrios. As reformas político-administrativas (sécs. XIX-XX) – CATROGA (LH)
CATROGA, Fernando. A geografia dos afectos pátrios. As reformas político-administrativas (sécs. XIX-XX). Coimbra: Almedina, 2013. 406 p. Resenha de: MARQUES, Tiago Pires. Ler História, v.66, p. 179-182, 2014.
1 É difícil fazer justiça, em poucas páginas, a um livro denso, de esmagadora erudição, que complica consideravelmente a história do Estado-nação português, ao mesmo tempo que oferece inovadoras linhas de intelecção dos seus processos. Com efeito, sob pretexto de uma análise histórica da organização administrativa do território do Portugal contemporâneo, o novo livro de Fernando Catroga mapeia os imaginários de modernidade em confronto, no seio das elites governantes e intelectuais intervenientes no espaço público, e observa os efeitos das sucessivas rearticulações territoriais na história política e sócio-cultural do país. Obra construída a partir de um conjunto de textos autónomos publicados desde 2004, tal como nos explica o autor em nota final, a sua novidade está, para além de alguns acrescentos inéditos, na forma como constrói uma perspectiva unitária da concretização de uma modernidade portuguesa. É que, abdicando do habitual dispositivo sequencial, este livro claramente não é uma soma de elementos, mas um conjunto de unidades que se vão encaixando umas nas outras no interior de uma circunferência comum. Concretizando, tal circunferência parece-nos definida por um tema, um problema e uma perspectiva: 1) pelo tema da institucionalização de um ordenamento político-administrativo e territorial adequado aos princípios da soberania nacional, da divisão de poderes e do carácter público de todas as funções administrativas (p. 31); 2) pelo problema da fraca base social para apoiar tal processo de institucionalização, que se corporizou socialmente em diversas formas de integração e de tensão entre centro e periferia; e 3) por uma perspectiva, a saber, de que no debate entre centralistas e descentralistas se jogou a questão da organização territorial e governo das populações, sendo esta indissociável de ideias de pátria, nação e cidadania (p. 12). Assim, esta obra constitui-se por uma operacionalização do conceito foucaultiano de governamentalidade que integra os imaginários de ordem político-social da modernidade portuguesa.
2 O livro compõe-se formalmente de quatro partes, cada uma delas percorrendo a totalidade do período analisado. Vamos assim avançando em espiral, desde a circunferência mais ampla do território (Parte I), à região ou província (Parte II), à organização dos micro-poderes locais (Parte III), e, enfim (Parte IV), à organização dos afectos patrióticos que, à maneira de eixo central, ligaria o imaginário nacional aos fogos familiares, «fisiológicos», do lugar. Na primeira parte, o autor ataca a questão ampla do território nacional, nomeadamente a sua ocupação pelo poder estatal na mira de governar a população. Trata aqui de seguir, no debate em torno dos modelos de divisão administrativa, dos alvores do Liberalismo ao Estado Novo, o olhar estratégico dos políticos e administradores sobre o alinhamento entre centro e periferias, ao tentarem fazer repercutir o sentido universal do contrato social fundador do poder central nos poderes regionais e locais. Catroga mostra como em torno do «município» se constituiu uma luta política e simbólica, opondo liberais e restauracionistas, e diferentes modos liberais de entender a «liberdade dos modernos» (p. 37). Para os liberais descentralistas, o município surgiu como resposta à dificuldade prática de operacionalizar o sistema representativo na governação do território nacional. Construindo-se sobre a noção anglo-saxónica de «self-government», para os descentralistas o município parecia assim «saído das mãos de Deus» (nas palavras citadas de Alexandre Herculano), já que dava um conteúdo palpável, uma factualidade institucionalizada, à noção «abstracta» e «artificial» de nação sobre o qual o também abstracto «pacto social» adquiria um conteúdo concreto: as «sociabilidades naturais» cristalizadas pela história. Para outros, porém, o município permitia mobilizar uma versão mitificada do passado com uma finalidade restauracionista (p. 38). Vingou a solução do «constitucionalismo histórico», a demarcação distrital do país ao serviço, segundo Catroga, de uma visão hierárquica do poder que subalternizava as periferias ao centro político do Estado-nação (p. 53 e sgs.). Esta malha saída do modelo triunfante de poder – finalmente, ao estilo jacobino – teria estruturado, na prática, as formas observadas pela sociologia histórica comparativa da modernização política portuguesa, nomeadamente o caciquismo, o clientelismo e o nepotismo. Formas de sociabilidade típicas das «capitalidades distritais», elas seriam o complemento funcional da figura, tão diabolizada, do «burocrata» (p. 86).
3 A segunda e terceira partes podem ler-se conjuntamente como uma genealogia do provincianismo e paroquialismo portugueses enquanto forma de organização do poder na base de uma certa «cultura», ancorada não só nos discursos dos políticos mas também na história social do país. A ausência histórica de ordens intermédias entre o centro político e as periferias locais gerou dinâmicas supletivas, apoiadas nos modelos do regionalismo francês e espanhol, que viriam a desembocar nos diversos movimentos federalistas da segunda metade do século XIX e da I República e, em sentido antiliberal, nos movimentos favoráveis à noção de «província», de ressonâncias imperialistas, visando casar regionalismo e patriotismo (p. 152). Este segundo modelo triunfou, como sabemos, como forma de organização territorial do Estado Novo. Tornam-se claros os elos entre as sociabilidades que floresceram no Portugal contemporâneo – grémios, casas regionais, associações, congressos, partidos políticos com lógicas clientelares, movimentos militantes (ex. a Cruzada Nun’Álvares) e político-intelectuais (ex. o Integralismo Lusitano) – e estas diferentes formas de estruturação territorial do poder. Neste sentido, é luminosa e convincente a análise de uma governamentalidade característica do caso português, cujas linhas de compreensão se devem buscar em combinatórias de escalas – nacional, regional e paroquial.
4 A quarta parte do livro é porventura a mais ousada e sugestiva. Articulando agora estas várias governamentalidades estruturantes da sociedade portuguesa, Fernando Catroga analisa os afectos que produziram e de que se alimentaram para a sua própria reprodução. Os processos históricos em causa revelam uma mesma tensão estrutural: como fazer surgir patriotismos locais e nacionais, isto é, à escala do lugar étnico e do lugar cívico – consoante o posicionamento ideológico –, que não só não fossem antagónicos, mas que se reforçassem mutuamente? Esta questão atravessou os três regimes observados, tendo obtido com o Estado Novo uma solução relativamente original que autor chama de «patriotismo de campanário». Neste, as pequenas pátrias de que se fazia a grande pátria – e que nas visões liberais coincidia com a pátria cívica e contratual – foi complementada com a ideia de uma protecção divina de legitimação católica (p. 383). Na linha do Integralismo Lusitano, o Estado Novo enfatizou a ideia de «sociabilidade natural» – que, no entanto, já encontramos em descentralistas como Herculano –, recorrendo agora a uma argumentação biológica e psicológica colhida na ciência, e sacralizou-a através de um providencialismo católico que abrangia, bem entendido, a «missão» político-espiritual do Império. Seria, assim, dialéctica e eminentemente ideológica a via portuguesa para o autoritarismo e corporativismo. Por um lado, o Estado Novo construiu-se num discurso que, contrariamente ao fascismo italiano, atribuía prioridade ôntica à nação, entidade simultaneamente histórica e fisiológica, e não ao Estado. Por outro, na prática, o regime traduzia a necessidade de ajustar a sociedade a uma suposta natureza histórica através de uma bem conduzida concepção pastoral da política. Neste sentido, o Estado Novo assumiu a função condutora na concretização histórica do que alegava ser, em nome dos «factos», a essência da nação. Por outras palavras, se no plano discursivo o Estado Novo assentava no mote «from nation to state», na prática, e porque se tratava de «colocar a nação no Estado», a sua acção foi no sentido «state to nation» (p. 380). O Estado Novo foi, nesta óptica, um jacobinismo erguido em nome do anti-jacobinismo (p. 385), construindo-se culturalmente como um «positivismo do espírito» (p. 389).
5 Como vemos, a estrutura concêntrica do livro é possibilitada pela observação de que o debate entre centralismo e descentralismo, com todas as suas gradações e efeitos de sociabilidade, atravessou a Monarquia Constitucional, a I República e o Estado Novo. Porém, o dispositivo interpretativo que possibilita ao autor conduzir com eficácia o seu empreendimento é a noção foucaultiana de governamentalidade, explicitada nas páginas iniciais. Contrariamente a algumas críticas feitas aos que em Foucault buscam utensílios de análise, a leitura da história pela perspectiva do poder não funciona como rolo compressor das singularidades históricas. Pelo contrário, Fernando Catroga singulariza uma diversidade de lógicas de governamentalidade, nelas vendo inter-relações específicas também no plano dos afectos políticos que produziram. Contudo, e embora o autor nunca o afirme, a obra sugere um determinismo último de configurações de poder, observadas a partir da aplicação de modelos. Esta perspectiva, ainda que meta-histórica, é certamente legítima. Ficam, no entanto, por explorar as formas de mobilização de indivíduos e colectivos e os processos da sua adesão a imaginários e instituições: se parece certo que os poderes produzem afectos, não é de descartar que estes se liguem a recursos simbólicos a imaginários com força criativa relativamente autónoma. Ora, esta acção criativa dos afectos parece-me mais eficazmente observável numa história de interacções sociais que, sem deixar de lado a problemática dos poderes, permita equacionar a relação entre assimetrias sociais concretas (urbano vs. rural, classe e status, diversos capitais simbólicos) e significados culturais.
Tiago Pires Marques – Centro de Estudos Sociais – Universidade de Coimbra. E-mail: tiagopmarques@gmail.com.
A vertigem da Palavra. Retórica, Política e Propaganda no Estado Novo – ACCAIUOLI; FERRO (LH)
ACCAIUOLI Margarida; FERRO, António. A vertigem da Palavra. Retórica, Política e Propaganda no Estado Novo. Lisboa: Bizâncio, 2013. Resenha de: VICENTE, Filipa Lowndes. Ler História, n.65, p. 182-188, 2013.
1 Em 1923, António Ferro publicou no Brasil A Idade do Jazz Band1. O texto fazia um elogio ao jazz – um símbolo «frenético, diabólico, destrambelhado, ardente» da contemporaneidade. Num momento em que este tipo de música era ainda incompreendido por uma vasta maioria, vilipendiado por atentar contra a harmonia musical e usado para fundamentar teorias racistas que o associavam à música negra, o jazz era para Ferro o símbolo de uma Europa renascida depois da Grande Guerra, e aberta ao que vinha do outro lado do Atlântico.
2 Nas décadas de 20 e 30, Ferro era ainda um jovem intelectual inquieto. Politizado, sem ser ainda político. Sempre em movimento, num entra e sai do país. Manifestava-se em múltiplos escritos – uns para consumo interno, outros destinados a públicos externos. Foi o caso da entrada que redigiu sobre o regime político português, na prestigiada Encyclopédie Française dirigida pelo historiador Lucien Febvre (1933)2. Uma sinopse do «Estado Novo», integrada num capítulo dedicado aos «outros regimes autoritários», aqueles que não cabiam na categoria dos «regimes fascistas», nem nos «regimes nacionais-socialistas». Uma entrada que era, sobretudo, um elogio a Salazar e ao seu modo de ser um português suave com mão de ferro.
3 Mas a vasta obra publicada de Ferro não foi um gesto silencioso e solitário. Intelectual de ação, a sua palavra impressa era, em geral, registo de um discurso oral, do diálogo-entrevista, da conferência proferida, no Rio de Janeiro ou em Lisboa. Em voz alta, pronunciada à frente de um público, discursada ao microfone, Ferro aprendeu bem a utilizar o melhor de todos os meios de comunicação disponíveis, quer na sua própria escrita, quer nas múltiplas vertentes de comunicação usadas pelos órgãos institucionais ou culturais que dirigiu.
4 Ferro traz para Portugal o mundo «lá de fora» onde ele identifica os traços do que era «moderno» na música, literatura, pintura, arquitetura ou escultura, bem como nos protagonistas dos novos fascismos europeus. Enquanto repórter jornalístico fez entrevistas a D’Annunzio, Mussolini ou mesmo Hitler, e transformou-as no livro Viagem à volta das Ditaduras, que antecedeu as suas conversas, mais longas, com Salazar. Destes diálogos nasceu a ligação que faria deles cúmplices na ação política e na construção das suas imagens públicas.
5 Um destes diálogos teve lugar num automóvel, em andamento, como se vê numa das fotografias publicadas em Salazar. O homem e a sua obra (1933). Para que o entrevistado não perdesse o pouco tempo que tinha para equilibrar as finanças do país? Ou para que a imagem do católico tradicionalista que tinha vindo da província fosse marcada pela modernidade do século? A conversa entre os dois homens foi marcada pelo click imediato da fotografia instantânea, bem como pelo movimento do automóvel, tal como o Chevrolet que levara Álvaro de Campos de Lisboa a Sintra.
6 Em 1933, já diretor do recém-criado Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), o escritor da contemporaneidade – ou o historiador do presente – passa a ser o político do espírito. Foi, então, que o seu cosmopolitismo deu lugar à construção de uma ideia de «Portugalidade» definida em várias frentes. Um Portugal dos sentidos para aqueles que sabiam ler, mas também para aqueles – a maioria – que só sabia ver. O Bailado do Verde-Gaio, a hesitar entre a reinvenção de um folclore esquecido e uma tradição clássica internacional; os múltiplos prémios literários e artísticos, a construir os cânones da época – onde A Romaria do Padre Vasco Reis ganhou o prémio de poesia de 1934, relegando a Mensagem de Pessoa para um prémio de consolação; as pousadas de Portugal, para que os portugueses pudessem americanizar os seus lazeres e viajar na própria terra; o concurso da aldeia mais portuguesa de Portugal e a definição etnográfica de uma cultura popular (o povo deveria continuar a ser povo, mas um povo ciente das tradições que o identificavam e que deveria reproduzir); as intervenções numa Lisboa urbana, entre o culto do bairro de Alfama, com vasos de flores à janela para o rio, e a abertura das avenidas novas, com nomes de colónias e países estrangeiros; ou a tentativa de regulamentar o estilo decorativo através das «campanhas do bom gosto». Um estilo que os críticos chamavam, ironicamente, o «estilo secretariado».
7 Esta última é uma das poucas referências feitas no livro à contestação da política cultural do regime ou à resistência àquilo que muitos também viam como um excesso de regulamentação que pouco ou nada se coadunava com a prática da criatividade. Face à multiplicação de prémios e concursos para todos os tipos de escrita ou de arte, a revista Presença pôs o dedo na ferida. Onde estava aquele Ferro que, no passado, tinha escrito sobre a incompatibilidade entre a liberdade da produção cultural e a intervenção política?
8 A autora do livro dá bastante ênfase aos discursos proferidos por Ferro aquando da sua saída do Secretariado, em 1950. Foi através destes discursos que Ferro aproveitou para responder às críticas de que naturalmente também foi alvo, entre as múltiplas homenagens. Mas ficamos com vontade de saber mais sobre o que suscitou estes discursos justificativos. Em que margens se encontra a contestação ao regime, para lá do texto de Almada ou de António Pedro a questionar a ideia de converter os portugueses ao «bom gosto»? Onde estão os artistas, escritores e intelectuais que ficaram de fora? Por exemplo, segundo Jorge Segurado, Ferro teria dito que «era uma pena que o Arlindo Vicente não tivesse aderido ao Estado Novo». Que possibilidade de resistência – ou sobrevivência – é que tiveram aqueles que não aderiram? E as organizações que foram extintas pelo regime, como o Conselho Nacional de Mulheres Portuguesas, principal organismo feminista, liderado pela intelectual Maria Lamas? Em 1947, este conselho organizou, na Sociedade Nacional de Belas Artes, uma Exposição de Livros Escritos por Mulheres de todo o Mundo e foi, em parte, o sucesso deste evento e dos colóquios que o acompanharam que acabaria por levar à sua extinção compulsiva.
9 E onde ficam as mulheres de uma história cultural do Estado Novo? Não aquelas que apareciam com trajes de minhota nas fotografias a preto e branco ou nas aldeias populares reconstituídas na exposição de 1940, mas as que escreviam, pintavam, ilustravam livros ou coreografavam espetáculos de dança e teatro. O livro refere vários nomes de mulheres, sobretudo as que ganharam prémios literários ou participaram nas muitas exposições patrocinadas pelo SPN (um útil apêndice mostra todos os premiados). Mas não faz qualquer abordagem de género. E é pena, pois o próprio António Ferro refletiu várias vezes sobre a contemporaneidade ou sobre a criatividade através daquilo que identificou como sendo valores femininos ou masculinos. E aqui, longe de «modernas» – Virginia Woolf, por exemplo, publicaria A Room of one’s own em 19293 –, as posições de Ferro correspondiam à ideologia dominante em relação à incapacidade da mulher para a escrita e para a criatividade.
10 Ferro aproveitou a sua entrevista à escritora francesa Colette para escrever sobre o assunto: por um lado, elogiou-a, nas vésperas de ser condecorada com a Legião de Honra, afirmando que só em França isso seria possível4. Uma Colette portuguesa, escreveu Ferro, seria uma imoral, fútil e – como todos aqueles «que se limitam a ser de hoje» – seria considerada «futurista». Mas, por outro lado, para ele a literatura era uma «arte masculina», a mulher era «o manequim da literatura», a musa inspiradora e a exceção que só servia para confirmar a regra da incapacidade da mulher para a escrita. Ou seja, aquelas que escreviam bem faziam-no por terem «cabeça de homem» e por não serem «mulheres de carne e osso».
11 Este é o mesmo homem que escolheu casar com uma mulher intelectual. Fernanda de Castro, uma escritora de múltiplos registos e vasta obra, da tradução, à poesia, ao teatro ou romance5. Como tantas outras mulheres de intelectuais do seu tempo, também ela contribuiu ativamente para consolidar a carreira do marido, traduzindo-lhe os discursos ou colaborando em muitas das iniciativas do SNI. Mas claramente existe uma opção de cingir a biografia a aspetos da vida pública de Ferro e não da sua vida familiar e privada. No entanto, o papel cultural ativo e interveniente de Fernanda de Castro subverte esta fronteira entre público e privado.
12 A «masculinização» de uma estética dos regimes fascistas europeus, para lá do óbvio domínio masculino do poder tem sido um tema abordado noutros casos europeus. De que forma é que este culto do corpo masculino se fazia sentir em Portugal? Por exemplo, Ferro escreveu que só admirava aqueles escritores que tinham «músculo na prosa» (Colette, p. 28). A iconografia da propaganda do Portugal dos anos 40 dá-nos outros exemplos – erotizados? – desta masculinidade visível. É o caso do livro Portugal 1940, publicado pelo SPN, que mostra imagens de homens a construir pontes em tronco nu ou a escavar a terra em mangas de camisa, os braços erguidos em uniformes militares ou em perfeitas coreografias de ginástica, homens negros a dançar seminus numa fotomontagem destinada a ilustrar a viagem do Presidente da República às colónias, ou um homem que, qual estátua grega, noutra sobreposição fotográfica, parece dominar o novo Estádio Nacional6.
13 À vertigem da palavra, bem notada no subtítulo do livro, será necessário acrescentar a vertigem da imagem. Enquanto «moderno», Ferro reconhecia naturalmente a relevância crucial da fotografia e do cinema, quer enquanto arte, quer enquanto instrumento de propaganda. Margarida Acciaiuoli reconhece a importância da imagem, dedicando um capítulo específico aos usos que Ferro, através do SPN/SNI, fez das tecnologias visuais. Mas não legenda, apropriadamente, as magníficas fotografias do livro. Sem autoria, sem identificação e sem data, muitas das imagens acabam por ser abordadas não como um documento histórico, mas apenas como uma ilustração. Neste uso da fotografia, como superfície de representação e não como um objeto em si que precisa de ser contextualizado historicamente e abordado criticamente, acabam por se reproduzir os modos como a própria fotografia foi usada no passado: como ilustração e não como documento.
14 Entre os casos mais interessantes que são referidos no livro, estão as encomendas dos álbuns fotográficos Portugal 1934 e Portugal 1940 – ambos com a enorme sofisticação gráfica comum a tantas das publicações do Secretariado. Com a participação de vários fotógrafos e a utilização das diferentes técnicas de montagem disponíveis na época, o próprio meio de propaganda correspondia à mensagem de modernidade que se queria transmitir. Da permanente relação contemporânea entre a fotografia e as exposições, Ferro tinha plena consciência. Em algumas exposições, a fotografia era usada negativamente – para mostrar aquilo que se queria rejeitar; noutras, positivamente, para expor aquilo que se pretendia celebrar.
15 O passado recente que se queria renegar era o da I República, como bem nota Acciaiuoli. A fotografia, retrabalhada em montagens que favoreciam o contraste, serviu de prova da «desordem» que o Estado Novo viera erradicar. Ao recorrer ao arquivo do fotógrafo Joshua Benoliel, com as suas reportagens visuais da politização das ruas republicanas, António Ferro tentou demonstrar uma consciência das potencialidades políticas da imagem que caracterizou todo o século XX. A Exposição Anticomunista, realizada em 1936 na sede do SPN, foi mais um exemplo dos usos políticos da fotografia, para os quais contribuíram as fotomontagens de Mário Novais. A mesma técnica foi também usada por Novais nos Pavilhões de Portugal nas exposições universais de Paris (1937) e de Nova Iorque (1939) para propagandear um país simultaneamente moderno e tradicional, consciente do seu passado, mas a viver o futuro.
16 Em 1942, António Ferro promoveu uma exposição do britânico Cecil Beaton, já então um fotógrafo de prestígio, conhecido pelos seus retratos sofisticados e produções de moda, na Vogue como nos círculos de Hollywood. Beaton fora pago pelo governo britânico para fotografar as personagens políticas do Portugal de Salazar, mas Ferro compreendeu a oportunidade única de poder mostrar ao público do Palácio Foz um Carmona, um Cerejeira ou um Duarte Pacheco. Este último, de cigarro entre os dedos, a olhar para um mapa de Lisboa, um belo homem fotografado como um ator de cinema. Esta foi, talvez, uma das raras oportunidades para Ferro mostrar algo de «internacional» em Portugal. Como demonstram muitos casos referidos no livro de Acciaiuoli, era quase sempre Portugal a ser exportado para fora – os pavilhões de Portugal nas exposições internacionais, os redescobertos Pauliteiros de Miranda no Royal Albert Hall de Londres em 1933, a exposição de arte popular portuguesa em Genebra, em 1935, ou a companhia de bailado Verde-Gaio apresentada num teatro parisiense em 1949.
17 O arquivo fotográfico do SPN/SNI, hoje na Torre do Tombo, é o arquivo de um Portugal de Trás-os-Montes a Timor. Um Portugal que se podia fotografar e que se podia divulgar. Estas imagens eram usadas nas múltiplas publicações do SNI, mas também cedidas para os portugueses ou estrangeiros que quisessem participar nesta divulgação. O guia de Portugal para estrangeiros que a embaixatriz britânica Ann Bridge e Susan Lowndes publicaram em 1949 é exemplo disso7. Muitas das fotografias que ilustram o Selective Traveller in Portugal foram escolhidas pelas autoras no arquivo fotográfico do SNI, instituição que também apoiou, logisticamente, as viagens que as duas inglesas fizeram pelo país nos finais da década de 1940. Um Portugal ainda a preto e branco, feito de igrejas restauradas, casas caiadas, e monumentos modernos em homenagem a feitos antigos – um cânone visual que a ação do SNI contribuiu muito para consolidar e que somente uma revolução política veio perturbar.
18 Este era também um Portugal para «inglês ver». Traduzido em inúmeras línguas e exportado numa linguagem estética moderna, mas não modernista, onde além dos «feitos do passado» se queria mostrar a «obra do presente», com as colónias a ocuparem um lugar central. Mais tarde, o SPN passou a chamar-se Secretariado Nacional da Informação (SNI), assinalando uma passagem da ideia de «propaganda» para a ideia de «informação» que não foi acidental. Mas a ideia de criação de uma «imagem» de Portugal – para fora ou para dentro – esteve sempre presente em Ferro. Nesta consciência e ação de um nacionalismo exportado está um dos aspetos mais fascinantes da sua obra institucional, pois é nela que melhor se consubstanciam as ideias de cosmopolitismo e nacionalismo.
19 Parecia existir uma tensão entre a modernidade tal como ela era sentida por Ferro – da moda ao jazz, na estetização das ditaduras, ou nas potencialidades do visual consubstanciadas na fotografia, nas exposições ou no cinema – e a crescente resignação em aceitar que o caminho cultural de Portugal tinha que ser o de um Portugal «português». Um exemplo poderia ilustrar esta hesitação, ou mesmo conflito, entre diferentes modos de pensar uma política cultural nacionalista. Em 1945, Villas-Boas teve um programa de música jazz na Emissora Nacional, a rádio oficial dirigida por Ferro. Mas, pouco depois, o programa passou para o Rádio Clube Português, por se considerar que não era adequado à ideia de «Portugalidade» que o SNI definia sempre com maior precisão. Tivera Ferro que abdicar do seu «cosmopolitismo» para não suscitar grande oposição do próprio regime? Porque é que o homem que não acreditava no passado, que renegava a nostalgia e a saudade, e que tanto tinha escrito sobre a necessidade da arte e da escrita celebrarem o presente, e mesmo o futuro, colaborava agora na construção de uma estética do passado português?
20 António Ferro. A vertigem da palavra teria beneficiado com abordagens de género, com um outro uso das fotografias fascinantes que o ilustram, com uma maior distanciação do discurso oficial das próprias fontes para melhor explorar as vozes de resistência e, também, com uma abordagem transnacional do assunto, atenta àquilo que de semelhante se passava para lá das fronteiras nacionais. O livro dialoga com os textos do seu biografado, dando-nos uma súmula muito útil do pensamento de Ferro, mais do que com uma bibliografia secundária de teses de doutoramento já publicadas ou por publicar. Do livro de Ellen Sapega, Consensus and Debate in Salazar’s Portugal: Visual and Literary Negotiations of the National Text, 1933-19488, ou o de Vera Alves, sobre arte popular e nação no Estado Novo9, à tese recente de Marta Prista sobre as Pousadas de Portugal10, são muitas as investigações interessantes que sobre este período têm sido realizados. Falta, agora, desenvolver uma maior consciência do contexto cultural internacional em abordagens transnacionais e comparativas.
21 Este é um livro bem escrito e com referências especialmente interessantes para a história dos museus, exposições e arquitetura do Estado Novo, onde uma narrativa mais centrada na figura de Ferro, e sobretudo no seu discurso, é intercalada com referências à cultura oficial do tempo. Tal como o nome da revista criada por Ferro para divulgar a cultura e a arte portuguesas, este livro constitui um panorama para quem se interesse pela história cultural, e política, do período. Desperta a curiosidade para outras leituras sobre o assunto, para a própria obra de Ferro e para os muitos traços estéticos e monumentais que a «política do espírito» deixou nas ruas e edifícios do país. Porém, cabe ao leitor assumir um papel ativo. Lendo para lá da voz reproduzida do biografado e interpelando uma narrativa que por vezes oficializa a história oficial. Sem problematização, a estética do Estado Novo, com a sua atração inegável, corre o risco de se despolitizar, e nos deixar com saudades de brincar, na ilusão da liberdade infantil, no Portugal dos Pequeninos.
Notas
1 António Ferro, A Idade do Jazz Band, São Paulo, Monteiro Lobato, 1923.
2 António Ferro, «L’État Nouveau», pp. 10’88-15, Encyclopédie Française publiée sous la direction gen (…)
3 Virginia Woolf, Um Quarto que seja seu, pref. de Maria Isabel Barreno, trad. de Maria Emília Ferros (…)
4 António Ferro, Colette, Colette Willy, Colette , Lisboa – Porto, H. Antunes, 1921.
5 As suas obras foram recentemente republicadas: Fernanda de Castro, Obra literária completa, com a i (…)
6 Barros, J. Leitão (dir.), Portugal 1940, Lisboa, Secretariado da Propaganda Nacional, 1940.
7 Bridge, Ann e Susan Lowndes, The Selective Traveller in Portugal, Londres, Chatto & Windus, 1949.
8Sapega, Ellen W., Consensus and Debate in Salazar’s Portugal: Visual and Literary Negotiations of t (…)
9Alves, Vera Marques, Arte Popular e nação no Estado Novo. A política folclorista do Secretariado de (…)
10Prista, Marta, Discursos sobre o Passado: Investimentos Patrimoniais nas Pousadas de Portugal, Lisb (…)
Filipa Lowndes Vicente – Investigadora Auxiliar no Instituto de Ciências Sociais (UL). E-mail: filipa.vicente@ics.ulisboa.pt
Esplendor do Barroco luso-brasileiro – TOLETO (S-RH)
TOLEDO, Benedito Lima de. Esplendor do Barroco luso-brasileiro. Cotia: Ateliê Editorial, 2012, 368 p. Resenha de: SANTOS, Izabel Maria dos. O barroco e seu esplendor, no Brasil e em Portugal. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [28] jan./jun. 2013.
Arquiteto e urbanista por formação, Benedito Lima de Toledo é professor titular de História da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP). Especialista nos estudos sobre a formação da cidade de São Paulo e autor de vários livros a respeito da História da Arquitetura da referida cidade, Benedito Lima de Toledo é referência quando o assunto é a arquitetura e o urbanismo da maior metrópole do país e sua trajetória intelectual tem sido voltada para questões e assuntos ligados à terra da garoa.
Em seu último livro, porém, Lima de Toledo envereda pelo fantástico universo do Barroco e resvala em um dos períodos mais ricos da arte brasileira, em que podemos perceber três séculos das mais variadas formas de manifestações artísticas marcadas pela atmosfera emocional e mítica característica da estética barroca. O leitor é convidado a mergulhar em 365 páginas de História e rico acervo visual para entender os caminhos e descaminhos do estilo europeu em terras tupiniquins.
O livro é dividido em 17 capítulos e traz, além de um vasto material fotográfico, mapas e desenhos, um aporte teórico e uma densa bibliografia sobre o tema em debate. O autor inicia a obra abordando as diversas teorias acerca do Barroco e a ainda candente querela acerca da periodização do movimento, sempre fazendo ligações diretas com a Arquitetura, seu lugar de conforto. Ao longo de todo o livro, Lima de Toledo consegue trazer a teoria para explicar suas ideias a respeito das mais diversas características daquilo que define como Barroco luso-brasileiro, comparando monumentos erigidos no Brasil com outros, localizados em Portugal, tornando a discussão compreensível e, de maneira interessante, indiscutivelmente didática.
Enquanto no primeiro capítulo Lima de Toledo, ao discutir as teorias do Barroco lançadas por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, vai de Pierre Lavedan, passando por Lourival Gomes Machado, até Heinrich Wölfflin, e deixa claro que o Barroco já foi visto, entre outras coisas, como arte da Contrarreforma e como arte do Absolutismo. No segundo, ele discorre sobre a questão da periodização e cronologia do Barroco no Brasil e defende que podemos estabelecer três etapas de evolução do barroco no Brasil, afirmando que a primeira etapa do barroco nos trópicos brasileiros foi uma tentativa de reproduzir os padrões europeus mesmo sem ter os meios necessários, a segunda etapa foi marcada pela Restauração de 16402 e pela descoberta do ouro no território brasileiro, que teria feito com que a Coroa portuguesa voltasse seus olhos para a sua rica colônia tropical e a terceira e última etapa foi caracterizada pelo apogeu da riqueza e do ouro e pelo período de produção das mais originais manifestações da arte barroca do Brasil.
Para Benedito Lima de Toledo, quando falamos em Barroco nos referimos não só a um estilo de arte, mas a uma autentica civilização. Ele acredita que o barroco está não só na arte e na mentalidade, mas inclusive na formação espacial da própria cidade e isso se confirma, segundo o autor, no fato de as cidades que nasceram à época do Barroco terem uma estrutura diferente das demais, ou seja, uma configuração específica. As cidades portuguesas, portanto, não fugiriam a esta regra e teriam se desenvolvido à luz das imposições barrocas e da influência mediterrânea, e este legado teria chegado às enladeiradas e mal ajambradas ruas do território brasileiro, encontrado assim terreno propício ao desenvolvimento, de sua chamada, civilização barroca. O mundo colonial estava se barroquizando, em especial, devido à semelhança topográfica encontrada pelos portugueses nas cidades do Brasil, especificamente, nas cidades mineiras.
Após a explanação teórica e a cronologia, e deixando clara a ligação das manifestações barrocas do Brasil com as de Portugal, o autor começa a traçar um detalhado panorama da arte e da arquitetura no Brasil. Ele inicia falando um pouco sobre a arquitetura Jesuíta no Brasil, passa pela Franciscana e chega, por fim, a Beneditina. Em seguida, faz um apurado estudo sobre a azulejaria e a talha brasileiras e ainda nos traz algumas palavras sobre o rococó mineiro, sobre a arquitetura de mineração e a arquitetura civil e sobre a pintura e a cerâmica produzidas no Brasil. Ou seja, o autor nos dá um panorama geral sobre o comportamento e a adaptação do estilo barroco no Brasil sempre deixando claros os seus antecedentes portugueses em todas as suas formas de manifestação. Mas afinal, para Lima de Toledo que rumos teria tomado o Barroco ao aportar nos trópicos? Segundo o autor, a especificidade barroca pode ser percebida mesmo em território europeu, antes de mais nada, pela configuração espacial e arquitetônica das cidades que surgiram na época do Barroco, sobre isso Lima da Toledo afirma que:
[…] as cidades nascidas à época do Barroco, ou que então conheceram florescimento, têm configuração específica, criando por vezes surpresas, como espaços abertos em meio a traçados irregulares de rua, frente a edifícios, só perceptíveis quando aí chegado, o que pressupõe movimentação do observador. (2012, p. 31)
Nesse sentido, podemos perceber que a distribuição espacial das ruas e dos prédios obedece às leis de configuração barrocas, onde o espectador é convidado a movimentar-se para observar com precisão as formas, linhas e curvas dramáticas características do estilo em questão. Essa peculiaridade por ser conseqüência da mentalidade barroca acaba transparecendo em todas as manifestações artísticas, sociais e culturais da Europa, inclusive nas soluções encontradas para problemas públicos como o abastecimento de água. Sobre isto, o autor afirma que o problema foi resolvido com a instalação de pequenos aquedutos e chafarizes ao redor das cidades. Esses chafarizes, porém, acabaram tornando-se símbolos de poder e de autoridade e ostentavam um rico conjunto de formas, constituindo-se como verdadeiras obras de arte.
Também como conseqüência dessa nova mentalidade a imagem passa a ter o destino certeiro de comover até mesmo os mais indiferentes à fé através da emoção, da dramaticidade e do realismo. Esse apego a imagem dramática acaba chegando aos grandes templos e igrejas da época e encontra na talha dourada e na música a alquimia perfeita para encher de emoção e dramaticidade a estética da época.
A preocupação com a expressão dramática era tanta que Lima de Toledo chega a firmar que “nos retábulos dos altares, colunas, entablamentos, frontões, tudo perdeu sua função estrutural, para se tornar elemento expressivo.” (2012, p.35).
Assim, o autor deixa claro que o Barroco é muito mais que um estilo, é uma mentalidade, uma civilização, e que isso pode ser comprovado na medida em que percebemos que a Europa barroca alimenta-se de todos os sentidos e sentimentos proporcionados pelo estilo e que isto é feito em tão alto grau que não fica restrito à arte, reverbera também nas manifestações cotidianas, no equipamento público, como os ricos chafarizes da época, no equipamento domiciliar, como o mobiliário, no vestuário e até nos hábitos daquela sociedade, ou seja, para Lima de Toledo nenhuma forma de expressão da época escapou ao conceito barroco.
Assim, o Barroco, desconhecendo limites, chegou ao Brasil pelas mãos dos portugueses e logo tratou de adaptar-se à região, adaptação esta que encontrou facilidades devido à semelhança espacial entre algumas das mais antigas cidades brasileiras e as cidades portuguesas, já que, segundo o autor, os portugueses, donos de uma forte tradição marítima, historicamente não se incomodavam em desenvolver seu caminhos e sistemas de comunicação terrestres e eram completamente indiferentes à qualquer preocupação com a ordenação de ruas e cidades, tanto na Metrópole, quanto em sua porção colonial da América. Dessa maneira, a desorganização estrutural das cidades portuguesas acabou encontrando semelhanças nas cidades brasileiras, sobre isto Lima de Toledo afirma que, as exceções a este traçado, cidades como Recife e Mariana, devem seu plano regular a agentes externos e não aos esforços portugueses.
As cidades brasileiras, portanto, obedecem às mesmas regras de ordenação espacial das portuguesas e acabam herdando características consequentes da tradição portuguesa como a maritimidade, além, é claro, de constituírem-se como grandes espaços abertos diante das Igrejas e de seus elementos externos como o adro, as escadarias e o próprio cemitério. Dessa forma, muitas das cidades brasileiras, em especial as cidades mineiras, assumem semelhanças, não só de ordenação, mas, inclusive, de topografia, com as cidades portuguesas e acabam tornando-se palco perfeito para a implantação e adaptação da mentalidade e do conceito barroco. A respeito disto o autor afirma:
Essas cidades mineiras lembram as cidades montanhosas do norte de Portugal, com suas ladeiras e terreirinhos (para usar a expressão de Alexandre Herculano). Por vezes em cidades como Bragança (Trás-dos-Montes), temse a sensação de se ter regressado ao Brasil e se estar a percorrer as ruas de Serro, Diamantina, São João Del- Rei, Ouro Preto, Mariana. A mesma topografia, a mesma implantação das casas subindo e agarrando-se às ladeiras.
Em Braga, ou em Guimarães, são as igrejas que nos trazem à mente as capelas das ordens terceiras de Minas Gerais. Em Bom Jesus do Monte, Braga ou em Nossa Senhora dos Remédios, Lamego, a evocação do santuário de Congonhas do Campo é inevitável. Em Guimarães a Igreja do Senhor dos Santos Passos evoca os melhores exemplares do barroco mineiro. (2012, p. 63) Assim, fica claro que para Lima de Toledo o Barroco ganha espaço no Brasil devido à sua rápida adaptação às condições de desenvolvimento que são semelhantes às encontradas pelo estilo da Metrópole. Dessa maneira, o Brasil constitui-se como campo fértil para as mais ricas manifestações do estilo, que mesmo com antecedentes portugueses diretos, acabou ganhando características próprias em terras tropicais.
Na arquitetura, por exemplo, a influência das ordens religiosas portuguesas se faz presente e fortemente influente na construção do conjunto arquitetônico das mais diversas cidades brasileiras. Essas ordens enviam para o Brasil dezenas de pedreiros, carpinteiros, mestres de obras e arquitetos para que estes construam em terras brasileiras Igrejas que sigam o mesmo plano das igrejas portuguesas e, assim, mantenham uma unidade na arte produzida na Metrópole e na colônia. Entre jesuítas, franciscanos e beneditinos o conjunto arquitetônico das cidades brasileiras foi tornando-se real e adaptando-se às condições locais de materiais disponíveis, de clima e de paisagem. Segundo Lima de Toledo um dos exemplos mais notáveis dessa adaptação do estilo ao território brasileiro é o convento franciscano de Santo Antônio em João Pessoa na Paraíba, sobre este o autor afirma:
O convento franciscano de João Pessoa é, por tudo isso, um documento de invulgar importância na arquitetura brasileira. É o coroamento vigoroso de um longo processo evolutivo que deixou no Nordeste conventos de proporções generosas, dotados de claustros notáveis pelo ritmo de suas arcadas e por sua adequação ao nosso clima, de adros acolhedores e frontispícios onde se permitiu aos artistas a realização de apurada obra de cantaria. (2012, p. 116) Nos conventos Beneditinos, a tradição de ser criterioso na escolha de seus arquitetos é transportada juntamente com a ordem para o Brasil. Eram enviados ao Brasil respeitados arquitetos que pudessem trazer para as construções da ordem o máximo de rigor e seriedade, estes, algumas vezes trabalhando em conjunto com aprendizes brasileiros, acabaram nos deixando como herança construções inspiradas em importantes Igrejas européias, como é o caso do Mosteiro de São Bento em Salvador, que, segundo Lima de Toledo tem influência evidente da planta da Igreja de Gesú em Roma. Sobre isto o autor afirma que:
As afinidades com São Bento são inúmeras, a começar pela planta da Igreja. A influência da planta de Gesú, de Roma, é muito clara, incluindo transepto, nave com abóbada, cúpula e capelas laterais intercomunicáveis. O frontispício aproxima-se do primeiro desenho de Vignola para Gesú em 1569. (2012, p. 133).
As ordens religiosas, portanto, acabam fazendo o trabalho de transposição do estilo e de seu conceito para o Brasil, impedindo que este perca sua essência, mas, ao mesmo tempo, permitindo adaptações à nova realidade espacial em que ele está inserido. Dessa maneira, podemos dizer que, para o autor, o conjunto arquitetônico colonial do Brasil sofreu influências do método europeu, mas acabou ganhando novas características devido ao novo ambiente em que estava inserido.
Isso pode ser constatado também na própria arquitetura civil das cidades coloniais do Brasil, que apesar de guardar peculiaridades regionais, segue um estilo e conceito aplicável em todo o território. Ou seja, podemos dizer que, mesmo guardando proporcionais peculiaridades regionais, a arquitetura civil do Brasil colonial segue um padrão nos hábitos construtivos, padrão esse que é diretamente influenciado pelos padrões portugueses.
No Brasil, a arquitetura popular em grande parte é produzida através da técnica do pau a pique que consiste basicamente em fincar esteios no chão, verdadeiras varas dispostas perpendicularmente e amarrá-las com embira3 e depois arremessar barro contra o trançado. A técnica desenvolveu-se a acabou conhecendo formas estruturalmente mais apuradas, sendo utilizada, inclusive na construção de grandes sobrados. Além das construções em pau a pique, podemos citar também as construções em taipa e em granito bem desenvolvidas no Brasil. A chegada de engenheiros europeus ao Brasil acabou contribuindo para uma renovação das técnicas arquitetônicas locais, mas não alterou substancialmente a essência da arquitetura civil no Brasil colonial, que manteve sua personalidade a despeito das influências.
Essas mudanças podem ser observadas não só na arquitetura, mas também na azulejaria, na talha, na pintura, na cerâmica e na escultura barrocas produzidas no Brasil. Lima de Toledo também discorre sobre estes temas em seu livro.
Sobre a azulejaria e a talha, tradições nacionais portuguesas, o autor afirma que encontraram solo fértil para o seu desenvolvimento em solo brasileiro e que, aqui adaptadas, sofreram um processo de renovação, cultivando novas características, algumas destas seriam transportadas para a própria Metrópole. Como afirma o autor, quando diz que:
Os claustros conventuais no Brasil, revestidos de azulejo, evocam os pátios das alcáçovas com seu arejamento aprazível. No Brasil, o azulejo ganhará o exterior dos edifícios e,bem sucedido aqui, esse processo será levado à Metrópole. Um brasileirismo, portanto. Mas não termina aí essa evolução. Em Minas Gerais, na cidades distantes do litoral e dele separadas por péssimas estradas, o uso do azulejo se tornará quase impossível. Surgirá, então, como já vimos, uma solução local: tábuas com bordas recortadas serão afixadas às paredes da capela-mor de igrejas e pintadas de forma a lembrar azulejos. Olhando esses painéis constatamos o quanto se caminhou ao sabor da invenção desde os panos de rás flamengos, dos até a solução mineira. (2012, p. 144) Com relação à talha, podemos entender que ocorre o mesmo processo evolutivo e adaptativo quando esta chega ao Brasil e encontra condições diferenciadas das de seu lugar de origem. Essas mudanças, segundo Lima de Toledo, ficam mais claras quando percebemos que “a imaginária da pedra vai no seiscentismo cedendo lugar à escultura em madeira policromada. Os objetos de culto anteriormente feitos em ouro ou prata dourada passam a ser elaborados em madeira dourada, conservando por vezes o tratamento próprio do metal” (2012, p. 145). Os retábulos brasileiros, portanto, apesar de seguirem o estilo português também cultivam características e personalidade próprias, especialmente aqueles que foram produzidos em terrenos distantes do litoral sob o influxo das atividades de mineração de ouro e diamante, já que esta concentração de riquezas, segundo o autor, atraiu mestres de obras portugueses, o que influenciou a formação de uma intensa vida urbana nessas regiões e, portanto, o florescimento de uma intensa vida cultural. Sobre isto, Lima de Toledo afirma que:
O relativo isolamento das cidades terá tido influência no surgimento de uma arte com personalidade própria, fato por vezes superestimado. Distantes do litoral e dele separados por péssimos caminhos, os núcleos de mineração não podiam ter à mão material trazido como lastro de navio como ocorria nas cidades litorâneas. (2012, p.181) Como não tinham acesso ao material vindo de Portugal, utilizavam-se dos materiais abundantes na região, inclusive do ouro, e isso teria legado às manifestações artísticas da região, à essa época, uma personalidade própria que contribuiu categoricamente para o que se denomina problematicamente de Barroco Brasileiro. Tal denominação enfrenta grandes dificuldades para se afirmar, já que sabemos que “há um descompasso entre manifestações de regiões diferentes, tornando-se problemática a caracterização formal implícita na expressão ‘Barroco Brasileiro’ para um momento específico” (2012, p. 356).
Com relação à pintura, o autor defende que “a pintura do Brasil colonial, como estamos vendo, conheceu uma diversificação em função de vários condicionantes, como região, entidade patrocinadora que por vezes formava seus próprios artistas e fatores circunstanciais” (2012, p. 345). A pintura de forro, por exemplo, que era feita por pintores locais acabou por revelar-se como personalidade da arte colonial manifesta no Brasil, mesmo tendo grandes problemas na denominação estilística.
Um exemplo disso são as pinturas ilusionísticas, que alcançaram grande expressão no Brasil, seguindo a tradição italiana e espalhando-se pelo território, ostentando grande diversidade.
Com relação aos ceramistas o autor afirma que tal arte até hoje ainda sofre certos preconceitos por ser uma manifestação artística que presta-se a artistas de qualquer nível, mas que mesmo assim, podemos dizer que são feitas de barro algumas das melhores e mais ricas peças da arte colonial brasileira, em especial os trabalhos feitos pelos freis Agostinho da Piedade e Agostinho de Jesus. Esses dois artistas traduzem em barro a mesma dramaticidade e emoção características do Barroco e são de grande sensibilidade artística, pois trazem para o barro, com muita competência, temas muitas vezes explorados com materiais considerados mais nobres.
Podemos perceber, portanto, que ao longo do livro, Benedito Lima de Toledo, percorre os mais diversos caminhos para entender e elucidar a arte barroca no Brasil, deixando evidente a matriz portuguesa dessas manifestações, mas fazendo questão de sublinhar a personalidade artística desenvolvida pelo estilo em território tropical.
O autor investiga os diferentes aspectos dos diversos campos de manifestação do Barroco, levando em consideração não só a arquitetura, mas também a pintura, a escultura, a talha e a azulejaria, dando assim um panorama geral que exprime a ideia de que o Barroco no Brasil tem uma personalidade própria.
O autor conclui o livro concordando com Victor Tapié, quando este alerta para o problema das denominações de estilos, já que acredita que uma denominação só é válida para orientar pesquisas. E, portanto, foi baseado nisto que Lima de Toledo escreveu, consciente de que os rótulos estilísticos e cronológicos não dão conta dos descompassos da arte no Brasil e que termos como arte colonial e Barroco tornamse apenas denominações que orientam e organizam a pesquisa, mas que por vezes perdem seu significado.
Dessa maneira, Lima de Toledo nos faz crer que o Barroco luso-brasileiro não obedece a enquadramentos cronológicos e cultiva, apesar de seus íntimos antecedentes portugueses, características próprias que foram desenvolvidas devido ao contato com a realidade colonial e que foram, antes de qualquer coisa, produto das novas relações estabelecidas entre Metrópole e Colônia, assim o autor afirma que “o maneirismo, o barroco e o rococó escapam aos enquadramentos regionais e cronológicos globalizadores, sendo, nesse aspecto, imagem do próprio país”.
(2012, p.356) Portanto, podemos dizer que mesmo intimamente ligado a Portugal, o Barroco encontra seus caminhos e descaminhos em solo brasileiro e traduz as contradições do Brasil dando expressão aos desejos de autoafirmação da nação.
Notas
2 Em 1640 Portugal torna-se livre do jugo espanhol e coloca fim na chamada União Ibérica, tornandose novamente um país independente, restaurando assim o trono português. Este processo teria como conseqüência a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro e, dessa maneira, a restauração do poder português sobre as terras do Brasil.
3 Fibra extraída da casca de algumas árvores, para a confecção de barbantes e cordas.
Izabel Maria dos Santos – Graduada em História pela Universidade Federal da Paraíba. Mestre em História da Arte, Patrimônio e Turismo Cultural pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E-Mail: <izzabelmds@ gmail.com>.
[MLPDB]Las independencias iberoamericanas en su laberinto: controvérsias, cuestiones, interpretaciones | Manuel Chust
Publicado em 2010, no contexto das celebrações do bicentenário das independências de diversos países hispano-americanos, o livro “Las independencias iberoamericanas en su laberinto: controversias, cuestiones, interpretaciones” foi organizado pelo Prof. Dr. Manuel Chust, especialista nos processos revolucionários da América do século XIX, da Universitat de Jaume I, situada na Espanha, na Comunidade Autônoma Valenciana.
Nas suas mais de quatrocentas e trinta páginas, a obra aproveita a efeméride para reunir importantes historiadores de várias gerações e de distintas partes da América Latina, bem como do Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Espanha e Estados Unidos para debaterem o tema das independências ibero-americanas.
A publicação é dividida em cinco partes, sendo a inicial, sua apresentação, escrita por Chust, que aponta, nesta porção, os objetivos da obra, a saber-se: primeiro, reunir historiadores, e não profissionais de outras áreas, para abordarem a questão das independências ibero-americanas, e trazer, assim, ao público, conclusões dentro de uma perspectiva histórica. O segundo é contar com renomados investigadores que dedicam suas pesquisas ao tema das independências. O terceiro, agregar pesquisadores europeus e americanos que reflitam sobre questões gerais que tenham permeado a historiografia sobre o assunto nos últimos trinta anos. Por fim, o último, englobar historiadores de variadas escolas e com diversas interpretações sobre este relevante capítulo da História ibero-americana, para levar aos leitores um estudo amplo, plural e diverso do tema explorado.
Além disto, dentre outras questões, nesta parte do trabalho, Chust apresenta dados que reiteram a importância da publicação – bem como, por conseguinte, de pesquisar-se sobre o assunto trabalhado –, como o fato de que as independências são um dos grandes temas da história universal do século XIX. Igualmente, o autor aponta a apropriação deste relevante capítulo histórico pelas histórias nacional e oficial, que dão o seu perfil, com doses de emoção e anacronismo, a este episódio.
Após a apresentação, Chust traz ao seu leitor o capítulo “El laberinto de las independencias”. Nesta parte o autor não nega o avanço historiográfico sobre o assunto nos últimos trinta anos, porém aponta alguns problemas que existem nas pesquisas sobre o tema, como, por exemplo, a proeminência de estudos de casos dominantes, que acabam por tornarem-se modelos gerais, ao passo que os processos de emancipação contam com várias especificidades, que acabam permanecendo esquecidas. Para ratificar o exposto pelo autor, basta rememorar a vastidão do espaço ibero-americano, com distintas realidades políticas, econômicas e sociais, como as existentes entre os pampas, os Andes e determinadas áreas litorâneas, conectadas, por antigas redes mercantis, à península ibérica.
Chust ainda demonstra fatores que levam a distorções históricas das explicações sobre as independências. Dentre eles encontram-se a permanência de interpretações a partir das fronteiras que dividem os atuais estados nacionais, raias estas estabelecidas posteriormente às emancipações, o olhar destes processos a partir do presente e de suas respectivas projeções e o abandono de “ferramentas” da História para analisá-los, a ingressar, deste modo, muitas das vezes, no entendimento sobre as independências, perspectivas nacionalistas.
Também nesta parte, o historiador espanhol traz panorama historiográfico sobre as independências nos últimos cinquenta anos, a englobar, dentre outros, os trabalhos de R.R. Palmer, de John Lynch e de François-Xavier Guerra. Ainda no que tange à questão historiográfica, Chust indaga qual a historiografia que está a ser feita no contexto do bicentenário e mostra que hoje já não há leitura hegemônica do tema, nem esquemas rigorosos como no passado, quando seguia-se, rigidamente, linhas propostas por alguns poucos autores. Vive-se, portanto, momento com maior pluralidade interpretativa, formação mais profissional daqueles que reconstituem a História, inclusive devido ao aumento de programas de mestrado e de doutorado na própria América Latina, e de maior acesso às fontes primárias.
No entanto, apesar de todos estes avanços existentes no âmbito acadêmico e acumulado ao longo das três últimas décadas, de uma maneira geral, estes aspectos, infelizmente, não chegaram à sociedade. A versão dos processos de emancipação que acaba por ser conhecida pela população em geral é, ainda, a nacionalista – com seus heróis e vilões nacionais –, mesmo que, às vezes, seja remodelada, a tornar-se, portanto, com determinado grau de diferença daquela proposta em períodos anteriores.
Consta, de igual modo, da segunda parte da publicação, periodização feita por Chust do processo revolucionário hispânico, válido para ser uma espécie de guia no labirinto das independências. O historiador propõe uma primeira fase, que abrange de 1808 a 1810, que ele batiza de “A independência pelo rei”, a ter como grande marco as abdicações de Baiona. Neste corte temporal, tanto os súditos americanos, quanto os peninsulares, declaram-se fiéis a Fernando VII, em oposição a José Bonaparte, imposto como rei da Espanha pelo seu irmão, Napoleão.
A segunda, de 1810 a 1815/16, é intitulada de “As lutas pela/as soberania/as”, período que abarca os anos finais da guerra contra Napoleão Bonaparte na Espanha, a realização das Cortes de Cádiz, o retorno, ao poder, de Fernando VII e, em seguida, do absolutismo. De acordo com Chust, é nesta temporalidade que há o embate entre os diversos atores políticos em torno da questão da soberania.
A terceira parcela da periodização engloba os anos de 1815/16 a 1820, definida por Chust como “A independência contra o rei”. Nela estaria incluída a oposição criolla ao absolutismo de Fernando VII e a consequente ação armada como via de resolução das querelas entre a América e a Espanha peninsular, em um contexto em que, na Europa, após o Congresso de Viena, constituía-se a Santa Aliança.
A quarta e última fração refere-se aos anos de 1820 a 1830, período em que está inclusa a vitória dos projetos emancipacionistas pelo caminho das armas. Chust também chama a atenção que é nesta década em que há o retorno ao constitucionalismo na Espanha, as independências de dois bastiões realistas, a Nova Espanha e o Peru, bem como a cisão do Brasil do Reino Unido português.
É importante destacar que mesmo com a proposta da periodização, Chust faz a relevante ressalva de que estes dados não são estáticos, nem válidos, em todos os momentos, para toda a América trabalhada no estudo. Exemplo mais elucidativo da afirmação do historiador é o caso do Brasil, que, por exemplo, em 1808, enquanto o mundo hispânico vive a acefalia em função do aprisionamento da família real espanhola, o príncipe regente português e sua corte se estabelecem no Rio de Janeiro.
A terceira parte do livro traz as reflexões dos quarenta historiadores que participam do projeto, e para que isto seja possível, são dedicadas cerca de trezentas e cinquenta páginas. Aos quarenta historiadores foram formuladas, por Chust, cinco perguntas, para que se tenha importante panorama, a partir de diferentes visões, dos processos de independências das Américas lusa e espanhola: “1) Qual é sua tese central sobre as independências?”, “2) O que provocou a crise de 1808?”, “3) Se pode falar de revolução de independência ou, pelo contrário, prevaleceram as continuidades do Antigo Regime?”, “4) Quais são as interpretações mais relevantes, a seu entender, que explicam as independências ibero-americanas?” e, por fim, “5) Quais os temas que, ainda, faltam ser pesquisados?”
A constatação das mais diversas respostas de renomados pesquisadores é o ponto principal do livro. Esta multiplicidade de visões torna de um sabor ímpar a leitura da publicação, que leva o leitor a transitar maravilhado pelo complexo labirinto que é o emaranhado das independências ibero-americanas e suas interpretações. Lembra-se, ainda, que o assunto envolve áreas, portanto, realidades tão dispares, que englobam do Vice-Reino do Prata à Nova Espanha, a passar pelo Brasil, ressaltando, assim, a diversidade existente nestas áreas americanas. É-se, de semelhante modo, convidado, na publicação, a trilhar, neste labirinto, as histórias dos reinos ibéricos, Portugal e Espanha, no período das independências.
Destaca-se que essa deleitosa gama de interpretações é importante incremento para o debate historiográfico sobre as independências. Semelhantemente, diante da indicação, por parte dos especialistas, de temas relacionados às emancipações que ainda necessitam ser estudados, há a perspectiva de surgirem novas pesquisas no sentido apontado, o que, sem dúvidas, acaba por contribuir com o desenvolvimento das investigações dedicadas ao assunto, tema tão caro à história dos oitocentos.
Após trazer o conjunto de historiadores, a parte seguinte da obra é dedicada aos seus respectivos currículos, meio válido para conhecer os vários profissionais que têm dedicado- se à pesquisa das independências, e, ainda, as suas participações acadêmicas em instituições de distintas partes do globo. Por último, o contato com os currículos é um meio de tomar nota das principais publicações dos investigadores, sendo que o consequente acesso às obras torna-se mais fácil nos atuais tempos da internet.
A última parte é intitulada “Bibliografia sobre as independências”. Também neste item é possível recorrer a vasta produção historiográfica sobre o assunto, com publicações editadas em diversas épocas e lugares, com autores de várias linhas de interpretação. Este conjunto de obras dedicadas às independências apresenta aquelas dedicadas ao tema, seja com uma análise global, seja com o exame de partes específicas do espaço ibero-americano.
Assim, a publicação organizada por Chust oferece um amplo e atual panorama acerca das independências, a contribuir com o desenvolvimento do tema, a constituir-se, portanto, em importante bússola para aqueles que desejam caminhar no sedutor labirinto das independências ibero-americanas.
Fábio Ferreira – Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF-Niterói/Brasil). E-mail: ferreira@revistatemalivre.com
CHUST, Manuel (Org.). Las independencias iberoamericanas en su laberinto: controversias, cuestiones, interpretaciones. Valencia: Publicacions de la Universitat de Valencia, 2010. Resenha de: FERREIRA, Fábio. As independências ibero-americanas: transitando pelos labirintos da História. Almanack, Guarulhos, n.4, p. 151-153, jul./dez., 2012.
Crianças dos países de língua portuguesa – MULLER (EH)
O que há de comum na experiência de crianças e adolescentes que viveram em países lusófonos situados em quatro continentes do globo nas últimas décadas do século XX? De comum, segundo a educadora Verônica Regina Müller, o fato de utilizarem o português como primeira ou segunda língua na vida cotidiana, as condições de pobreza que uma parcela significativa dessa população enfrenta ou, eventualmente, o acesso à educação escolar, mesmo que de forma precária. A obra, intitulada Crianças dos países de língua portuguesa: histórias, culturas e direitos, demonstra ainda, ao longo de seis capítulos, que há outro denominador comum. Desde a aprovação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1989, Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor Leste têm buscado, de diferentes maneiras e entre avanços e reveses, implementar a noção de direitos – sociais, civis e políticos – em favor de sua população infanto-juvenil. Essa tarefa exigiu (e continua a exigir) um esforço hercúleo do Estado, da sociedade civil, das famílias e dos indivíduos, uma vez que o processo de instituição da concepção de direitos humanos para os infantes de ambos os sexos implica grandes mudanças na esfera sociocultural, especialmente nas sociedades do continente africano.
As narrativas dessa faceta da história de crianças e adolescentes, com exceção do caso brasileiro, procuram dar conta, sobretudo, dos fenômenos ocorridos nos últimos trinta anos do século XX em cada sociedade em particular. Apesar de todos os textos se reportarem à história política dos Estados nacionais (processo de descolonização, independências e ditaduras/processos de democratização), os marcos temporais balizadores das análises são as legislações e/ou as políticas sociais instituídas, com ênfase nas relativas ao universo escolar. As narrativas são construídas a partir de dados obtidos através da análise do discurso de documentos de caráter oficial (em particular as legislações), etnografias, entrevistas e memórias. O ideário de infância e direitos humanos como discursos oriundos da sociedade ocidental e um olhar relativista em relação às noções de classe social, etnicidade e relações de gênero norteiam, do ponto de vista teórico, a escrita dos capítulos.
Além da História da Infância sob a ótica do nacional, os capítulos, em seu conjunto, descrevem um processo histórico transnacional, seja do ponto de vista dos usos do idioma português, seja do ponto de vista da transformação das crianças em sujeitos de direito.1 A junção dessas duas perspectivas no campo da história constitui, sem dúvida, o ponto forte do livro.
O capítulo sobre Angola, escrito por Eugênio Alves da Silva, é o único da obra que trata de crianças e adolescentes do meio rural. O autor justifica essa escolha porque, no período estudado, 42% da população do país habitavam no campo. Nessas localidades, meninos e meninas constituíam uma parcela importante da mão de obra familiar. A alfabetização através do idioma português na escola colocava em risco a “Educação Tradicional Africana” (ETA) (p. 47), especialmente a das meninas (p. 55). Para o autor, a resistência dos adultos das comunidades rurais à alfabetização no idioma português não está associada somente ao fato de ser a língua do antigo colonizador, mas a rupturas significativas, reproduzidas sobretudo no âmbito das relações de trabalho e das relações de gênero.
No capítulo sobre o Brasil, Verônica Regina Müller, Miryam Mage e Ailton José Morelli procuram fornecer aos leitores e leitoras um panorama da introdução dos direitos da criança e do adolescente no país durante todo o século XX. Nessa narrativa histórica, a ênfase recai sobre os avanços obtidos no período pós-Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir de 1990, as políticas sociais, sobretudo as de cunho compensatório (bolsa família), possibilitaram que muitas crianças e adolescentes que habitavam nas cidades e no campo não se evadissem dos bancos escolares e tivessem um maior domínio do idioma português (p. 96). Para os autores, porém, ainda há muito a fazer no campo dos direitos. Entre as demandas, as mais difíceis de vencer são as de caráter adultocêntrico, presentes na sociedade brasileira (p. 93).
Os capítulos sobre Cabo Verde, produzido por Lorenzo I. Bordonaro e Redy Wilson Lima, e sobre Moçambique, por Elena Colona e Eugénio José Brás, discutem fenômenos da mesma natureza: os embates existentes entre os discursos relativos aos diferentes modos de ser criança e adolescente no mundo urbano daqueles países nos últimos trinta anos do século XX. Enquanto a noção de infância afirma que o “espaço esperado” para a criança e o adolescente é a escola e/ou o ambiente doméstico, as famílias pobres das cidades de Praia e Maputo mantiveram a prática de deixar seus filhos e filhas brincando/trabalhando pelas ruas das cidades. Lorenzo I. Bordonaro e Redy Wilson Lima entendem que há uma grande diferença entre “crianças de rua e crianças na rua”, na zona urbana de Cabo Verde (p. 127). Afirmam, de forma crítica, que conceitos aplicados por técnicos das agências internacionais, operadores do direito e jornalistas não dizem respeito às realidades africanas, mas se limitam às latino-americanas. Os autores não concordam com a transformação do modo de ser criança “tradicional” em um problema social, especialmente pela mídia. Já para Elena Colona e Eugénio José Brás, o deslocamento dos menores pelas ruas da cidade de Maputo está de longa data associado a estratégias de sobrevivência das famílias empobrecidas (p. 171).
Para Catarina Tomás, Natalia Fernandes e Manuel Jacinto Sarmento, a história dos direitos da criança em Portugal, desde o processo de redemocratização do país, em 1974, tem como marca os paradoxos. Se, por um lado, o país atingiu excelentes índices no campo da saúde infantil e expandiu a proteção aos menores de idade através da justiça, por outro, a violência doméstica ainda continuou presente entre as famílias; além disso, a taxa de natalidade decresceu bastante, e crescimento populacional, se houve, foi por conta da imigração. Os autores mencionam mais dois problemas relativos ao universo infantil que emergiram no período: a obesidade e o stress (p. 219).
O último capítulo procura historiar a introdução dos direitos da criança na “fraturada” sociedade do Timor Leste. Afonso Maia, Benvinda L. da R. Oliveira, Márcia Valdineide Cavalcante e Silvestre de Oliveira descrevem as diferenças em relação a esse processo em três períodos distintos da história daquela sociedade durante o século XX: o período da dominação colonial portuguesa (1515-1975), a época da “invasão” indonésia (1975-1999) e o pós-independência do país, em 2002. Os autores e autoras consideram fundamental, nos três períodos, o direito à vida, à educação e à saúde. Ressaltam, também, que o domínio dos idiomas português e, depois, indonésio, pelas crianças e adolescentes, tinha o poder de produzir a inclusão ou a exclusão social naquela sociedade (p. 246).
Esses processos históricos nos países lusófonos poderão, certamente, ser interpretados de muitas outras maneiras. Esta, todavia, cativa os leitores e leitoras pelo seu ineditismo no campo da História da Infância e da História Transnacional e por fornecer pistas para outras investigações. Estudos desta natureza devem ser feitos para que, além de produzir conhecimento, possamos constatar que outros “mundos” podem ser construídos.
1 Sobre a História Transnacional, ver Bayly, C. A.; Beckert, Sven; Connelly, Matthew; Hofmeyr, Isabel; Kozol, Wendy; Seed, Patricia. AHR conversation: on Tansnational History, The American Historical Review, 1 dec. 2006, vol. 111, no 5, p. 1441-1464.
Silvia Maria Favero Arend – doutora em História pela Universidade Fed eral do Rio Grande do Sul e professora do Departamento de História da Universidade do Estado de Santa Catarina (smfarend@gmail.com).
MULLER, Verônica Regina (org.). Crianças dos países de língua portuguesa: histórias, culturas e direitos. Maringá: Editora da Universidade Estadual de Maringá, 2011. 275 p. Resenha de: AREND, Silvia Maria Favero. Uma história dos direitos da criança nos países lusófonos. Estudos Históricos, v.25 n.50 Rio de Janeiro July/Dec. 2012.
História da vida privada em Portugal. A Idade Moderna – MONTEIRO; MATTOSO (Tempo)
MONTEIRO, Nuno Gonçalo (Org.); MATTOSO, José (Dir.). História da vida privada em Portugal. A Idade Moderna. Lisboa: Círculo de Leitores, 2011. 494 p. Resenha de: MONTEIRO, Rodrigo Bentes. Do privado ao oculto. Tempo v.18 no.32 Niterói 2012.
O segundo volume da coleção editada pelo Círculo de Leitores tem como referência a edição francesa de 1986. Mas, escrito em outro momento e sobre o contexto mais delimitado de Portugal na época moderna, o livro organizado por Nuno Monteiro, sob a direção de José Mattoso, evita os paradigmas do Estado justiceiro e financista, bem como da família moderna, para explicar o surgimento de uma suposta esfera privada em Portugal, contraposta à pública. Na introdução, Monteiro alerta para a distinção entre os dois âmbitos, só consagrada na contemporaneidade. Conscientes do anacronismo da proposta para o período, os autores esmeram-se para abordar temas hoje considerados da vida privada, mas que na época moderna, em Portugal, não o eram. Desse modo, o volume confronta os modelos propostos por Habermas, Elias ou Ariès com investigações recentes da historiografia portuguesa. Questionam-se o teleologismo da ideia de modernização e a aplicação de uma cronologia de matriz francesa na história de Portugal, em que a afirmação da monarquia não foi linear, e a difusão da leitura e da escrita, limitada à época estudada. Trata-se, assim, de contemplar os temas questionando sua procedência. Essa é uma característica do livro, em um entrecruzar de teoria e empiria que marca o ofício do historiador. Se os portugueses modernos não viajaram muito a outros reinos europeus, circularam pela Espanha durante a união das coroas e pelos espaços ultramarinos, construindo, também, sua privacidade integrada ao mundo colonial, em especial à América portuguesa. Procurou-se, ainda, não escrever uma história do cotidiano ou da cultura material, embora a fronteira entre esses aspectos e a “vida privada” fosse tênue.
O volume em tela divide-se em cinco partes. A primeira trata dos poderes normatizadores da monarquia e da Igreja – sobretudo pós-tridentina. Com dois capítulos de António Manuel Hespanha e um de Joaquim Ramos de Carvalho, salta aos olhos a discrepância de abordagens. Hespanha adota a macroanálise para explicar a importância da ordem, do controle e do autocontrole no mundo ibérico, em uma sociedade que vigiava a si mesma. E particulariza os juristas, detentores dum saber especializado e de cargos na monarquia, como grupo social acima da pluralidade de poderes. Os juristas integravam uma cultura escrita afinada a um mundo dominado pelo direito em latim – uma língua quase sacral. O discurso jurídico era meio de distinção social e de eficácia da lei. Já Ramos de Carvalho analisa a Igreja, os indivíduos e os territórios de forma mais concreta, com riqueza factual e alusões a comportamentos em que o privado era associado ao ilícito ou oculto, em meio a visitas pastorais, devassas, denúncias e castigos. Nesse âmbito, as determinações tridentinas não encontraram oposição do poder régio em Portugal, diferentemente de outros países europeus. Constituía-se, assim, uma sociedade em que a articulação entre o privado e o público marcava-se pelas concepções de salvação e pecado.
Na segunda parte, que analisa as relações entre indivíduos e famílias, Isabel dos Guimarães Sá considera o tratamento distinto da infância por parte dos pais em relação à mocidade, quando a expectativa de morte dos filhos enfim diminuía. Os jovens portugueses não teriam muita margem de decisão: os primogênitos estudavam pouco devido ao sistema de morgadio, as viagens europeias não eram frequentes, tampouco os manuais de civilidade. Os das camadas populares eram amamentados pelas mães biológicas, e a proliferação do abandono de crianças expostas geraria o sistema da roda em 1783. Em vários tópicos, a autora relativiza as ideias propostas por Ariès, pois, no que toca às crianças, a esfera familiar passava mais ao controle público da Igreja ou da coroa. Por sua vez, Ramos de Carvalho aborda as sexualidades sob o prisma do “padrão de casamento europeu” vigente em Portugal. Nessa lógica, faz sentido o relato da mulher mais velha e órfã em Soure, ao início do século XVIII, que consumara relações sexuais antes do casamento para conseguir um marido improvável. A vida sexual baseava-se no controle dos instintos, mediante o casamento tardio, a contracepção e a pressão da Igreja. No entanto, o sistema permitia conflitos e hesitações em torno da sexualidade ilegítima. A esfera familiar como entrave ao privado retorna no capítulo de Monteiro sobre a casa nobre – acepção diferente da “família moderna” e defendida pelo autor como central na sociedade estudada. Contrariando a ideia de que os nobres acompanhavam as transformações sociais e psicológicas dos séculos XVII e XVIII, Monteiro observa o controle dos casamentos pela monarquia portuguesa no período, com o fortalecimento da primogenitura e a nobreza ou fidalguia transmitidas por linha paterna ou materna – diferentemente de outros países europeus. Mas a diversidade não seria pensada em termos de atraso ou situação periférica, pois no século XVI a Península Ibérica era centro de referências.
A terceira parte é a mais longa do livro, com experiências do privado em vários espaços. Pedro Cardim estuda a corte régia com referência inequívoca à teoria de Elias, inclusive no tocante às relações entre indivíduo e sociedade. Indaga-se até que ponto esse modelo francês seria pertinente a Portugal, onde não havia nobreza de corte até meados do século XVI e onde a austeridade dos primeiros reis Braganças produziu uma corte pouco sofisticada no XVII. Supõe, assim, que a afirmação da corte lusa como arquétipo social foi mais gradual que em outros reinos europeus. Não obstante, concede atenção a cartas de cortesãos, reis e rainhas, a áreas reservadas do palácio, à vida familiar e de corte, por fim, a ministros “privados” ou favoritos régios. Em seguida, Mafalda Soares da Cunha e Nuno Monteiro voltam ao tema das “grandes casas”. Em Portugal, elas tiveram origem em uma mercê régia e confundiam-se com os fidalgos convocados para assembleias de cortes. No século XVII, os principais nobres portugueses passaram a residir em Lisboa. Embora não fossem refinadas, as grandes casas tinham vários andares e muita gente: senhores, filhos sucessores (mesmo casados), irmãos, tios e criados. O tamanho da criadagem relacionava-se com a importância do titular da casa; de modo semelhante ao ocorrido em Madri, mas diferente dos casos inglês e francês. Em termos de divisões internas, constata-se um aumento dos corredores e do espaço “privado”; mas a cozinha continuava imensa. Não havia apego às artes, e eram poucos os nobres partícipes de academias literárias. A análise das bibliotecas e coleções foi prejudicada pelo terremoto de 1755.
Também na terceira parte, Fernanda Olival ocupa-se dos lugares do privado nos grupos populares e intermédios. Na difícil tarefa de estudar segmentos sociais tão heterogêneos, a perspectiva de encontrar “muita gente em uma só casa” é detalhada pela autora ao lidar com registros paroquiais e concelhios de vários pontos do país. Mas os agregados não eram apenas consanguíneos: aprendizes moravam com seus mestres; caixeiros, com os mercadores. Em todo caso, a dimensão de uma família seria semelhante à média europeia, de quatro a seis pessoas. No interior das habitações, a privacidade era reduzida em relação à rua pelas janelas sem vidros, e aos vizinhos, pelas frestas. As divisões internas variavam, sendo também analisadas por áreas geográficas portuguesas. Olival envereda, então, pelo uso dos colchões, esteiras, leitos, estrados, oratórios e “privadas” – no que flerta com a cultura material. No campo da higiene pessoal, vale-se de exemplos franceses para constatar sua precária existência em Portugal, mediante inventários e tombos. A casa dos setores médios e populares era mais abrigo que refúgio de intimidade, enquanto o “privado” era associado ao interdito ou velado. A propósito, outro capítulo de Isabel Sá compreende os ambientes que alteravam a identidade de seus internos. Nos conventos femininos, entre clarissas e carmelitas descalças, a autora analisa a dependência de esmolas das primeiras, a relação com o século, as beatas, os princípios de entrada em uma ordem religiosa. Aborda, então, a prática do cilício e as disciplinas, a roda e o ralo como meios de comunicação com o exterior, e a moda freirática nos séculos XVII e XVIII. Sim, muitas freiras eram cultas e atraíam os homens. Mas a escrita conventual podia relatar experiências místicas arriscadas à perseguição inquisitorial, sobretudo se vindas de cristãs-novas. Sente-se falta, aqui, da menção aos conventos masculinos. Com consultas às obras de Francisco Manuel de Melo e Rafael Bluteau, os recolhimentos com estada provisória para mulheres também são contemplados, bem como as casas de misericórdia, sua distribuição de dotes e a assistência em segredo aos “pobres envergonhados” – diferentes dos que expunham a miséria nos hospitais. Misericórdias que também assistiam aos presos, pois nos cárceres portugueses a segregação não era total. Mas as condições de higiene das prisões eram péssimas, e nelas vigia a mistura de crimes e condições, albergando inclusive loucos.
Portugal foi dos primeiros países a valer-se da pena do degredo, em uma hierarquia de lugares: do degredo interno ao Brasil, até as ilhas de São Tomé e Príncipe e África. Ainda na terceira parte, viaja-se para a América portuguesa, pelo recorte feito por Laura de Mello e Souza ao relatar aspectos da vida privada dos seus governadores no século XVIII. Até meados desse século, para esses homens o novo cargo significava a ruptura com a vida familiar, a solidão combatida no trabalho. Sentiase medo do desconhecido, do clima, das revoltas, das expedições. A autora explora os cardápios dessas aventuras pelo Sertão, os alimentos dos matos e a penúria de meios. Quanto às casas desses governadores, só por eufemismo eram chamadas “palácios”. Nesse tópico, é pena não se ter explorado a escravidão doméstica. Os administradores criavam, pela correspondência, uma solidariedade com colegas de governo no interior do Brasil, ou com os que estavam de passagem vindos da África ou da Índia. Forjavam-se, assim, relações pessoais: as cartas do marquês de Lavradio, vice-rei no Rio de Janeiro, mostram como ele escrevia menos aos amigos da corte e cada vez mais aos governantes de outras regiões, de quem se sentia mais próximo. O que era público tornava-se privado.
No único capítulo da quarta parte, João Luís Lisboa e Tiago C. P. dos Reis Miranda dedicam-se aos usos da leitura e da escrita. De forma original, relativizam as diferenças entre manuscrito e impresso. Mas o impresso, mais que o manuscrito, forçava a entrada do livro nos espaços privados. Analisam as novas formas de sociabilidade em torno da escrita, enquanto a leitura tornava-se individualizada e silenciosa. Contudo, são atentos à alta “iliteracia” em Portugal no contexto do sul europeu, diferenciando o saber assinar do escrever e ler. Mas, em parte devido a reformas clericais que repercutiam no ensino, o público leitor era alargado. Com mais escolas, aprendiam também os de novas profissões, além das moças, que passavam a escrever. Surgiam, assim, os gostos literários: nas bibliotecas dos juristas, os livros de direito, história, política e administração; já os nobres eram mais ecléticos, enquanto os romances agradavam aos mercadores. O apreço pela posse dos livros fica evidente nas inscrições encontradas em alguns deles, ameaçando quem os perdesse. Envereda-se, então, pelos usos da correspondência, na preocupação com o estilo das cartas próprio de uma sociabilidade cortesã, familiar ou amical. Desse modo, a publicação de cartas é contraposta às que deveriam permanecer secretas; por exemplo, na conjuntura da prisão dos Távoras.
A última parte contrapõe velhas e novas relações entre vida privada e política. Mafalda Cunha e Nuno Monteiro estudam as mobilizações de nobres e comunidades. Definem um contexto paradoxal, com persistências e novidades em relação ao medievo: os conflitos políticos continuavam pulverizados, mas as demandas eram, então, dirigidas aos tribunais régios – e não mais às cortes. A dissimulação era admissível para alguns, como resguardo de oportunidade, reveladora da virtude da prudência. Em decorrência, havia grande concorrência social, indissociável da “microconflitualidade”. A exposição esquemática ao início do capítulo ganha vida com a exposição de casos. Entra-se, assim, nas brigas de senhores, suas criadagens e clientelas nos séculos XVII e XVIII em Lisboa, quadro que pode explicar a inexpressividade de duelos e grandes motins em Portugal à época. Por fim, Maria Alexandra Lousada aborda o espaço público luso setecentista nas novas sociabilidades culturais, mormente em academias, salões e cafés – espaços “informais” distintos da corte e do governo. Justifica, assim, o não tratamento das maçonarias no capítulo, tidas como grupos formais. O argumento é frágil, uma vez que as tardias academias portuguesas guardavam forte relação com o poder régio, e as maçonarias eram sociedades secretas. Não obstante, as várias remissões a Habermas fazem mais sentido neste último texto, ao captar suas definições de “público” e “burguês”. A autora situa o debate historiográfico com interpretações díspares sobre a vida cultural em Portugal ao fim do Antigo Regime. Se os trabalhos sobre academias literárias são bastante conhecidos, salta aos olhos a análise das assembleias – mais mundanas e menos literárias que os salões – e dos outeiros – reuniões poéticas nas grades de conventos femininos. Adentramos, enfim, os cafés do final do século XVIII, com Bocage e a boemia literária lisboeta, sob a vigilância do intendente Pina Manique. Embora eles não tenham originado clubes como em Londres ou Paris, constituíam um espaço “semipúblico” fora da influência acadêmica ou aristocrática. Neles, os atos de governo eram comentados.
Seria desejável, no decorrer do livro, um maior cuidado na uniformidade do uso de maiúsculas ou minúsculas nos nomes de instituições, épocas etc., além de um apreço da editora pela reforma ortográfica, que beneficia todo o mundo lusofônico forjado por Portugal na época moderna. Apesar das lacunas temáticas verificadas ao longo da obra, algumas justificadas pela dificuldade das fontes, outras revelando adequação às especializações dos autores, o volume organizado por Nuno Monteiro sobre a vida privada no Portugal moderno possui um grande mérito, porque consegue transpor para a especificidade portuguesa da época conceitos que não foram pensados para ela, sabendo-os discutir e problematizá-los. Faz despontar, assim, uma privacidade lusa refém da conversão forçada ao catolicismo e das disposições de Trento, bem como da opulência de algumas casas nobres que sufocava, justamente, esse âmbito particular. Tal engenho decorre em parte da capacidade de pesquisa de muitos autores, e de sua erudição. Não obstante, a passagem de abordagens entre o abstrato e o concreto é, por vezes, abrupta na obra, e em alguns momentos não há harmonia dentro de um mesmo capítulo. Ainda assim, louva-se o empenho da equipe de autores – em geral, mais afeita ao signo da alteridade do “Antigo Regime” do que à etiqueta progressista de “Idade Moderna” que sela a obra – em manejar com habilidade esse deslocamento conceitual. Resta saber se a historiografia francesa contemporânea hoje produziria um volume bastante diferente daquele de 1986, ou os modelos pioneiros permanecem com a sua força para inspirar trabalhos tão interessantes.
Rodrigo Bentes Monteiro – Professor-doutor da Universidade Federal Fluminense.
Livro – PEIXOTO (A-EN)
PEIXOTO, José Luís. Livro. Lisboa: Quetzal, 2010. Resenha de: NOGUEIRA, Carlos. Alea, Rio de Janeiro, v.14 n.1, jan./jun., 2012.
Livro, o sexto romance de José Luís Peixoto (1974), tem como contexto a emigração portuguesa para França e a literatura enquanto universo complexo, enigmático e contraditório. Estes dois temas surgem ligados na primeira frase do romance, mas o leitor não poderá compreender a verdadeira amplitude desta associação senão na segunda parte do livro.
“A mãe pousou o livro nas mãos do filho” (11) inicia uma narrativa que seduz o leitor pela imprevisibilidade e pelo dramatismo das situações, pela densidade psicológica das personagens e pelo encadeamento dos episódios, que se vão sucedendo numa progressão cronológica assinalada, entre parênteses, no início de alguns capítulos ou no seu interior, imediatamente antes do parágrafo que se segue e no mesmo tipo de letra do texto. Há ainda palavras-chave, como “(Fonte)” (26) ou “Posto da guarda” (101), números, o nome de uma personagem e, por vezes, a representação pictórica de uma mala, que também delimitam os momentos narrativos. À medida que o romance avança, o andamento dos episódios e a alternância entre eles intensificam-se.
Também neste aspecto da sintagmática narrativa o autor recorre, no nível gráfico, a uma estratégia que visa marcar esses momentos: um espaço em branco, equivalente a duas ou três linhas, entre cada parte. Num livro que tem tanto de romance tradicional como de narrativa pós-moderna, esta técnica, tal como as que enumeramos acima, contribui para a inscrição do romance numa categoria genealógica singular. As personagens deste romance estão divididas entre Portugal, de onde algumas nunca saíram, como Josué e a velha Lubélia, e França, para onde partiram na situação de emigrantes não propriamente convencionais e de onde voltam para períodos de férias e, mais tarde, no caso de Adelaide e do filho “Livro”, definitivamente.
Lubélia, personagem amargurada por ter abortado e por ter sido afastada pelos pais da experiência amorosa, envia a sobrinha à força para França, para separá-la de Ilídio, que, ao aperceber-se disso, decide partir à procura de Adelaide. Para além do episódio inicial, constituído pelo abandono de Ilídio pela mãe, que parte para França, é este o núcleo a partir do qual se desencadeiam todas as outras linhas efabulativas do romance. Apesar de narrados autonomamente, todos estes episódios se encontram associados numa lógica de alternância cinematográfica que dá ao leitor a possibilidade de saber o que as personagens não sabem umas das outras.
Fala-se, neste romance, de vidas humanas individuais, dos seus desejos, vontades, erros e conflitos; fala-se de amor, de morte, de encontros e desencontros; e fala-se também de Portugal como povo, com as suas crendices e obsessões, vícios e virtudes, alegrias e tragédias, e como país que vive a tragédia de uma ditadura e a conquista de liberdade política, social e individual. 1974 é, por isso mesmo, um ano privilegiado neste livro, em especial os dias que precedem e sucedem à revolução do 25 de Abril. “27 de Abril de 1974” é uma data com implicações narrativas e autobiográficas: é a data que assinala o fim da primeira parte do romance, narrado em terceira pessoa, e a data de nascimento do narrador (autodiegético) da segunda parte, que é também a data de nascimento do autor empírico (cuja projeção autobiográfica tem ainda a ver com o facto de os pais de José Luís Peixoto terem sido emigrantes em França nos anos 60).
O livro que Ilídio recebe da mãe é o mesmo livro que ele, adolescente, oferecerá a Adelaide, com quem, muito mais tarde, terá um filho ilegítimo, cujo nome insólito é também o nome deste romance: Livro.
Este é um romance que muda radicalmente de registo no início da segunda parte, que surpreende o leitor com um inquérito, constituído por doze perguntas, enunciado nestes termos: “Indique os seguintes dados” (207). Percebe-se, mais à frente, que o próprio narrador autodiegético responderá a este questionário repentino e insólito, em que entram aspectos de natureza não só civil e biográfica, mas também pessoal: “Nome da sua mãe” ou “Nome do seu bilhete de identidade”, por um lado, e “Adjectivo que melhor caracteriza o penteado que tem neste momento” ou “Número de vezes que lava os dentes por semana” (207), por outro. Antes, contudo, dos primeiros indícios que fazem a ligação com a intriga da primeira parte do romance, surge outro momento perturbador que acentua ainda mais o estranhamento causado pelo inquérito: “Preencha os espaços em branco com as respostas anteriores” (209).
Esta segunda parte não se desliga completamente da anterior, mas obriga o leitor a rever as expectativas que foi criando ao longo de duzentas páginas. Paralelamente às sequências de ações, às relações entre personagens e à caracterização direta e indireta de espaços e figuras, as incursões no metaliterário inscrevem este romance no âmbito pós-moderno. O leitor lê o livro, primeiro na segurança de uma história bem-construída e escrita com a elegância de um autor que sabe usar o ritmo, a metáfora e a comparação: “Cada martelada que acertava na parede era como uma explosão no centro da terra. […] As cabeças dos martelos eram pesadelos de aço maciço, trovões negros. O Ilídio segurava o seu martelo com as duas mãos e acertava na parede, que caía em grandes postas caiadas, com tijolos vermelhos nas pontas, como entranhas” (178).
Mas este Livro também interpela o leitor através da visão criativa do pós-moderno, que já não se satisfaz com a apresentação de uma história linear e previsível; interessa-lhe, dialogando ironicamente com o passado histórico, literário e cultural, inovar pelo lado da reflexão metaliterária. Para o narrador deste Livro, que no final se dirige a um narratário, tudo está em julgamento e em movimento: a sociedade, o pensamento e a própria literatura: “Este livro podia acabar aqui. Ficávamos assim, no vácuo desta revelação. The end. Ou talvez nem seja sequer uma revelação, talvez seja apenas um sinal da minha incapacidade de interpretar detalhes” (261).
Carlos Nogueira – Universidade Nova de Lisboa carlosnogueira1@sapo.pt
[IF]
A Companhia de Jesus na Índia (1542-1622): actividades religiosas, poderes e contactos culturais – MANSO (HU)
MANSO, M. de D.B. A Companhia de Jesus na Índia (1542-1622): actividades religiosas, poderes e contactos culturais. Macau: Universidade de Macau e Universidade de Évora, 2009. 274 p. Resenha de: AMANTINO, Marcia. A Companhia de Jesus na Índia (1542-1622): atividades religiosas, poderes e contactos culturais. História Unisinos 15(3):466-467, Setembro/Dezembro 2011.
O livro A Companhia de Jesus na Índia (1542-1622): actividades religiosas, poderes e contactos culturais, da professora Maria de Deus Beites Manso, é uma importante contribuição aos estudos que buscam entender os diferentes papéis desempenhados pelos jesuítas em áreas variadas do vasto império colonial português. A proposta da autora é analisar o que representou a chegada dos padres da Companhia de Jesus no Oriente em 1542 a partir dos trabalhos apostólicos de Francisco Xavier e identificar como agiram para conviver com grupos sociais tão heterogêneos como os encontrados na região. Sua análise restringe-se até as primeiras décadas do século XVII, momento da criação da Propaganda Fide e do envio de missionários não mais por Lisboa, mas sim pelas Missões estrangeiras de Paris.
A obra apresenta ao longo de sete capítulos os avanços e recuos nas relações entre os religiosos da Companhia de Jesus, as autoridades coloniais, as outras ordens religiosas e as diferentes etnias que formavam a complexa sociedade que ocupava a região conhecida hoje como Índia. Resultado de antigas e sucessivas invasões e migrações, a sociedade local apresentava-se pluriétnica com inúmeras religiões e suas variantes, mas com claro predomínio do hinduísmo e do islamismo. Além destas características religiosas e, em função delas, assistia-se também a variadas organizações políticas e econômicas. Os jesuítas e mesmo o poder político português tiveram que se adaptar, negociar e, em muitos casos, guerrear para conseguir impor suas determinações. E mesmo assim, nem sempre conseguiram. De qualquer forma, a associação entre os interesses portugueses e missionários era clara e se confundia. Um dependia do outro para permanecer nas regiões abordadas. Poder religioso e poder temporal se mesclavam, criando situações onde o papel dos jesuítas, à frente das populações que visavam catequizar, às vezes não ficava muito claro.
Na realidade, segundo a autora, a presença portuguesa e, consequentemente, jesuítica na região ficou restrita basicamente a Goa e a Malabar. O jesuíta Francisco Xavier chegou a Goa em 1542. Três anos depois, fundava o Colégio Jesuítico de São Paulo e, a partir daí, assistiu-se a uma disseminação destes religiosos pelo território. O primeiro colégio em Malabar foi fundado em 1560. As duas regiões apresentavam condições bastante diversas para o trabalho dos jesuítas. Na primeira, ainda que com dificuldades variadas, conseguiram criar uma cidade cristã com diversos colégios e residências que tinham como objetivo também preparar novos religiosos que fossem capazes de continuar a missão catequética. Em Malabar, a situação era outra. Tratava-se de uma área de intensos contatos e convívios com populações variadas, dominada por membros ligados ao islamismo e ao hinduísmo que dificultaram ao máximo e chegaram mesmo, em alguns momentos, a impedir o trabalho catequético dos inacianos.
É importante destacar que a autora aponta para o fato de que os inacianos não foram a primeira ordem a chegar a esta região do Oriente. Antes deles, os franciscanos já estavam presentes, mas, devido ao tipo de preparação que possuíam, poucos avanços haviam conseguido com as populações locais. Os jesuítas chegaram com o apoio total do rei D. João III certos de que conseguiriam avançar a colonização e o cristianismo nestas paragens. Entretanto, também sofreram muitas derrotas e não conseguiram, com exceção de Goa, implantar efetivamente uma sociedade cristã modelar na região. De acordo com Maria de Deus Manso, muitos se convertiam apenas para garantir a sobrevivência ou ainda ter uma chance de sair do intricado e impeditivo sistema de castas.
Complicando ainda mais esta complexidade étnica e cultural, havia também os cristãos de São Tomé. Estes seguiam o cristianismo com alguns dogmas modificados. A tarefa dos religiosos de Santo Inácio era convencê-los a abandonar estas variantes consideradas heréticas e adotar a verdadeira religião. Pouco ou nenhum avanço conseguiram, e, através do Sínodo de Diampaer, ocorrido em 1599, os cristãos de São Tomé foram considerados heréticos.
De qualquer forma, a vida dos jesuítas na Província da Índia não foi nada fácil. A autora argumenta que estes religiosos tiveram que lidar com quatro realidades sociais e políticas claras que pautavam as missões no Oriente: havia aquelas voltadas apenas para atender às necessidades espirituais de populações ocidentais e cristãs; havia missões que buscavam catequizar populações locais nos territórios controlados pelos portugueses; as que pretendiam evangelizar povos sob o contato direto dos islâmicos; e, por último, as missões que se destinavam a evangelizar as populações precisando para isto se adaptar aos valores locais devido à força destes grupos.
Os jesuítas utilizaram inúmeras formas de atrair as populações locais para a cristandade. Negociaram, cederam, adaptaram seus dogmas e também guerrearam quando preciso. Usaram o poder econômico que possuíam para promover festas suntuosas que se aproximavam do que as populações conheciam como “festividades religiosas”. Com estas festas, procuravam demonstrar serem poderosos, generosos e capazes de auxiliar a população mais pobre. Como resultado, conseguiram converter uns poucos membros das elites e alguns mais das categorias sociais mais baixas. Além destes, as mulheres pobres também foram um grupo onde os padres conseguiram avançar um pouco mais em função de sua situação social inferior no sistema de castas.
A partir do início do século XVII, momento também caracterizado por uma grave crise econômica, começaram ou se intensificaram radicalmente as reclamações contra os jesuítas e o poder econômico da ordem. Se, por um lado, este crescimento econômico alcançado pelos religiosos contribuiu para aumentar o prestígio e, consequentemente, atrair seguidores, por outro, deixou-os vulneráveis às reclamações de seus contrários, inclusive, de outros religiosos. Desde que chegaram ao Oriente, houve “uma sistemática apropriação e transferência das rendas e terrenos dos ‘pagodes’ para os colégios e residências dos jesuítas com evidentes implicações nas estruturas das sociedades locais”. Com a chegada de novas ordens religiosas não ligadas à Coroa portuguesa, aumentaram as disputas religiosas locais, e os jesuítas foram, em alguns casos, acusados de serem os responsáveis pelo pouco avanço na conversão e também pela queda dos arrecadamentos enviados a Portugal.
A autora finaliza sua obra lembrando que o sistema de conversão usado pelos jesuítas ao longo do período estudado não pode ser visto de maneira uniforme. Foram vários métodos utilizados e variadas abordagens utilizadas por cada um dos religiosos à frente da conversão. Acima de tudo, condicionando ainda mais os rumos da catequese, havia o indivíduo ou o grupo social o qual estavam tentando converter. De qualquer maneira, o que se pode perceber é que, em nenhum momento, estas culturas, quer fossem hindus, islâmicas, cristãs de São Tomé ou de qualquer outra religião, foram identificadas pelos jesuítas como equiparáveis à sua e merecedoras de qualquer consideração. Caberia a eles eliminá-las, criando uma sociedade cristã modelar.
Marcia Amantino – Universidade Salgado de Oliveira Rua Marechal Deodoro, 211, Centro. 24030-060, Niterói, RJ, Brasil.
O Epaminondas Americano: trajetórias de um advogado português na Província do Maranhão | Yuri Costa e Marcelo Cheche Galves
O título do livro soa pomposo. A quem os autores chamam de Epaminondas Americano? Logo nas primeiras páginas vimos não se tratar de um pseudônimo, mas de um dos heterônimos assumidos por um português, o bacharel em Direito Manoel Paixão dos Santos Zacheo, em vários escritos que fez publicar, nos decênios de 1820 e 1830, manifestando seus posicionamentos nos debates ocorridos no Maranhão, após a Revolução do Porto (ou Vintismo) e nos primeiros tempos da constituição do Estado brasileiro.
Esse advogado é um personagem intrigante. Na Universidade de Coimbra, onde estudou, seu nome consta como Manoel Paixão dos Santos, mas o sobrenome Zacheo ou Zaqueu já estava incorporado nos documentos que atestam sua chegada ao Maranhão em 1810, e permaneceu nos registros posteriores. Os autores do livro levantam a hipótese de ele ter querido associar sua imagem à conotação hebraico-religiosa do termo “zacheo”, que significa “puro”. Quanto ao heterônimo Epaminondas, supõem ser uma possível “referência ao general tebano, que liderou a vitória contra as tropas espartanas na batalha de Leuctras (371 a. C.)”. E explicam:
Vencedor de lutas sangrentas – que lhe custaram a vida –, Epaminondas também ficara conhecido como homem de larga cultura e pelo princípio de jamais mentir. Coragem, conhecimento e sinceridade, aliadas à “pureza” pregressa, parecem compor a base da personalidade assumida por Manoel Paixão dos Santos – o Zacheo-Epaminondas –, forma de legitimar uma imagem de si e desqualificar a de seus oponentes (p.27).
A autoimagem favorável aparece em outro heterônimo que usou em duas publicações – o Arguelles da província. Para este, os autores levantam a hipótese de uma “provável alusão a Augustin de Arguelles Alvarez, deputado espanhol às Cortes de Cadiz, instância na qual ficou conhecido como o ‘divino’, dada a qualidade de sua oratória” (p.28).
No Maranhão, Zacheo não tardou a se integrar em várias redes de sociabilidade. Quando seus escritos vêm a público, dez anos após sua chegada, está casado com uma moça da terra, é advogado do Tribunal da Relação do Maranhão, juiz demarcante dos julgados do Mearim e das vilas de Viana, Tutóia e Icatu, além de declarar-se dono de fazendas e escravos em Rosário e Alcântara. Atuava, portanto, na capital da Província, a cidade de São Luís, situada numa ilha costeira, e em localidades do continente.
Em abril de 1821, foi um dos oito cidadãos que votou contra o prolongamento da administração de Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca – o último governador da província do Maranhão antes do Vintismo – e defendeu a instalação de uma junta governativa. Em janeiro daquele ano, uma representação de sua autoria havia sido lida nas Cortes portuguesas. Outras foram apresentadas nos meses seguintes. Denunciava tramoias do governador e fazia sugestões para o trabalho dos constituintes. A oposição a Pinto da Fonseca levou-o a refugiar -se na vizinha província do Grão-Pará e Rio Negro, para escapar da prisão que este lhe decretara. Retornou ao Maranhão no ano seguinte.
No início de 1823, como essa província permanecesse fiel a D. João VI, Zacheo foi um dos deputados eleitos para a segunda legislatura das cortes portuguesas. Viajou para Lisboa, mas não assumiu o cargo, pois encontrou as Cortes dissolvidas e o antigo regime restaurado. Permaneceu alguns meses em Portugal. Em 1º de janeiro de 1824, a bordo da escuna que o trazia para o Brasil, participou de um ato solene de juramento à independência do novo país. Retornando ao Maranhão, retomou as atividades políticas. Continuou com os escritos inflamados; os opositores acusavam-no de ter “má língua”. Apoiou o conturbado governo de Miguel Ignácio dos Santos Freire e Bruce, o primeiro presidente nomeado pela Coroa brasileira para a província. Criticou D. Pedro I, mas dedicou-lhe um trabalho de quase cem páginas, para subsidiar os Códigos Civil e Criminal que o Brasil precisava elaborar. Elegeu-se deputado para o Conselho Geral da Província e integrou o Conselho Presidial (ou de Governo).
A singular personalidade de Zacheo, sua trajetória de vida e o teor dos escritos que publicou o tornam um objeto de estudo privilegiado. Yuri Costa e Marcelo Cheche Galves, professores da Universidade Estadual do Maranhão, foram extremamente felizes ao escolhê-lo, especialmente porque puderam potencializar o capital cultural acumulado em outras vivências intelectuais. Galves defendeu, em 2010, na Universidade Federal Fluminense, a tese de doutorado em História, intitulada “Ao público sincero e imparcial”: imprensa e independência do Maranhão (1821-1826). E Costa fundamenta-se na dupla formação de historiador e bacharel em Direito.
Os autores foram felizes também na maneira como apresentam os resultados do estudo realizado. Organizaram o livro O Epaminondas Americano em duas partes. Na Parte I – Advogado, Proprietário e Político –, estruturada em quatro capítulos, a proposta é fazer um “recorte biográfico”, entremeado pelas tensões de “ação individual” e “contexto” (p.19). Na Parte II – Documento, nos presenteiam com a reprodução facsimilar de um exemplar existente na Fundação Biblioteca Nacional – Brasil da publicação, que certamente é a mais importante entre as lançadas pelo advogado: Projectos do Novo Código Civil e Criminal no Império do Brasil, oferecidos ao Senhor D. Pedro I, Imperador Constitucional seu Protector e Defensor Perpétuo e ao Soberano Congresso Nacional e Legislador.
Na Introdução, avisam aos leitores que tratarão apenas da atuação pública de Zacheo no Maranhão, principalmente dos dois decênios em que publicou seus trabalhos. Mas fazem bem mais que isso. No primeiro capítulo da Parte I, Um publicista irrequieto, traçam uma narrativa biográfica que informa sobre a família, o local de nascimento e o período em que o biografado esteve em Coimbra; especulam acerca dos significados dos nomes que adotou; delineiam suas múltiplas inserções na vida política da Província e contextualizam as polêmicas em que ele se envolveu e que geraram seus escritos, além de outros aspectos de sua vida pública.
No segundo capítulo, O bacharel e as leis, enveredam pela cultura jurídica luso-brasileira da época. A intenção é situar a produção de Zacheo nos dois processos em que ele foi partícipe: a “modernização da cultura jurídica em Portugal” e a “construção organizacional e legislativa do Brasil independente”. É também buscar entender as “práticas e as representações que se originam no (ou perpassam o) campo jurídico e dão sentido à atuação de profissionais do Direito (p.43)”, em Portugal e no Brasil.
Expõem o teor da reforma acadêmica implantada na Universidade de Coimbra, a partir da década de 1770, e as principais mudanças que a reforma trouxe nas concepções e nas práticas jurídicas na metrópole e em sua possessão na América. Adotam a periodização da História do Direito Português, elaborada por Nuno J. Espinosa Gomes da Silva, que lhes permite situar nosso advogado na transição do período de influência iluminista (que vai da metade do Setecentos à Revolução de 1820) para o período de influência liberal e individualista (dessa revolução liberal ao início do Novecentos). Mostram que Zacheo conviveu com a crítica ao Direito românico e à tradição medieval canônica, com a valorização do Direito nacional (o então chamado Direito pátrio), a formulação do Direito natural moderno e as concepções ilustradas sobre o Estado e o indivíduo. Veem em sua obra diferentes concepções teóricas, fruto da formação acadêmica e das experiências vividas na América Portuguesa. Era, por exemplo, um entusiástico defensor do constitucionalismo, julgando-o perfeitamente conciliável com a monarquia e a escravidão. Entendia que as “boas leis” eram fruto do intelecto humano, e não deveriam servir apenas para nortear as ações dos governantes, mas ser um meio de viabilizar “a distribuição da ‘felicidade’ no corpo social” (p.41). Além disso, seriam boas as leis que tivessem redação clara e simples, de modo a permitir compreensão correta e eficaz execução. E Zacheo procurava seguir esses princípios nas sugestões que enviou a legisladores e governantes.
Os autores entendem que ele, informado e formado nestes e por estes debates intelectuais e jogos políticos, procurou ser um cidadão participante, como jurista, publicista e político, tanto em relação ao Estado português quanto ao Estado brasileiro que via nascer. E historiam suas múltiplas atuações e analisam-lhe as publicações, dialogando com a literatura que trata das ideias presentes nos projetos políticos em discussão no Brasil nas primeiras décadas do Oitocentos.
No terceiro capítulo, Da justiça ou da falta dela, a análise dos escritos e da atuação de Zacheo volta-se mais para as denúncias que ele fez a homens públicos da província do Maranhão. Foi um áspero crítico dos desmandos das autoridades judiciais, acusando-as de negligência, abuso de poder e conluio com os governantes. Fundamentava as acusações com casos vivenciados como advogado no Tribunal da Relação dessa província e chegou a sugerir a extinção não só deste, como dos demais Tribunais da Relação, justificando que desembargadores, corregedores e juízes tinham práticas espúrias.
Mas sua ira não se voltava apenas para os togados. Era vigilante em relação aos jogos políticos e às ações dos ocupantes dos altos cargos do Executivo. Abordando essa faceta do biografado, os autores entram nos meandros da história da imprensa no Maranhão. Como a primeira tipografia da província foi instalada na administração de Pinto da Fonseca e sob os auspícios do governo, por ser desafeto dessa autoridade e crítico de outras pessoas gradas na política local, Zacheo precisou publicar a maior parte de seus primeiros escritos em outros lugares.
Esse capítulo analisa também as posições do advogado acerca do sistema escravista, criando a ocasião para Costa e Galves entrarem nos debates que tratam da história das ideias sobre a escravidão. Mostram que Zacheo, como muitos outros declarados adeptos do liberalismo àquela época, não via qualquer possibilidade de “grandeza” e “opulência” para o Brasil sem o recurso do braço escravo. A familiaridade dele com a obra de Antonil é notada não apenas na utilização desses dois termos; revela-se ainda na metáfora consagrada pelo padre de serem os escravos os “braços” e “pernas” de quem almejasse ser proprietário por essas terras. Assim, não propunha o fim da escravidão nem do tráfico humano transatlântico. Julgava que o constitucionalismo monárquico não era afetado pela existência de escravos, pois estes eram naturalmente inclinados ao cativeiro. Aliava este argumento – baseado na concepção milenar da “servidão natural”, que subordina alguns povos e/ou pessoas – a outros com base religiosa e racionalista. Desse modo, a inferioridade e a preguiça que atribue serem inatas aos “negros” e “índios” não resultariam apenas da vontade divina. Deus criara todos com o livre arbítrio de “obrar ou não obrar”. Foram eles que decidiram não trabalhar e permanecer na ociosidade e na libertinagem (p.98). No “estado natural” em que se encontravam, tornavam-se “cidadãos impossíveis”.
O quarto capítulo da Parte I, A adaptação aos novos tempos: o Zacheo “brasileiro”, aborda a inserção dele na política, após o retorno de Portugal, quando o Maranhão já fazia parte oficialmente do Império do Brasil. Os autores especulam sobre as razões que o teriam levado a optar pela volta.
Em tal decisão, talvez tenham pesado, de um lado, a guinada absolutista da política portuguesa; e de outro, a perspectiva constitucional brasileira, corporificada pela reunião de uma Assembleia Constituinte. Porém, não é possível ignorar outras razões, como os vínculos familiares que criou na província, o patrimônio que acumulou e a legitimidade que conquistou, como fatores de seu regresso (p102).
Seguindo indícios encontrados em escritos de Zacheo e de outros publicistas da época, consideram que ele integrava e (ou) apoiava o grupo político que subiu ao poder na Província, com o presidente Miguel Ignácio dos Santos Freire e Bruce (1824-1825), após a adesão à Independência. O curto governo de Bruce foi bastante tumultuado. Por mais de uma vez os opositores tentaram derrubá-lo; houve repetidas sublevações da “tropa” e do “povo”; além de ter sido acusado de apoiar a Confederação do Equador. Acusação que recaiu também sobre nosso advogado, que conta em um de seus escritos ter sido preso em São Luís, no ano de 1824, possivelmente num dos motins contra esse governo.
Nesse capítulo o foco é no Zacheo que jurou a independência do Brasil e participou das tramas políticas em momentos de fortes manifestações de antilusitanismo na Província, quando a expulsão de portugueses constava da pauta das reivindicações dos movimentos populares. Inclusive, ele integrava o Conselho Presidial da Província, quando houve a Setembrada (em 1831) e participou das deliberações sobre as principais exigências dos rebelados: “expulsão dos postos militares dos ‘brasileiros por Constituição’; expulsão dos ‘brasileiros adotivos’ de todos os empregos civis, de Fazenda e Justiça […]“ (p.111).
Por fim, à guisa de introdução da Parte II, no texto Os Projetos de Zacheo e seu tempo, os autores fazem ainda uma análise do documento reproduzido, cotejando-o com outros projetos que lhe foram contemporâneos, à luz da discussão historiográfica sobre os assuntos abordados.
O Epaminondas Americano insere-se, portanto, na profícua produção acerca do processo de independência, da construção do Estado e formação da nação brasileira. Embora essas temáticas possuam lugar cativo nos clássicos da História do Brasil, nas últimas décadas foram retomadas com renovado interesse, devido ao fortalecimento da “nova história política” e à diversificação das abordagens no campo histórico. O vigor dos debates pode ser visualizado nos balanços historiográficos sobre a produção clássica e a recente, bem como na grande quantidade de novos títulos publicados, entre os quais este livro vem ocupar importante lugar.
Regina Helena Martins de Faria – Mestre e doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco (CFCH/UFPE – Recife/Brasil), e professora no Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Maranhão (CCH/UFMA – São Luis/Brasil). E-mail: rhfaria@yahoo.com.br
COSTA, Yuri; GALVES, Marcelo Cheche. O Epaminondas Americano: trajetórias de um advogado português na Província do Maranhão. São Luís: Café & Lápis / Editora UEMA, 2011. Resenha de: FARIA, Regina Helena Martins de. Almanack, Guarulhos, n.2, p. 151-155, jul./dez., 2011.
Pueblos y Soberanía en la Revolución Artiguista. La región de Santo Domingo Soriano desde fines de la colonia a la ocupación portuguesa | Ana Frega
Ana Frega Novales é docente e historiadora na Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Universidad de La República de Montevidéu, onde é Profesora Titular y Directora del Departamento de Historia del Uruguay.
A Introducción (p.11) adianta que o principal objetivo do trabalho é superar as visões que prefiguram o Estado Oriental e Artigas como seu “herói fundador”. Observa a importância de autores como Barrán, que destacou o encobrimento do protagonismo popular de Artigas, de Chiaramonte e sua ênfase nas províncias como unidades políticas do século XIX, além das pesquisas de Gelman sobre a demografia da Banda Oriental. Ana Frega apresenta as partes do livro numa ordem cronológica: a conformação da região de Santo Domingo Soriano no antigo Vice-Reino do Rio da Prata; a constituição da Província Oriental desde a perspectiva de Soriano durante a Revolução (1810-1820); e a dominação portuguesa, desde 1818 no caso de Soriano.
A Primeira Parte, Una región de la Banda Oriental a comienzos del siglo XIX, é formada por dois capítulos. O Capítulo 1 (p.19), Características de la región de Santo Domingo Soriano, trata da formação deste espaço nas disputas fronteiriças entre Espanha e Portugal. O subcapítulo 1 (p.23), El espacio geográfico y La evolución de La población, destaca o papel estratégico de Santo Domingo Soriano, nas margens do Rio Negro, sua centralidade em relação às localidades de Mercedes e San Salvador, e sua influência até o Paysandú, ao norte. No sub-capítulo 2 (p.31), Explotación y apropriación de los recursos naturales, aborda a evolução de Soriano de redução de indígenas na colônia, para incorporar-se à extração florestal e, posteriormente, à pecuária depois. Aqui aparece a “insegurança na campanha”, ameaçada pelos “infiéis” e desertores.
O Capítulo 2 (p.53), La crisis metropolitana y los poderes locales, tem três sub-capítulos. No primeiro (p.54), El cabildo como fortaleza de los poderes locales, historia a importância desta instituição desde a colônia, não apenas no controle das riquezas, como também no enfrentamento com os comandos centrais, usando exemplos concretos. O subcapítulo 2 (p.64), Conflictos jurisdicionales de Santo Domingo Soriano con Capilla Nueva de Mercedes y Paysandú, trata das disputas provocadas pela política expansiva de Soriano. Na medida em que cresciam os núcleos de povoação, eles tendiam a enfrentar-se na obtenção de privilégios. No subcapítulo 3 (p.70), La desestructuración del régimen colonial, é enfatizada a colaboração de Soriano com Buenos Aires nas invasões inglesas de 1807, o como isto influiu na disputa entre os defensores do livre comércio com os monopolistas.
A Segunda Parte, La constitución de la Provincia Oriental en el marco de la Revolución, 1810-1820, é formada por três capítulos. O Capítulo 3 (p.83) Guerra y Revolución en Soriano, 1810-1812, aborda a presença em Soriano de forças realistas, patriotas e até luso-brasileiras, bem como requisições, saques e levas de soldados. No subcapítulo 1 (p.88), La crisis revolucionaria desde una perspectiva local, mostra a submissão de Soriano ao governo realista de Montevidéu, e como os notáveis procuraram regularizar a apropriação da terra. Mas foram as milícias formadas localmente que garantiram a sublevação dos “pueblos orientales”.
O subcapítulo 2 (p.107), El “ejército nuevo”, inicia com a arrancada da insurreição em Mercedes (28/2/1811), o famoso “Grito de Asencio”, nome de um arroio que banhava a povoação. Artigas dirige suas atenções para Mercedes no início de abril de 1811. Havia ainda a questão do abastecimento, vestuário, armas, munições, erva-mate e tabaco. A mobilização das massas preocupava as autoridades portenhas, para quem as “gentes de Artigas” ou “Montoneras” tinham pouca noção de autoridade. Esta condição de “libres” criava sentidos de “pátria” e de “nação” desvinculados do território, mas associados a governos e leis novas para a plebe do campo.
O subcapítulo 3 (p.127), Existir y resistir durante la Revolución, mostra Soriano como um lugar estratégico que era objeto das diversas facções combatentes. Na luta, as milícias populares criaram uma nova “cotidianidad”, onde a questão da propriedade trazia expressões e conflitos sociais novos que solapavam as hierarquias. A mobilização criava uma identidade “americana”, em equivalência à de “oriental”.
No subcapítulo 4 (p.141), Identidades en Soriano en los comienzos de la Revolución, Ana Frega aborda a guerra depois do armisticio entre autoridades de Montevidéu e Buenos Aires. A presença luso-brasileira na Província Oriental tornava óbvio o caráter “estrangeiro” do acordo, e a luta por “independência” oporia os “orientais” à fidelidade que Buenos Aires tinha a Fernando VII. Assim, no chamado “Êxodo do Povo Oriental”, quando as massas rurais seguiram Artigas na sua retirada para Entre Rios, afastamento das decisões do Triunvirato de Buenos Aires tornava os “orientais” um “pueblo en armas” a um passo da ruptura social, que transcendia a disputa entre diferentes grupos.
O Capítulo 4 (p.167), Lecturas locales de la “soberanía particular de los pueblos”, tem como um de seus eixos as pesquisas de Chiaramonte, especialmente no que diz respeito às “províncias” na crise revolucionária, às quais ele atribuiu o caráter de “soberanías independientes”. Aqui, Ana Frega propõe examinar a formação da Província Oriental a partir do “pueblo libre” de Soriano.
No subcapítulo 1 (p.174) Una aproximación a la noción de “soberanía particular de los pueblos”, a autora inicia pela concepção de soberania a partir de vários filósofos da Ilustração, como a legitimidade – associada ao uso da força – garantida pelo “Direito Natural das Gentes”. Tais ideias circularam pela Província Oriental através de letrados, clérigos, militares, pela edição de folhas soltas, gazetas ou manuscritos; elas formaram as bases tanto para aprofundar a participação popular, quanto para freá-la. Além disto, tinha havido um antecedente significativo no cenário platino que antecedeu a Revolução durante as invasões inglesas, na formação das milícias locais.
O subcapítulo 2 (p.194), Una provincia compuesta de “pueblos libres” trata da grande novidade na ideia de soberania, predicando que o novo Estado independente da metrópole se estabelecesse desde a base, os “pueblos libres”, e esta seria a proposta dos “orientais” para a Asamblea General Constituyente (ou Asamblea del “Año Trece”). Para Artigas este encontro teria que garantir a representação e liberdade de todos “pueblos”, vilas e cidades, raízes de independência, república, confederação, separação dos poderes, liberdade civil e religiosa, a constituição da Província Oriental em território próprio, e a exigência de que Buenos Aires não fosse a capital.
No subcapítulo 3, Entre La unión y La unidad: intereses sociales y alianzas políticas (p.214), Ana Frega afirma, de início, que o artiguismo impulsionou a “soberanía particular de los pueblos” como o verdadeiro dogma e o objeto principal da Revolução, o que contrariava a concepção de uma soberania da nação que se procurava criar, subordinada às decisões do Triunvirato de Buenos Aires. Marcava-se a radicalização das diferenças entre a Província Oriental e as Províncias Unidas do Rio da Prata.
O subcapítulo 4, Los cabildos en la construcción de un gobierno provincial (p.226), trata da participação dos “pueblos”, caso de Santo Domingo Soriano, na organização da Província Oriental. Em 1815, acentuava-se a tensão entre a proposta de Artigas e o cabildo de Montevidéu em relação à eleição de representantes dos “pueblos”, já que agora, os cabildos, além das funções judiciais e municipais, exerciam funções legislativas. Na reinstalação dos cabildos em 1816 repousava a “soberanía particular de los pueblos”, com eleições populares incorporando as variadas povoações e jurisdições. Estas mudanças não foram aceitas em várias partes. Soriano, por exemplo, procurou beneficiar os “títulos primordiais”. As exigências de mais sacrifícios em função da guerra provocavam reclamações do “vecindario”, mostrando que as relações tensas destes com Artigas eram atravessadas por conflitos sociais anteriores, como as referências novamente a “vagos” e “malentretenidos” para os milicianos artiguistas.
O capítulo 5 (p.259), Identidades y poderes en la etapa radical de la Revolución. Una mirada desde Santo Domingo Soriano, acentua no sub-capitulo 1 (p.267), Una aproximación a la etapa radical de la revolución, que as etapas radicais dos processos revolucionários se deram quando ocorreu a busca por igualitarismo, também em relação aos direitos de propriedade. Durante a Revolução circularam as ideias de Tom Paine: em “Justiça Agrária”, ele defendia os princípios de igualdade e propriedade comum da terra aos homens. Também a experiência jacobina francesa criticando o direito à propriedade privada da Declaração Universal de 1789 era trazida à baila: Robespierre, baseado em Rousseau, afirmava que a liberdade era um “direito natural”, enquanto a propriedade era uma instituição da sociedade. Também alguns “curas patriotas”, como Montessoro, teriam influenciado o Reglamento de Artigas.
O subcapítulo 2 (p.283), Los conflictos por la propiedad y la justicia revolucionaria, aprofunda muito as propostas constantes na Memoria de Félix de Azara de 1810, porque propõe o confisco e distribuição de terras dos melhores campos da Província Oriental, não apenas os da região fronteiriça. Além disto, o privilégio dado a “los más infelices” pelo Reglamento de Artigas, se configurava como uma peça chave na “pedagogia revolucionária”, se estendendo a todas as províncias da liga artiguista. A seguir a autora trata de Soriano, exemplificando reações distintas ao programa agrário.
No subcapítulo 3 (p.312), Construcción de identidades en el proceso de la lucha, Ana Frega discorre sobre as relações sociais que se desenvolveram entre os participantes da Revolução, e de como esta experiência coletiva transcendeu àqueles laços anteriores de família, compadrio ou mesmo amizade. Neste sentido, foi gerada uma identidade destes setores populares com Artigas, em contrapartida a um desencanto com as novas autoridades que se impunham desde Buenos Aires e aliados. Assim, a expressão “Oriental” passou a ser muito mais que um lugar, passando a significar uma ativa atuação política, justificando o título dado a Artigas de “Jefe de los Orientales”, assim como Revolução viria a ser chamada de “tiempo de los orientales”.
A Terceira Parte, La ocupación portuguesa, é formada apenas pelo Capítulo 6 (p. 329), La “soberanía particular de los pueblos” en el “Estado Cisplatino, 1818-1822, sempre com referência empírica a Santo Domingo Soriano. O sub-capítulo 1, Soriano ante la invasión luso-brasileña, trata da legitimação que buscava a Coroa portuguesa para interferir nas questões da Província Oriental. O propósito de liquidar com a “anarquia” representada por Artigas, tinha também a intenção de atrair apoios desde as Províncias Unidas e mesmo de orientais já temerosos dos rumos que tomava o artiguismo. A convocação dos paisanos à resistência não impediu que a Província Oriental fosse sendo ocupada, e Soriano caiu em 1818.
No subcapítulo 2 (p.336), Espacios de resistencia y negociación de los poderes locales, Ana Frega mostra como se acentuou o processo de formação de um “estado provincial” na Banda Oriental, fortemente centralizado em Montevidéu, ocupada desde o início de 1817. Nos antigos “pueblos libres”, como Soriano, Mercedes e San Salvador, foram instaladas autoridades locais, os alcaldes. No Congreso General Extraordinario convocado em 1821, compareceram representantes de todas as povoações, evitando as reuniões e comícios populares do artiguismo. Reconstituía-se o “verdadeiro corpo político”, usando os cabildos para resolver os danos da Revolução. Além dos conflitos pela terra, entre latifundiários e os beneficiários do Reglamento, havia a questão dos luso-brasileiros que se aboletavam nas suas terras.
O subcapítulo 3 (p.354), Identidades luso-brasileñas en territorio oriental, salienta as relações que existiam desde muito tempo entre populações fronteiriças, e que muitas vezes se colocavam acima das questões políticas. Desta forma, os conflitos se deveram muito mais a razões de Estado, antes e depois do processo de independência. Uma expressão disto era a presença em Santo Domingo Soriano de um terço de sobrenomes portugueses na população.
Em Síntesis y conclusiones (p.363), a autora recupera o propósito do trabalho em examinar a Revolução de Artigas em três escalas: uma “micro”, em Santo Domingo Soriano; uma “média”, referida à Província Oriental; e uma “macro”, considerando o espaço do antigo Vice-Reino do Rio da Prata. A pesquisa foi focada na “soberanía de los pueblos”, investigando seu papel para a legitimidade que esta autonomia conferia ao processo de independência. A reconstituição de um espaço regional como Soriano mostrou uma complexa trama de alianças, direitos e hierarquias sociais, que encobriam uma longa história de resistência. Portanto, a “soberanía particular de los pueblos” significou um projeto igualitário que se reportava a antigos direitos reclamados pelas camadas populares.
O livro de Ana Frega se constitui, assim, numa sofisticada obra que alia a cuidadosa investigação empírica a um avanço interpretativo em relação às produções anteriores sobre o radicalismo do Projeto de Artigas. Lucía Sala e seu grupo determinaram o caráter social do artiguismo, centrando-se na questão da apropriação da terra e sua redistribuição aos trabalhadores rurais. Barrán e Nahum acentuaram o papel de Artigas como representante de um movimento social que ia muito além da busca de uma mera autonomia provincial, encoberta pela ideia do “herói fundador”. O livro Pueblos y Soberanía en la Revolución Artiguista, da forma como foi concebido e realizado, a partir do “pueblo” de Soriano traz, à tona a construção de uma cidadania a partir de uma proposta revolucionaria que, de baixo para cima, pretendia uma nação que, além de contrariar os interesses centralizadores do grupo exportador de Buenos Aires, comprometia a organização do latifúndio pecuário. Mais que autonomia e federalismo, Artigas trazia a ameaça da insurreição popular.
Cesar Augusto Barcellos Guazzelli – Doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (CFCH/UFRJ – Rio de Janeiro/Brasil) e Professor Associado no Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IFCH/UFRGS – Porto Alegre/Brasil). E-mail: cguazza@terra.com.br
FREGA, Ana. Pueblos y Soberanía en la Revolución Artiguista. La región de Santo Domingo Soriano desde fines de la colonia a la ocupación portuguesa. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2007. Resenha de: GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos. Soriano, Província Oriental: Revolução Artiguista revisitada. Almanack, Guarulhos, n.2, p. 156-159, jul./dez., 2011.
Portugal em transe. Transnacionalização das religiões afro-brasileiras: conversão e performance – PORDEUS JÚNIOR (VH)
PORDEUS JR. Ismael de A. Portugal em transe. Transnacionalização das religiões afro-brasileiras: conversão e performance. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2009, 168 p. Resenha de: SANTOS, Milton Silva dos. Varia História. Belo Horizonte, v. 27, no. 46, Jul. /Dez. 2011.
Os portugueses, assim como os brasileiros, estão familiarizados desde antanho com rezas, mezinhas, bruxedos, simpatias, previsões, promessas, ex-votos e toda sorte de amuletos capazes, creem muitos, de afastar malefícios e infortúnios. Isto bastaria para evitar o assombro a quem recebesse a inédita notícia de que na terra de Camões também há diversos terreiros (ou “macumbas”, diriam outros sem pudor) frequentados por lusitanos em busca de auxílio espiritual e alívio dos estados de aflição causados pela modernidade secular. Este é o cenário de Portugal em transe, livro publicado por Ismael Pordeus Jr., professor titular aposentado da Universidade Federal do Ceará e autor dedicado, há mais de quinze anos, ao estudo da expansão transnacional dos cultos afro-brasileiros nos países da Europa e, principalmente, em Portugal, “onde esse fenômeno encontra-se intrinsecamente relacionado [num primeiro momento histórico] com a migração, sobretudo a migração feminina portuguesa” (p. 9).
Desde então os lusitanos têm multiplicado o número de terreiros onde é possível vivenciar experiências antes desconhecidas, como, por exemplo, a “técnica do transe” mediúnico e suas variadas performances nos cultos afro-brasileiros transnacionalizados para Portugal. Daí o título do livro, que também pode remeter-nos à adoção de formas culturais em “mouvance“, de religiões que pululam na modernidade contemporânea, movimentando e instalando-se em diferentes países. Isso vem ocasionando não só a recomposição do campo religioso português, como também o solapamento do catolicismo, que agora divide espaço com outras orientações religiosas, incluindo as redes neopentecostais brasileiras também de olho nas aflições alheias.
Baseado numa etnografia híbrida e dialógica (Mikhail Bakhtin e Hommi Bhabha), na interpretação e não na explicação (James Clifford) e no intercâmbio entre observador e observado (Vincent Crapanzano), Pordeus Jr. abre espaço aos discursos dos próprios convertidos1 e procura encontrar, nas histórias de vida e nos relatos de conversão, o motivo para a adoção de uma religião oriunda de outro país. Seu universo de pesquisa é composto por aproximadamente vinte terreiros, percorridos ao longo de várias estadias entre os portugueses; a última delas, ocorrida entre 2005 e 2007, originou a publicação ora apresentada. A fim de analisar as formas de atuação religiosa dos novos convertidos, ele evoca Victor Turner e propõe duas categorias, que podemos chamar de descritivas e analíticas. A primeira delas é a performance do tipo “communitas” que resulta em comunidades de adeptos dispostos a receber e a incorporar “um sistema de significados” e “a construir e disciplinar uma identidade comunitária dentro dos valores” peculiares aos cultos luso-afro-brasileiros (p. 27). A segunda é a performance “anticommunitas“, estritamente mágico-religiosa e individual, dos pais e mães-de-santo portugueses e brasileiros que vão a Portugal, por curta temporada, veicular seus serviços especializados em jornais locais e atender suas clientelas nas casas de parentes consanguíneos e/ou religiosos, bem como em espaços alugados para consulta espiritual. Ao contrário da primeira, a segunda categoria não cria comunidades religiosas baseadas em laços sociorreligiosos.
A partir desse quadro teórico-metodológico delineado no capítulo um (e retomado no final do segundo) é possível acompanhar os depoimentos, identificando neles as performances “de todos aqueles que dizem e fazem as religiões luso-afro-brasileiras em Portugal” (p. 15). Dentre esses performers encontram-se Fernanda e Georgete, as “irmãs precursoras” da “nova religião”, e Mãe Virgínia Albuquerque, que fundou a primeira “casa luso-afro-brasileira com certeza”2 em 1974, ano em que a “Revolução dos Cravos” pôs fim à ditadura de Marcello Caetano, sucessor de Salazar. Essas três mulheres emigraram para o Brasil em meados de 1950, mas retornaram para Lisboa, duas décadas depois levando, na bagagem, a umbanda, “uma religião brasileira”.3 Seus relatos de conversão, assim como os depoimentos de suas filhas-de-santo portuguesas, são muito semelhantes. Através de parentes, amigos, anúncios de jornal, etc., elas acorreram aos terreiros a fim de solucionar problemas familiares, espirituais ou “dificuldades de saúde em consequência dos guias” (p. 33).
Além dessas sacerdotisas pioneiras, existem outros pais e mães-de-santo que atuam “além de Lisboa”, ou seja, em Sintra, Mafra, Cadaval, Coimbra, Porto e noutras cidades. Seus depoimentos reunidos nos capítulos três e quatro evidenciam, pode-se dizer, a segunda fase de expansão dos cultos luso-afro-brasileiros, que ocorreu, mais intensamente, na última década do século passado, período no qual alguns brasileiros desembarcaram em Portugal e lá se instalaram como sacerdotes. Dentre os brasileiros ouvidos por Pordeus Jr. estão o cearense Pai Cláudio – “Terreiro de Umbanda Caboclo Nharauê”, fundado em 2002 -, que se diz responsável por uma “rede” de três terreiros, sessenta médiuns e cerca de “200 filhos e filhas de fé” (p. 73); o pernambucano Pai Arnaldo, que viveu em Madrid (Espanha), onde dirigia um terreiro de candomblé e jurema, antes de migrar e fundar um novo terreiro na cidade portuguesa de Cadaval; o “juremeiro” Josenildo, também natural de Pernambuco, amigo e auxiliar de Pai Arnaldo; e a Mãe Virgínia de Mafra, natural do Espírito Santo, a única mãe-de-santo de nacionalidade brasileira encontrada pelo autor, dirigente da “Casa de Caridade Maria de Nazaré”, inaugurada em 2007. Outros terreiros também foram fundados na mesma década em que Portugal promulgou, em 2001, a Lei de Liberdade Religiosa.
Se os processos de transnacionalização afro-religiosa comportam “a criação e não simplesmente a repetição” (p. 141), no penúltimo capítulo da obra é possível conhecer a primeira “entidade genuinamente portuguesa”, o Marinheiro Agostinho, um marujo nascido numa localidade perto de Peniche, uma tradicional região de pesca portuguesa. Incorporado numa sessão dirigida por Pai Cláudio, performance cambaleante e típica de alguém não habituado à terra firme, Agostinho narra sua biografia de pescador e fala de suas viagens pelo Brasil durante uma longa “entrevista (…) entrecortada de risos” (p. 144). Diz que nasceu em 1874 e que morreu no mar, naufragado no álcool. Aliás, a bagaceira, “líquido de ouro”, do lado de lá, e a cachaça, o rum ou a cerveja, do lado de cá, são bebidas rituais sem as quais a “linha” da marujada ébria não trabalha. Antes de “subir” ou morrer, Marinheiro Agostinho já havia conhecido o catimbó (culto afro-ameríndio) em Sergipe e a umbanda, tendo sido doutrinado para “trabalhar no astral” (p. 144).
Tal criatividade pode provocar a ampliação e a reordenação do panteão de entidades cultuadas cujos perfis imitam ou se aproximam dos perfis sociais de alguns personagens e tipos populares e regionais, como o marujo Agostinho. Certas ressemantizações ou adaptações estimulam a aceitação das religiões afro-americanas em países cujas populações reconhecem nos guias e orixás os atributos associados aos santos da Igreja. Esse é um dos caminhos para se compreender a adesão transnacional aos cultos afro-brasileiros, conforme revela Pordeus Jr. no conclusivo capítulo sete.
Graças às pistas que abre, é inevitável sair deste “ensaio”, conforme define seu autor, sem interrogações. A propósito, convém perguntar: em razão das disputas por espaço e reconhecimento na esfera pública, as performances “communitas” dos pais e mães-de-santo portugueses vêm originando laços de solidariedade extrarreligiosa entre os seguidores e as casas de culto? Como os peregrinos-convertidos interpretam o processo de conversão? Se sentem abrasileirados e/ou africanizados pela fé? Será que estão adotando as novas religiões e descartando as identidades religiosas herdadas através das gerações? Ou se posicionam como dúplices religiosos, isto é, indivíduos que optam pelo continuum, conjugando, na vida cotidiana, as cerimônias católicas e os ritos de terreiro?
Se considerarmos especialmente o quinto capítulo onde o autor descreve as “interritualidades” da “linha das capelas”4 e do rito do “lava-pés”,5 podemos concluir que os portugueses em transe estão compatibilizando, aqui e ali, diferentes sistemas de crenças cada vez mais procurados e acessíveis no luso mercado de bens mágico-religiosos.
Em se tratando de acessibilidade, no caso desta edição – de fácil leitura e atraente tanto para especialistas em história, antropologia e ciências da religião quanto para os demais leitores interessados nos trânsitos religiosos entre Brasil e Portugal – há um glossário de termos religiosos, entre os quais a curiosa e lusitana expressão “bruxedo da intrusa”. A edição ficaria ainda mais interessante se reunisse imagens do trabalho de campo, ou melhor, dos terreiros visitados, das cerimônias públicas observadas, etc., e dos adeptos-narradores para os quais a obra foi dedicada.
1 Cit. HERVIEU-LÉGER, Danielle. A religião despedaçada: reflexões prévias sobre a modernidade religiosa. In: O peregrino e o convertido: a religião em movimento. Petrópolis: Vozes, 2008, p.31-56. Pordeus Jr. baseia-se em dois modelos descritivos ideais, a saber: o peregrino, que trilha um caminho espiritual individual, e o convertido, que escolhe a sua própria família e pertença religiosas. Em se tratando das religiões luso-afro-brasileiras, ele funde os dois modelos e propõe um terceiro, o do peregrino-convertido. Este, vindo “de outras práticas religiosas, passa por experiências em outros credos, deambula no campo religioso e converte-se a uma religião onde encontraria uma resposta para os seus problemas”. HERVIEU-LÉGER, Danielle. A religião despedaçada: reflexões prévias sobre a modernidade religiosa, p.68.
2 PORDEUS Jr., Ismael. Uma casa luso-afro-brasileira com certeza: emigrações e metamorfoses da umbanda em Portugal. São Paulo: Terceira Margem, 2000.
3 CONCONE, Maria Helena Vilas Boas. Umbanda: uma religião brasileira. São Paulo: FFLCH/USP, CER, 1987.
4 Pessoas que trabalham em capelas de Lisboa, realizando também trabalhos de umbanda.
5 Rito realizado por Mãe Virgínia Albuquerque numa Sexta-Feira Santa. O mesmo está relacionado à Última Ceia, momento em que Cristo lava os pés dos Apóstolos. Na umbanda lisboeta de Mãe Virgínia é o preto velho, espírito tido como humilde e caridoso, quem “lava cada pé da pessoa, enxuga-o e faz uma cruz na parte de cima do pé com pemba” (p. 110).
Milton Silva dos Santos – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP. Rua Cora Coralina, s/nº, Campinas. São Paulo. 13083-896. miltonrpc@gmail.com.
Salazar: uma biografia política – MENESES (Tempo)
MENESES, Filipe Ribeiro de. Salazar: uma biografia política. 3. ed. Lisboa: D. Quixote, 2010. Resenha de: MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. A monografia de um tempo português. Tempo v.17 no.31 Niterói 2011.
Em 2007, a RTP (Rádio e Televisão de Portugal) promoveu um concurso intitulado “Os Grandes Portugueses”, a fim de escolher o nome mais representativo de sua história. Concorrendo com personagens da grandeza de Camões, Vasco da Gama e Fernando Pessoa, entre outros, o ditador do Estado Novo Oliveira Salazar saiu vencedor com pouco mais de 40% dos votos.12
A despeito de sua “representatividade”, Salazar ainda não havia sido objeto de um trabalho acadêmico rigoroso. A lacuna foi, entretanto, preenchida com a chegada do estudo de Filipe Ribeiro de Meneses.
Publicada originalmente para um público não português, a obra consiste em um aprofundado estudo que integra as vidas pessoal e pública de um professor de Economia, católico e solteirão que incorporou para si a tarefa de fazer os portugueses viverem habitualmente, conforme disse ao pensador católico francês Henri Massis. O viver projetado por Salazar consistia em uma ditadura alheia às aventuras revolucionárias dos fascismos clássicos alemão e italiano ou mesmo do militarismo de pendor cesarista de seu vizinho espanhol. Filipe de Meneses consegue perceber os importantes traços de continuidade entre o filho de Santa Comba Dão, o ex-seminarista que, quando ingressou como professor da Universidade de Coimbra, apresentou uma tese defensora da pequena propriedade agrícola, e o chefe de governo que nunca deixou de afirmar a superioridade do campo sobre a cidade, esta lugar dos “vícios dissolventes” da tradição portuguesa.
Filho caçula de uma família pobre, com quatro irmãs, Salazar estudou no seminário de Viseu. Destacado aluno, ingressou na Universidade de Coimbra, onde se formou em 1911. Dessa época o livro aponta para relações de amizade que permaneceram ao longo de toda a vida do futuro ditador, como Mário de Figueiredo e Manuel Gonçalves Cerejeira, o futuro patriarca da Igreja Católica em Portugal.
Militante na Universidade do Centro Católico, Salazar foi sempre fiel aos valores legados de um pensamento social católico que tem na Encíclica Rerum Novarum a sua principal referência. Foi, por isso, um forte opositor tanto do liberalismo e da democracia parlamentar quanto do comunismo e dos movimentos socialistas. Seu projeto político-ideológico sempre foi a constituição, em Portugal, de um regime centralizado e fiel às tradições que, a seu ver, marcam a formação portuguesa: um catolicismo marcado por uma forte vocação messiânica, cruzadista e expansionista.
O livro é rico em exemplos que demonstram a capacidade de Salazar em mediar com interesses conflitantes no seio do regime autoritário. Como ministro das Finanças, arquitetou a transição de uma ditadura militar para uma ditadura civil e corporativa sob o seu controle. Mantendo sempre um militar na presidência, não deixou de acalentar as esperanças dos monarquistas ávidos pela mudança do regime. Na montagem do governo, incorporou à sua máquina republicanos conservadores, católicos e até mesmo militantes do integralismo lusitano, a versão portuguesa do fascismo. Nesse caso, sobretudo, trouxe para a esfera da administração jovens universitários que, em breve tempo, teriam espaço e importância crescente no regime, como Pedro Teotónio Pereira e Marcello Caetano. Ciente do complexo leque de alianças que o apoiava, Salazar dissolveu o Centro Católico e criou um partido único, um “não partido”, de acordo com suas palavras, a União Nacional. A constituição aprovada em 1933, corporativa e autoritária, manteve, entretanto, um verniz liberal quer na permanência de uma Câmara, aliás duas, se contarmos a Câmara Corporativa, quer na eleição, por sufrágio universal, do presidente da República.
Apesar da preocupação em analisar a vida privada de Salazar, o livro cresce nos momentos em que relata as crises vividas pelo Estado Novo português e as medidas tomadas por Salazar. Como durante a Segunda Guerra Mundial, quando a incerteza a respeito da continuidade do Estado Novo era motivo de euforia para seus opositores e preocupação para seus adeptos. Naquela conjuntura, Salazar adotou uma política de neutralidade, ao mesmo tempo em que envidava todos os esforços para impedir que a vizinha Espanha aderisse ao conflito. Neutralidade que, entretanto, não impediu a cessão para os Aliados da Base Militar dos Açores. A estratégia do ditador garantiu a entrada imediata de Portugal na OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e a continuidade do regime no pós-guerra. No final da década de 1950, novo período de instabilidade, com a campanha à presidência da República de Humberto Delgado. Uma campanha de massas, “à americana”, estranha e incômoda ao regime. Também na década de 1950, Salazar se viu obrigado a mediar as disputas entre setores “conservadores”, sob a liderança de Santos Costa, e “modernos”, capitaneados por Marcello Caetano.
Mas foi na década de 1960 que o “caldo” começou de fato a entornar. Os estudantes saíam às ruas e misturavam reivindicações tanto acadêmicas como políticas. Nas relações diplomáticas, a Europa tornava-se um parceiro cada vez mais constante, relativizando a natureza atlântica, tão cara aos adeptos do Estado Novo. Mas, sobretudo na África, os movimentos de libertação começavam, em 1961, a defender a ruptura com a antiga metrópole. Apesar de tentativas de mediação por parte das diplomacias americana, brasileira, espanhola ou mesmo do Vaticano, Salazar recusava-se a ceder ou mesmo negociar. “Estamos cada vez mais orgulhosamente sós”, foi o que disse em resposta às insistentes pressões internacionais. Em 1968, ano em que sofre o acidente caseiro que o impossibilita de continuar a governar, a guerra colonial já não tinha retorno. Com ela, o país vê seus braços partirem. Para o ultramar alguns. Para a França ou para o Brasil outros. Que se a participar de um conflito que não compreendiam e não aceitavam, pelo menos não a ponto de se alistarem na tropa. Um paradoxo: o ditador recusava-se a mover qualquer palha em um país que já não vivia mais “habitualmente”. Essa última década de vida política de Salazar foi também a que sofreu mais questionamentos, inclusive internos. A recusa de ceder no caso africano reproduzia-se também na relação com o poder. Cedê-lo pressupunha a possibilidade de ser criticado por sucessores. Nesse caso, a aparência franciscana podia também ser confundida com arrogância e alhea-mento para com os outros.
Disse Gramsci que a trajetória de um homem pode ser a monografia de seu tempo. O livro de Filipe Ribeiro de Meneses, sólido, erudito, bem-documentado, é uma referência obrigatória para o entendimento da recente história portuguesa.
Francisco Carlos Palomanes Martinho – Professor do Departamento de História da USP e pesquisador do CNPq.
MENDONÇA, Sonia Regina de. O Patronato Rural no Brasil Recente (1964-1993). Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2010. Resenha de: MOTTA, Márcia. Uma zona de sombra: o rural de nossos dias. Tempo v.16 no.30 Niterói 2011.
Uma zona de sombra da historiografia. É com estas palavras que a historiadora Sonia Mendonça apresenta o tema de sua trajetória acadêmica, mais uma vez registrada em livro. Ao perseguir as relações intraclasse dominante agrária, Mendonça discute em “O Patronato Rural“, como se estabelecem as relações e os fortes interesses dos grandes proprietários rurais no interior das agências estatais, entre os anos de 1964 a 1993.
O objeto de pesquisa por si só não é dos melhores, se entendemos uma obra a partir do registro de um passado festivo, cheio de glórias e comemorações.
O tema é feio e seus efeitos são ainda piores, mas eles fazem parte do lado obscuro de nossa história, ainda tão presente e tão pouco estudado. Como fantasmas, seus efeitos perseguem alguns poucos historiadores, suficientemente preparados para desvendá-los por detrás dos véus.
Na contracorrente de uma história bonita, Mendonça dilacera nossas visões mais otimistas e demonstra que estamos ainda longe de um país mais generoso para com os seus. Ao perseguir e esquadrinhar os sentidos das “modernizações”, a autora nos revela as estratégias utilizadas pelos terratenentes para chamar de nossos os seus interesses.
O livro exige leitura atenta, cuidadosa, já que a rigor o leitor mais desavisado, há de ter alguma dificuldade para acompanhar as principais ilações ali registradas. Para os mais interessados, asseguro: o esforço vale a pena. O próprio estilo da autora expressa uma resistência, contra as leituras prazerosas e superficiais de nossos dias. O leitor não estará lendo um resumo dos argumentos da imprensa diária, sempre pronta a falar sobre o que não sabe e a construir juízos de valor acerca de grupos sociais que desconhece. Também não há de encontrar ali um estilo poético, pois não há nada de poesia nos mecanismos de dominação/convencimento empregados pelos “nossos fazendeiros”.
O capitulo primeiro é uma aula, dessas que – como dizíamos quando jovens – só mesmo a Sônia Mendonça para ministrar. Ao deslindar as propostas presentes no Estatuto da Terra do governo Castelo Branco, a autora nos oferece uma oportunidade ímpar de conhecer a fundo quais eram os distintos projetos políticos da Sociedade Nacional de Agricultura e da Sociedade Rural Brasileira – entidades patronais – na “luta travada entre elas pela condição de porta-vozes autorizados e legítimos das facções agrárias da classe dominante agrária”. Mas se havia divisão, havia também união, cumplicidade; principalmente em relação aos projetos de reforma agrária dos setores de esquerda, na conjuntura que culminou com o Golpe de 64. É em oposição à mobilização camponesa e sua proposta de reforma que irão se insurgir as agremiações patronais, contra aquilo que consideram o mais grave dos crimes: o ataque à grande propriedade e ao direito de ser proprietário.
Não é preciso repetir aqui o que todos sabem e naturalizam. A partir do Golpe de 64, a grande propriedade rural é absolvida e consagra-se a ideia de que ela não deve ser discutida, questionada, mas estimulada. A concentração territorial não é mais um pecado; é, quanto muito, a expressão de nossa especificidade, num país que orgulhosamente chamamos de continental.
Não á toa, os anos de abertura política reinauguraram as tensões entre as entidades patronais, sempre dispostas a defender a política de modernização da agricultura com subsídios fiscais. Mas a abertura também implicou a renovação da esperança, a expectativa de um acerto de contas com o passado, expresso – por exemplo – na promulgação do Plano Nacional de Reforma Agrária do governo Sarney, cuja proposta, a princípio, visava atender às demandas sociais mais urgentes no campo, principalmente em relação aos conflitos fundiários. O fracasso da proposta expressou, mais uma vez, que a despeito das diferenças, as entidades patronais não estiveram dispostas a construir um consenso político a favor das mudanças.
O papel específico da Sociedade Nacional da Agricultura é o tema do capítulo dois. Nele, Mendonça analisa a revista A Lavoura, corpus documental raras vezes utilizado pelos historiadores. Enquanto entidade de classe, a SNA defendeu suas propostas a partir de cinco eixos: a modernização da agricultura, a difusão do cooperativismo como instrumento de desenvolvimento agrícola, a necessidade de se empreender algum tipo de reforma agrária, a implementação de uma justiça agrária e o combate ao tabelamento de preços. Para além da excepcionalidade da entidade na defesa de algum tipo de reforma agrária e de justiça social (questões ausentes da pauta de outras entidades patronais) destaca-se também o apelo nos últimos anos em favor da causa ecológica, no esforço de consagrar-se como a legítima e histórica entidade preocupada com as questões ambientais.
O terceiro capítulo é dedicado à Sociedade Rural Brasileira, cujas visões de classe são expressas em outra revista A Rural, também pouquíssimo explorada por historiadores. Coerente com suas bases sociais, a entidade procuraria defender os interesses dos grandes cafeicultores, agropecuaristas e empresas agroindustriais. Em nome deste grupo, a SRB se poria radicalmente contra qualquer alteração da estrutura fundiária no país, na defesa de uma posição assentada na intocabilidade da propriedade territorial. Mas a entidade também criou uma dada concepção de reforma agrária que se consubstanciou na defesa de uma política agrícola e na construção de uma nova imagem do “moderno” produtor rural, “de cujos atributos a entidade ressaltava o uso da tecnologia/pesquisa de ponta”.
Mas se a história do campo brasileiro tem a marca da complexidade, parece-nos óbvio que suas demandas e perspectivas não se resumem apenas a duas entidades de classe. Para além do dualismo e das disputas entre a SNA e a SRB, o quarto capítulo é dedicado ao estudo da Organização das Cooperativas Brasileiras, umas das mais jovens agremiações patronais que, após a abertura política, tornar-se-ia a grande força dirigente do patronato “agrário” nacional. Na OCB, o foco é o apelo ao cooperativismo, enquanto expressão maior da democracia e do igualitarismo. Entende-se assim que a reforma agrária defendida pela entidade está assentada na ideia do cooperativismo. Seus dirigentes se veem como os porta-vozes do que há de mais moderno: o agronegócio, modernizando a agricultura brasileira em bases empresariais e internacionalizadas. A atuação da entidade é ainda o exemplo emblemático das estratégias de construção de hegemonia e de representação política no interior do Estado Brasileiro.
O coroamento desta hegemonia – expressa na consolidação do papel e importância do agronegócio – é exemplificado pela criação da Associação Brasileira de Agribusiness, objeto do último capítulo. Em nome do novo – o agronegócio – e da necessidade de encontrar novos canais de representação política, a ABAG, como é comumente chamada, constitui-se na face mais obscura do poder dos empresários rurais, não apenas como uma entidade patronal de defesa de seus interesses de classe, mas como uma agremiação de empresas. A “responsabilidade social dos empresários do agronegócio com a sustentação alimentar de uma comunidade internacional altamente ‘globalizada’ seria o grande argumento de sua legitimação e da produção do consenso em âmbito nacional”. Na construção deste discurso e na falácia do consenso, a sociedade brasileira condena – sem ao menos se dar a conhecer – a pequena produção familiar que, mais uma vez, é refém de valores sociais que lhe são impostos de fora: atrasada, antiprodutiva, sem função.
Há, em suma, um novo projeto para a agricultura brasileira, vendido em prosas e versos nas campanhas publicitárias, nas propostas do governo, nas telenovelas, nos jornais. Tal projeto – o agribusiness – dificulta o nosso olhar sobre os problemas e mazelas do campo brasileiro e deslegitima e condena ao esquecimento a trajetória e luta dos pequenos agricultores deste país, responsáveis – eles sim – por parte ainda importante da produção de alimentos do Brasil. Eu conto nos dedos quantos historiadores estão cientes desta elementar informação…
Márcia Motta – Doutora em Historia e Professora da Universidade Federal Fluminense.
A Caverna – SARAMAGO (C)
SARAMAGO, J. A Caverna. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. Resenha de: LEÃO, Andreza Marques de Castro. A caverna. 206 Conjectura, Caxias do Sul, v. 15, n. 3, set./dez. 2010.
A presente resenha tem por foco apresentar o livro intitulado A Caverna, de autoria do conhecido escritor português José Saramago. É mister esclarecer que se trata de um romance, com personagens fictícios, como o autor relata, e que pode trazer inúmeras contribuições ao estudo da História da Educação, traçando, também, relevantes e instigantes articulações com a Filosofia da educação.
Em relação à linguagem empregada, o romance apresenta características peculiares, que são o uso ínfimo, até mesmo a abolição completa dos sinais gráficos de pontuação, procedimento esse que aproxima a linguagem escrita da oral.
Quanto aos personagens do enredo, há cinco principais: Cipriano Algor (oleiro); Marta (filha de Cipriano); Marçal Gacho (genro do oleiro); Isaura (estudiosa, viúva apaixonada por Algor); e Achado (um cão com atributos quase humanos).
A história se passa no Centro (de fato esse pode ser tanto um dos locais do enredo, quanto um dos personagens centrais); na olaria, que é um lugar de transição entre cinturões industriais e o cinturão verde, que fica próximo de uma cidade, porém é um local não urbano onde moram Cipriano, Marta, Marçal, quando está de folga, e na vila em que reside Isaura.
O foco central do enredo é o dilema de Cipriano: mudar-se ou não com a filha e o genro para o Centro quando esse fosse promovido à guarda residente.
Cipriano, como citado anteriormente, é um oleiro de profissão, com tradição familiar de artesões, que tem 64 anos e um modo rude de encarar as pessoas e as situações corriqueiras; talvez tal fato seja decorrente da profissão, que lhe exigia ter de amassar e cozinhar o barro, ou seja, trabalhar com coisas brutas. Não obstante, é uma pessoa de grande sensibilidade, fazendo sempre reflexões sobre a vida.
Marta é auxiliar e companheira do pai, mulher de muitas ideias. Ela é mais otimista que ele, embora, não tanto quanto Marçal em relação à mudança para o Centro, visto que receia o que pode ocorrer com seu pai. Fica grávida no início do livro e continua a auxiliar o pai mesmo durante a gravidez.
Marçal é segurança do Centro. Na realidade, é guarda residente, e não entende como Cipriano temia em ir morar em outro lugar que não no Centro. Gacho tem problemas com seus pais, e seu maior sonho é ser promovido no serviço e, cada vez mais, participar e ser envolvido pelo Centro. Seus pais também queriam morar no Centro com ele, mas devido à impossibilidade de esse pedido ser atendido, visto que os apartamentos lá são pequenos, não podendo comportar Marta, Cipriano, Marçal, o futuro filho, e mais os pais desse, há um desentendimento familiar. Ambas as famílias não cultivam um bom relacionamento em vista de um acidente que Marçal teve no forno da olaria, na época em que ainda namorava Marta, que lhe ocasionou uma cicatriz oblíqua que ele tem em uma das mãos.
Isaura é uma viúva da região onde Cipriano mora e por quem ele nutre uma grande estima. Todavia, ele luta contra esse sentimento. Em relação ao Centro, para ela é uma entidade distante e que pouco afeta sua vida. Após ter ficado viúva, procura emprego na vila, e passa a trabalhar numa loja. Talvez tenha sido por essa atitude que Cipriano tenha se apaixonado por ela.
Achado é o mais “humano” dos cães. Foi encontrado num dia de chuva e por seus modos quase humanizados cativou o carinho de Cipriano e Marta. É ele que escuta os lamentos de Cipriano e procura entender os difíceis e contraditórios sentimentos humanos. “o Achado é um cão consciente, sensível, quase humano.” (p. 349).
No enredo, os personagens, além de terem nome próprio, também são chamados pelo apelido característico. Quanto aos de Cipriano e Marçal, chama a atenção os seus respectivos significados. Algor significa frio, e Gacho, a parte do pescoço do boi em que se assenta a canga. Essa alusão feita por Saramago descreve bem e de modo sucinto a característica principal de tais personagens à luz da história: Algor se mantém frio perante o Centro, receoso quanto a ter de morar nele; por outro lado, Gacho se deixa escravizar pelo Centro, se submetendo a ele. Assim, ambos apresentam visões opostas de Centro: o primeiro de opressão, e o segundo, de submissão.
O livro inicia a história narrando a ida de Cipriano Algor ao Centro, local em que levava suas mercadorias: louças de barro para entregar, pois era fornecedor. No entanto, se confronta com uma árdua realidade: suas mercadorias não são mais “aceitas” pelo Centro, visto que a venda das louças tinha baixado, pois apareceram louças de plástico, as quais eram mais baratas, não quebravam e eram mais leves, havendo uma maior demanda por esse tipo de louça do que pelas de Algor, ou seja, seus produtos não atendiam mais aos anseios do mercado. Diante disso, Cipriano fica perplexo e contesta o chefe das vendas quanto às suas mercadorias: “Não é razão para que se deixe de comprar as minhas, o barro sempre é barro.” Contudo, o chefe responde: “Vá dizer isso aos clientes, não quero afligi-lo, mas creio que a partir de agora a sua louça só interessará a colecionadores, e esses são cada vez menos.” (p. 23).
Cipriano fica indignado com essa situação, porquanto suas mercadorias são desvalorizadas. Sabiamente Marta compreende essa situação, problematizando que, na verdade, não são os gostos das pessoas que determinam o que o Centro deve produzir, é o contrário: “Os gostos do Centro que determinam os gostos de toda a gente.” (p. 42).
Pensativo, Algor concluiu que se o Centro persistisse na averiguação dos novos produtos que estava sendo realizada, a olaria talvez fosse apenas a primeira vítima. De fato, ele entendeu que as inovações tecnológicas estavam ganhando espaço, ao passo que as atividades ditas “manuais”, como a sua de oleiro, não mais teriam lugar nesse contexto, por isso, ele se vê como uma espécie em extinção.
Cabe pontuar que dentre as reflexões que Saramago faz, deixa claro, na história, que a modernização vai extinguindo aos poucos as profissões.
Com a notícia de que o Centro não mais adquiriria seus produtos, sendo tal decisão irrevogável, e sabendo que estava proibido de fazer negócios diretamente com os consumidores, Cipriano começa a ficar angustiado, pensando em como viverá do seu trabalho se o Centro, além de tudo, não o autoriza a vender seus produtos a outras pessoas, tendo de abandonar suas mercadorias no campo, num local escondido.
Com esse episódio de recusa de suas mercadorias, desgostoso, ele passa a refletir sobre sua vida e questões essenciais envolvidas, como a sobrevivência. A partir disso, analisa criticamente a condição de vida do trabalhador assalariado, que aceita o destino desse labor:
Cipriano passa de uma hora para outra [a] desmerecer a reputação do operário madrugador ganhada numa vida de muito trabalho e poucas férias. Levanta-se já com o sol fora, lava-se e faz a barba com mais vagar que o indispensável a uma cara escanhoada e a um corpo que se habituou à limpeza, desjejua pouco mas pausado, e finalmente, sem acréscimo visível no escasso ânimo com que saiu da cama, vai trabalhar. (p. 55).
Algor percebe o contexto global em que está inserido, em que uns exploram, e outros são os explorados. Portanto, compreende que uma vez que o indivíduo não se enquadra em nenhuma dessas condições, isto é, fica fora desse sistema, ele não tem como sobreviver.
Devido à sua angústia, Cipriano foi ao cemitério visitar a lápide de sua falecida esposa, que, há três anos, o havia deixado. Nesse local, encontra a viúva Isaura (estudiosa, mulher de 45 anos), que relata a Algor que queria comprar um cântaro. Na ocasião, ele fala que faria melhor, daria um a ela, o que ele fez no dia seguinte, quando a viu. Esse encontro com Isaura despertou a atenção dele por ela.
Após esse episódio, surge na olaria um cão. Em vista de seu súbito aparecimento, lhe deram o nome de Achado.
Em decorrência da situação difícil de Cipriano, Marta sugeriu que fizessem bonecos de barro como produtos substitutivos das louças de barro. Ambos se empenham na confecção de modelos a serem mostradas.
Assim, Cipriano revela a ideia ao chefe de vendas do Centro. Ao apresentá-la, o chefe não lhe deu resposta imediata acerca da aceitação, contudo, ficou de pensar no caso. Em vista disso, Algor conclui que “para o Centro não tem importância uns toscos pratos de barro vidrado ou uns ridículos bonecos a fingir de enfermeira, esquimós e assírios de barba, nenhuma importância, nada, zero”. (p. 99). Todavia, o Centro se propôs a fazer uma encomenda experimental dos bonecos, mas a possibilidade de novas encomendas dependeria do modo como os clientes receberiam tal produto, pois “para o Centro… o melhor agradecimento está na satisfação dos nossos clientes, se eles estão satisfeitos, isto é, se compram e continuam a comprar, nós também o estaremos”. (p. 130). Desse modo, os bonecos seriam submetidos a uns inquéritos orientados sob duas vertentes: Situação prévia à compra, isto é, o interesse, a apetência, a vontade espontânea ou motivada do cliente, em segundo lugar, a situação decorrente do uso, isto é, o prazer obtido, a utilidade reconhecida, a satisfação do amor próprio, tanto de um modo de vista pessoal, como de um ponto de vista grupal. (p. 239).
Devido à não mais aceitação dos pratos de louça que fornecia ao Centro e ao receio de não receptibilidade dos bonecos por esse, Cipriano, apesar de sua luta e recusa internas de ir morar ao Centro, decide se mudar com a filha e o genro para lá, na ocasião em que esse fosse promovido. Saramago mostra, de modo nítido, no enredo, que essa atitude de Cipriano é causada pelo desgosto que sentia, ao se ver sem outro modo de sobreviver. Isso ocasiona perplexidade mental, visto que “teria de ir viver para o mesmíssimo Centro que acabava de lhe desprezar o trabalho”. (p. 197). Acrescente-se a isso, que sua autoestima também fora abalada, uma vez que se considerava um empecilho, um estorvo, um inútil para a filha e para o genro.
Assim, com a nomeação de Marçal, Cipriano vai com ele e a filha morar no Centro, num pequeno apartamento que é cedido aos guardas e que se localiza dentro do Centro. Porém, antes da mudança, Algor deixa sob a incumbência de Isaura o cuidado de Achado, porque o Centro não aceita animais. Apesar de ele, durante todo o enredo, lutar contra o sentimento que nutre por ela, nessa ocasião, declara seu amor e lamenta não ter nada pra lhe oferecer, pois não sabendo como poderia sustentar a si próprio quanto mais sustentaria outra pessoa. Então, decide viver no Centro.
Sou uma espécie a caminho da extinção, não tenho futuro, não tenho sequer presente… não tenho nada que lhe oferecer… a olaria fechou e eu não aprendi a fazer outra coisa… não tenho mais remédio. (p. 300).
Após o inquérito solicitado pelo Centro para avaliar os bonecos de barro de Cipriano, eles foram rejeitados. Assim, a última esperança de Algor de manter em funcionamento a olaria, morria naquele momento.
Cipriano se vê refém do pequeno apartamento no Centro. Como estava sem trabalhar, sem ter o que fazer, decide começar a conhecer melhor o Centro. Passeia e se aventura como se descobrisse um mundo novo. Nas suas andanças, numa das ocasiões, ele escreve as frases que ficam expostas nos letreiros das lojas e as lê para a filha e o genro, se apercebendo do vazio que o Centro representava, em que tudo se resumia a consumir e incitar a vontade dos clientes.
Não obstante, um episódio vai modificar os acontecimentos da família Algor. Desde que se mudaram para o Centro, estavam sendo realizadas obras de construção em um depósito frigorífico no subsolo. Entretanto, houve um incidente, e a obra precisou ser parada para que fosse avaliada por especialistas. Marçal foi informado de que a obra colocou à mostra no piso, algo estranho. Para averiguar tal fato, foram chamados geólogos, arqueólogos, sociólogos, até mesmo médicos legistas. Ao tomar conhecimento desse fato, o que chamou a atenção de Cipriano foi que, além desses profissionais terem sido requisitados, os guardas deveriam manter essa informação em sigilo.
Em decorrência desse acontecimento misterioso, Cipriano decidiu, durante o turno da madrugada de Marçal ir às escondidas tentar descobrir o que havia no buraco de 34 metros de profundidade que precisava ser tão protegido. Apesar do receio do genro de perder o emprego por essa aventura do sogro, ele lhe indica o caminho que devia seguir para desvendar o segredo. Assim sendo, com uma lanterna nas mãos e muita audácia, entra na gruta. Lá Cipriano encontrou algo que o abalou emocionalmente: seis corpos humanos, três homens e três mulheres, atados a um banco de pedra. “Um violento tremor sacudiu os membros de Cipriano Algor, a sua coragem fraquejou como uma corda.” (p. 331).
Ao sair da gruta, chorou sobre os ombros do genro. Perplexo, indaga-o e tem uma conversa com esse: Sabes o que é aquilo, Sei, li alguma coisa em tempos, respondeu Marçal, E também sabes o que o que ali está, sendo o que é, não tem realidade, não pode ser real, Sei, E contudo eu toquei com esta mão na testa de uma daquelas mulheres, não foi uma ilusão, não foi um sonho, se agora lá voltasse iria encontrar os mesmos três homens e as mesmas três mulheres, as mesmas cordas a atá-los, o mesmo banco de pedra, a mesma parede em frente, Se não são os outros, uma vez que eles não existiram, quem são estes, perguntou Marçal, Não sei, mas depois de os ver fiquei a pensar que talvez o que realmente não existe seja aquilo a que damos o nome de não existência. (p. 333).
Cipriano, ao relatar esse fato à filha, compreende que, na verdade, os corpos “essas pessoas somos nós… somos nós, eu, tu, o Marçal, o Centro, tudo provavelmente o mundo”. (p. 334-335). Após essa descoberta, ele decide deixar o Centro, salvar a sua vida e voltar para a Olaria. Lá chegando, tem um encontro emocionado com Isaura e lhe conta os últimos acontecimentos do Centro, e o motivo de ter voltado. Nessa ocasião, decide finalmente tê-la como sua companheira.
Após uns dias do ocorrido, Marçal pede demissão ao Centro. O fato de ter visto corpos o acordou para a realidade alienante em que estava vivendo. Quando questionado acerca do motivo que o levou a tomar tal decisão, ele responde: “Quem não se ajusta não serve e eu tinha deixado de ajustar-me.” (p. 347).
Desse modo, Cipriano, Marta, Marçal e Isaura decidem deixar a olaria também, ir em busca de uma nova vida, levando com eles o Achado.
Antes disso, Algor posiciona os bonecos de barro em frente da porta de sua casa. Assim, com a chuva, eles voltariam do barro ao pó. Nesse sentido, a caverna representa a condição do homem no contexto atual, cuja trajetória vai, tanto no plano denotativo como no conotativo, também do barro ao pó, tal qual objetos que, quando não são mais úteis, são descartados.
No momento da partida, ao passar pelo Centro, descobrem que até mesmo da descoberta dos corpos o Centro se apropria para tirar proveito: “Brevemente, abertura ao público da caverna de Platão, atracção exclusiva, única no mundo, compre já a sua entrada.” (p. 350).
No enredo, Cipriano representa a pessoa que consegue ser arrastada para fora da caverna e enxergar a realidade. Ele é o único que consegue perceber a preponderância econômica do Centro Comercial.
Dessa forma, podemos compreender por que motivo Saramago intitulou sua obra com esse título. A caverna, nesse caso, é o Centro Comercial, ou um shopping, local em que não há janelas, e só se pode ver o seu interior.
O Centro exerce grande influência na vida das pessoas e pode guiar os gostos das pessoas ao que convém ou não; incitar as vontades para consumirem, é claro, no Centro; instigar a cobiça das pessoas por quererem ter mais e a qualquer custo, entre outros motivos. Tudo gira em torno do Centro, e os que são seus concorrentes sofrem por estar se rivalizando com tamanho sistema. “Para o Centro só existe um caminho, o que leva do Centro ao Centro.” (p. 233).
Ao escrever A Caverna, Saramago nos exorta a nos identificar com Cipriano Algor, o homem comum que adquire sabedoria, que se liberta, buscando meios paliativos para se sustentar no Centro, mas que não se deixa cegar por ele.
Em suma, embora o livro já tenha dez anos, trata de um tema atual: a diferença entre dois mundos distintos: o Centro Comercial, que é exigente, competitivo, e que, na realidade, representa o capitalismo em sua fase moderna; e Cipriano, oleiro, que representa o modo simples da vida, além das inovações.
Há um convite explícito ao leitor para que reflita sobre as condições da nossa sociedade, para as consequências advindas da modernização do capital e sobre a nossa atitude perante tudo isso: se temos percebido ou se estamos estáticos, cegos, sendo passivamente envolvidos pela modernização.
Para Saramago, é possível escapar dessa caverna chamada capitalismo, como fez Cipriano que não se moldou a esse Centro, tendo uma visão crítica sobre ele, que aumentou quando conheceu de fato esse Centro quando lá morou.
Referência
SARAMAGO, J. A Caverna. São Paulo: Cia. das Letras, 2000. 352 p.
Andreza Marques de Castro Leão – Pós-Doutora no Departamento de Psicologia da Educação. Faculdade de Ciências e Letras da Unesp/Araraquara/SP. Bolsista da Fapesp.
Astronomia em Camões – MOURÃO (EPEC)
MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. Astronomia em Camões. São Paulo: Lacerda Editores, 1998. 166 p. Resenha de: RIBEIRO, Juliana. Os vários céus de Camões. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v.12, n.02, p.281-286, mai./ago. 2010.
Abre parênteses: In(certezas) Tudo indica que tenha nascido em Portugal, entre 1517-1525. Alguns registros apontam, veementemente, que o ano exato do seu nascimento é 1524.
Sem muita clareza, acredita-se que tenha pertencido à pequena nobreza, que estudou Humanidades em Coimbra, que perdeu o olho direito em um combate – depois de ter ofendido certa dama da corte.
Foi preso, embarcou em uma expedição para a Índia e, ao tentar regressar, foi vítima de um naufrágio na foz do Rio Mecom. Sobreviveu às suas impetuosas correntezas, nadando com apenas um braço – já que o outro se manteve erguido, incansavelmente, velando pela ode que o imortalizou.
Viveu miseravelmente em Moçambique, até ser encontrado pelo amigo Diogo do Couto, que deixou registrado: “tão pobre, que vivia de amigos”.
Retornou a Lisboa e, após alguns contatos com o rei D. Sebastião, publicou Os Lusíadas, em 1572.
Faleceu em 1580, tornando-se o Príncipe dos Poetas.
Fecha parênteses: Veracidades Apesar do vasto imaginário que existe em torno da vida de Luís Vaz de Camões, com toda fidúcia, pode-se afirmar que sua obra transgride a égide de seu tempo.
Com linguagem prodigiosa e singular, o poeta estabelece uma relação indissociável entre as mais diferentes instâncias de sua época: o povo português, os amores, as misérias, as guerras, os desbravamentos, as descobertas científicas – tudo está intrínseco em seu discurso: ora heroico e extasiado, ora empolgante e profético, ora lastimoso e melancólico.
Ficção e realidade mesclam-se perfeitamente e, juntas, abrolham uma linguagem que reflete – acima de tudo – um recorte da história de uma estação, com todas as suas mazelas, conquistas e descobertas.
Sustentação: Camões e a Astronomia “O melhor método para conhecer a cultura científica de uma determinada época é estudar as obras literárias e/ou as publicações não especializadas que se utilizavam do conhecimento científico ensinado nas universidades daquele período”. Com essas palavras, o pesquisador e astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão inicia seu paralelo sobre os pormenores do principal poema épico da contemporaneidade – Os Lusíadas, em A astronomia em Camões –, e o conhecimento que especialistas daquele tempo detinham acerca do universo.
A epopeia, estruturada em dez cantos, apresenta uma linguagem vigorosamente metafórica, que reflete uma perspectiva bastante singular e embasada nas ideias astronômicas que vigoravam no século XVI.
Camões, assim como a maior parte dos cientistas daquele momento, possuía visão cosmogônica do mundo, que corroborava com a premissa de que a origem do universo estava associada às lendas, religiões, mitologias e teorias científicas. Talvez seja este o motivo que o levou a adotar, em sua principal obra, os preceitos instituídos pelo sistema proposto pelo astrônomo grego Ptolomeu – benquisto pela igreja, pelos teólogos e pela corte europeia renascentista, com seus 11 céus e o inseparável vínculo com a astrologia.
Ptolomeu propôs um sistema cosmológico, onde a Terra estaria no centro do universo e os outros corpos celestes descreveriam movimentos circulares uniformes ao seu redor. Esses movimentos eram perfeitos, sempre idênticos, fechados sobre si mesmos e, sobretudo, sem início e fim.
Tais movimentos – principalmente os realizados pelos planetas, que também eram chamados de estrelas – constituem objetos de estudo dos astrônomos.
Assim, eles instituíram os sistemas de círculos ou esferas, que compreendiam uma esfera principal, associada às secundárias. Era a esfera principal – ou céu, como Camões descreve em Os Lusíadas, a base para os movimentos dos círculos menores que compunham todo o universo.
Céus de Camões A morada do criador, dos espíritos virtuosos, dos justos, santos e anjos era chamada de Céu Empírio – o maior e mais distante. Impossível de ser visto da Terra, foi revelado ao ser humano pelos textos sagrados.
Referência contínua nas explanações dos poetas, teólogos e filósofos, este céu envolvia todos os outros. De maneira eloquente, é apresentado no Canto X do poema camoniano, como o destino dos merecedores da salvação eterna.
Este orbe que, primeiro, vai cercando Os outros mais pequenos que em si tem, Que está com luz tão clara radiando Que a vista cega e a mente vil também, Empíreo se nomeia, onde logrando Puras almas estão daquele Bem Tamanho, que Ele só se entende e alcança, De quem não há no mundo semelhança. (Lus., X)
Já o abrigo dos doze signos e do Zodíaco, chamado Primeiro Móvel, era grande, veloz e virtuoso. Capaz de mover todos os outros céus que estavam situados abaixo, ficou conhecido como a mais nobre de todas as esferas.
Enfim que o sumo Deus, que por segundas Causas obra no Mundo, tudo manda.
E, tornando a contar-te das profundas Obras da Mão Divina veneranda:
Debaixo deste círculo, onde as mundas Almas divinas gozam, que não anda, Outro corre, tão leve e tão ligeiro, Que não se enxerga: é o Móbile primeiro. (Lus., X)
Transparente e límpido era o Cristalino e, na maior distância onde os olhos alcançam, estava o Firmamento. Repleto de estrelas – fruto da dádiva divina.
A mais importante era o Sol – claro olho do céu e repleto de luz própria.
Debaixo deste grande Firmamento Vês o céu de Saturno, Deus antigo; Júpiter logo faz movimento, E Marte abaixo, bélico inimigo; O claro Olho do céu, no quarto assento, E Vênus, que os amores traz consigo; Mercúrio, de eloquência soberana; Com três rostos, debaixo vai Diana. (Lus., X 89).
Em contrapartida, havia a Lua. Há quem acredite, ainda hoje, que sobre uma grande colina, é possível tocá-la. Majestosa, tornou-se inspiração de poetas. Instigante, é símbolo de culto e adoração de diversos povos. Apesar de os avanços científicos terem-na reduzido a satélite – sem luz própria – a pujança de sua existência se entrelaça aos destinos humanos.
Em Os Lusíadas, a Lua media o intervalo de tempo. Suas fases apontavam, com precisão, a saga portuguesa a caminho das Índias. Seus intervalos elucidavam partidas e chegadas.
No Canto V, Camões narra a partida da armada no dia 8 de julho de 1947, em Lisboa, até o desembarque na Baía de Santa Helena, no dia 4 de novembro. Nos quatro meses decorridos, a Lua passou cinco vezes de quarto crescente à cheia – passando “de meio rosto para rosto inteiro”, e estabelecendo o tempo da viagem de Vasco da Gama.
Mas já o Planeta que no céu primeiro Habita, cinco vezes apressada, Agora meio rosto, agora meio inteiro, Mostrara, enquanto o mar cortava a armada, Quando da etérea gávea um marinheiro Pronta coa vista: “Terra! Terra!” brada: Salta no bordo alvoroçada a gente Cós olhos no Horizonte do Oriente (Lus., V) Entre os proeminentes estudiosos e admiradores da obra camoniana, o pesquisador e astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas destaca-se por essas e outras referências que apontam que o poeta quinhentista não poderia ter se baseado apenas em sua experiência e em leituras secundárias para associar – com tanta magnitude e acuidade – as descobertas astronômicas da época com sua narrativa.
A precisão com que construiu, no Canto X, a grande Máquina do Mundo aponta difíceis conceitos astronômicos. As constelações conhecidas – ainda hoje – já estavam presentes, de maneira magistral, na obra do poeta.
Olha por outras partes a pintura Que as Estrelas fulgentes vão fazendo: Olha a Carreta, atenta a Cinosura, Andrómeda e seu pai, e o Drago horrendo; Vê de Cassiopeia a formosura E do Oriente o gesto turbulento; Olha o Cisne morrendo que suspira, A Lebre e os Cães, a Nau e a doce Lira.
(Lus., X) Seria o Príncipe dos Poetas também um astrônomo? Esta pergunta, assim como tantas outras, irão complementar o imaginário que é traçado acerca da vida deste que foi, indiscutivelmente, um dos maiores escritores de todos os tempos.
Juliana Ribeiro – Mestranda em Estudos de Linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG).
[MLPDB]A quebra da mola real das sociedades: a crise política do antigo regime português na província do Grão-Pará (1821-1825) / André R. A. Machado
A obra ora resenhada faz parte da renovação historiográfica nos estudos sobre as mudanças políticas vividas no mundo lusobrasileiro no primeiro quartel dos oitocentos. Durante décadas, debruçados sobre a “questão da Independência” – tema de forte apelo nacional –, historiadores de diferentes matizes obscureceram as alternativas políticas que se apresentavam para o momento. A mesma perspectiva transformou a Revolução do Porto – vitoriosa em agosto de 1820 – numa espécie de “antecedente” da Independência, reação última ao “projeto recolonizador” levado a cabo pelas Cortes portuguesas.
Desde a década de 1990, autores como István Jancsó – mestre de todos nós e orientador da tese que dá origem a este livro – destacavam os pressupostos a serem refutados e sugeriam os caminhos a serem trilhados por um renovado conjunto de historiadores. Em síntese: 1) recusava-se a pré-existência do Estado e da Nação, com a abolição de expressões como “manutenção da unidade”, “restauração das províncias rebeldes”, “separatismo do Norte”; 2) propunha-se a recuperação da dinâmica política a partir das variáveis que afligiam os cidadãos que se movimentavam na nova cena pública, sem o peso de explicações estruturais, como aquelas pautadas na “truculência das Cortes”, na “falência ibérica” e nas “novas necessidades do capital”; 3) recuperava-se a participação dos “homens do comum”, que ganharam vida: anseios, vinganças e frustrações motivaram sua efetiva participação política, perspectiva muito diversa das “massas de manobra”, por vezes denunciadas sob a falsa aparência de criticidade; 4) por fim, convidava-se a uma imersão no conjunto de documentos produzidos dentro e fora da esfera estatal: códices, caixas e latas conviveriam agora com jornais e folhetos, tomados como novos ingredientes de uma política cujo aprendizado se dava também em praça pública.
Pesquisador atento a tais ensinamentos, André Machado os tomou como balizas para a sua pesquisa, sem, contudo, ater-se a receitas prontas, já aplicadas ao estudo de outras províncias. De maneira autônoma, com sólida discussão bibliográfica e conjunto documental, propôs uma história das possibilidades políticas abertas desde a “adesão” do Grão-Pará à Revolução do Porto até o Reconhecimento da Independência.
Tal recorte poderia sugerir uma “História da Independência desde a Revolução do Porto”, perspectiva teleológica e tradicional que encadeou episodicamente esses dois momentos, dando-lhes inteligibilidade. Em direção diametralmente oposta, o autor reserva à Independência – palavra evitada ao longo do texto e substituída pela noção de “novo alinhamento” – um papel absolutamente secundário ante as disputas suscitadas pelas possibilidades advindas do constitucionalismo português. A seu modo, todos eram portugueses, pressuposto que inviabiliza a perspectiva de “projetos nacionais” emersos com o “7 de setembro”, ou, no caso do Grão-Pará, com o “15 de agosto de 1823”.
Essa é a tônica da primeira parte do livro, dividida em três capítulos. Desde as primeiras linhas, o autor compartilha a narrativa com seus personagens, perscrutando as incertezas e a provisoriedade das posições políticas assumidas ao sabor das circunstâncias. A “quebra da mola real das sociedades bem constituídas” – expressão de autoria do bispo do Pará, inspiração para o título do livro e norte para a noção de “instabilidade” construída pelo autor ao longo da narrativa – provocara um dissenso heterogêneo, múltiplo em suas razões e frágil em sua capacidade de construir acordos duradouros.
Tais questões são acompanhadas de uma análise que articula os estratos dominantes da província às relações de poder expressas nos “partidos” que então se organizavam. Sem recorrer a relações mecânicas de classe / partido, conclui que os proprietários de fortuna acumulada recentemente tendiam a ser “mais constitucionais”, forma de atingir postos até então ocupados por figuras ligadas ao ancien régime português. Para o autor, esses grupos “mais constitucionais” se demonstraram, gradativamente, propensos ao “alinhamento” com o Rio de Janeiro, na medida em que seus projetos políticos foram inviabilizados internamente.
Outras razões são apresentadas na explicação para o “alinhamento”, mas seguramente a mais original é a noção de “bloco regional”, rede composta por sólidos laços econômicos e políticos que aproximavam as províncias do Grão-Pará, Maranhão, Goiás e Mato Grosso.
Construída a partir de certa leitura de Benedict Anderson (Nação e consciência nacional) – autor comumente evocado pela historiografia brasileira nos debates sobre nações como “comunidades imaginadas” –, a noção serve ao autor como mais um importante contraponto ao clássico “Brasil versus Portugal”.
Sem transformar o “alinhamento” do Grão-Pará em mero reflexo dos interesses do “bloco regional”, estabelece conexões entre a inviabilidade de sua manutenção, por exemplo, a partir do “alinhamento” do Maranhão1, em 28 de julho de 1823, decisão seguida pelo Grão- Pará, poucos dias depois.
Destaque-se ainda a alternativa que o autor oferece às explicações pautadas na centralidade das pressões militares para o “alinhamento”, corporificadas na atuação de John Grenfell, inglês que chegou ao Pará em agosto de 1823 e assumiu a incumbência de comandar as forças navais a serviço de D. Pedro I. Trilhando outros caminhos, tangencia o debate sobre o papel das tropas externas: seu foco são as condições “internas” (dinâmica política provincial e interesses do “bloco regional”) que viabilizaram o “alinhamento” da penúltima província da América portuguesa ao Império nascente.
Na segunda parte do livro, composta por dois capítulos, o autor persegue os conflitos que tiveram continuidade com o “alinhamento”, forte indício de que a questão principal não estava aí, mas nas disputas abertas com a “quebra da mola real”. Se projetos políticos “préalinhamento” persistiam, novidades como a Confederação do Equador – também tomada como proposta de um “bloco regional” – traziam novos ingredientes para o campo da política.
Somem-se a esse quadro de instabilidade a crescente participação política de negros e tapuios, grupos que muitas vezes compartilhavam projetos de futuro distintos daqueles levados a cabo pelos “partidos” da província, e a partida de Grenfell, em março de 1824, uma das poucas autoridades minimamente reconhecidas entre os grupos em litígio.
Gradativamente, constrói a “solução brasileira”, tomando como referência a inviabilização de pelo menos dois importantes projetos: a alternativa republicano-regional, fracassada com a derrota da Confederação do Equador, e o realinhamento a Portugal, prejudicado pelo Tratado de Reconhecimento da Independência, assinado em meados de 1825. Paralelamente, apresenta-nos os sucessos obtidos pela junta de Santarém, representação composta majoritariamente por proprietários e comerciantes, que a partir dos primeiros meses de 1824 acumulou vitórias políticas e militares, recompondo os estratos dirigentes da província ante o “perigo maior” de uma nova São Domingos.
Por fim, vale-se de uma apropriada metáfora de Immanuel Wallerstein (Capitalismo histórico & civilização capitalista) para sintetizar as preocupações que o acompanharam por toda a pesquisa. Para o autor citado, crises sistêmicas se assemelham à experiência de passar por vários pontos de bifurcação, que obrigam a sucessivas escolhas e alimentam incertezas na busca pela estabilidade perdida. Os homens do Grão-Pará, em tempos de crise, não escaparam a essa máxima. Já nós, historiadores, talvez sejamos eternos “homens em tempos de crise”: para o nosso conforto, textos como esse demonstram que é possível, diante de cada bifurcação, aprimorar a caminhada.
Marcelo Cheche Galves – UEMA. E-mail: marcelocheche@ig.com.br.
MACHADO, André Roberto de A. A quebra da mola real das sociedades: a crise política do antigo regime português na província do Grão-Pará (1821-1825). São Paulo: Hucitec / Fapesp, 2010. 321 p. Resenha de: MACHADO, André Roberto de A. Outros Tempos, São Luís, v.7, n.10, p.292-205, dez. 2010. Acessar publicação original. [IF].
Tão longe tão perto: a Ibero-América e a Europa Ilustrada – DOMINGUES (HU)
DOMINGUES, B.H. Tão longe tão perto: a Ibero-América e a Europa Ilustrada. Rio de Janeiro: Museu da República, 2007. 260 p. Resenha de: PINHO, Leandro Garcia. Comparando ocidentes. História Unisinos 13(3):308-311, Setembro/Dezembro 2009.
Autora de outros livros originários, respectivamente, de sua dissertação e tese, os textos apresentados nesta obra resultam de compilações de artigos publicados por Domingues nos últimos quatro anos e derivados de pesquisas realizadas em diferentes contextos acadêmicos nacionais e internacionais. Os temas desses estudos são entrelaçados a partir de um assunto que remete ao período em que foram escritos e que, por muito tempo, estão em voga em parte do pensamento Ocidental: a polêmica do Novo Mundo. Tema caro, certamente, à historiografia – como lembra Fleck em comentário a esta obra de Domingues –, mas visto aqui por meandros e graus de comparação até então pouco vistos.
O grande mote de Tão longe tão perto é, por certo, interligar e relacionar a produção jesuítica – inserida na chamada Ilustração Católica – à produção iluminista presente em autores ibéricos, britânicos e franceses da mesma época. Além disso, a produção textual jesuítica dos Setecentos na colônia brasílica ganha inserção na e correlação com a muito discutida textualidade dos inacianos da Hispano-América.
Autorizando-nos a pensar de forma complexa e plural o fenômeno da Ilustração, Domingues, na primeira parte da obra, discute, num texto inicial, as diferenças marcantes entre os chamados árcades e os jesuítas na clássica tópica colonial sobre a defesa do Novo Mundo. Ao fazê-lo, a autora evidencia que, para além dessas diferenças, pombalismo e jesuitismo podem não ser pensados apenas numa relação contraditória ou dicotômica.
Compondo a chamada “cidade letrada” – termo tão largamente associado a Angel Rama – da colônia lusitana na América, jesuítas e árcades possuíam tanto temáticas e propostas diferentes entre si como possíveis de aproximações. Domingues autoriza tal argumento, recorrendo à análise de textos de Pombal e Basílio da Gama – como integrantes de uma Ilustração Civil – e comparando-os com textos como o de João Daniel e Clavijero – membros da vertente católica e jesuítica do iluminismo. Assim, mesmo após a expulsão dos jesuítas dos impérios ibéricos – o que desencadeia forte literatura contestatória da ação dos inacianos – e a produção letrada de acirrada defesa de seus próprios argumentos por parte dos Soldados de Cristo, podemos encontrar resultados semelhantes em intenções e argumentos diferentes no que tange à relação desses textos com o tema do Novo Mundo.
Árcades e jesuítas enaltecem a América e se contrapõem a uma visão negativa presente entre a maioria dos ilustrados europeus acerca de nossas terras, habitantes, fl ora e fauna.2 Inseridos na Polêmica do Novo Mundo, os textos analisados por Beatriz Domingues descortinam-se como capazes de “encontrar ‘resultados’ relativamente semelhantes em escritos motivados por razões praticamente opostas” (Domingues, 2007, p. 45). Tanto os árcades, ao reagirem contra uma visão negativa acerca da América por parte dos ilustrados europeus, quanto os jesuítas são capazes – cada um a seu modo, claro – de contribuírem, segundo a análise da autora, para a constituição de uma incipiente consciência patriótica nas colônias d’além-mar.
Os jesuítas, “mesclando uma visão religiosa de mundo com idéias seletas da Ilustração europeia”, “estavam, a seu modo, forjando suas interpretações sobre a singularidade brasileira” (Domingues, 2007, p. 53), contribuindo, como faziam os árcades, para a afirmação da identidade política luso-americana.
Desse modo, Domingues diverge da proposta de Martins, que limita ao grupo dos acadêmicos brasílicos a exclusividade de formarem essa identidade já diferenciada da matriz europeia. Entre os pesquisadores de nossa literatura, é uma constante associar a produção letrada dos árcades luso-brasileiros dos Setecentos à formação de uma particularidade brasílica. E é exatamente neste ponto que reside, nesta primeira parte da obra em análise, o grande salto analítico de Domingues, pois “a atitude enaltecedora do projeto português no Brasil não pode ser generalizada” (Domingues, 2007, p. 54).
Em um terceiro momento desta primeira parte, ao recorrer ao texto de João Daniel – jesuíta desconhecido de seu tempo, que passou boa parte de sua vida na Amazônia e, posteriormente, foi expulso e preso por conta da ilegalidade da Companhia a partir da segunda metade do século XVIII –, Domingues apreende as formulações do inaciano, ao descrever as benesses do Norte da colônia brasílica. De acordo com a autora, a proposta do jesuíta em questão é tentar tirar máximas de comportamento para servirem de exemplo aos católicos e, ao mesmo tempo, oferecer informações detalhadas sobre o uso medicinal das plantas nativas, para melhor exploração da região e também da possível coexistência do homem com o meio.
Sem desautorizar tal análise de Beatriz Domingues, é possível acrescentar que desde os primeiros escritos de inacianos sobre nossas terras, já no século XVI, esta também parece ser parte da intenção de jesuítas como Anchieta, Soares e Cardim, ao tentarem caracterizar positivamente as terras lusitanas na América3.
A segunda parte do livro inclui a discussão realizada pela autora acerca de algumas “Histórias da América espanhola escritas por jesuítas exilados” e a infl uência/ contato destas com o universo letrado da Ilustração. Complemento interessante da proposta do livro, esta sessão é inaugurada pelo texto que versa sobre as duas Histórias da Califórnia escritas por Miguel de Venegas e por Francisco Javier Clavijero (in Domingues, 2007).
Domingues destaca que o primeiro tentou, em seu texto, trazer informações sobre a história passada e presente da região, no intuito de explicar o sucesso da empreitada jesuítica, tanto com argumentos espirituais quanto com temporais. A grande diferença entre as duas obras se faz pelo fato de que Venegas (in Domingues, 2007) escreve seu texto no momento em que ocorre a implementação das Reformas Bourbônicas na região americana. Já Clavijero, no momento em que compila sua Historia de la Antigua or Baja California (in Domingues, 2007), não vivia na região retratada, mas se encontrava no exílio, no status de ex-jesuíta. A Ordem foi suprimida pelo papa em 1773.
Enquanto Venegas (in Domingues, 2007) tentava convencer alguma autoridade metropolitana sobre o valor de se manter a obra missionária na Baixa Califórnia, Clavijero (in Domingues, 2007) não se preocupava com o que já pareciam “águas passadas”. Às autoridades espanholas parecia sem sentido qualquer apelo de reestruturação da Companhia de Jesus. Cabia, então, na visão desse ex-inaciano, entreter o público europeu com informações sobre um exótico novo mundo chamado América. Inseridos em tópicos de discussão que impregnavam seu tempo, a Polêmica do Novo Mundo e Ilustração Católica europeia, Clavijero e Venegas estavam envolvidos numa tentativa de oposição à campanha anti-jesuítica que, irradiada da Europa, transformava o mundo colonial na América.
Apesar disso, tinham, na percepção de Domingues, relações afetivas diferentes com a Califórnia. No afã de seu tempo – antes de atos sumários que eliminaram a ação inaciana na América – Venegas (in Domingues, 2007) aposta na intensificação do povoamento e na importância da missão na região em destaque, enquanto Clavijero (in Domingues, 2007), escrevendo alguns anos depois, estava bem menos seguro nesta aposta. Seus textos nos remetem hoje menos ao que poderia ter-se dado na Califórnia, caso se aceitasse o que os autores almejavam, do que uma visualização da “complicada relação entre a Companhia de Jesus e o Estado espanhol do século XVIII” (Domingues, 2007, p. 181).
O segundo artigo desta parte traz uma análise sobre outro escrito de Francisco Javier Clavijero (in Domingues, 2007) em sua tentativa de compilar uma História do México. Este jesuíta volta ao foco central de Domingues em outro escrito, a Historia antigua de Mexico (Clavijero in Domingues, 2007). Cristianismo, indigenismo e patriotismo são marcas indeléveis desta obra de Clavijero apreendida pela autora. Toda essa empreitada deve ser entendida como inserida no que a autora entende por “Ilustração Católica”. Clavijero rompia com os chamados “esquemas da historiografia oficial espanhola” (Domingues, 2007, p. 196) e enfrentava os preconceitos e erros da História Filosófica dos detratores da América.
Foram exatamente estas características que fizeram do jesuíta em relevo ser incluído na Ilustração Católica. Seu catolicismo patriótico estava, dessa forma, inserido nos áureos ventos que, no século XVIII, modificavam pensamentos ao mesmo tempo em que reformulavam os já existentes.
A terceira e última análise textual de Domingues chega até os rincões sul-americanos e nos apresenta a visão de Josep Perramás acerca das missões jesuíticas no Paraguai. Publicado em Faenza, na Itália, em 1793, a obra Platón y los Guaraníes (in Domingues, 2007) é percebida pela autora de Tão longe tão perto como um texto que deixa ao leitor um tom memorialístico e saudosista. Mas esta não é a chave de leitura que Domingues usa para penetrar neste estudo comparativo e sistemático, que Perramás (in Domingues, 2007) escreveu sobre as reduções jesuíticas do Paraguai. Recorrendo a uma abordagem diferenciada, a autora estabelece um paralelo entre o texto do jesuíta, que viveu entre essas missões na América do Sul, e as utopias católicas renascentistas.
Contrapondo-se ao que o discurso dessa utopia europeia concluía e propagava, Perramás (in Domingues, 2007) enfatizava que o exemplo de Estado e Sociedade cristãos no continente americano serviam como uma utopia concretizada dos inacianos em pleno coração do território sul-americano. Trazendo à tona as refl exões de Platão, segundo Domingues, o método desse jesuíta consistia em compendiar o que o grego antigo pensava sobre cada assunto, passando a descrever um determinado aspecto e recorrendo a relatos sobre os guaranis. Por fim, sua ideia se concentra em “deixar que o leitor decida” se “existiram mais afinidades ou discrepâncias entre os escritos de Platão e a vida concreta dos índios guaranis” (Domingues, 2007, p. 213).
Destacando a “utopia concretizada” (in Domingues, 2007) dos guaranis em relação à platônica e às renascentistas, Perramás (1793) se torna mais um contundente crítico das proposições que denegriram a montagem do mundo construído pelos Soldados de Cristo na América e de sua visão sobre os povos americanos. Não só mais uma voz em prol da empreitada missionária dos jesuítas pelo nosso continente, Domingues ressalta que o inaciano faz uso de um filósofo ilustrado de primeira grandeza entre os que tinham uma visão pejorativa sobre o continente americano contra outros do mesmo grupo.
Assim, o jesuíta – diferentemente de outros membros da Companhia, como Clavijero e João Daniel – se ampara em Buff on, para fornecer um julgamento positivo dos pueblos guaranis, ou seja, ele usa o mestre Buff on contra os discípulos De Pauw e Raynal (Domingues, 2007, p. 234).
Em Tão longe tão perto, ficam claras as lições atuais ditadas pela historiografia nesse início do século XXI e não ignoradas pela autora. Uma delas é tentar apreender o que dizem os autores discutidos, reconhecendo que eles possuem uma competência própria para analisar sua situação. A historiadora coloca-se “à escuta dos autores”4. Outra infl uência marcante do texto – esta já com referência explícita em trechos da obra de Domingues e não necessariamente distante da proposta acima referida – está em seguir a trilha do movimento intelectual conhecido como linguistic turn, ou virada linguística. Compreendendo os pressupostos dessa corrente, Beatriz Domingues consegue perceber os escritos jesuíticos e não jesuíticos dos Setecentos – sejam eles a favor ou contra o papel dos inacianos – longe dos maniqueísmos muito comuns na historiografia, tais como “pombalismo X jesuitismo”, “ilustração X escolástica”, “razão X religião”.
O intrigante da obra de Domingues é ver que os textos jesuíticos escritos no século XVIII e, principalmen te, os redigidos após a expulsão dos inacianos do mundo ibérico, mostram a capacidade dos inacianos de lerem o mundo ilustrado sem desconsiderarem a referência religiosa e a noção de Estado que possuíam. E, ao fazerem dessa forma, os jesuítas também são capazes de contribuir com a até então incipiente noção de identidade nacional que foi a motivação crucial para as muitas páginas escritas nos séculos seguintes, principalmente no XIX, momento de afirmação da nacionalidade brasílica e das demais regiões ibéricas na América.
Dessa forma, a compilação de artigos publicados pela autora aqui e no exterior está à altura da sagacidade do leitor ávido por novas descobertas e possibilidades analíticas acerca do tema proposto. A obra interessa tanto aos que procuram compreender a complexidade do fenômeno da Ilustração, quanto àqueles que se mostram capazes de perceber a necessidade de interligarmos o pensamento europeu ao americano, sem reduzirmos um ao outro.
Partindo da premissa de que discursos e textos são partes constitutivas de contextos históricos, Domingues faz jus ao prometido ao leitor já no tema do livro (empréstimo da obra cinematográfica de Win Wenders): analisar a expressão letrada do pensamento que se faz na e sobre a América é oscilarmos entre algo que ora nos parece tão longe de uma matriz europeia ocidental, ora nos faz tão próximos, sendo capazes de quase nos sufocar.
Referências
DOSSE, F. 2007. O método histórico e os vestígios memoriais. In: E.
MORIN (org.), A religação dos saberes: o desafio do século XXI. 6ª ed., Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, p. 394-407.
PINHO, L.G. 2006. Jesuítas e pensamento mestiço: adaptação e ocidentalização nos escritos quinhentistas luso-americanos de Anchieta, Soares e Cardim. Juiz de Fora, MG. Tese de Doutoramento. UFJF-MG, 175 p.
Notas
2 Conferir tese de doutoramento apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião (PPCIR) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realizada em 30 de junho de 2006 (Pinho, 2006).
3 Sem fazer menção a Dosse (2007), Domingues faz jus a esta ideia (de colocar-se “à escuta dos autores”) apresentada por ele ao analisar a historiografia atual que tenta romper com pressupostos defendidos por uma corrente estruturalista ou por um “paradigma crítico”.
4 Sem fazer menção a Dosse (2007), Domingues faz jus a esta ideia (de colocar-se “à escuta dos autores”) apresentada por ele ao analisar a historiografia atual que tenta romper com pressupostos defendidos por uma corrente estruturalista ou por um “paradigma crítico”.
Leandro Garcia Pinho – Doutor em Ciência da Religião (UFJF-MG), Mestre em História (UNICAMP-SP), Graduação em História (UFJF-MG). Professor do ISE Itaperuna (FAETEC-RJ), Vice-Reitor e Coordenador do Curso de História do Centro Universitário São José de Itaperuna. Rua Major Porphírio Henriques, 41, Centro 28300-000, Itaperuna, RJ. E-mail: leandrogarciapinho@yahoo.com.br.
A Corte e o Mundo: uma história do ano em que a família real portuguesa chegou ao Brasil / Andréa Slemian e João P. G. Pimenta
Integrando a Coleção Passado / Presente, da Editora Alameda, “A Corte e o Mundo: uma história do ano em que a família real portuguesa chegou ao Brasil” insere-se na categoria do chamado “livro de divulgação”, cujo propósito é oferecer ao publico não especializado o conhecimento histórico de qualidade, que incorpore os atuais avanços da pesquisa acadêmica, sem as formalidades desta, tornando a obra acessível ao público em geral.
Uma iniciativa fundamental diante das muitas ofertas no mercado que, atendendo ao atual interesse pela história, publica livros e revistas produzidas por pesquisadores curiosos, muitas vezes com visões ultrapassadas e distantes dos avanços de nossa historiografia. Nesse sentido, é importante apoiar e divulgar a produção de obras de qualidade dirigidas ao público leigo, como também dos livros paradidáticos de história para o ensino fundamental e médio.
Na mesma coleção, os autores publicaram anteriormente “O nascimento político do Brasil: origens do Estado e da nação”, e novamente foram bem sucedidos na dosagem certa entre simplificação e objetividade da escrita, sem que a obra perdesse o interesse proporcionado pela análise histórica.
O ano de 1808 é, ao mesmo tempo, marco cronológico, tema e fio condutor da narrativa. Partindo da instalação da Família Real Portuguesa no Brasil, propõe-se a narrar outros acontecimentos a ele correlatos, observar regiões por ele afetadas, e com isso tentar compreender o que era o mundo ocidental, em 1808. O ano é entendido como crucial porque, dentre outros motivos, nele começaram a surgir as possibilidades históricas que, pouco depois, culminariam no nascimento de um Brasil politicamente independente e soberano. Neste sentido, o livro é um esforço de entender uma história do Brasil articulada a uma história mundial.
Apresentando os anos iniciais do século XIX como produtor de novas condições históricas de transformação, num processo acelerado, com mudanças profundas e de caráter substancialmente político, em torno de 1808, os autores vão agregando diferentes espaços a cada capítulo do livro.
No capítulo 1, o cenário é o de uma Europa remexida pela expansão militar francesa. Ao abordar a Península Ibérica, procura-se destacar as condições que foram tão decisivas para os destinos de Portugal e Brasil e o percurso inesperado para a Espanha, que de aliada passara a inimiga da França.
A narrativa da guerra espanhola e de seu forte envolvimento popular conduz o leitor à reflexão da dramaticidade daquele processo histórico: como seria viver e travar uma guerra, em meio às idéias de abolição de privilégios da nobreza e das formas de organização social aristocráticas, das pressões e imposição de Napoleão para elaboração de uma Constituição Espanhola, numa sociedade onde o rei absolutista era elo de convergência de lealdades e do sentido das coletividades nacionais? Destaca-se a boa síntese feita no capítulo sobre o abolicionismo inglês. Partindo da grande dificuldade econômica da Grã-Bretanha naquele ano, diante dos bloqueios comerciais, da sua tentativa de reação, chega-se ao consenso de suas elites dirigentes em torno da necessidade de abolição do tráfico de escravos como meio de fortalecer uma nova ordem econômica da qual ela seria líder mundial. A bandeira do abolicionismo propiciava um aspecto universalizante muito adequado à estratégia inglesa de voltar-se cada vez mais para outros continentes, uma vez que a Europa estava fechada para seu comércio.
O capítulo 2 enfoca o Rio de Janeiro e sua articulação socioeconômica ao continente africano. Traça os desdobramentos advindos com a vinda da Família Real. A trajetória da cidade do Rio de Janeiro sob o impacto de sediar a Corte do Império Português: as necessidades de novos melhoramentos urbanísticos, de prédios e habitações, a urgência no abastecimento de víveres e outros gêneros, a preocupação com formas de controle de seus habitantes.
Afinal, a partir de 1808, a cidade assistiria à instalação das novas instituições administrativas criadas para o funcionamento do Estado Português, acompanhada de uma complexa massa de órgãos governativos, que “diante do desaparecimento da figura do vice-rei, teriam uma ampla jurisdição, relativa tanto a assuntos da Coroa, como do Império e de todas as capitanias da América”. (p.66).
Entre as instituições criadas no Rio de Janeiro destacou-se a Imprensa Régia. A criação e a atuação da imprensa estavam atreladas ao alargamento de espaços públicos de discussão que, embora já existentes anteriormente, agora seriam alargados, transbordando os tradicionais limites dos círculos cortesãos. Os múltiplos e contraditórios potenciais da imprensa seriam sentidos na América Portuguesa, onde ela certamente contribuiria para manter a ordem, mas poderia também ajudar a subvertê-la. No primeiro sentido, possibilitaria para a monarquia que pretendia sempre reforçar os vínculos dinásticos entre ela e seus súditos, em segundo porque a circulação desses conteúdos em uma escala muito maior implicaria, forçosamente, alterações nos padrões de sociabilidades existentes, o que incluiria discutir política em tempos de revolução.
Ao tratar do alargamento do espaço público, os autores destacam outra dimensão da sociabilidade que foi especialmente tocada com a instalação da Corte na cidade: as representações de nobreza, da relação rei/súditos, a simbologia em torno do rei, de uma Corte antes tão distante e, naquele momento, tão perto do cotidiano da cidade. Como ressaltam os autores: “por ocasião dos festejos públicos, a cidade era cuidadosamente preparada para recriar a mística do monarca e da Corte em sua nova sede americana”. (p.71) Tratava-se do reforço da monarquia e da unidade do Império Português, de reproduzir em terras americanas, a lógica de privilégios e favorecimentos pessoais que emanavam do rei, e era a regra das relações políticas e sociais num ambiente cortesão tradicional como o das monarquias européias. A partir de 1808, essa lógica de privilégios e favorecimentos se desdobraria em verdadeiras disputas por ascensão e influência na esfera da Corte.
Quanto às mudanças econômicas, basta citar que, ainda em 1808, seriam estabelecidos no Rio de Janeiro o Erário Régio, o que significava que a imensa massa de recursos derivada da cobrança de impostos não mais seria enviada para Lisboa, devendo permanecer no Rio de Janeiro.
A renda daí advinda serviria às obras necessárias para adaptação da cidade à condição de sede da Corte, aos melhoramentos de sua ligação com outras capitanias. Foram também criados novos impostos internos em função da abertura dos portos e do estabelecimento dos direitos de importação.
Estes impostos foram introduzidos em todas as capitanias e, mesmo não sendo drenados de forma eficiente para o Rio de Janeiro, geraram muitos descontentamentos. As populações das capitanias se viram oneradas com o aumento das taxas, sobretudo as províncias do norte, onde a presença da Corte na América não compensava a pressão fiscal sofrida. Até porque esse sistema de impostos favorecia muito mais as capitanias do centro-sul, sobretudo São Paulo e Rio Grande, que, “possuindo economias de passagens”, ganhariam muito mais com impostos sobre o trânsito de mercadorias e imóveis. Os efeitos positivos dessa arrecadação vieram exatamente dessas capitanias, estimuladas pela presença da Família Real no Brasil. (p.69) Os agentes envolvidos no comércio marítimo centrado no Rio de Janeiro, articulados principalmente ao Rio da Prata, África e Portugal e às áreas internas do sudeste, vislumbraram a possibilidades de expansão de seus negócios, possibilitando-lhes uma valorização não só comercial como política, e “que se mostraria fundamental para o futuro projeto de independência do Brasil, ainda existente”.(p. 65) A desconexão entre Lisboa e o Rio de Janeiro, provocada pela invasão napoleônica de 1807, ativaria a circulação monetária da segunda, ao frear a desmonetarização e entesouramento típicos da ex-colônia com a interrupção do tradicional circuito de metais preciosos e de afluxos financeiros, que antes seguiam para o Erário Régio em Portugal. Seu resultado imediato seria um aumento, no Rio de Janeiro, da capacidade de importação e da velocidade de difusão de numerário, que se desdobraria num crescimento notável de investimentos. Assim, a partir de 1809, a nova sede do império começou a importar escravos em números especialmente altos.
Nesse sentido a posição estratégica da corte portuguesa em sustentar a manutenção do tráfico, nos anos seguintes a 1808, contemplava os interesses de uma elite mercantil que cada vez mais se atrelava ao Estado, ocupando postos de destaque e defendendo seu prestígio e seus privilégios.
Com a abertura dos portos, o consumo de cativos pela América Portuguesa aumentaria sensivelmente. Além disso, o notável aumento na capacidade de investimentos em decorrência de sua transformação em sede do império propiciaria uma maior importação de africanos, cuja mão de obra era adequada à aceleração da economia no centro-sul.
Dentre as regiões africanas articuladas ao tráfico negreiro, destaca-se o de Angola, que estabeleceu uma relação de complementaridade com a América portuguesa, que remonta aos séculos XVI e XVII. Os autores problematizam a ação portuguesa na região, desde a ocupação costeira, o processo de interiorização da captura de escravos destinados à América por volta da primeira metade do século XVIII e as clivagens entre grupos vizinhos ao Reino de Angola.
Do outro lado do Atlântico, o Rio de Janeiro estava atrelado a essas transformações, pois desde o século XVIII era o principal entreposto do comércio de homens que abastecia o centrosul da América Portuguesa e algumas regiões da América Espanhola. Com o governo de d. João VI, o tráfico não só foi mantido como foi incentivado, incrementado e alargado.
O capítulo 3 traz uma panorâmica do que eram no ano de 1808 os vários Brasis portugueses, ou seja, as várias partes que compunham a América Portuguesa, e que eram bastante diversas, com perfis sociais e econômicos variados, e com distintas vinculações políticas entre si e com o restante do mundo ocidental.
Essa diversidade fora resultado da própria dinâmica da colonização moderna em terras portuguesas, que articulou áreas diferentes à metrópole, à competição européia e aos mercados mundiais, criando formas de reprodução muito variadas.
O impacto da chegada e instalação da Corte no Rio de Janeiro, e sua tentativa de reforço dos laços entre o monarca e os súditos de além-mar, seria desigual nas várias capitanias da América Portuguesa. Os efeitos da mudança da corte foram diversificados nos vários Brasis posto que essas partes não formavam uma unidade político-administrativa e possuíam perfis socioeconômicos específicos, não havendo, portanto um único Brasil que pudesse reagir e sentir ao acontecimento.
Nas primeiras décadas do século XIX, o Brasil era uma designação genérica para um conjunto de territórios que, a despeito de vários pontos de encontro e articulação recíproca, não podiam formar um Estado e uma nação próprios. Assim, embora a designação Brasil já existisse, ela não portava o conteúdo que viria a ter poucos anos depois.
O quarto e último capítulo aborda o restante do continente americano: as consequências para a América Espanhola diante da invasão napoleônica e a ascensão dos Estados Unidos ao cenário internacional.
Para as várias partes da América Espanhola, o ano de 1808 foi especial, pois o Império Espanhol começava a ruir, fomentando as primeiras sementes dos movimentos de Independência que começariam a ocorrer em breve. Também foi especial para os Estados Unidos que, em meio às guerras européias, encontraram novas oportunidades de potencializar seu crescimento econômico e territorial.
O capítulo 4 destaca ainda o encontro dos Impérios Ibéricos em torno do Rio da Prata. Segundo os autores, a região mereceu tratamento especial porque ali, mais do que em qualquer outra parte da América Espanhola, os acontecimentos de 1808 se mostraram ligados diretamente à transferência da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro.
Isso porque, a invasão francesa da Península Ibérica em 1807 criou condições favoráveis ao incremento dos fluxos comerciais para a região do Prata, pois levou à abertura dos portos lusoamericanos, e à redução de tarifas aduaneiras para mercadorias procedentes do Brasil no porto de Buenos Aires. A instalação da Corte Joanina no Rio de Janeiro também incentivou o comércio para que se facilitasse a chegada à Corte de gêneros de abastecimento.
Para os autores, o ano de 1808 foi fundamental por evidenciar as várias mudanças do “turbilhão político do período das revoluções”, por se precipitar nele tantos eventos de forma acelerada, como que envolvidos no “olho do furacão”.
Achamos que o aspecto mais interessante do livro seja a reflexão proporcionada ao leitor sobre a questão das diferentes temporalidades. Sendo endereçado mais ao público em geral, a obra proporciona para este um aprofundamento na percepção dos diferentes tempos sociais, da multiplicidade de visões e perspectivas próprias do mundo social, das diferentes culturas, das diferentes épocas.
Assim, escolhendo o ano de 1808 e as transformações que nele vêm à tona – as idéias da Revolução Francesa, de Constitucionalismo, de libertação dos absolutismos, que significaram “varrer o mundo ocidental com um conjunto de formas políticas, econômicas e sociais que organizavam as vidas cotidianas” (p. 12), os autores conseguem evidenciar como uma cultura política pode apresentar formas e valores sociais compartilhados e, ao mesmo tempo, serem significadas de formas diferentes, em diferentes regiões, em diferentes sociedades. O leitor pode então perceber que o turbilhão político que varria o ocidente ia sendo nuançado, ia tomando sentidos diferentes na Europa, na Corte do Rio de Janeiro, nos outros Brasis, na América Espanhola – um dos aspectos mais fascinantes proporcionado pela abordagem histórica.
Léa Maria Carrrer Iamashita – Doutoranda em História Social-UnB.
SLEMIAN, Andréa; PIMENTA, João Paulo G., A Corte e o Mundo: uma história do ano em que a família real portuguesa chegou ao Brasil. São Paulo: Alameda, 2008, 180 p. Resenha de: IAMASHITA, Léa Maria Carrrer. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.13, p.225-230, 2008. Acessar publicação original. [IF].
La insubordinación fundante: breve historia de la construcción del poder de las naciones / Marcelo Gullo
La insubordinación fundante, de Marcelo Gullo, é obra que se propõe original em pelo menos dois aspectos: a perspectiva analítica e a criação de conceitos. Para tanto, percorre a trajetória dos casos de sucesso no processo de desenvolvimento econômico e construção do poder nacional, desde o século XIV – Portugal, Espanha, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha, Japão e China –, em uma perspectiva periférica; e propõe novos conceitos para serem aplicados aos atuais países emergentes, principalmente o de umbral de poder. Nos últimos capítulos, o autor analisa a presença de novos atores no jogo político internacional e os desafios que se lhes apresentam na busca pelo desenvolvimento socioeconômico, e desenvolve análise prospectiva, incluindo a atual posição dos Estados Unidos no cenário internacional. Dessa forma, Gullo se lança em um estudo de caráter multidisciplinar, situado na interface da História Moderna e Contemporânea com a Economia Política e a Teoria do Desenvolvimento.
No prefácio do livro, Hélio Jaguaribe destaca que o conceito de periferia utilizado pelo autor apresenta duas dimensões, a de uma perspectiva e a de um conteúdo, ou seja, de um autor sul-americano que analisa as condições de possibilidade de um país periférico deixar de sê-lo. Ao longo do texto, a tese central – que todos os processos de crescimento comercial e/ou industrial exitosos resultaram da conjugação de uma atitude de insubordinação ideológica em relação ao pensamento dominante com um impulso estatal eficaz – é construída em perspectiva comparada. Aproxima-se, assim, de forma explícita, da interpretação cara ao neoestruturalismo econômico latino-americano referente às estruturas hegemônicas de poder e à necessidade de superá-las.
Na realização do duplo intento do autor, os dois primeiros capítulos, de natureza essencialmente teórica, discutem a teoria da subordinação e o conceito de umbral de poder. A teoria da subordinação considera que a igualdade jurídica entre os Estados é uma ficção e que as regras criadas no jogo do sistema internacional expressam os interesses das grandes potências, disfarçados na forma de princípios éticos e jurídicos universais. Para enfrentar as estruturas hegemônicas e as regras do jogo internacional, os países periféricos precisariam acumular recursos de poder e alcançar o umbral que se redefine a cada conjuntura histórica distinta. Por exemplo, Portugal e Espanha alcançaram o papel de pioneiros na expansão europeia dos séculos XV e XVI por intermédio da capacitação tecnológica, da vantagem estratégica (a opção por buscar outra rota para as Índias que não o Mediterrâneo) e do impulso estatal, com base na organização administrativa do Estado moderno e da racionalidade que o sustentava. Em linhas gerais, foi o mesmo processo seguido pelo Japão com a Revolução Meiji e com a China das últimas décadas do século XX e início do XXI.
Quanto ao conceito de umbral de poder, Gullo o conceitua como o quantum mínimo de poder necessário para se alcançar o desenvolvimento socioeconômico e a construção da potência, abaixo do qual cessa a capacidade de autonomia de uma unidade política. Em outras palavras, é o poder mínimo que necessita um Estado para não cair na subordinação, em um momento determinado da história. Os Estados que, historicamente, se transformaram em potência obtiveram em determinado momento o quantum mínimo de poder para atuar de maneira autônoma no cenário internacional e projetar o seu poder. Na verdade, do estudo aprofundado da história da política internacional se revela que, na origem do poder nacional dos principais Estados que conformam o sistema internacional, se encontra sempre presente o impulso estatal. Por impulso estatal entende o autor todas as políticas realizadas por um Estado para criar ou incrementar quaisquer dos elementos que conformam o poder desse Estado. Com efeito, o conceito de impulso estatal envolve todas as ações levadas a cabo por uma unidade política para estimular o desenvolvimento ou o fortalecimento dos elementos de poder nacional. O exemplo utilizado como paradigmático pelo autor foi a Lei de Navegação inglesa, de 1651, segundo a qual era permitido importar somente mercadorias transportadas em navios ingleses que estivessem sob comando inglês e cuja tripulação fosse de maioria inglesa. Assim, ao tratar da noção de impulso estatal, Gullo se aproxima nitidamente da corrente realista das relações internacionais, em diálogo indireto com o historiador Edward Carr e seus ensinamentos na obra Vinte anos de crise, publicada originalmente na conjuntura do início da Segunda Guerra Mundial.
Nos capítulos 3 a 9, são percorridas as experiências dos países bem sucedidos em seu processo de desenvolvimento, com a preocupação voltada para o momento no qual tais Estados decidiram pela insubordinação diante da ideologia predominante em determinada época e, por meio de forte ação estatal, envidaram esforços no sentido da construção do poder nacional. O mais importante exemplo contemporâneo de processo de construção do poder nacional é o da China que, a partir de Deng Xiaoping, iniciou uma mudança metodológica e, na visão do autor, não uma ruptura com o passado, na busca da construção – ou reconstrução – do poder da nação chinesa.
No caso da China, a ênfase da análise recai sobre a figura política de Sun Yat-Sen que, nascido em 1866, se converteu progressivamente, após a revolta nacionalista dos Boxers (1900-1901), na figura chave dos revolucionários chineses que lutavam contra a monarquia Manchú e na defesa da democracia e do fim da dependência chinesa em relação às potências estrangeiras.
A revolução contra a monarquia eclodiu em outubro de 1911 e, no início do ano seguinte, uma assembleia constituinte elegeu Sun Yat-Sen como presidente da nascente República da China. No entanto, o general pró-monarquia Yuan She-Kai, com um golpe de mão, provocou a renúncia de Sun Yat- Sen e assumiu o cargo de presidente.
Foi após esses episódios que Sun Yat-Sen desenvolveu um conjunto de concepções que afirmavam que uma revolução, para ser vitoriosa na China, precisaria da aproximação com operários, camponeses e com a burguesia nacional. Tais ideias orientaram, sob sua liderança, a fundação do Kuomintang – partido nacional e popular – que aspirava organizar uma frente única para a libertação da China, mas que enfrentou uma conjuntura interna politicamente caótica. Sun Yat-Sen faleceu em 1925 e deixou o Kuomintang firmemente organizado como um partido policlassista, dotado de um exército eficaz e reforçado pelos comunistas. Sua doutrina política, porém, encontrou terreno fértil para se desenvolver, tendo por base a ideia dos três princípios, utilizada pela primeira vez por Sun Yat-Sen em 1905 e significando a integração, em um mesmo projeto político e revolucionário, de suas teses sobre o naci que tais princípios devem ser adaptados a cada conjuntura histórica.
É nesse sentido que Marcello Gullo sustenta que a influência de Sun Yat-Sen chega a Mao Zedong e seus sucessores, sob o princípio da adaptação da teoria à realidade e não a realidade à teoria. A trajetória do modelo chinês de desenvolvimento, desde sua abertura no final da década de 1970, confirma a presença dos três princípios e revela extraordinária capacidade de adaptação a cada conjuntura histórica, além de um modelo planejado e gradual de desenvolvimento. Se até os anos noventa o governo chinês orientou a maior quantidade de capitais estrangeiros para a produção em setores intensivos em mão de obra, a partir de então, tratou de orientá-lo para os setores intensivos em capital e tecnologia. A nova estratégia ficou conhecida como desenvolvimento em paralelo, que consiste em desenvolver simultaneamente a indústria “tradicional” e a intensiva em conhecimento.
São esses exemplos de desenvolvimento econômico que, analisados em perspectiva histórica, podem auxiliar países emergentes, como os latinoamericanos, a encontrar seus próprios caminhos. Para tanto, Gullo sugere que líderes políticos, jornalistas especializados e estudiosos das relações internacionais na América Latina devem procurar ultrapassar a agenda, o debate e o vocabulário produzidos nos grandes centros de excelência acadêmica dos Estados Unidos. Significa pensar as relações internacionais desde a periferia latino-americana, para gerar ideias, conceitos, hipóteses e, certamente, um vocabulário próprio, capaz de dar conta da nossa própria realidade e dos nossos problemas específicos no sistema internacional. Na visão do autor, o pensar desde a periferia não deve levar à repetição das lamentações do passado, mas à ação no sentido da superação da condição periférica. Nosso debate teórico principal deveria ser cómo alcanzar el nuevo umbral de poder.
É justamente em sua análise prospectiva que Gullo deixa de contemplar o que tem sido o debate regional mais recente, voltado para a discussão em torno da existência ou não de consensos nacionais em relação ao tema do desenvolvimento e, no caso de resposta afirmativa, a discussão sobre os limites políticos enfrentados pela maioria dos países latino-americanos em seus esforços de desenvolvimento econômico e social. Gullo não aborda a questão das alternativas de desenvolvimento apresentadas por países como Bolívia e Equador, tomando o desenvolvimento econômico como um valor em si, principalmente quando o toma apenas como caso de crescimento e não de desenvolvimento em seu sentido amplo.
Outro aspecto a ser destacado é o fato de o autor não fazer referências a uma obra muitíssimo próxima da sua, o livro Chutando a escada, de Ha-Joon Chang (CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. São Paulo: Editora UNESP, 2004). Chang analisou a trajetória histórica de potências como a Grã-Bretanha e retirou dessas experiências algumas lições, principalmente a necessidade de se rever algumas das ideias fartamente divulgadas na década de 1990, como a de que os países em desenvolvimento têm que seguir as sugestões dos desenvolvidos, a de que devem fazê-lo porque é o desejo dos investidores internacionais e a de que há um “padrão mundial” de desenvolvimento institucional das nações.
O diálogo com Chang daria condições a Gullo de aprofundar a dimensão institucional do desenvolvimento, tanto nos aspectos que freiam o desenvolvimento dos países periféricos quanto na busca de alternativas.
Não obstante as observações acima, La insubordinación fundante – livro premiado em Buenos Aires como melhor livro de 2008 – é obra original que consegue cumprir os objetivos de sustentar uma visão sul-americana dos casos históricos de êxito no processo de desenvolvimento e de propor novos conceitos nos estudos sobre o desenvolvimento. Os conceitos de umbral de poder e de insubordinação fundante trazem, indubitavelmente, novo vigor ao tema do desenvolvimento latino-americano.
Carlos Eduardo Vidigal – Professor Adjunto do Departamento de História da Universidade de Brasília.
GULLO, Marcelo. La insubordinación fundante: breve historia de la construcción del poder de las naciones. Buenos Aires: Biblos, 2008. Resenha de: VIDIGAL, Carlos Eduardo. Textos de História, Brasília, v.16, n.2, p.307-311, 2008. Acessar publicação original. [IF]
Camaradas, Clientes e Compadres. Colonialismo, socialismo e democratização em São Tomé e Príncipe / Gerhard Seibert
Aqui está um estudo sobre um pequeno país africano de língua portuguesa, pouco conhecido no Brasil. Apesar de em tempos idos termos tido uma relação bem forte com este arquipélago, hoje pouco sabemos sobre São Tomé e Príncipe. Sua história contemporânea traz em si uma vertente do que o mundo tem sido desde os tempos de extremadas bipolaridades estendendo-se à globalização atual. Estudar o arquipélago de São Tomé e Príncipe, nas suas experimentações do socialismo e, mais recentemente, de convívio com neoliberalismo, requer um estudo de grande fôlego. Ao estudar essas etapas da história são-tomense recente, o autor, Gerhard Seibert, se propõe analisar o curso da mudança política e seu impacto sócio-econômico.
E ele vai mais longe, focalizando especialmente a transição do socialismo de partido único ao chamado sistema pluripartidário. A intenção, diz Seibert, é avaliar essas mudanças à luz da cultura política local existente.
Para trilhar esse percurso o livro inicia com uma longa retomada da história remota, desde o período da abertura atlântica, com a chegada dos portugueses às ilhas. Como se deu a formação das suas populações e as suas diferenças em relação aos africanos continentais, são pontos cruciais para entendermos a peculiaridade são-tomense. Uma sociedade nascida mestiça, no fluxo das chegadas de africanos e portugueses. Quanto ao tipo de população branca que migrou para o arquipélago, com certeza não há grandes diferenças se comparada com aquela que foi para Angola, Moçambique e Guiné. Há uma grande semelhança com Cabo Verde, ambas são sociedades com pendor insular. Os são-tomenses, com um traçado social diferenciado entre forros, angolares, tongas, cabo-verdianos, constituem um painel de diversidade social no arquipélago. Todos, bem ou mal, foram confrontados com as formas de trabalho forçado nas plantações de açúcar primeiro, e cacau depois, nas fases diferenciadas do colonialismo português implantado no arquipélago.
O livro está sempre pontuado, ao caracterizar o arquipélago, pela comparação com as ilhas do Caribe em termos de população, comércio e situação política, resultando da comparação um menor desenvolvimento econômico e maior instabilidade política e social nas ilhas africanas.
Em julho de 1975 nasceu o Estado independente de São Tomé e Príncipe sob a presidência de Manoel Pinto da Costa, liderando o Movimento pela Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP). Mas a luta pelo poder dentro da cúpula do partido foi levando o modelo político para uma tendência radical socialista. Por outro lado, a manutenção da velha economia de plantação, agora gerida pelo Estado, apenas exacerbou as discrepâncias sócioeconômicas.
Antigos conflitos entre forros e trabalhadores das roças (grandes plantações) persistiram, fossilizando mais ainda as diferenças entre os forros e os trabalhadores migrantes africanos.
A atitude do Estado, investido de todas as funções que levariam à prosperidade ocupando o lugar de empresário de todas as atividades do país, não funcionou. A falta de pessoal com formação mínima para desempenhar os cargos administrativos justifica, junto com os demais fatores, o fraco desempenho econômico. Embora os direitos de todos fossem iguais, pondo fim à era colonial de cerradas barreiras socioculturais, restava ainda integrar as populações das plantações aos grupos citadinos, preferencialmente alocados nos cargos administrativos. A disputa pelos recursos do Estado por e posições dentro do Partido levou, cada vez mais, a um poder centralizado e ao encastelamento dos parentes e familiares do presidente nos principais postos de poder. Tudo isso mostrava a ineficiência organizacional e institucional do governo.
A ÉPOCA DA VIRADA
Depois de dez anos de regime de partido único, São Tomé e Príncipe inaugurou, entre as jovens nações africanas, o pluripartidarismo. A aproximação com o bloco de países ocidentais incluiu retomar o diálogo com os dissidentes do regime e a abertura da economia. Uma direção indispensável foi o projeto de “reajustamento estrutural”, um programa concebido pelo Banco Mundial e pelo FMI visando o desenvolvimento econômico para o período da década de 90. O governo são-tomense não alcançou as metas estipuladas pelos organismos internacionais. O autor enfileira uma série de razões: desde as debilidades institucionais e as expectativas por demais pretensiosas, até a cultura política do clientelismo, a corrupção endêmica, a escassez de pessoal qualificado. Tais razões, anota ele, podem explicar o fracasso dos governos sãotomenses na efetivação da prosperidade anunciada. Apesar da ajuda externa e dos empreendimentos de nações estrangeiras, que são propalados medidores dos organismos internacionais, o crescimento econômico real não aconteceu.
A população continua em estado de pobreza e o aumento da dívida externa é o fato mais concreto desde 1991. São Tomé e Príncipe continua a ser um país pobre com um Produto Interno Bruto de 41 milhões de dólares (dados de 1996).
Mas, se aquelas questões citadas acima explicam o fracasso dos empreendimentos para chegar à prosperidade em São Tomé e Príncipe, como explicar a presença desses mesmos fatores negativos por toda a África? Posso repetir aqui a pergunta de um embaixador africano em uma reunião de comemoração do dia da África na UnB: será que os africanos não se adaptaram à modernidade? Ou, indo mais longe, o que explicaria o fracasso do FMI e do Banco Mundial também em outros cantos do mundo, como a Rússia, Argentina e por toda África? O livro de Seibert não tenciona responder as estas perguntas, mas a outras de menor alcance, porém nem por isso de menor importância.
Ele procura a explicação da complexidade da crise desse país africano pela perspectiva da cultura política. Analisa a disputa partidária e a consistência de seus programas, o debate e o desempenho na campanha eleitoral, os tipos de candidatos, assim como as expressões políticas nos diferentes partidos. Chega a concluir que as diferenças são poucas e que “as relações patrono-cliente têm desempenhado um papel importante na disputa partidária”. Uma atitude personalista na política tem predominado no jogo da disputa pelo poder.
Assinala também, nesse campo, o quanto o fazer político em São Tomé e Príncipe ainda é uma atividade masculina, com um reduzido percentual de participação feminina.
Mas apesar disso, o cenário político mostra transições pacíficas e derrotas de candidatos com desempenho insatisfatório no teste das urnas.
A leitura deste livro permite um mergulho no universo africano e no mundo contemporâneo com suas questões candentes, e nos propõe repensar o nosso lugar na globalização.
Selma Pantoja – UNB, Universidade de Brasília.
SEIBERT, Gerhard. Camaradas, Clientes e Compadres. Colonialismo, socialismo e democratização em São Tomé e Príncipe. Lisboa: Veja, 2002. Resenha de: Pantoja, Selma. Textos de História, Brasília, v.16, n.1, p.185-187, 2008. Acessar publicação original. [IF]
Moinho, esmola, moeda, limão: conversa em família – LAMOUNIER (RBH)
LAMOUNIER, Bolívar. Moinho, esmola, moeda, limão: conversa em família. São Paulo: Augurium, 2004. 431p. Resenha de: NOVINSKY, Anita Waingort. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.27, n.54 , dec. 2007.
Com uma obra que vem revolucionar a historiografia brasileira – Moinho, esmola, moeda, limão: conversa em família –, Bolívar Lamounier se lançou numa aventura histórica cujas proporções se estendem da mais profunda fantasia ao mais sério rigor científico.
Num volume de 431 páginas que lemos como se fosse o mais atraente romance, o autor mergulha no passado e fala a todos nós, leigos e historiadores, que buscam encontrar um elo entre o que somos e toda a galeria de antepassados, que não conhecemos, que viveram e lutaram antes de nós, para sobreviver com o trabalho, a caridade, o negócio, as plantas e a natureza.
Inicialmente, Lamounier partiu de um sentimento, uma curiosidade, uma curiosidade que nos preocupa a todos: quem somos? Não apenas como seres biológicos, mas como seres sociais.
Parte então fascinado pelos nomes. O que significam os nomes? E os sobrenomes? Como se formaram? Como evoluíram? Para responder a estas questões o autor penetra fundo no poço da história, vai ao Império Romano, vai à Idade Média, vai às Cruzadas. De onde veio seu nome? Buscou pistas, vasculhou o longínquo passado atravessando a realidade vivida pelos homens, suas lutas para sobreviver, suas misérias, até chegar ao grande tema político – a formação dos Estados Nacionais – e a alucinante corrida pela posse das riquezas. Mostra-nos que os apelidos e sobrenomes são derivados de ofícios, e isso é uma constante no mundo; entretanto, esse fenômeno não se verifica na onomástica brasileira durante o período colonial, talvez por causa da escravidão, talvez porque Portugal não permitia o desenvolvimento da colônia, limitada apenas a produzir para o Reino.
Os apelidos, na Europa em geral, têm origem em uma ocupação – que depois se generaliza e se transforma em sobrenome hereditário. Lamounier foi buscar seus ancestrais, longínquos, que viveram em outro universo, diferente do nosso, e caminhando através da história chega até nós – e até as fantásticas conquistas da técnica, sempre num crescendo até ancorar em Minas Gerais.
Vejamos o caminho percorrido pelo autor: partiu de quatro focos – o moinho, a esmola, a moeda e o limão. Partiu de um mundo onde a identificação das pessoas era precária e incipiente, para o mundo onde a identificação é completamente institucionalizada. Passou de um mundo ‘ignominioso’, sem nomes, ou de nomes difusos e instáveis, para o mundo atual, onde a identificação individual é minuciosa.
Apresenta-nos então o ‘moinho’ e a ‘miséria’, que era percebida como condição imutável, para em seguida chegar à ‘moeda’, quando se formam os Estados Nacionais, que controlam a fabricação e a circulação do dinheiro – e por último, nos conduz ao ‘limão’. Desses quatro focos evolui o mundo na direção do progresso.
Assim, duas visões de mundo se confrontam: uma é hostil à modernidade, nostálgica de um mundo mais simples; outra valoriza as conquistas materiais e a cultura, como caminho para uma vida humana mais feliz.
Lamounier mostra-nos o destino humano em um tempo quando tudo era desígnio divino e inexistia a idéia de progresso. A pobreza era aceita como algo natural e os reinos praticavam a caridade não para ajudar o ‘outro’, mas para salvar sua própria alma. As esmolas, escreve Lamounier, eram vistas como recibos de depósitos a serem cobrados no céu. Essa visão de mundo se manteve durante séculos.
As restrições religiosas que bloqueavam o progresso científico são quebradas no século XVIII, até que no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, a Igreja passa por um processo de ‘esquerdização’, principalmente na América Latina, desaguando na Teoria da Libertação.
A industrialização e a modernidade tornaram a sociedade moderna extremamente vulnerável, e o socialismo aumentou ainda mais a centralização e a burocratização do Estado. Talvez, pensa o autor, as organizações não governamentais (ONGs) possam auxiliar na direção de uma nova política social.
Afinal, parece que nos encontramos numa situação angustiante e insolúvel, numa encruzilhada sem saída. De um lado, o mundo melhorou – hoje há muito menos pobres do que há dois ou três séculos. De outro, navegamos num agitado mar de violência destrutiva. Lamounier nos confronta com esse mundo paradoxal e pergunta: qual a saída?
Do moinho, da pobreza, da esmola, Lamounier passa para a moeda – e tece a mais curiosa história sobre sua origem e progresso. Durante séculos a escassez de moedas de pequeno valor dificultava as transações básicas da vida cotidiana e entravava o desenvolvimento do comércio. A moeda é uma criação recente – e seu desenvolvimento resultou de um processo lento que só se completou em estágio bem avançado do capitalismo. Como meio universal de troca, a moeda é um fenômeno do século XIX. Surgem então os patronímicos derivados da moeda.
Em se tratando de nomes, Lamounier lembra que há um mito corrente, de que os portugueses descendentes dos judeus, os cristãos-novos, traziam nomes de frutos e árvores, como, por exemplo, os Oliveira, Lima, Pereira, Carvalho. É verdade que esses nomes aparecem também entre os cristãos-velhos e em outros países, mas o que surpreende é a constância de alguns deles entre os cristãos-novos.
Sobre a mentalidade que na época predominava entre as elites dirigentes portuguesas, Lamounier nos mostra que estava conectada com a Contra-Reforma, a Inquisição e o Absolutismo. A falsa aparência de riqueza de Portugal coexistia com o seu obscurantismo – expresso numa instituição de terror, a Inquisição, cujos efeitos sobre a economia e a alma dos homens ainda não foram devidamente analisados.
No momento em que a Europa se reformula com o Iluminismo, quando filósofos expressam e criticam o mundo, a política, a religião, d. João V – chamado de “rei freirático”, porque todas as noites ia aos conventos dormir com as freiras – esbanja o ouro brasileiro para ostentar os famosos autos-de-fé, aos quais assistia com verdadeira paixão, rodeado de toda a nobreza.
Não creio que o furor inquisitorial tenha diminuído sob d. João V. Ao contrário, foi durante seu reinado que a Inquisição agiu com maior furor, prendendo e penitenciando centenas de luso-brasileiros, tanto em Portugal como no Brasil. Só fechou suas portas em 1821, continuando porém a existir no século XX, sob o nome de “Congregação para a Doutrina da Fé”, da qual foi diretor e ideólogo o atual papa Bento XVI.
Lamounier lembra-nos um aspecto sumamente interessante de nossa vida colonial no século XVII, o mandonismo de nossos fazendeiros de açúcar, que controlavam a Câmara e desacatavam os governantes enviados da Metrópole. Quem na realidade mandava no Brasil eram os senhores de engenho, que tinham verdadeiros exércitos, e os chamados “homens bons”, que controlavam todos os setores da vida – os preços, a construção de estradas e a Câmara.
Lamounier sugere uma resposta à questão formulada por Sérgio Buarque de Holanda e que permanece sem resposta até hoje: por que o Santo Oficio da Inquisição nunca estabeleceu um Tribunal no Brasil, se o tiveram México, Cartagena e Peru?
Depois da expulsão dos holandeses e durante a crise do açúcar, Portugal se ergue economicamente com o descobrimento do ouro, e, enquanto o Brasil manda toneladas do metal para Portugal, o povo morre de fome. A metrópole não permitia a livre iniciativa, a criação de uma universidade, nem a existência da imprensa, e proibia qualquer atividade que não fosse a extração do ouro.
O quadro de Minas Gerais que Lamounier nos pinta, revela o desastre da colonização – a Inglaterra enriquecia com o nosso ouro, e Portugal comprava luxo às custas do Brasil. O que impressiona é ler sobre a violência e as crueldades da sociedade mineira – que para o autor são conseqüência do regime absolutista.
Segundo certos autores, quando o ouro acabou, a população de Ouro Preto ficou reduzida – a economia murchou, a população empobreceu, as terras das minas foram abandonadas e surgiu outro tipo de sociedade. Mas Lamounier discorda de Celso Furtado sobre a atrofia econômica de Minas depois da extinção do ouro, e analisa opiniões controversas de diversos autores.
Através da busca curiosa de si próprio, Lamounier se lança na investigação crítica da história, atravessando campos diversos das ciências humanas. Parte da singularidade para chegar ao todo. Às vezes parece esperançoso, às vezes cético.
Como evoluiu a vida material do homem, como progrediu a sociedade, com seus desastres e suas vitórias, com suas cruezas e suas generosidades – e para onde partimos?
Lamounier nos mostra os paradoxos da trajetória humana. De um lado, a luta para preservar o que já está estruturado, de outro a ânsia de mudança. Se de um lado decaímos – pois à medida que evoluímos, evolui a crueldade, a violência, a anti-ética –, de outro, materialmente, quanto progresso e quanta inovação!
Depois de percorrer o mundo, reconstituir o cotidiano, refletir sobre a violência e a crueldade dos homens, os meios de subsistência, os alimentos, a casa, o mobiliário, os costumes, os talheres, as baixelas, as políticas reais e a mentalidade, depois de nos conduzir ao moinho ao século XX, Lamounier volta às suas memórias e origens. Retorna ao século XVIII, quando vivia seu antepassado Afonso Lamounier, que aos 20 anos chega sozinho de Lisboa para a Comarca do Rio das Mortes. O que o trouxe para as Minas? Aventura, ascensão social, dinheiro? Ou talvez, quem sabe, o estigma de sua ascendência na sociedade racista de Portugal?
No Brasil, Afonso Lamounier recebe terras e sesmarias, e seu bisneto Lamounier Godofredo faz parte do primeiro Congresso Republicano. Bacharel em Direito, deputado do Império, pronuncia-se enfaticamente sobre a separação entre Estado e Igreja, sobre a liberdade de culto e liberdade de consciência; luta pelo direito do voto feminino, pela reforma salarial e pelo anti-militarismo, participando da Constituinte de 1891.
E ainda outro Lamounier, Gastão Marques Lamounier, cujo talento o levou para a carreira de músico, e o curioso Levindo Lamounier, trineto daquele primeiro jovem que chegou ao Brasil e foi viver no sertão.
É interessante que a ‘obra aberta’ de Bolívar Lamounier nos mostra diversos caminhos – e nos sugere as mais diversas idéias e considerações. A mais sugestiva que perpassa o pensamento do leitor é, talvez, a sua identificação com a Sobornost, palavra que designa os princípios fundamentais do ‘viver russo’, pelos quais cada ser humano é visto como uma singularizarão da vida de muitos.
Compreender o ser humano como a singularização de muitos, como nos ensina Gilberto Safra, significa que cada ser humano é a singularização da vida de seus ancestrais, assim como o pressentimento daqueles que ainda virão. Quando estamos frente a alguém, estamos frente à singularização dos ancestrais. Cada indivíduo é único – e é também múltiplo. Não é possível abdicar à condição humana sem pensar o homem através da história. Porque o homem não é só ser natural. É também histórico. A vida de cada um de nós só pode ser percebida na estrutura e forma da nossa própria família. Ao mesmo tempo em que o homem é filho da natureza, é fruto de seus ancestrais.
A obra de Bolívar Lamounier identifica-se com essa concepção de forma magistral. Deu-nos uma lição para repensar quem somos. Escreveu um livro sobre história do Brasil e encontrou o seu próprio lugar nessa história, compartilhando seu destino com os que estão, com os que foram e com os que virão.
Anita Waingort Novinsky – Laboratório de Estudos sobre a Intolerância – Universidade de São Paulo (USP). Av. Prof. Lineu Prestes, 159 (prédio da Casa de Cultura Japonesa, subsolo), Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, Butantã. 05508-000 São Paulo – SP – Brasil. E-mail: anitano@terra.com.br
[IF]
Señores de todo el mundo. Ideologías del Imperio en España,Inglaterra y Francia (en los siglos XVI, XVII y XVIII) – PAGDEN (PR)
PAGDEN, A. Señores de todo el mundo. Ideologías del Imperio en España, Inglaterra y Francia (en los siglos XVI, XVII y XVIII). Barcelona: Ed. Península, 1997. 313p. (1ª edición). Traducción de M. Dolors Gallart Iglesias. Resenha de: MOLINA-NIÑIROLA, Francisco Javier Asturiano. Panta Rei – Revista de Ciencia Y Didáctica de la Historia, Murcia, 2ª época, p. 2007.
Autor
El autor del libro que reseñamos es Anthony Pagden, historiador inglés formadoen Santiago de Chile, Londres, Barcelona y Oxford. Fue profesor adjunto de Historiaintelectual moderna de la Universidad de Cambridge y miembro del consejo dedirección del King’s College, y titular de la cátedra «Harry C. Black» de Historia dela Universidad Johns Hopkins, Baltimore (Estados Unidos). Ha colaborado regularmenteen The Times Literary Supplement, The New Republic y The New York Times. En la actualidad es profesor en la Universidad de California.
Pagden es autor de varios libros de historia de la teoría política y social del imperialismoeuropeo. Entre sus obras destacan European Encounters with the New World:From Renaissance to Romanticism; La caída del hombre natural; El Imperialismoespañol y la imaginación política; y entre sus obras más recientes Civil SocietyHistory and Possibilities (2001), Peoples and Empires (2001), La Ilustración y susenemigos (2002); y, como editor, The Idea of Europe from Antiquity to the EuropeanUnion (2002).
Estructura de la obra
Se trata de un extenso libro de 313 páginas de denso pero riguroso contenido histórico. Tras una extensa Introducción en la que el autor enmarca y centra su obra y nos avanza algunos de los grandes temas que va a tratar, y que casi por sí sola podríaconstituir un capítulo aparte, Pagden articula el desarrollo del libro en 7 capítulos dediferente longitud. Se extiende sobre todo en los capítulos 2 («Monarchia universalis»), 3 (Conquista y colonización) y 4 (Expansión y conservación), mientras que losrestantes son bastante más reducidos.
El libro se enriquece con una extensa Bibliografía (19 páginas) y un enorme aparatocrítico (nada menos que 32 páginas de Notas al final del libro), además de undetallado Índice onomástico y un Sumario.
Comentario
En esta obra, que parece ser la primera en comparar teorías del imperio en elmundo moderno, Anthony Pagden realiza un minucioso trabajo sobre colonialismoe imperialismo, en la línea habitual de su campo de estudio, con un profundo y detalladoanálisis de las ideologías que inspiraron tres de los grandes imperios de Europa occidental.
Aunque el subtítulo del volumen nos indica que el período temporal estudiadoson los siglos XVI, XVII y XVIII, el autor nos hace un verdadero recorrido porel pensamiento político de la Antigüedad Clásica y además se adentra en el sigloXIX, llegando hasta la emancipación de Hispanoamérica. Así pues, el estudio dePagden se centra temporalmente entre los siglos XVI y XIX y se limita solamentea tres de los imperios europeos (España, Inglaterra y Francia), y únicamente en suproyección americana. Aunque aparecen citadas otras potencias imperiales europeas(en especial Holanda y Portugal), sólo se hace brevemente y en relación conlas otras tres.
Pagden señala que el mundo moderno se ha configurado a partir de los cambiosiniciados con la creación y caída de los modernos imperios coloniales. Para él, elcolonialismo que comienza con la expansión europea de finales del s. XV dio lugara migraciones masivas, ocasionó la destrucción de pueblos enteros, generó nuevasnaciones y en su fase final creó nuevos Estados y nuevas formas políticas, además decrear las modernas rutas comerciales y vías de comunicación.
El autor explica que los imperios europeos tienen dos historias distintas, pero interdependientes. El libro se centra en la primera de estas fases, que empezaría conel descubrimiento y colonización de América por los europeos, que comienza conel primer viaje de Colón (1492) y termina hacia 1830 con la derrota de los ejércitosrealistas en Sudamérica. La otra fase, de la que el libro apenas trata, es posterior yempieza con la ocupación de Asia, África y la zona del Pacífico hacia 1730, pero queno toma fuerza hasta finales del s. XVIII, cuando empieza el declive de la hegemoníaeuropea en América.
El mismo autor nos explica que ha realizado un estudio eurocéntrico, un intentode comprender qué pensaban los europeos de los imperios que habían creado y delas consecuencias a las que tuvieron que hacer frente. También intenta ilustrar laevolución que experimentó este pensamiento, y mostrar que en torno a las primerasdécadas del s. XIX se habían forjado unas pautas de expectación que determinaríanen gran medida las relaciones posteriores que mantendría Europa con casi todo elresto del mundo.
A lo largo del libro, el autor analiza los argumentos de diversos ideólogos, teóricosy pensadores de diferentes países (ya que no sólo aparecen autores españoles,ingleses y franceses, aunque lógicamente sean los más abundantes) en relación conlos tres grandes imperios objeto de estudio. El método que para ello utiliza es el de lacomparación, un método no usual, aunque el autor ya tiene en cuenta que los distintos aspectos tratados no tuvieron la misma importancia ni recibieron igual atenciónde modo simultáneo en los tres imperios.
Anthony Pagden describe el curioso proceso ideológico que tuvo lugar durantetoda la Edad Moderna en relación con los imperios que se fueron creando. Un procesoque comenzó con la apología de la evangelización y la conquista del siglo XVI,dio paso a la crítica y descrédito de la misma idea de imperio ante los problemas ydificultades que iban surgiendo, y finalizó con el nacimiento de un nuevo ideal decosmopolitismo en la época de la Ilustración, pasándose de esta forma a la idea desustituir a los imperios por federaciones de estados libres, independientes e iguales.
Al mismo tiempo, y paralelamente al estudio ideológico, estamos asistiendo aldesarrollo de la evolución política de los imperios coloniales americanos, desde sucreación en el siglo XVI hasta su crisis y desaparición por los procesos emancipadoresque comenzaron a finales del siglo XVIII.
El autor va señalando a lo largo de los capítulos la importancia de aspectos quefueron motivo de amplias discusiones ideológicas como la conquista y colonización; lamisma creación, evolución y significado de los imperios; el papel de los metales preciososy sus consecuencias; la emigración, la agricultura, el comercio, la esclavitud, eldebate entre expansión y conservación, la relación entre la metrópoli y las colonias…CríticaSe cumplen ahora 10 años de la publicación en castellano de esta obra. Podemosdecir que nos encontramos con un libro verdaderamente moderno y original, ya quese trata del primero que analiza comparativa y paralelamente las teorías e ideologíasdel imperio en tres países (España, Inglaterra y Francia) de modo simultáneo a lolargo de toda la Edad Moderna, teniendo en cuenta además los precedentes y las consecuenciasposteriores.
184Para ello el autor ha realizado una enorme labor de documentación, consultandonumerosas fuentes históricas de muy diversa temática y procedencia, desde la AntigüedadClásica hasta las fuentes historiográficas actuales. Por ello la labor de recopilacióny organización del material bibliográfico nos parece digna de mención, configurandoasí una obra erudita y muy completa, aunque no exenta de complejidad.
Se trata, pues, de un trabajo de historia intelectual en su más amplio sentido: profundo,original, intenso, sólidamente argumentado e intelectualmente estimulante, dealto nivel científico.
Sin embargo, al mismo tiempo se podría comentar que en algunos momentos dela lectura es difícil distinguir las opiniones personales y conclusiones a las que vallegando el historiador de las desarrolladas por los escritores o pensadores históricoscitados en el texto, ya que ambas van apareciendo entremezcladas en el discurso y enmuchas ocasiones no queda muy clara la separación entre ellas. Y debido al lenguajey tecnicismos utilizados en ciertos momentos, algunos pasajes pueden parecer dedifícil comprensión.
La enorme cantidad de Notas que aparecen en cada capítulo, y que Pagden hapreferido colocar todas juntas al final del libro en vez de colocarlas a pie de página, esquizás un aspecto que también podría destacarse. Si por una parte la proliferación denotas enriquece el libro aportando muchos más datos complementarios (algunas notasen sí mismas son bastante extensas), por otra parte puede hacer más compleja (ylenta) su lectura y restarle al libro agilidad. Si el lector opta por ir consultando a cadamomento las notas que van apareciendo a lo largo de la lectura, ésta puede hacerse untanto ardua.
Anthony Pagden ya nos señala en el Prefacio que su libro es una versión muyampliada y revisada a partir del núcleo inicial del curso semestral que impartió en lacátedra Carlyle de la Universidad de Oxford, en 1993. Esto ya puede ser indicativode que el historiador ha realizado un estudio de alto nivel intelectual y científico, ypara enfrentarse a él el lector debe estar previamente preparado y formado, porqueaparecen numerosos datos, conceptos y personajes históricos que deben conocersey enmarcarse en su contexto histórico y en su corriente de pensamiento, o de otramanera el lector corre el riesgo de extraviarse o no sacar el máximo provecho de sulectura.
Por ejemplo, como una muestra de la erudición de la que Pagden hace gala, en ellibro aparecen varias citas en la lengua original del escritor que se menciona (latín,inglés, francés), y también muchas obras, conceptos o palabras en su idioma original(en latín, griego, inglés, francés, alemán o italiano), lo que presupone una buenapreparación intelectual y lingüística por parte del lector. Algunas veces aparece sutraducción al castellano, pero otras no. Esta misma preparación cultural previa podríaser necesaria también ante el uso de una terminología jurídica en la discusión de cier185tos asuntos, con conceptos de derecho romano, derecho civil y derecho natural porejemplo; e incluso cuando el autor realiza un profundo estudio lingüístico sobre elorigen y significado de algunos términos importantes como imperio, monarquía, etc.
Se podría criticar la aparición de algunas aseveraciones discutibles, como la alusiónal «azar» en el caso del imperio español (un concepto abstracto y relativo quemerecería quizá un mayor debate histórico, tanto fuera como dentro del libro); o lacrítica a la democracia que aparece al final del libro. Y en general hay una escasa alusiónal papel de la religión y a las Iglesias cristianas europeas, ya que no sólo el papelde la Iglesia católica en América no aparece muy desarrollado (aunque por supuestosí hay alusiones al Papado y a las bulas de donación), sino que apenas se menciona elpapel del protestantismo y de las diversas iglesias protestantes.
Es interesante la utilización que hace Pagden en este libro del Método comparativo,señalando que desde Raynal los historiadores han permanecido indiferentes antelas posibilidades que ofrecía la comparación. Es quizás esto lo que hace de esta obraun verdadero libro moderno y original, que pudiera abrir el camino a otros estudiossimilares.
En definitiva, con este libro creemos que Anthony Pagden hace una interesanteaportación a los estudios coloniales e imperialistas, enfocado desde el punto de vistade cómo el pensamiento europeo afectó a las relaciones entre los pueblos y los Estadosde Europa; un pensamiento cuyo impacto no sólo influyó en el desarrollo de esosmismos imperios, sino que tiene aún profundos efectos en las relaciones internacionalesde la actualidad.
Francisco Javier Asturiano Molina-Niñirola
[IF]
Bruxaria e Superstição num país sem caça às bruxas / José P. Paiva
As práticas mágicas no Brasil foram até agora bem pouco exploradas, o que não acontece com relação à Europa, onde o tema tem sido insistentemente trabalhado. Uma provável razão para isso pode ser encontrada no texto do Professor Pedro Paiva, da Universidade de Coimbra, que parte de uma problemática interessante: ele quer saber o porquê de em Portugal, apesar de encontrarem-se reunidas todas as condições para a deflagração de uma violenta “caça às bruxas”, esta efetivamente não ocorreu. C) problema colocado é ousado e interessante, sobretudo porque inverte expectativas alimentadas por tantos trabalhos historiográficos que enfatizam a violência deste processo em várias partes da Europa.
O estudo parte da constatação de que em Portugal houve “dezenas de milhar” de denúncias de práticas mágicas e supersticiosas consideradas ilícitas; que estas eram muito semelhantes às perseguidas no resto da Europa; que os Tribunais inquisitoriais, episcopais e régios tinham competência e meios para perseguir seus agentes (feiticeiros, bruxos, curandeiros); que os doutos conheciam bem a doutrina do diabolismo que inspirou grande parte da repressão às bruxas em outros contextos e que estes eram considerados os pré-requisitos necessários para que a eclosão da repressão aos agentes mágicos ocorresse, como de fato ocorreu na Europa Central e do Norte entre os inícios do século XVI e final do XVII.
Como o Brasil, à época, era simplesmente a América portuguesa, as respostas encontradas por ele para a brandura da repressão às práticas mágicas servem também para explicar o caso deste, apesar das peculiaridades da situação colonial.
Para ele, a brandura da repressão portuguesa pode ser localizada na confluência de uma série de fatores, dentre eles, a formação intelectual conservadora, de cunho Tomista, predominante ali, que não concedia ao diabo a relevância dada por outras tradições teológicas e que resultava em uma menor difusão e utilização dos tratados de demonologia. Este elemento seria responsável, porém, pela manutenção da forte crença em poderes sobrenaturais por um tempo maior, pois, até meados do século XVIII, não permitiu a penetração do pensamento científico, responsável pela consolidação de uma doutrina totalmente cética em relação à existência de fenômenos como a bruxaria.
Outro fator ao qual Paiva atribui importância seria o poder e solidez da Igreja, pois, em Portugal, esta não teria passado pelas crises vividas em quase toda a Europa durante o Antigo Regime. A tradição antijudaica também seria um fator explicativo, pois a canalização das atenções do principal agente repressor das práticas mágicas para as atividades dos cristãos novos teria reduzido a severidade para com estas. Ele realça ainda o esforço de evangelização, principalmente após Trento, voltado para as culturas populares. A Igreja portuguesa passou a editar com freqüência os catecismos, a colocar em prática as visitas pastorais recomendadas, a realizar missões, a estimular a confissão e a se preocupar mais com as prédicas dos sermões. Tudo isso passou a ser feito em um ritmo cada vez mais acelerado, além de passarem a ler, durante as missas, as normas inscritas nas Constituições diocesanas. Enfim, encetaram uma vasta campanha visando atender às recomendações feitas pelo Concilio de Trento.
O último aspecto considerado por Paiva como importante para explicar a brandura da repressão portuguesa, se localizava não nos inquisidores, mas nos próprios acusados, pois, segundo ele, para os rústicos era inconcebível realizar um pacto com o diabo e renegar o seu Deus, dois dos elementos indispensáveis à condenação à pena capital: a fogueira. Sua explicação para isto é de que a crença em Deus e a aversão ao Diabo estariam profundamente enraizadas na crença popular.
Paiva afirma que apesar de não ter havido caça às bruxas em Portugal, isso não significa que não tenha ocorrido “um controlo dos agentes de práticas mágicas”, resultando num número elevado de condenações. Para ele, a Igreja e a Inquisição, que se ocuparam destas questões, não as colocaram em posição central e as reflexões mais profundas produzidas sobre o tema versam sobre a doutrina do pacto diabólico, que em última instância, definia se a ação era herética ou não. A heresia era o que interessava e que definia a gravidade do fato.
Analisando o relativo ceticismo das elites intelectuais portuguesas ele diz acreditar que este “decorria de uma interpretação das limitações do poder do Diabo face à omnipotência divina” ao que “Juntava-se uma sensação de proteção divina e eclesial, face aos poderes do diabo e de seus aliados”. A conseqüência desta postura foi não ter surgido em meio às elites portuguesas reações de pânico e pavor tão comuns em outros países, o que ele atribui à confiança dos fiéis nos remédios que a Igreja disponibilizava para o combate destes males.
Um diferencial entre o que ocorria na Metrópole e o que se passava na colônia americana é que a cristianização ali já tinha alcançado um patamar de aceitação bastante elevado, apesar da imperfeição da catequese realizada até então.
A inexistência de luta entre duas concepções cristãs — popular e erudita – não exigiu um aprofundamento da pregação contra o demônio, coisa, aliás, colocada em prática de maneira muito freqüente na colônia para atemorizar os negros e índios e induzi-los a buscar remédio para sua salvação na doutrina da Igreja.
Apesar da perseguição aos mágicos não ter sido colocada como prioridade durante os séculos XVI e XVII, não tendo gerado, portanto, uma corrente persecutória muito acirrada em direção a eles, o assunto foi colocado sistematicamente em discussão pelos Editos da Fé. Esta colocação se devia à situação vivida em outros locais onde a insegurança foi maior devido à maior penetração da reforma protestante, gerando uma intolerância e uma severidade sem limites e onde os soberanos encontravam resistências à implantação de seu poder.
A crença na existência e presença de bruxos, feiticeiros, curandeiros e supersticiosos, em Portugal, é comprovada pelo número de denunciados por essas práticas ao Santo Ofício, indicando a incidência da mentalidade ligada ao sobrenatural e às explicações mágicas do mundo vigentes no restante da Europa e territórios freqüentados pelos europeus. O que muda é a relaüva tranqüilidade com que as autoridades reagiam a elas, deixando sem investigação e castigo uma parte considerável das pessoas denunciadas.
Apesar da brandura, lembra Paiva, alguns momentos de pico podem ser observados com relação à repressão às práticas mágicas em Portugal. Observa que a partir de 1620 passa a haver um interesse maior por estes casos, resultando em uma elevação do ritmo de repressão, mas que após a Restauração ele teria sido estancado.
Aponta ainda dois outros momentos de intensificação: um instalado a partir de 1680 e outro a partir de 1710, este mais voltado para a repressão de curas supersticiosas. De acordo com os dados de sua pesquisa (ele trabalhou o período compreendido entre 1600 e 1774), a maior parte dos mágicos processados pelo Santo Ofício era de origem rural e as principais acusações que pesavam sobre eles eram de práticas curativas e, em menor escala, de malefícios. Os de origem urbana, minoritários, eram normalmente acusados de inclinar vontades e adivinhação.
Em decorrência destes dados o autor se lançou à análise microscópica de uma paróquia rural: São Martinho do Bispo, passando pelo levantamento de dados geográficos e econômicos da localidade, por uma tentativa de reconstrução do cotidiano daquela aldeia e fechando com uma tentativa de análise da dinâmica de uma acusação de bruxaria. Apesar de ser um capítulo que se propunha a dar uma idéia do padrão dos locais onde casos de bruxaria poderiam ter eclodido, não se localiza nele o ponto forte do livro. Seu maior mérito é o de encontrar uma explicação plausível para a convivência relativamente pacífica, ocorrida em Port ugal, entre uma legislação altamente repressiva e uma ação relativamente benevolente de todas as instâncias que possuíam foro sobre a questão – inquisitorial, eclesiástica e real — com relação aos agentes de práticas mágicas.
Helen Ulhôa Pimentel – Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).
PAIVA, José Pedro. Bruxaria e Superstição num país sem caça às bruxas. 1600- 1774. 2a ed. Lisboa: Notícias, 2002, 397p. Resenha de: PIMENTEL, Helen Ulhôa. Textos de História, Brasília, v.14, n.1/2, 2006. Acessar publicação original. [IF]
Jesuítas e inquisidores em Goa – TAVARES (RBH)
TAVARES, Célia. Jesuítas e inquisidores em Goa. Lisboa: Roma Editora, 2004, 298p. Resenha de: FRANCO, José Eduardo. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.26, n.51 jan./jun. 2006.
Em torno da complexa problemática da Inquisição moderna no quadro da história cristã ocidental paira um amontoado de noções, visões, imagens, umas distorcidas, outras ambíguas, a maioria delas hipertrofiadas. Estas percepções resultam de ilações simplistas, de associações temáticas e institucionais imprecisas, e ainda de muitos juízos que desconsideram o contexto mental do tempo histórico em que emergiu e vigorou o Santo Ofício como máquina judicial poderosa ao serviço da Igreja e dos poderes políticos que exigiram e subvencionaram a sua erecção.
Entre essas visões cristalizadas e “pré-conceitos” acríticos podemos recordar alguns dos mais recorrentes que não são mais do que o produto de intensivos tempos de propaganda e polémicas que teceram uma “lenda negra” do Santo Ofício e de instituições que colaboram ou conviveram com este tribunal. Essa marcante cultura de propaganda e polémica deu origem a avaliações desfasadas na integração e valorização da Inquisição naquilo que podemos chamar a história universal da repressão.
Eis algumas dessas hiper-focalizações. A exagerada concentração dos juízos em torno dos tribunais da Inquisição ibéricos como sendo muito mais temíveis, violentos e repressivos do que os seus pares de outros países católicos europeus, visão apriorística que tornou os outros tribunais aparentemente mais benignos e mais inofensivos. A excessiva valorização dos tribunais do Santo Ofício como as instituições judiciais que mais usavam de métodos repressivos violentos e atrozes, esquecendo-se que no mesmo período histórico as instituições judiciais do Estado usavam paralelamente de práticas e métodos repressivos tanto ou mais injustos e esmagadores. E ainda a hiper-focalização da atenção crítica nas formas institucionais de Inquisição católica, sonegando-se ou obnubilando-se que nas sociedades protestantes e em sociedades e culturas estruturadas por outros sistemas religiosos também coexistiram e se desenvolveram, naquela mesma época, sistemas e formas de controlo com semelhante grau de vigilância repressiva.
Além destas percepções simplificadas e hiper-focalizadas nos Tribunais da Inquisição católicos, sedimentou-se uma visão mitificada que merece especial menção no quadro da apresentação deste livro. A associação íntima entre Inquisição e a Companhia de Jesus, ou se quisermos, a ideia da jesuitização da Inquisição. Ou seja, a tese de que sempre existiu uma cumplicidade plena entre os Jesuítas e a Inquisição, uma aliança terrível para a ruína do país, para opressão do povo e para o retrocesso do Estado. Esta ideia foi desenvolvida em Portugal pela literatura antijesuítica produzida sob os auspícios do marquês de Pombal e, em particular, ficou bem patente no novo regimento pombalino da Inquisição publicado em 1774, o qual se apresentava como o antídoto desse jesuitismo inquisitorial.1 Essa visão do jesuitismo inquisitorial foi muito reproduzida e propalada pela propaganda antijesuítica ao longo do século XIX e primeiras décadas do século XX. Os Padres da Companhia eram vistos como os mais impiedosos conspiradores contra as liberdades do povo, sendo a sua Companhia uma máquina de guerra lançada contra a nação portuguesa, tendo sido a Inquisição uma criação sua (um decalque judicial da estrutura da Ordem de Loyola). A Companhia de Jesus a teria imposto ao país, e no país se desenvolveu e perdurou sob o controlo férreo da Ordem de Loyola.2
Especialmente a Inquisição atrai com um magnetismo extraordinário, como nenhuma outra instituição, a projecção dos nossos juízos mais recriminadores. No seu repúdio não deixamos de projectar, como que se de uma deflagração do inconsciente se tratasse, os nossos medos e angústias. Nela projectamos o receio bem nosso do regresso dos tempos da tirania, da repressão social, da ausência de liberdade enquanto valor mais caro ao ser humano, o que mais o realiza e o que mais o torna autêntico.
A emergência da Inquisição Moderna, com todo o seu aparato repressivo e a sua ambição omni-controladora desde as práticas sócio-culturais e comportamentais externas até ao fundo mais secreto das consciências, pode ser entendida como uma reacção exacerbada e violenta à fractura crescente que se começou a operar na modernidade entre a esfera espiritual e a esfera secular temporal. As instâncias estruturantes e garantes do regime político-social e mental de Cristandade impuseram um organismo de controlo para fazer face às consequências da ameaça real da perda progressiva do poder unificador do religioso que tudo tecia — as atitudes, os pensamentos, os valores, as opiniões, os afectos — sob um mesmo horizonte de sentido.3
Pensamos ser fundamental reflectir a expansão dos tribunais da Inquisição como reacção poderosa a uma revolução de mundividências que a modernidade trouxe consigo como ponto de chegada de um longo período de gestação medieval da reflexão sobre o homem, o cosmos, a deriva da história e sobre a própria Igreja e o seu julgamento enquanto herdeira (fiel ou infiel) do legado de Cristo. A valorização antropologizante do indivíduo e das suas possibilidades e faculdades de iniciativa e de pensamento, a construção (proporcionada pelas viagens marítimas dos portugueses e espanhóis) da ideia de universalidade e da complexa diversidade cultural, étnica e religiosa do mundo, e paralelamente a agudização de uma consciência histórica teleológica de matriz apocalíptica acentuaram e hegemonizaram a posição dos sectores que alimentavam a tentação uniformizadora de um sistema de ortodoxia doutrinal que o catolicismo da Contra-Reforma enfatizou até ao extremo da intolerância mais anticristã que alguma vez se conheceu na História da Igreja.
Por outro lado, o projecto de constituição de uma instituição judicial com carácter centralizado foi muito desejado por alguns príncipes católicos. Em particular, destacaram-se neste processo os monarcas das coroas ibéricas da época em que curiosamente prosperava o Renascimento e o Humanismo. Esses movimentos culturais que abriram as portas do mundo moderno suscitaram da parte dos “profetas” do puritanismo e da ortodoxia mais vigilante a crítica ao paganismo que teria tomado conta de alguns dos mais destacados produtores culturais dentro da própria cristandade, muitas vezes a expensas dos próprios príncipes eclesiásticos, seus mecenas. Essa onda de “paganização” que invadia os próprios antros da Igreja significou para muitos o prelúdio da vinda do Anticristo e a aceleração do epílogo desastroso da própria história que seria coroada com um severo juízo final, como asseveravam as profecias antigas.
Só na complexidade sócio-mental do dealbar da modernidade é que se pode entender plenamente as razões de fundo que levaram à montagem de um tribunal dessa natureza e dessa dimensão. No fundo, a criação de um tribunal desse género no seio da cristandade moderna traduz a dificuldade dessa mesma cristandade em lidar com a emergência cada vez mais palpável, diversificada e concorrencial do Diferente, quer o Diferente interno (judeus, protestantes, esotéricos…), quer o diferente que se apresentava nos limites das suas fronteiras (gentios, infiéis…).4 Essa “perigosa” aparição e afirmação do Outro, enquanto radicalmente diferente do Nós, como colectividade grupal, étnica, cultural, religiosa ou doutrinal fez tremer a cristandade de tradição medieval que ficou possuída pelo medo de que o seu edifício sócio-religioso e mental fosse seriamente corroído. A Inquisição é a face mais agressiva e violenta desse medo.
No que a Portugal diz respeito, o empenho diplomático de D. João III e dos seus sucessores, à semelhança do que tinham feito os vizinhos reis católicos de Espanha, conseguiu que fosse instalado e subsidiado no país e no ultramar, com a legitimação suprema do poder papal através de bulas, breves e privilégios de vária ordem, a imensa rede de vigilância activa do Tribunal do Santo Ofício e dos seus tentáculos com uma eficácia repressiva sem par na história deste reino. O projecto bem-sucedido de imposição dessa instituição judicial sobre as instituições e forças vivas seculares e religiosas do país não deixou de transportar consigo, para além do desejo de “purificação” doutrinal e moral, o desiderato íntimo de o emergente Estado moderno português possuir uma instância de controlo da consciência colectiva para serviço de um ideário centralizador do poder monárquico que pretendia reforçar-se perante os outros pólos de poder.
De facto, o controlo social, mental, comportamental generalizado através da montagem de uma teia de medo por toda a monarquia, embora sustentada sobre pilares de ordem teológica, não deixou, por isso, de servir de algum modo o ideário centralista monárquico, que assim passou a usufruir de um poderoso instrumento de regulação das formas de pensar, de agir, de manifestar-se publicamente… Também aqui a questão económica não foi uma questão de somenos importância. A prática do confisco de bens permitiu a transferência de capital de bolsos dos investidores e produtores de riqueza para elites de poder tradicionais e para a própria instituição estatal que passavam por dificuldades de adaptação numa época de revolução das fontes clássicas de enriquecimento.5 Da Inquisição, o Estado centralizado moderno e a elite que o sustentava tiraram benefícios em termos de controlo do capital crítico e do capital a ele inerente de desestabilização social, favorecendo a sedimentação de um comportamento colectivo domesticado através de uma implacável pedagogia do medo que veio substituir a genuína pedagogia evangélica da misericórdia como denunciava na cara e na casa do Santo Ofício de Lisboa, Fernando Oliveira (c.1507-c.1582), uma das figuras mais notáveis e originais do humanismo português.6
A realidade histórica é sempre mais complexa do que aquilo que a fazem as simplificações muitas vezes maniqueístas dos nossos juízos. E quando da Inquisição e dos Jesuítas se trata, tanto mais vasta e impetuosa é a tentação simplificante das nossas conclusões.
Mas acima de tudo, o terreno historiográfico do estudo das questões inerentes ao Tribunal do Santo Ofício é aquele em que as análises mais podem correr o risco de serem enfermadas pela paixão do historiador de hoje e pelas marcas da sua mundividência, isto é, do seu horizonte mental e ideológico. Trata-se, com efeito, de um terreno altamente movediço.
A complexidade da análise da problemática que representa a história da Inquisição deve considerar como tarefa crítica preliminar a integração da configuração institucional desse tribunal e da compreensão da sua larga base de apoio sociológico no contexto e na mentalidade do tempo e da sua avaliação no quadro da história comparada das instituições. O esforço de interrogação e de complexificação que o conhecimento histórico exige para abrir horizontes mais largos de compreensão não nos deve impedir, todavia, como pessoas do século XXI, de repudiar e de lamentar a desumanidade que semelhantes instituições promoveram. Mas ficar por aí e não procurar o distanciamento que se exige para fazer uma história complexizante, é acrescentar pouco à construção do conhecimento histórico que deve ser “esse conhecimento das sociedades vivas, nunca o seu julgamento e enquadramento doutrinário”.7
A história é um campo de conhecimento sempre em construção. Para tal urge perfilar cada vez mais corajosamente uma história aberta capaz de integrar e usufruir sem preconceitos dos contributos de outras áreas de conhecimento que possam levá-la mais longe na percepção do homem e do seu percurso através do tempo. A história joga o seu futuro precisamente nesta atitude “ecuménica” de saber aceitar e lidar com os métodos e conteúdo das outras ciências humanas e sociais. Assim a história poderá realizar o sonho de Fernand Braudel que idealizava a disciplina historiográfica como o ponto nodal, o lugar de cruzamento, onde se poderá realizar melhor a síntese interdisciplinar no quadro alargado das ciências do homem.
O historiador é por excelência aquele que deve ter a consciência “antidogmática” de que as suas conclusões são passíveis de serem reformuladas e que os seus juízos são transitórios. A história que ele constrói deve estar sempre aberta a novas abordagens que fazem da historiografia uma realidade dinâmica e aberta. É, por isso, tão actual e tão extraordinária a definição daquela que deve ser a melhor atitude do historiador perante o seu métier e perante os resultados da tecelagem da história estabelecida por Vasco de Magalhães Vilhena há quase cinquenta anos:
Ser historiador, é repudiar a falsa segurança, a certeza tranquila; é nunca renunciar a um íntimo recomeço, jamais desertar da obrigação de um perpétuo reajusto fundamentado que responda a necessidades novas de inteligibilidade. O historiador tem hoje, como nunca tivera até agora, a consciência de não criar para a eternidade … Só há história do imperfeito, do inacabado, do que tende incansavelmente a superar-se. Na medida em que é possível restituí-lo, o “passado” que é ainda presente, sempre se reconstrói.8
A tese de doutoramento de Célia Cristina Tavares que aqui é publicada na íntegra em forma de livro é exemplar à luz daquilo que se espera de um historiador contemporâneo, sério e aberto ao trabalho interdisciplinar. Ousando abordar um objecto difícil e complexo como a Inquisição de Goa na sua relação de colaboração/conflito com os Jesuítas e com outros actores em presença na construção da sociedade cristã goesa, a historiadora oferece uma abordagem inovadora, mostrando as diferentes faces da problemática em questão e, especialmente procurando desconstruir as visões simplificantes que chegaram até nós. As questões estão bem colocadas e a autora procura dar, de diferentes ângulos de visão, um panorama das instituições em estudo de uma forma arguta e com notável espírito se síntese. Assim, Célia Tavares apresenta-nos vários quadros problemáticos que permitem abrir um novo horizonte de compreensão da cristandade indiana: as diferentes metodologias e modelos pastorais em confronto, as divergências existentes entre as ordens religiosas, as visões exógenas das práticas institucionais e sociais da Inquisição. Procura, de um modo sagaz, analisar a formação da lenda negra do Santo Ofício através de narrativas de viagens, os conflitos entre a Inquisição e a Companhia de Jesus e a colaboração dos Jesuítas com a Inquisição, os conflitos no próprio seio da Inquisição e no seio da própria Ordem de Santo Inácio…
Escrita de uma forma elegante e clara, mas sem descurar o rigor, este livro, apesar de ter sido elaborado para servir de prova de doutoramento, apresenta-se de leitura agradável capaz de encantar um público mais alargado que não só os especialistas na matéria, que muito poderá usufruir com esta síntese bem elaborada e documentada de aspectos importantes da presença portuguesa no Oriente.
A leitura desta obra aguça-nos a consciência de que a verdade histórica é uma verdade sempre em construção,9 uma verdade inacabada que cada geração faz e refaz à luz dos seus quadros epistemológicos e dos seus métodos e interesses científicos próprios.
Ao concluir a leitura deste livro que o leitor agora tem entre mãos fiquei com o sabor estimulante de que “a história permanece paixão, empenho e deslumbramento”.10 Por isso, a história enquanto ciência do passado continua com muito futuro.
Notas
1 Cf. FRANCO, José Eduardo; ASSUNÇÃO, Paulo de. Metamorfoses de um polvo: religião e política nos regimentos da Inquisição Portuguesa (séculos XVI-XIX). Lisboa, 2004.
2 Para uma desconstrução desta imagem perfeita da cumplicidade entre os Jesuítas e a Inquisição ver FRANCO, José Eduardo. “Jesuítas e Inquisição: cumplicidades e confrontações no Brasil e no Oriente (Sécs. XVI-XVII)”, in Relações Luso-Brasileiras. Revista Convergência Lusíada, v.19, 2002, p.220-34; e FRANCO, José Eduardo; VOGEL, Christine. Monita Secreta (Instruções secretas dos Jesuítas): história de um manual conspiracionista. Lisboa: Roma Editora, 2002.
3 Cf. MOURÃO, José Augusto. “Da funesta liga do trono e do altar — A afecção (anti)clerical”, in ABREU, Luís Machado de; MIRANDA, António José Ribeiro (Coord.) Actas do colóquio sobre Anticlericalismo Português: história e discurso. Aveiro, Centro de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, 2001. p.27.
4 Ver BETHENCOURT, Francisco. “Rejeições e polémicas”, in AZEVEDO, Carlos Moreira (Dir.) História religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. p.49ss.
5 Cf. TORGAL, Luís Reis. A Inquisição: aparelho repressivo e ideológico do Estado. Separata da Revista Biblos, Coimbra, n.51, 1975, p.637; e COELHO, António Borges. Cristãos-novos judeus e os novos argonautas, Lisboa: Caminho, 1998.
6 Cf. FRANCO, José Eduardo. O mito de Portugal: a primeira História de Portugal e a sua função política, Lisboa: Roma Editora, 2000. p.57.
7 MACEDO, Jorge Borges de. “Dialéctica da sociedade portuguesa no tempo de Pombal”, in Como interpretar Pombal? Lisboa/Porto: Edições Brotéria e Livraria A.I, 1983. p.16.
8 VILHENA, Vasco de Magalhães. Filosofia e história, Separata do capítulo publicado em Panorama do pensamento filosófico. Lisboa: Cosmos, 1956. p.181-2.
9 Cf. GOODMANN, Nelson. Modos de fazer mundos. Porto: Edições Asa, 1995.
10 ALMEIDA, A. A. Marques de. “A escrita da história: questões de teoria e de problematização”, in Clio, v.5, 2000, p.17.
José Eduardo Franco – Centro Faces de Eva – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa.
[IF]Relatos do descobrimento do Brasil — as primeiras reportagens – GUIRADA (RBH)
GUIRADA, Maria Cecília. Relatos do descobrimento do Brasil — as primeiras reportagens. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, 305p. Resenha de: NOELLI, Francisco Silva. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.25, n.50, july/dec. 2005.
O diário de Pero Lopes de Sousa, escrito entre 1530 e 1532, é uma fonte de grande importância para a história da fase inicial de exploração do Brasil meridional e da foz do rio da Prata, sendo o segundo documento oficial português conhecido a ser escrito em terras brasileiras. Foi descoberto na Biblioteca Real do Paço da Ajuda, em 1839, depois de estar “escondido” por cerca de trezentos anos. O diário teve dez edições em língua portuguesa, entre 1839 e 1989, mas apenas três foram realizadas a partir da transcrição direta do manuscrito encontrado na Ajuda, a saber: 1) 1839, por Francisco Adolfo de Varnhagen; 2) 1956, por Jaime Cortesão; 3) 1968, por Jorge Morais-Barbosa. Todavia, o códice não é o diário original, mas uma “cópia incompleta e pouco cuidada do que teriam sido as anotações de Pero Lopes”, escrita com letra do século XVI.
A 11ª edição do diário, publicada em Portugal no ano de 2001, por Maria Cecília Guirado, é a melhor de todas, por tratar-se da primeira edição crítica do manuscrito da Ajuda e por apresentar ao leitor, especialista ou leigo, uma série de informações relevantes sobre o contexto da viagem e da redação do diário de Pero Lopes. Esta avaliação resultou de uma cuidadosa e erudita abordagem interdisciplinar, muito contemporânea, entre jornalismo, filologia, semiótica e história, mais o suporte da paleografia, com objetivo de “dar um tratamento jornalístico-semiótico … sem esquecer-se de retirar destes textos quadros significativos sobre a evolução das relações de alteridade, do enfrentamento civilizacional entre indígenas e portugueses”. Além do diário, Guiarado apresenta duas análises curtas, mas importantes abordagens jornalísticas da carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, e da História da Província de Santa Cruz, publicada em Lisboa por Pero de Magalhães Gandavo, em 1576.
O enfoque central da obra é a questão da comunicação no período do descobrimento, sobre os objetivos dos cronistas ao elaborar suas narrativas e relatórios de viagem. Da competente análise de Guirado, vimos surgir um contexto em que os navegadores e os encarregados de tomar posse das novas terras estavam muito preparados em relação aos conhecimentos da época. Vemos exemplos de matemáticos portugueses, como Pedro Nunes, que em 1537 estava preocupado em aliar teoria e prática, escapando do empirismo utilitário: “manifesto é que estes descobrimentos de costas, ilhas e terras firmes não se fizeram indo a acertar, mas partiam os nossos mareantes muito ensinados e providos de instrumentos e regras de astrologia e geometria, que são as cousas de que os cosmógrafos hão-de andar apercebidos”.
A edição crítica do diário de Pero Lopes é, sem dúvida, a grande contribuição de Guirado às pesquisas e aos pesquisadores dos descobrimentos portugueses. Antecedendo a transcrição paleográfica, vemos uma descrição detalhada do códice da Ajuda, a história completa das dez edições anteriores e a explicitação pormenorizada dos critérios usados na transcrição paleográfica, uma verdadeira aula para orientar iniciantes e profissionais em tarefas dessa natureza. A transcrição é acompanhada de várias notas de rodapé, com esclarecimentos pertinentes, e dos símbolos utilizados nos códigos de transcrição da topografia do manuscrito. Da mesma maneira procede na explicação detalhada dos fundamentos teóricos e dos procedimentos práticos utilizados para elaborar os critérios da edição crítica, incluindo regras para “regularização da epiderme gráfica” e aspectos para fixação da ortografia, em outra aula construída com erudição e fluidez literária.
O texto crítico do códice vem acompanhado de notas de rodapé com explicações sobre detalhes da redação e, com muita propriedade, do cotejo in loco com as variantes de texto encontradas nas edições anteriores. A autora explica que, ao fazer tal procedimento, as anotações “poderão ajudar o leitor a compreender o processo desta edição crítica”.
O texto crítico é seguido por um glossário de “termos de marinharia”, do “léxico comum caído em desuso e outros termos”, dos personagens citados e dos topônimos, baseado em atestações buscadas no mais completo conjunto de obras sobre os referidos assuntos. A inclusão desse aparato é de grande valia, pois é um complemento fundamental para a compreensão exata e completa do diário.
Se a edição crítica realizada por Maria Cecília Guirado passará a figurar como a melhor publicação do diário, é preciso lembrar que a segunda edição de Eugênio de Castro (1940) é a mais completa análise e interpretação, talvez definitiva, sobre o itinerário descrito no diário de Pero Lopes de Sousa. Ambas as obras, em razão do alto nível alcançado pelos seus autores, devem ser consideradas como consulta obrigatória para aqueles que pesquisam sobre as primeiras décadas da presença portuguesa na América do Sul.
Francisco Silva Noelli – Laboratório de Arqueologia, Etno-História e Etnologia, Universidade Estadual de Maringá – UEM.
[IF]Migração Portuguesa no Brasil – LOBO (RBH)
LOBO, Eulália Maria Lahmeyer. Migração Portuguesa no Brasil. São Paulo: Editora Hucitec, 2001, 367 pp. Resenha de: SZMRECSÁNYI, Tamás. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.23, n.45, july 2003.
As migrações internacionais permanentes constituem processos históricos cuja duração via de regra ultrapassa o prazo de uma geração para se completar. Este axioma foi devidamente assimilado por Eulália Lobo em seu belo livro sobre a imigração de portugueses no Brasil durante o período republicano. Apesar da singeleza do seu título, esta obra traz uma valiosa contribuição não apenas ao estudo desse tema específico, mas também à compreensão das numerosas relações econômicas, culturais e políticas existentes entre os dois países.
Trata-se da versão revista e ampliada de um estudo de História Social, originalmente publicado na Espanha em 1994, e cujo conteúdo faz jus ao merecido renome da autora. Seus três capítulos, de tamanhos desiguais, seguem esquemas parecidos e se referem a três fases distintas do mesmo processo. Todos se iniciam por um retrospecto histórico, econômico e demográfico, seguido por análises de interação política e cultural dos dois países, abrangendo a literatura, as artes e as ciências tanto do Brasil como de Portugal. Seus textos são complementados por numerosas tabelas estatísticas e por uma sugestiva iconografia.
O maior, e talvez o melhor de todos os capítulos é o primeiro, relativo à fase de ascensão das migrações portuguesas para o Brasil no período republicano, a qual se estende do final dos anos 1880 ao início da quarta década do século XX. Nele figura um pormenorizado exame dos fatores de expulsão e de atração que condicionaram os referidos movimentos migratórios: de um lado, a crise social ocasionada por más colheitas e pela concentração fundiária em Portugal, acrescida pelo desejo de fugir do serviço militar daquele país; e de outro, o deslanche do desenvolvimento essencialmente capitalista da economia brasileira depois da Abolição.
Até a época da Primeira Guerra Mundial, esse desenvolvimento manteve-se centrado na cidade do Rio de Janeiro, destino final da maioria dos imigrantes portugueses então aportados no País. Os principais atrativos do Brasil situavam-se na identidade de língua e de religião, enquanto os do Rio de Janeiro diziam respeito a uma ampla oferta de empregos, freqüentemente junto a empresas pertencentes a compatriotas ou seus descendentes, assim como aos salários que aí eram pagos, na época superiores aos de Portugal e de outras regiões brasileiras.
Seguem-se a estas considerações algumas interessantes análises da participação lusa no capital comercial, industrial, financeiro e imobiliário das principais cidades do País, entre o final de século XIX e o início da década de 1930, bem como do peso da mão-de-obra de origem portuguesa na força de trabalho dos setores secundário e terciário da economia brasileira durante o mesmo período. Em ambos os casos, as melhores informações referem-se ao Rio de Janeiro, e são como um todo bastante representativas. Por meio delas, fica-se sabendo da ampla inserção de empresários portugueses não apenas no comércio, mas também na indústria —notadamente de tecidos, nos serviços de transporte urbano, na construção civil e nos bancos, bem como das grandes exportações de gêneros alimentícios de Portugal para o Brasil antes de 1914. Por outro lado, imigrantes portugueses e seus descendentes constituem uma parte ponderável da mão-de-obra dos mesmos setores e ramos, e ainda da estiva portuária do Rio de Janeiro e de Santos. Por isso mesmo tiveram uma ampla participação nas lutas sociais da época.
Mas a maior parte deste capítulo, como dos seguintes, é dedicada ao exame da interação cultural luso-brasileira em áreas como a literatura, o teatro, a cultura popular e operária, a música (erudita e popular), a arquitetura, as artes plásticas e a historiografia, sem esquecer os vários movimentos associativos dedicados à congregação e integração dos migrantes de determinadas regiões portuguesas, bem como à assistência social e educacional dos mais carentes. Em todas essas análises, por vezes muito longas e talvez demasiadamente circunstanciadas, a autora dá provas de um amplo domínio das fontes que utiliza, e também de uma diversificada erudição e de uma sensibilidade estética bastante desenvolvida. Nelas aparecem com destaque as convergências e divergências das literaturas dos dois países, a influência portuguesa nos diversos gêneros e autores do teatro brasileiro, as cantigas e danças populares de origem ibérica, a atuação dos arquitetos Luis de Morais Júnior, no Rio de Janeiro, e Ricardo Severo de Fonseca, em São Paulo, assim como as contribuições do caricaturista Rafael Bordalo Pinheiro e do historiador João Lúcio de Azevedo.
No segundo capítulo, mais curto que os outros dois, a autora examina a fase de declínio da imigração portuguesa para o Brasil, que ocorreu entre 1930 e 1950. Um declínio devido em boa parte à crise econômica internacional dos anos trinta e ao transcurso da Segunda Guerra Mundial, e que foi acompanhado de acentuada diminuição do comércio entre os dois países. Mas que não impediu que as relações culturais entre eles acabassem sendo reforçadas, tanto por força de certas iniciativas governamentais de parte a parte, como devido à presença no Brasil de importantes intelectuais portugueses fugitivos do salazarismo.
Entre as iniciativas governamentais, destacou-se a inauguração em 1935 do Instituto Luso-Brasileiro de Alta Cultura em Lisboa, seguida pela realização no Itamaraty em 1937 de um ciclo de conferências sobre as relações entre os dois países. E no final desse último ano foi inaugurada a Sala Brasil, que mais tarde se transformaria no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de Coimbra. Também tiveram destaque as negociações intergovernamentais que acabaram levando à Convenção Ortográfica Luso-Brasileira de 1945. Já no âmbito puramente intelectual, não podem deixar de ser mencionadas as atividades e obras da famosa pintora Maria Helena Vieira da Silva e do historiador Jaime Cortesão. No campo da literatura marcaram época os romances sobre emigrantes portugueses no Brasil do escritor Ferreira de Castro, e nas ciências sociais deu-se o surgimento do luso- tropicalismo de Gilberto Freyre.
Finalmente, no terceiro capítulo, também bastante longo devido às suas numerosas tabelas e à presença de três anexos, Eulalia Lobo analisa a fase mais recente das migrações de portugueses ao Brasil, bem como a evolução das relações econômicas e culturais ente os dois países a partir do término da Segunda Guerra Mundial. Tanto estas relações como a retomada da emigração portuguesa para o nosso país foram intensamente condicionadas pela evolução dos regimes políticos respectivos, que só voltariam a ser convergentes na segunda metade da década de 1980. Até então, predominaram em Portugal as lutas contra a ditadura salazarista e as guerras de independência das colônias africanas, enquanto no Brasil os dezoito anos de democracia liberal do pós-guerra foram seguidos por duas décadas de regime militar.
Dentro desse contexto, as relações econômicas mantiveram-se em nível baixo, ao contrário das relações culturais, que continuaram intensas, e da emigração portuguesa (e depois também afro-portuguesa) para o Brasil, a qual voltou a ser crescente nos anos sessenta e setenta. Mais tarde, com o ingresso de Portugal na Comunidade Européia, e com a prolongada crise econômica brasileira, iniciou-se um fluxo até então inédito, e cada vez mais intenso, em sentido contrário.
No plano cultural, merece ser destacada a presença e participação literárias de expoentes como Jorge de Sena e Adolfo Casis Monteiro, assim como o surgimento da obra e as importantes visitas de José Saramago. Enquanto o intercâmbio no campo teatral e nos meios de comunicação social sofria os efeitos da censura e das pressões políticas dos regimes autoritários de ambos os países, foram se consolidando e intensificando os contatos científicos e tecnológicos, particularmente com o LENNEC, o famoso Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa.
Nas suas conclusões, muito sucintas e lamentavelmente ocultas entre os anexos do terceiro capítulo e a bibliografia geral, a autora expõe modestamente os principais resultados alcançados pelo seu trabalho. Esses resultados são bastante significativos, não apenas por terem ampliado nossos conhecimentos a respeito da imigração portuguesa no Brasil durante o período republicano, sobre a inserção destes migrantes na sociedade brasileira, bem como as contribuições econômicas e culturais por eles trazidas e/ou disseminadas, mas também por terem aberto o caminho para novas linhas de investigação e para o uso de fontes até agora pouco utilizadas.
De um modo geral, o trabalho editorial do livro poderia ter sido melhor cuidado. A cronologia e as abreviaturas deveriam figurar no início e não no final da obra. As tabelas menores poderiam ter sido inseridas no texto como ilustrações da argumentação desenvolvida. A fonte do primeiro anexo não está datada; no segundo não consta qualquer fonte; o terceiro, muito pequeno, poderia também ter sido inserido no texto respectivo; e o quarto parece estar completamente deslocado, dizendo respeito ao primeiro capítulo, e não ao terceiro. Trata-se de deficiências que não chegam a diminuir o valor do livro, apenas contribuindo para dificultar sua leitura. Vamos torcer para que possam ser sanadas numa terceira e definitiva edição da obra.
Tamás Szmrecsányi – Instituto de Geociências da UNICAMP.
[IF]Erário Mineral – FERREIRA (VH)
FERREIRA, Luís Gomes. Erário Mineral. Organização de Júnia Ferreira Furtado. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estudos Históricos e Culturais. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2002, 2 Vol. ilustr. (Coleção Mineiriana, Série Clássica). Resenha de: MIRANDA, Tiago C. P. dos Reis. Óleo de ouro: as Minas e seus tesouros médicos e minerais. Varia História, Belo Horizonte, v.18, n.26, p. 156-163, jan., 2002.
Em 1735, Luís Gomes Ferreira, natural de São Pedro de Rates, na Província do Minho, fez estampar em Lisboa um grosso volume com o relato de mais de vinte anos de experiência a combater as doenças dos novos sertões da América Portuguesa. Denominou-o Erario Mineral dividido em doze Tratados, dedicado e offerecido á Purissima, e Serenissima Virgem Nossa Senhora da Conceyçaõ: título digno, alto e elegante embora engenhoso, logo à partida, e equivocamente alusivo às virtudes do ouro. Dele houve notícia Diogo Barbosa Machado, que o registou de forma sucinta no tomo terceiro da Bibliotheca, enobrecendo as circunstâncias do seu autor (“cirurgiaõ approvado”), em “professor de Chirurgia”.
Outros letrados da altura parecem haver acolhido com mostras de estima o lançamento desse trabalho de vulto. A começar pelos censores, que lhe gabaram a utilidade, e pelos poetas que compuseram versos encomiásticos, também publicados antes do texto de Gomes Ferreira. Estudos recentes de história do livro indicam que ele figurou com alguma freqüência em coleções coloniais, sobretudo na zona das Minas (José Maurício de Carvalho, “O que se lia no Brasil Colonial”, Cultura, Vol. XIV, 2002, p. 44). Chegou-se a notar, inclusive, ser o Erario o único título constante em várias listagens de impressos setecentistas da região de Sabará (cf. texto introdutório de Júnia Ferreira Furtado, p. 26). Estranhamente, porém, ao fim de umas décadas, tornar-se-ia muito difícil conseguir encontrá-lo.
Inocêncio Francisco da Silva, no início dos anos de 1860, dizia ter visto somente um exemplar, em poder de João José Barbosa Marreca, conservador da Biblioteca Nacional de Lisboa. Nada, de resto, aduzia de novo sobre o formato da obra, nem a respeito da origem de quem a escrevera. Num curto verbete do Diccionario, o que se acha é um juízo bastante severo sobre o valor das doutrinas de Gomes Ferreira, que sofreriam de uma aflitiva falta de “precisão, methodo, ordem, e conhecimento dos termos facultativos”, como se via de suas receitas para tratar a gafeira das bestas (sarna ou morrinha) ou os “sonhos medonhos e tristes”. A esse respeito, merecedora de referência seria também uma breve passagem em que o autor aludia à maneira como utilizava “os seus segredos nos enfermos encarregados a seus collegas, mas occultamente, porque elles lhos costumavão impugnar, de certo com boa razão”. Aos olhos severos de Inocêncio, os preciosos saberes de Gomes Ferreira, por não guardarem qualquer paralelo com “formulas e dimensões pharmaceuticas”, só soavam apenas “disparatados”.
O vagaroso processo subseqüente de reabilitação processou-se sobretudo no campo da história da medicina, e no Brasil. Ainda em meados da década de 1880, pôde o Erario assegurar a sua presença numa importante iniciativa universitária para valorizar o patrimônio bibliográfico nacional (v. Carlos António de Paula Costa, Catálogo da exposição medica brasileira…, Rio de Janeiro, Typografia Nacional, 1884). Anos depois, seria citado num estudo de Álvaro A. de Sousa Reis (“História da literatura médica brasileira”, Revista do Instituto Histórico e Geografico Brasileiro, Vol. 9, 1922, pp. 501-549), basicamente com o mesmo propósito de enumeração que ainda se havia de observar num pequeno apanhado sobre práticas médicas coloniais que em 1960 Lycurgo Santos Filho redigiu para o volume segundo da História Geral da Civilização Brasileira (p. 157), dirigida por Sérgio Buarque de Holanda. Este foi, aliás, um dos raros autores que, até ao final da década de 1950, parece ter lido Gomes Ferreira em busca de dados originais: com a espantosa familiaridade de quem freqüentava os títulos mais obscuros, no seu ensaio “Metais e pedras preciosas” Sérgio Buarque de Holanda recorreu ao Erario para aduzir um efêmero exemplo individual em favor da idéia da probabilidade de um ingresso significativo de estrangeiros na região das Gerais, no início do século XVIII (Ibidem, p. 289).
Muito menos contido se veio a mostrar, logo em seguida, o erudito e historiador anglo-saxônico Charles Ralph Boxer. Vários parágrafos de um dos capítulos centrais de A Idade do Ouro do Brasil (1962) assentam sobre passagens de Gomes Ferreira. Dele são, entre outros, alguns testemunhos das condições inumanas a que se viam submetidos os negros faiscadores, das diferentes categorias em que na altura os próprios colonos os classificavam, e das doenças ou ferimentos que afligiam tanto os escravos, como os senhores da zona das Minas. Na pena de Boxer, as qualidades profissionais de Gomes Ferreira merecem leitura compreensiva: pelo cuidado em prescrever o banho diário e pelo empenho com que evitava o recurso à sangria e ao purgante, “nosso cirurgião estava muitos anos à frente de sua época” e sua obra constituiria “fascinante prólogo para um moderno Manual de Medicina Tropical”.
Tamanho encanto foi o de Boxer, que, após alguns anos, foi ele outra vez quem teve o cuidado de assinalar a obtenção para o acervo da Lilly Library de um espantoso novo espécime bibliográfico: Erario mineral, utilissimo, não só para os professores de cirurgia que residem na America Portugueza, a cujo beneficio particularmente se escreveo, mas universalmente para todos, os que professão a mesma faculdade… Agora novamente impresso, e augmentado com hum copioso numero de exquisitas, e admiraveis receitas… Lisboa, 1755. Dois volumes in-quarto (“A Rare Luso-Brazilian Medical Treatise and its Author: Luís Gomes Ferreira and his Erario Mineral of 1735 and 1755”, Indiana University Bookmark, Vol. 10 [Nov., 1969], pp. 48-70, in Opera Minora, Edição de Diogo Ramada Curto, Vol. II [Orientalismo], Lisboa, Fundação Oriente, 2002, pp. 221-234). Até ao momento, essa segunda edição nunca fora devidamente descrita. Voltando portanto a insistir no interesse da obra, Charles Boxer soube agarrar a ocasião para alargar os seus comentários na Idade do Ouro, debater um recente trabalho de Ivolino de Vasconcelos sobre o trajeto de vida de Gomes Ferreira (“Notícia histórica sobre Luís Gomes Ferreira e sua obra, o Erario Mineral”, Anais do Congresso Comemorativo do Bicentenário da transferência da sêde do governo do Brasil da cidade do Salvador para o Rio de Janeiro, 1763-1963, Vol. III, Rio de Janeiro, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1967, pp. 375412) e sugerir a existência de algumas passagens revistas e ampliadas no Tratado Terceiro do exemplar recém-descoberto. A apurada comparação das duas versões demoraria mais de três anos a efetuar-se, por causa da dificuldade de acesso ao texto de ‘35. Quando por sorte, em Indiana, se adquiriu um exemplar da primeira impressão, Charles Boxer pôde afinal confirmar a validade de suas hipóteses (“A Footnote to Luís Gomes Ferreira, Erario Mineral, 1735 and 1755”, Indiana Universty Bookmark, Vol. 11 [Nov., 1973], pp. 89-92 in Opera Minora [Supra cit.], pp. 235-237).
Atualmente, parece não haver notícia de outro qualquer conjunto completo de 1755. Ao que se sabe, apenas existe o registro de uma cópia do segundo volume na Biblioteca da Faculdade de Medicina de Lisboa (Catálogo das obras da Colecção Portugueza anteriores à fundação das Régias Escolas de Cirurgia em 1825, Lisboa, 1942, p. 138). Rubens Borba de Moraes limita-se a informar que se trata de edição ainda mais rara que a primeira (Bibliographia Brasiliana, Rio de Janeiro, Livraria Kôsmos Editora, [1983], Vol. I, p. 307).
Quanto ao tomo de ’35, Charles Ralph Boxer referiu a existência de oito exemplares; quatro, no Brasil. Infelizmente, pouco mais disse a esse respeito, além de que um deles estava na posse de familiares de Gomes Ferreira, no Rio de Janeiro. Sabe-se agora que, ainda no Rio, se acha também um exemplar na Fundação da Biblioteca Nacional, e um segundo, na FIOCRUZ. Em Belo Horizonte, o Centro de Memória da Medicina da UFMG possui uma cópia em que falta uma folha. Por fim, em Sabará, encontra-se outra a necessitar de restauro na coleção da Biblioteca Borba Gato.
As indicações bibliográficas das “Bases de dados sobre história da ciência, da medicina e da técnica em Portugal e Brasil, do Renascimento até 1900” (Lusodat), do Grupo de História e Teoria da Ciência da Universidade de Campinas (http://www.ifi.unicamp.br/~ghtc/lusodat.htm), permitem a localização de um bom exemplar na Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Os Reservados da Biblioteca Nacional de Lisboa têm uma cópia em estado satisfatório, originária da livraria de D. Francisco de Melo Manuel da Câmara (Cabrinha); possivelmente, a que leu Inocêncio. É, no entanto, na Biblioteca de Mafra que parecem estar dois dos mais soberbos espécimes da rara edição de 1735: encadernados em inteiras de pele e com lombadas marcadas a ferros de ouro, praticamente não apresentam indícios de uso. Foram descritos em 1963 no catálogo datilografado de Guilherme José Ferreira de Assunção, “O Brasil nas obras da Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra”, que nos últimos anos de vai ampliando (muito agradeço as informações facultadas a este respeito pela bibliotecária, Dr.ª Teresa Amaral).
Cabe agora ao Centro de Estudos Históricos e Culturais da Fundação João Pinheiro a importante iniciativa de facilitar o acesso ao texto do Erario, lançando-o na Série de Clássicos da sua já longa “Mineiriana”. Trata-se de edição acadêmica em dois volumes fartamente ilustrados. Logo a abrir, vê-se a imagem do frontispício do exemplar da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, singularizado por marcas de traça marginais. Não aparece aí o carimbo de posse “Da Real Bibliotheca”, porque o puseram na folha de rosto da dedicatória “Á Puríssima Virgem Maria Nossa Senhora da Conceyção”. Quem o quiser conferir, encontrará igualmente na folha de guarda um pequeno lembrete em caligrafia cursiva setecentista: “Este Livro entregou/ o Pe Fr Antº de S Martinho/ da Provª da Solede pª q lho goar/dassem”.
Do dossiê iconográfico, também fazem parte algumas dezenas de reproduções de ex-votos do século XVIII, cenas de práticas médicas, interiores de hospitais, instrumentos de cirurgiões, utensílios de farmácia e plantas curativas. O quotidiano das Minas do Ouro surge em imagens de catas e negros. Algumas delas, oitocentistas. De interesse especial é um retrato de um homem maduro, de condição mediana, que, segundo se crê, representa Gomes Ferreira.
Esta nova publicação atualiza a ortografia do texto de ’35, mesmo nos versos encomiásticos introdutórios. Preserva, porém, as regências verbais, as contrações de preposição e artigo, e a maior parte das letras maiúsculas. Realça, além disso, em tipos de itálico, os nomes das obras e dos autores citados e as palavras e construções em latim. Graficamente, conservam-se ainda os pequenos resumos de colocação lateral e a disposição do índice de “coisas notáveis”, no fim do volume. Capitulares da “Officina do Impressor do Senhor Patriarca”, Miguel Rodrigues, rematam, por vezes, o termo das páginas.
Mais de uma dúzia de profissionais colaboraram neste projeto. Só para os glossários, contam-se sete. Escrevem ensaios temáticos cinco outros estudiosos: Eliane Scotti Muzzi, Ronaldo Simões Coelho, Maria Cristina Cortez Wissenbach, Maria Odila Leite da Silva Dias e a organizadora, Júnia Ferreira Furtado. É esta que abre o primeiro volume, com um trabalho em que procura reconstituir o percurso do autor, valorizando uma série de dados que ele próprio fornece, pelo cotejo com informações de caráter geral. Merece destaque a bem-sucedida reconstrução dos laços sangue e afinidade dos Gomes Ferreiras em diferentes paragens da arquidiocese de Mariana. Mesmo o leitor menos atento à história das Minas há de encontrar interesse nos vários indícios de proximidade do cirurgião e seu sobrinho José ao negociante João Fernandes de Oliveira, titular do primeiro contrato de diamantes na região do Tejuco e pai do senhor de Chica da Silva (pp. 20-23).
Maria Odila Leite da Silva Dias parte também do pormenor biográfico, para propor uma nova visita a todo o “Sertão do Rio das Velhas e das Gerais”, como “frente de povoamento”. As desventuras de Gomes Ferreira e os relatos de suas curas permitem rever a constituição dos grupos humanos que se encontraram no território, e observar as modalidades de interação que entre eles se foram tecendo, muitas vezes à margem da lei. Em Sabará, por exemplo, a autoridade dos governadores apenas chegou anos depois do surgimento de várias fazendas e arraiais. Ainda assim, por muito tempo, a maioria das “vilas” da zona das Minas conservaria feições bastante precárias, com suas casas de pau e taquara cobertas de barro, que a força da chuva trazia para as ruas, em forma de lama. A capacidade de reunir testemunhos escritos que hoje permitem rememorar vizinhanças inteiras de núcleos urbanos tão frágeis (pp. 91-95) não deixa de ser espantosa.
Os quinze poemas que antecedem o “Índex dos Tratados e Capítulos” existentes no Erario têm direito a um ensaio em separado. Ciente da relativa estranheza que o leitor atual deve sentir diante dos “protocolos que codificavam os gêneros do discurso nos século XVII e XVIII”, Eliane Scotti Muzzi dedica-se a apresentar em linhas gerais a estrutura do sistema de ensino neoescolástico e a esclarecer a importância que, na altura, se atribuía ao retórico. Especificamente sobre a origem das obras poéticas da edição de ‘35, que se supõem compostas por indivíduos “participantes da realidade das Minas”, parece assumir-se uma certa dificuldade em descobrir elementos de comparação inteiramente operativos no patrimônio setecentista da literatura colonial (p. 34). A referência (quase canônica) à atividade das academias provinciais, como a do Aureo Throno Episcopal (1748), sugere a hipótese de que um tão grande conjunto de versos talvez também se pudesse haver concebido, “precocemente”, para ofertar ao autor do Erario, em ato público. Nele teriam, portanto, participado Tomás Barroso Tinoco, Tomás Pinto Brandão, João Bernardes e dois ou três outros “poetas de circunstância” (ibidem), amigos de Gomes Ferreira – que, por suposta modéstia, se não assinaram.
Dessa seqüência de nomes, ressalta o de Pinto Brandão. Embora ainda não se conheçam em pormenor as circunstâncias da sua vida, sabe-se há muito que escreveu em Lisboa poemas satíricos e joco-sérios durante a maior parte do longo reinado de D. João V (Diogo Barbosa Macado, Opus cit., Vol. III, pp. 747-748). Tem-se tido por certo que visitou o Brasil por mais de uma vez, chegando a travar amizade com Gregório de Matos. No Rio de Janeiro, parece haver conseguido ajustar matrimônio com uma certa Josefa de Melo, antes de retornar ao mundo da corte, no início da Guerra da Sucessão Espanhola (v. Tomás Pinto Brandão, Antologia. Este é o Bom Governo de Portugal, Prefácio, leitura de texto e notas de João Palma-Ferreira, [Mem Martins], Publicações Europa América, 1976, pp. 5-7, Alberto Dines, Vínculos do Fogo, 2ª edição, [São Paulo], Companhia das Letras, [1992], pp. 508-509, Jair Rattner, Verdades pobres de Tomás Pinto Brandão. Edição crítica e estudo, Lisboa, Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1993, pp. 21-29, e Adriano Espínola, As Artes de Enganar. Um estudo das máscaras poéticas e biográficas de Gregório de Matos, [Rio de Janeiro], Topbooks, [2000], pp. 203 e ss.). Ao publicar a mais volumosa das suas obras (Pinto renascido empenado, e desempenado. Primeiro Voo, Lisboa, Officina da Musica, 1732), morava na rua do Picadeiro, ao Bairro Alto (cf. Júlio de Castilho, Lisboa Antiga. O Bairro Alto, 3ª ed., Vol. II, Lisboa, Oficinas Gráficas da Câmara Municipal de Lisboa, p. 209). Não é improvável que conhecesse e cultivasse o convívio com indivíduos que, tal como ele, tinham passado uma parte importante das suas vidas em territórios coloniais; mais de uma vez, já se mostrou uma efetiva tendência para a conservação desse tipo de laços (v., por exemplo, Jaime Cortesão, Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, T. I, Vol. I, Rio de Janeiro, Ministério das Relações Exteriores, [1952], pp. 107-119, e Alberto Dines, Opus cit., passim), praticamente inevitável em alguns grupos, como o dos grandes comerciantes (v. Jorge Pedreira, “Brasil, fronteira de Portugal. Negócio, emigração e mobilidade social”, in Mafalda Soares da Cunha [coord.], Do Brasil à Metrópole. Efeitos Sociais, séculos XVII-XVIII, [Évora], Universidade de Évora, 2001, pp. 63-69). De qualquer modo, nada comprova que Tomás Pinto tenha, de fato, “participado da realidade das Minas” em condições equiparáveis às do autor do Erario.
Os dois derradeiros ensaios da série de cinco tratam do tema da inserção social dos cirurgiões da colônia e do saber e experiência acumulados por Gomes Ferreira. Maria Cristina Cortez Wissenbach reúne com desenvoltura as trajetórias de mais de uma dezena de profissionais, mostrando a disparidade de suas origens e estatutos. Ao discorrer sobre o Erario, mostra também a existência de um intrincado convívio entre a “ciência” colhida nos livros e as tradições forjadas na prática: na expressão de Pedro Nava, “amálgama inseparável na obra dos mestres portugueses” até ao final do XVIII (p. 132). Se algo se encontra, a este propósito, que singularize Gomes Ferreira é o cuidado com que descreve as condições específicas do interior do Brasil e as receitas aí adoptadas, com largo recurso às riquezas nativas. Botânicas e minerais.
Mesmo no centro do livro, há um tratado “da rara virtude” de um dos mais nobres medicamentos que na altura se utilizava: o “óleo de ouro”. Diz o autor que “assim como o ouro é o soberano de todos os metais, assim também o seu óleo é o mais soberano remédio que até o dia de hoje se tem descoberto […]” (p. 489). Formulação grandiloquente, mas acadêmica e assisada; pois, nesses tempos, não falta quem creia que o ouro “[…] conforta o coração, & as faculdades vitaes […]”, podendo inclusive ser consumido como “ouro potável”, na esperança de reduzir os achaques e prolongar os anos de vida (Raphael de Bluteau, Vocabulario Portuguez e Latino, Vol. VI, pp.148-152 e 651-652). Gomes Ferreira resiste a deixar que o brilho das Minas o leve tão longe: sempre que trata do uso do ouro, mantém-se restrito à consagrada receita do “óleo”. A abundância com que depara permite, porém, empregá-lo nas mais variadas patologias, que ele enumera pelo relato de casos concretos, com um orgulho de pioneiro: gangrenas, furúnculos, carbúnculos, fleumões, antrazes, panarícios, apóstemas, cirros, cancros, feridas de peito e carnes supérfluas. Todo o senhor que possa pagá-lo, deve deter uma pequena porção de óleo de ouro em sua casa. Não só para si, ou para a sua família, mas, igualmente, em benefício dos pobres (p. 513). Como resume Ronaldo Coelho, o alegado sucesso de Gomes Ferreira se assenta de fato num amplo conjunto de qualidades (pp. 151-154 e 167-168).
Fica o desejo de que esta última iniciativa do Centro de Estudos Históricos e Culturais da Fundação João Pinheiro possa ser divulgada como merece e, se possível, que incentive outros trabalhos de reedição de textos setecentistas pouco comuns.
Tiago C. P. dos Reis Miranda– Centro de História da Cultura/ Universidade Nova de Lisboa.
[DR]
Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII) – FRAGOSO et al (RBH)
FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 473p. Resenha de: GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.22, n.44, 2002.
Com um prefácio impecável de A. J. R. Russell-Wood, chega-nos uma obra coletiva inovadora que une pesquisadores lusos e brasileiros. Não se trata de mais uma publicação que acompanha o crescimento do mercado editorial sobre os tempos coloniais, embalado pela comemoração dos descobrimentos, mas de uma contribuição definitiva para a revisão do chamado “antigo sistema colonial”. Lá se vão pouco mais de vinte anos desde que Ciro Flamarion Cardoso chamou a atenção, de forma ensaística, para a preocupação obsessiva com a extração de excedentes pela metrópole na historiografia colonial brasileira. Ao cabo deste período, a pesquisa acadêmica tomou fôlego e trouxe novas evidências empíricas para a cena do debate.
A historiografia portuguesa, independentemente das discussões acerca da autonomia do modo-de-produção escravista colonial que marcou profundamente os estudos brasileiros, também se renovou com o revisionismo de seu Antigo Regime, particularmente sobre o fracasso das reformas pombalinas, o crescimento industrial gorado com a Independência brasileira e o questionamento sobre a centralização do poder pelo Estado monárquico lusitano.
Ambos os percursos historiográficos se amalgamam nesse livro, nos dando uma visão ampla e diversificada sobre a complexidade do que foi o Império luso, tendo como elemento catalizador o controvertido “pacto colonial”.
O primeiro bloco de ensaios, através da pesquisa de múltiplas fontes primárias manuscritas e inéditas, traça a trajetória da elite econômica e política da capitania do Rio de Janeiro. João Fragoso, Antonio Carlos Jucá de Sampaio e Helen Osório vão abrir o conjunto de doze artigos, situando a praça mercantil carioca no centro de uma vasta rede de operações abrangendo rotas no ultramar africano e asiático, bem como as linhas do abastecimento do mercado brasileiro da época. Atuação que caracterizou a elite mercantil de grosso trato daquela cidade pelo menos até os anos de 1830 e que se consolida no setecentos (Fragoso, p. 333).
A passagem da elite agrária dos fundadores da Guanabara para o predomínio dos homens de negócios na hierarquia social é marcada pela crise da economia açucareira que acompanhou a reativação mercantil do Rio de Janeiro, causada pelo impacto da mineração e o controle carioca no abastecimento das Minas Gerais. Também a subordinação da economia sulista ao domínio dos capitais mais elevados dos negociantes guanabarinos fica patente nos dados de arrematação dos impostos sobre as mercadorias rio-grandenses, estudados por Helen Osório.
Os três artigos iniciais vão sublinhar as estratégias de enriquecimento dentro de uma economia chamada do “bem comum”, dominada pelas melhores famílias da terra. Nessa economia de distribuição de benesses e privilégios, as alianças familiares e clientelistas são decisivas para acumulação de fortunas. Nota-se a influência, entre outras, da abordagem de Giovanni Levi, Braudel e Polanyi, para a análise da reciprocidade dos favores entre famílias e o mercado pré-capitalista imperfeito, bem como do método genealógico das famílias, propalado por Adeline Daumard e Jacques Dupâquier, imprescindível para a reconstituição dos mecanismos de formação dos patrimônios privados nas sociedades pré-industriais.
Talvez, neste bloco inicial e ao longo do livro, o leitor sinta a falta de trabalhos que cuidassem mais detidamente da participação das demais capitanias no sistema complexo das rotas mercantes e no funcionamento administrativo dos vice-reinados, notadamente da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Grão-Pará. Embora esse desejo pudesse soar excessivo ao plano que alinhava a obra, o do esforço de análise dos aspectos centrais do Antigo Regime lusitano revisto pelo papel desempenhado pelas instituições e elites coloniais, com ênfase na praça do Rio de Janeiro.
Nas duas seções seguintes, a diversidade de assuntos partilha de um denominador, o das relações de poder na administração do Mare Lusitano. A figura de um regime colonial centralizado no poder da Coroa é substituída pela imagem de um espaço de negociação, que edifica as relações mutualistas ou simbióticas entre a grande autonomia das câmaras municipais, instituições eclesiásticas ou senhoriais e o poder real, que se beneficiava do bom andamento dos negócios coloniais (ver artigos de Maria Fernanda B. Bicalho, Antonio Manuel Hespanha, Nuno Gonçalo F. Monteiro e Maria de Fátima S. Gouvêa). Afinal a economia política dos privilégios, institucionalizada pelas monarquias do Antigo Regime nas colônias, estava assentada numa cadeia de negociações entre redes pessoais e institucionais do poder local e o trono metropolitano, hierarquizando os homens e o acesso à obtenção das benesses imperiais. O outro lado desta realidade seria a coesão política necessária para o governo do Império. Antonio Manuel Hespanha, investigando as regras formais para a atuação das instituições coloniais diante do poder real, indicará as inconsistências da suposta uniformidade da estrutura jurídica do Império, como corolário da idealização do centralismo do poder do monarca. Trabalhando comparativamente com a diversidade de situações entre a organização da justiça em Goa, Bahia e Rio de Janeiro, Antonio Hespanha torna visível a pluralidade dos laços de políticos que iriam se estabelecer entre o poder local e a Coroa a partir das distâncias e realidades da conquista, nas quais o direito colonial moderno se ajustava e os nativos estabeleciam suas práticas legislativas próprias. Portanto, a centralização não poderia ser efetiva sem um quadro legal uniforme e o poder restrito ao mando dos oficiais metropolitanos.
A experiência da evangelização é tratada por Ronald Raminelli e Hebe de Mattos. O primeiro, enfatizando as diferentes estratégias missionárias no Congo, Brasil e Japão, que pretenderam unir povos diversos sob a defesa da fé cristã. O projeto missionário que cimentava a conquista, ao criar a identidade cultural entre povos subjugados e os valores metropolitanos, continha elementos para a sua corrosão ao se manter dentro dos limites da desigualdade representada pela exclusão dos gentios no corpo social hierarquizado.
Num dos artigos mais polêmicos da coletânea, Hebe de Mattos vai se contrapor às motivações de ordem econômica utilizadas pela historiografia brasileira para explicar o estabelecimento do regime escravista nas Américas, tais como a falta de braços para as tarefas da colonização ou a lógica mercantilista das monarquias modernas. A construção de justificativas religiosas para a escravidão, a exemplo da guerra justa para a salvação dos gentios, não foi forçada pela lógica mercantil da expansão. Ao contrário, antecederia a empresa ultramarina e teria fabricado as referências mentais e políticas, de fundo corporativo e religioso, que permitiram a aventura colonial, inclusive em sua dimensão mercantil. A escravidão seria a mola propulsora para os colonos portugueses motivados pela possibilidade de se afidalgarem no além-mar, conquistando o status de senhores de homens e terras. Caímos, assim, na polêmica das determinações históricas e poderíamos nos perguntar se não deveríamos separar as motivações das razões impostas pelas necessidades da experiência da colonização. Ou ainda, distinguir as aspirações que moviam os colonos e as estratégias da Coroa para o seu enriquecimento, dentro da lógica mercantilista do Estado moderno. De qualquer maneira, deixemos o leitor tomar partido.
A última parte do livro vincula múltiplos aspectos da obra à construção da noção de uma economia colonial tardia, que se define pela hegemonia do capital mercantil residente no Rio de Janeiro, e se constituiria na nova elite econômica da América portuguesa. João Fragoso persegue um modelo explicativo para a economia colonial já definido em sua tese de doutorado (Homens de grossa aventura), e do qual alguns trabalhos aqui apresentados lhe são tributários. Por conseguinte, modelo forjado no programa de história agrária da UFF, sob a batuta de Maria Yedda Linhares. Nele, a autonomia da economia colonial é sustentada, com base numa cuidadosa pesquisa empírica, diante das flutuações externas e do poder da metrópole. A hegemonia econômica dos negociantes do Rio de Janeiro é meticulosamente recuperada por fontes cartoriais e arquivísticas diversas. Neste novo livro, Fragoso procura remontar seu estudo ao momento da transformação da acumulação de capitais pela economia da plantation em direção à constituição de uma elite mercantil colonial, que se mostrará autônoma e capaz de amealhar sua fortuna nas redes do comércio interno e ultramarino. As implicações dessas constatações são imensas para a historiografia brasileira, ainda não explorada de todo nas suas dimensões políticas e sociais.
E, finalmente, os textos de Roquinaldo Ferreira e Luís Frederico Dias Antunes ajudam a fundamentar os argumentos de Fragoso. Ambos, com riqueza de detalhes, reconstroem os circuitos intra-ultramarinos do comércio carioca com a costa africana e Goa. Negociantes do Rio, da Bahia e Pernambuco são identificados com freqüência nos portos indianos, participando ativamente do comércio de tecidos asiáticos (Luís Antunes). As três praças também usufruíam da vantagem do comércio direto com Angola, com a presença de suas embarcações representando cerca de 85% de toda a movimentação portuária de Luanda entre 1736 e 1770 (Roquinaldo Ferreira). Do Brasil partiam os panos asiáticos reexportados, as cachaças (“geribitas”), pólvora e armamentos para as trocas no sertão angolano, especialmente os escravos. E nesse tráfico novamente o Rio de Janeiro se destaca, absorvendo 48,5 % dos navios negreiros que zarparam de Luanda na década de 1760 (Idem).
Ao concluirmos nossa leitura, no mínimo podemos afirmar que se os argumentos não convencerem os mais céticos, a profusão de indícios e as comprovações empíricas, especialmente sobre a vinculação da praça carioca com a navegação de longa distância e suas triangulações de mercadorias com a Costa da Mina, Angola e Goa, alteram em definitivo a percepção do “pacto colonial”, reafirmando a autonomia que o capital mercantil sediado nas colônias ousou possuir ante o poder metropolitano. É prova também de que a história econômica e das estruturas se renova, sem esgotar as suas possibilidades de contribuição para o saber histórico. Aqui, os resultados das pesquisas regionais se sintonizam e dialogam com uma totalidade revisitada, o Império colonial português. Aguardamos ansiosos pelas controvérsias que o livro certamente causará no meio acadêmico.
Afonso de Alencastro Graça Filho – Universidade Federal de São João del Rei.
[IF]Tropical Versailles: empire, monarchy, and the portuguese Royal Court in Rio de Janeiro – SCHULTZ (VH)
SCHULTZ, Kirsten. Tropical Versailles: empire, monarchy, and the portuguese Royal Court in Rio de Janeiro, 1808-1821. New York: Routledge, 2001. Resenha de: NEEDELL, Jeffrey. Varia História, Belo Horizonte, v.17, n.25, p. 255-258, jul., 2001.
Redefinindo a Monarquia em uma Sociedade Escrava1
É um antigo lugar comum observar a particularidade estabilidade política do Brasil no século dezenove. Normalmente, se discute que isso deriva de circunstâncias singulares da conquista da sua independência com a manutenção das instituições e do herdeiro da monarquia Portuguesa no Rio de Janeiro. É sempre sugerido que a estabilidade deveu-se, assim, muito ao fato de que as estruturas políticas e sociais da colônia brasileira se mantiveram relativamente intactas devido a essa singular transição. A bem sucedida história intelectual e cultural da Corte Real no exílio, de Schultz, deixa de lado esses lugares comuns ao examinar o quanto a monarquia mudou e como essa mudança foi percebida entre 1808 e 1822, e a forma com que essas mudanças foram vistas e se manifestaram no pensamento e no dia-a-dia.
Por mais que esse estudo se deva aos últimos dez ou vinte anos da moderna história cultural, ele se baseia em um estudo muito meticuloso de fontes de arquivos e trabalhos contemporâneos publicados. De fato, algumas das preocupações centrais do livro são baseadas na minuciosa leitura de correspondência particular e do Estado, registros policiais, teatro e literatura, panfletos de política contemporânea e da coleta invejável de outras fontes publicadas da época, tanto em Portugal quanto no Brasil. Além disso, Schultz lucrou com a recente preocupação de seus colegas em torno dessa época, citando um número de trabalhos recém-publicados e teses não publicadas e dissertações no Brasil e nos Estados Unidos. Também merece comentários a imparcialidade de suas análises e conclusões. Por mais provocativos que fossem os assuntos, ela transporta a perspectiva dos contemporâneos com cuidado e chega a sua própria avaliação com criteriosa objetividade.
Inevitavelmente há imperfeições. Na minha leitura, elas parecem se acumular no terceiro capítulo, onde, freqüentemente, uma ou duas fontes são a única evidência para o pensamento ou a resposta a um número de pessoas (e. g., pp. 73-74, 78-80, 81, 85), ou no terceiro e quinto capítulos, onde as citações nem sempre suportam o peso das interpretações (e. g., 73-75, 103,164, 166). Também me pergunto porque, em um livro em que se faz tão boas observações com tão boas evidências, a autora se sinta obrigada a citar tantos autores recentes no texto (ao invés de fazer nas notas) para apoiar seus argumentos ou sugerir questões em comum. Mas nenhuma dessas faltas ocasionais é de importância no argumento central do livro, e elas são um pequeno preço a se pagar pela informação, pela análise e pelas sugestões que a autora nos dá aqui.
A contribuição do livro deve ser entendida no contexto historiográfico. Pode-se dizer que o sentido político da monarquia Brasileira sofreu terrivelmente de uma extrapolação ahistórica, na contramão do seu sucesso histórico. Isto é, a unidade da América Portuguesa depois da independência e a sua relativa estabilidade política tendem a serem dadas por certas. A maioria dos historiadores, por algum tempo, gastou sua energia em estudar a monarquia posterior, para entender a passagem do regime, ou, mais freqüentemente, eles compreenderam a história política da monarquia como algo que não mudava e se concentraram na análise de história social ou econômica, particularmente, sobre a escravidão e a abolição. Essas modas vêm se revertendo vagarosamente tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos.
José Murilo de Carvalho teceu competentemente uma elegante análise política das preocupações sócio-econômicas na publicação portuguesa de 1980 de sua dissertação feita em Stanford em 1974. Em 1985, Emilia Viotti da Costa retrabalhou muitos dos seus artigos originais em uma história do império; em 1988, Roderick Barman nos forneceu uma impecável narrativa política explicando a formação nacional entre a última década do século dezoito e 1853. Richard Graham tentou fazer um modelo provocativo do comportamento político nos níveis local e nacional, em 1990. Outros se ativeram a análises políticas mais particulares, como Thomas Flory, em 1981, sobre a ideologia e as reformas da oposição liberal dos anos de 1820 e 30. Neill Macaulay escreveu um delicioso estudo revisionista do primeiro imperador, em 1986. Eul-Soo Pang tentou desenvolver um entendimento da nobreza, em 1988, Barman forneceu aguda e completa biografia do segundo império, em 1999, e , no mesmo ano, Judy Bieber publicou estudo de caso da história política e comportamento no interior de Minas Gerais. Artigos bastante recentes de Jeffrey Mosher e Jeffrey Needell sugerem livros a serem publicados sobre a história política de Pernambuco e do Partido Conservador , respectivamente, e também temos artigos e livros de autoria de Hendrik Kraay (2001) e Peter Beattie (2001) interligando a instituição da monarquia, o exército, à história política e social do regime. No Brasil, o trabalho de Carvalho foi precedido por uma rica e pioneira antologia a respeito da independência, editada por Carlos Guilherme Mota em 1972, e então seguido pelo ambicioso estudo de Ilmar Rohloff de Mattos, sobre a ideologia do estado, em 1990. Em 1998, temos a sofisticada análise da cultura pública da monarquia colonial tardia e da recém-proclamada monarquia nacional de Iara Lis Carvalhos Souza e o tour fascinante de Lilia Moritz Schwartz sobre cultura pública e a iconografia do Segundo Reinado. Em 1999,Cecilia Helena de Salles Oliveira forneceu sua análise investigativa dos interesses sócio-econômicos influenciando a independência; em 2000, Isabel Lustosa publicou sua instigante análise da imprensa periódica política da segunda década do século dezenove, porta-voz dos interesses e das ideologias dominantes.
Em uma frase, o magistral trabalho de tais pioneiros como Murilo de Carvalho, Viotti da Costa, e Barman nos permitiu atacar partes menores de um todo, suprimindo muito que era pobre e superficialmente entendido. O livro de Schultz é, então, apenas a última contribuição à redescoberta e reavaliação da história política da monarquia. É, no entanto, especialmente convincente na metodologia, informando sua idéia e a centralidade do seu foco. A transição Portuguesa e Brasileira para monarquia constitucional e a independência foram habilmente traçadas por Macaulay e contribuintes da antologia de Mota (particularmente Maria Odila Leite da Silva Dias, Francisco D. Falcon e Ilmar Rohloff de Mattos), e Barman, entre outros. Estes, e mais recentemente Salles Oliveira, já nos serviram com narrativas políticas detalhadas e análises baseadas em fatos sobre a transição em termos de ideologia, contingência política e interesses sócio-econômicos. A contribuição de Schultz está em ir além dos eventos e das forças sócio-econômicas ou políticas dirigindo-nos a um entendimento de como a transição ocorreu na experiência vivida no centro político do Brasil.
Shultz faz essas coisas quando amarra a análise arquivística típica da melhor historiografia tradicional com as inovadoras preocupações dos estudos de cultura política comuns entre os novos historiadores. Ela o faz em um estudo de como a fuga e o exílio da Corte Portuguesa levou a uma reavaliação e reconstrução da instituição da monarquia em uma época revolucionária e em uma sociedade escravista marcada por distinções raciais. Os capítulos são organizados cronologicamente, amarrando questões chave: o impacto do exílio na natureza do império Português e a legitimidade da monarquia, a metamorfose do posto de vice-rei do Rio de Janeiro na Corte de um império, o impacto da proximidade monárquica dos seus vassalos americanos, a ambigüidade do papel da monarquia com respeito à instituição da escravidão, a metamorfose do comércio do Atlântico e o papel dos brasileiros, portugueses e ingleses em tudo isso e o desafio do constitucionalismo liberal na antiga metrópole e no novo reino do Brasil.
Nesses capítulos ela demonstra que o exílio transformou a monarquia de um regime absolutista Europeu com colônias no além-mar em uma regenerada, até mesmo nova, monarquia e então, finalmente, em uma instituição constitucional tentando conter revoluções políticas e equilibrar os reinos de ambos os lados do Atlântico. Ao fazê-lo, ela explora a forma com que discourso político e cerimonial indicam e incorporam as mudanças e desafios da época, e são refletidos nos usos da monarquia, no aparecimento da cidade, nas medidas de repressão e controle dos escravizados, na correspondência e nos memorandos dos oficiais e cortesãos da Coroa e na percepção e controle dos pobres e cativos. Essa aproximação cultural e íntima leitura ideológica são contribuições inovadoras com claro potencial para futuros trabalhos de outros historiadores. De fato, isso é algo que Schultz faz alusão quando nota que muitas das contradições da transição da monarquia foram legadas de forma intacta ao Império do Brasil. É um livro bem vindo, escrito claramente, vigorosamente discutido, e potencialmente seminal. Certamente vai resistir.
Nota
1 Em parceria com H-LatAm e H-Net.
Jeffrey Needell – History Departmente/University of Florida/USA.
[DR]
Bibliografia Libertária – O Anarquismo em Língua Portuguesa / Adelaide Gonçalves e Jorge E. Silva
Em edição revista e ampliada, a editora Imaginário lança A Bibliografia Libertária – O Anarquismo em Língua Portuguesa, de Adelaide Gonçalves e Jorge E. Silva, trabalho que sintetiza informações acerca da atividade editorial voltada para o pensamento e prática anarquistas em Portugal e no Brasil, constituindo um importante guia para leituras e estudos sobre o tema.
Buscando contemplar a atividade editorial libertária lusófona desde a década final do século XIX, a catalogação corrige e amplia consideravelmente àquela da primeira edição, que incluía apenas livros publicados em Portugal após 1974 e, no Brasil, a partir de 1980, datas que marcaram o ocaso das ditaduras que assolaram os dois países. A listagem, desta forma, inclui também as edições feitas no período de maior visibilidade do movimento anarquista, a fase de seu surgimento e propagação como movimento socialmente representativo, que vai da última metade do século XIX até meados dos anos 30 do século XX.
Os vários títulos reunidos nesse período de mais de 100 anos refletem, em si, a longevidade do ideal ácrata, ao passo que as obras posteriores à década de 60 atestam o ressurgimento do interesse pelo pensamento libertário, ocorrido em nível mundial e marcado, entre outros acontecimentos, pela emergência das críticas aos regimes despóticos que advogavam-se a alcunha de socialistas e pelo aparecimento dos movimentos contra-culturais nas décadas de 50 e 60. Desta forma, é possível verificar, nesta bibliografia libertária, não apenas a obstinação dos primeiros tempos da atividade editorial anarquista, como também o impulso editorial que receberam alguns clássicos teóricos da Anarquia nas décadas mais recentes (como, por exemplo, a obra de Bakunin), o aparecimento de trabalhos de caráter acadêmico sobre o movimento operário influenciado pelo sindicalismo revolucionário e pelo anarco-sindicalismo das primeiras décadas do século XX, bem como o aparecimento de obras críticas de viés libertário à chamada modernidade.
Estão presentes, ainda, diversos livros de memórias de militantes anarquistas e anarco-sindicalistas portugueses, editados após a derrubada da ditadura portuguesa em 1974, e obras publicadas por editoras que se mantém à margem da cultura massificante que apregoa a morte das ideologias, como a Achiamé e a própria Imaginário. Em anexo, o livro traz uma listagem de temas afins ao anarquismo, tais como as idéias anti-clericais, o cooperativismo e o anti-autoritarismo, que como afirmam os autores, são “bastante presentes na propaganda libertária e que contribuíram para a formação da visão de mundo dos anarquistas.”
O leitor, no entanto, não será simplesmente levado a conhecer esta variedade de edições acerca do anarquismo e temas afins. Os autores enriquecem o trabalho com uma bela introdução à bibliografia libertária na qual encontram-se informações que incluem o aparecimento das primeiras idéias socialistas nos dois países, o intercâmbio de publicações entre portugueses e brasileiros durante o século XX, a efervescência das idéias na busca da formação de uma cultura genuinamente popular e libertária e, por fim, os obstáculos e transformações conjunturais enfrentadas por aqueles que se dedicaram à divulgação das idéias socialistas.
Mas o que de mais importante se sobressai no conhecimento desta atividade editorial libertária, que em meio a tantas adversidades se manteve firme propagando ideais de elevação humana, é que ela foi fruto da espontaneidade e do voluntarismo de militantes livres, que não cessaram de acreditar na grandeza de seus propósitos, na pluralidade e no anti-dogmatismo. A determinação e a perseverança com que as adversidades foram enfrentadas e superadas por todos aqueles que lutaram pela divulgação das idéias ácratas devem, acima de tudo, servir de exemplo aos que, nos dias de hoje, nesse contexto social tão hostil dominado pelos “mass media”, continuam acreditando e trabalhando pela liberdade e pela emancipação humana.
Desta forma, a “Bibliografia Libertária” é não apenas um guia capaz de instrumentalizar pesquisas sobre o vasto e importante legado da Anarquia, mas também um convite para que mergulhemos nessa grande herança das lutas sociais, de cujo conhecimento depende não só a compreensão da nossa sociedade atual, mas também os caminhos para sua transformação.
Allyson Bruno Viana – Universidade Federal do Ceará GONÇALVES, Adelaide; SILVA, Jorge E.
Bibliografia Libertária – O Anarquismo em Língua Portuguesa. São Paulo: Ed. Imaginário, 2001. Resenha de: VIANA, Allyson Bruno. Revista Trajetos, Fortaleza, v.1, n.1, 2001. Acessar publicação original. [IF].
Erário Mineral – FERREIRA (VH)
FERREIRA, Luis Gomes. Erário Mineral. 2ed. Belo Horizonte: Centro de Memória da Medicina, 1999. Resenha de: FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves. Varia História, Belo Horizonte, v.16, n.23, p. 239-241, jul., 2000.
Depois de alguns anos de espera, foi finalmente lançada, pelo Centro de Memória da Medicina de Minas Gerais, UFMG, a segunda edição do Erário Mineral. O lançamento foi cercado de pompa e circunstância, como não poderia deixar de ser, pois é conhecida a dificuldade encontrada para empreender projetos como este nos espaços acadêmicos.
É interessante observar que havia uma proibição quanto às edições do Erário Mineral, solicitada pelo próprio autor, Luis Gomes Ferreira, junto às autoridades portuguesas. De acordo com o proponente, a solicitação fazia-se necessária considerando os altos custos de produção da obra. Nesse caso, o próprio autor seria o responsável pela comercialização do texto podendo, deste modo, recuperar o investimento realizado. A “provisão de privilégio” foi concedida em 22/11/1735, por dez anos, e significava que nenhum livreiro, impressor ou qualquer outra pessoa poderia, durante esse período, imprimir, vender ou mandar vir de fora do Reino o dito livro1. Desde então passaram-se mais de duzentos anos até que pudéssemos adquirir um exemplar de um dos compêndios de saúde utilizados nos séculos XVIII e XIX, especialmente no ambiente das Minas Gerais, sem ter necessidade de recorrer ao mercado de livros raros.
O Erário Mineral iniciou sua circulação em Lisboa em 1735 e a dedicatória é encaminhada “À puríssima Virgem Maria Nossa Senhora da Conceição, Mãe e advogada de todos os pecadores.”2 Mesmo confiante na sua formação, que lhe conferia o título de cirurgião-aprovado, o médico do século XVIII solicitava sempre a ajuda do mundo transcendente, e com Luis Gomes Ferreira não foi diferente. Daí a dedicatória à puríssima Virgem, acompanhada do pedido implícito de proteção.
Luis Gomes Ferreira estudou cirurgia em Lisboa, no Hospital Real de Todos os Santos, obtendo carta em 1705. Trinta anos depois, com experiência acumulada no Reino e no Brasil, divulga sua grande obra. Boa parte da sua experiência foi adquirida no cuidado ao corpo doente da população que habitava as Minas nas primeiras décadas do oitocentos. Chegou ao Brasil antes de 1710 atuando inicialmente na Bahia. Depois dessa data, circulou por várias localidades de Minas Gerais. São vários os casos de pacientes mineiros tratados por Gomes Ferreira citados ao longo do Erário Mineral.
A presente edição é fac-similar e, além dos cuidados com a reprodução do texto em si, toda a edição recebeu tratamento especial: capa dura e papel com cor envelhecida especialmente pintada para essa edição. Por certo os exemplares desta nova edição irão durar aproximadamente mais 250 anos, se consideramos a data da primeira edição.
Todo pesquisador da história da medicina no Brasil, mais especificamente, ou da história sócio-cultural no Brasil, reconhece a importância desta obra. O Erário Mineral faz parte da leitura obrigatória de todo pesquisador nessas áreas e, em especial, daqueles que investigam a região mineira. A disponibilidade deste texto nos arquivos mineiros é bem precária. Podemos encontrar um exemplar no acervo da Casa Borba Gato/Museu do Ouro, sob responsabilidade do IEPHA e há também uma edição no Acervo da Mina de Morro Velho, além do exemplar no Centro de Memória da Medicina/UFMG.
Quando o pesquisador depara-se com uma obra de importância como o Erário Mineral e a disponibilidade de consultá-la através de uma edição fac-similar fica mais fácil o trabalho de pesquisa. A regra básica dos documentos recolhidos nos acervos documentais é a não disponibilidade para empréstimos, por questões de segurança. Esta condição é necessária para preservação do acervo, muito diferente da natureza do acervo bibliotecário tradicional. A documentação que constitui os acervos históricos, incluindo os livros (obras de referência, obras raras) são documentos, quando não únicos, raros, de difícil acesso. Com o passar do tempo, a sua conservação exige cuidados especiais e estão sob a guarda e responsabilidade da instituição recolhedora. Este procedimento exige do pesquisador uma dedicação de tempo significativa. Algumas obras, devido à sua importância e repercussão nos meios acadêmicos, chegam a ser digitalizadas ou microfilmadas para que possam encontrar-se disponíveis pela internet ou por empréstimo/aquisição do microfilme. Este procedimento ainda não foi adotado para o Erário Mineral, valorizando ainda mais a recém lançada edição fac-similar.
O Erário Mineral, dividido em doze tratados, aborda os temas variados que poderiam auxiliar os enfermos nas regiões onde a existência de poucos médicos era regra. Trata-se assim de um verdadeiro guia indicando as doenças e problemas de saúde mais comuns para a população, não apenas das Minas Gerais, mas de qualquer localidade onde a freqüência de médicos era baixa. As informações de que dispomos não nos possibilitam afirmar, mas podemos indicar que médicos, com as qualificações de Luis Gomes Ferreira (cirurgião-aprovado) também utilizavam-se do manual de saúde, isto sem contar com os práticos na arte de curar, que não eram poucos diante da ausência de médicos formados.
O Erário Mineral não está sozinho neste ramo de publicação. Eram comuns obras nesse estilo, que visavam socorrer aqueles que enfrentavam problemas de saúde e os práticos/profissionais ou, para utilizarmos expressão da época, os versados na arte de curar, responsáveis por aliviar a dor e os males do corpo adoentado. Ao longo dos doze tratados do Erário Mineral podemos encontrar as doenças mais comuns, os remédios mais indicados, com suas respectivas formulações, o tratamento das fraturas e deslocamento dos membros, aspectos positivos e negativos da alimentação, permitindo um amplo leque de investigação sobre o mundo da cura no século XVIII: reconstrução do quadro nosológico, entendimento de corpo, doença e saúde, percepção dos procedimentos para restabelecimento do equilíbrio da saúde. Toda esta trajetória está pautada nos pressupostos da teoria dos Humores, herdada de Hipócrates e adaptada por Galeno.
O Erário Mineral cita vários exemplos colhidos da prática e experiência do autor na região mineradora das Minas Gerais. Mais um ponto interessante para os pesquisadores do tema: é possível desenvolver investigação das doenças e condições de saúde presentes entre a população trabalhadora, basicamente mão-de-obra escrava, nas Minas do século XVIII.
Como trata-se de uma edição especial, talvez não seja fácil encontrar o Erário Mineral em qualquer livraria. O mais indicado é entrar em contato com a equipe do Centro de Memória da Medicina, situado na Escola de Medicina da UFMG (http://www. medicina.ufmg.br/cememor). Os pesquisadores das práticas de saúde nos séculos XVIII e XIX agradecem e aguardam novas iniciativas do gênero.
Betânia Gonçalves Figueiredo – Professora do Departamento de História e pesquisadora do Grupo Scientia e Technica- UFMG.
[DR]O Racismo – D’AIRE (VH)
D’ AIRE, Teresa Castro. O Racismo. [Lisboa]: Sociedade Gráfica, 1996. Resenha de: RIBEIRO, Maria Solange Pereira. Varia História, Belo Horizonte, v.15, n.20, p. 181-183, mar., 1999.
Racismo em Portugal: qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência.
Teresa Castro introduz essa obra com um dito africano de profunda densidade ideológica: “obrigado meu Deus por ter criado o cavalo, porque se não existisse o cavalo os brancos montavam em cima de nós “e afirma logo no início, sobre a epopéia dos descobrimentos, a miscigenação das raças e a teoria dos brandos costumes, serem tudo mentira – “os portugueses são racistas, sim”.
Essa obra é composta de perguntas e respostas, constituíndo-se um texto que no seu cômputo geral é claro e de leitura rápida e fácil de modo que pode servir facilmente como texto para debates ou discussões em níveis diferenciados. O livro enfoca um assunto de profunda importância na explicitação do racismo em Portugal, desse modo, em circunstâncias e dosagem diversas, poderá ser útil ao ensino em matérias que discutam o preconceito racial. Apresenta-se dividido em 15 entrevistas referentes às seguintes perguntas básicas:- Origem geográfica do entrevistado e de sua família; nível de escolarização e profissão: como e onde mora e qual a cor dos vizinhos; se o entrevistado acredita ter raça mais bonita, mais inteligente; se tem raça que comete mais crimes; se o entrevistado se casaria com alguém de outra religião que não a sua; se o entrevistado se casaria mais facilmente com um pobre ou com um preto, se as leis portuguesas protegem todos da mesma forma, etc.
As respostas a essas perguntas e a outras são surpreendentes e reveladoras sobre a existência de racismo em Portugal.
Diz a autora sobre as pessoas que inicialmente admitiram a existência do racismo em Portugal. quando convidados a falar um pouco mais sobre suas experiências fecharam-se e comentaram que no seu caso pessoal nem tinham muita razão de queixa. Para essas pessoas. que passaram pelas humilhações mais vergonhosas que um ser humano pode ser sujeito, a não-denúncia era como se fosse a única forma de conservar o mínimo de dignidade que os brancos ainda lhes não roubaram. conclui a autora na sua introdução.
Prosseguindo a análise levanta questões sobre o depoimento do dirigente do SOS Racismo que afirmou ser o português mais racista do que os alemães. uma vez que na Alemanha tomam se providências diante de manifestações agressivas de preconceitos e intolerância, enquanto em Portugal as autoridades. através da ausência de atitudes, são coniventes com os agressores.
A maioria dos entrevistados foi unânime em afirmar que os discriminados que vão a tribunal por maus tratos. dificilmente ganham a causa. pois os juízes são racistas. É comum em Portugal a ação dos Skinheads e da Polícia contra grupos minoritários especialmente o preto. Entretanto admitir ter sido discriminado é sentir a humilhação duas vezes, a grande maioria das pessoas discriminadas não dão queixa e dizem não adiantar.
Mas nem todos pensam assim, há negros conscientes de seus direitos e estão mobilizando as autoridades para que façam justiça com as minorias portuguesas ou como dizem os portugueses os “retornados” (ex-colônia Portuguesa). O SOS Racismo está solicitando também que se incorpore nos currículos das escolas secundárias o senso de respeito pelas raças. Trabalhos como o da cantora cabo-verdiana Celina Pereira. vem tentando levar às escolas bilíngües histórias nascidas em Cabo Verde. Um livro com fita cassete foi patrocinado por uma organização não-governamental italiana, editada em três idiomas; italiano, português e crioulo. São canções infantis, trovadinhas, cantigas de roda, confeccionadas dentro de uma ordem pedagógica e didática para as escolas de ensino bilíngüe. Nos Estados Unidos a obra aparece em português, crioulo e inglês e já é utilizada em algumas escolas em Massachusetts, onde a autora recebeu alguns prêmios.
O projeto dirige-se a crianças cabo-verdianas que possuem um índice muito grande de insucesso escolar, pois são obrigadas a aprender a estudar numa língua que não é a delas; entretanto, Portugal não tomou conhecimento do projeto, lamenta Celina. O maior número de africanos que vivem em Portugal é de Cabo Verde, acrescenta a cantora; “eu só queria dar às crianças de Cabo Verde algumas referências culturais dos seus progenitores para poder se situar enquanto seres humanos, saber de onde vêm e para onde vão”.
Este livro, curiosamente, leva-nos a tecer algumas comparações e consequentemente uma compreensão da base do racismo no Brasil, uma vez que estamos na condição de “retornados”, através da língua e de algumas heranças culturais.
Um dos fatos de aproximação é que no Brasil os negros de nível sócio-econômico mais elevado ficam “sem cor” e passam a discriminar a sua raça. Isso ocorre também com o mulato, que para fugir da discriminação se coloca mais próximo do branco de forma ideológica. Dessa forma vai emergindo uma massa sem identidade pois o mulato nem é negro nem é branco, como afirma uma entrevistada- a colonização tirou do africano que vive em Portugal, a cultura, a língua, os costumes e lhes impôs uma vida de humilhação.
Por outro lado a autora coloca a dificuldade das mulheres pretas em se manifestarem e em dar depoimentos aprofundando ao gravíssimo problema da auto-estima.
“Eu quando tenho saudades de ver um preto basta-me olhar para o espelho, e pronto, tão cedo já não preciso de voltar a vê-los na minha frente.”
Sobre esse fato revela a autora, que o curioso nessas mulheres é serem de um status sócio-econômico de classe média e talvez tenham sido ainda mais discriminadas do que os homens por isso tenham tanta pressa em esquecer as humilhações do passado. Uma culpa de todos nós, considera Teresa Castro, cidadãos de todas as raças e que parece repetir-se em muitos casos como recorrência.
Maria Solange Pereira Ribeiro – Doutoranda- Educação- USP. E-mail: bibaecir@turing.unicamp.br
[DR]
Didática da História – Patrimônio e História local – MANIQUE; PROENÇA
MANIQUE, Antonio Pedro; PROENÇA, Maria Cândida. Didática da História – Patrimônio e História local. Lisboa: Texto Editora, 1994. 104p. Resenha de: FONSECA, Selva Guimarães. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.16, n.31/32, p.377-379, 1996.
Selva Guimarães Fonseca – Universidade Federal de Uberlândia.
[IF]A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: bastidores da política, 1798-1822 – LYRA (RBH)[
LYRA, Maria de Lourdes Viana. A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: bastidores da política, 1798-1822. Prefácio de Izabel Andrade Marson. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994. 256p. Resenha de: OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.14, n.28, p.2268-270, 1994.
Cecília Helena de Salles Oliveira – Universidade de São Paulo.
Acesso ao texto integral apenas pelo link original
[IF]
Way of Death. Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade / Joseph C. Miller
Algum dia, seria oportuno avaliar o impacto das efemérides sobre a produção historiográfica. Poder-se-ia relacionar a comemoração dos trezentos anos da Revolução Puritana e o estabelecimento de um novo padrão na historiografia marxista inglesa? O ano de 1976 impôs o tema da festa, talvez em função do segundo centenário da Revolução Americana, talvez pelo anúncio da intenção do rei da Espanha de comemorar com grande gala o V Centenário da América, ou visando desde então as comemorações, então algo longínquo, de 1989 1.
Já no Brasil, o centenário da abolição oficial da escravatura propiciou uma relação bastante extensa de obras publicadas pelas editoras nacionais, que logo passaram a acompanhar, um pouco mais timidamente, a explosão editorial francesa do segundo centenário da Grande Revolução. Hoje, estamos comemorando o V centenário de um encontro de, pelo menos, três mundos. Os historiadores, o mercado editorial, a festa convertida em comemoração…Haveria, sim, muito a perguntar.
Way ofDeath, publicado nos Estados Unidos em 1988, merece uma edição brasileira, independentemente da sazonalidade do mercado editorial. Resenhá-lo aqui é contribuir com outros artigos que inserem a África no V Centenário.O livro se desdobra em cinco partes: começa pela África (Parte 1.
África: nascimento e mortes, 5 capítulos, 166 pp.); discute a estrutura e a dinâmica do tráfico negreiro (Parte 2. Traficantes: em trânsito, 6 capítulos, 269 pp.); examina a participação brasileira no tráfico angolano (Parte 3. Brasil: a última parada, 3 capítulos, 86pp.); passa em revista os interesses portugueses envolvidos com o tráfico e com o controle do território angolano (Parte 4. Portugal: mercadores da morte, 4 capítulos, 118pp.); e conclui propondo a abordagem do sistema econômico mundial da época mercantilista, a partir da experiência africana de contato com a morte (Capítulo 19. “A economia da mortalidade”,35pp.).
O texto é de fácil leitura, discorrendo com clareza sobre temas complexos como demografia, sistemas africanos de parentesco, ecologia, economia política, etc. Mantendo um contato profundo, embora não-formalista, com os especialistas de cada área de conhecimento, Joseph Miller explora os arquivos portugueses, angolanos e brasileiros. O autor tem larga experiência neste campo, que lhe permite aproximar-nos do que poderia ser o ponto de vista do escravo na historiografia do tráfico negreiro. Com grande sensibilidade na reconstituição da experiência vivida pelos escravos, Joseph Miller passa à distância de uma abordagem maniqueísta e incorpora a dinâmica das sociedades africanas de Angola à História. Seu grande mérito é o de buscar um meio de ultrapassar o molde etnocêntrico dos discursos universais, ao propor uma antropologização da Economia Política.
No cenário historiográfíco brasileiro, está fortemente instalada – especialmente desde a publicação de O escravismo colonial, de Jacob Gorender (1978) – uma inclinação compreensivelmente oposta. Num movimento pendular, de crítica a uma certa teleologia de inspiração eurocêntrica implícita em obras que vinham até então definindo o padrão da melhor historiografia brasileira, tomou-se importante contestar o modo de pensar o período colonial brasileiro como capítulo de uma História Universal da Acumulação Capitalista. Assim, passouse freqüentemente a pensar tal período, prolongado até 1888, nos termos do livro de um Modo de Produção Inteiramente Novo, e se explicitou todo um programa de estudos voltados para a descoberta e experimentação das leis de uma Economia Política da escravidão colonial. E importante ressaltar que esta proposta teórica considera também, sobretudo nas obras do historiador Ciro Flamarion Cardoso, o peso das determinações externas, a dinâmica da articulação entre diferentes modos de produção em escala continental e mundial.
Por sua vez, claramente situado naquela tradição intelectual associada às teses de Fernand Braudel e Emmanuel Wallerstein, Way ofDeathalarga os horizontes trazendo à cena a historicidade da África Central, as estratégias de troca e acumulação adotadas pelos grupos dominantes das sociedades africanas, a importância decisiva das milícias luso-africanas comandadas pelos capitães-mores na conquista de territórios e no controle das rotas terrestres do tráfico angolano, as alternativas possíveis de negociação envolvendo as formações políticas africanas, os luso-africanos, as autoridades coloniais, os grupos concorrentes no tráfico oceânico (portugueses, pernambucanos, baianos, cariocas, franceses, ingleses, holandeses …).
Estreitando o diálogo entre a História e a Antropologia, Joseph Miller retoma o tema da economia-mundo numa perspectiva sicrônica, propondo uma Etno-Economia Política em que a categoria riqueza se aplique ao processo de acumulação europeu e africano: riqueza em dinheiro, riqueza em gente.
Incorporando à compreensão do período a importância da manipulação dos sistemas de parentesco e dependência pessoal na constituição das unidades políticas centro-africanas, o autor faz mais que acrescentar um novo Continente à nossa visão histórica do mundo, pois abre nossos olhos para a percepção da onipresença da morte. Assim, visto a partir da experiência vivida por milhões de africanos – tal como daquela de milhões de ameríndios, correlação que o livro não considerou – , o processo de unificação da História deixa de ser visto apenas como processo de acumulação capitalista ou de expansão da civilização européia, e aparece também como tragédia: o horror. Particularmente conturbadora é a descoberta da manipulação do fator “tempo” nos negócios negreiros: a deliberada lentidão dos compradores forçando a baixa dos preços pedidos pelos vendedores, enquanto os cativos amontoados nos entrepostos costeiros angolanos vomitam, defecam, agonizam e morrem.
Na conclusão, à pág. 683, Joseph Miller encara de frente a questão levantada por Stuart Schwartz na Cambridge History of Latin America: como caracterizar o Brasil ColonialPUm modo de produção escravista colonial autônomo, ou uma seção dependente de um modo de produção capitalista mundial? A resposta depende, pelo menos em parte, da escala escolhida pelo pesquisador. Pois bem, Way ofDeath focaliza o tráfico negreiro organizado pelo capitalismo mercantil, o que implica a adoção de uma escala pouco apropriada para o estudo das condições estruturais da colônia portuguesa na América. Por outro lado, na mesma passagem, o autor expõe suas reticências frente à tese holística do sistema mundial, concebida por Wallerstein, e considera com simpatia os argumentos “localistas” apresentados por Sidney Mintz.
A obra focaliza o tráfico negreiro angolano entre 1730 e 1830, destacando estruturas e processos que envolvem diretamente aspectos essencciais da história econômica-social de Portugal, Brasil e Angola. O tratamento privilegiado de Angola se explica pela decisão do autor, que examinou apenas o tráfico terrestre africano e o grande tráfico oceânico, deixando de acampar as rotas terrestres e costeiras do tráfico na América, nas ilhas atlânticas, etc.
As fontes consultadas são as dos grandes arquivos portugueses, freqüentados há cerca de vinte anos por Joseph Miller, e aquelas do Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e Instituto Histórico e Geográfico no Rio de Janeiro, além do Arquivo Histórico de Angola, em Luanda.
A bibliografia consultada é vastíssima e permite ao autor manifestar-se a propósito das grandes questões teóricas da historiografia relativa à escravidão e ao mercantilismo. Seria oportuno, quando de uma edição brasileira, acrescentar uma discussão mais direta com a corrente histeriográfica brasileira identificada com a tese do Modo de Produção Escravagista Colonial e com certos autores contemporâneos muito citados pela referida corrente, como Wittold Kula e Perry Anderson.
Enfim, Way ofDeathé um convite para se repensar um dos problemas cruciais de nossa historiografia: respeito à historicidade das diferentes regiões que integram o sistema econômico mundial do século XVIII, e re-elaboração da própia noção de sistema econômico mundial, assentando-o numa definição etno-histórica de capital, enfatizando o papel decisivo das instituições de crédito em todas as etapas da trajetória histórica do Capitalismo. Porém, mais que tudo, ler Joseph Miller é ouvir as vozes de um silêncio aterrador: é como fitar os olhos de algum flagelado etíope hoje na televisão, à hora do jantar, e ver a morte.
Nota
1 V., editados em 1976, OZOUF, Mona. Lafêterévolutionnaire -1789- 1799. Gallimard; BERCE, Yves. Fête et revolte Hachette; VOVELLE, Michel. Les métamorphoses de la fête en Provance de 1750 à 1820; Aubier-Flamarion; os n s 1 e 2 do vol III da revista Cultures da UNESCO (Festival and Carnival: the major traditions, e Festivais and Cultures) ; os dossiê da revista Autrement n°7, novembro (La Fête, cette hantise…).
Jaime Almeida – Doutor em História e professor da UnB.
MILLER, Joseph C. Way of Death. Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade. 1730-1830. Madison. The University of Wisconsin Press. 1988. Resenha de: ALMEIDA, Jaime. Textos de História, Brasília, v.2, n.3, p.157-162, 1994. Meio de Vida – Caminho da Morte. Acessar publicação original. [IF].
Ler História | ISCTE-IUL | 1983
Criada em 1983, a Ler História (Lisboa, 1983-) uma revista académica portuguesa na área científica da História, dedicada principalmente à história de Portugal, do império português e dos países lusófonos, nas épocas moderna e contemporânea.
A Ler História inclui também no seu campo de interesses outras cronologias e geografias, como a história ibérica e ibero-americana, a história de África e a história da Ásia, entre outras, sendo particularmente receptiva às abordagens de história comparada, transnacional ou global.
A revista dedica, desde sempre, uma especial atenção às questões de natureza historiográfica, incluindo a reflexão teórica e metodológica.
Ler História é uma publicação do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) e publica em português, inglês, espanhol e francês.
[Periodicidade semestral]. [Acesso livre].ISSN 2183-7791
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos



