Posts com a Tag ‘Palgrave MacMillan (E)’
Transnational Homosexuals in Communist Poland: CrossBorder Flows in Gay and Lesbian Magazines | Lukasz Szulc
Lukasz Szulc | Imagem: Studies in Etnicity and Nationalism
O termo Guerra Queer é empreendido pelos teóricos queer a fim de compreender as disputas políticas transnacionais sobre questões LGBTI+ que acabam interseccionando entendimentos diversos sobre cultura, tradição e direitos humanos (ALTMAN; SYMONS, 2016, p. 17).1 O termo guerra ilustra nesses debates as polarizações travadas entre regiões supostamente pró-direitos LGBTI+ e aquelas a priori homofóbicas e opositoras aos discursos sobre direitos humanos que contemplariam questões de diversidade de gênero e sexualidade. O caso russo – particularmente com as recentes legislações LGBTfóbicas – é ilustrativo para a concepção de Guerras Queer.2 O país vem se subscrevendo a uma concepção de contraponto aos modelos europeus ocidentais. Dentro dessa lógica discursiva, a Europa Ocidental tem sido projetada como um tipo de civilização degenerada, tendo suas expressões de homossexualidade, os feminismos e a legalização do casamento civil homossexual interpretados como sinais de destruição da família e da masculinidade – os quais, de acordo com tais posicionamentos, seriam sinais evidentes de fraqueza (RIABOV; RIABOVA, 2014, p. 29). O caso polonês seria um representante recente desses conflitos, em particular a partir da proclamação de “zonas livres de LGBT” por governos regionais e municipais entre 2019 e 2020 (ŻUK; PLUCINSKI; ŻUK, 2021). Portanto, as questões LGBTI+ alcançam cada vez mais protagonismo no cenário global político em torno das discussões sobre direitos humanos.
Entretanto, para se analisar as Guerras Queer é necessário partir da constatação de que tais discursos estão “pobremente embasados em diferenças ‘essenciais’- ‘naturais’ ou ‘tradicionais’ – entre regiões particulares” (SZULC, 2018, p. 224, tradução nossa). Nos casos aqui mencionados, a diferenciação é largamente embasada em noções essencialistas que observam uma presumida imposição ocidental de modos particulares de cultura e direitos humanos. Nesse sentido, a obra “Transnational Homosexuals in Communist Poland: Cross-Border Flows in Gay and Lesbian Magazines”,3 de Lukasz Szulc (2018), é uma relevante contribuição a fim de problematizar os essencialismos que embarcam as Guerras Queer e de sublinhar a potencialidade de um empreendimento que entrecruze uma visão transnacional e/ou global com as historiografias LGBTI+. Leia Mais
Georges Canguilhem and the Problem of Error | Samuel Talcott || Canguilhem | Stuart Elden || Infrangere le norme. Vita/scienza e tecnica nel pensiero di Georges Canguilhem | Fiorenza Lupi || Vital Norms: Canguilhem’s ‘The Normal and the Pathological’ in the Twenty-First Century | Pierre-Olivier Méthot
Continúa boyante la proliferación de estudios sobre el pensamiento de Georges Canguilhem. La edición de las obras completas sigue avanzando y ya se han completado cinco de los seis volúmenes previstos por el sello parisino de Vrin. Por otra parte, los Fonds Canguilhem, sitos en el Centre d’Archives en Philosophie, Histoire et Édition des Sciences (CAPHÉS), de la rue d’Ulm, siguen recibiendo a nuevas hornadas de investigadores interesados en rastrear en los inéditos del filósofo nuevos hallazgos que permitan recomponer una lectura más precisa de su trayectoria intelectual o nuevas pistas que hagan posible aportaciones valiosas en el terreno de la filosofía biológica. Leia Mais
Four Nations Approaches to Modern ‘British’ History: A (Dis)united Kingdom | Naomi Lloyd-Jones e Margaret M. Scull
Naomi Lloyd-Jones | Imagem: Royal Historical Society
Four Nations Approaches, as the editors acknowledge from the start, follows in the footsteps of a very solid tradition of edited collections, brought about by the rise of ‘New British History’ in the 1990s and early 2000s. Unlike the majority of that scholarship, however, this volume focuses on the modern rather than the early modern period: the stated aim of this chronology is that it allows the historian to transcend the discussion of ‘state formation’ (p. 5, and see also p. 62). Hugh Kearney’s ‘four nations’ label is adopted here to highlight the fact that ‘the extent to which’ England, Scotland, Ireland, and Wales ‘shared a “British” history is interrogated, rather than assumed’ (p. 6), and the approach remains ‘pluralistic’ rather than ‘wholeistic’ (p. 5). ‘Interactions’, instead of ‘integration’, form the focus of analysis (p. 5).
On the whole, there are two dangers that the volume sets out to avoid: the Anglocentrism which is residual in J. G. A. Pocock’s work, and, almost inevitably, in many political and state-centred histories; and a backstaging of the differences and peculiarities of each nation in an effort to look at how they fit into a British ‘whole’. This backstaging usually leaves behind especially Wales, tacitly subsumed into England, and—as Krishan Kumar has most eloquently noted—England itself, whose supposed essence is often reduced to positional dominance in the Union and in the Empire.(1) In this historical moment, however, an explicitly dis-homogenising historiographical approach is made most relevant by the post-2016 trajectories not of Wales and England, but of Scotland and Northern Ireland (pp. 15-18). Lloyd-Jones and Scull are very aware of the risks of hindsight-thinking. That of coming to see the United Kingdom as less of a historical reality merely because of its present disgregation was an issue with which historians had to grapple already in the 1990s. (2) Yet in firmly choosing the Four Nations framework, and determinedly bypassing not only Anglocentric paradigms, but the very idea of ‘Britishness’, this book may well be riding an early wave of what will become the politically mainstream understanding of ‘British’ history. Leia Mais
Micro-Spatial Histories of Global Labour | C. G. De Vito e A. Gerritsen
Anne Gerritsen | Imagem: The Britsh Academy
A obra “Micro-Spatial Histories of Global Labour” foi publicada pela editora londrina Palgrave Macmillan no ano de 2018, sob organização de Christian De Vito (pesquisador associado da Universidade de Leicester, Reino Unido) e Anne Gerritsen (professora vinculada ao Departamento de História da Universidade de Warwick, Reino Unido). Organizados em ordem cronológica, os doze textos – alguns em coautoria – foram escritos por historiadores e historiadoras de diferentes origens, sendo oito italianos, duas inglesas, um austríaco, um iraniano e uma autora grega. Tal publicação é essencial para pensarmos as relações e possibilidades de pesquisa envolvendo a história global e a micro-história sob temática do mundo do trabalho.
De Vito e Gerritsen abrem o prefácio com um episódio envolvendo a apresentação de Hans Medick, em Pequim, sobre uma remota aldeia suábia que tentava manter técnicas tecelãs e agrícolas dentro de sua comunidade. Os questionamentos levantados após o final da exposição acabaram por conectar a localidade na Alemanha com os estudos de padrão de desenvolvimento no delta de Yangtze, na região de Xangai. Ainda que inicialmente não houvesse a intenção de conectar Yangtze com a Alemanha, a metodologia micro-histórica empregada por Medick possibilitou integrações em uma perspectiva global. Dessa maneira, os autores mencionam que a partir de 2010, estudos que combinavam as abordagens micro e global começaram a ser empreendidos por uma série de pesquisadores dentro da história do trabalho, como aqueles produzidos por Francesca Trivellato, John-Paul Ghobrial e Lara Putnam. Leia Mais
A Political Biography of Arkadij Maslow/1891-1941: Dissident Against His Will | Mario Kessler
Esta biografía erudita y bien escrita puede ser leída como un libro independiente o bien como un volumen complementario de la biografía que Mario Kessler escribió sobre la compañera de toda la vida de Maslow, Ruth Fischer: Ein Leben mit und gegen Kommunisten (1895-1961), Köln, Bohlau Verlag , 2013, 759 pp. Ambos libros son el resultado de muchos años de investigación sobre la historia temprana del Partido Comunista de Alemania (KPD), particularmente del ala ultraizquierdista liderada por Fischer y Maslow, que también incluía a destacadas figuras intelectuales y políticas como Arthur Rosenberg, Werner Scholem, Karl Korsch, Hugo Urbahns y Josef Winternitz. Tanto Arkadij Maslow como Ruth Fischer pertenecieron a una generación que despertó a la vida política en medio de la carnicería de la Primera Guerra Mundial, del colapso de la Segunda Internacional y sus secciones nacionales (en primer lugar, del Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD) y de la salida a la recaída en la barbarie que ofrecía la revolución bolchevique de 1917. Es decir, ninguno de ellos tenía raíces en las tradiciones de la Segunda Internacional como Rosa Luxemburg, Paul Levi, o Lenin y Trotsky, y por lo tanto fueron incapaces de comprender lo que Lenin quiso decir cuando escribió que Karl Kautsky (su principal teórico) era un renegado: a saber, que él, y la burocracia del partido y de los sindicatos de la que se había convertido en portavoz, habían traicionado el legado de la Segunda Internacional y del SPD. El proyecto político de Maslow y Fischer, junto con el resto de la ultraizquierda, fue, pues, tirar al bebé con el agua de la bañadera: incapaces de separar el trigo marxista de la paja parlamentaria, se embarcaron en una cruzada unilateral contra la socialdemocracia que ayudó a allanar el camino para el surgimiento del estalinismo, así como para su propia eliminación por parte de Stalin y de su secuaz Ernst Thälmann. Arkadij Maslow fue el nombre de partido de Isaak Yefimovich Chemerinsky. Nacido en 1891 en Yelisavetgrad, Ucrania (entonces parte del imperio ruso), en 1889 se mudó con su familia a Alemania, donde el talentoso Isaak estudió música. De joven fue concertista de piano en Europa, Japón y América Latina. A los veintitrés años, sin embargo, abandonó su carrera como músico y se matriculó en matemáticas y física en la Universidad de Berlín en 1914, donde estudió con figuras excepcionales como Max Planck y Albert Einstein. Pero la guerra y la revolución radicalizaron a Chemerinsky, desviando su interés del arte y la ciencia a la política. Comenzó a trabajar ilegalmente para el SPD en 1916 y estableció contactos con la Liga Espartaco, especialmente con August Thalheimer, a principios de 1918. Se unió al Spartakusbund el 5 de diciembre de 1918, con el fin de agitar entre los prisioneros de guerra rusos, y también trabajó como traductor para el recién creado KPD, del cual fue miembro fundador y donde adoptó el nombre de partido Arkadij Maslow. Colaboró estrechamente con Max Levien, uno de los líderes de la República Soviética de Baviera que surgió a raíz de la revolución alemana de noviembre de 1918, y siguió siendo un amigo cercano hasta que Levien fue ejecutado en la Unión Soviética por orden de Stalin en 1937, en el marco de la Gran Purga. En 1919, Maslow conoció a su compañera de vida, la joven austriaca Elfriede Friedländer, quien se volvió famosa bajo el nombre de partido Ruth Fischer. La pareja nunca se casó, pero su relación duró hasta el asesinato de Maslow en 1941. Si Fischer fue la figura pública más conocida, Maslow fue el intelectual políglota de la pareja. Durante los años críticos de su actividad política, la atención pública se centró en Fischer, sobre todo porque, desde mayo de 1924 hasta julio de 1926, Maslow fue encarcelado por el estado alemán por cargos falsos. El libro de Kessler relata muchas anécdotas fascinantes, algunas no directamente relacionadas con la vida de Maslow. Por ejemplo, nos enteramos de “que el diario del SPD Vorwärts publicó un ‘poema’ de odio de Arthur Zickler el 13 de enero de 1919 que pedía el asesinato de Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht y Karl Radek”, y que “En 1933 Zickler se unió al Partido Nazi” (p. 16, nota 27). Dado que la Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ha digitalizado todos los ejemplares del Vorwärts desde 1891 hasta 1933, el “poema” en cuestión se puede leer en línea; se titula Das Leichenhaus: “La Morgue” (https://fes.imageware.de/fes/web). Leia Mais
Empire Under the Microscope. Parasitology and the British Literary Imagination/1885- 1935 | Emilie Taylor-Pirie
Empire Under the Microscope. Parasitology and the British Literary Imagination, 1885-1935 costituisce il primo lavoro monografico di Emilie Taylor-Pirie, risultato di una ricerca di dottorato condotta all’Università di Warwick nell’ambito del dipartimento di English & Comparative Literary Studies1. Il volume si pone all’incrocio di diversi campi di ricerca che a partire dai decenni Ottanta e Novanta hanno conosciuto una forte espansione nell’ambito degli studi di lingua inglese: la storia della medicina coloniale2, gli studi sulle relazioni tra letteratura e imperialismo europeo3 e le indagini sul rapporto tra scienza e letteratura fra XIX e XX secolo4. Leia Mais
Framing animals as epidemic villains: histories of non-human disease vectors | Christos Lynteris
Em 2020, o historiador e ambientalista Donald Worster publicou texto sobre a pandemia (covid-19) que irrompera no final do ano anterior e que continua devastando o mundo. Em seu texto, Worster (2020) chamava a atenção para o silêncio deixado nas cidades pelo afastamento da população dos possíveis caminhos capazes de cruzar com o tão temido coronavírus SARS-Cov-2, e que estava a se propagar de continente a continente, alcançando novas vítimas. Agora, a causa do silêncio não mais seria o pesticida DDT, como alertado por Rachel Carson em 1962 em seu livro Silent spring, mas um inimigo silencioso, não humano, que chegava desequilibrando a ordem social mundial. Como em outros surtos epidêmicos e pandêmicos, são os animais silvestres e seus patógenos apontados como os grandes vilões da história, e, assim como ocorreu com o Sars ou Ebola, a falta de certeza científica sobre o verdadeiro reservatório é compensada por representações sistemáticas e generalizadas de poucos animais selecionados; no caso, os morcegos, como “bandidos” epidemiológicos (Lynteris, 2019). Leia Mais
September 11, 2001 as a Cultural Trauma | Christine Muller || How Nations Remember: a narrative approac | James V. Wertsch
Os livros September 11, 2001 as a Cultural Trauma (2017), de Christine Muller, e How Nations Remember: a narrative approach (2021), de James V. Wertsch, são obras desenvolvidas a partir duma sólida base interdisciplinar (com contribuições vindas da Psicologia, Sociologia, Antropologia, História, Ciência Política, entre outras) que abordam os temas da memória das nações e a importância de eventos traumáticos na respetiva memória. A presente resenha aos dois livros surge num momento oportuno da História Contemporânea, em que várias nações do mundo usam a memória para revisitar o seu passado, impulsionadas por derivas nacionalistas identitárias, por tentações revisionistas, ou por movimentos de contestação como o Black Lives Matter.
Passados vinte anos sobre o atentado terrorista do 11 de setembro, e depois de inúmeros artigos e livros sobre o trauma cultural associado à infame data, foi com muito interesse que analisei a obra de Christine Muller, que aborda o ataque terrorista como um case study de trauma cultural. O livro lançado em 2017 apresenta exemplos de produções culturais populares norte-americanas, em que a típica narrativa otimista e recompensadora do “sonho americano” é substituída por narrativas dominadas por crises existenciais, ambivalência moral e fins trágicos inevitáveis. Leia Mais
Chinese Porcelain in Colonial Mexico. The Material Worlds of an Early Modern Trade | Meha Priyadarshini
Meha Priyadarshini | Foto: Twitter.com
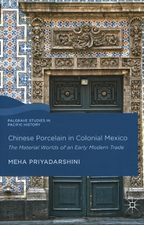 Si nos guiáramos por el título de este libro y por el tratamiento dado a la porcelana china en los estudios históricos de la cultura material, la obra de Priyadarshini podría ser ubicada rápidamente como un texto más de la historia convencional de este bien. Es decir, de aquella que trata sobre el encanto que suscitó en el mundo entero antes del descubrimiento de su secreto productivo en Europa (en 1708), pero esta vez ubicados en el contexto mexicano. No obstante, el objetivo de esta investigación no es la porcelana china en sí misma en cuanto a la fascinación que causó en el “mundo premoderno”, sino más bien sus viajes, transformaciones e hibridaciones con la cerámica local mexicana como la de Talavera. Todo ello en el marco de una historia de carácter global que ya considera lo translocal, así como de una historia multisituada que da cuenta también de las interconexiones entre los territorios de producción, distribución y venta, y de ese modo de los distintos actores partícipes en estas etapas, como los artesanos, mercaderes y consumidores.
Si nos guiáramos por el título de este libro y por el tratamiento dado a la porcelana china en los estudios históricos de la cultura material, la obra de Priyadarshini podría ser ubicada rápidamente como un texto más de la historia convencional de este bien. Es decir, de aquella que trata sobre el encanto que suscitó en el mundo entero antes del descubrimiento de su secreto productivo en Europa (en 1708), pero esta vez ubicados en el contexto mexicano. No obstante, el objetivo de esta investigación no es la porcelana china en sí misma en cuanto a la fascinación que causó en el “mundo premoderno”, sino más bien sus viajes, transformaciones e hibridaciones con la cerámica local mexicana como la de Talavera. Todo ello en el marco de una historia de carácter global que ya considera lo translocal, así como de una historia multisituada que da cuenta también de las interconexiones entre los territorios de producción, distribución y venta, y de ese modo de los distintos actores partícipes en estas etapas, como los artesanos, mercaderes y consumidores.
Y es que para Priyadarshini la conformación de la considerada “primera mercancía global del temprano mundo moderno” y la construcción de su marca no solo vinculó al lugar de elaboración y recepción sino también a los sitios intermedios que favorecieron la conducción de estas mercancías; y estuvo en las manos, no solo de quienes la produjeron y la consumieron sino también de quienes hicieron posible que llegaran a diversas regiones, es decir, los comerciantes y los tenderos (p. 30).[1] En ese sentido, el tránsito de la porcelana comenzaba con los artesanos de Jingdezhen, continuaba en manos de los mercaderes de Manila, Acapulco y del Parián en ciudad de México —quienes las dirigían hacia sus compradores—, y terminaba en Puebla, lugar en el cual sus motivos y formas fueron resignificados por los artesanos de la cerámica de Talavera que allí era producida. Leia Mais
Exile and nation-state formation in Argentina and Chile/1810-1862 | Edward Blumenthal
El principal objetivo de Edward Blumenthal en su más reciente libro excede el análisis del impacto que tuvo el exilio en la formación de las repúblicas de Argentina y Chile, entre los años de 1810 y 1862. Pues pretende ubicar la problemática del exilio en un contexto más amplio de “transnacionalismo” antes de la propia existencia de las naciones hispanoamericanas. Con ese fin, utiliza un enfoque que sigue los lineamientos historiográficos de la obra Politics of Exile in Latin America de Mario Sznajder y Luis Roniger (2009). Blumenthal entiende al exilio como una válvula de escape que permitió evitar baños de sangre entre los principales contrincantes de las tramas políticas en tiempos de revolución y guerras civiles, cuando los estados-nación empezaban a consolidarse, o estaban en vías de hacerlo. Y si bien pretende extender su reflexión tanto sobre los proscriptos rioplatenses en tierras chilenas como sobre los trasandinos que buscaron refugio en suelo argentino, es evidente que se dedica con mayor detenimiento a los primeros, especialmente en las décadas de 1840/1850. Y ello porque el exilio de rioplatenses en tiempos del rosismo fue comparativamente mayor que el experimentado en otros países. Pero además, porque fue muy dilatado en el tiempo, y porque muchos de sus protagonistas tuvieron un rol gravitante en la política, en las instituciones y en la prensa de los países anfitriones (Uruguay, Chile y Bolivia principalmente), lo que no sucedió –al menos en esa escala- con otros exiliados latinoamericanos en sus respectivos destinos de expatriación. Leia Mais
Friedrich Engels and the Dialectics of Nature | Kaan Kangal
En su libro Anti-Dühring, Engels argumentó que, con Hegel, la filosofía había llegado a su fin, y que, para la filosofía, que había sido expulsada de la naturaleza y de la historia por las ciencias naturales y sociales, “sólo queda el reino del pensamiento puro, en lo que aún queda en pie de él: la teoría de las leyes del mismo proceso de pensar, la lógica y la dialéctica”. Engels enumeró tres “leyes de la dialéctica” en Dialéctica de la naturaleza: (1) “La ley de la transformación de la cantidad en calidad y viceversa”, (2) “La ley de la interpenetración de los opuestos” y (3) “La ley de la negación de la negación” (Friedrich Engels, Dialéctica de la naturaleza, ed. Grijalbo, 1961, p. 41, citado en Kangal, p. 168). Esto puede parecer un poco intimidante, pero en realidad las ideas básicas de la dialéctica no son difíciles de comprender. Leia Mais
The Sovereign Consumer. A New Intellectual History of Neoliberalism | Kiklas Olsen
In the last two decades, there has been a great number of books on the history of neoliberalism. As most scholars in this debate recognize it, the literature is divided into three currents: the first understands neoliberalism as a “scheme” designed by the elites in a time that their profits declined, being the retreat of the State a remedy to that situation (exemplified by 2005 A Brief History of Neoliberalism of British Marxist professor David Harvey); the second is the Foucauldian strain that focuses on neoliberalism as governmentality, a new mode of subjectification that takes the individual as an enterprise and the third takes neoliberalism as an intellectual project, or a network of individuals with similar ideals united through a series of institutions that emerged in the twentieth century.
Niklas Olsen also recognizes these three trends in the introduction of his book but wants to steer us away from them. As a biographer and admirer of the German historian Reinhart Koselleck, Olsen puts in motion the method of Begriffsgeschichte (conceptual history), pioneered by Koselleck, to analyze the emergence of neoliberalism. As the author explains it, he “analyzes social-political concepts as reflecting phenomena that are shaped in historically concrete situations by historical actors who use concepts to make sense of and order the world, employing them as tools or weapons to meet their political visions”. (OLSEN, 2019, 7) Leia Mais
Sociological Theory Beyond the Canon | Syed Farid Alatas, Vineeta Sinha
Há, entre docentes de Ciências Sociais no Brasil, certo estranhamento em relação aos autores que, comumente, são tratados nos cursos introdutórios, em especial na Sociologia. Cada vez mais perceptível em virtude do momento histórico de releituras críticas das tradições, esse estranhamento resulta de uma uniformidade em relação ao conjunto de sociólogos que desponta em nossos currículos, que espelha um padrão obsoleto: são homens, brancos e do Norte Global. Isso indica que o eurocentrismo e o androcentrismo seguem sendo colonialidades persistentes no ensino da Sociologia em nível global. Basta olhar para as ementas e para os manuais e livros didáticos usados no ensino da disciplina em diferentes escolas e universidades. Leia Mais
Improving Educational Gender Equality in Religious Societies – AL-KOHLANI (SEH)
AL-KOHLANI, S. A.. Improving Educational Gender Equality in Religious Societies. United Arab Emirates: Palgrave Macmillan, 2018. Resenha de: CUEVAS, Sara Gómez. Social and Education History, v.9, n.1, p.124-126, feb. 2019.
l libro presenta una investigación interdisciplinaria realizada en base a 29 países musulmanes y 26 no musulmanes dentro del periodo de tiempo de 1960 a 2010, con el fin de dar respuesta a la “Teoría de la religión” que relaciona ciertas religiones con la desigualdad de género y la “Teoría de la modernización”, que resta importancia al papel de la religión en la desigualdad de género y asocia la desigualdad de género con factores socioeconómicos.
El estudio está compuesto por seis partes. Primero hace una introducción donde cuestiona la relación entre la equidad de género y religión. Plantea que ni el laicismo es la solución, ni el islam es la solución, y que cualquier aportación radical no será útil ya que no incluirá todas las voces de la sociedad.
Fundamenta que el derecho de las mujeres al acceso a la educación se ha cumplido en gran cantidad de países occidentales, y, sin embargo, aún queda recorrido por hacer en otros países no occidentales para que este derecho se logre. En la indagación de las posibles causas de esto, Al-Kohlani expone que en una buena parte del mundo árabe, el progreso ha sido frenado por el rechazo gubernamental.
Esta reivindicación que llevan años exigiendo, parte de liderar el cambio religioso, educativo y social sin dañar a los hombres ni a su propia imagen como mujeres musulmanas. Dentro de las contradicciones que se plantean en las diferentes posturas de los autores y autoras académicos, como los debates más amplios del mundo de la vida sobre el papel de la religión en el Estado, el trayecto que parece discernir, es el diálogo entre los diversos resultados de las investigaciones y muy diversos grupos feministas para llegar a acuerdos que logren el derecho al acceso a la educación de todas las mujeres del mundo árabe.
Durante los siguientes capítulos, intenta traer la relación entre la igualdad de género en el acceso a la educación, la religión y la modernización.
Para ello, presenta un método con el que categoriza el nivel de conservación religiosa de los gobiernos para analizar los 55 países musulmanes y no musulmanes en los 50 años. Muestra los datos y el método que se ha utilizado para este análisis, dónde desarrolla cómo se eligieron los países que han sido objetos de este estudio y la justificación para cada variable aportada. Asimismo, argumenta cómo se realizó el Índice de religiosidad de la Constitución de Al-Kohlani y las carencias que éste presenta.
En el siguiente capítulo, indaga en la relación entre las constituciones religiosamente conservadoras y de la modernización, y la posible influencia de varios factores como la urbanización y la fertilidad. Examina si las religiones tienen relación con el acceso igualitario a la educación, indagando en las posibilidades de que la modernización disminuya este efecto.
A continuación, se presenta un estudio de caso donde se expone la historia religiosa de Turquía e Irán en el siglo XX y por qué hoy se considera Turquía como un país secular e Irán como un país conservador, así como la buena situación educativa y laboral de ambos países de las mujeres. El debate entre las personas que han defendido el laicismo y aquellas personas que han mantenido sus creencias tradicionales es más rígido en Turquía que en Irán. De este modo, Al-Kohlani plantea que podría ser una razón más por la cual en Irán, la ciudadanía se ha mostrado menos resistente al cambio que en Turquía.
Finalmente, el capítulo 6 concluye el libro con recomendaciones para los responsables de las políticas e ideas para futuros estudios de investigación.
Entre otras conclusiones, destacar que cada aportación, desde su perspectiva, busca lograr este derecho para todas las mujeres, por ejemplo, algunos grupos feministas religiosos han argumentado que la educación de las mujeres es requerida por la religión musulmana, por lo que este debate sobre el desigual acceso de las mujeres a la educación no puede explicarse mediante la religión. Tanto el feminismo religioso como el no religioso busca la igualdad y la justicia para y con todas las mujeres. Hallar ese encuentro de diálogo e interacción entre los diferentes feminismos, es clave para el futuro libre de todas las mujeres.
Sara Gómez Cuevas – Universidad de Barcelona. E-mail: sara.gomez@ub.edu.
[IF]Art, disobedience, and ethics: the adventure of pedagogy – ATKINSON (C)
ATKINSON, Dennis. Art, disobedience, and ethics: the adventure of pedagogy. Cham, Switzerland: Springer/Palgrave Macmillan, 2018. Resenha de: BACKENDORF, Jonas Muriel. Conjectura, Caxias do Sul, v. 24, 2019.
Art, disobedience, and ethics: the adventure of pedagogy é o mais recente livro da série Education, Psychoanalysis, and Social Transformation, organizada pela Palgrave MacMillan. De acordo com a apresentação do livro, uma das finalidades principais da série é: “to play a vital role in rethinking the entire project of the related themes of politics, democratic struggles, and critical education within the global public sphere” (p. ii). Embora não trate diretamente das idiossincrasias do cenário brasileiro e sul-americano, o livro aborda com profundidade questões de fundamental relevância para a nossa realidade presente, em especial o caráter cada vez mais explícito com que as humanidades, as artes, e o pensamento desprendido como um todo vêm sendo atacadas pelo atual governo – por meio de argumentos que vão desde a ausência de “retorno para o contribuinte” até a “militância política”1 dessas áreas de estudo, argumentos que exemplificam com transparente precisão a relevância do ataque de Atkinson aos modelos pedagógicos instrumentais, bem como da defesa de uma educação crítica e desobediente.
O autor é professor emérito na Universidade Goldsmiths, de Londres, além de ocupar o cargo de docente visitante nas universidades do Porto, de Helsinki, Gothenburg e Barcelona. Um aspecto importante da sua biografia é a experiência que tem no ensino secundário, por ter trabalhado, na Inglaterra, de 1971 a 1988. O livro de que ora me ocupo é o sexto da bibliografia do autor, sendo os outros igualmente voltados para as questões educacionais: Art in education: identity and practice; social and critical practice in art education (coautoria de Paul Dash); Regulatory practices in education: a lacanian perspective (coautoria de Tony Brown e Janice England); Teaching through contemporary art: a report on innovative practices in the classroom (coautoria de Jeff Adams, Kelly Worwood, Paul Dash, Steve Herne e Tara Page) e Art, equality and learning: pedagogies against the state. O mais próximo, em conteúdo, do atual é justamente o último, em que o autor trata, já com profundidade, de algumas das questões centrais para o presente livro, a questão da desobediência e a da postura combativa frente aos modelos fechados da pedagogia instrumental. Leia Mais
Children, youth and emotions in modern history: national, colonial and global perspectives | Stephanie Olsen
Ainda pouco expressivo no conjunto da produção historiográfica brasileira, o estudo das emoções estruturou-se, sobretudo na Europa, como campo específico do saber histórico, fundado, principalmente, em diálogos interdisciplinares com a Psicologia e os estudos da Educação, que procuram desvendar a historicidade das emoções e sua importância no curso de transformações e permanências históricas. Publicado em 2015, Children, Youth and Emotions in Modern History é uma interessante compilação de estudos da área organizada por Stephanie Olsen, professora da Universidade McGill, no Canadá, então pesquisadora do Max Planck Institute for Human Development, de Berlim. A coletânea é fruto de uma conferência de mesmo título organizada em 2012 pelo Centro de Estudos da História das Emoções do Max Planck Institute.
O projeto do livro é ambicioso. Sua anunciada pretensão é oferecer “contribuições teórico-metodológicas inovadoras, capazes de fazer avançar a agenda da História da Infância por meio da História das Emoções”, a partir de uma perspectiva global, defendida na Introdução do livro e, principalmente, no capítulo 2, de autoria da organizadora do volume em parceria com Karen Vallgarda e Kristine Alexander. Beneficiando-se do deslocamento do foco geográfico tradicional dos estudos da área, por longo tempo centrados nas realidades norte-americana e inglesa, e valendo-se da adoção de perspectivas coloniais, pós-coloniais e não ocidentais, a abordagem global e comparada do tema evidenciaria a articulação entre as emoções constitutivas da experiência e das concepções de infância e as realidades históricas ampliadas relacionadas, sobretudo, às dinâmicas do capitalismo internacional e à vulgarização do ideário liberal entre o início do século XIX e a metade do século XX. Assim, tal abordagem teria como efeito o questionamento de definições universais de infância, por um lado, e a articulação de uma história da infância menos etnocêntrica, por outro. Leia Mais
Political ecology – food regimes and food sovereignty: crisis – resistance and resilience | Mark Tilzey
In 1998, Giovanni Arrighi wrote an article with a curious subtitle: “Rethinking the non-debates of the 1970’s”. [3] He was referring to the “non-debates” between Immanuel Wallerstein, Robert Brenner, Fernand Braudel and Theda Skocpol, that remained undeveloped. These “non-debates” of the 70’s, especially the one between Wallerstein (with his world-system perspective) and Brenner (with his “Political Marxism” stance), now reemerge in Tilzey’s book, with Tilzey in the role of the “political Marxist” challenging the conceptions of Jason W. Moore and the proposals of his “world-ecology”, as well as Philip McMichael and Harriett Friedman’s conceptions of “food regime” (both developments of Wallerstein’s “world-system” perspective). [4] This is not simply a repetition, to be sure: the return to thematic and methodological questions derives from the rise and intensification of problems and questions in the present, specifically, how to treat ecology/nature and crisis in our historical and theoretical concepts of capitalism in the Anthropocene/Capitalocene era, characterized by repeated economic crashes. These new questions and problems motivate Tilzey’s timely effort. Nevertheless, many “non-debates” remain undebated, including Arrighi’s intervention in them.
The first chapters of Tilzey’s book condense his ontological and methodological premises. Tilzey tries to build an ontology on which his propositions on political ecology and food regimes would be based. In chapter 2, he criticizes Jason W. Moore’s “world-ecology”, claiming that his notion of “double internality” of society and nature is a “flat ontology”. Tilzey opposed a four-level stratification of ontological relations to this: a non-hybrid, extra-human reality, nature (level 1); a hybrid, socio-natural level of trans-historical use-values (level 2); an “allocative” hybrid level, related to class-mediated distribution and historically-specific technologies (level 3); a non-hybrid “authoritative” level, the underlying political dimension in class dynamics in which to seek “structural causality” (level 4) (p. 28). Tilzey claims that the ontology he proposes is better equipped to deal with class relations and the “authoritative dimension” than Moore’s is. This ontology sets the tone of the rest of the book. Despite his critique of Moore’s general approach, Tilzey recognizes his contributions related to the capital’s dependency on “cheap natures” and commodity frontiers.
It is worth it then to make some critical observations on this foundational first chapter. Tilzey’s assertion that Moore proposes a “flat ontology” is problematic. For starters, Moore denies it explicitly.[5] Moore also asserts the differentiation of humans in that “humans relate to nature as a whole from within, not from the outside. Undoubtedly, humans are an especially powerful environment-making species. But this hardly exempts human activity from the rest of nature”.[6] Finally, Moore distances himself from a “flat ontology” by qualifying Nature and Society as “real abstractions”, the “real historical power of ontologic and epistemic dualisms” that are in contradiction with the co-production of humans and nature.[7] Tilzey’s argument on the “flat ontology” of Moore could have been more convincing if he had addressed and criticized these elements of Moore’s work, but they are left untouched, and so his critique appears to be one-sided. Moore uses “value as method”, in which capital, class and nature conflate in a peculiar, historically-specific way, operating in the formation of classes and concomitant organization of historical natures. Sharply separating or hierarchizing them would be a “violent abstraction”, according to this perspective.[8]
Additionally, Tilzey’s conception of dialectics is not very clear. Both Lucio Colletti and Levins and Lewontin are known to support his position (p. 19-29), references that are at opposite ends regarding the methodological and historical statute of dialectics. For Levins and Lewontin, dialectics is trans-historical and imputed to nature itself (like in Engels’ “dialectics of nature”), while for Colletti it is historically-specific to capitalist modernity, including relations with nature but not extended to nature itself and neither to history as such.9 The assertion that Tilzey’s ontology entails “principles that are not specific to capitalism but to all social systems” (p. 24) clearly indicates the adherence to a trans-historical conception of dialectics, though it is not clear whether it is extended to nature as such or not.
In the next chapter, Tilzey uses his proposed ontology to discuss the origins of agrarian capitalism, “combined and uneven development” and the first agricultural revolution in Britain. Regarding the origins of agrarian capitalism, Tilzey defends a Brennerian position of a British origin of capitalism with specific “social-property relations” (with fully commodified land and labor), contrasting with the world-system perspective which proposes a West European (and American) origin based on for-profit production of commodities under different labor regimes in a world market, the “commodification of everything”.[10] The presentation of world-systemic perspectives on the origins of capitalism is oversimplified as the “Braudel-Wallerstein-Arrighi school”, when actually there are significant differences between these three authors’ view on the transition from feudalism to capitalism (p. 48-9). A discussion of these differences would have been important, especially because Arrighi claims to have incorporated Brenner’s critique of Wallerstein in his version of the theory of transition.[11] Though Tilzey rejects the world-systemic conception of core-periphery relations, he recognizes the crucial importance of cotton plantations in the American South for the Industrial Revolution (or, more generally, the interaction between English capitalism and the “external arena”). To conciliate both positions, he uses a theory of “combined and uneven development” based on Trotsky and more specifically on Anievas and Niasanciglu. It should be noted that what Anievas and Niasanciglu propose as “combined and uneven development” is a trans-historical ontology that is projected back to the time of hunter-gatherers.[12]
The combination of the reference to Levins and Lewontin when referring to dialectics and Anievas and Niasanciglu in relation to uneven and combined development indicate that there seems to be a tension in Tilzey’s theoretical framework: on the one hand, an attempt to specify capitalism in such a way that only England would initially comply; on the other, the use of analytical methods that lack historical specificity to deal with “nature” and the “external”, non-capitalist world. Contrasting with this trans-historical methodological choices, for example, Moishe Postone and Lucio Colletti would argue that dialectics and the dialectical method are historically-specific to capitalist modernity; and in the world-system perspective, core-periphery relations are historically-specific to a capitalist world-economy (which is not necessarily coincident with the whole globe, but comprises the states that are integrated in a single, large-scale market) that arose in the sixteenth century and will become extinct in the future. This world-economy would constitute an integrated market comprised of several states, with a scale and level of integration that characterize it as qualitatively very different from any exchange that might have occurred between groups of hunter-gatherers [13].
One passage reveals this difficulty in using a combination of historically-specific and trans-historical categories: “through the institution of slave plantation in the colonies, capitalists were able to reduce significantly the costs of constant capital in the form of raw materials” (p. 71, emphasis mine). The reader should note that while “constant capital” is a historically-specific category, “raw materials” is trans-historic; the historically-specific category would be “circulating capital”. There is no difficulty here for the world-system perspective, especially if considering Dale Tomich’s concept of “second slavery”. [14] But for the “social-property relations” approach, characterizing slave-produced cotton as “circulating capital” might be inconsistent, as that would mean that slave production was already subsumed under the law of value and the dynamics of the organic composition of capital. But if it was not produced as circulating capital from the beginning (which is difficult to accept, as the relation between Mississippi Valley plantations and English factories was systematic, instead of contingent) then we remain with the difficult question of defining where, between the plantation in the American South and the factory in Britain, this trans-historical “raw material” was converted into a historically-specific “circulating capital”, thus mediating the organic composition of capital and counteracting the profit rate’s falling tendency (a mediation that Tilzey correctly admits as being key for the Industrial Revolution). The problem does not seem to be solved by attributing this “raw material” to level 3 in Tilzey’s ontology, as “class” is still a historically indeterminate category (contrary to value).
The rest of the book is an “application” of the ontological premises presented in the first two chapters. Chapters 4 to 6 are dedicated to the discussion of food regimes. Tilzey characterizes them as the first or British liberal regime (1840-1870), the second or imperial regime (1870-1930), the third or “political productivist” regime (1930-1980) and the neoliberal regime. Tilzey proposed the first regime as a complement to the others that were previously proposed by Friedmann and McMichael. Here, in accordance with his proposed ontology, the emphasis is on class politics, class fractions and how they shape what he calls the “capital-State nexus”. For Tilzey, the “Polanyian” approach of Friedmann and McMichael regarding the State (the “double movement”) obliterates the “state as comprising the condensation of the balance of class forces in society” (p. 113). One of the best moments of the book is the explanation of the different interests of American corn, cotton and wheat famers and how this class-fractional struggle shaped state policies and food regimes (ch. 5).
In Part 2 (chapters 7 and 8), Tilzey discusses “crisis and resistance”. Tilzey’s previously defined ontology implies that crises are always “political” or legitimacy crises; an objective crisis of capitalism is out of question a priori (as well as the possible transition to a less democratic social order). In this respect, he distances himself from other authors for whom alienation plays a central role in crisis theory and that do consider the possibility of some kind of “regressive” transition, such as Moishe Postone or Robert Kurz, and is at least in this regard (crisis necessarily as crisis of legitimacy) in agreement with a non-Marxist scholar like Wolfgang Streeck.[15] In his exposition in chapter 7, Tilzey identifies as contradictions of neoliberalism the general falling rate of profit due to the rising organic composition of capital and the rising cost of raw materials. It should be noted that he characterizes the falling rate of profit with the “power of capital over labor” (p. 200), in line with the posited priority of the “authoritative” level of his ontology. But here, perhaps this ontology produces another one-sided result. The falling rate of profit is the result of mechanization not only in a struggle of capitalists against workers but also in a struggle among capitalists (competition for efficiency); besides, the tendency itself is an objectified outcome that is not “authoritatively” planned. This is part of a dialectic of subjectivity and objectivity peculiar to capitalism that seems to be obliterated by Tilzey’s ontology. In relation to the food regime in particular, Tilzey develops the idea that food and financial crises are different manifestations of the neoliberal social disarticulation, which combines a crisis of under-consumption (level 4 of the ontology) with increasing costs of raw materials (levels 3 and 4).
Again following his ontologies of class and combined and uneven development, Tilzey analyzes peasant “resistance” movements as assuming three different forms: what he calls “sub-hegemonic” (reformist), “alter-hegemonic” (progressive) and “counter-hegemonic” (radical). The sub-hegemonic movement is represented by the “Pink Tide” in South America and its focus on the combination of extractivism and social policies, with peasants appealing to indigenous identities. Alter-hegemonic movements are represented by small commercial farmers, mostly in core countries, that demand regulation and protection against the market. Peasant movements, mostly those in the “global South” and among subaltern classes whose demands include the socialization of means of production (land), are counter hegemonic. It can be seen that the existence of, or potential for, reactionary movements is overlooked, as the ontology does not seem to be equipped with the necessary analytical tools.[16]
Part 3 (chapters 9-13) is dedicated to country case studies, which includes Bolivia, Ecuador, Nepal and China, in which the author tries to trace the commonalities and differences between them (Brazil is not included). Some of the best moments of the book appear here, such as when Tilzey explains the difference between recent peasant movements in Bolivia and Ecuador, on the one hand, and their weakness in Chile and Peru, on the other, based on their different class structures and histories. The last chapter is political-normative, advocating a “food sovereignty” based on peasant communal production using a “resilient” food production system grounded on agroecological methods.
It is clear throughout the book that Tilzey makes great effort to be consistent with his proposed ontology of “Political Marxism”. Nevertheless, the one-sidedness of this ontology (despite the inclusion of “ecology” in lower hierarchical levels), which one could characterize as an extreme form of politicism (or a “violent abstraction”), might produce one-sided analyses, like a critique of Moore that ignores his use of “real abstractions” and a theory of crises that overlooks objectified tendencies (or is inconsistent by taking them into account). Additionally, the trans-historical elements of the ontology used to conciliate the supposed exceptionality of Britain and the intense relations with the “external arena” might generate problems of consistency and historical specification. But the approach can also produce useful sociological and class dynamics analyses and insights. The reader’s evaluation of this ontology will ultimately shape his or her broad evaluation of the book. Hopefully Tilzey’s book will be only the first of many to address the many “non-debates” that are still untouched, some of them barely scratched in this review and that include vitally important questions such as the concept of capitalism, its historical origins and its future demise.
Notas
3. ARRIGHI, Giovanni. Capitalism and the modern world-system: rethinking the non-debates of the 1970s. Review, 21, n. 1, 113-29, 1998.
4. WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world-system I: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Berkeley: University of California Press, 2011 [1974]; BRENNER, Robert. The origins of capitalist development: a critique of neo-Smithean Marxism. New Left Review, I, 104, p. 25-92, July-August 1977; MOORE, Jason W. Capitalism in the web of life: ecology and the accumulation of capital. New York: Verso, 2015; FRIEDMANN, Harriet; MCMICHAEL, Philip. Agriculture and the state system. Sociologia Ruralis, XXIX, no. 2, p. 93-117, 1989.
5. MOORE, Jason W. op. cit, p. 39.
6. Ibid., p. 46. Emphasis mine.
7. Ibid., p. 47.
8. Ibid., ch. 2. SAYER, Dereck. The violence of abstraction: the analytical foundations of historical materialism. Oxford: Basil Blackwell, 1987.
9. LEVINS, Richard; LEWONTIN, Richard. The dialectical biologist. Harvard: Harvard UP, 1985. COLLETTI, Lucio. Marxism and Hegel. Trans. R. Garner. New York: Verso, 1973.
10. WALLERSTEIN, Immanuel. Historical capitalism. New York: Verso, 2011.
11. Inspired by Braudel, Arrighi proposes an interstitial transition based on Italian city-states, which would include competition for mobile capital, thus addressing Brenner’s critique that competition was not a part of Wallerstein’s model. See ARRIGHI, op. cit.
12. ANIEVAS, Alexander; NISANCIOGLU, Kerem. How the West came to rule: the geopolitical origins of capitalism. London: Pluto Press, 2015, p. 46-7.
13. COLLETTI, op. cit. POSTONE, Moishe and REINICKE, Helmut. On Nicholaus’ “Introduction” to the Grundrisse. Telos, 22, 130-148. WALLERSTEIN, Immanuel. Op. cit.
14. On “second slavery”, see TOMICH, Dale W. Through the prism of slavery: labor, capital and world-economy. Lanham: Roman & Littlefield, 2004.
15. POSTONE, Moishe. The current crisis and the anachronism of value: a Marxian reading. Continental Thought and Theory, 1, no. 4, p. 38-54, 2017. KURZ, Robert. The crisis of exchange value: science as productivity, productive labor and capitalist reproduction. In Marxism and the critique of value, ed. N. Larsen et al, p. 17-76. Chicago: MCM’, 2014 {1986}; STREECK, Wolfgang. How will capitalism end? New Left Review 87, p. 35-64, May-June, 2014.
16. Critical Theory could be helpful, but it seems to be far from Tilzey’s theoretical commitments
Referências
TILZEY, Mark. Political ecology, food regimes, and food sovereignty: crisis, resistance, and resilience. Cham: Palgrave MacMillan, 2018. 394 pp.
ARRIGHI, Giovanni. Capitalism and the modern world-system: rethinking the non-debates of the 1970’s. Review, 21, n. 1, 113-29, 1998.
WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world-system I: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Berkeley: University of California Press, 2011{1974}; BRENNER, Robert. The origins of capitalist development: a critique of neo-Smithean Marxism. New Left Review, I, 104, p. 25-92, July-August 1977; MOORE, Jason W. Capitalism in the web of life: ecology and the accumulation of capital. New York: Verso, 2015; FRIEDMANN, Harriet; MCMICHAEL, Philip. Agriculture and the state system. Sociologia Ruralis, XXIX, no. 2, p. 93-117, 1989.SAYER, Dereck. The violence of abstraction: the analytical foundations of historical materialism. Oxford: Basil Blackwell, 1987.
LEVINS, Richard; LEWONTIN, Richard. The dialectical biologist. Harvard: Harvard UP, 1985. COLLETTI, Lucio. Marxism and Hegel. Trans. R. Garner. New York: Verso, 1973.
WALLERSTEIN, Immanuel. Historical capitalism. New York: Verso, 2011.
ANIEVAS, Alexander; NISANCIOGLU, Kerem. How the West came to rule: the geopolitical origins of capitalism. London: Pluto Press, 2015, p. 46-7.
COLLETTI, op. cit. POSTONE, Moisheand REINICKE, Helmut. On Nicholaus’ “Introduction” to the Grundrisse. Telos, 22, 130-148. WALLERSTEIN, Immanuel. Op. cit.
TOMICH, Dale W. Through the prism of slavery: labor, capital and world-economy. Lanham: Roman & Littlefield, 2004.
POSTONE, Moishe. The current crisis and the anachronism of value: a Marxian reading. Continental Thought and Theory, 1, no. 4, p. 38-54, 2017. KURZ, Robert. The crisis of exchange value: science as productivity, productive labor and capitalist reproduction. In Marxism and the critique of value, ed. N. Larsen et al, p. 17-76. Chicago: MCM’, 2014 [1986]; STREECK, Wolfgang. How will capitalism end? New Left Review 87, p. 35-64, May-June, 2014.
Daniel Cunha – Binghamton University. Binghamton – New York – United States of America. PhD candidate in Sociology under the supervision of Jason Moore, in Sociology, Binghamton University. Email: dcunha1@binghamton.edu
TILZEY, Mark. Political ecology, food regimes, and food sovereignty: crisis, resistance, and resilience. Cham: Palgrave MacMillan, 2018. Resenha de: CUNHA, Daniel. Nature, Food, Crisis: New Problems, Old Debates. Almanack, Guarulhos, n.20, p. 282-286, set./dez., 2018. Acessar publicação original [DR]
Susan Stebbing and the language of common sense – CHAPMAN (Ph)
CHAPMAN, S. Susan Stebbing and the language of common sense. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. Resenha de: GIAROLO, Kariel Antonio. Philósophos, Goiânia, v. 23, n. 1, p.161-169, jan./jun, 2018.
Lizzie Susan Stebbing (1885-1943) was an important figure in the beginning of the twentieth century, specially in view of her role in the development of analytic philosophy and particularly because she was the first woman Professor of Philosophy in a British university. In Susan Stebbing and the Language of Common Sense, Siobhan Chapman, Professor of English at the University of Liverpool (UK), brings us a de-tailed historical analysis of Stebbing’s life and of her philo-sophical developments. The book, divided into nine chapters, provides a lot of information on Stebbing’s per-sonal, academic and political life as well as on her philo-sophical ideas and commitments. Given that, for a better analysis of the book it is possible to divide it into three main parts: (i) historical importance of Stebbing; (ii) philo-sophical context of her academic life; and (iii) importance of her philosophical conceptions, mainly, the logical-linguistic.
Stebbing was born in 1885 and she was registered in Barnet, in London. About her young life, Chapman (2013, p.10) says that she was a delicate child, suffering from an illness called Menière’s Disease. Her ill health and periods of enforced inactivity continued into her adult life and many times she was unable to work because of this unstable health. In the first years, because she wasn’t strong enough for full-time schooling, she was educated privately at home and afterwards she went to James Allen’s Girl’s School, in London. After finishing high school, she was admitted at Girton College in Cambridge, and she graduated in 1908. Finishing College in Cambridge, she went to King’s Col-lege, London, to take her MA in Moral Science, until 1912.
As a student, Stebbing was influenced by the works of F. H. Bradley, B. Russell, A. F. Whitehead and, mainly, G. E. Moore. In her first philosophical works she shows a great interest in analytical philosophy, specially the relations be-tween natural language and formal logic. Furthermore, at that time she demonstrated a great interest in debates be-tween idealists and realists, and even in her young life she showed an ambitious personality, trying to identify the mis-takes in the two approaches. Her MA’s thesis was entitled Pragmatism and French Voluntarism and already in this initial work she indicates her commitments with the relations be-tween the notions of action, language and the theory of knowledge. Stebbing argued, as explained by Chapman (p. 28), that action and thought, intellect and will cannot be opposed. This is significant because in her mature books, the relations between natural language, formal logic and the purposes of speech are recurrent and a guide to understand her main philosophical conceptions.
According to Chapman (p. 37) during the decade or so following her MA graduation, Stebbing established herself as an important voice in the philosophical discussions in Cambridge and London. She was engaged in debates with the leading philosophic figures in Britain at that time and her work was read and discussed frequently by them. In 1931 she became president of the Mind Association and a few years later of the Aristotelian Society. Due to the in-crease of her reputation and the quality of her work, in the summer of 1933, Susan Stebbing was honoured with a place at the University of London as Professor of Philoso-phy. However, if today a woman being a Professor in a University stands as a normal fact, at that time it was not trivial: Stebbing was the first woman Professor of Philosophy in a University in Great Britain. Women’s rights in the ninetieth and twenti-eth centuries were limited, including the positions in uni-versities. For this reason, Stebbing can be considered as a milestone in the fight for equal rights between men and women. Chapman, in several instances, particularly in the first chapters, calls attention to this event. In Chapter Four (p. 79) she says: “In its historical and cultural context, Stebbing’s appointment as full Professor of Philosophy real-ly was headline news. Women were by now an established presence, although certainly a minority one, in academia, but their place there was hard-won and still controversial”. Unfortunately, as expect, her appointment did not please everyone.
Anyway, Stebbing remained Professor in London until 1938. During this period, she published several books on logic and language. The most important books are A Mod-ern Introduction to Logic (1930, 1933, the first edition was published before the appointment), Philosophy and The Phys-icists (1937), Thinking to some purpose (1939, the most popu-lar of her books), Ideals and Illusions (1941) and A Modern Elementary Logic (1943). In all these, Stebbing focuses on a logical analysis of the natural language and related issues.
The philosophical context of the beginning of twenti-eth century in Britain was predominantly influenced by an-alytical philosophy. The new developments in logic and language arrived in philosophical discussions and the ana-lytic methodology became the common ground for solving classical problems. Frege, Russell, Moore, Carnap, Wittgen-stein and others were the central figures in that time (in logical and analytical context, of course) and their works changed the way in which philosophical questions were considered. The mathematical logic was a development of traditional Aristotelian syllogistic and one of its main goals was to construct a formal language for science that would be able to avoid the errors and imperfections of natural language. The basic idea was that with a perfect formal lan-guage to express thought it would be possible to solve phil-osophical problems, because many of these problems actually originated in our imperfect ordinary language use.
Susan Stebbing’s academic formation was basically ana-lytical and she read and kept direct contact with some of these figures, in particular, Moore and Russell. In A Modern Introduction to Logic, for instance, Stebbing introduces the recent developments in mathematical logic. According to Chapman (p. 50), “Stebbing proceeds to offer her readers an overview both of traditional Aristotelian logic and of re-cent developments, and also to introduce them to some of the current issues in scientific method, including the prob-lems surrounding deduction and induction”. In this sense, Stebbing is located in a transitional moment in the history of logic: before Frege and Russell, logic was equated with the Aristotelian syllogistic; after them mathematical logic became central. Stebbing, despite her acceptance of math-ematical logic, affords space in her books to the traditional logical analysis as well.
Chapman’s Chapter 4 and, mainly, Chapter 5 present a detailed reconstruction of the philosophical context in which Stebbing worked. Chapter 5, Logical Positivism and Philosophy of Language, is an excellent read for everyone who wants to know more about logical positivism, particularly because Wittgenstein (an “associate” of the Vienna Circle) was of great influence in Stebbing’s conceptions and also because the first time that Carnap went to UK was by invi-tation of Stebbing. The relations between Stebbing and the positivists was closer, but also have several philosophical disagreements. According to Chapman (p. 84) in Logical Positivism and Analysis (1933), she sets out what she sees as the main claims of the logical positivism. For her the most attractive characteristic in Wittgenstein and in the logical positivists was “the insistence on analysis as the philoso-pher’s main tool in searching for clarity and unmasking as simply nonsensical some of the questions that philosophers had traditionally posed themselves”. To the Vienna Circle, the analysis of the sentences can show what sentences have meaning and what sentences haven’t. A sentence is mean-ingful only in one of the three following cases: (i) if it is an-alytic, i.e., if this meaning is determined by the language; (ii) if it is a logical or mathematics sentence; or (iii) if it can be, in principle, verified by observation.
Although Stebbing agreed with some of the positivists ideas, she was a critic of other aspects of their philosophical conceptions, in special the conception of analysis. Accord-ing to her, the way in which the positivists perform analysis is problematic. Positivist approaches fail to observe differ-ent kinds of analysis. They consider that all analysis is nec-essarily linguistic analysis. As Chapman explains (p. 85), “for Stebbing, using language to analyse language involves philosophers in an unproductive and circular activity”. Fur-thermore, the purpose of analysis is to clarify existing be-liefs, not justify them. Another point of disagreement with the members of the Vienna Circle was about metaphysics. For them, all metaphysical sentences haven’t cognitive con-tent: metaphysical sentences are unable to fall in any of the three kinds listed before. They are not analytical, not logical and not observable, in principle, by experience. On the other hand, due the influence of Wittgenstein and Ber-trand Russell, Stebbing sustains an atomistic conception of propositions, namely, that there are basic atomic sentences that constitute the world.
The popularity of Stebbing grew in the 1940’s especially because of Thinking to Some Purpose (1939). In this book, she presents a rich analysis of the way that we think and how we can avoid the illogicalities in the speech of other people and in our own. Written at the beginning of the World War II, the book affords space to discuss some “examples taken from the speeches of politicians and from politically loaded newspaper reports and is explicitly aimed at promot-ing a discerning and critical attitude in the electorate” (p. 120). So, the book, focuses, among other things, also in the political context of England when WWII started.
However, the central idea is that we need to make clear our reasoning and a logical analysis of the ordinary speech could show where the mistakes are. The point is very sim-ple: we talk unclearly, because we think unclearly. Then, to talk in a clear way, we need to consider the way that we think. According to Stebbing (1939, p.22), thinking logical-ly (reflexively) is thinking to some purpose. In her own words, “to pursue an aim without considering what its real-izations would involves is stupid”. In this sense, thinking involves asking questions and trying to find answers to these questions. When we think logically, we think rele-vantly to the purpose that initiated the thinking. The pro-cess of reflective thinking consists in pondering upon a set of facts so as to elicit their connections. This process is known as inferring. The various stages in the process are re-lated to the conclusion as the grounds upon which it is based. Stebbing calls these grounds “premises”. In short, ef-fective thinking is directed to an end. Consequently, there is a teleological commitment in all properly reflexive think-ing.
According to Chapman (p. 183), Stebbing was con-cerned in special with the analysis of language primarily as a window to the process of thinking that it expressed. By the language we can determine if this process is logical or oth-erwise. Books like A Modern Introduction to Logic (1930), Thinking to Some Purpose (1939), Ideals and Illusions (1941) and A Modern Elementary Logic (1943) contains some im-portant ideas which became central in subsequent discus-sions in Ordinary Language Philosophy and in Pragmatics. Stebbing’s philosophical motivations were very similar to those of philosophers of the first generation of ordinary language, like J. Austin, H. P. Grice, and Wittgenstein in the Philosophical Investigations.
In the last chapter of the book, Chapter 9, Stebbing, Phi-losophy and Linguistics, Chapman shows us, in a very clear way, the relations between Stebbing’s work and the follow-ing developments in Philosophy of Language and the dis-cussions of language in general. Throughout her work, it is possible to identify several passages when Stebbing sustains positions that only some years later were systematically con-sidered. As Chapman says “her attentiveness to how words, even the most philosophically loaded ones, are used and understood in everyday life inevitably invites comparisons with ordinary language philosophy. Her insistence that analysis must have real examples of language in use, have resonances with some very recent approaches in linguistics, particularly with critical discourse analysis”. Stebbing’s handbooks on logic, A Modern Introduction to Logic and A Modern Elementary Logic, consider both the analysis of mathematic logic as well the ordinary language, the com-mon sense language.
Susan Stebbing and the Language of Common Sense is a book that deserves attention. It is a very interesting book that brings us important information about the develop-ment of analytical philosophy in the beginning of the twen-tieth century in Britain. Chapman organized the book in a chronologically way that helps the reader to understand the development of Stebbing’s ideas. The language and the way in which the philosophical conceptions are presented are quite clear. In special, in my opinion, this book has as a great worth the capacity to find on a nearly forgotten phi-losopher views that are actual. Although today Stebbing is unfamiliar for most philosophical students, in her works we can find very stimulating analysis and views that remain current. Stebbing contributed to the development of logic and philosophy of language, so her writings cannot be dis-regarded. According to Chapman (p. 186) “Stebbing’s work as a whole is best assessed in relation to the various direc-tions taken in the decades that followed her death by the serious study of human language”. Furthermore, her histor-ical figure is symbolic in the pursuit for equal rights be-tween men and women not only in the universities, but in all fields.
Referências
CHAPMAN, S. Susan Stebbing and the Language of Common Sense. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.
Kariel Antonio Giarolo – Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil. E-mail: karielgiarolo@gmail.com
The Varieties of Self-Knowledge – COLIVA (M)
COLIVA, Annalisa. The Varieties of Self-Knowledge. London: Palgrave Macmillan, 2016. 288p. Resenha de: BORBA, Alexandre. Manuscrito, Campinas, v.40 n.3 July/Sept. 2017.
Annalisa Coliva’s recent monograph, The Varieties of Self-Knowledge, is, if not the major, one of the greatest contributions of the decade to the subject of self-knowledge in philosophy. In it, the philosopher defends the original thesis that the acquisition of knowledge about our own mental states admits a plurality of methods. In this review, I will focus on an idea that Coliva brings up in her work and explores in detail. More precisely, I will focus here on the criteria that, according to Coliva, demarcate the territory of the so-called “first-personal self-knowledge”, as opposed to the third-personal self-knowledge-i.e., those instances of knowledge about oneself acquired by publicly accessible methods. According to Coliva, transparency, authority and groundlessness are necessary and a priori aspects of first-personal self-knowledge (COLIVA, 2016, p. 6). Before we proceed, let us make a general overview of the work.
The first chapter is an introductory chapter, in which the innovative thesis of the work is stated and there is a brief exposition of the content that we will have throughout the reading. The second chapter is dedicated to demarcate the territory of mental states, from sensations and perceptions, passing through the so-called “propositional” attitudes and ending in the emotions. Coliva provides us a geography of the mental states in which she will operate successfully. She sets aside, however, states of the mind such as moods and character traits-and this is, I think, justifiable in the context of philosophy because of the lack of a deeper literature on the subject. One of the major merits of this chapter is the fact that Coliva draws the distinction, widely retracted throughout the book, between propositional attitudes as dispositions and as commitments. With this distinction in mind, Coliva succeeds, already in chapter 7, following the philosopher Akeel Bilgrami, illuminating the phenomenon of self-deception, as well as, in the appendix of the work, illuminating what is possible and what is paradoxical in Moore’s paradox. It is, therefore, one of the most important distinctions outlined in the monograph.
The third chapter discusses the varieties of self-knowledge, distinguishing between two kinds of self-knowledge, namely, the first-personal self-knowledge and the third-personal one. It is here that Coliva demarcates the territory of first-personal self-knowledge as necessarily involving groundlessness, transparency, and authority. Coliva is convincing in proposing that the knowledge we have of our own mental states, being theses as varied as the previous chapter pointed out, I say, that self-knowledge admits different methodologies. Some cases of self-knowledge are acquired by inference, or observation, or any other method involving some minimal epistemic effort. However, Coliva proposes that cases of first-personal self-knowledge are not necessarily instances of cognitive achievement. Yet, this proposal forces us to take the theories that Coliva calls “epistemically robust accounts” of first-personal self-knowledge as false. In this way, Coliva seems to reject already in advance the accuracy of theories such as the inner sense theory, the inferentialist theory, and the simulation theory, which are explored in the fourth chapter.
The fourth chapter is dedicated precisely to the epistemically robust accounts of first-personal self-knowledge, in which the inner sense, the inferentialist, and the simulation theories are presented. These theories state that the knowledge we have about our own mental states can be acquired by introspection, observation, inference to the best explanation, simulation, etc. The fifth chapter deals with the so-called epistemically weak accounts of first-personal self-knowledge, which include theories such as Peacocke’s rational internalism, Burge’s rational externalism, and Evans’s transparency method, later developed in different ways by Fernández and Moran.
The sixth chapter presents the so-called expressivism, the result of some interpretations of Wittgenstein’s work. It is in expressivism that for the first time we see the statement that first-personal self-knowledge is not exactly a kind of knowledge since it does not fit the Wittgensteinian criteria of knowledge self-ascription1. The seventh chapter presents the so-called constitutivism, whose main representatives are Shoemaker, Wright, Bilgrami, and Coliva herself. As in expressivism, constitutivists declare that first-personal self-knowledge is not exactly the result of a sui generis epistemic achievement, and since it is not based on anything, we should conclude that to call it “knowledge” is a misunderstanding (p. 163). In contrast to expressivism, however, constitutivism appeals to metaphysical theses2.
Finally, the eighth chapter is the chapter in which Coliva exposes pluralism about self-knowledge. According to her, the limits of constitutivism involve the scope of propositional attitudes as commitments. Concerning the basic emotions, sensations, and perceptions, Coliva promotes a meeting between constitutivism and expressivism. Finally, the knowledge we have of our complex emotions and our propositional attitudes as dispositions are genuine cases of knowledge that we obtain by methods that are publicly accessible-Coliva also includes in this scope the knowledge we acquire about our own personality3. The appendix deals with Moore’s paradox.
The point I want to focus on in this review is the criteria that Coliva presents to demarcate the territory of first-personal self-knowledge. They are three: groundlessness, transparency, and authority. Both admit a weak and another strong variant. In a weak characterization, groundlessness admits some epistemic ground, although it dispenses the foundation as being of an observational or inferential kind. The so-called epistemically weak accounts, such as rational internalism and externalism, of Peacocke and Burge respectively, or even Evans’s transparency method, such as developed by Moran, satisfy this criterion. It was not clear, however, how the transparency method as developed by Fernández satisfies weak groundlessness, since, in Fernández’s account, a self-ascription of, let’s say, a belief, is based on the same evidence of the first-order belief which is the object of the self-ascribed belief. If this is the case, then the self-ascription of a first-order belief based inferentially is based on the same kind of evidence of the first-order belief, a consequence which would hurt weak groundlessness.
Strong groundlessness holds that cases of first-personal self-knowledge are simply not grounded in anything. As stated by Coliva, strong groundlessness can be described as the idea that first-personal self-knowledge is neither observational nor inferential, nor is it epistemologically based on one’s previous awareness of one’s ongoing mental states. If this is the case, then first-personal self-knowledge is not exactly an instance of knowledge and, therefore, it is a terminological error to call it “knowledge” after all. Coliva ends up adopting exactly this perspective, which is consistent both with expressivism and constitutivism.
Weak transparency consists in the idea that if one has a given mental state M, then one is aware of it, i.e., the mental state M is phenomenologically salient to the subject. Coliva gives us reasons to prefer strong transparency over weak transparency. This preferred variant of transparency states that, given C-conditions, which include concepts’ possession, cognitive well-functioning, alertness and attentiveness, and to the exclusion of unconscious and purely dispositional mental states, if one has a given mental state M, then one will be in a position to judge or believe (or both) that one has it. I highlighted “be in a position to” passage because, as I think, it is subject to different interpretations, as I will explore next.
Finally, weak authority states the idea that, given C-conditions (including concepts’ possession, cognitive well-functioning, alertness, and attentiveness), if one judges to have a mental state M (save for dispositional ones or for the dispositional elements of some mental states), one will usually have it. On the other hand, strong authority is the idea that, given C-conditions, if one judges to have a mental state M (save for dispositional ones or for the dispositional elements of some mental states), one will always have it.
I begin with the passage, in the description of strong transparency, according to which, given C-conditions, if one has a given mental state M, one will be in a position to judge that one has it. As I think, this passage allows three possible interpretations, which I will call the Wittgensteinian interpretation; the metaphysical interpretation; and the epistemic interpretation. The Wittgensteinian one is the interpretation according to which “to be in a position to” judge that one has a mental state M is a feature of the grammar we have, the option that has inspired expressivism. The metaphysical interpretation is another option, which has its roots in constitutivism, according to which “to be in a position to” judge that one has a mental state M is a feature of the kind of metaphysical relation we have with M. Finally, the epistemic interpretation, which can be identified in some epistemic accounts of first-personal self-knowledge, states that transparency consists in an epistemic relation between oneself and M.
Here, I will explore the third option, i.e., the idea that transparency is a feature of the kind of epistemic relation we have with some of our own mental states, such as sensations, intentions-as-commitments, and beliefs-as-commitments, in an attempt to save weak epistemic accounts of first-personal self-knowledge. What follows is the idea that one knows that one is feeling ψ, intending to φ or believing that p based on the transparency of ψ-sensation, φ-intention or the belief that p is the case. In this view, transparency is seen as playing the epistemic role in our self-ascriptions of some of our own mental states-precisely, those that are transparent to us. I am not sure, however, if the epistemic relation we have with our own mental states involves the kind of normativity that accompanies characteristic instances of knowledge.
The present view is not inconsistent with Wittgensteinian criteria for knowledge self-ascription. To see why, we need to consider the pragmatics of self-ascription. Consider questions such as “how do you know that you feel ψ / believe that p?” In ordinary conversation, we assume, in cases of first-personal self-knowledge, the authority of the first person. My bet is that such questions-and the answers that would be appropriate to them-would hurt two elements of cooperative conversational practices, namely, informativeness and relevance. They hurt the element of informativeness that is expected in a conversation because the most immediate answer to such questions no longer tells you what is already assumed in the question: “I know that I feel ψ because I am feeling!”, or “I know that I believe that p because I believe!”. Therefore, it is also not relevant to ask someone with questions such as these. The strangeness with which we would react to such questions is explained by factors of the order of pragmatics. What follows is the idea that the presumption of the first-person authority is explained by cooperative conversational practices, i.e., the normal operation of a cooperative conversation. I highlighted “presumption of the first-person authority” because this is not an explanation about first-person authority itself, but about its recognitional conditions. This is because, in my view, first-person authority itself depends ontologically on the transparency of the mental states, which, as I maintain, is a feature of the kind of epistemic relation we have with some of our own mental states.
Before ending my review of this incredible monograph, I need to comment a question that remains unanswered: cases of first-personal self-knowledge are accompanied by the characteristic normativity present in cases of knowledge? If “no”, the consequence of this view is that epistemic normativity is not a necessary condition for knowledge, because there are cases of knowledge, namely, first-personal self-knowledge, without epistemic normativity. If “yes”, then this normativity needs to be explained. Maybe the person’s conceptual mastery and its cognitive state of alertness, attentiveness, etc. can be the explanation of the epistemic normativity present in cases of first-personal self-knowledge. And if this is so, then the present weak epistemic account is consistent only with weak authority, because only weak authority allows the possibility of error in judging that we have a mental state M-and normativity in general, as I think it is plausible to assume, presupposes the possibility of error.
Notas
1See p. 140.
2See p. 164.
3See p. 239.
Alexandre de Borba – Federal University of Santa Maria. Department of Philosophy. Santa Maria, RS. Brazil. azdeborda@gmail.com
Liberal Internationalism: Theory/History/Practice | Beate Jahn
‘Liberalism’ is famously difficult to define in politics around the world. In the United States, liberals are center-left, akin to social democrats in Germany. Similarly, in Sweden, the Liberal People’s Party supports social liberalism and has a strong ideological commitment to a mixed economy, with support for comprehensive but market-based welfare state programs. In Germany, liberals are nowadays thought to be center-right, and usually allies of the conservative party, even though they have worked with the social democrats in the past. In Brazil, the term ‘liberal’ is reserved for laissez-faire, right-wing libertarians. The term is so unpopular that political parties whose name included the term ‘liberal’ changed their name. When I decided to offer a post-graduate seminar called “The History of Liberal Internationalism”, a colleague suggested I change the name to “Liberal Internationalism and its Critics” to avoid running the risk of being called a liberal. International discussions about liberalism, in short, are bound to lead to confusion.
In the same way ‘Liberal internationalism’ is perhaps one of the most misunderstood theoretical strands in international relations. For some, it is best represented by liberal thinkers such as Harvard’s Michael Ignatieff, Princeton’s G. John Ikenberry and the New America Foundation’s Anne-Marie Slaughter, who see themselves as ‘Wilsonians’. Others -both in the United States and abroad- regard liberal internationalism as a dangerous school of thought which has provoked disasters such as the 2003 ‘missionary’ intervention in Iraq. Thinkers in the Global South tend to agree with the latter assessment. (The debate about whether Bush was a Wilsonian is best summarized in “The Crisis of American Foreign Policy: Wilsonianism in the 21st Century”). At other times, the term is used more broadly to describe the application of liberal principles and practices to international politics, and sometimes simply the foreign policies of liberal states. Leia Mais
The New Christians of Spanish Naples, 1528-1671: A Fragile Elite – MAZUR (LH)
MAZUR, Peter A., The New Christians of Spanish Naples, 1528-1671: A Fragile Elite, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013. 197 pp. Resenha de: TAVIM, José Alberto. Ler História, n. 67, 2014.
1 A presente obra de Peter Mazur versa uma comunidade periférica em duas dimensões fundamentais: a sua situação na esfera da soberania espanhola, mas num reino exterior à Península Ibérica, ainda que económica e estrategicamente crucial no contexto da península italiana e do Mar Mediterrâneo – o reino de Nápoles -; e também numa posição geograficamente “extrema” face às outras comunidades de conversos que viviam maioritariamente em Espanha, Portugal e nos seus domínios ultramarinos. Talvez a única comunidade que se aproxima desta, em termos de uma mesma singularidade, é mais antiga dos conversos portugueses que residiam nos Países Baixos sob domínio espanhol, nomeadamente naquela que foi a grande capital económica do norte europeu – a cidade de Antuérpia – e onde pontificaram as famílias Ximenes, Rodrigues d´Évora e Veiga1. Contudo, excepto na primeira metade do século XVI, onde por ordem do imperador Carlos V (1516-1558) se realizaram investigações sobre a idoneidade religiosa do famoso Diogo Mendes (Benveniste) e seus homens, não se verificou aqui o estabelecimento de um braço da Inquisição como no reino de Nápoles. Tal facto vai moldar uma forma de actuação distinta da comunidade conversa do reino de Nápoles cindida, também ao contrário do que acontecia nos Países Baixos Espanhóis, entre conversos de origem aragoneses e conversos de origem portuguesa, chegados mais tarde. E é esta diacronia controversa, de pessoas de origem conversa, de diferentes longitudes, agindo como gente de negócios, de conselheiros e de informadores das autoridades napolitanas, e com parentes permanecendo na Península Ibérica, frequentemente apanhada por uma teia inquisitorial segundo o modelo ibérico, que o livro de Peter Mazur nos dá conta.
2 O livro está constituído por cinco capítulos. Os dois primeiros – “1: From Jews to New Christians: Religious Minorities in the Making of Spanish Naples”, e “2: Conversos in Counter-Reformation Italy” – possuem uma visão geral e de contextualização da evolução identitária e social destes grupos de origem judaica, no reino de Nápoles sob domínio espanhol. Os dois seguintes – “3 – ´El de los Catalanes´: The First Campaign against the New Christians, 1569-1582”, e “4 – The Rise of the Portuguese Merchant-Bankers, 1580-1648” – analisam outra dimensão fundamental, de uma forma mais específica, ou seja, a existência de dois grupos de origem conversa, que se estabeleceram no reino de Nápoles em momentos diferentes, sendo ambos alvo de perseguição sócio-religiosa. Trata-se de uma realidade que diferencia esta comunidade de outras, como a dos Países-Baixos, constituída maioritariamente por indivíduos de uma só origem – a Portuguesa – e recorda o que aconteceu em outras paragens orientais, por exemplo em Monastir, na actual República da Macedónia, em que judeus de origem aragonesa e portuguesa, seguidos de conversos das mesmas origens (mas que ali assumiram uma identidade judaica) se estabeleceram, mantendo a sua idiossincrasia, mesmo de forma conflituosa2. Mas, como já acentuámos, e como se denota pelo título do capítulo 3, em Nápoles lidamos com um conjunto de pessoas que não podiam assumir uma identidade judaica (os judeus foram expulsos em 1541), e portanto estamos também perante uma realidade bem diferente daquela que se vislumbra no Império Otomano3. O capítulo cinco apresenta um enfoque ainda mais específico – como que uma micro-história exemplar do dilema que caracterizou este grupo e o diferenciou como permanecendo fora da Península Ibérica e seus territórios ultramarinos – “The Inquisition against the Vaaz”.
3 Além da “Conclusion” saliente-se a publicação de um valiosíssimo apêndice documental intitulado “Documents from the 1569-1581 Campaign” (ou seja, contra os conversos de origem catalã). Trata-se da transcrição de algumas peças fundamentais de suporte, como processos inquisitoriais pertencendo ao fundo Sant´Ufficio do Archivi Storico Diocesano di Napoli, mas também cartas do fundo Stanza Storica do Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, no Vaticano. A obra assenta também num conjunto largo de fontes impressas, e de uma bibliografia especializada, quer sobre Nápoles, quer acerca dos cristãos-novos e suas rotas de negócios, e ainda acerca da actuação e evolução dos Tribunais Inquisitoriais. Saliente-se ainda a existência de um precioso Índice Geral.
4 O resultado é uma obra sólida, de documentos bem analisados e interpretados, à luz dos conhecimentos adquiridos em obras de suporte, que permitem ao autor captar a já referida especificidade da vida destas elites de origem judaica no sul da Itália.
5 É esta demonstração de uma especificidade, revelando como as elites de origem conversa agem em função do contexto que encontram, mesmo sob o domínio de uma Coroa Ibérica, o cerne de um trabalho científico conseguido. Citando o autor:
“This research joins that of a growing number of scholars who have shifted their gaze beyond the question of converse religious identity and toward an understanding of the place that they occupied in the societies of Spain and Portugal and their territories across the globe” (p. 7).
6 Salientemos as páginas em que recorda, no primeiro capítulo, as condições que explicam a oposição e mesmo a insurreição da população e das elites do reino contra a instalação de uma Inquisição segundo o modelo espanhol (revolta de Maio de 1547), porque tal afectaria os laços de convivência social e económica com os dinâmicos cristãos-novos de origem ibérica; mas também porque sentiam que a instauração desse modelo de tribunal religioso representava a intromissão de uma política espanhola centralista, que se mostraria negativa para a prossecução dos interesses tradicionais locais. O facto de, mesmo quando foram instaurados processos contra os cristãos-novos, se verificarem tensões entre os funcionários do Santo Ofício e os vice-reis, mostra que a implantação de um tribunal religioso sob o controle das autoridades napolitanas facilitou em muito a permanência destas famílias de cristãos-novos no reino, “substituindo” em outra dimensão, aquela que havia sido a necessária estadia dos judeus em Nápoles até 1541. De facto, segundo o modelo romano finalmente aprovado, o vice-rei passou a ter direito de veto, limitando por exemplo o poder do Santo Ofício no confisco da propriedade dos heréticos e seus familiares. Um dos motivos apontados para esta solidariedade entre muitos dos vice-reis e os grupos de cristãos-novos é o facto de aqueles necessitarem destes para a construção, “in loco”, de um estado moderno, ou seja, à margem do poder da aristocracia terra-tenente local.
7 Após a contextualização muito bem conseguida, no capítulo dois, da política gizada em relação aos judeus e conversos, em vários estados da Itália, no século XVI, e da forma diferenciada de operacionalidade da Inquisição Romana em relação às Hispânicas, Peter Mazur passa a analisar, nos dois capítulos seguintes, a situação social dos dois grupos de cristãos-novos estabelecidos no vice-reinado, e a reacção inquisitorial face a estes.
8 O capítulo três – ´El de los Catalanes´ – traça o devir histórico do grupo mais antigo de conversos, de origem catalã, também alvo da primeira incidência da Inquisição entre 1569 e 1582, que produziu 15 volumes de documentação e devastou por exemplo o poderoso clã dos Pellegrino, interrompendo a sua ascensão social e a sua posição nos assuntos financeiros do vice-reinado. Mas como outros clãs, como os Sanchez, raramente foram tocados, o grupo, em geral, manteve a sua actividade. Os Sanchez, por exemplo, foram mesmo elevados ao marquesado, chegando a ser governadores de cidades tão importantes como Àquila, Nola, Bari, Taranto, Cápua e outras. Um membro de outra importante família de conversos de origem catalã – Girolamo Vignes – foi mesmo chamado para lidar com as questões financeiras dos colégios jesuítas e missões estabelecidas no sul da Itália e no estrangeiro. Na verdade, como acentua Peter Mazur, a campanha inquisitorial napolitana de 1569-1582, mais que erradicar fenómenos de criptojudaísmo, afinal acelerou o processo de assimilação destes conversos na sociedade local, através de um processo de aculturação, casamentos mistos e adaptação.
9 Os vice-reis continuaram contudo a ter necessidade de auxílio nos sectores administrativo e financeiro, sobretudo face à pressão fiscal de Espanha. Foi então que outro grupo de cristãos-novos, de origem portuguesa, aliciados por esta oportunidade, e usufruindo das prerrogativas da União Dinástica de 1580, decidiram estabelecer-se também em Nápoles, desempenhando o papel que coubera agora aos assimilados catalães. É este o grupo alvo do quarto capítulo – “The Rise of the Portuguese Merchant-Bankers, 1580-1648)” – constituído por famílias como os Vaz (Vaaz ou Vaez), negociando em grão, cochinilha, lã e seda, entre outras mercadorias. A figura mais famosa desta família seria Miguel Vaz, que cerca de 1610 entrou ao serviço do vice-rei Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, administrando o reino em seu favor, como por exemplo quando controlou a alfândega de Benevento. E tal como os Catalanes, mostrou-se interessado na aquisição de propriedades, como parte essencial da sua estratégia de investimento e afirmação social. O autor também demonstra que os Vaz revelaram uma inegável lealdade para com a Coroa Espanhola, mesmo nos momentos mais conturbados de revolta da população napolitana.
10 No entanto, a princípio, este isolamento dos Vaz não lhes foi benéfico. Embora tivessem sucesso nas suas estratégias de aliança com a nobreza local, nunca conseguiram juntar-se a importantes linhagens, de forma a fazer crescer as suas propriedades e prestígio. Pelo contrário, investiram mais na endogamia – no casamento entre primos – de forma a manter intacto o seu património. E, embora tal como os catalães apostassem no “low profile” para evitar problemas, acabaram por ser alvo, devido à sua idiossincrasia, no século XVII, da pena de alguns influentes observadores da sociedade napolitana.
11 É então o momento de compreender a investida da Inquisição contra os Vaz, objecto do capítulo cinco desta obra. A situação é complicada, com a existência de dois tribunais da Inquisição – o local e o outro criado pela Congregação do Santo Ofício Romano, insatisfeita com a autonomia e registo desigual da corte episcopal. Os Vaz atraíram as atenções quando em 1616 três nobres denunciaram Duarte Vaz, conde de Mola, por práticas judaicas, contando a Inquisição com o apoio do duque de Osuna, Pedro Téllez-Girón, que via naquele um perigoso especulador, contrário a um bom governo. As confissões de Duarte e seus familiares fizeram com que se insinuasse o clássico tópico da “conspiração marrana”. Em 1661, no Santo Ofício de Roma, verificou-se a abjuração de Vaz, que foi considerado formalmente apóstata, sentenciado a cárcere perpétuo e a uma multa de 2.000 ducados. Também nessa data o vice-rei Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda, aproveitou para ordenar, em Nápoles, o confisco dos seus bens. Foi no entanto a incidência da aristocracia local em manter os seus privilégios que salvou de um destino pior os cristãos-novos portugueses. Quando o inquisidor Camillo Piazza se atreveu a prender um criado do duque de Noci teve que fugir do vice-reinado, temendo pela sua vida. E chegou mesmo a ser produzido um tratado contra as consequências dos excessos da Inquisição nas prerrogativas dos cidadãos napolitanos. A agitação dos representantes populares e da aristocracia em favor dos Vaz, para que o rei repusesse os seus direitos, devem entender-se assim mais no contexto do receio da imposição de um regime autoritário em Roma, no qual as condenações ordenadas pela Igreja serviriam para enriquecer e fortalecer excessivamente o Estado. E embora os Vaz tivessem de facto recuperado em parte as suas propriedades e títulos, o seu destino assemelhar-se-ia ao dos cristãos-novos catalães: transformaram-se numa nobreza rural, visto que não conseguiram competir com a nova geração de permissivos cobradores de impostos e de funcionários régios.
12 A conclusão assinala os principais vectores que, segundo o autor, minaram a vitalidade da rede sefardita no início do século XVIII, e termina mostrando como um dos mais poderosos sinais reveladores da plena integração destes grupos na sociedade napolitana é o facto de se tornarem indistintos da sociedade circundante.
13 Seria interessante saber se houve alguma aproximação entre os dois grupos de cristãos-novos catalães e portuguesas, mesmo depois da sua “ruralização”. Mas sem dúvida que estamos perante uma obra segura, que conjugando material vário, analisado em profundidade, permite perscrutar a idiossincrasia adaptativa destes grupos de pessoas. Enfim, de forma prosaica, leva-nos para o Il Gattopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa que, nos anos cinquenta do século XX, nos apresenta um Don Fabrizio siciliano consciente que a classe aristocrática terra-tenente – uma classe tão ambicionada pelos variados peões do prestígio e do poder – em Maio de 1860, perante o desembarque de Giuseppe Garibaldi, está inexoravelmente a perder a supremacia: só então.
Notas
1 Vide, entre outros, J.A Goris, Étude sue les colonies marchandes meridionales (Portugaises, Espagno (…)
2 Vide Jennie Lebel, Tide and Wreck. History of the Jews of Vardar Macedonia, Bergenfeld, Avotaynu, 2 (…)
3 Entre outros vide Joseph Hacker, “The Sephardim in the Ottoman Empire in the Sixteenth Century”, in (…)
José Alberto Tavim – Instituto de Investigação Científica Tropical.
Atlantic Ports and the First Globalisation, c.1857-1929 – BOSA (LH)
BOSA, Miguel Suárez (Cord.). Atlantic Ports and the First Globalisation, c.1857-1929. Cambrige Imperial and Post-Colonial Studies Series (col.): Palgrave MacMillan, 2014. pp.203. Resenha de: FERNANDES, André. Ler História, v.67, p.194-196, 2014.
1 A obra em apreço, coordenada por Miguel Suárez Bosa (Universidade de Las Palmas de Gran Canaria), propôs-se a aprofundar o conhecimento sobre a Primeira Globalização (1857-1929). Em particular sobreas transformações dos portos do Atlântico Sul, no contexto da revolução tecnológica e subsequente expansão do comércio internacional ocorrida na segunda metade do século XIX: a evolução das infra-estruturas portuárias, as características de cada porto, os tráfegos, a administração e a actividade portuária, contam-se entre os vários aspectos analisados. Para o efeito, os nove capítulos que constituem a obra seguem uma abordagem comum que, não descurando as especificidades dos diferentes espaços portuários e dos factores determinantes das suas metamorfoses, nunca perde de vista a sua compreensão no quadro de uma matriz relacional determinada (i) pela organização do sistema económico mundial, (ii) pelo desenvolvimento tecnológico e industrial, e (iii) pelos novos fluxos migratórios e de mercadorias.
2 Com uma particularidade interessante que apela à originalidade da obra. Ao invés do enfoque nos grandes portos metropolitanos, o trabalho debruça-se sobre um conjunto de portos periféricos, a saber: Casablanca (Marrocos), Dakar (Senegal) e Lagos (Nigéria), em África, a que acrescem os portos das Ilhas Canárias e o Porto Grande de S. Vicente (Cabo Verde) nas ilhas da Macaronésia; Santos (Brasil) e La Guaira (Venezuela) na América do Sul; e, o porto caribenho de Havana (Cuba).
3 No capítulo introdutório, Miguel Suárez Bosa procede à contextualização e sistematização da abordagem adoptada, ensaiando uma proposta de modelo interpretativo dos portos do Atlântico Sul, centrando-se em três dimensões analíticas, transversais aos capítulos subsequentes: as reformas portuárias e a globalização; as transformações tecnológicas; e, os modelos de gestão portuária. Sobre este último aspecto, e pela sua relevância e oportunidade, não é possível deixar de salientar a discussão em torno da adequação das classificações tradicionais de modelos de gestão portuária, assim como da dificuldade destas em captar a complexidade das situações reais. Algo que o autor questiona tendo como suporte os contributos decorrentes dos estudos de caso aprofundados no livro, que colocam em evidência, entre outros factores, o papel dos condicionalismos sociais na escolha do modelo gestão de cada porto.
4 De seguida, Luis Cabrera Armas (Universidade de La Laguna) aborda a evolução funcional dos portos das Ilhas Canárias. Começando por destacar o posicionamento geoestratégico deste território – factor impulsionador da sua constituição como nó fundamental da navegação a vapor e como importante plataforma de articulação intercontinental –, o autor analisa as grandes transformações determinadas pela necessidade de adaptação às modificações tecnológicas no transporte marítimo (com destaque para as fontes de energia, dimensão dos navios e especialização do transporte). Ainda no contexto dos portos das Ilhas da Macaronésia, Ana Prata (Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa) analisa a actividade portuária no Porto Grande de S. Vicente. Uma análise que para além de correlacionar os ciclos de desenvolvimento e declínio deste porto com a evolução do comércio de carvão, interpreta com grande rigor e detalhe as transformações na actividade portuária que estão subjacentes a este processo.
5 O Capítulo 4, redigido por Miguel Suárez Bosa e Leila Maziane (Universidade Hassan II Mohammedia/Casablanca), transporta o leitor para a África Continental, mais precisamente até ao Porto de Casablanca, aquele que se constituía à data como o principal porto de Marrocos. Neste capítulo, os autores apresentam uma análise detalhada das opções que estiveram subjacentes ao desenvolvimento desta infra-estrutura, debruçando-se ainda sobre a gestão do porto e sobre a actividade portuária, dimensão em que enfatizam, entre outros aspectos: (i) a relação com o seu hinterland, enquanto porta de entrada e de saída de mercadorias e como rótula de articulação modal entre os transportes marítimos e os transportes terrestres; e, (ii) o seu papel enquanto importante entreposto comercial. Ainda em África, Daniel Castillo Hidalgo (Universidade de Las Palmas de Gran Canaria) analisa, no Capítulo 5, o Porto de Dakar, dando particular atenção ao modelo de gestão portuária e ao processo de modernização tecnológica do porto. Abordagem semelhante é aplicada por Ayodeji Olukoju (Universidade de Lagos) ao Porto de Lagos, destacando o seu papel regional alicerçado nas relações estabelecidas com o hinterland através da laguna. Meio que facilitou o transporte de diversos produtos, tais como o óleo de palma ou a borracha.
6 Rumando ao continente americano, Francisco Suárez Viera (Universidade de Las Palmas de Gran Canaria) apresenta-nos o Porto de Havana, “the gate way of Cuba”. A análise desenvolvida pelo autor é estruturada em três partes interconexas: (i) a complexa evolução do porto, entre os finais do século XIX e o princípio do século XX; (ii) a transição e consolidação de Havana como porto de importação-exportação; e, (iii) a história da gestão do porto, com enfoque nas infra-estruturas, serviços e transportes. Mais a Sul, Catalina Banko (Universidade Central da Venezuela) analisa, no Capítulo 8, o Porto de La Guaira, dando particular destaque às mudanças ocorridas na administração portuária e à sua influência nas transformações verificadas no porto. Por fim, no Capítulo 9, Cezar Honorato (Universidade Federal Fluminense) e Luiz Cláudio Ribeiro (Universidade Federal do Espírito Santo) debruçam-se sobre as transformações nas infra-estruturas e na gestão do Porto de Santos, o grande porto de exportação de café do Brasil, aquando do seu processo de emergência e desenvolvimento, entre os finais do século XIX e as vésperas da Primeira Grande Guerra. Uma investigação que não deixa ainda de levar em linha de conta as relações estabelecidas pelo porto com o seu hinterland, suportadas pela acessibilidade ferroviária.
7 Em suma, estamos perante uma obra de grande interesse, que lança um novo olhar, que reinterpreta a partir de uma perspectiva diferenciada, as relações comerciais no Atlântico aquando da primeira globalização, focando primordialmente as transformações funcionais e a gestão portuária num conjunto de portos da periferia. Isto através de um difícil exercício que, captando em profundidade a natureza, características e especificidades de cada porto, não descora a contextualização do seu papel, do seu posicionamento e da sua actividade no quadro da matriz relacional supra enunciada (i.e. organização do sistema económico mundial, desenvolvimento tecnológico e industrial e novos fluxos migratórios e de mercadorias).
André Fernandes – IHC-FCSH/UNL
Atlantic Ports and the First Globalisation, c.1857-1929 | Miguel Suárez Bosa
En este libro se estudia la gestión y gobernanza de los puertos del Atlántico Medio en el periodo llamada Primero Globalización (mediados del siglo XIX-primer tercio del XX). Desde mediados del siglo XIX y principios del XX se construyeron infraestructuras portuarias de notable importancia en el ámbito atlántico, entre ellas destacan los puertos analizados en esta publicación: los insulares de las islas macaronésicas (Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, y el de Mindelo en Cabo Verde), los africanos de Casablanca en Marruecos, el de Dakar en Senegal y el de Lagos en Nigeria o los latinoamericanos de La Habana, Río de Janeiro y La Güira. Todos están situados en territorios de la periferia del mundo capitalista, en el denominado Sur Global, concepto que hace referencia a las regiones que participan en la denominada Primera Globalización, aunque en una posición de dependencia de las grandes potencias imperiales del Norte industrializado. Leia Mais
Capital and the debt trap: learning from cooperatives in the global crisis – SANCHEZ; ROELANTS (NE-C)
SANCHEZ, Claudia; ROELANTS, Bruno. Capital and the debt trap: learning from cooperatives in the global crisis. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011. Resenha de: SINGER, Paul. O capital e a armadilha da dívida. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n.93, Jul, 2012.
Em Capital and the debt trap: learning from cooperatives in the global crisis, Claudia Sanchez e Bruno Roelants analisam a transformação que o capitalismo sofreu pela globalização da economia mundial que coincidiu com o triunfo da contrarrevolução neoliberal no chamado Mundo Livre, num momento em que a Guerra Fria se aproximava de seu auge e também do seu fim, no final dos anos 1970. Os autores também oferecem uma análise da presente crise econômica internacional à luz das mudanças trazidas pela Terceira Revolução Industrial – a da informática e da internet -, que tornaram possível a hegemonia do capital financeiro em plano mundial, matriz de crises sucessivas que lhe são inerentes. O que aparece às classes dominantes como “sociedade do conhecimento” se torna exclusão, principalmente pelo desemprego, para os trabalhadores.
Enquanto a série de crises iniciada em 2007 tem atraído todas as atenções, um capitalismo de novo tipo surge da penumbra, produto da desregulação do capital financeiro e de nova onda de privatização dos principais serviços públicos que, por sua essencialidade para a sobre vivência dos mais pobres, serviços sociais porque deveriam ser acessí veis a todos. A sua privatização, agora justamente nos países mais afetados pela crise e, portanto, pelo desemprego, exclui do uso desses serviços os menos aquinhoados, aprofundando a desigualdade e, por tanto, a injustiça social o que explica a expansão mundial dos “indignados”, em sua maioria jovens que percebem que o capital financeiro, simbolizado por Wall Street, e suas crises lhes roubam um futuro que as conquistas democráticas das gerações anteriores deve riam ter-lhes assegurado.
A redução dos controles nacionais das trocas comerciais e da movi mentação dos capitais especulativos entre os países afiliados à omc e ao fmi removeu os obstáculos à centralização global dos capitais. Atualmente, cadeias internacionais de produção e distribuição de bens e serviços, interligadas por conglomerados financeiros, dominam segmentos inteiros da economia mundial, o que explica a subserviência de governos nacionais democraticamente eleitos às exigências do capital financeiro global, representado por agências intergovernamentais como o fmi e o Banco Central Europeu.
O livro procura descrever a trajetória que está sendo construída pelas crises sucessivas, implicando maior destruição do que geração de riqueza. Essa trajetória é composta por três armadilhas que se fecham sequencialmente, aprisionando os que se endividaram porque acreditaram que a oferta de crédito pelos bancos jamais seria interrompida.
A primeira armadilha é a do consumo. Nos EUA, a renda da população trabalhadora estagnou, sem interrupção, no entanto, do crescimento do consumo. Entre 1992 e 2000, o crescimento do pib se baseou principalmente no aumento das compras a crédito de moradias e automóveis. Em 1990, a soma das dívidas das famílias nos EUA era igual a 85% de sua renda;dez anos depois a soma das dívidas já era igual a 101% de sua renda. Em 2007, quando estourou a crise, as dívidas das famílias comprometiam 139% de suas rendas. A desregulamentação financeira permitiu que o povo “prosperasse” enquanto o país se desindustrializava. Quando a demanda por imóveis e automóveis naturalmente se esgotou, a armadilha do consumo aprisionou milhões de famílias, muitas das quais foram duplamente punidas: perderam o trabalho e os bens adquiridos.
A segunda armadilha é a da liquidez. Quando a crise se desencadeia, os empréstimos cessam, inclusive entre os bancos, porque ninguém mais confia em que eles serão pagos no vencimento. A quase bancarrota dos maiores bancos acarreta a paralisação do crédito, ou seja, quase todas as compras têm de ser pagas imediatamente com dinheiro. Ora, como ninguém tem dinheiro porque a crise acarreta forte queda das atividades com as quais os consumidores ganham seu dinheiro, o volume de compras se contrai. Os que ainda ganham tratam de guardar o seu dinheiro em casa, embora lá ele não renda:o pânico sobrepuja a cobiça. O meio circulante é entesourado, portanto deixa de circular, exceto o pouco dinheiro gasto com compras de bens e serviços indispensáveis.
Os efeitos conjugados das armadilhas do consumo e da liquidez compõem a terceira armadilha: a da dívida. São suas vítimas não só os consumidores que se endividaram, mas todos os outros que tomaram empréstimos para investir. Nos EUA, a hegemonia financeira fez com que o recurso às dívidas se generalizasse:a informática tornou a participação nas operações da Bolsa muito fácil, de modo que a especulação financeira virou um esporte de massas. “Pela primeira vez na história da humanidade”, afirmam os autores, “a especulação é a principal fonte de geração de renda. As firmas de Wall Street haviam assumido dívidas num total equivalente a 32 vezes o seu capital próprio. ”
A financeirização (isto é, o crescimento não só do volume de dinheiro manipulado pelo setor financeiro como também da influência e, sobretudo, do poder econômico e político dos bancos e fundos de investimento) deslocou o controle das empresas dos diretamente interessados – acionistas, assalariados, gerentes, fornecedores e clientes – para os credores, que frequentemente assumem o papel de controladores do capital acionário da empresa. Os credores, no entanto, não participam diretamente da vida da firma e tampouco têm interesse em sua continuidade. Quando se tornam controladores, o seu único objetivo é recuperar o que emprestaram e o máximo de ganhos adicionais. Por causa disso, o controle de empresas da economia real – industriais, agropecuárias, comerciais e prestadoras de serviços à população – pelo capital financeiro acarreta muitas vezes o seu fechamento prematuro.
O processo se acentuou em 1992, quando o governo dos EUA pediu aos fundos de pensão (que estavam subcapitalizados) que tratassem de reestruturar e extrair o máximo de lucro de qualquer empresa no exterior em que haviam investido. A ocasião era propícia, pois a crise do endividamento externo nos países em desenvolvimento, particularmente nos da América Latina, os havia forçado a abrir suas economias e suas empresas recém-privatizadas à aquisição por estrangeiros. Os bancos da tríade EUA, Europa e Japão participaram ativamente dessa globalização, engajando-se em fusões e aquisições. Os bancos que não se lançaram nessas empreitadas logo foram adquiridos por outros1.
Criou-se assim uma nova contradição:a concentração do capital, frequentemente por iniciativa do capital financeiro, fez com que surgisse uma nova classe de firmas consideradas grandes demais para falir. São firmas de tal forma interligadas financeiramente que se alguma das maiores falir leva consigo todas as demais. Isso se verificou na prática em setembro de 2008: a quebra do banco Lehman Brothers contagiou os maiores bancos de investimento, fazendo com que a crise financeira, até aquele momento restrita aos EUA, se alastrasse pelo resto do mundo. A epidemia de falências só não ocorreu porque os governos nacionais injetaram trilhões de dólares nos bancos para salvá-los.
A submissão de uma parte cada vez maior das empresas a capitais financeiros, para os quais elas não passam de veículos para a obtenção de ganhos especulativos de curto prazo, as torna mais vulneráveis às crises produzidas pelo fechamento das armadilhas do endividamento. Para o bem comum, no entanto, toda empresa deveria ser controlada
por aqueles diretamente interessados em sua continuidade e em sua robustez produtiva, comercial e financeira. Um indício dessa mudança de opinião é a recente concessão do Prêmio Nobel de Economia a Elinor Ostrom, notória defensora da tese de que a administração dos recursos que são propriedades comuns da coletividade deve ser confiada a quem está realmente interessado em sua preservação, ou seja, à própria coletividade. Ela constata que “falta uma teoria adequadamente especificada da ação coletiva pela qual um grupo de interessados pode se organizar voluntariamente para reter os resultados de seus esforços”.
Sanchez e Roelants oferecem elementos para a construção dessa teoria mediante o estudo de quatro cooperativas, que são exemplos representativos de ações coletivas voluntariamente organizadas e que obtêm êxito em se resguardar das crises engendradas pelos excessos especulativos dos capitais financeiros. Embora distintos, os quatro casos são bastante representativos de diferentes facetas do cooperativismo contemporâneo.
O primeiro é o de uma cooperativa de mergulhadores e pescadores localizada em Natividad, uma pequena ilha na costa do México, em que moram cerca de oitenta famílias, que vivem da captura de abalones, um marisco muito raro e valioso. Criada em 1942, a cooperativa explora áreas marítimas por concessão do governo. Nos anos 1980, a corrente marítima El Niño aqueceu as águas nessas áreas, o que reduziu o estoque de mariscos, levando à superexploração das reservas de abalones tanto pela cooperativa como pela pesca ilegal de gente de fora. No fim da década a cooperativa conseguiu controlar as práticas predatórias e evitar se envolver numa corrida por ganhos em curto prazo. Adotou uma abordagem científica ambiental e contratou um biólogo. Durante a crise, a assembleia de sócios da cooperativa decidiu fechar uma zona marítima à pesca por quatro anos. Graças à cessação da pesca, os abalones se reproduziram. Quando a pesca nessa zona foi retomada, a cooperativa obteve mais benefícios do que havia sido esperado.
O biólogo da cooperativa propôs que ela investisse em reservas marítimas, tendo em vista assegurar que no futuro houvesse disponibilidade de abalones, pepinos-do-mar e caracóis marítimos. A proposta foi aprovada e a cessação da pesca em determinado espaço reduziu a receita anual da cooperativa em 300 mil dólares, mas os membros esperam que o sacrifício seja compensado no futuro. As concessões de pesca deverão ser renovadas em 2012, e os membros da cooperativa têm bons motivos para esperar que consigam a renovação, o que lhes permite planejar a longo prazo a preservação das áreas de pesca e o desenvolvimento da cooperativa.
O segundo caso estudado é o da Ceralep, uma empresa francesa de pequeno porte fundada em 1921 que produz isoladores de cerâmica. Em 1973 ela se fundiu com outro importante produtor e desde então se tornou a única companhia na França que produz isoladores cerâmicos muito grandes. Em 1989, a Ceralep foi adquirida pela firma suíça Laufen, que a revendeu em 1993 à austríaca Ceram. Essas transações sucessivas fizeram a Ceralep passar por três controladores de diferentes nacionalidades no espaço de vinte anos. Tanto os suíços como os austríacos tentaram debalde se apoderar da tecnologia dos isoladores cerâmicos.
Em 2001, a Ceralep passou a ser controlada pela firma estadunidense ppc Insulators, que começou a agir de forma estranha:demitiu o diretor, mas atendia sem hesitação os pedidos de aumentos salariais dos empregados. A produção caiu muito e os trabalhadores não tinham o que fazer, o que os envolveu num clima extremamente desmoralizante, que se agravou quando os empregados descobriram que a ppc Insulators planejava fechar a Ceralep. É preciso compreender que o fechamento de uma firma que funcionava com êxito há oitenta anos deve ter sido um evento trágico para seus empregados, muitos dos quais passaram grande parte de suas vidas nela e certamente não viam qualquer perspectiva de emprego em outra firma2.
Os operários decidiram resistir à liquidação da empresa. Impediram diversas tentativas de remoção de máquinas bloqueando a entrada de caminhões na fábrica. Estas ações impediram efetivamente os controladores de fechar a firma, levando-os a entregar, em 2003, uma petição de falência, o que possibilitou mais tarde a compra da massa falida pelos empregados. Estes imediatamente escreveram uma carta aberta ao promotor distrital, ao síndico da falência e ao prefeito do departamento de Drôme denunciando que a administração e os acionistas tencionavam quebrar a empresa e condenar os 150 operários e o tecido econômico e social do distrito de Saint-Vallier.
Começou então uma batalha para evitar a destruição da Ceralep. Os trabalhadores se mantiveram unidos e contaram com a ajuda da União Regional de Cooperativas Operárias e da gente simples da comunidade: 802 pessoas doaram um total de 50 mil euros para integrar o capital de giro da futura cooperativa; o fundo francês Socoden de solidariedade das cooperativas operárias emprestou 100 mil euros; o banco cooperativo Crédit Cooperatif também contribuiu até que o milhão e meio de euros necessário para estabelecer a cooperativa fosse reunido.
Os apoios obtidos que ajudaram a impedir o fechamento da Ceralep e asseguraram sua continuidade na forma de um empreendimento cooperativo autogestionário confirmam a veracidade das afirmações contidas na carta aberta dos trabalhadores: a ameaça do fechamento da Ceralep de fato condenaria não só os 150 operários da empresa como também o tecido econômico e social da região.
Todas as autoridades públicas da região, da municipalidade e a associação de municipalidades apoiaram o projeto dos operários, dando-lhe uma ajuda substancial. A racionalidade da Ceralep foi distorcida por investidores absenteístas em ininterrupta sucessão, que se tornaram controladores à distância e trataram a firma como uma ficha trocável numa cadeia global de suprimentos. Esta racionalidade levou a firma à bancarrota. Uma vez removida a causa, a companhia na forma de cooperativa está indo bem, pois o controle foi entregue aos diretamente interessados.
O terceiro caso estudado no livro em exame é o do Grupo de Cooperativas de Crédito Desjardins, que é a mais importante instituição financeira da província canadense de Québec e a sexta maior do Canadá. Com ativos no valor de us$ 155,5 bilhões, é um dos principais atores financeiros e econômicos da nona maior economia do mundo. Desjardins é também o maior empregador privado de Québec com 39 mil empregados e está entre os maiores empregadores do Canadá, com um total de 42 mil empregados no país. Apesar de todo esse poderio econômico, financeiro e empresarial, Desjardins não procura maximizar o retorno sobre o investimento dos acionistas, mas assegurar serviços satisfatórios para os seus 5,8 milhões de membros proprietários, dos quais 5,4 milhões em Québec, que constituem 70% da população da província.
O Grupo Cooperativo Desjardins, criado há 110 anos para atender às necessidades financeiras de pequenos agricultores, produtores e assalariados, é formado por 481 cooperativas de crédito locais autônomas, que em conjunto o possuem e controlam. Os autores se detêm na história do Grupo Desjardins porque se trata de um dos maiores conglomerados financeiros do mundo que, num período em que o capital financeiro se globaliza e conquista incontrastável hegemonia na economia capitalista mundial, se mantém fiel à sua missão cooperativa e a seus membros-clientes pertencentes às classes trabalhadoras, sem com isso perder a competitividade.
O Grupo Desjardins conseguiu democratizar e descentralizar os serviços financeiros, tornando-os acessíveis a todas as classes e os difundindo pelas comunidades locais de Québec. Fez com que várias gerações de quebequenses aprendessem a agir coletivamente para desenvolver suas economias locais e adquirissem através de suas caisses scolaires os conhecimentos básicos de como poupar. Atualmente, 6 258 presidentes e membros de diretorias das cooperativas de crédito locais aprenderam como um banco funciona e são responsáveis pela sua supervisão.
O grupo desenvolve uma oferta integrada de crédito a meio milhão de negócios, que são seus clientes. Para alcançar tais resultados, teve de construir delicado equilíbrio entre as imposições da concorrência financeira e os seus objetivos sociais e entre a segurança financeira de longo prazo de seus membros e as aspirações de curto prazo de seus membros dos mesmos. Ao fazer isso, Desjardins se opõe às armadilhas do consumo e da dívida analisadas acima. Na realidade, não gera risco sistêmico, mas apoia o desenvolvimento econômico e social de longo prazo e promove a igualdade e a confiança.
A estruturação das caisses num agrupamento horizontal desencadeou um forte potencial econômico e social; em vez de permanecerem estruturas isoladas, como eram no começo e poderiam ter permanecido, as cooperativas de crédito locais do Grupo Desjardins conseguiram criar um dos maiores grupos financeiros da América do Norte, sem perder sua capilaridade e continuando totalmente dedicadas à prestação de serviços ao cidadão local e aos negócios locais. A tendência a um excesso de fusões foi controlada, o perigo de que as subsidiárias – seguradoras, fundos de capitalização e fundos de investimentos regionais – pudessem aumentar sua influência em termos de gestão tecnocrática foi igualmente evitado por uma série de reformas de governança sucessivas que incrementou o controle sobre as subsidiárias.
Ao expandir a lógica cooperativa de priorizar a base das cooperativas locais para um sistema tão amplo como a província de Québec, com seus quase 8 milhões de habitantes, Desjardins foi o promotor de uma mesoeconomia, tendo sido por mais de um século um dos principais atores no desenvolvimento de comunidades locais em Québec, além de ter desempenhado um papel-chave na estabilidade financeira do Canadá. Além disso, contra as assimetrias de informação, que muitos interessados sofrem, como é o caso de clientes de grandes instituições financeiras, onde a confiança dos clientes está sendo superada por arranjos opacos e segmentados de contrapartes, Desjardins não apenas nutre a noção de um movimento de proprietários-clientes ao qual se dedica, mas fornece aos últimos informações sobre o grupo de negócios, textos de discussão para ajudá-los a formar opinião na tomada de decisões e lhes oferece treinamento para ajudá-los a administrar suas cooperativas locais. A história de Desjardins também demonstra que crises sucessivas, como a Grande Depressão de 1929, várias crises nos anos 1980 e 1990, e a atual crise global, em vez de ameaçar a existência do grupo de fato a reforçaram, além de lhe dar oportunidade de realizar inovações institucionais e melhorar sua missão fundamental: a de servir seus membros.
O quarto e último caso teve por objeto o Grupo Corporativo Mondragon. Trata-se de um grupo horizontalmente integrado por mais de 110 cooperativas industriais, de serviços, finanças, distribuição, educação e pesquisa, centrado na cidade de Mondragon, na região basca da Espanha. Em 2010, era um grande conglomerado produzindo eletrodomésticos, máquinas-ferramentas, componentes de computadores, mobília, instalações de escritório, materiais de construção, transformadores, componentes de automóveis, moldes para ferro fundido, sistemas de resfriamento, equipamento médico, alimentos e outras manufaturas. Desenvolve uma série de atividades de serviços como engenharia, urbanismo, pesquisas em setores industriais, nanotecnologia, e compreende uma grande cadeia de supermercados, um banco e uma universidade. É considerado o maior complexo cooperativo do mundo, sendo a maior organização empresarial do País Basco e a sétima da Espanha.
A criação do Grupo Corporativo Mondragon foi inspirada pelo padre José Maria Arizmendiarreta, que em 1941, aos 26 anos, tornou-se pároco de Mondragon, dois anos após a guerra civil que havia ensanguentado a Espanha, na qual combateu ao lado dos republicanos. A pobreza reinava em Mondragon, cuja única grande empresa era uma metalúrgica que oferecia uma escola profissional para os filhos de seus operários. O jovem pároco tentou convencer a família proprietária da empresa a abrir a escola aos demais jovens da cidade, mas não teve êxito. Partiu então para a fundação de outra escola profissional, aberta a todos os moradores de Mondragon. Para obter os recursos necessários o padre promoveu uma campanha bem-sucedida de contribuições entre a população, recebendo apoio de 15% de seus moradores.
A nova Escola Politécnica foi a matriz do complexo cooperativo: cinco ex-alunos adquiriram – também com a ajuda da população – uma empresa falida, que se tornou a cooperativa ulgor, fundada em 1956. O padre ajudou na empreitada e desde então passou a ser uma espécie de orientador espiritual da cooperativa. Um dos princípios adotados foi limitar o tamanho da cooperativa para que a autogestão da mesma pudesse contar com a participação consciente de todos os sócios. Quando a ulgor passou a crescer, estimulada pela demanda por seus produtos, partes dela se separaram e foram transformadas em novas cooperativas: a Arrasate, fundada em 1958, fabrica máquinas-ferramentas; fundadas em 1963, a Copreci produz componentes de fogões domésticos e industriais e a Ederlan produz peças fundidas. As três eram parte da ulgor e continuaram vendendo quase toda sua produção para esta última.
As cooperativas desmembradas foram unidas à cooperativa matriz, formando todas uma cooperativa de segundo grau; nesta os excedentes das cooperativas singulares são somados e redistribuídos por igual a cada uma, o que facilita a formação dos preços que as cooperativas fornecedoras cobram da cooperativa matriz pelos produtos que lhe fornecem. Quarenta e cinco por cento dos excedentes são colocados em um fundo de reserva destinado principalmente a financiar novos investimentos3.
Essas regras colocam os interesses da coletividade claramente acima dos interesses individuais, tanto das cooperativas singulares como dos sócios. A elas deve ser atribuída a notável coesão que permitiu ao grupo se desenvolver notavelmente ao longo dos últimos 55 anos. Com o aumento do número de cooperativas, o grupo criou instituições de apoio, na forma de cooperativas de segundo grau cujos sócios são as cooperativas singulares. Em 1959, por insistência do padre Arizmendi, foi criada a Caja Laboral Popular – uma cooperativa de crédito que hoje é o grande banco do grupo, cuja divisão empresarial incuba as novas cooperativas4.
Os órgãos de direção de cada cooperativa de segundo grau são formados por representantes dos trabalhadores da própria cooperativa e dos trabalhadores das cooperativas singulares, geralmente em proporções iguais. Em 1969, a Caja promoveu a fusão de nove pequenas cooperativas de consumo, dando origem à Eroski, hoje a maior empregadora do grupo e uma das maiores redes de supermercados da Espanha. Enquanto cooperativa de consumo, sua direção é partilhada por igual por representantes dos consumidores associados a ela e dos trabalhadores que nela atuam.
O tema central do estudo de Mondragon é o efeito das crises sobre o grupo cooperativo e de que modo este as enfrentou. Em 1986, a Espanha aderiu ao Mercado Comum Europeu, abrindo o seu mercado interno às importações dos outros integrantes do Mercado Comum. A entrada dessas mercadorias no país captou boa parte da clientela que antes comprava os produtos da indústria nacional, inclusive das cooperativas do grupo de Mondragon. A crise se manifestou na forma de aguda queda das vendas, obrigando as cooperativas atingidas a reduzir a produção, deixando parte dos seus sócios sem trabalho.
O grupo cooperativo enfrentou a crise priorizando a preservação dos empregos. O caso de cada cooperativa atingida pela crise era estudado pela Caja em conjunto com a Lagun Aro, a cujo cargo estava o pagamento de seguro-desemprego aos associados. O salvamento dessas cooperativas geralmente exigia mudanças da linha de produção ou da estrutura de marketing, corte dos salários e/ou reforço do capital da cooperativa mediante contribuições dos trabalhadores. Apenas em casos extremos exigia-se redução de postos de trabalho. As propostas de medidas para o enfrentamento da crise eram submetidas a extensas consultas aos membros das cooperativas ameaçadas e naturalmente surgiam contrapropostas, o que exigia votações sucessivas até a formação de um consenso.
O êxito econômico inegável de cooperativas de modestos ceramistas, como no caso da Ceralep, ou de não menos modestos pescadores e mergulhadores, como os da cooperativa de Natividad, combina perfeitamente com a pujança de extensos complexos ou corporações, como demonstram os casos de Desjardins e de Mondragon. Em pequena ou grande escala, as cooperativas são viáveis mesmo quando enfrentam circunstâncias inóspitas das crises provocadas pelo capital financeiro desregulado. Sua capacidade de resistir a quedas inesperadas da demanda é notável, resistência que é fruto sobretudo da solidariedade entre membros das cooperativas e das comunidades em que as cooperativas se localizam, como evidenciam os casos de Ceralep e Mondragon. É difícil exagerar a oportunidade e a importância desta obra. Ela merece a leitura atenta e o debate engajado de todos que se preocupam com os perigos e as oportunidades que a presente crise apresenta.
Notas
1 “Só em 1997 houve 599 fusões bancárias nos EUA, reduzindo o número total de bancos de cerca de 14000 para 9143.”
2 Um deles se suicidou na fábrica, deixando uma carta em que revelou que não suportava mais a pressão, muito provavelmente decorrente da espera inerte pelo fim de tudo que dava sentido a sua vida.
3 Esse fundo é indivisível, ou seja, jamais poderá ser dividido entre os sócios. Fundos indivisíveis são criados para garantir a sobrevivência da cooperativa, nos casos em que sócios resolvam se retirar dela. Estes têm direito a receber sua parte do patrimônio não indivisível. O dinheiro depositado no fundo indivisível continuará pertencendo aos sócios que permanecem na cooperativa. Os outros 55% dos excedentes são dos sócios, mas só lhes será entregue anos depois que deixar em a cooperativa.
4 Ainda em 1959, foi criada a Lagun Aro, a entidade de previdência do grupo. Na época as cooperativas estavam excluídas do sistema previdenciário oficial.
Paul Singer – Professor titular da fea-usp e titular da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES).
Performing gender at work. Great Britain – KELLAN (CP)
KELAN, Elisabeth. Performing gender at work. Great Britain, Palgrave Macmillan, 2009. Resenha de: CASTRO, Bárbara. Performing gender at work. Cadernos Pagu, Campinas, n. 35, Dez. 2010.
A chamada nova economia, que tem como base a produção de riqueza amparada pela tecnologia da informação e comunicação1, exige que os potenciais candidatos às vagas de trabalho possuam, além da competência técnica em programação de computadores, habilidades flexíveis, interpessoais e de comunicação, como se diz no jargão das empresas de recursos humanos. A indústria de tecnologia da informação (TI), focada na venda de soluções e no fornecimento de serviços, busca pessoas que se comuniquem bem com o cliente e saibam trabalhar em equipe. Não basta saber liderar. É preciso ceder, negociar as diferentes perspectivas que cada membro de uma equipe possui sobre o projeto de trabalho, ser hábil para negociar novos prazos ou especificações com os clientes, modificando o projeto na medida em que mudam as diretrizes. Além disso, é preciso estar disponível para a realização de projetos em tempo curto e estar sempre atualizado, posto que a inovação é uma das características principais do setor. É preciso, pois, ser flexível.
Essa flexibilidade aparece na literatura sociológica associada ao universo feminino. Ulrich Beck (1994), por exemplo, atribui ao feminino os padrões de flexibilidade que o mundo do trabalho parece copiar. Richard Sennett (2004), por sua vez, elegeu as mulheres como o grupo que pressionou para a existência dessa flexibilidade. Partindo dessas afirmações, o trabalho em TI parecia ser um campo de oportunidades promissor para as mulheres. Um espaço no qual elas poderiam ingressar sem enfrentar os preconceitos e as desigualdades de gênero presentes no mercado de trabalho. Um lugar onde seria possível trabalhar sem sair de casa, sem abrir mão de cuidar dos filhos, fazendo seu próprio horário. As limitações da chamada velha economia não existiriam mais.
Há evidências, porém, de que a realidade é muito diferente do que dizem o discurso empresarial e a literatura. No Canadá, as mulheres não chegam a 1/3 da força de trabalho na indústria de TI (Scott-Dixon, 2009). Na Europa, esse dado não é muito diferente: elas são uma entre cada cinco trabalhadores do setor.2 No Brasil, do total de trabalhadores de TI, apenas 16% são mulheres.3 Estudos sobre o teletrabalho (trabalho à distância) mostram que, além de essa modalidade reificar a divisão sexual do trabalho, reafirmando a posição das mulheres no espaço doméstico e na esfera do cuidado, ele pouco modifica as possibilidades de crescimento profissional. Apesar de diferentes mulheres possuírem experiências diversas com o trabalho em TI, a tendência, como mostra Scott-Dixon (2004), é de que a falta de tempo livre para investir em cursos de atualização, causada pela sobreposição do trabalho pago e não-pago, as levaria a ficar sempre em posições subordinadas.
Esse abismo, quantitativo e qualitativo, entre homens e mulheres na área de tecnologia despertou o interesse da academia no final da década de 1970. Diferentes orientações teóricas buscaram compreendê-lo e elaborar saídas para essa inequidade. Entre elas, destacou-se e tornou-se referência a perspectiva histórico-cultural, que mostrou como diferentes ocupações que envolvem ciência e tecnologia foram construídas a partir de um ideário masculino e, por essa razão, fecharam-se às mulheres (Cockburn, 1992; Kirkup e Keller, 1992; Wajcman, 1991 e Webster, 1989).
Suas propostas políticas de desconstrução da associação entre tecnologia e masculinidade, no entanto, retomavam o modelo binário de gênero e o essencialismo da relação entre tecnologia e sociedade. De uma maneira geral, havia um entendimento de que se mais mulheres produzissem tecnologia, mais os produtos teriam uma linguagem, design e funcionalidade femininos, aproximando-as de seu uso e diminuindo, assim, a distância entre as mulheres e a tecnologia. Gill e Grint (1995) identificaram esse problema e propuseram que passássemos a pensar em como gênero, trabalho e tecnologia são co-produzidos a partir da interação, como são negociados no dia-a-dia.
Cockburn e Ormrod (1993) já haviam produzido um estudo empírico clássico sobre gênero, tecnologia e trabalho enfocando a relação das mulheres nas etapas da produção, venda e consumo de tecnologia. Mas ele não se preocupava em mostrar as mudanças, apenas as permanências nas relações de gênero. Com isso, podemos entender que a crítica de Gill e Grint (1995) não se resume apenas às diferenças de tratamento dedicadas à relação entre gênero e tecnologia no momento da análise e no momento da política – mesmo porque a ciência não é neutra à política. Ela se dirigia, também, ao foco desses estudos na estrutura social, mesmo quando havia um esforço em compreendê-la a partir das práticas.
Em Performing Gender at Work, Elisabeth Kelan elabora uma alternativa metodológica que dialoga com a proposta de Gill e Grint (1995), buscando superar as limitações dos estudos de gênero, tecnologia e trabalho. Ela une o conceito de performance, de Judith Butler, à etnometodologia de Candance West e Don H. Zimmerman, dizendo que, assim, podemos superar as limitações de uma e outra teorias. Se os últimos deixam pouco espaço disponível para a mudança, porque a norma de gênero tem que ser obrigatoriamente praticada pelos atores sociais, Butler lhes oferece esse espaço, porque podemos incorporar o discurso de maneira transformadora. O problema, segundo Kelan, é que ela não explicaria como isso acontece no dia-a-dia. Aí reside a vantagem da perspectiva etnometodológica, pois eles mostram como as pessoas se referem às normas de gênero todos os dias.
Para costurar as duas teorias, Kelan propõe que utilizemos a análise do discurso sem tratá-lo como o grande discurso da estrutura, mas como todas as formas de interação falada, formais ou informais, bem como textos escritos de todos os tipos. Considera que o texto e a fala estão sempre em ação e, por isso, são localizados e contextualmente específicos. Não nega, no entanto, que há um repertório interpretativo a partir do qual os indivíduos se guiam. Nesse sentido, o discurso produz e é produzido. Fazer gênero é, ao mesmo tempo, estar influenciado e estar produzindo grandes quadros de significados. Sua proposta é a de analisar os recursos que as pessoas têm disponíveis bem como os dilemas ideológicos que elas enfrentam. Esses dilemas são centrais para entendermos as mudanças e continuidades quando pensamos em gênero e trabalho.
Com uma pesquisa empírica realizada em duas indústrias de software na Suíça, Kelan busca entender como ficaram as relações de gênero no trabalho em um espaço (setor de tecnologia) e tempo em que novas relações foram estabelecidas. Os padrões de trabalho fordista foram substituídos por um modelo de flexibilização das relações de trabalho e insegurança. Ao mesmo tempo, não podemos negar que houve um avanço no tratamento das relações de gênero no espaço de trabalho. Apesar dessas transformações, há elementos que permanecem. Gênero, raça, classe e idade, entre outros marcadores, continuam tendo uma importância fundamental para a análise social. A diferença, ela alerta, é que eles estão sendo utilizados de outras maneiras.
Isso fica mais claro quando ela assume que uma das principais mudanças ocorridas nas relações entre gênero e trabalho na nova economia foi a valorização de características associadas ao feminino. Ela mostra como essas características são negociadas por homens e mulheres no espaço de trabalho de maneira a não desmasculinizar os homens. Ou seja, demonstra que a despeito da feminização das competências e, apesar de esse fenômeno parecer desafiar a organização hierárquica da binaridade de gênero, o trabalhador ideal da indústria de software é um homem. Para entender como isso é possível, ela mostra como essas competências são performadas e negociadas.
O melhor exemplo de como essa dinâmica se realiza é a maneira como os entrevistados e entrevistadas definiram o trabalhador ideal do setor e se posicionaram em relação a ele. A maioria respondeu que as competências técnica e social são essenciais para o desempenho do trabalho. A primeira é definida como flexibilidade. É a capacidade de constante atualização do conhecimento técnico e o estado mental flexível e aberto às novidades. A habilidade social é traduzida como comunicação e marketing. É vista como a capacidade de traduzir a demanda do cliente em um software. Para vender o produto, é preciso convencer o cliente e atender às suas expectativas, traduzindo essas expectativas por meio da técnica.
Apesar de serem apresentadas como categorias diferentes, Kelan entende que a habilidade de interação social assume, algumas vezes, o papel de outra habilidade técnica – embora não seja. A grande maioria dos entrevistados diz desempenhá-la melhor e a apresenta como o diferencial da profissão. É essa característica, em detrimento do conhecimento técnico, que eles invocam quando tentam se aproximar do trabalhador ideal.
A problemática que a autora enfrenta é que o trabalhador ideal é construído no discurso localizado e contextualizado como neutro para a categoria de gênero. Mas, na realidade, tanto a flexibilidade quanto a sociabilidade são categorias altamente generificadas. A flexibilidade é tomada como uma característica feminina pelo grande discurso porque, com ela, seria possível conciliar o trabalho da empresa com o trabalho do cuidado da casa e da família. O nó da questão é que os trabalhadores homens que têm filhos dizem preferir trabalhar no escritório, pois as crianças atrapalhariam seu desempenho. Essa escolha supõe que alguém fique em casa cuidando dos filhos – geralmente a esposa ou a babá. Além disso, também atesta que realizar teletrabalho e ter uma família são atividades incompatíveis. A flexibilidade é utilizada de maneiras diferentes por homens e mulheres. Eles a utilizam para ganhar mais dinheiro, acumulando diferentes projetos de trabalho. Elas, para conciliar trabalho pago e não pago. O cuidado não entra na construção da flexibilidade estabelecida para o trabalhador ideal. Por essa razão, esse trabalhador ideal não é neutro para a categoria de gênero. Antes, ele é masculino.
Além disso, apesar de a habilidade social ser associada a uma característica feminina, ela não é construída dessa mesma maneira quando se trata do trabalhador ideal. A sociabilidade como característica feminina e a sociabilidade como qualidade profissional eram mantidas separadas discursivamente e apareciam em momentos distintos nas entrevistas. Um dos casos emblemáticos é o da miss review, assim apelidada porque revisava os códigos dos colegas e era vista como prestativa, simpática e não-ameaçadora. Quando as mulheres desempenhavam tarefas colaborativas, sua feminilidade era reforçada. Quando eram os homens que realizavam tais tarefas, não eram vistos como fazendo o gênero feminino, mas como desempenhando uma tarefa que todo trabalhador de TI deve desempenhar. Por meio dessa separação discursiva entre uma característica considerada essencialmente feminina e uma habilidade profissional é que os homens podiam reivindicar essa característica sem prejudicar sua identidade masculina. Como a competência social sempre aparecia como neutra para a categoria de gênero, quando os trabalhadores e trabalhadoras respondiam perguntas sobre o trabalhador ideal, ela podia ser reivindicada igualmente por homens e mulheres.
A maneira como as pessoas acionam ou rejeitam a categoria de gênero para se construírem como trabalhadores ideais pode ser vista, também, nas narrativas dos entrevistados e entrevistadas sobre o seu passado e futuro profissional. Enquanto o gênero era invocado para justificar as escolhas e dificuldades do passado – os homens geralmente dizem que sempre gostaram de tecnologia e as mulheres afirmam que foram parar nessa profissão por acaso –, ele não era levado em conta, ou destacado, quando Kelan os questionava sobre seu futuro profissional. O grande achado de Kelan talvez esteja aqui: ela associa a maneira como o gênero é acionado ou desativado com o que ela chama de subjetividade neoliberal. É isso, aliás, o que causa o dilema ideológico enfrentado por esses sujeitos ao performarem gênero no trabalho.
Com “subjetividade neoliberal” ela quer dizer que a narrativa do empreendedor de si mesmo deixa pouco espaço para que qualquer coisa exista além do indivíduo. O trabalhador – neutro para o gênero – é construído como um valor de mercado e ele mesmo é responsável por sua própria valorização, seja por estar à disposição das empresas em horários e contratos de trabalho flexíveis, seja por ter que se atualizar constantemente. O sucesso depende cada vez mais da competência da pessoa do que de constrangimentos econômicos, políticos ou sociais. Situação semelhante acontece com a redundância do trabalhador, que é atribuída a um fracasso pessoal e a um erro de performance, e não ao funcionamento do capitalismo. A vida se torna uma empresa e a pessoa passa a agir como um agente racional no mercado, atuando com o sentimento egoísta de alcançar sucesso individual.
Assim, o conflito entre o que foi vivido (passado), onde há uma narrativa forte de gênero, e o que não foi vivido (futuro), não é um problema de ideologia. As pessoas só introduzem o gênero em suas biografias quando falam do que foi experimentado, dos conflitos que se apresentaram na prática. Isso não quer dizer que o dilema ideológico desapareça, pois as pessoas performam o gênero, mas são pedidas para não fazê-lo, pois são atores racionais e egoístas. “O trabalhador auto-empreendedor é construído como neutro para a categoria de gênero, mas vivencia a experiência de trabalhador como generificada” (p. 144).
Em suma, a tese de Kelan é que o discurso que constrói o trabalhador ideal de TI adiciona a ele as características do auto-empreendedor. Ele é neutro para o gênero porque as pessoas, independentemente de serem homens ou mulheres, são responsáveis pelo seu próprio sucesso. Acontece que esse sucesso esbarra no gênero, pois, na experiência real, o trabalhador ideal é geralmente um homem. É ele quem pode oferecer seu tempo livre e dedicar-se totalmente ao trabalho, sem se preocupar com as tarefas que envolvem o cuidado da casa ou da família. É ele quem tem a possibilidade de exercer a flexibilidade exigida pelo setor. Os atributos associados ao universo feminino no grande discurso são, na prática, performados pelos homens. Mas Kelan só consegue chegar a essa conclusão investigando os discursos localizados e contextualizados dos trabalhadores e trabalhadoras da indústria de software.
Além de apresentar uma metodologia inovadora para os estudos de gênero, trabalho e tecnologia, o livro de Kelan contribui para a desconstrução do discurso empresarial ao contrastá-lo com a realidade. A flexibilização das relações de trabalho e a figura do auto-empreendedor possuem o efeito perverso de colocar os trabalhadores e trabalhadoras em uma situação de constante insegurança, como defende Sennett. Mas essa perversidade atua de maneira ainda profunda quando inserimos a categoria de gênero na análise. A promessa do paraíso do trabalho em TI não se realiza para a grande maioria das mulheres. Elas continuam submetidas a constrangimentos estruturais, como a associação das mulheres com o cuidado da casa e da família, por exemplo, relatado por muitas mulheres em suas trajetórias profissionais.
A pesquisa possui, no entanto, algumas limitações. Ela não alcança nem a diversidade existente no campo de TI, já que se dedica a levantar dados apenas da indústria de software, nem a existente entre as mulheres. Os marcadores de raça, idade, sexualidade e classe não são levados em consideração – limitação, aliás, que Kelan reconhece.
De qualquer maneira, sua pesquisa marca um avanço na área de gênero, trabalho e tecnologia. Ela foi muito bem-sucedida ao tratar da categoria de gênero como flexível e dinâmica. Os homens e as mulheres de Kelan não obedecem à normatividade das regras hegemônicas de gênero e performam o trabalhador ideal de TI sem reclamar privilégios pelo fato de a flexibilidade, a sociabilidade ou o conhecimento técnico serem mais associados a uma identidade do que a outra. É um avanço, ainda mais, porque trata de mulheres que trabalham no setor de tecnologia e não de mulheres cujo trabalho classicamente associado ao universo feminino (caso das secretárias) foi afetado pela implementação dessa tecnologia. A pesquisadora estuda um universo do trabalho já modificado em relação aos padrões fordistas e em constante transformação. A vantagem é que ela não busca entender apenas as permanências (apesar de apontar para elas), mas busca entender também em que medida a entrada de mais mulheres em um mercado de trabalho tipicamente associado ao universo masculino pode ter afetado as relações de gênero dentro desse espaço.
As mudanças são tímidas, como ela aponta, porque o trabalho não é a única unidade de formação dos sujeitos. Interessante talvez fosse investigar se os novos arranjos familiares (tanto os que rompem com as normas da divisão sexual do trabalho, com o cuidado compartilhado dos filhos e das tarefas domésticas, por exemplo, quanto os que rompem com a heteronormatividade) interferem nas escolhas e trajetórias profissionais de homens e mulheres. Esse duplo enfoque, trabalhado a partir da perspectiva de que homens e mulheres estão performando gênero a partir de novas posições discursivas, não tradicionais, nos permitiria entender em que medida as diferenças e semelhanças são construídas nesses novos contextos. Além disso, nos permitiria entender como a binaridade de gênero é acionada – se é que o é – quando a equidade é a nova norma.
Referências
Beck, U.; Giddens, A. and Lash, S. Reflexive modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the modern social order. Cambridge, Polits, 1994. [ Links ]
Cockburn, C. and Ormrod, S. Gender and Technology in the Making. SAGE Publications Ltd., 1993. [ Links ]
Cockburn, C. Technology, Production and Power. In: Kirkup, Gill and Keller, Smith Laurie. Inventing Women:Sscience, Technology and Gender. Cambridge/Oxford, Polity Press/Basil Blackwell and The Open University, 1992, pp. 196-211. [ Links ]
Gill, R. and Grint, K. (orgs.) The Gender-Technology Relation: Contemporary Theory and Research. London, Taylor & Francis Ltd., 1995. [ Links ]
Ibge. O setor de tecnologia da informação e comunicação no Brasil: 2003-2006. In: Estudos e Pesquisas, Informação Econômica. Rio de Janeiro, nº 11, 2009. [ Links ]
Kirkup, G. and Keller, S. L. Inventing Women: Science, Technology and Gender. Cambridge/Oxford, Polity Press/Basil Blackwell and The Open University, 1992. [ Links ]
Scott-Dixon, K. Doing IT: Women Working in Information Technology. Toronto, Canada, Sumach Press, 2004. [ Links ]
Sennett, R. A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro, Record, 2004. [ Links ]
Wajcman, J. Feminism Confronts Technology. U.S., The Pennsylvania State University Press, 1991. [ Links ]
Webster, J. Gender, Paid Work and Information Technology. University of Edinburgh, Working Paper Series, Programme on information & communication technologies. Working Paper nº12, 1989, pp.1-12. [ Links ]
Notas
1 “O setor TIC pode ser considerado como a combinação de atividades industriais, comerciais e de serviços, que capturam eletronicamente, transmitem e disseminam dados e informação e comercializam equipamentos e produtos intrinsecamente vinculados a esse processo” (IBGE, 2009:12).
2 Segundo relatório da Comissão Européia para a sociedade da informação. [http://ec.europa.eu/information_society/activities/itgirls/doc/women_ict_report1.pdf, consulta em 20 de julho de 2010]
3 O dado é de pesquisa realizada em 2006 pelo site APInfo (http://apinfo.com), dedicado aos profissionais de TI no Brasil.
Bárbara Castro – Doutoranda em Ciências Sociais, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp (com período sanduíche na The Open University, Inglaterra). E-mail: bacastro@gmail.com.
[MLPDB]
Roman Barbarians: The Royal Court and Culture in the Early Medieval West | Yitzhak Hen
No livro em questão, Yitzhak Hen, professor da Ben-Gurion University of the Negev, em Israel, procurou demonstrar de que forma a alta cultura greco-romana permaneceu viva, mesmo depois de o Império Romano do Ocidente ter se “transformado” nos reinos bárbaros. A obra se inscreve, assim, na tradição historiográfica que acentua as continuidades entre as civilizações greco-romana e medieval, que discutimos de forma mais pormenorizada no número 9 (2) desta revista.[1]
O capítulo 1 (Introduction: A Series of Unfortunate Events) serve de introdução, discutindo sobretudo os entendimentos que, desde a Renascença, foram produzidos por historiadores e intelectuais a respeito do período entre os séculos III e VIII, hoje conhecido como “Antiguidade Tardia”.
Segundo o autor, a Antiguidade Tardia teria sido associada, durante a Renascença, através das obras de autores como Francesco Petrarca, Leonardo Bruni, Flavio Biondo e Andrea Bussi ao caos e à decadência. Essa visão pessimista teria sido reforçada no fim do século XVIII pela obra de Edward Gibbon (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire). Somente no início do século XX, através do austríaco Alfons Dopsch (Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung von der Zeit Caesars bis auf Karl den Großen) e do belga Henri Pirenne (Mahomet et Charlemagne), tal perspectiva teria sido desafiada. Desde então, graças ao trabalho de historiadores como Henri-Iréneé Marrou (Saint Augustin et la Fin de la Culture Antique), teria surgido uma escola continuísta, cuja tese principal é a de que os reinos bárbaros que sucederam o Império Romano do Ocidente seriam resultado sobretudo de uma transformação no mundo romano e não da conquista militar. É nela que o autor se inscreve, reconhecendo, não obstante, que as recentes obras de Bryan Ward-Perkins (The Fall of Rome and the End of Civilization) e Peter Heather (The Fall of the Roman Empire. A New History) exigem que se pinte um quadro mais sangrento dessa transformação.
No capítulo 2 (Adaptation: The Ostrogothic Court of Theoderic the Great), o autor trata do papel do rei como patrono das artes na Itália ostrogoda. Teodorico teria sido capaz de manter viva a cultura romana ao convidar intelectuais eminentes como Boécio e Cassiodoro para o convívio na corte. A repercussão da produção intelectual desses homens teria feito com que o soberano ostrogodo se tornasse um modelo a ser emulado por reis “bárbaros” posteriores até o período de Carlos Magno.
O capítulo 3 (Out of Africa: The Vandal Court of Thrasamund) discute tanto a atitude do rei vândalo Trasamundo frente à tradição cultural clássica como seu papel de patrono das artes. Buscando apresentar-se como um autêntico romano, Trasamundo teria adotado a tradição imperial de patrocínio da alta cultura e fomentado até mesmo uma espécie de “renascença vândala”. Esta, por seu turno, teria sido caracterizada especialmente pela poesia, com destaque para a coleção de poemas conhecida como “Anthologia Latina” (produzida antes da conquista bizantina de 533), além das obras de Blóssio Emílio Dracôntio e Fabio Claudio Gordiano Fulgêncio.
No capítulo 4 (Before and After: The Frankish Court of Chlothar II and Dagobert I), o autor aborda a Gália Merovíngia. Para ele, os reinados de Clotário II e Dagoberto I, durante a primeira metade do século VII, teriam sido especialmente importantes na continuidade cultural entre os mundos romano e medieval. A aliança então estabelecida entre as cortes reais, as elites locais e o movimento monástico iniciado por Columbano teria resultado em uma explosão da produção literária. Esta, por sua vez, teria permitido uma estável transição da vida intelectual da esfera laica para a eclesiástica no reino franco.
O capítulo 5 (Music of the Heart: The Unusual Case of King Sisebut) trata do reino dos visigodos na Hispânia durante o primeiro quartel do século VII. Os visigodos, recém convertidos ao catolicismo, teriam sido os primeiros entre os sucessores dos romanos a buscar um consenso de base político-religiosa. Esse projeto teria sido levado a cabo através de uma estreita aliança entre o rei e a Igreja, na qual se destacaram personagens como o rei Sisebuto e o arcebispo Isidoro de Sevilha. Como a Igreja controlava a produção intelectual, o patrocínio da alta cultura teria passado a estar diretamente relacionado com a legitimação da autoridade do monarca.
No capítulo 6 (Postcards from the Edges: A Prelude to the Carolingian Renaissance), o autor discute como Desidério (rei dos lombardos), Tassilo III (duque da Bavária), Offa (rei da Mércia), Alfonso II (rei de Galícia e Astúrias) e mesmo Harun aRashid (califa abássida de Bagdá) puderam ter sido tomados por Carlos Magno como exemplos recentes de sucesso no patrocínio das artes. Todos eles, em conjunto com os soberanos bizantinos, teriam sido os principais responsáveis pela manutenção da produção literária e artística de alto nível nos séculos VIII e IX.
O breve capítulo 7 (Conclusion) conclui a obra e nele o autor reitera sua tese de que a continuidade da produção intelectual nos séculos que se seguiram à “transformação” do Império Romano do Ocidente nos reinos bárbaros deu-se sobretudo graças ao patrocínio dos soberanos ostrogodos, vândalos, francos e visigodos. Cada um deles teria dado seguimento à tradição romana na qual o imperador assumia o papel de patrono das artes. Tais esforços, embora muitas vezes colocados em segundo plano quando comparados aos de Carlos Magno, teriam resultado no estabelecimento dos múltiplos centros de ensino que foram indispensáveis para que ocorresse a chamada “renascença carolíngia”.
A obra não deixa qualquer dúvida quanto ao amplo conhecimento e à visão de conjunto de seu autor. Há, contudo, algo a se dizer sobre a generosidade de sua avaliação da produção intelectual pós-romana. É no mínimo curioso como, para ele, algo aparentemente prosaico como a produção de um conjunto de poemas (como no caso da “Anthologia Latina”, no reino dos vândalos) possa implicar na continuidade da tradição clássica. É como se, para ele, a cultura greco-romana, que mesmo na Antiguidade Tardia produzira sistemas de pensamentos complexos como os neoplatonismos de Plotino e Proclo, ou mesmo um historiador do calibre de Amiano Marcelino, pouco tivesse perdido nos séculos seguintes, a despeito da relativa simplicidade da produção intelectual dos reinos de ostrogodos, vândalos, francos e visigodos. Diante disso, nos parece inevitável a dúvida sobre se o autor não tem a cultura greco-romana na devida conta ou se supervaloriza a produção intelectual da Europa ocidental nos séculos VI, VII e VIII.
Nota
1. SARTIN, Gustavo H. S. S. O surgimento do conceito de “Antiguidade Tardia” e a encruzilhada da historiografia atual. Brathair, n. 9 (2), 2009, pp. 15-40. Disponível em: http://www.brathair.com
Gustavo H. S. S. Sartin – Mestrando em História e Espaços UFRN. E-mail: ghsartin@gmail.com
HEN, Yitzhak. Roman Barbarians: The Royal Court and Culture in the Early Medieval West. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2007. Resenha de: SARTIN, Gustavo H. S. S. Yitzhak Hen e a continuidade cultural nas cortes bárbaras pós-romanas. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.10, n.1, p. 145-147, 2010. Acessar publicação original [DR]
The surgeon in medieval English literature – CITROME (RBH)
CITROME, Jeremy J. The surgeon in medieval English literature. New York: Palgrave MacMillan, 2006. (The New Middle Ages Series). 191 p. Resenha de: SANTOS, Dulce O. Amarante dos. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.29, n.57, jun. 2009.
O diálogo profícuo com a produção acadêmica francesa constitui-se em uma das principais características dos estudos medievais no Brasil, sobretudo no campo da história. A leitura crítica da obra em epígrafe contribui para a ampliação desse diálogo, desta vez com a produção inglesa, já que se trata da publicação, pela editora norte-americana Palgrave MacMillan, de uma tese de doutorado realizada na University of Leeds. Seu Institute for Medieval Studies, centro de referência na área dos estudos medievais, realiza anualmente o maior congresso internacional europeu da área. O autor, Jeremy Citrome, é atualmente professor assistente de literatura inglesa na University of Newfoundland and Labrador, no Canadá.
Na introdução, Citrome afirma que não se propôs a realizar uma obra de história da medicina nem de crítica literária, mas uma análise do poder social da metáfora do cirurgião nos textos poéticos religiosos e nos textos médicos em prosa, em língua vernácula, o inglês medieval (Middle English), no final da Idade Média. O rigor da investigação repousa na erudição do medievalista, que exibe domínio das fontes manuscritas e impressas além da extensa e valiosa bibliografia compulsada.
O exame da inter-relação entre os conceitos medievais de pecado e doença não é algo novo, muito menos a associação entre o físico (médico) e o padre confessor. O médico antigo cuidava da paixão (sofrimento) do corpo, o filósofo (e depois o padre confessor) aplicava-se a curar as doenças da alma, ou seja, os pecados. É bem conhecida também a imagem de Cristo como o Supremo Médico, aquele que traz o conforto físico e espiritual, perpetuada por Agostinho de Hipona. Essa imagem justifica-se, dentre outros fatores, porque grande parte de seus milagres foi cura de doentes (paralíticos, leprosos, cegos e surdos, entre outros) e igualmente porque trouxe a salvação à humanidade enferma pelo pecado. Nessa linha, nenhum físico poderia competir com as intervenções miraculosas de Deus.1 Outra questão abordada é a não distinção muito clara entre os físicos e os cirurgiões no período anterior ao século XIII, o grande divisor na história da medicina. Ambos podiam exercer as três estratégias da arte de curar os corpos enfermos: primeiro, a composição de regimes e dietas para a preservação da saúde corporal; segundo, a prescrição de remédios apropriados para cada caso e, por fim, o último recurso adotado quando os outros falhassem, a cirurgia, ou seja, a interferência direta no corpo. Este era pensado como criação divina, algo fechado (enclosure), sem lesões, inviolável, daí a proibição da dissecação dos cadáveres até o final do século XIV e o pouco desenvolvimento da anatomia. Além disso, para os gregos antigos a enfermidade era um processo de desestruturação interna do corpo humano. Para explicá-la Hipócrates de Cós (século V a.C.) criou a teoria humoral, retomada por Galeno (século II d.C.) e utilizada em toda a medicina medieval. Nessa teoria o corpo era formado por quatro humores ou compostos líquidos, a saber, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. A corrupção deles constituía-se na causa primeira de todas as doenças humanas.
Paralelamente ocorreu o debate em torno desta questão: a medicina era uma arte (techné ou ars) ou uma ciência (epistemé ou scientia)? Discussão interminável, que fazia da teoria uma ciência e da prática uma arte. Segundo Aristóteles, uma das grandes autoridades do período, a medicina estava mais para a techné grega (ou ars), porque mesmo sendo uma ciência fundada em princípios universais, tem como objetivo o incerto, o particular, o que lhe confere o estatuto de arte, no saber fazer. Porém, a medicina podia ser entendida como uma ciência, já que implicava racionalidade, explicação causal, observação, indução e dedução, previsões e hipóteses. Assim, nessa afirmação da medicina como um campo do conhecimento teórico no diálogo com a filosofia natural, os físicos escolásticos, atuantes nos Studia Generalia de Paris, Montpellier ou Bolonha, tornaram-se figuras proeminentes na hierarquia dos especialistas na cura das doenças: os cirurgiões, os barbeiros, as parteiras etc. É importante ressaltar que muitos físicos eram clérigos.
O grande mérito da obra de Jeremy Citrome consiste em sua contribuição para essas questões com sua nova leitura dos cânones do IV Concílio de Latrão (1215), destacando as repercussões nos meios médicos e eclesiásticos na época posterior. Nesse concílio, o papa Inocêncio III (1198-1216) implantou uma série de reformas, dentre as quais destacam-se a obrigatoriedade da confissão auricular anual para o perdão dos pecados e a proibição do exercício da cirurgia pelos clérigos, pois qualquer contato com sangue era incompatível com o exercício da atividade clerical. Consequentemente, a cirurgia passou a ser majoritariamente exercida por leigos e socialmente desprestigiada. No entanto, no final do século XIV e inícios do XV, a cirurgia começa a integrar o currículo dos cursos de medicina. Simultaneamente ocorre a proliferação de manuais de confissão2 e de cirurgia, tais como o de Guy de Chauliac e o de Lanfranco, em línguas vernáculas na Inglaterra e em outros reinos europeus. Assim, segundo Citrome, essas duas reformas foram responsáveis pelo aparecimento da metáfora da cirurgia como tratamento para ferimentos, entendidos muitas vezes como as marcas corporais do pecado. Praticamente todo manual de confissão no século XIV incorpora essa imagem dos ferimentos corporais ligados ao pecado, pois para esses clérigos a relação entre a aflição física e a espiritual não era meramente figurativa. Associavam aflições corporais com intemperança moral. Portanto, as feridas eram sinais das punições futuras dos pecadores no post mortem. O autor demonstra essa tese numa análise instigante das fontes literárias e médicas dos séculos XIV e XV.
A título de exemplo, Citrome explora o poema-sermão Cleanness, cuja narrativa linear de história sagrada bíblica inicia-se com episódios do Velho Testamento, o Dilúvio e a destruição da cidade de Sodoma, e chega até a Encarnação de Cristo no Novo Testamento. Ao dialogar com outros estudiosos do poema, demonstra, de forma interessante, a interface da medicina com a teologia, quando o autor anônimo (Pearl Poet) comparou as diferentes ações divinas, no Velho e no Novo Testamento, com tratamentos médicos opostos. O poeta reflete a divisão discursiva já referida entre as atuações dos físicos e dos cirurgiões, apresentando o Deus do Velho Testamento como cirurgião e Jesus Cristo, num segundo momento, como o físico que cura sem ferir. Assim, a primeira imagem é a de Deus como o cirurgião que queima e destrói o tecido corrompido do corpo social, justificando, portanto, a destruição punitiva para os sodomitas em função dos desregramentos sexuais, considerados pelo poeta como lesões ou fístulas que poderiam infectar toda a sociedade. Nessa estrutura discursiva e mental que trabalha com antíteses, Cristo torna-se, para o poeta, o físico que trouxe tratamentos médicos suaves, pois cura sem ferir os pecados humanos.
Em outro capítulo da obra, Citrome volta-se para a leitura crítica da obra Concilium consciencie, uma antologia de poemas sobre diversos temas religiosos do século XIV, de autoria do clérigo John Audelay. O exame desses poemas é duplamente valioso porque aponta para a ubiquidade da metáfora das lesões do pecado e também porque se trata de um relato autobiográfico de aflições vividas, dos sofrimentos crônicos, que defende a confissão como o único remédio verdadeiramente eficaz contra esses males. Assinala ainda os vários significados da doença na cultura penitencial do final da Idade Média, na Inglaterra, e a importância contínua da metáfora do cirurgião para os discursos de salvação.
A fim de contrapor fontes médicas às literárias de cunho religioso, o autor debruçou-se também na versão em Middle English da obra latina do século XIV, Practica, do cirurgião inglês John de Arderne. Num dos tratados desse texto, Fistula-in-Ano, Citrome desvenda a imagem ambivalente do cirurgião e de sua atividade porque corta, mas depois une, remove, porém logo restaura, fere e, por fim cura, assim como o próprio Deus. Dessa maneira, justifica a cirurgia como atividade salvadora e, ao mesmo tempo, defende a proposta de valorização social do seu ofício de cirurgião.
Por fim, convém ressaltar a abordagem interdisciplinar, hoje tão incentivada nas pesquisas científicas, mas nem sempre bem-sucedida, operada por Citrome tanto na composição do corpus documental quanto no diálogo com a historiografia social da medicina e com a produção da crítica literária sobre a época medieval. Este livro integra, assim, os títulos da série The New Middle Ages, organizada por Bonnie Wheeler, especialista em literatura medieval da Southern Methodist University (SMU), nos Estados Unidos, cuja marca distintiva é a publicação de estudos acadêmicos interdisciplinares sobre as culturas medievais.
Notas
1 AGRIMI, Jole; CRISCIANI, Chiara. Charité et assistance dans la civilisation chrétienne médiévale. In: GRMEK, Mirko (Dir.). Histoire da la pensée médicale en Occident. Paris: Seuil, 1995. p.151-174. [ Links ]
2 Em Portugal traduziu-se o Libro de las confesiones de Martim Perez (Universidade de Salamanca, 1316).
Dulce O. Amarante dos Santos – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Goiás (UFG). Pesquisadora do CNPq – Campus II Samambaia. 74001-970 Goiânia – GO – Brasil. E-mail: dulce@fchf.ufg.br.
[IF]Black townsmen: urban slavery and freedom in the eighteenth-century Americas – DANTAS (RBH)
Há cerca de três décadas os estudos comparativos das várias regiões do Novo Mundo consideradas como escravistas andam em descrédito entre a maioria dos historiadores especialistas no tema. A renovação historiográfica, iniciada nos Estados Unidos no final da década de 1960, julgava como simplista e inadequada a abordagem que enfatizava as diferenças entre as sociedades escravistas ibero-americanas e anglo-saxônicas, particularmente no que diz respeito à história das suas instituições e culturas distintas.1 Da mesma forma, rejeitava como mecanicistas as análises que insistiam nas semelhanças, naquelas mesmas sociedades, da natureza da escravidão como um sistema de exploração econômica.2 Já a mais conhecida tentativa revisionista de redirecionar os estudos comparativos para a problemática das classes constituintes dos regimes escravistas3 acabou sucumbindo, apesar da matriz marxista compartilhada, diante da crescente influência de E. P. Thompson sobre os estudiosos da escravidão e da consequente preocupação em desvelar o escravo como agente de sua própria história. Desde então, vem prevalecendo a tendência de concentrar os esforços em pesquisas bem delimitadas, seja pelas temáticas,4 seja em termos regionais,5 tendência essa claramente reforçada pela progressiva consolidação das várias correntes da História Social da Cultura. E, é inegável que o resultado tem sido o enriquecimento quase que imensurável da produção em torno da escravidão moderna, erguendo-a a uma posição de grande destaque na historiografia brasileira, caribenha, norte-americana e, de maneira menos impactante, na da América Hispânica continental. Ao mesmo tempo e correlato à crescente especialização dos estudos do escravismo, vem-se assistindo ao surgimento da História da África, cada vez mais aprofundada e nitidamente vinculada aos rumos da História Mundial. Leia Mais





