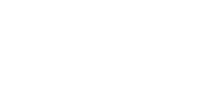Posts com a Tag ‘PALAMARTCHUK Ana Paula (Org d)’
Anarquismos: história e historiografia em perspectivas multidisciplinares e interseccionais / Crítica Histórica / 2020
O anarquismo acabou. Viva o anarquismo!
Hoje engendra amanhã.
O presente projeta sua sombra
muito longe no futuro.
Emma Goldman, 1923.
O século XXI emerge com a efervescência de “novos” movimentos sociais: os movimentos antiglobalização, anticapitalista, Occupy Wall Street, a “primavera árabe”, as ocupações das praças e escolas por jovens estudantes, movimentos pela mobilidade urbana e, no Brasil, as “jornadas de junho” em 2013. São movimentos sociais ressignificados, horizontalizados, de ação direta, com agenda clara e específica ligadas a direitos sociais fundamentais: educação, saúde, transporte. Desses eventos, ressurgem elementos do tradicional pensamento anarquista, ressurgem movimentos que lembram o anarquismo histórico, seja lá o que isso signifique.
Concomitantemente, novas pesquisas, novas reflexões, novas abordagens, novos temas, novos recortes, novos sujeitos e outros tantos nem tão novos assim, começaram a elaborar aproximações entre o pensamento e a prática anarquista ao longo da história com demandas atuais, como as questões de gênero, especismo, questões ambientais e aquecimento global, discussões pós e decoloniais, raciais e étnicas. Há pesquisas e estudos que sistematizam a contribuição anarquista histórica para essas questões e vice- versa, que articulam a contribuição atual dessas questões ao pensamento anarquista. Em uma outra seara, porém não isolada, há pesquisas sobre as experiências de autogestão e formas horizontais e autônomas de gestão, como as fábricas recuperadas na Argentina e em movimentos e movimentações sociais nesse século. Há ainda o desafio do pensamento e do movimento anarquista diante do levante conservador recente, com destaque para apropriação do discurso libertário pelos ultraliberais, com o chamado anarco-capitalismo, por exemplo. Aqui, pesquisadores enfrentam o desafio entre a crítica à conciliação de classes proposta pelas esquerdas que foram vitoriosas recentemente (se expondo à traição) e à cooptação do discurso anarquista pela ultra direita e pelos neoliberais.
Ainda que o dossiê Anarquismos: história e historiografia em perspectivas multidisciplinares e interseccionais não tenha contemplado esse horizonte de expectativas, tal qual se apresentou na chamada de artigos, o resultado aqui apresentado diz muito sobre o estado da arte da pesquisa sobre o anarquismo na historiografia nacional e em como, algumas outras áreas das ciências humanas, têm se aproximado do debate e das aproximações teórico-metodológicas sobre o anarquismo.
Entre os artigos aqui organizados, abrem o dossiê dois textos de caráter teórico que, como recomenda a boa historiografia, intervêm diretamente na pesquisa empírica. O primeiro deles, “Anarquismo italiano, transnacionalismo e emigração ao Brasil: Contribuições ao debate teórico”, do historiador e professor Carlo Romani (UNIRIO), demonstra como, no entre séculos (XIX-XX), a formação de redes transnacionais entre os ativistas anarquistas, apesar de já bastante conhecida da historiografia, transforma-se em regra. Nesse sentido, Romani indica como a vinda de imigrantes anarquistas para o Brasil é parte constitutiva dessa história transatlântica e como, especialmente em São Paulo, esse encontro de anarquistas italianos permitiu a criação de grupos organizados em rede que foram determinantes para a difusão do anarquismo no Brasil no início do século XX.
O segundo, “A bandeira negra entre outras: (trans) nacionalismo e internacionalismo na construção do anarquismo no Brasil (1890-1930)”, do historiador Kauan Willian dos Santos (doutorando em História Social / USP), articula a conexão entre anarquismo, internacionalismo e transnacionalismo, a qual se organiza pela imigração, pelas redes de ativistas e pela circulação de ideias e experiências, durante a chamada Primeira República. Nesse sentido, traz à tona a visão de nação, nacionalismo, patriotismo e, aqui é importante ressaltar, a visão de raça de seus agentes, naquilo que orienta conceitos e práticas de classe, no interior do debate entre trabalhadores nacionais e estrangeiros. Sugere, então, a divisão em três momentos diferentes da história do anarquismo.
Em um segundo bloco, estão integrados os artigos que dizem respeito a desdobramentos e especificidades da história do anarquismo, no início do século XX, no Brasil. “Nos bastidores de um jornal anarquista: as particularidades do processo de produção de um jornal libertário na Primeira República Brasileira (1900-1935)”, do doutorando em História (UNESP / Assis-SP), Lucas Thiago Rodarte Alvarenga, apresenta as minúcias da produção de alguns jornais de propaganda anarquista, no início do século XX. Assim, demonstra como ativistas organizaram seus periódicos libertários da escolha temática à impressão, da tipografia à distribuição. Já Luciano de Moura Guimarães, também doutorando em História Social (PUC-Rio) e professor do Colégio Pedro II, apresenta uma instigante perspectiva sobre o movimento anarquista fora do eixo Rio-São Paulo, tradicionalmente espaços de excelência da historiografia sobre o tema. O artigo, “Anarquia na Bahia (1920-1922) – militância, repressão e circulação geográfica na trajetória de Eustáquio Marinho”, refaz os passos do anarquista Eustáquio Marinho na circulação de ideias e de como sua presença em Salvador- BA, após voltar de um período no Rio de Janeiro onde atuou nas greves de 1918 e da “Insurreição Anarquista” no mesmo ano, será importante para a organização do movimento operário soteropolitano. Participando ativamente da organização dos trabalhadores da construção civil e da transformação das estratégias de luta operária, no que podemos chamar de anarcossindicalismo de caráter revolucionário, foi protagonista da emergência do anarquismo na Bahia. Ao mesmo tempo em que acompanha a trajetória do ativista anarquista, o autor empreende uma análise bastante perspicaz da repressão policial que se seguia a cada ação dos trabalhadores na luta por direitos, através da grande imprensa.
Retomando a história da “Insurreição Anarquista”, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1918, Hamilton Moraes Theodoro dos Santos, doutorando em História Comparada (UFRJ), aprofunda as análises o sindicalismo revolucionário de inspiração anarquista e que teve papel central na organização do movimento operário brasileiro na Primeira República. Percorrendo os mecanismos de resistência direta ao capitalismo, o autor traça elementos de influência da Revolução Russa na articulação de novas perspectivas de organização e de ação do movimento operário. O artigo seguinte, “Educação, sindicalismo revolucionário e anarquismo nos Congressos Operários Brasileiros (1903-1921)”, do historiador (UFF) e mestre em Educação (UNIRIO), Antonio Felipe da Costa Monteiro Machado, retoma a organização dos três grandes Congressos Operários Brasileiros (1906, 1913 e 1920), a partir das propostas educacionais voltadas para os trabalhadores e seus filhos.
Fechando esse bloco, o artigo “A condição social da mulher e o debate sobre gênero e patriarcado: contribuições de Maria Lacerda de Moura”, das autoras Tatiana Ranzani Maurano (psicóloga e doutoranda em Educação / UNESP) e Glaucia Uliana Pinto (psicóloga e doutora em Educação / Unimep) apresentam aproximações entre a obra da anarquista brasileira Maria Lacerda de Moura e o debate sobre a condição feminina. Ancorando suas análises no materialismo histórico dialético, focam no livro Renovação, no qual Lacerda de Moura explicita como a mulher trabalhadora tem seu corpo subjugado e, por conta disso, seu lugar social é o da procriação e cuidado dos filhos. Único artigo escrito por mulheres sobre uma mulher anarquista, demonstra como ainda é preciso abrir fronteiras e derrubar muros para pensar na historiografia da desigualdade de gêneros e do papel das trabalhadoras na luta operária.
Os dois artigos seguintes empreendem análises sobre as influências teóricas no movimento anarquista da virada do século XIX para o XX. No artigo “Apropriação e produção de teorias evolucionistas nos periódicos anarquistas brasileiros (1900-1930)”, Gilson Leandro Queluz, mestre em História (UFPR) e doutor em Comunicação e Semiótica (PUC-SP), analisa a apropriação e produção de teorias evolucionistas presentes nos periódicos anarquistas brasileiros nas primeiras décadas do século XX. Segundo o autor, essa apropriação pelos movimentos anarquistas passou também pela crítica ao colonialismo autoritário, racista e hierárquico. Pensando a partir da ideia de hibridismo, o artigo nos brinda com um feliz encontro de ideias, as quais forneceram elementos para a produção de uma teoria crítica libertária a respeito da ciência.
Hugo Quinta, mestre em Estudos Latino-Americanos (UNILA) e doutorando em História (UNESP, campus de Assis), no artigo “Os estudos do crime sob a ótica de um anarquista: Pietro Gori e a revista Criminalogía Moderna”, examina os estudos do crime sob a ótica de Pietro Gori (1865-1911), personagem múltiplo, um anarquista-poetadramaturgo-advogado italiano que, entre 1898 e 1902, reside em Buenos Aires e ali funda a Criminalogía Moderna, primeira revista de criminologia da América Latina. O autor propõe uma análise “radiográfica” do trabalho de Gori sobre criminologia, ciência recentemente criada e ainda, naquele momento, em fase de consolidação. O artigo levanta indícios de como o anarquismo e a criminologia conviveram, às vezes não sem contradições, em um personagem tão múltiplo.
Fechando o dossiê, estão três artigos que articulam o (trans)nacionalismo no movimento anarquista em outros países e períodos. Abrindo este último bloco, o artigo “Repassando a chama – sindicalismo e anarquismo na Alemanha, do período imperial até a segunda guerra mundial”, do doutorando em História Moderna (JGU Mainz-Alemanha), Moritz Peter Herrmann, propõe-se a uma tarefa difícil, porém realizada com brilhantismo. O artigo parte da ideia de que pensar anarquia e anarquismo na Alemanha é sempre tomado por certo obscurantismo, como ele afirma, “tanto pelo suposto caráter nacional, como pelo fato de que a história da classe operária alemã ser dominada pela social-democracia, um movimento centralizador e estatista, defendendo o socialismo científico de Marx e Engels.” Nesse sentido, faz um esforço bastante interessante de mapear, entre fins do século XIX e início do XX, os projetos radicais rechaçados pela hegemonia da social-democracia, assim como os ativistas que se recusaram ao dirigismo e que, mesmo como minoria, tiveram papel importante nas lutas operárias e na formação do anarcossindicalismo alemão. Ao final, ainda, ganhamos de brinde a presença das mulheres no anarquismo alemão e como o debate já se colocava em termos de uma percepção da existência de uma dupla opressão para as mulheres trabalhadoras e anarquistas. Essa é uma pesquisa que precisamos fazer com urgência.
Viajando pela Europa e chegando no período entreguerras, encontramos o poeta anarquista espanhol, Léon Felipe. “La Insignia e o Anarquismo: a experiência da guerra civil espanhola na poética de Léon Felipe”, artigo escrito pelo mestre em Literatura (UFES), que além de professor da área é também advogado criminalista, Felipe Vieira Paradizzo, aborda a Guerra Civil Espanhola e a produção poética de Felipe e demonstra as relações estreitas entre o ativismo anarquista e a criação.
Fechando o bloco das experiências (trans)nacionais, no artigo “A prática de luta armada da Organización Popular Revolucionária – 33 Orientales no Uruguai (1968-1972)”, Rafael Viana da Silva, doutor em História (UFRRJ), busca analisar a formação e ação do “braço armado” da Federación Anarquista Uruguaya, em um período de endurecimento do regime constitucional. Pensando nas influências da Revolução Cubana na América Latina, o artigo busca suas interconexões com a prática guerrilheira uruguaia.
Aproveito a deixa e recomendo a resenha, que se encontra no final do dossiê, elaborada pelo mestrando em História (UFAL), Igor Ribeiro, da coletânea de artigos História do anarquismo e do sindicalismo de intenção revolucionária no Brasil: novas perspectivas (Curitiba: Editora Prismas, 2018), organizada por dois dos autores deste dossiê, Kauan Willian dos Santos e Rafael Viana da Silva.
Por fim, encerro esta apresentação com o artigo de Flávio José de Moraes Junior, mestre em História (UFRJ), “Manifestações de rua como laboratório político – 2013 e suas emergentes formas”. Analisando os mecanismos de comunicação entre diferentes grupos sociais nas manifestações de rua no Rio de Janeiro, entre 2013 e 2014, a partir de um contexto mais geral e inseridos nos movimentos “antiglobalização”, o artigo aponta para características de organização que tem como fundamentos na ação política, a horizontalidade. Ao mesmo tempo, tenta entender o surgimento da tática black bloc em meio à brutal repressão policial e a relação deles com “velhos” movimentos sociais e partidos políticos de esquerda.
Não à toa, a criminalização dos movimentos sociais ocorrida durante as “jornadas de junho” serviu também para disseminar “velhas” ideias de que o anarquismo é inimigo da sociedade e do estado. Mas o que fica é a certeza de que é da experiência de luta dos trabalhadores, daquele longínquo final do século XIX e início do século XX e que se segue, por onde encaramos o presente e miramos o futuro.
Ana Paula Palamartchuk
Julho / 2020
PALAMARTCHUK, Ana Paula. Apresentação. Crítica Histórica, Maceió, v. 11, n. 21, julho, 2020. Acessar publicação original [DR]
História e Literatura / Crítica Histórica / 2015
No livro intitulado Seis passeios pelos bosques da ficção, que reúne a famosa série de seis conferências ministradas em 1993 na Universidade de Harvard, o escritor e teórico italiano Umberto Eco nos fornece inúmeras pistas de como, no papel de leitores, entrarmos, percorrermos e sairmos dos bosques da ficção. Entre elas, preconiza o princípio da suspensão da descrença: o leitor, mesmo sabendo que aquilo que se narra parte do imaginário, nem por isso deve pensar que o escritor conta mentiras. Afinal, todo autor literário, mesmo quando atua no campo mais radical de evasão da realidade (a literatura fantástica, por exemplo), delimita seu “pequeno mundo” a partir da experiência numa realidade cuja estrutura total não lhe é possível descrever. Ler a obra literária teria, portanto, a mesma função lúdica do brinquedo ou do jogo infantil – dar sentido a um mundo cujos meandros e trajetória ainda não mapeamos inteiramente, e cujo processo de formação é demasiadamente extenso e complexo -, sendo as possibilidades de decodificação do texto condicionadas, entre outras coisas, pela “enciclopédia” ou pelas “lentes” que cada leitor traz consigo ao adentrar o bosque: sua experiência pessoal, mas também sua relação prévia com outros textos (ficcionais ou não), sua trajetória educacional e profissional, suas competências e habilidades.
E o que ocorre quando os bosques da ficção são trilhados com as lentes da história? Este Dossiê História e Literatura visa, justamente, discutir as interrelações entre o fazer histórico e o literário, as quais se constituem propriamente em “vias de mão dupla” no bosque de múltiplas possibilidades: isto é, tanto a dinâmica que se estabelece entre a criação ficcional e seus quadros históricos de referência, quanto o uso de ficções, modelos heurísticos e estratégias da construção literária pelos historiadores na constituição de suas narrativas. Assim, devido a esse recorte que possibilita, de forma abrangente, os intercâmbios e cruzamentos entre os dois campos expressos no título – história e literatura / literatura e história – as questões abordadas neste dossiê caracterizaram-se pela variedade de temas, autores, contextos e aportes teóricos.
O volume inicia-se com “Versos do Cativeiro: um olhar sobre a imposição do nacionalismo chileno em Tacna e a resistência peruana na obra de Federico Barreto”, de Maurício Marques Brum, que problematiza o tema da formação das identidades nacionais na América Latina, tendo como objeto a poesia do peruano Federico Barreto, e sua função de resistência à chilenização da província de Tacna. A temática da formação identitária, dessa vez no Brasil, é também o ponto de partida do artigo de Luiza Rosiete Gondin Cavalcante (“Entre ‘registro’ e poesia: história e construção literária em Iracema, de José de Alencar”), no qual diversos elementos da composição do célebre romance indianista alencariano, presentes, por exemplo, na construção dos protagonistas, são explorados em sua relação com a história, de modo a demonstrar algumas das formas através das quais Iracema ressemantiza, através da transfiguração literária, o processo de colonização brasileira marcado pelo hibridismo.
Se a formação da identidade nacional brasileira está marcado por semelhante processo de hibridização cultural de que nos falam autores como Beatriz Sarlo e Nestor García Canclini acerca de outros países latino-americanos, a crônica, gênero híbrido por excelência, a meio caminho entre a história, a literatura e o jornalismo, torna-se, sem sombra de dúvida, um dos objetos fundamentais para a análise das interseções entre o histórico e o literário. Em “O tempo escrito com a pena da galhofa e a tinta da melancolia”, Ana Lady da Silva debruça-se sobre duas das crônicas de Machado de Assis, de modo a observar a atitude cética e crítica do autor frente ao horizonte de expectativas (para utilizar a categoria de Jauss) das elites brasileiras do final do século XIX diante de questões como a Abolição e a República. Também Poliana dos Santos, no artigo intitulado “História, subjetividade e especulação nas personagens machadianas”, vem contribuir com a inesgotável fortuna crítica sobre Machado, examinando indícios significativos na construção das personagens de contos machadianos, e sua relação com o contexto de alargamento e exploração das forças econômicas, na passagem do Império à República, que desemboca na especulação financeira.
Em “Histórias de Ricardo Reis”, Priscila Tenório Santana Nicácio, tendo como objeto de análise o romance O ano da morte de Ricardo Reis, de José Saramago, investiga alguns dos procedimentos pós-modernos de referenciação do histórico na literatura, como na chamada metaficção historiográfica, no qual os aspectos históricos não são documentais em seu sentido tradicional, mas elementos intra e / ou paratextuais que refletem sobre sua própria forma de produção. Já no artigo “A Pedra do Reino e a carnavalização”, que encerra o Dossiê História e Literatura, José Nogueira da Silva utiliza a categoria bakhtiniana da carnavalização para analisar, no Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do vai-e-volta, de Ariano Suassuna, o apagamento da dicotomia erudito / popular.
Nesse sentido, o dossiê, além de possibilitar mais uma vez o debate intelectual acerca do tema, tem como objetivo criar uma rede de intelectuais preocupados com as conexões entre o histórico e o literário, de modo a criar as necessárias pontes para o desenvolvimento do campo historiográfico da História Cultural.
Na Seção de Artigos, Dagmar Manieri abre com um estudo do conceito de virtù em Nicolau Maquiavel. A partir do Renascimento italiano, o autor adentra o campo da política, a um novo pensamento sobre a história, assim como da prática política. E é nesse quadro histórico que o pragmatismo de Maquiavel aparece e está inserido. Assim, “O conceito de virtù em Maquiavel” apresenta a importância da ética na eficácia da prática política, sem a qual funda-se o que se denomina de ciência política moderna.
O segundo artigo, “Cristãos-novos, inquisição e escravidão: Ensaio sobre inclusão e exclusão social (Alagoas Colonial, 1575 – 1821)”, de Alex Rolim Machado, trabalha a “Alagoas Colonial” e os assuntos relacionados aos cristãos-novos, ainda lacunares. Os argumentos do autor tendem a trazer os personagens às novas interpretações, inserindo-os em um mundo multifacetado, de intensa comunicação com outras categorias sociais das Vilas, procurando observar os polos de inclusão e exclusão aos quais estavam sujeitos e, por decorrência da vivência americana, também atuavam na estratificação da sociedade.
Em “A imigração subsidiada: os contratos para introdução de espanhóis no Pará”, Francisco Pereira Smith Júnior e Rodrigo Fraga Garvão destacam que entre os anos de 1890 e 1920, a história das migrações internacionais causou impacto no Pará, já que houve, neste período, uma eficaz propaganda migratória na Europa fazendo com que o Estado paraense recebesse um significativo número de imigrantes europeus. Argumenta que os recém chegados fizeram parte de um exército de estrangeiros que tinha o papel de povoar e trabalhar na Amazônia e que, neste cenário, destacaram-se muitos espanhóis que vieram viver o sonho do “eldorado amazônico”, juntos com suas famílias e recomeçaram sua história de vida. Assim, o artigo traça um perfil desse imigrante espanhol e analisa o processo de constituição dos núcleos populacionais em que estes espanhóis estavam inseridos.
Já o quarto artigo que compõe a seção, de Augusto Neves da Silva, intitulado “Metamorfoses de uma festa: Histórias do carnaval em Recife (1955-1972)”, discute as transformações dos carnavais brincados na cidade do Recife entre os anos de 1955 e 1972, voltando-se à compreensão das relações estabelecidas entre o poder público municipal, os foliões e alguns intelectuais. Essas relações geraram conflitos que, por sua vez, deram o tom da identidade que se buscava construir nesta festa. A reflexão aqui foi tentar entender quais os espaços criados na cidade para os dias de Momo e os sentidos dessa tradição.
Fechando a Seção Artigos, Wanderson Chaves nos apresenta “A Fundação Ford e o Departamento de Estado Norte-Americano: a montagem de um modelo de operações no pós-guerra”, no qual brilhantemente demonstra que o relacionamento estabelecido entre a Fundação Ford e o Departamento de Estado, bem como com a Agência Central de Inteligência (CIA), constituiu-se em aspecto definidor e estruturante, ainda que secreto ou sigiloso, da atuação dessa organização filantrópica e destes órgãos de governo quanto às políticas de inteligência e propaganda. Reconstruindo documentalmente os acordos tal como se deram no momento de seu estabelecimento, ilumina a história da Guerra Fria.
E, finalmente, o número 11 da Revista Crítica Histórica encerra-se com a contribuição de uma das organizadoras do dossiê, na Seção Ensaios, que articula-se profundamente com o debate apresentado no volume. Ana Claudia Aymoré Martins, em “Cartografias imaginadas: Brasil e Cabo Verde na rota dos signos”, faz uma reflexão sobre a construção simbólica da insularidade na formação nacional do Brasil e de Cabo Verde, suas consonâncias e diálogos.
Agora, só nos resta convidá-los à leitura, certas de que as contribuições aqui publicadas dialogam diretamente com a história e a historiografia regional e nacional.
Ana Claudia Aymoré Martins
Ana Paula Palamartchuk
Maceió, julho de 2015
MARTINS, Ana Claudia Aymoré; PALAMARTCHUK, Ana Paula. Apresentação. Crítica Histórica, Maceió, v. 6, n. 11, julho, 2015. Acessar publicação original [DR]
História, Estado, Relações de Poder e Movimentos Sociais / Crítica Histórica / 2013
A edição da Revista Crítica Histórica nº 8 – Dossiê História: Estado, Relações de Poder e Movimentos Sociais apresenta temáticas que se estendem da organização do um comércio legal na grande Senegâmbia, pós proibição do tráfico de escravos, atravessando o Atlântico e terminando no Brasil para entender a formação de relações de poder nos oitocentos, chegando ao debate racial dos anos trinta.
O artigo que abre o Dossiê, apresenta como na Senegâmbia Histórica, após a proibição do tráfico de escravos, outras atividades comerciais se desenvolveram. A extinção do tráfico negreiro alterou a visibilidade das relações de poder sobretudo, econômicas, políticas e sociais, no interior da Costa da Guiné e daí com os portugueses. Quais atividades comerciais se formam aí e como elas aconteciam são perguntas as quais o artigo de Diego Zonta e Cristina Portellla, pretendem responder.
Já o artigo de Martha Vieira, procura entender como o processo de Independência do Brasil, em especial, entre 1821 e 1822, alterou significativamente as relações políticas institucionais na Província de Goiás, gerando uma crise de autoridade local que acabou por reorganizar seus próprios fundamentos.
Pensando no cotidiano, Sebastião Pimentel Franco, apresenta-nos as características sociais da população da Comarca de Vitória (ES) em meados dos oitocentos. Ressalta-se, porém, no artigo, como, através dos autos criminais, é possível dar visibilidade aos aspectos do cotidiano daquela sociedade.
De forma geral, o artigo de Célia Nonato articula a ideia de que o messianismo oitocentista pode ser pensado como movimentos sociais diferenciados na medida em que se articularam no mundo rural, contra o reformismo e o barroco, tornando tais aspectos centrais na ação coletiva que empreenderam e projetaram.
Encerrando o Dossiê, o artigo sobre o médico alagoano, Arthur Ramos, parte de sua atuação profissional, em especial entre os anos trinta e quarenta, na qual atua em diferentes áreas cujo foco central era o “racismo”, sempre tratado pelo médico nas suas dimensões políticas, sociais e culturais.
Na Seção Artigos, há uma complexa e interessante abordagem sobre a historiografia do Congo, ao mesmo tempo em que a articula na abordagem epistemológica e nas estratégias metodológicas plurais que evidenciam as contribuições da historiografia africanista ao campo da História.
Ana Paula Palamartchuk – Professora Doutora. Editora Chefe / Coordenadora do Dossiê
PALAMARTCHUK, Ana Paula. Apresentação. Crítica Histórica, Maceió, v. 4, n. 8, dezembro, 2013. Acessar publicação original [DR]
História Social do Trabalho / Crítica Histórica / 2012
Fechamos a edição da Revista Crítica Histórica nº 5 – Dossiê História Social do Trabalho no Brasil certos de que o debate intelectual é parte central na construção do conhecimento. Elaborado a partir de convites a pesquisadores, em especial do Nordeste brasileiro, o presente Dossiê marca a dimensão em que essa área temática e as suas diferentes abordagens se encontram e as possibilidades se apresentam de forma expressiva. Os seis artigos que o compõem, estabelecem o diálogo conceitual e empírico de longa tradição entre os historiadores e cientistas sociais.
Os artigos abrangem um recorte temporal que extrapolou os marcos do período republicano da pesquisa precedente e se estendem tematicamente nas experiências dos trabalhadores brasileiros. No interior destas histórias, os temas são variados e enfatizam desde os paradigmas interpretativos e o debate historiográfico a respeito das relações entre Estado e trabalhadores, passando pelas experiências e processos da relação dos trabalhadores (urbanos e rurais) com instituições de Estado e com organizações sindicais, pelos conflitos trabalhistas e o movimento operário, o trabalho e os trabalhadores no mundo contemporâneo.
O artigo “Rodando a baiana e interrogando um princípio básico do comunismo e da história social: o sentido marxista tradicional de classe operária”, de Antonio L. Negro, abre o debate provocando a reflexão acerca dos limites do sentido marxista tradicional de classe operária para entender a formação da classe trabalhadora no Brasil. Chama a atenção para as especificidades dessa conceituação tradicional que, centrada na formação da classe trabalhadora inglesa, carrega uma distinção entre o fenômeno histórico e o conceito.
Partindo da sistematização da produção historiográfica no Brasil das últimas décadas, o segundo artigo que compõe o Dossiê, “Pela Reforma, Contra a Revolução: notas sobre o reformismo e colaboracionismo na história do movimento operário brasileiro da Primeira República”, de Tiago Bernardon de Oliveira, pontua com pertinência a centralidade que algumas temáticas ocuparam no interior da História Social do Trabalho. Ao constatar que correntes do movimento operário da Primeira República, muitas vezes consideradas como reformistas, estiveram marginalizadas da produção historiográfica mais recente, o artigo busca no sindicalismo reformista elementos formadores de uma cultura política dos trabalhadores.
De forma geral, os quatro artigos seguintes que compõem o Dossiê apresentam resultados de pesquisas que confluem para aspectos de um debate estabelecido entre a História e a Antropologia e, mais especificamente, podemos dizer, entre história social, história regional e recortes mais específicos, por vezes dialogando com o olhar da micro-história. Os sentidos e as linhagens que daí resultam são extensos e dispersos. Por isso, longe de querer classificar tais artigos, buscamos entendê-los e apresentá-los naquilo que há de mais enriquecedor: a formação das classes trabalhadoras como fenômeno singular. Os artigos, assim, visitam quatro estados do Nordeste brasileiro, várias categorias de trabalhadores, em eventos e períodos específicos.
“Da aldeia da preguiça à ativa colmeia operária: o processo de constituição da cidade-fábrica Rio Tinto – Parahyba do Norte (1917-1924)”, de Eltern Campina Vale, procura entender o processo de instalação da tecelagem Rio Tinto nas primeiras décadas do século XX, em Mamanguape – microrregião do litoral norte paraibano, área de produção de sacarose no século XIX. Neste processo, deixa clara a articulação existente entre as oligarquias e os empreendimentos da indústria têxtil, com isenções de impostos, incentivos de diversas naturezas, assunção de serviços públicos por parte da fábrica. Outra estratégia utilizada gira em torno do esbulho de territórios indígenas, da ocupação de terras devolutas. Da instalação da unidade fabril, com o seu ideário de modernização, chegam os migrantes que vão formar a classe operária e, com ela, a Vila Operária.
Conceitos como coronelismo e paternalismo ganham vida no artigo “Trabalhadores, organizações e disputas políticas na última década da Primeira República”, de Philipe Murillo Santana de Carvalho. Recuperando estratégias de negociação de organizações de trabalhadores do Sul da Bahia, especificamente, Itabuna e Ilhéus, em disputas e conflitos, o artigo articula a dimensão dos “de baixo” e a dominação no funcionamento da política institucional local.
A dupla de autores, Airton de Souza Melo e Anderson Vieira Moura, nos apresenta artigo sobre a greve dos operários da Fábrica Carmem, em 1956, “Uma greve espontânea em Fernão Velho: Comissão Operária, Justiça do Trabalho e repressão patronal”. Sendo a primeira e, durante muitos anos, a mais importante indústria têxtil do estado de Alagoas, foi cenário do movimento paredista que reivindicava o pagamento do “novo” salário mínimo aos operários. Os proprietários da fábrica mobilizaram rapidamente a estrutura da Justiça do Trabalho e, assim que o delegado regional chegou, a greve foi encerrada com a “promessa” de mediação do conflito e sem prejuízos legais para os trabalhadores. A promessa não foi cumprida e vários trabalhadores foram punidos e, dentre eles, cinco responderam juridicamente na Justiça do Trabalho de Alagoas.
E para encerrar o Dossiê História Social do Trabalho no Brasil, o artigo de José Marcelo Marques Ferreira Filho, “Conflitos trabalhistas nas ‘terras do açúcar: Zona da Mata Pernambucana (anos 1960)”, analisa o momento de promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural (assim como a formação das Juntas de Conciliação e Julgamento) e sua aplicação na região de plantação de cana-de-açúcar, buscando, para além dos ganhos e perdas dos trabalhadores, entender as suas ações, os limites e o alcance de suas estratégias. Através do olhar do jovem pesquisador, além de um levantamento que revela o movimento de acionar a justiça pelos trabalhadores, encontramos uma pertinente e aguçada leitura dos silêncios da documentação serial utilizada, fornecendo-nos sugestivas pistas para perscrutar alguns dados que não visto com facilidade através da quantificação.
Abrindo a Seção Artigos (de fluxo contínuo), “Entre emoções e leis naturais: reflexões sobre o conceito de ‘motim’ na obra do Barão de Guajará”, de Luciano Demotrius Barbosa Lima, debate como a ideia de motim articula os conflitos sócio-econômicos no Pará do século XIX. Partindo da obra do historiador, Domingos Antonio Raiol (Barão de Guajará), faz escrutínio do conceito e o analisa no debate sobre romantismo e cientificismo do período.
Já no final do século XIX, vamos para a formação da capital de Minas Gerais, na qual as elites se afinam com um projeto de “modernização” claramente identificado com as ideias de civilização e racionalidade que se chocam com a realidade da classe trabalhadora presente no centro urbano de Belo Horizonte. Assim, o artigo “O sonho da metrópole fin de siècle em vias de definição: ordem social, moral pública e mundo do trabalho em Minas Gerais (1897-1920)” de Fabio Luiz Rigueira Simão, apresenta-nos um cenário de conflitos e descontinuidades que se vai desenhando nos métodos e discursos do poder público, construídos através de uma lógica do trabalho que visa romper as resistências da população pobre e assimila-las ao projeto das elites mineiras.
Abrindo o que poderíamos chamar de segundo bloco dessa seção, o artigo “O custo de uma devoção: horas de trabalho e itens de um ritual do candomblé no início do século XX”, de Flávio Gonçalves dos Santos, entende as atividades no e do candomblé a partir da cultura material, trazendo à tona a dimensão dos custos dos objetos ali utilizados e das horas de trabalho dispendidas. Inserindo os rituais de candomblé em um contexto pouco explorado, análogo a um mercado consumidor, o artigo articula o culto aos orixás à solução de aflições das pessoas em suas experiências do cotidiano.
“Homi Bhabha leitor de Frantz Fanon: acerca da prerrogativa pós-colonial”, de Muryatan Santana Barbosa, refaz os passos da leitura de Fanon realizada décadas depois pelo indiano Bhabha e recupera conceitos do primeiro relegados pelo segundo, inserindo-os no debate contemporâneo sobre o pós-colonialismo.
Em seguida, o artigo “Jornalismo e imprensa: relações com o civilizado, o histórico e o político”, de Mauro Luiz Barbosa Marques, debate o papel e as funções do jornalismo e da imprensa a partir de autores como Pierre Bourdieu e Norbert Elias. Atribuindo-lhes um lugar na sociedade contemporânea, que se organiza conceitualmente através de ideias como civilização, história e política, o autor enfatiza sua produção como fonte para a historiografia e reconhece suas possibilidades e limites.
E, para encerrar essa edição, a resenha de divulgação (de David Vital Acioli e Dionísio Josino de Oliveira Filho) do livro Tudo pelo trabalho livre: trabalhadores e conflitos no pós-abolição (Bahia, 1892-1909), de Robério Santos Souza, não poderia vir em melhor momento. Obra publicada no ano passado, a partir da dissertação de mestrado defendida pelo autor junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Campinas, em co-edição EDUFBA e FAPESP, acaba de obter o segundo lugar na categoria “Obra Publicada” no Prêmio Kátia Mattoso de História da Bahia, promovido pela Fundação Pedro Calmon / Secretaria de Cultura / Governo do Estado da Bahia. História cheia de coragem e inovação, mostra-nos como a construção da estrada de ferro que liga a Bahia ao São Francisco, no fim do século XIX e início do XX, gera a formação de uma classe trabalhadora singular, pois originária de ex-escravos, marcados pelas experiências contra a exploração de sua força de trabalho e pela dignidade.
Em meio a tantas histórias dos trabalhadores, de suas organizações, de suas estratégias de ação e luta, não poderíamos deixar de mencionar que essa edição surge durante a maior greve dos docentes das IFES no país, sem contar as inúmeras categorias diretamente ligadas ao governo federal que também se encontram em greve e outras que pipocam suas reivindicações no mapa nacional. Assim, na vida real, com homens e mulheres de carne e osso, se faz a luta por melhores salários, condições de trabalho, por direitos e cidadania. Esperamos que a leitura desses artigos contribua para a reflexão e para o estímulo a pesquisas futuras.
Ana Paula Palamartchuk – Professora Doutora. Editora Chefe / Coordenadora do Dossiê
Osvaldo Maciel – Professor Doutor. Coordenador do Dossiê
PALAMARTCHUK, Ana Paula; MACIEL, Osvaldo. Apresentação. Crítica Histórica, Maceió, v. 3, n. 5, julho, 2012. Acessar publicação original [DR]