Posts com a Tag ‘Ontologia’
Giambattista Vico and the new Psychological Science | Luca Tateo
Luca Tateo | Foto: TPGC |
 Although scholarship on Giambattista Vico’s New Science includes a wide range of approaches, it has never experienced a paradigm shift so radical that it cannot be understood within the epistemic assumptions of the Western intellectual tradition. The publication of Giambattista Vico and the New Psychological Science, edited by Luca Tateo, promises to do just that. The volume is a collection of seven essays, and it belongs to the History and Theory of Psychology series, which is edited by Jaan Valsiner. The ambitious aims of this book are elaborated in Valsiner’s fore- word, Waldomiro Silva Filho’s introduction, and Tateo’s preface and conclusion. For Valsiner, the series responds to the question, “how is psychology a science?” (vii). According to Silva Filho, this question is problematized by contemporary conflicts between “radical physicalist reductionism and the most liberal cultural relativism”—the former is the “tendency to reduce psychological processes to . . . the biochemistry of the brain” and the latter is postmodern criticism (xviii). The book’s contributors look to Vico to counter these dangers.
Although scholarship on Giambattista Vico’s New Science includes a wide range of approaches, it has never experienced a paradigm shift so radical that it cannot be understood within the epistemic assumptions of the Western intellectual tradition. The publication of Giambattista Vico and the New Psychological Science, edited by Luca Tateo, promises to do just that. The volume is a collection of seven essays, and it belongs to the History and Theory of Psychology series, which is edited by Jaan Valsiner. The ambitious aims of this book are elaborated in Valsiner’s fore- word, Waldomiro Silva Filho’s introduction, and Tateo’s preface and conclusion. For Valsiner, the series responds to the question, “how is psychology a science?” (vii). According to Silva Filho, this question is problematized by contemporary conflicts between “radical physicalist reductionism and the most liberal cultural relativism”—the former is the “tendency to reduce psychological processes to . . . the biochemistry of the brain” and the latter is postmodern criticism (xviii). The book’s contributors look to Vico to counter these dangers.
Tateo became interested in Vico as an ancestor of cultural psychology and as the first to challenge the dominant Cartesian epistemology. According to Tateo, Vico provided an “alternate epistemology,” one that was “anthropocentric in the sense that we know human nature as we share it and through the historical genesis of its products” (xii). Indeed, Vico replaced the “myth of the given” in “psychological epistemology” with poiesis, an imaginative activity that creates human meaning (211). Tateo says that Vico’s emphasis on the imagination pro- vided “a way to intersubjectively access the mental and emotional processes that are behind the products of human activity,” representing a shift in focus, episte- mology, and methodology in psychological science (xiii). Imaginative universals gave Vico a qualitative methodology through which to understand the sensuous construction of meaning; indeed, they “embody” meaning and start with the “uni- versality of human body” and the “universality of imaginative construction[s]” of cultural forms (viii). But do imaginative universals allow us to “intersubjectively access mental and emotional processes” (xiii) or, as Valsinor says in the fore- word, is “the sensuality of the body—relating with environment—the guarantee of generalization” (viii)? Does the “‘hermetically constructed unity’ (as John Shotter points out in this book) transcend our usual classificatory tendencies of contrasting ‘verbal’ and ‘nonverbal’ meaning-making means” (viii-ix)?
The contributors to this volume are correct about Vico’s emphasis on imagina- tion, poiesis, and the “sensuality of the body.” However, the incongruities inher- ent in their contributions are troubling, particularly insofar as they concern these authors’ understandings of the radical nature of what Vico meant by imagination, imaginative universals, poiesis, and embodiment. These incongruities ultimately undermine this book’s potentially transformative reinterpretation of Vico’s writings and psychology. Although Tateo says that “adopting the ‘principle of poesis’ in the study of the psyche leads to a shift in the focus, epistemology, and methodology of psychological sciences,” this volume has not yet completed that shift (214). To do so, it must ask more fundamental questions that go beyond humanism’s idealist conception of knowledge—indeed, beyond modernity’s epistemological perspective. Any reinterpretation of Vico’s New Science that retains the subjectivism that grounds all humanist epistemologies brings with it metaphysical assumptions that, since Plato, have been used to justify belief in an epistemic knowledge of reality—that is, the beliefs that reality is inherently intel- ligible, yielding universal and eternally true knowledge, the paradigm of which is mathematics, and that humans can know reality only insofar as they possess a rational subjectivity that is ontologically like reality, which is the claim of dualis- tic anthropology. Though Descartes’s critique undermined belief in the inherent rationality of reality and the ontological identity of subject and object, dualism was retained and science provided the methodological grounds for belief in the likeness of subject and object, which is the assumption that Vico’s master key and verum factum principle implicitly reject.
Since Vico called his work a “new science,” scholars engaging with that claim must consider what kind of new science a psychological science is when it is called “poetic.” Are imaginative universals that have been made with a poetic language “subjective” at all, or are they the result of a different meaning-making process, one that is embedded in the social and physical world? What is the dif- ference between an anthropology that supports traditional subjectivist assump- tions and one that supports the knowing of products of an imaginative linguistic social activity? Failure to raise such meta-level questions as these risks repeating the same misinterpretations that have kept the radical nature of Vico’s work from being appreciated.
Tateo suggests a new direction in saying that Vico provided a way of thinking that was anthropocentric and that identified our ability to know human nature because we share it and because it is the genesis of human making. Indeed, Vico raised an anthropological question that philosophy had never asked. Those who believe that the quest for knowledge is essential to humans accept the dualistic metaphysical assumptions of philosophical humanism that were formalized by Plato. Since Vico first published New Science, readers have displayed an inability to comprehend the embodied anthropology he developed against that dualism.[1] Such readers are the moderns whom Vico characterized as fixated on Descartes’s subjectivist justification of certain knowledge of natural science.
When Vico rejected Descartes’s turn to subjectivist anthropology, he rejected the possibility of epistemology at all as understood by humanism and raised a more significant anthropological question: what if what we call “knowledge” is limited to what humans make as wholly embodied beings—that is, the languages, gods, religions, customs, laws, institutions, sciences, artifactual things (cosi) of our ontologically real, meaningful historical world? What if making was due to the power of embodied poetic language, which was the very language that phi- losophers, in their conflict with rhetoricians and poets, devalued as opinion and fantasy? [2]
Vico posed these questions with his insight into what he called his “master key”: the “fathers” of the human world were embodied prehuman beings who, “by a demonstrated necessity of nature, were poets”; they were creators who spoke the poetic language of preconscious peoples.[3] That such primitive beings created human existence was an idea so strange that Vico claimed it “cost us the persistent research of almost all our literary life, because with our civilized natures we [moderns] cannot at all imagine and can understand only by great toil the poetic nature of these first men.” [4] The radical nature of Vico’s verum factum principle cannot be appreciated unless we understand that the giganti were not human. Scholars traditionally consider Vico’s poets primitives or sinners, but this does not do justice to the strangeness of Vico’s master key or the twenty years it took him to understand it. The giganti were not only devoid of minds or the abil- ity to form abstractions; they were not even social beings in any existential sense. They existed solely as solitary beasts who possessed no relation to one another except instinctually. Without the capacity to feel a need for relations with other beings, they were incapable of human existence. Only with an originary potency that was ontologically creative of that existence could they be so.
That poets made meaning not with consciousness but with poetic language was a strange enough claim. Even stranger was Vico’s genetic principle that “the nature of institutions is nothing but their coming into being (nascimento) at cer- tain times and in certain guises,” and “things do not settle or endure out of their natural state.” [5] That principle condemns knowers, even of the third age, to remain embodied poets throughout human history, constructing what humans know with a language that is forever figural. Such knowers must give up the “conceit of scholars, who will have it that whatever they know is as old as the world,” or the notion that abstract ideas correspond to reality.[6] Given Vico’s embodied anthropology, the verum factum principle can no longer be considered epistemic. Elsewhere I have interpreted the unity of making and knowing as an ontological assertion that humans are makers of what they know, an alternative appropriate to Vico’s humanistic concern with knowing not the objective world of modern science but the historical world made by languages, literatures, religions, institu- tions, customs, and artifacts. These are the very cosi (things) that Descartes’s delimitation of knowing to the natural world made knowledge about obsolete.[7] Given that latter radical alternative, poetic knowing becomes the self-reflexive hermeneutic understanding that humans are the creators of what they know.
If the key to the anthropology of Vico’s embodied humanism lies in his claim that poetic beings create human existence ontologically, then we must go beyond the limits of Hellenism’s metaphysical frame to understand it. Other than the biblical world, which similarly identified creativity with originary language, the ancient world offered no way to conceive of a radical creative process that brought what did not exist into the world. In Ancient Wisdom, Vico raised ques- tions about divine causal agency that suggested a way to attribute creativity to humans.[8] Those questions culminated in the myth of origins that Vico developed in The New Science to support his insights about his master key.
Making his myth compatible with scripture, Vico distinguished between the offspring of Noah’s chosen and accursed sons. He identified the latter as the progenitors of the gentiles: fleeing into the forests, copulating with and living as animals, they lost language, their social world, the ability to think—their very human existence.[9] Those grossi bestioni created the human world, and they did so with imagination. In traditional humanism, the imagination is subjective, whereas those impoverished beings literally had no conceptual space. The ability to imagine occurred only when terror of the unknown forced them to make sense of what terrified them, and they could do so only with the physical skills of their bodies, the most rudimentary of which was perception.
According to Vico, the terror that animated these early humans’ creative imag- ination was first roused by the thunder that occurred when the earth dried after the flood. The sensations bombarding these beastly bodies—sounds of thunder, sight of stormy skies, terror shaking their bodies—were meaningless until they were brought together and forcibly projected onto the sky, leading these poets to see the image of “a great animated body.” [10] The guttural sound Pa forced from their lips named that image. As a metaphor, Pa had no literal meaning, but it called into existence a being in the sky who was angry with their behavior. With that poetic word, which named a metaphoric image, the poets created the human meaning that in turn transformed their animal behavior. Running to caves for protection, they created social practices—marriage, burial, language, their very social existence—and thus established the beginnings of humanity’s ontologi- cally real historical world.
Pa was the first certum made: imagination was not subjective but was instead comprised of solely contingent perceptions that were bought together into images of what did not exist before being reified with a name.[11] “Jove,” Vico claimed, “was born naturally in poetry as a divine character or imaginative universal.” [12] The linguistic creation of Jove was the first experience that was common to soli- tary beasts and elicited common responses, including flights to caves, abandon- ment of a solitary existence for a social one, and shared understandings of the need to do so in order to avoid that fearsome being. Pa had no epistemological significance, but daily experience now had meaning: behavior was governed by social practices that established bonds, in turn creating a sensus communis. Jove was a topos, a place of memory, not as a subjective fantasia but as an immanent part of the lived historical experience of social beings.
When the need to form linguistic generalizations that established laws arose, abstract language was created from the poetic, and with it emerged the silent dialogue that we call thinking.[13] Vico even related the emergence of “subjectiv- ity” to the ontological potency of bodily skills; indeed, after describing the events that elicited Pa, he argued that “Jove” was “the first human thought in the gentile world.” [14] Made by metaphors and images that were generated by bodily skills, language was not only imaginative but also immanent and temporal, a lived pro- cess of concrete making.
Vico was quite explicit about his analogy between divine and human ontologi- cal creativity. “Our Science,” he said, “create[s] for itself the world of nations” but does so “with a reality greater by just so much as the institutions having to do with human affairs are more real than points, lines, surfaces, and figures. And this very fact is an argument, O reader, that these proofs are of a kind divine and should give thee a divine pleasure, since in God knowledge and creation are one and the same thing.” [15] Vico was equally explicit about the differences between them, adding that philosophers and philologists should have gone back to the “senses and imaginations” of first fathers in order to study the origins of poetic wisdom.[16] He claimed that
the first men of gentile nations . . . created things according to their own ideas. But this cre- ation was infinitely different from that of God. For God, in his purest intelligence, knows things, and, by knowing them, creates them; but they, in their robust ignorance, did it by virtue of wholly corporeal imagination. And because it was quite corporeal, they did it with a marvelous sublimity; a sublimity such and so great that it excessively perturbed the very persons for who by imagining did the creating, for which they were called “poets,” which is Greek for “creators.” [17]
The poets created an artifactual reality that, like the natural world created with divine poiesis, was no less real for being so. Just as the embodied anthropology presupposed by verum factum deprives philosophy of epistemology’s subjective grounding, it also provides a conception of humans that is more appropriate for the humanist psychology that Tateo’s authors hope to achieve. The topos made from a sound generated by fear was inseparable from real social practices and physical labor producing the certa, and eventually the vera, of the concrete his- torical world.[18] Knowing can only be the self-referential truth identifying humans as ontological makers of their true things. That would seem to run counter to Vico’s insistence on the role of providence, but Vico’s providence was never a transcendent force but only a functional one, ensuring that choices made for private interests achieved social goals.
Philo Judaeus had given philosophic expression to the unity of the Hebraic god’s knowing and creating with the principle verum et factum convertuntur— that is, the notion that only the creator could know what he created, though he could grant knowledge to those acknowledging him as creator. Fortuitously, the verum factum principle had become commonplace by Vico’s writings. First for- mulated as an epistemological principle in Ancient Wisdom, it was only Vico’s insight into his master key that brought out the ontological significance of his claim that humans are genetically poets—that is, creators rather than subjective knowers.[19]
That knowledge of objects is limited to their makers reveals the skeptical aspect of Vico’s verum factum. [20] The made is known only by its maker because it is not inherently intelligible, and knowing is only the makers’ reflexive under- standing that they are makers. Vico’s delimitation of human knowing to what humans make strengthened his claim that humans could not know God’s creation; that humans can know their own creations is what, with Vico’s help, the authors of Giambattista Vico and the New Psychological Science claim for their new poetic humanistic psychology.
Although all of the essays in this volume are valuable additions to scholar- ship on Vico, few contribute specifically to an embodied poetic interpretation of Vico’s new science. The volume does not contain a discussion of language that adequately captures Vico’s claim of originary creativity, for example, and few of the contributions stress human agency. Moreover, most of the authors inter- pret Vico within modernity’s dualistic frame, as revealed by their pervasive use of subjectivist language. They have not yet realized how radical the shift from Cartesian humanism to Vico’s embodied anthropology is. Perhaps the starkest question they need to answer is, in what way is psychology possible without the metaphysical belief in a psyche?
Sven Hroar Klempe’s and Gordana Jovanovic’s contributions to this volume are responsible for placing Vico in particular histotheoretical contexts. Klempe situates Vico’s work in the history of psychology that emerged from metaphysics; meanwhile, Jovanovic traces Vico’s reception beginning in the eighteenth cen- tury. Both authors question whether Vico is an Enlightenment figure or a critic of the Enlightenment. Klempe distinguishes psychology from metaphysics by emphasizing its increasing concern with perception and sensation. He claims that the relation of sensation to intellect distinguishes divine language, a unity of mak- ing and knowing, from the ideality/generality of human language deriving from abstractions. Thus, there is a “mismatch and a tension . . . between our thinking of the world and the world as it appears to us” (54). “In our efforts to mitigate the tension and the gap between our abstract conceptions and the world,” he notes, “we try to unite those two extremes by means of thinking” (55): man “creates abstractions . . . and abstractions are given through language, and this is the real- ity man is able to grasp. This is the core of the verum factum principle” (60). He explains: “For human beings, truth is provided by language” (68).
Whereas Klempe discusses themes that are relevant to Vico’s turn to the role of sensation in language and thinking in creating knowledge and truth, he distin- guishes thinking, abstract language, and “inner life” from sensation and the body. It is “the spirit that represents the connection between the mind and the body,” Klempe says, though for Vico it is embodied poetic language, not thinking, that creates abstract language (56). For Klempe, Vico is a modernist not only because “we recognize the contours of a psychology by the role he gives the aspects of sensation and subjectivity, which form the basis for how language and meaning making are to be understood” (62), but also because he “is definitely . . . pointing forward by emphasizing the role of the human mind in the verum factum prin- ciple” (50). Vico, Klempe claims, “did not belong to the protestant church, but he adopted the focus on subjectivity” (67).
Jovanovic’s essay examines diverse interpretations of Vico from the eigh- teenth century. On the basis of Vico’s critique of reason and his emphasis on verum factum as epistemological, she explains, his readers consider him to be a modernist rather than an Enlightenment figure. Quoting Benedetto Croce, she explains: “with the new form of his theory of knowledge Vico himself joined the ranks of modern subjectivism, initiated by Descartes” (93). Yet Croce “left out many important aspects of Vico’s thought,” Jovanovic notes: “Thus, it was necessary to overcome Croce’s idealist perspectivism in order to open new vistas for reading Vico” (82).
Jovanovic elaborates on the possibility of “open[ing] new vistas for reading Vico” by proposing that the “perspectives of doing and knowing are hermeneuti- cally united” and that “it is within this conceptual framework that Vico’s human- istic agenda is formulated” (79). She does not specify the nature of those herme- neutic relations but stresses the importance of language in shaping communities. She also emphasizes Vico’s privileging of topics over critique, so it is striking, given the volume’s emphasis on poiesis, that she does not mention the creativity of language, especially since poetic metaphors create a social world before they create the semiological views that emerge in the third age.
Despite her limited discussion of language, Jovanovic clearly understands the significance of its embodied nature and relation to human activity. For instance, she notes that “Vico’s anthropology is naturalistically founded, as it starts with capabilities of corporeal individuals, but it is not reductionist as it includes trans- formation and cultivation of corporeal capabilities and existing physical condi- tions, as well as symbolic products and social practice and institutions” (105).
Her strong emphasis on agency is also promising. Because of the importance of rhetoric, “Vico was a reflective theorist of human activity, but an activity of humans as social beings” rather than “of mechanical, subjectless, and communi- cationless processes” (95). She continues:
Given . . . the importance of . . . verum idem factum, and that not only as an epistemo- logical principle but as a principle constitutive of human history, . . . [it] is justified to see Vico as a modern thinker. . . . I would claim . . . this principle supersedes Vico’s critique of rationality on which most interpretations of Vico as an antimodern or counter- Enlightenment thinker rely. (97)
Jovanovic asserts strongly that Vico “should have been protected from pitfalls of subjectivism and idealism of the raising new epoch” (98, emphasis added). Though stressing the importance of the verum factum principle as “constitutive of human history,” Jovanovic does not appreciate the nature of that constitutive power and instead associates it with modernism’s Homo Faber (97). The activ- ity of the latter is, however, the technological application of knowledge that has been derived from science’s mastery of nature, the very knowledge that the verum factum principle prevents humans from possessing. Vico’s conception of human activity is empowered by the originary nature of poiesis that creates the human world.
Despite the richness of Jovanovic’s and Klempe’s contributions to this volume, and though they move away from identifying humans with the primacy of mental activity, it is striking that neither steps enough outside of the Cartesian frame to recognize the incompatibility between their insights and Cartesian modernism. Despite Klempe’s emphasis on the roles of sensation and language and Jovanovic’s verum factum as epistemological, she explains, his readers consider him to be a modernist rather than an Enlightenment figure. Quoting Benedetto Croce, she explains: “with the new form of his theory of knowledge Vico himself joined the ranks of modern subjectivism, initiated by Descartes” (93). Yet Croce “left out many important aspects of Vico’s thought,” Jovanovic notes: “Thus, it was necessary to overcome Croce’s idealist perspectivism in order to open new vistas for reading Vico” (82).
The contributions to this volume that are most focused on the role of poetic language and sense-making in Vico’s anthropology are by Marcel Danesi, Augusto Ponzio, and John Shotter. Danesi’s contribution offers the most in-depth discussion of Vico’s philosophy out of all the pieces in the volume, yet Shotter, by stepping outside the tradition’s metaphysical frame, does the best job of transcending subjectivism and grasping Vico’s embodied creative humanism. Still, Danesi displays a strong understanding of Vico’s philosophy, saying: “The idea that cognition is an extension of bodily experience, a kind of abstracted sensoriality . . . is, as a matter of fact, the unifying principle that Vico utilized to tie together all the thematic strands that he interlaced throughout the NS [New Science]” (27). “For Vico,” Danesi explains,
the appearance of the metaphorical capacity on the evolutionary timetable of humanity made possible the passage from instinctual responses to the flux of events, where images literally floated around randomly in mental space, to a more abstract and organized form of thinking that helped to guide the mind’s primordial efforts to transform the world of sensorial inputs into cognitively usable models of experience. (44)According to Danesi, “the nature of the connections between things, universal and particular, is not available to discursive cognition. But they are neither merely fanciful nor principally subjective. They are real connections made in imaginative form” (34).
Despite this, Danesi ultimately encloses Vico’s poetic insights within modernity’s dualism and obscures Vico’s master key. Though emphasizing fantasia’s relation to sense and perception, Danesi accepts Edward Sapir and Benjamin Lee Whorf’s claim that “language classifies, not ‘creates,’ experience” (15) and reduces language to “mind-space” (18). Danesi notes: “language and thought are interdependent features of human consciousness—that is, we use language to carry the main load of our everyday thinking. It is only when we need to create new thoughts that we must resort to our fantasia to help us out and start the concept-formation process anew” (15). Fantasia is a “mental faculty that generated consciousness, language, and, ultimately, culture.” “The most important feature of the poetic mind is that it seeks expression into models of the world in terms of metaphor and myth,” as Danesi explains: “From this ‘poetic’ state of mind the first human cultures took shape, developing the first institutions.” According to Danesi, “the fantasia can thus ‘create’ new realities totally within confines of mental space—hence the meaning of imagination as a creative faculty” (16).
Danesi identifies the ingegno as “the faculty that organizes poetic forms produced by the fantasia into stable structures.” Accordingly, “‘making sense’ is a product of ingegno as it imposes pattern onto the images that the fantasia creates in mind-space,” which explains how the first myths were made. Arguing that “agency is governed by ingenuity, not by some biological schema or imprint,” Danesi protects Vico from being reduced to neuroscience but keeps him in metaphysic’s “mind-space” (18). He associates Vico’s conception of language with Thomas Sebeok’s semiotics: “Language, for Sebeok, is an effective cognitive means for modeling the world. . . . ‘Speech,’ or articulated language, is a deriva- tive of this modeling capacity” (33). He argues that Vico can be studied in the context of semiotics since “his concept of metaphor as imprinting human experi- ence in the form of language… is the basis of modern cognitive linguistics” (24). Danesi explains: “The crucial lesson that cognitive science has come to learn is that the imagination and metaphor are the essence of mind” (29).
Even though he identifies the fantasia as “the fundamental feature of mind that allows us to transform and make bodily experience meaningful” (46), Danesi obscures that centrality by saying that “rhetorical figures, which abound in ancient fables, did not emerge to increase the imaginative enjoyment of myths” (44); they “make it possible for humans not only to represent immediate reality, but also to frame an indefinite number of possible worlds” (43). Yet Vico’s poetic language does not represent human reality; rather, it creates an artifactual one. Mind, though an artifact of the fantasia and the ingegno, is continually referred to by Danesi as a subjective agent of making that “operat[es] totally within mental space as it configures and creates models of world events” (18). Most strikingly, Danesi argues that metaphor is the “product of the fantasia—. . . a feature of the mind, not just of language” (19). “Metaphor is a ‘tool’ that the mind con- stantly enlists,” Danesi explains (35): “it expresses the reality in the mind of the speaker” (19). “The human mind is ‘programmed’ to think metaphorically most of the time,” which Danesi claims thus makes metaphor an object of conceptual thought (34).
Ultimately, Danesi’s appeal to cognitive science cannot explain the poetic capacity of the fantasia. Imaginative universals are not cognitive: Vico’s master key emphasizes randomness, the contingency of perceptions, and the insight that perceptions do not represent reality but are brought together to alleviate terror filling beastly bodies. And when brought together, it is language that fixes that image with a name. As noted above, Danesi draws on Sapir and Whorf’s claim that “language classifies, not ‘creates,’ experience.” Yet language produced by cognitive processes cannot explain the fantasia’s poetic ability since cognition does not include emotional interactions between bodily processes and the experi- ences in which they are embedded.
Ponzio similarly discusses Vico in the context of the emergence of semiotics and cognitive linguistics. Much in his explication of semiotics is relevant only to the rational minds of Vico’s third age. However, Ponzio concludes his contribu- tion by articulating a valuable reservation: when discussing Vico’s contribution “to the theoretical framework of current research in cognitive linguistics,” Ponzio asks whether or not “we may speak of a ‘Vichian linguistics,’ as Danesi would seem to be suggesting” (169). Acknowledging that there may be Vichian influ- ences on semiotics and other sign sciences, Ponzio expresses doubts: “Vico’s critique of Descartes is formulated in a context entirely different from Pierce’s” (170). Ponzio notes “that there is a great historical-contextual and motivational gap between Vichian inquiry . . . and current philosophical-linguistic research . . . to the extent that it cannot be classified as ‘Vichian linguistics’” (171). Ponzio’s doubts represent an effective critique of semiotic interpretations of Vico’s conception of language. Indeed, what is clear from Danesi’s and Ponzio’s essays is that focusing on semiotics and cognitive linguistics in an attempt to account for Vico’s poetic conception of language obscures more meaningful explorations of the embodied poetic understandings of language that are suggested by Vico’s anthropology.
Vico was writing before developments in biological science, but even if he had understood how necessary biological processes were to human existence, he would not have considered them adequate for creating human meaning. Identifying the body with neuroscientific activities has obscured a more funda-mental kind of embodied experience, one focused on the necessary interaction of bodily skills with the physical/social world and in turn emphasizing conditions that philosophers would consider sufficient—that is, experiences in the external world to which bodily skills respond not only to satisfy needs and utilities but also to produce imagistic language and social practices that create meaning, thus accounting for human agency. Those experiences in the external world, rather than either neuroscientific or cognitive activity, add sensory and emotional interaction between bodily and experiential processes, thus allowing for the poetic ability that Vico refers to as fantasia.
Shotter’s essay best captures the immediacy of that relation: the embodied, embedded, and emotional nature of making and knowing and its appropriateness for a poetic science of psychology. Shotter begins by discussing the issue that is central to Vico’s writing and cultural psychology: the meaning of human meaning. Meanings made in temporal developmental processes begin in mute times, bodily feelings, fearful responses to unknowns, bodily shaking, guttural sounds, and gestures before becoming images projected onto the sky, metaphoric language, and more complex linguistic and social activities that satisfy needs and utilities necessary for survival. Shotter characterizes those processes as “shared expressions, spontaneously occurring in shared circumstances, to which people spontaneously attribute a shared significance” (121). In elaborating on beginnings, Shotter provides what has been missing in existing Vichian scholarship: an experiential account of the transformative processes that lead from bodily feelings to creative linguistic and social activities. He omits purely necessary biological processes, since by themselves they do not capture interactions with the phenomena that stimulate them or the social activities to which they lead. He similarly omits linguistic theories that do not acknowledge bodily feelings, which are the immediate sources of metaphoric relations. For Shotter, only bodily feelings, external phenomena, and social responses to them—what he calls “shared significance[s]” in the external world—create poetic language and human existence.
Shotter elaborates on Vico’s account of the transition from bodily feelings to imagistic language that makes meaning from sensations like thunder: “the development of social processes is based, he claims, not upon anything preestablished either in people or in their surroundings, but in socially shared identities of feeling [they] themselves create in the flow of activity between them,” or what Shotter says Vico “calls ‘sensory topics,’ . . . because they give rise to ‘commonplaces,’ that is, to shared moments of common reference in a continuous flow of social activity” (124). A sensory topic leads to “an ‘imaginative universal,’ the image of a particular something, a real presence . . . , that is first expressed by everyone acting, bodily, in the same way in the same circumstance, but which is expressed later, metaphorically, in the fable of Jove” (133). Thus, according to Shotter, meanings are created “before the emergence of consciousness or awareness . . . occurs” (122). One implication of this is the fact that “language begins, not with people speaking, but with them listening, not with a performative speech act, but with a hermeneutical invention” (132). Shotter explains: “This suggests a quite different account of consciousness—of con-scientia, of witnessable knowing along with others—than that bequeathed to us currently from within our Cartesian heritage” (121-22). This is because “their meaning [that is, the meanings that emerge from socially shared identities of feeling] is in how bodily we are ‘moved’ to respond to them, in how precisely we are going to incorporate them into our yet-to-be-achieved activities” (122). Shotter makes clearer than others in this volume that what Vico means by “mind” is not only prior to rational content but other than subjective or cognitive processes.
Shotter, in explaining his indifference to biological conditions, says that Vico turned him from a “search for ideal realities (forms or shapes) ‘hidden behind appearance’” (120) that was bequeathed to social science by philosophy and psychology’s concern with “inner workings of . . . subjectivities.” Like Vico, Shotter desires a “direct focus on the unique concrete details of our living, bodily . . . participations . . . in the world around us” (142). He explains:
we have become concerned both with what goes on within the different “inner worlds of meaning” we create in our different meetings with the others and othernesses around us, along with paying more and more attention to our embedding within the ever present, larger background flow of spontaneously unfolding, reciprocally responsive inter-activity between us and our surroundings. It is as “participant parts” within this flow, considered as a dynamically developing complex whole, that we all have our being as members of a common culture, as members of a social group with a shared history of development between us. (142)
In focusing on “inter-activit[ies]” between bodily skills, external stimuli, and the linguistic and social activities to which they lead, Shotter reveals sensory and emotional responses to experiences and links biological conditions that neuro- scientists consider determinate to external physical linguistic and social activities that biologists ignore, enabling us to avoid the reductionisms that are inherent in focusing on biological, mental, or external sociolinguistic activities alone. With Vico’s understanding of wholly corporeal imagination, Shotter argues,
meanings are already present in people’s bodily activities long before awareness or con- sciousness of meaning emergences. For, although such bodily thought lacks an abstract or intellectual content, it does not lack a meaning. If nothing more its function is merely a figurative or metaphorical one: that of linking, or “carrying across” a shared feeling to a shared circumstance, thus to create a sense of “we,” of us all being in this together, a sense of solidarity. (134)
This “flow of social activity” similarly touches on what Vico means when he talks about providence. Rather than being “something external,” Shotter explains, providence is the “natural provision of the resources required for their own fur- ther evolution or transformation (or dissolution). . . . [P]eople construct in their own past activities an organized setting that makes provision for their current activities” (136). “What the ‘inner mechanisms’ might be which make such a realization possible are not Vico’s concern here,” Shotter says: “his concern is a poetic concern with what the ‘outer’ social conditions giving rise to a shared bodily experience in a shared circumstance might be like” (122).
Shotter enables us to move outside of traditional cultural frames. He credits his move to developments in psychology that turned the field away from tradi- tional scientific perspectives; he then found in Vico the emergent embodiment of humans, of which, he says, Vico himself may not have been aware. He claims that Vico must have acquired the ability to be “responsive at every moment to one’s changing circumstances . . . to a distinctive, imaginative sense of what it is like to experience and to make sense of events occurring” bodily (130). Thus, he claims, “the agent of inquiry” becomes prominent (119); or as Shotter says when he describes agency, humans develop a skill of “coming to feel ‘at home’ within a particular sphere of activity” (145). Shotter calls that skill “ontological,” for in knowing “how to be, say, a musician, painter, mathematician, company director, or regional developer, one must acquire certain sensibilities and attunements” and “come to know one’s ‘way about’ . . . inside the requisite, conversationally sustained ‘reality’ or ‘inner world’” (146).
This volume’s sharpest response to challenges from biology, and particularly what Tateo calls its “tendency to reduce psychological processes to the most basic events that can be explained through the biochemistry of the brain,” come in the form of Shotter’s focus on concrete details of embodied participation in the world (xviii). Biochemical events and evolutionary processes are necessary for human existence, but they cannot account for it without also addressing social, historical, and cultural activities. Those conditions, which are similarly necessary and, more importantly, sufficient, are the very activities that Vico highlighted and that have not been given sufficient weight by neuroscientists. Failure to appreci- ate the linguistic, social, and physical activities that do the actual creative labor of bodies leads to reductionism.
Whereas Shotter’s account of the way meaning inheres in bodily feelings and allows for “a sense of ‘we’” accounts for sensus communis, Ivana Markova’s essay provides context for that notion before and after Vico (134). The basis of Vico’s sensus communis is ingenium and imagination. “Diverse things,” accord- ing to Markova, “are brought together on the basis of immediate and momentary vision, that is, on the basis of the logic that enables creating images,” particularly imaginative universals that are rooted in common sense (179). Markova empha- sizes the relation of common sense to sensation and, because of the role of “needs or utilities,” to action (178). She stresses metaphoric language’s primary role in this creative process.
The final essay, which is by Carlos Cornejo, compares Vico and Nicholas of Cusa, whom Cornejo claims both adopted a “knowing by not-knowing” approach that Cusa calls “docta ignorantia” (197). Cornjeo claims that Vico’s fantasia continues that tendency of nonrational certainty, though he notes that Vico’s rejection of Cartesian rationalism and the constraints of the body “lies on a dif- fering anthropology.” According to Cornejo, “Vico’s proposal for ascribing more epistemic power to the human sciences than to natural sciences is based on a deep reconsideration of the nonrational capacities in the knowing process” (192). Vico’s relation to the medieval tradition “embodies both novelty and continuity” (196).
If the field of psychology hopes to use Vico’s new science to move from sci- entism toward a more embodied and culturally embedded psychology, it must accept his belief in a closer relationship between rhetoric’s conception of linguis- tic agency and philosophy, thus producing not epistemic knowledge but poetic meaning. Giambattista Vico and the New Psychological Science does not con- tain a conception of language that captures its connectedness to the body rather than to cognitive processes and to the hermeneutic ways it makes sense of and establishes relations with the experiential physical and social worlds. This is an originary power that creates meanings that are not given in nature. The volume’s authors also have not transcended the traditional belief in a dualism between body and some version of intentional cognitive agency. These inadequacies make it difficult to grasp a conception of human agency that interacts with and transforms the physical world, creating a concrete, real, and meaningful human world. Only Shotter appreciates the ontological importance of embodied skills, or the agency that he describes as shared happenings in the external world, “socially shared identities of feeling [beings] themselves create in the flow of activity between them,” “shared moments of common reference in a continuous flow of social activity” (124). This is the way human meanings emerge providentially before consciousness of meaning emerges. Shotter makes clear that what Vico referred to when he talked about the “mind” was something that not only existed prior to cognition but also contained dimensions that were not subjective processes. The developmental processes derived from the common social processes that Vico traced in the historical world do not constitute modernity’s progressive course. Rather, they constitute a cyclical course that produces a regularity that is more supportive of a humanistic (rather than a scientific) new poetic psychology.
It is my hope that the authors of this volume are open to nontraditional readings of Vico that are as strange to contemporary audiences as Vico’s poetic insights were to his original readers, who were embedded in Cartesianism. Only such a reading can free the imaginative and poetic nature of the New Science from mis- understandings that have plagued modern readers since the book’s publication.
Notes
- Giambattista Vico, The Autobiography of Giambattista Vico, transl. Max Harold Fisch and Thomas Goddard Bergin (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1944), 128-32.
- Bergin and Fisch translate cose as “institution.” Elsewhere I translate cose as “thing” to cap- ture the concreteness of the world humans create, and I adopt that usage here. For more on this, see Sandra Rudnick Luft, Vico’s Uncanny Humanism: Reading the New Science between Modern and Postmodern (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003), 130n37.
- Giambattista Vico, The New Science, transl. Thomas Goddard Bergin and Max Harold Fisch (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1948), para. 34.
- Ibid. 5. Ibid., para. 147, 134.
- Ibid., para. 59.
- Luft, Vico’s Uncanny Humanism, 24-26.
- Giambattista Vico, On the Most Ancient Wisdom of the Italians: Unearthed from the Origins of the Latin Language, transl. L. M. Palmer (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988), 105-7.
- Vico, The New Science, para. 172, 192-95, 369, 377.
- Ibid., para. 377.
- The word certum (certain) refers to the first things created. 12. Ibid., para. 381.
- Ibid., para. 1040.
- Ibid., para. 447.
- Ibid., para. 349.
- Ibid., para. 375.
- Ibid., para. 376.
- Certa become vera (the true) for the knowers. 19. Vico, On the Most Ancient Wisdom, 45-47.
- When secularized, the principle’s status as epistemological or ontological depends on the divinity whose creativity humans appropriate. It either reproduces ideal rational truths or the volun- tarist power of an omnipotent deity. In the context of Cartesianism, the principle understood by the moderns has remained resolutely epistemological.
Sandra Rudnick Luft – San Francisco State University, Emerita.
TATEO, Luca (ed.). Giambattista Vico and the new Psychological Science. New Brunswick and London: Transaction Publishers, 2017. 242.p. Resenha de: LUFT, Sandra Rudnick. Vico’s new science and new poetic Psychological Science. History and Theory, v.60, n.1, p.163-176, mar. 2021. Acessar publicação original [IF].
Philosophy of Mathematics – LINNEBO (M)
LINNEBO, Ø. Philosophy of Mathematics. Princeton Universisty Press, 2017. 216p. Resenha de: ALBARELLI, Felipe. Manuscrito, Campinas, v.42 n.2 Apr./June 2019.
The present volume is a contribution to the book series Princeton Foundations of Contemporary Philosophy, and offers a self-contained presentation of fundamental topics of the contemporary philosophy of mathematics. Notwithstanding the intrinsic difficulties of the subject, the book is enjoyable and very well-written and Linnebo succeeds in giving a clear presentation of intricate debates and concepts. The focus of the text is on problems and consequently history is presented only to clear the origin of the various topics. For this reason this book perfectly complements the classic textbook by Shapiro [1], offering a more updated and problem driven introduction to the philosophy of mathematics.
The book is divided in twelve chapters, roughly grouped in two parts: the first seven chapters are devoted to the classic themes from which originate the contemporary debate, while the last five offer a selection of contemporary trends in the philosophy of mathematics. The content-and to some extent the structure-of the book reflects the division in sections of the evergreen anthology by Benacerraf and Putnam [2]: the presentation of the big three schools and the corresponding views on the foundations of mathematics, the ontological problem for mathematical objects, the epistemological problem for mathematical knowledge, and a discussion of the philosophy of set theory.
The book does not intend to be complete neither with respect to the contemporary debates, nor with respect to the history of the discipline. Nonetheless, Linnebo succeeds in giving a broad perspective which introduces some of the most interesting problems of the subject and that, therefore, can profitably be used as an introduction for both philosophers and mathematicians.
This is another merit of this book. It is explicitly structured to build a bridge between the two disciplines, being palatable for people with backgrounds from both philosophy and mathematics. Without diluting the beauty of the subject in shallow waters easy to explore, this book presents the classical ontological and epistemological problems in such a clear way to make them interesting and puzzling from both a philosophical and a mathematical perspective.
We therefore highly recommend this book as an introduction to the philosophy of mathematics; one that will surely convince the readers to investigate further this vast and intriguing domain. We conclude by surveying the content of each of the twelve chapters.
In Chapter One Mathematics as Philosophical Challange, Linnebo introduces the main themes of the book. Initially, the author presents the integration challenge: the attempt to reconcile on a philosophical ground the ontology of abstract mathematical objects with priori knowledge. Next, a section is dedicated to a brief presentation of Kant’s philosophy of mathematics. Here the analytical/synthetic and the a priori/a posteriori distinction are presented. Finally, Linnebo ends the chapter describing the main philosophical positions with respect to mathematics, on the base of Kant’s distinctions.
Chapter two Frege’s Logicism is about Frege’s philosophy of mathematics. Linnebo starts by outlining both Frege’s logicism and his platonism about mathematical objects. Frege’s argument for logicism is presented as an attempt to reduce sentences about arithmetic to sentences about cardinality, while the argument for platonism is introduced by considerations on the semantics of natural language. Subsequently, Frege’s response to the integration challenge is presented. Towards the end, the author shows how Cesar’s problem and Russell’s Paradox undermine Frege’s logicist project.
Chapter three Formalism and Deductivism addresses the two positions named in the title, explaining the motivations for each as well as the main problems that they face. Initially, game formalism is presented, this is the thesis according to which mathematics is the study of arbitrary formal systems, like a game of symbolic manipulation. Next, Linnebo presents term formalism, according to which mathematical objects are the symbols used by mathematicians. Finally, the chapter ends with a discussion on deductivism, the position that sees mathematics as the study of the the formal deductions from arbitrary axioms.
Chapter four Hilbert’s Program is about Hilbert’s formalistic project. This type of formalism differs from the previous ones in that it distinguishes between two types of mathematics: finitary, which deals only with arbitrarily large and finite collections, and infinitary, which deals with complete infinite collections. Linnebo argues that Hilbert assimilates finitary mathematics to term formalism, and infinitary mathematics to deductivism. Hilbert Program is presented as making use of finitary mathematics, which has few suppositions but limited applications, to justify the use of infinitary mathematics, that is epistemically problematic but without limits of application. The chapter ends with a discussion of how the discovery of Gödel’s incompleteness theorems showed the impossibility of completing Hilbert Program.
Chapter five Intuitionism deals with the philosophical thesis bearing the same name, which stands out from those already presented by criticizing certain mathematical practices. Initially, Linnebo explains that intuitionists argue that proofs that use non-constructive methods implicitly presuppose platonism; thus the proposal to abandon principles like the law of the excluded middle. Next, the chapter discusses the intuitionist alternative ontology of mathematics in terms of mental constructions. A subsection is devoted to present intuitionist logic. The chapter ends by showing how the intuitionist view on infinity and proof can influence arithmetic and analysis.
Chapter six Mathematics Empiricism provides an initial section on Mill’s philosophy of mathematics and then focuses on Quine’s empiricism and the indispensability arguments. Initially, Linnebo presents Mill’s argument in defense of the thesis that the principles of mathematics are empirical truths. Then, in discussing Quine, Linnebo presents the main arguments against the synthetic/analytical distinction and his holistic empiricism, together with the criticism that these positions received in the literature. The chapter ends with a presentation and discussion of Quine’s famous indispensability argument, which defends mathematical platonism on the basis of the unavoidable use of mathematics in science.
Chapter seven Nominalism discusses the thesis that no abstract mathematical objects exist. Linnebo explains that the difficulty of explaining how we could have knowledge of abstract objects, given that they have no causal relationship, serves as a basis for nominalism. Then, Field’s project to nominalize science is presented, which consists in showing that it is possible to do science with a language that is not committed to the existence of abstract entities. To this aim, Filed needs to reformulate scientific theories without impacting on their deductive capacities. Towards the end Linnebo also presents a form of nominalism that is not reconstructive.
Chapter Eight Mathematical Intuition is devoted to mathematical intuition. Here we face directly the difficult problem of the justification of mathematical knowledge. After having cleared that intuition is not an univocal notion and that intuitive knowledge may come in degrees, Linnebo proceeds in presenting the recent debate on the relevance of intuition in mathematics. We are briefly recalled that intuition is fundamental in the work of Hilbert, Russell, and Gödel and then the chapter goes on presenting recent defenses of mathematical intuition: the realist use that Maddy made of this notion, the position of Parsons which extends the line of Kant and Hilbert, and finally the phenomenological perspective of Føllesdal. The extent to which intuition can be used to justify higher mathematics is then referred to chapters ten and twelve.
Chapter Nine Abstraction Reconsidered goes back to the notion of abstraction, connecting Frege’s work with the neo-logicist position inaugurated by Hale and Wright. Abstraction principles are presented as a form of access to abstract mathematical objects. The discussion starts from Russell’s paradox and the consequent collapse of Frege’s logicist program. After briefly presenting Russell and Whitehead proposal to avoid the paradoxes by means of type theory, Linnebo presents the neo-logicist prosopal: the attempt to derive arithmetic from safe abstraction principles. After a discussion of the logicality of Hume’s Principle and after presenting the problem of distinguishing the good abstractions from the bad ones, the chapter ends with a discussion on a form of abstraction called dynamic, which better fits the iterative conception of sets.
Chapter Ten The Iterative Conception of Sets is meant to introduce the reader to the problems of the philosophy of set theory. After briefly recalling the definition of the cumulative hierarchy of the Vα, which form the intended interpretation of the axioms of set theory, Linnebo presents and discusses the axioms of ZFC. The chapter continues explaining the similarities between ZFC and type theory and then proceeds in addressing Boolos’ stage theory-i.e. the philosophical counterpart of the formal presentation of a cumulative hierarchy-and the way in which this theory is used to justify a great amount of ZFC axioms. Linnebo then warns the reader from the difficulties of a literal understanding of the generative vocabulary and towards the end of the chapter he introduces the debate between actualists and the potentialists with respect to existence of the universe of all sets.
Chapter Eleven Structuralism presents the main tenants and problems of a view of mathematics centered around mathematical structures. Following the standard terminology, Linnebo divides structuralist positions between eliminative and noneliminative structuralism, according to the commitments to the existence or nonexistence of structures or patterns. By exemplifying these position Linnebo presents the case of arithmetic, discussing the origins of structuralist positions in the work of Dedekind. An interesting section then is devoted to the view according to which structures result from a process of abstraction. The chapter ends by outlining the connection between structuralism and the foundations of mathematics offered by category theory.
Chapter Twelve The Quest for New Axioms brings back the discussion to the philosophy of set theory. The starting point of the discussion is found in the widespread presence of independence in set theory, discovered after the proof of independence of the Continuum Hypothesis (CH) from ZFC. Linnebo then proceeds in discussing the main philosophical arguments offered to justify extensions of ZFC able to overcome independence: intrinsic reasons, connected to the use of intuition, and extrinsic reasons, based on the success of new set-theoretical principles. The chapter ends with a discussion on two common views on set theory: pluralism, that equally accepts different interpretations of ZFC, and a monist view, that has its roots on the quasicategoricity argument of Zermelo for second order ZFC.
References
- SHAPIRO. Thinking about Mathematics. Oxford University Press, 2000. [ Links]
- BENACERRAF AND H. PUTNAM. Philosophy of Mathematics. Selected Readings. Cambridge University Press, 1967. [ Links]
Giorgio Venturi – University of Campinas. Department of Philosophyv. Brazil. gio.venturi@gmail.com
Felipe Albarelli – University of Campinas. Department of Philosophy. Brazil. felipesalbarelli@gmail.com
Earth Beings. Ecologies of Practice Across Andean Worlds – De La CADENA (A-RAA)
Marisol de la Cadena. www.rigabiennial.com.
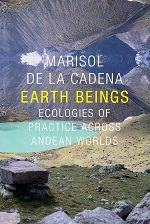 De La CADENA, Marisol. Earth Beings. Ecologies of Practice Across Andean Worlds. Durham: Duke University Press, 2015. Resenha de: MORENO, Javiera Araya. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.26, set./dez., 2016.
De La CADENA, Marisol. Earth Beings. Ecologies of Practice Across Andean Worlds. Durham: Duke University Press, 2015. Resenha de: MORENO, Javiera Araya. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.26, set./dez., 2016.
A veces la lectura de un trabajo etnográfico da la impresión de que este se refiere a diversas y múltiples tradiciones teóricas, al asociarlas de manera más o menos deliberada con partes específicas del trabajo de campo. El relato etnográfico parece entonces responder a la literatura de las ciencias sociales, sin que la reflexión pueda en efecto ilustrar, desafiar, refutar o sustentar algunas de las corrientes teóricas a las que apela de forma fragmentada. Pareciera que el autor no compromete por entero su investigación con determinadas corrientes teóricas e impide así que la dimensión empírica del terreno pueda cuestionar o tensionar plenamente los supuestos teóricos que de manera parcial lo estructuran.
El trabajo de Marisol de la Cadena sobre el que trata esta reseña es un ejemplo de todo lo contrario. A través de su lectura no solo aprendemos sobre las constantes luchas de una comunidad indígena en Perú -contra la hacienda como institución productiva que esclavizaba a sus miembros, contra las corporaciones y sus planes de extracción mineral en sus territorios, contra la policía peruana y su arbitraria aplicación de la ley y, en resumen, contra la pobreza en la que se encuentran- sino que también vemos cómo la autora moviliza su trabajo de campo para interpelar dos grandes corrientes teóricas que marcan la antropología contemporánea. Por un lado, aquélla que denuncia la especificidad colonial de la producción de conocimiento sobre un “otro” y, por otro lado, aquélla que postula la existencia de una diferencia ontológica -y no solo epistemológica- con el “otro” que se quiere conocer.
Respecto a la primera discusión teórica, la autora nos invita a comprender la lucha de la comunidad en su irreductibilidad a las claves de lectura occidentales y eurocéntricas. Respecto a la segunda, De la Cadena constata que ahí donde algunos ven una disputa legal por derechos respecto a la propiedad de un terreno o una movilización campesina por una distribución más justa de las riquezas generadas por la explotación agrícola, otros -precisamente sus protagonistas en la comunidad- ven algo distinto, o más bien algo más. Habitan un territorio que no es solo tierra, sino también un conjunto de relaciones entre seres cuya condición de “humanos” solo puede ser atribuida a una parte de ellos. Efectivamente, en la comunidad indígena de Pacchanta, y retomando los términos en quechua, runakuna (humanos) y tirakuna (no humanos o seres de la tierra) establecen relaciones entre sí y entre ambos. Para los miembros de esta comunidad, lo que pasa allí necesariamente incluye a estos seres no humanos. El lugar emerge necesariamente de estos vínculos que exceden la manera en la que usualmente se piensa en una montaña (por ejemplo) como cosa, sea esta como tierra que puede ser explotada o como espacio natural que debe ser conservado.
¿Cómo producir conocimiento sobre un otro que es tan “otro” que no adhirió a la distinción ontológica -y moderna (Latour 1993)- entre sociedad y naturaleza? ¿Cómo hacerlo de tal manera que este conocimiento producido sea susceptible de reconocer historicidad, es decir trascendencia, relevancia y sentido, a experiencias que parecen solo adquirir pertinencia cuando se insertan en modelos de interpretación que son familiares para el observador occidental, como el de la liberación campesina, del chamanismo andino o del multiculturalismo? ¿Cómo integrar los seres no-humanos, sus intereses y capacidad de acción en conflictos medioambientales y en general en la toma de decisiones políticas que afectan a la comunidad a la que pertenecen? Marisol de la Cadena reflexiona respecto a estas preguntas y ofrece una escritura precisa, honesta y que refleja un esfuerzo logrado por explicar cuestiones complejas con palabras simples. Las descripciones son a la vez suficientes y densas y las repeticiones, que a veces llaman la atención por su abundancia, contribuyen a la comprensión del texto.
El libro está compuesto, además de un prefacio y de un epílogo, por siete narraciones (stories) y dos interludios que presentan las vidas de Mariano Turpo y de Nazario Turpo respectivamente, amigos e informantes de De la Cadena. En la primera narración la autora despliega el arsenal teórico con que escribirá su etnografía y un concepto predominante en todo el libro será el de “conexiones parciales” (Strathern 2004 [1991]), según el cual el mundo no está dividido en “partes” agrupadas a su vez en el “todo”, sino que -como en un caleidoscopio- el “todo” incluye a las “partes”, las que a su vez incluyen el “todo”. Esta imagen permitirá a la autora justificar la idea de que similitud y diferencia pueden existir simultáneamente -en Pacchanta, en Cusco y también en Washington D.C., donde uno de los informantes participa en una exposición-, de que los mundos no tienen que excluirse para poder existir de manera diferenciada.
Por ejemplo, el primer interludio nos cuenta cómo Mariano Turpo, en virtud de sus capacidades para negociar tanto con el hacendado como con los seres de la tierra, fue elegido para encabezar la lucha de la comunidad por liberarse de la hacienda Lauramarca1. Se trataba más bien de “caminar la queja” o “hacer que la queja funcione” (queja purichiy), lo que incluía una serie de interacciones con la burocracia urbana peruana -en Cusco y en Lima- para que esta reconociera de forma legal los abusos del hacendado y eventualmente los derechos de la comunidad sobre la tierra. En uno de sus viajes a Cusco, Mariano Turpo pasa a la catedral a explicar a Jesucristo cómo llevará a cabo su misión, encomendada por su comunidad y que incluye entonces la voluntad de Ausangate, la gran montaña a cuyas faldas se encuentra Pacchanta. Esa mezcla, que en realidad no es mezcla ni sincretismo puesto que no anula cada una de las partes, entre elementos de la religión Católica y el rol de la voluntad de un ser de la tierra -atribuido por la comunidad indígena-, daría cuenta de una de las muchas “conexiones parciales” que identifica Marisol de la Cadena.
Con esta conceptualización presente a lo largo de todo el libro, la autora continúa su análisis describiendo en detalle, en la segunda y la tercera narración, cómo los runakuna “caminaron su queja” y llegaron en la década de los ochentas a distribuir las tierras entre ellos y a ejercer plena propiedad sobre ellas. Basada en autores como Trouillot (1995), Guha (2002) y Chakrabarty (2000), De la Cadena construye un marco de análisis que da pie para pensar un “líder indígena” que, al mismo tiempo que efectivamente lidera la movilización, no es tal. De hecho, para los runakuna Mariano Turpo no era un representante de la comunidad, sino que hablaba desde ella y no solo con humanos. El conjunto de documentos que Mariano Turpo había reunido respecto a la queja y que al momento de ser contactado por De la Cadena le sirve para hacer fuego, adquiere el estatus de archivo o más bien de “objeto límite” -una especie de materialización de una conexión parcial- entre el mundo de la burocracia estatal centrada en lo escrito y el mundo indígena principalmente unilingue quechua, en el cual pocas personas saben leer y escribir a pesar de los esfuerzos de la comunidad por tener escuelas frente a la oposición de la hacienda. ¿Cómo conferir evenemencialidad, algo así como capacidad para ser algo más que parte del paisaje y alterar el desarrollo de los hechos en la lucha por el territorio, tanto a los runakuna como a seres de la tierra? De la Cadena responde a esta pregunta en la cuarta narración.
El segundo interludio avanza según la cronología de la situación en Pacchanta en las últimas décadas. Nazario Turpo, hijo de Mariano Turpo y también capaz de comunicar con seres no-humanos, es el protagonista principal de la segunda parte del libro. En ella, aprendemos que la situación de abandono en que se encuentra la comunidad de los Turpo no ha cambiado a pesar del relativo éxito de la lucha por la tierra, de la reforma agraria o del multiculturalismo promulgado por el presidente Toledo (2001-2006). Y cuando De la Cadena habla de abandono lo hace citando a Povinelli (2011), es decir apuntando a un proyecto sistemático por parte del Estado peruano según el cual la vida de los runakuna se conjuga siempre en pasado o en futuro anterior, pero nunca en presente, de tal manera que sus muertes no gozan de evenemencialidad. La muerte de Nazario Turpo en un accidente de carretera en el bus que lo transportaba a Cusco, donde ejercía como chamán para una agencia turística, es quizás -insinúa la autora- el resultado de las malas condiciones de las carreteras de la zona, las que no se limitan solo a los caminos, sino que también se extienden a escuelas y hospitales y contribuyen a la situación de pobreza y de carencias en un altiplano afectado por sequías e inviernos helados.
La quinta narración nos explica cómo Nazario Turpo llegó a obtener el trabajo de chamán en una agencia turística y cómo este puesto es el resultado de la mercantilización de las prácticas indígenas en el Perú; mercantilización más bien de las prácticas y sus significados que se imputan a los runakuna y que no necesariamente tienen. De hecho, De la Cadena comenta que el rol de “chamán” no existe para los runakuna -quienes identifican en cambio a un paqu, algo parecido, pero diferente- y para quienes prácticas como los despachos ofrecidos a seres de la tierra, traducidos por lo general como “ofrendas”, no hacen ni pueden hacer referencia a una espiritualidad por cuanto los seres de la tierra no tienen ni son espíritus, solo son.
La venta del “chamanismo andino” como producto turístico benefició a nivel económico a Nazario Turpo y a su familia y le valió una invitación a Washington D.C. para participar en una exposición organizada por el National Museum of the American Indian, en tanto parte del equipo de curadores de la exhibición y en tanto él mismo como indígena parte de la muestra. La sexta narración se centra en esta colaboración entre Nazario Turpo y el museo y describe múltiples “equivocaciones” en el sentido desarrollado por Viveiros de Castro (2004), es decir como intentos aceptadamente errados de traducción de la realidad de otro, ontológicamente diferente de la propia. Una de estas refiere, por ejemplo, a la imposibilidad por parte de los organizadores de la exposición de comprender el rol que juegan los seres de la tierra en Pacchanta.
En esta sexta y última narración, De la Cadena discute cómo se distribuye algo así como el “poder” en la comunidad y en sus relaciones con el Estado peruano, aunque ni la autora ni sus informantes utilizan esa palabra. Descubrimos que una misma palabra en quechua –munayniyuq, traducida por la antropóloga como “dueño de la voluntad”- aplica tanto para la hacienda, el Estado peruano y Ausangate, la montaña. Así, el capítulo final del libro incluye descripciones de las rondas campesinas organizadas por la comunidad y de la manera en que algunos de sus miembros obtuvieron cargos políticos representativos en el gobierno local, además nos introduce en la propuesta con que Marisol de la Cadena cerrará el libro en su epílogo: la “cosmopolítica” como una manera de enfrentarse epistemológicamente a otro, sobre todo como un enfoque normativo que permitiría concebir políticamente las diferencias entre mundos ontológicamente distintos.
Al basarse en autores como Blaser (2009) y Haraway (2008) y constatando que las movilizaciones por la protección del medio ambiente frente a la explotación corporativa de recursos naturales reivindican la distinción entre naturaleza y sociedad, invisibilizando así a los seres no-humanos como ríos, montañas y lagos en su capacidad de acción y relaciones que establecen con la comunidad, De la Cadena -leyendo a Stengers (2005)- afirma que Mariano y Nazario Turpo, así como su comunidad en Pacchanta, pusieron en práctica una manera de relacionarse con otros en la cual la igualdad ontológica no era un requisito y en que la “parcialidad de las conexiones” era posible. En palabras de la autora (mi traducción): “sostengo que, al discrepar ontológicamente con la partición establecida de lo sensible, los runakuna proponen una cosmopolítica: las relaciones entre mundos divergentes como una práctica política decolonial que no tiene otra garantía que la ausencia de igualdad (sameness) ontológica” (p. 281). Que la cosmopolítica practicada por los runakuna sea tal es brillantemente demostrado por De la Cadena a lo largo de su obra, sin embargo aquí se introduce una crítica a su trabajo y es que el carácter decolonial en él no se revela tan nítidamente.
Una de las principales fortalezas de esta etnografía es precisamente su capacidad para convertirse en un estudio empírico que a la vez moviliza y desafía las literaturas ligadas tanto al ámbito de la ontología política como a los estudios postcoloniales. Sin embargo, mientras que De la Cadena nos presenta una respuesta completa, teórica y aplicada a la pregunta por cómo aprehender las diferencias ontológicas, la noción de “poder” -en sus versiones más o menos elaboradas, siempre inherente a cualquier reflexión desde la decolonialidad- no alcanza a constituir una respuesta satisfactoria a la pregunta por cómo estudiar a quienes están “en la sala de espera de la historia” (Chakrabarty 2000). Al fin y al cabo, y según los relatos reportados por De la Cadena, esta “sala de espera” no es solo un lugar donde lo que los runakuna hacen y creen no es conocido ni re-conocido, sino que también es un lugar donde la comunidad se está muriendo de hambre y de frío, donde no tiene acceso adecuado a escuelas o a hospitales y donde es continuamente abusada por otros.
La “cosmopolítica” que puedan poner en práctica tanto los runakuna como la antropóloga no es suficiente -aunque quizás en ningún caso prescindible- para otorgar dignidad epistemológica e histórica a la comunidad de Mariano y Nazario Turpo. ¿Cómo dar cuenta de la discrepancia ontológica con el proyecto moderno que encarnan los seres de la tierra en Pacchanta y, al mismo tiempo, de la igualdad política a la que sin embargo los mismos runakuna parecen aspirar? ¿Cómo dar cuenta, simultáneamente, de la diferencia ontológica entre mundos y de la participación en un mismo mundo desigual? El libro de Marisol de la Cadena ofrece ciertamente un trabajo de terreno fascinante, una escritura impecable y una reflexión rigurosa para pensar estas preguntas que inquietan a la antropología contemporánea.
Comentario
1 La situación en Pacchanta, cuyos orígenes se remontan a la colonización española, es el resultado de la tensión entre la entrega de títulos hacendales sobre territorios indígenas a colonos, lo que obligaba a las comunidades que vivían y trabajaban las tierras de la hacienda a pagar tributos a sus dueños, y las sometía a múltiples abusos. La hacienda Lauramarca, que controlaba la zona y que ha tenido distintos dueños a lo largo del siglo pasado, estuvo vigente hasta 1970, cuando luego de muchos conflictos que incluyeron diferentes matanzas de indígenas, ésta se convirtió en una cooperativa agraria. En los años 1980, la comunidad indígena expulsa a los administradores estatales de la cooperativa, deshaciéndola y redistribuyendo la tierra entre las familias indígenas.
Referencias
Blaser, Mario. 2009. “Political Ontology.” Cultural Studies23 (5): 873-896. [ Links]
Chakrabarty, Dipesh. 2000. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference.Princeton: Princeton University Press. [ Links]
Guha, Ranajit. 2002. History at the Limit of World History. Nueva York: Columbia University Press. [ Links]
Haraway, Donna. 2008. When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press. [ Links]
Latour, Bruno. 1993. We Have Never Been Modern. Cambridge: Harvard University Press. [ Links]
Povinelli, Elizabeth. 2011. Economies of Abandonment. Social Belonging and Endurance in Late Liberalism. Durham: Duke University Press. [ Links]
Stengers, Isabelle. 2005. “A Cosmopolitical Proposal.” En Making Things Public: Atmospheres of Democracy, editado por Bruno Latour y Peter Weibel, 994-1003. Cambridge: MIT Press. [ Links]
Strathern, Marilyn. 2004 [1991]. Partial Connections. Nueva York: Altamira. [ Links]
Trouillot, Michel-Rolph. 1995. Silencing the Past: Power and the Production of History.Boston: Beacon. [ Links]
Viveiros de Castro, Eduardo. 2004. “Perspectival Anthropology and the Method of Controlled Equivocation.” Tipití2 (1): 3-22. [ Links]
Javiera Araya Moreno – Magister y estudiante de doctorado en Sociología, Universidad de Montreal. Entre sus últimas publicaciones están: coautora en “Pluralism and Radicalization: Mind the Gap!”. En Religious Radicalization and Securitization in Canada and Beyond, editado por Paul Bramadat y Lorne Dawson, 92-120, 2014. Toronto: University of Toronto Press. Coautora en “Desigualdad y Educación: la pertinencia de políticas educacionales que promuevan un sistema público”. Docencia. Revista del Colegio de Profesores de Chile 44 (XVI): 24-33, 2011. E-mail: javieraarayamoreno@gmail.comMarisol de la Cadena. 2015. Earth Beings. Ecologies of Practice Across Andean Worlds. Durham: Duke University Press
[IF]
Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser – NASSER (CN)
NASSER, Eduardo. Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser. São Paulo: Edições Loyola, 2015. Resenha de: SALANSKIS, Emmanuel. Cadernos Nietzsche, São Paulo, v.37 n.2 jul./set. 2016
Eduardo Nasser publicou recentemente um livro particularmente estimulante e ambicioso intitulado Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser. Fruto de uma tese de doutorado defendida em 2013 (sob o título Epistemologia e ontologia em Nietzsche à luz do problema do tempo), esse trabalho procura retraçar o caminho intelectual que levou Nietzsche a desenvolver uma filosofia do vir-a-ser. Para tanto, o autor recorre ao estudo de fontes, que permite ler as propostas filosóficas de Nietzsche “como respostas para problemas produzidos no contexto intelectual particular de sua época” (p. 25). Mas o livro se esforça para nunca cair numa mera erudição, nem tratar a obra nietzschiana como um mosaico de plágios (p. 26). Eduardo Nasser oferece, antes, uma contextualização impressionante das reflexões de Nietzsche sobre o tempo e o viraser. Destaque especial deve ser dado à análise da refutação da idealidade do tempo na esteira do filósofo russo Afrikan Spir (p. 58-70), bem como à apresentação da teoria dos átomos de tempo, com seus dois “lados” epistemológico e físico (p. 151-153 e p. 173-188, ver abaixo). O título do livro, saliente-se, se justifica por uma tese mais geral que vai além dessas análises específicas. O autor interpreta a filosofia nietzschiana do viraser como uma ontologia, na medida em que “Nietzsche busca no realismo do viraser não somente uma supressão do ser, mas também uma nova forma de recolocar a pergunta pelo ser” (p. 27). À luz dessa “irrupção do ser”, Nietzsche é colocado em perspectiva como um precursor das ontologias antiessencialistas do século XX, especialmente no contexto das chamadas “filosofias do processo” (p. 242-248). Embora eu não compartilhe inteiramente essa leitura ontológica, considero Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser como uma contribuição extremamente original e desafiadora para os estudos nietzschianos contemporâneos. Gostaria de resumir algumas passagens essenciais do livro antes de discutir brevemente sua perspectiva geral.
***
A primeira análise importante, desenvolvida no capítulo 1, diz respeito à “virada realista” que Eduardo Nasser identifica no pensamento do jovem Nietzsche a partir de 1873. Inicialmente, Nietzsche certamente não se definia como um realista. Sabese que ele defendia um idealismo cultural ligado a pretensões educativas e a uma “metafísica do artista” (p. 30-37). O ponto de partida de Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser consiste em mostrar que essa posição era “epistemologicamente [amparada]” pelas leituras neokantianas do jovem Nietzsche: Liebmann, Fischer, Ueberweg, Haym e, sobretudo, FriedrichAlbert Lange (p. 32). Herdeiro dessa tradição transcendental, Nietzsche julgava o conhecimento da “coisa em si” inacessível; enxergava o próprio conceito de coisa em si como “uma categoria oculta“; e concluía, com Lange, que a metafísica não é nada senão uma “intuição poética” (p. 34-35).
Contudo, Eduardo Nasser sustenta que uma “mudança de rumo” advém quando Nietzsche descobre o opus magnum do filosofo russo Afrikan Spir, Denken und Wirklichkeit. O jovem Nietzsche é então exposto à objeção capital de Spir contra a teoria kantiana da idealidade do tempo: contrariamente ao espaço, o tempo não pode ser uma ilusão nem possuir uma realidade simplesmente subjetiva, pois a mera representação de uma sucessão não seria sucessiva e não poderia dar origem à temporalidade de uma sucessão de representações (p. 67). As p. 62-64 fornecem uma excelente contextualização do argumento de Spir na história do kantismo. Depois, o autor bem mostra os sinais de uma incorporação nietzschiana desse argumento. É o raciocínio mobilizado no capítulo XV de A filosofia na idade trágica dos gregos para refutar o eleatismo: ou seja, a postulação por Parmênides, no segundo período de seu pensamento, de um Ser único e imutável, acessível à pura razão, que supostamente tornaria ilusória a nossa experiência sensível de um mundo em viraser (p. 51). Tal ilusão pode ser refutada como autocontraditória. Com efeito, o permanente precisaria ser mutável para suscitar uma aparência de mudança. Nas palavras de Nietzsche: “não se pode negar a realidade da mudança. Se ela for expulsa pela janela afora, volta a entrar pelo buraco da fechadura” (p. 61). Assim, segundo Eduardo Nasser, chega-se a pensar o tempo como “a única propriedade atribuída ao real que sobrevive à inspeção crítica” (p. 240). O que também implica um abandono do idealismo transcendental, enquanto “disfarce usado pelo eleatismo para iludir seus opositores” (p. 70).
Iniciada em 1873, a problematização realista de Nietzsche se manifestaria na obra publicada a partir de Humano, demasiado humano. Estaria subjacente a uma “filosofia histórica” que faz do viraser seu objeto primordial (p. 88-89). Aqui, Eduardo Nasser apresenta uma segunda análise importante. Ele explica que o realismo nietzschiano “requer uma nova perspectiva epistêmica” (p. 95), podendo essa ser caracterizada como um sensualismo (p. 99). O capítulo 2 procura esclarecer o sentido, o interesse e os limites desse sensualismo, sem esquecer de dialogar com comentadores que já abordaram o assunto (como Maudemarie Clark, Mattia Riccardi ou Pietro Gori). Uma distinção elucidativa é feita entre sensualismo e materialismo. Se o primeiro aceita o testemunho dos sentidos enquanto mostram a realidade do vir-a-ser (p. 116), isso não pressupõe “um mundo de coisas, substâncias e átomos”, ao invés do segundo, que vive “à sombra da metafísica” (p. 100). Sendo assim, o sensualismo tem a seu favor “uma consciência filosófica mais apurada” (p. 99). Seria a posição que Nietzsche adotaria enquanto “hipótese regulativa” ou “princípio heurístico” no § 15 de Para além de bem e mal, o que justificaria uma aproximação parcial com o fenomenalismo de Ernst Mach (p. 109-111). Aliás, Eduardo Nasser oferece uma pequena crônica (muito bem-vinda) da aproximação Nietzsche-Mach desde Hans Kleinpeter, discípulo de Mach e admirador de Nietzsche. É verdade que a diferenciação com o materialismo não resolve todos os problemas, o que o autor não dissimula. Por um lado, Nietzsche nem sempre usa a palavra Sensualismus num sentido positivo. O § 14 de Para além de bem e mal fala, por exemplo, do “sensualismo eternamente popular”, que acredita apenas no que “pode ser visto e tocado”, uma atitude fundamentalmente plebeia segundo a axiologia nietzschiana (p. 100). Por outro lado, Eduardo Nasser sugere que Nietzsche não renuncia a buscar causas para as sensações. Ora, isso ultrapassa o âmbito de um “sensualismo monístico”, que excluiria, em princípio, um “conhecimento não sensorial das sensações” (p. 112).
Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser desenvolve uma argumentação interessante a favor de uma interpretação sensualista. Parece-me que essa chave de leitura permanece discutível, notadamente por uma razão que o próprio autor indica: o fato de Nietzsche adotar “um tipo de epistemologia evolucionista” (p. 124). A meu ver, num quadro de reflexão evolucionista, a sensação é menos um dado epistemológico primeiro do que uma interpretação herdada do passado orgânico, que tem uma função vital. Isso quer dizer que a sensação pode ser criticada enquanto interpretação. É justamente o que mostra a excelente nota 61 da p. 104, que enumera três fragmentos póstumos de Nietzsche tratando da falsificação visual do mundo efetivo: o nosso olho é “um poeta inconsciente e um lógico” (Nachlass/FP 15 [9] do outono de 1881, KSA 9.637), que não apenas “simplifica o fenômeno” (Nachlass/FP 26 [448] do verão/outono de 1884, KSA 11.269), mas também constrói a coisidade, ao despertar “a diferença entre um agir e um agente” (Nachlass/FP 2 [158] do outono de 1885/outono de 1886, KSA 12.143). Sabemos que essa distinção Thäter/Thun será colocada em questão pela Genealogia da moral. Todavia, será que tem uma sensação por trás da sensação, ou um “mundo fenomenal profundo” do viraser sob o mundo fenomenal superficial da coisidade (p. 125)? Concordo com Eduardo Nasser quando ele evoca o refinamento dos sentidos ao qual Nietzsche nos convida. Também subscrevo a ideia de que tal aperfeiçoamento tem limites necessários (p. 122-134). Eu simplesmente não tenho certeza de que algo “afeta os sentidos originariamente” (p. 133), na medida em que esse “algo” só poderia existir do ponto de vista de uma interpretaçãoapropriação que o põe (ver abaixo).
Uma terceira análise, talvez a mais notável de Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser, concerne à teoria dos átomos de tempo do jovem Nietzsche (cap. 2-3). Trata-se de uma teorização “em grande medida concentrada num fragmento de 1873” (p. 151), a famosa nota 26 [12] ilustrada por dois esquemas. O autor decompõe esse questionamento em um “lado epistemológico” (p. 151-153) e um “lado físico” (p. 173-188). Em ambos os casos, estamos em presença da postulação de “unidades mínimas de tempo” (p. 151), mas tal suposição pode ser entendida como a de um mínimo sensorial ou de um mínimo físico, sem que exista necessariamente uma discrepância entre as duas acepções: Eduardo Nasser rejeita as “falsas polêmicas geradas em torno do valor objetivo ou subjetivo” do atomismo temporal (p. 173).
Um primeiro lado desse atomismo é sensorial. A esse respeito, o final do capítulo 2 remete à leitura nietzschiana de Karl Ernst von Baer (p. 144-150). O célebre fisiologista russoalemão acredita identificar uma “medida fundamental do tempo”, o batimento cardíaco (p. 146). Pois observa que a velocidade das pulsações condiciona a percepção do tempo, de modo que um coelho, com sua pulsação “quatro vezes mais veloz que a de um bovino”, “possui uma vida mais veloz” (p. 147). Situada entre essas duas temporalidades, a nossa existência poderia ser radicalmente alterada por uma simples aceleração ou desaceleração cardíaca: o mundo poderia nos parecer quase imutável ou, pelo contrário, profundamente efêmero (p. 147-148). Isso permite conceber a pulsação como uma espécie de átomo temporal, o que leva o jovem Nietzsche a dizer que o atomismo temporal coincide com uma teoria da sensação (p. 153). Contudo, Eduardo Nasser sublinha que o “ponto de sensação” não é exatamente um instante: ele já envolve o vir-a-ser, é mesmo “originariamente equivalente ao vir-a-ser” (p. 152). Assim, von Baer aparece a Nietzsche como um aliado do heraclitismo, leitura idiossincrática que transparece no curso sobre Os filósofos pré-platônicos (p. 146).
Mas o atomismo temporal do jovem Nietzsche também possui uma física, esboçada pelo elíptico fragmento 26 [12]. Para esclarecer esse segundo aspecto, Eduardo Nasser remete a uma outra referência científica do jovem Nietzsche, a física dinamista de Roger Boscovich: “é a partir do dinamismo de Boscovich que Nietzsche chega ao seu conceito de força e, consequentemente, à sua visão de mundo” (p. 168). O interesse de Nietzsche pela física boscovichiana dos pontos dinâmicos é muito bem documentado pelo capítulo 3. Mais uma vez, a interpretação nietzschiana se mostra criativa e radical. Pois Eduardo Nasser mostra que Nietzsche abole toda forma de permanência substancial, contrariamente a Boscovich, que ainda admitia pontos materiais imutáveis na sua Teoria da filosofia natural (p. 181-183). Mas a mais espetacular deformação nietzschiana parece ser uma tradução temporal de Boscovich: “os pontos nietzschianos são temporais, diferenças puras” (p. 181), que acolhem “forças absolutamente mutáveis” (p. 182). Daí o estranho saltacionismo temporal do jovem Nietzsche, ilustrado no segundo diagrama do fragmento 26 [12]: tudo se passa como se ocorresse uma ação à distância entre pontos temporais separados, uma sugestão tanto fascinante quanto enigmática (p. 186).
Poder-se-ia ver essas reflexões como ideias en passant, que Nietzsche nunca desenvolveu seriamente na sua obra posterior. No entanto, Eduardo Nasser atribui grande importância a esse momento teórico precoce: “na teoria dos átomos de tempo encontramos o essencial do que pode ser chamado de a visão de mundo hipotética de Nietzsche” (p. 188). Nietzsche teria permanecido fiel ao núcleo dessa física inicial: a busca de uma esquematização temporal da realidade, baseada na convicção de que “somente a mudança pode explicar a mudança” (p. 183). Novos desdobramentos teriam sido incluídos nessa visão de mundo dinâmica, tais como um princípio de continuidade (p. 188-197) e a própria hipótese da vontade de potência (p. 197-202). Seguindo essa linha interpretativa, Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser propõe uma interpretação iconoclasta da vontade de potência como “uma forma de tornar o discurso dinamista […] mais palatável a um público não especializado” (p. 202). Sem dúvida, essa proposta suscitará discussões no contexto da Nietzsche-Forschung.
***
Volto agora à noção paradoxal de “ontologia do vir-a-ser”, que dá sua perspectiva geral ao livro. Gostaria de indicar sucintamente em que sentido Eduardo Nasser reabilita uma problemática ontológica, para depois levantar duas dificuldades, num espírito de amizade nietzschiana.
O autor está bem ciente de que Nietzsche rejeita as ontologias tradicionais, aquelas que podem ser chamadas de “essencialistas” (p. 208). A palavra técnica Ontologia é rara no corpus nietzschiano, mas uma de suas ocorrências corresponde a uma crítica implacável de Parmênides (p. 209). É evidente, portanto, que Nietzsche considera o Ser do eleatismo como ilusório: ele dá razão a Heráclito tal como o entende, desde A filosofia na idade trágica dos gregos até Ecce homo (p. 217). Mas outra questão é saber se Nietzsche não teria também uma concepção ontológica positiva, em virtude de uma espécie de “homonímia do ser” (p. 217-227). De fato, é o que Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser defende: “O ser enquanto essência, enquanto ousia, não é o verdadeiro ser” (p. 219). Assim entendido, Nietzsche prefiguraria em certa medida o questionamento heideggeriano, pace Heidegger em seu curso sobre Nietzsche. Conhece-se a famosa “diferença ontológica”: Heidegger interpreta a história das metafísicas do ente como a do esquecimento de uma pergunta mais fundamental pelo Ser. Nessa direção pósheideggeriana, Jean Granier é citado como um dos intérpretes que reconheceram a “plausibilidade do problema ontológico em Nietzsche”, em seu livro clássico sobre Le Problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche (p. 19-22).
É certo que Nietzsche pronuncia frases do tipo: “o único tipo de ser é – ” (p. 224). Mas será que isso permite atribuir uma ontologia Nietzsche? Vejo dois problemas. O primeiro é mencionado pelo autor no final do capítulo 4: a dessencialização nietzschiana da ontologia “é também a destruição de toda ontologia”, pelo menos enquanto discurso científico (p. 227). O ser não tem mais um conteúdo essencial suscetível de ser caracterizado por um logos, a não ser que Nietzsche não mantenha seu antiessencialismo de modo coerente (a pergunta poderia ser feita à luz de certas formulações sobre a vontade de potência, como a do fragmento 14 [80] de 1888 citada na p. 227: “a essência mais íntima do ser é vontade de potência”; o eterno retorno também levanta interrogações, como mostra o excurso crítico das p. 227-237). Mas talvez Nietzsche tenha uma segunda objeção ainda mais radical contra o discurso ontológico. No âmbito do seu perspectivismo, ele afirma a nãoexterioridade da aparência em relação ao ser. Não tem o ser de um lado e suas manifestações do outro, o que “é” é sempre visto desde uma outra coisa. Assim, não se pode dizer absolutamente falando que A é B, nem mesmo que A existe em si. Eduardo Nasser cita pelo menos dois textos que vão nesse sentido, os fragmentos 2 [149] de 1885/1886 e 7 [1] de 1886/1887 (p. 219 e p. 224). No fragmento 7 [1], Nietzsche coloca aspas na palavra “fenomenal” [Phänomenale], que se deve distinguir do vocabulário propriamente nietzschiano da aparência [Schein]. De fato, não “tem” em Nietzsche um mundo fenomenal objetivo a ser descrito. Parece-me, nesse sentido, que o desafio filosófico não seria mais procurar um ser, mesmo fenomenal, mas sim elaborar critérios para orientar-se metodologicamente nas aparências.
***
Essas observações visavam apenas a prosseguir o diálogo com Eduardo Nasser e a agradecer a ele por este belo livro, que vem enriquecer a coleção Sendas & Veredas do GEN. Produto de um trabalho bibliográfico considerável, Nietzsche e a ontologia do vir-a-ser defende uma interpretação ousada com uma argumentação precisa. Essa obra é uma mina intertextual, que, seguramente, interessará a todos os especialistas de Nietzsche em língua portuguesa.
Emmanuel Salanskis – Doutor em filosofia pela Universidade de Reims, pesquisador no laboratório SPHERE do CNRS e diretor de programa no Collège International de Philosophie, França. Correio eletrônico: emmanuel.salanskis@noos.fr
Ontologia e dramma: Gabriel Marcel e Jean Paul Sartre a confronto – ALOI (ARF)
ALOI, Luca. Ontologia e dramma: Gabriel Marcel e Jean Paul Sartre a confronto. Prefácio de Franco Riva. Milano: Albo Versorio, 2014. Resenha de: SILVA, Claudinei Aparecido de Freitas da. Ontologia e drama: Gabriel Marcel e Jean Paul Sartre em tête-à tête. Aufklärung – Revista de Filosofia, João Pessoa, v.3, n.1, p.171-174, Jan./jun. 2016.
Se há dois autores em que, filosofia e teatro harmoniosamente se mesclam, é Gabriel Marcel (18891973) e Jean Paul Sartre (19051980). Ambos transfiguram, no cenário da cultura contemporânea, um estilo realmente único para não dizer paradigmático de interrogação da condição humana. E isso, seja ao advogar as próprias teses, seja ao dar vida aos seus personagens. Partilham, em grande medida, das questões candentes que, peremptoriamente, assolariam, de maneira crucial, um momento decisivo na história do século passado: o período entreguerras. Aliás, para eles, a guerra jamais fora um evento geopolítico circunscrito, apenas, numa escala de interesses macroeconômica. Ao contrário, a guerra assume, do ponto de vista, sobretudo, fenomenológico, um agenciamento próprio como questão, o que se torna ,pois, evidente, tanto em virtude da atividade filosófica quanto da multifaceta da produção estética (dramatúrgica, literária, musical) que um e outro dão vazão em suas reflexões. Nesse contexto, o legado deixado por suas obras é, indiscutivelmente, de um valor teórico-literário emblemático. Fato é que, muito embora Sartre tenha sido uma figura que “roubara a cena” intelectual de então (sem falar de sua carismática personalidade política que, midiaticamente, passa cobrir parte expressiva da segunda metade de século), nem por isso, a presença de Marcel deixa de ocupar um espaço pujante e decisivo. Este último é um autor que também terá o seu público e os seus leitores. Cabe atentar, antes de tudo, que ele é um mestre de cuja inspiração afeta toda uma geração de intelectuais do porte de Merleau- Ponty, Ricœur, Lévinas, e, é claro, o próprio Sartre. É Marcel, por exemplo, quem põe na ordem do dia, pela primeira vez, a noção de engajamento como signo de um debate que marcaria, para sempre, o espírito da época; espírito este encarnado numa nova forma de se fazer filosofia: uma filosofia “militante” embebida no “concreto”. Trata-se de um modus operandi que toma corpo como estilo único de reflexão instituindo, pois, em solo francês, uma nova tradição de pensamento: a tradição fenomenológicoexistencial.
É esse panorama mais geral que Luca Aloi abre emOntologia e dramma:Gabriel Marcel e JeanPaul Sartre a confronto. Com Prefácio de Franco Riva, editado em 2014 pela Albo Versorio de Milão, o livro transcende qualquer quadro meramente comparativo ou descritivo. Ele se propõe, antes, como incisivamente provocativo. O autor traz à cena as figuras de Marcel e Sartre como expressões de um alquímico experimento na seara da tradição em questão. Partindo de tal registro, Aloi põe na balança, dois pesos e duas medidas dessa viva e fértil cultura intelectual do século XX: uma herança, ainda, por ser mais bem inventariada. Nessa retrospectiva, o trabalho de Aloi reaviva o caloroso colóquio entre os dois pensadores travado num momento efervescente das mais variantes posições.
Em regra, malgrado a complexa análise de conjuntura balanceada nesse trabalho de fôlego, Aloi incita, no calor da discussão, um verdadeiro “fogo cruzado” que se propaga em múltiplas “labaredas”. Cada capítulo do livro é como uma “lenha na fogueira” a mais … A primeira chama já é acesa com a insidiosa polêmica de O Existencialismo é um Humanismo?, de 1946; conferência em que Sartre, deliberadamente, alcunha o termo existencialismo não só à própria obra, mas a um circuito mais amplo de autores. A repercussão do texto que simbolicamente ressoa mais como um manifesto tem, de imediato, uma recepção nada simpática por parte daqueles que são associados à signatária terminologia como Jaspers, Heidegger e o próprio Marcel. Este, veementemente, protesta, julgando que “o pensamento existencial degenera em existencialismo” (Marcel, La dignité humaine. Paris: Aubier, 1964, p. 10), tomando ainda partido, ao lado de Heidegger, contra o professo “humanismo” sartriano. Isso tudo, sem falar de sua indiscreta ojeriza a certas aderências lexicais como é o caso dos “ismos” comumente sufixados em muitas posições teóricas ou ideológicas. No fundo, essa querela deflagraria apenas a ponta de um iceberg cuja camada contém, por certo, dimensões maiores. Aloi “quebra o gelo” ao situar Marcel e Sartre como autores, em radical dissenso, o que desde já, também sela o que será a tônica do pensamento concreto em curso: seu caráter dissidente, multiforme e, por isso mesmo, heterodoxo.
Não há, portanto, como permanecer indiferente, retrata Eloi, a essa “constante frequentação polêmica com Sartre” (2014, p. 17). A próxima lenha na fogueira agora é o solipsismo. Será que Sartre realmente o supera? Ora, a sua posição tem sido, por vezes, manifesta: “meu pecado original é a existência do outro”, escreve em L’ Être et le Néant.Paris: Gallimard, 1943, p. 321. O outro, enquanto olhar, se torna “minha transcendência transcendida” (Ibidem) sendo, pois, a própria “morte oculta de minhas possibilidades” (Idem, 1943, p. 323). Ele é, ao mesmo tempo, “como todos os utensílios, um obstáculo e um meio. Obstáculo, porque o obrigará, certamente, a nova sações (avançar sobre mim, acender sua lanterna). Meio, porque, uma vez descoberto em um beco sem saída, ‘sou capturado’” (Ibidem). Em tais condições, “já não sou dono dasituação” (Ibidem): a aparição do outro desvela um aspecto não desejado por mim. É esta contingência que constitui, horrorosamente, “a parte do diabo” (Idem, 1943, p.324): ela me expõe à angústia inalienável, diante da qual, “o inferno são os outros” (Idem,Huis Clos. Paris: Gallimard, 1945, p. 122). Desse modo, “pelo olhar do outro, eu vivo como que fixado no meio do mundo, como em perigo, numa situação irremediável” (Idem, 1943, p. 327). Trata-se de um “perigo” que me ronda perpetuamente: “o outro está presente agora por toda parte, debaixo e acima de mim” (Idem, 1943, p. 336). Em face dessa incômoda presença, será preciso, diversamente de Husserl, que “o outro não deve ser procurado primeiro no mundo, mas, sim, do lado da consciência” (Idem, 1943, p. 332). Ora, uma vez posto nessa relação lateral, cartesianamente imputada, “é curioso observar o quanto o pensamento de Sartre tende a fechar-se num perfeito solipsismo”, avalia Marcel (Le déclin de la sagesse. Paris, 1954, p. 67). Nessa doutrina, outrem se reduz ao nível de um problema: a alteridade é captada sob o olhar medusado de um ego nadificante, objetivante. É preciso avançar para além dessa premissa monolítica e petrificante, realocando, pois, a intersubjetividade para outro plano, abdicado por Sartre: o da situação humana, in concreto. Marcel, então, inflama o debate: a possibilidade da percepção de outrem se transfigura como mistério. Outrem é mistério porque nele e com ele estou inexoravelmente engajado, numa só participação ontológica. Disso resulta a premente necessidade de despaginar o luciférico capítulo sartriano, parodiando-a inversamente: “o inferno é o eu” (Aloi, 2014, p. 110). Afinal, “ser é ‘ser com’, existir é ‘co-existir’” (Apud Aloi, 2014, p. 139); coexistência que atesta “o mundo como dimensão intersubjetiva originária” (Aloi,2014, p. 142).
É partindo desse argumento que o tema da liberdade toma forte impulso. Tal como uma brasa viva, a lenha da liberdade inflama outro confronto à queima-roupa entre os filósofos. No frigir dos ovos, qual o problema? O ideal sartriano da liberdade como negatividade. Esse ideal, solipsista por princípio, é o que assenta a radical impermeabilidade entre o ser e o nada, deflagrada pelo caráter inerentemente negativo da existência. Disso emana uma noção niilista de liberdade, sintomaticamente cara a Sartre: o homem está, em absoluto, condenado a ser livre. Eis, em prima facie, o “mito central do sartrismo: uma liberdade edificada no nada” (Aloi, 2014, p. 46). É que, para Sartre, “estamos condenados a ser livres; a liberdade é o nosso destino, é a nossa servidão, mais que a nossa conquista […]. Ela é aqui concebida a partir de uma falta, não de uma plenitude” (Marcel,Homo viator. Paris: Association Présence de GabrielMarcel, 1998, p. 231). Trata-se de uma “falta” que, “do ponto de vista do cogito, é consciência (de) falta” (Ibidem). Assim, mais uma vez, chega-se a outro beco sem saída, como nota Aloi (2014, p. 40): “A minha liberdade se encontra com outra liberdade no signo da negação e da limitação recíproca: a natureza das relações entre eu e outrem se revela como intrinsecamente conflituosa”. O que esperar, para além dessa teoria do conflito? Outro modo de existência livre, ou seja, uma liberdade situada, imersa, originariamente, na própria abertura ao mundo e a outrem. Por isso, a referida “liberdade que defendemos in extremis, não é uma liberdade prometeica, não é a liberdade de um ser que seria ou que pretendia ser para si” (Marcel, Les hommes contrel’humain. Paris: Editions Universitaires, 1991, p. 151), mas “uma liberdade que seinsere na trama mesma de nossa existência” (Idem, 1964, p. 183).
Posto isso, o ponto de fricção com Sartre mal parece ainda ter fim. Ademais, é a candente questão do engajamento que passa a arder em chamas. Em sua produção literário-dramatúrgica, Sartre acentua o caráter infundado e absurdo da existência. Como em A Náusea, a contingência radical permanece um ideal irrealizável, um objetivo completamente fora de alcance. Na contramão dessa tese, Marcel, uma vez mais, toma partido, optando por outra via: a de uma “fenomenologia da esperança”. Oque é a esperança? Ela é interrogada a partir de seu enraizamento e transcendência. “A esperança não tem, portanto, nada a ver com um otimismo de matriz ‘iluminista’”(Aloi, 2014, p. 101), ou, o que é pior, uma atitude passivamente estática. Ela é “tensão contínua”, “exposição, risco, impulso” (Aloi, 2014, p. 109), inflamando-se, pois, na militância do concreto, isto é, em meio à itinerância humana; aquela do homo viator conforme metaforiza Marcel pondo a nu, visceralmente, o que o discurso filosófico é incapaz, de per se, expor. Aqui, sem maiores cerimônias, a criação dramática e a práxisfilosófica se solicitam. O ontológico se fenomenaliza. Entre o “ser” e o “aparecer” desconstrói-se qualquer distinção ou sobreposição. Como na ágora grega, o discurso se inflama tragicamente, maieuticamente. O teatro se torna o solo, o húmus desde onde a reflexão se prepara e se cultiva. O drama é esse experimento, por excelência, que perfaza comunhão viva na qual se radica toda participação, todo engajamento, toda ação. Sartre avançara em seu projeto, mas, em virtude do recalcitrante cartesianismo, permanecera ainda prisioneiro de uma forma de humanismo, egologicamente, centrada. Ora, é tal humanismo que põe em risco a própria noção de engajamento, deixando ao sabor dos acontecimentos o sentido último da ação, imputada por certa cartilha ou plataforma político-ideológica. Marcel vira o jogo: é preciso fazer a passagem do “espírito de abstração” (excludente, por princípio) para outro nível: o da participação ontológica (em rigor, inclusiva).
Afora essas discrepâncias teóricas, um dos aspectos retratados pelo livro de Aloi é o fator de impacto da produção dramatúrgica tanto de Marcel quanto de Sartre. A projeção sartriana, nesse quesito, é, sem dúvida, patente, o que, por outro lado, cabe observar que “Marcel realiza uma intensa atividade de leitor e crítico teatral […] sem jamais deixar de reconhecer os méritos de Sartre como dramaturgo de quem, inclusive, elogia um talento extraordinário” (Aloi, 2014, p. 71). Se Marcel poupa a arte dramática de ser dogmática, apologética ou um “teatro de tese”, é para salvaguardar o que de mais reside nesta de real e de concreto. Um teatro de tamanho peso jamais se furta ao trágico. É essa lição que a criação estética de ambos revela, extraordinariamente, de catártico. O drama desvela o seu ardil: via o personagem, toca-nos intimamente, ontologicamente. Atrama dramática inflama profundamente, pondo o dedo na ferida de nossos personalismos, narcisismos, misticismos. Essa é a razão pela qual o trabalho de Aloi também não ignora o lugar do dramaturgo como tema constante da reflexão de Marcel. O intérprete italiano mostra o quanto, para o pensador francês, o autor deve-se cuidar para não intervir de maneira invasiva em seus personagens. Ao diretor, digno desse nome, convém manter, tão somente, certa “presença de ausência”, sem deixar de ser perspectivista ou de promover pontos de vista múltiplos.
Afinal, se o livro de Aloi é “incendiário” é porque, no fundo, ele também seja, propositivamente, heraclitiano. Como a filosofia, o teatro também enuncia um logos, um fogo vivo que não se apaga. O que o leitor presencia aí é um fogo ateado, a quatro mãos sem, no entanto, prescindir de suas origens gregas. Sob esse prisma, longe de ser uma simples aventura piromaníaca, Ontologia e drama exerce, com primor, uma práxis paradoxal: ao mesmo tempo em que tudo consome, como no fogo de Heráclito, tudo renova. A noção de “confronto” cotejada no subtítulo da proposta exprime bem não só uma dissonância, mas uma consonância digna de audiência. Como bem adverte seu autor, “esse confronto não fornece da relação Marcel Sartre uma interpretação excessivamente rígida e esquemática […] haja vista a sua complexidade interna” (Aloi,2014, p. 100); complexidade que, para além de uma “guerra dos opostos”, põe em cena uma harmonia essencial que faz do filosofar e da dramaturgia dois gestos concêntricos.
Claudinei Aparecido de Freitas da Silva – PósDoutor em Filosofia. Professor dos Cursos de Graduação e de PósGraduação (Stricto Sensu) em Filosofia da UNIOESTE – Campus Toledo, com Estágio PósDoutoral pela Université Paris 1 – PanthéonSorbonne (2011/2012). Escreveu “A carnalidade da reflexão: ipseidade e alteridade em Merleau-Ponty” (São Leopoldo, RS, Nova Harmonia, 2009) e “A natureza primordial: Merleau-Ponty e o ‘logos do mundo estético’” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2010). Organizou “Encarnação e transcendência: Gabriel Marcel, 40 anos depois” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2013), “MerleauPonty em Florianópolis” (Porto Alegre, FI, 2015) e “Kurt Goldstein: psiquiatria e fenomenologia” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2015). E-mail: m@itlo: cafsilva@uol.com.br
[DR]La rivoluzione ontologica di Hans Jonas: uno studio sulla genesi e il significato di “Organismo e libertà” – TIBALDEO (RFA)
TIBALDEO, Roberto F. La rivoluzione ontologica di Hans Jonas: uno studio sulla genesi e il significato di “Organismo e libertà”. Milano: Mimesis Edizioni, 2009. Resenha de: OLIVEIRA, Jelson. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v.27, n.41, p.629-634, maio/ago., 2015.
A obra The Phenomenon of life: toward a Philosophical Biology, do filósofo alemão Hans Jonas, publicada em 1966, vem despertando cada vez mais o interesse da comunidade filosófica na medida em que projeta novas luzes sobre a filosofia da natureza e a antropologia filosófica, servindo de base para a reflexão ética em torno de questões tão pertinentes quanto polêmicas, entre as quais a crise ambiental, os avanços da biotecnologia e os perigos da técnica. Jonas, bastante conhecido por sua obra de 1979, O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, oferece, com a obra de 1966 e os vários artigos e conferências que circulam em seu entorno, uma nova interpretação do fenômeno da vida.
Entre os estudos que vêm sendo publicados sobre o tema, merece destaque o livro do professor Roberto Franzini Tibaldeo, da Scuola Internazionale di Alti Studi dela Fondazione Collegio San Carlo di Modena. Com o perspicaz título La Rivoluzione Ontologica di Hans Jonas: uno studio sulla genesi e il significato di “Organismo e libertà”, Tibaldeo recupera a fertilidade da obra de Jonas e demonstra sua importância filosófica e o clima cultural favorável que tem possibilitado uma nova luz sobre a temática enfrentada por Jonas. Além disso, o livro recupera a tese de que o tema da vida representa uma chave de leitura unitária para o pensamento de Jonas, primeiro porque fornece possibilidades de uma interpretação mais rica da questão histórico-filosófica do dualismo, já tratado nos textos iniciais do filósofo; segundo porque testemunha a maturidade filosófica com a qual Jonas se aproxima corajosamente do problema da vida como fundamento de sua proposta ética. A “revolução ontológica” de Jonas, nessa medida, evoca a tentativa de interpretar o fenômeno da vida para além do dualismo reinante na cultura ocidental (e presente, conforme a tese de Jonas, na própria ciência moderna) e como objeto central da responsabilidade, além de fornecer as bases de uma nova antropologia.
O livro de Tibaldeo está dividido em três partes: na primeira delas, apresenta os pressupostos da biologia filosófica jonasiana; na segunda, trata das relações entre a obra Organismo e liberdade (título do escrito originário de Jonas a respeito da temática da vida, cuja primeira versão veio à luz em 1954) e a questão do que é específico do ser humano; e, finalmente, na terceira parte, trata da biologia filosófica de Jonas analisando-a do ponto de vista da revolução ontológica e ética que ela produz. Apoiado em documentos originais e em informações biográficas relevantes (que são relatadas na primeira parte da obra), Tibaldeo faz um trabalho filosófico exemplar, fornecendo um retrato ao mesmo tempo completo e didático, com seriedade filosófica e astúcia interpretativa. O livro, por isso, merece ser lido por especialistas em Jonas, mas também por todos os que se interessam pela filosofia da biologia e pelo terrível dilema (e, não raro, os grandes equívocos) que percorre a nossa cultura quando se trata de estudar a relação entre espírito e matéria no que tange à definição da vida. Tibaldeo mostra que, segundo Jonas, desde o movimento gnóstico que está nas bases do cristianismo primitivo, a vida tem sido interpretada de forma errônea e que a modernidade não conseguiu escapar da redução ontológica na forma de um monismo materialista ou de um monismo idealista.
Ao identificar a revolta de Jonas contra o dualismo como um eixo central de sua filosofia, Tibaldeo também demonstra como esse tema está nas bases da interpretação jonasiana do problema do niilismo: o gnosticismo, nesse caso, como um conjunto variado de seitas e movimentos religiosos que, vindos do Oriente, tiveram forte influência sobre o cristianismo nascente, é o primeiro movimento niilista da história e, como tal, lança as bases de uma visão que desvaloriza a experiência terrena e mundana (incluída aí a corporal), abrindo caminho para o sentimento de estrangeirismo do ser humano no mundo, típico dos movimentos niilistas modernos. Nesse caso, como dualismo, o niilismo atravessa a história ocidental testemunhando o estranhamento do ser humano diante de si mesmo e do ambiente no qual ele está lançado.
Tibaldeo demonstra que tal diagnóstico (próprio, portanto, da primeira parte da obra de Jonas) está intimamente ligado às concepções centrais da ciência moderna. Aparece, assim, o problema da vida como derivação do problema do dualismo, já que o vivente tem sido interpretado segundo a mesma tradição: de um lado a matéria corpórea, de outro a matéria espiritual própria do humano. O extremo prejuízo de tal leitura é, sem dúvida, a má compreensão do fenômeno da vida e sua redução às categorias de uma ontologia que prioriza a matéria morta em detrimento da compreensão da atividade espiritual que, em diferentes graus, é partilhada por todo o reino dos viventes. Tibaldeo destaca que é no espetáculo da guerra, ocasião na qual Jonas experimenta a morte dos seres, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo (com o advento da bomba atômica), que tal problemática ganha corpo na obra jonasiana, principalmente por meio de suas Lehrbriefe, as cartas formativas escritas do campo de batalha, entre 1944 e 1945, para a sua esposa Lore. Eis o embrião da obra que nasceria anos mais tarde como uma série de ensaios sobre o fenômeno da vida. A análise atilada de Tibaldeo faz emergir o sentido profundo dessa nova interpretação, por meio de conceitos como a individualidade e a liberdade dos seres viventes, a estrutura e a aventura dessa liberdade ao longo da história evolutiva, até aquelas que podem ser consideradas as características próprias da vida humana, como o desenvolvimento da racionalidade e da atividade metafísica.
Essa relação entre organismo e liberdade é o tema central da segunda parte da obra de Roberto Tibaldeo. Mais uma vez, os dados biográficos fornecem ao leitor a possibilidade de compreender em detalhes a gênese da reflexão jonasiana, conforme era a pretensão do texto, constante já no título do livro. O acesso ao manuscrito inicial da obra, que hoje se encontra nos arquivos da Universidade de Konstanza, e aos demais Nachlass de Jonas, possibilitou a Tibaldeo formular um texto claro e instigante do ponto de vista filosófico e também histórico. A comparação entre o manuscrito inicial, o texto publicado em inglês em 1966 e aquele outro, publicado em alemão no ano de 1973 sob o título de Organismus und Freiheit formam algumas páginas especialmente densas e interessantes no livro de Tibaldeo. Além disso, seu trabalho remonta a questões de cunho metodológico e histórico: por exemplo, ao apresentar como a questão do vivente e do organismo era entendido pelo pensamento alemão da primeira metade do século XIX, envolvendo nomes como Dilthey, Scheler, Eucken, Bergson e mesmo Heidegger, entre vários outros. Jonas, à medida que conhece as teses de tais autores, elabora também sua própria interpretação do fenômeno da vida, dando destaque para o tema do metabolismo: para ele, é pela vida da troca metabólica de um ser com o meio que a vida se torna um enigma a ser desvendado, posto que, nessa perspectiva, a matéria inteira de um corpo é mudada ao longo do tempo e, mesmo assim, algum tipo de identidade permanece como característica desse organismo. A ontologia do organismo de Jonas, como bem mostra Tibaldeo, encontra na fenomenologia um aparato metodológico bastante útil e sua análise se efetiva como uma redefinição da relação entre liberdade e necessidade: a vida, ao se desprender do reino não vivo, realiza um movimento de liberdade precária, visto que continua dependente da matéria inerte e, ao mesmo tempo, ameaçada pela morte. A liberdade, nesse caso, é dialética porque se consolida como uma tentativa de autonomia que é, ao mesmo tempo, necessária: ou isso, ou a vida seria tomada pelo não ser. Todas essas questões levam à relação entre si mesmo e mundo, ou ainda, entre interioridade e exterioridade e ao caráter opositivo e polar da própria vida, algo que, segundo Tibaldeo, passa a caracterizar a essência da vida e, nesse sentido, o mote central da revolução ontológica proposta por Jonas: a materialidade e a espiritualidade da vida caminham juntas, como partes relacionais de um mesmo acontecimento direcionado teleologicamente, cujas bases são reconhecíveis na história evolutiva dos seres, tal como demonstrado pelo próprio darwinismo, do qual Jonas retira consequências filosóficas importantes no reconhecimento do fenômeno da vida.
Ainda que tal proposta tenha parecido inatual ao ambiente anglo-saxão no qual Jonas estava inserido, a tese ganhou aprovação de inúmeros especialistas e pensadores da época. Tibaldeo toma o cuidado de mostrar, entretanto, como Jonas quis distinguir as suas teses de outras que estavam vigorando em sua época, principalmente no que tange à questão da teleologia da vida: a Cybernetics de Norbert Wiener e a General System Theory de Ludwig von Bertalanffy. Além disso, Tibaldeo analisa também as posições de Jonas em relação à ontologia do vivente de seu mestre Martin Heidegger. Outro capítulo especialmente interessante e original da obra de Tibaldeo é aquele no qual ele analisa a relação de Jonas com Aristóteles, Spinosa e Whitehead. Para essa análise, ele se utiliza de vários Nachlass, entre os quais uma série de manuscritos que formam lições proferidas por Jonas na New School for Social Research, entre dezembro de 1962 e janeiro de 1963, reunidos sob o título de O problema da vida e do organismo. A segunda parte do livro termina com um item no qual Tibaldeo realiza uma rica análise do que significa a revolução ontológica em relação à peculiaridade animal e outro item no qual ele analisa o que significa falar em revolução ontológica do ponto de vista da peculiaridade humana.
Na última parte de seu livro, Tibaldeo analisa a biologia filosófica de Jonas sob a perspectiva da ontologia e da ética, nela analisa as repercussões das teses ontológicas sobre as temáticas que ganharão corpo na obra de 1979, O princípio responsabilidade. Nesse último capítulo o autor italiano demonstra como Jonas retira da reflexão sobre a biologia, as premissas de sua ética da responsabilidade, ou seja, demostrando como a responsabilidade, enquanto princípio, está fundada numa ontologia tanto robusta quanto realmente revolucionária no que diz respeito à interpretação da vida. Em outras palavras, é pela revisão ontológica da vida que Jonas chega a um fundamento para sua proposta ética. Para isso, o eixo articulador da reflexão de Tibaldeo é o tema da teleologia.
Tibaldeo, nas 430 páginas de sua obra, oferece uma análise acurada e completa, clara e estimulante, da filosofia da vida proposta por Hans Jonas e, como se isso não bastasse, fornece a chave de leitura de toda a obra jonasiana. Tal perspectiva seria suficiente para tornar o seu livro de leitura obrigatória para quem se interessa por Jonas e/ou pelos temas sobre os quais ele se dedicou ao longo de sua vida. Mas isso não é tudo: Tibaldeo teve a gentileza de acrescentar inúmeras notas de rodapé, absolutamente oportunas, que ajudam a aprofundar a compreensão dos temas tratados. Também pudera: sua pesquisa levou em conta o que de melhor se escreveu sobre e em torno de Jonas nos últimos anos ao redor do mundo, além da totalidade dos textos jonasianos. Prova disso são as cinquenta páginas de referências acrescentadas ao final do livro.
Tibaldeo, com sua obra, possibilita a seus leitores uma rica e verdadeira experiência filosófica, digna daquela que, segundo Jonas, era a parte mais propriamente “filosófica” de sua produção intelectual.
Jelson Oliveira – Doutor em Filosofia. Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Curitiba, PR, Brasil. E-mail: jelson.oliveira@pucpr.br
[DR]The necessary and the possible – LOUX (FU)
LOUX, M. The necessary and the possible. In: M. LOUX, Metaphysics: A contemporary introduction. 3ª ed. New York: Routledge, p.153-186, 2006. Resenha de: CID, Rodrigo. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.12, n.3, p.280-286, set./dez., 2011
Neste capítulo, Loux apresenta alguns problemas com relação às modalidades e algumas das relações entre elas e o vocabulário dos mundos possíveis, expondo as duas principais posições ontológicas com relação a tais mundos e às modalidades e com relação à natureza das modalidades, a saber, o possibilismo e o actualismo, defendidos respectivamente por Lewis e Plantinga. Essas são teorias inconsistentes entre si, que intentam nos dizer se os mundos possíveis são concretos ou abstratos e se existe algo além do que é actual.
Inicialmente, o autor nos fornece uma breve introdução, que expõe de modo breve a diferença entre as modalidades de re e de dicto, a relação entre as modalidades e os mundos possíveis e as duas principais posições ontológicas já citadas. A diferença é que a modalidade de dicto toma a necessidade e a possibilidade como atribuídas a proposições, enquanto a modalidade de re toma essas noções como atribuídas ao modo como uma coisa exemplifica ou instancia uma propriedade, a saber, necessariamente ou contingentemente. A relação seria que uma semântica de mundos possíveis nos ajudaria a esclarecer as noções modais da possibilidade e da necessidade – vistas tanto como de re, quanto como de dicto. E as posições, de modo resumido, são as seguintes:
(a) David Lewis: Este utiliza o conceito de “mundos possíveis” para formular uma abordagem nominalista austera, que apenas toma como existentes particulares concretos e conjuntos, compatível com uma redução das modalidades a entidades ou conceitos não modais, redução esta que Lewis também intenta fazer. Por exemplo, ele tenta reduzir as noções de “proposição”, “propriedade”, “modalidades” (de re e de dicto) e “contrafactuais” a constructos a partir de mundos possíveis. Tais mundos são tomados como entidades concretas do mesmo tipo que o nosso mundo e eles são formados apenas por partes concretas.
(b) Alvin Plantinga: Este não utiliza os mundos possíveis para reduzir conceitos ou entidades, pois pensa que mundos possíveis fazem parte de uma rede interconectada de conceitos que se explicam uns aos outros, mas que não podem ser explicados por conceitos fora de tal rede; e, assim, pensa que o máximo que podemos fazer não é reduzi-los, mas explicar as relações entre os conceitos de tal rede. Para ele, os mundos possíveis são entidades abstratas platônicas, que são estados de coisas possíveis maximais necessariamente existentes, mas que podem ou não obter (o que obtém é o mundo atual).
Posteriormente, Loux passa a nos falar sobre alguns problemas com relação às modalidades. Um deles é sobre o quão problemáticas são as nossas noções modais. Por exemplo, quando dizemos que uma proposição ser necessariamente verdadeira é o mesmo que ela ser impossível de ser falsa, utilizamos noções modais para explicar noções modais – o que só poderia ser feito se as noções modais não forem problemáticas. Mas são elas problemáticas?
Alguns filósofos, céticos quanto ao uso de noções modais, pensam que sim. Uma razão para isso pode ser uma orientação empirista em metafísica, que os faz só aceitar como legítimos os conceitos que podem ser apreendidos a partir de algum confronto empírico com o mundo. E, segundo eles, a experiência apenas nos diz como o mundo é, e não como o mundo possivelmente ou necessariamente é, de modo que as noções modais não poderiam ser características do mundo. Segundo essa perspectiva, toda a modalidade é meramente linguística: a necessidade se dá apenas em virtude da analiticidade da linguagem.
Outra razão, ainda de objetores empiristas, mas mais relacionada a questões técnicas, é a tese de que um corpo linguístico ou que um fragmento do mesmo (ou um conjunto L de sentenças) apropriado para fazermos metafísica deve ser extensional. “L” é extensional se, e só se, para cada sentença de L, a substituição de constituintes da sentença por expressões correferenciais não alterna o valor de verdade da sentença. E a correferencialidade se dá da seguinte maneira: (i) entre termos singulares que nomeiam o mesmo objeto, (ii) entre termos gerais que são satisfeitos pelos mesmos objetos, e (iii) entre sentenças que têm o mesmo valor de verdade. A motivação principal para sustentar tal tese é que temos sistemas lógicos bem desenvolvidos para lidar com as linguagens extensionais (como o cálculo proposicional, como a teoria dos conjuntos, ou como a lógica de predicados de primeira ordem), e a linguagem modal não é extensional.
As noções modais não passam no teste de extensionalidade, ou melhor, elas não mantêm o valor da verdade de suas sentenças cujos constituintes foram substituídos por expressões correferenciais. E é por isso que elas são rejeitadas por alguns empiristas como inaptas a nos dar instrumentos para fazermos filosofia de modo sério. Algumas das sentenças utilizadas por Loux para mostrar como as noções modais falham em passar no teste de extensionalidade são as seguintes: (4) Dois mais dois é igual a quatro e solteiros são não casados, (5) É necessário que dois mais dois é igual a quatro e que solteiros são não casados, e (6) É necessário que Bill Clinton é presidente e que solteiros são não casados. Ele nos diz que 4 é necessariamente verdadeira, mas que ao lhe aplicamos o operador “é necessário que”, formando 5, e substituirmos uma de suas sentenças constituintes – como a sentença “dois mais dois é igual a quatro” – por outra com o mesmo valor de verdade – digamos “Bill Clinton é presidente” – passando, por exemplo, a 6, o valor de verdade se altera de verdadeiro em 5 para falso em 6, dado que não é necessário que Bill Clinton seja presidente. A introdução das modalidades faz com que sentenças extensionais, tal como 4, tornem-se intensionais. O que, para os empiristas, já atestaria contra o uso dessas noções na filosofia.
Assim, como as noções modais são intensionais, alguém que quisesse utilizálas, não poderia usar de nossa lógica extensional para realizar inferências com frases modais; e, portanto, teria que se comprometer com prover uma abordagem de como ocorrem as relações inferenciais entre as sentenças que contêm operadores modais, ou seja, teria que nos fornecer uma lógica modal. Os críticos aqui costumam dizer que a imensa quantidade que há de sistematizações não equivalentes da inferência modal atesta a favor de que não temos uma noção firme de o que são as modalidades.
Nos anos 50 e 60, lógicos e metafísicos retomaram a noção leibniziana de “mundos possíveis” – a de que o mundo atual é apenas um entre uma infinidade de mundos possíveis – e tentaram, por meio dela, esclarecer as nossas noções modais. A ideia central é que uma proposição tem valores de verdades tanto no mundo atual, quanto em outros mundos possíveis, e que a necessidade e a possibilidade podem ser explicadas por meio da quantificação (respectivamente, universal e existencial) sobre mundos possíveis. Uma proposição “P” é possível (ou possivelmente verdadeira) sse é verdadeira em pelo menos um mundo possível; “P” é necessária (ou necessariamente verdadeira) sse é verdadeira em todos os mundos possíveis. Uma vantagem dessa abordagem neoleibniziana das modalidades é que ela pode explicar a existência da pluralidade de sistemas de lógica modal, indicando que eles variam de acordo com as restrições que fazemos na quantificação sobre os mundos.
Mas aceitar o uso dos mundos possíveis para falar das modalidades pode gerar alguns problemas. Um deles é a aparência de afastamento das nossas intuições comuns, dado que até podemos aceitar pré-filosoficamente que há muitos modos que as coisas poderiam ser, mas achamos difícil aceitar que há uma pluralidade de mundos possíveis. A resposta a esse problema é, normalmente, que o quadro conceitual [framework] dos mundos possíveis é apenas uma regimentação das nossas crenças pré-filosóficas, ou seja, que falar sobre mundos possíveis é apenas um modo formal de falarmos sobre os modos como as coisas podem ou têm de ser.
As modalidades, tal como exposto até agora, são apenas as modalidades de dicto, ou seja, apenas as atribuições das propriedades de ser necessariamente verdadeira (ou necessária) e de ser possivelmente verdadeira (ou possível) às proposições (ou às verdades destas). E, no vocabulário dos mundos possíveis, elas são entendidas como uma quantificação sobre mundos. Um outro tipo de modalidade, que é conhecida como modalidade de re, diz respeito ao modo como uma coisa exemplifica uma propriedade (e não sobre o modo como uma proposição é verdadeira/falsa), a saber, essencialmente ou acidentalmente. Loux exemplifica a distinção entre esses dois tipos da modalidade da seguinte maneira: nos apresenta uma hipótese, a saber, a de que Stephen Hawking está pensando no número 2, nos fornece duas frases supostamente com modalidades de tipos diferentes, e nos mostra que uma é verdadeira, enquanto a outra é falsa.
(I) A coisa em que Stephen Hawking está pensando é necessariamente um número par. [Modalidade de re] (II) Necessariamente a coisa em que Stephen Hawking está pensando é um número par. [Modalidade de dicto]
Como Stephen Hawking está pensando no número 2 e tal número é necessariamente (ou essencialmente) par, então I é verdadeira, enquanto II é falsa, dado que é contingente (e, portanto, não necessário) que Stephen Hawking esteja pensando num número par. Segundo os defensores das modalidades, a modalidade de re também pode ser iluminada por referência ao vocabulário dos mundos possíveis. Assim: um objeto x tem a propriedade P necessariamente ou essencialmente sse x tem P no mundo atual e em todos os mundos possíveis em que existe; e um objeto x tem uma propriedade P contingentemente ou acidentalmente sse x tem P no mundo atual e há pelo menos um mundo possível em que x existe e não tem P. Além disso, ambas as modalidades, de re e de dicto, são pensadas como quantificações sobre mundos, porém a diferença é que na modalidade de re há uma certa restrição no uso dos quantificadores, a saber, eles terem de quantificar apenas sobre os mundos em que o objeto em questão (que possui alguma propriedade essencialmente ou contingentemente) existe.
Mas como devemos interpretar a conexão entre os mundos possíveis e as modalidades? – pergunta-se Loux. As duas posições antagônicas principais são:
(i) os que acreditam que as noções modais (com os mundos possíveis incluídos) formam uma rede interconectada de conceitos que se explicam uns aos outros e que não podem ser explicados por conceitos externos à rede, e que, por isso, o máximo que podemos fazer é explicar as relações entre essas noções; e (ii) os que pensam que os mundos possíveis, juntos com a teoria dos conjuntos, proveriam os recursos para realizarmos as reduções – de entidades intensionais, como proposições, propriedades, contrafactuais e modalidades, a entidades concretas, apropriadamente extensionais, como os mundos possíveis seriam nessa abordagem – exigidas pelo nominalismo austero de mundos possíveis.
Tais nominalistas escapariam de problemas com relação às reduções propostas que não levavam em conta mundos possíveis. Por exemplo, agora ele poderia dizer que uma propriedade F é simplesmente o conjunto de todos os particulares, actuais e não actuais, que são F (ou o conjunto dos conjuntos que em cada mundo são compostos dos objetos que são F). E, de modo geral, uma propriedade F seria um conjunto estruturado de tal modo que correlaciona mundos possíveis com conjuntos de objetos (ou seja, de tal modo que atribui um conjunto de objetos para cada mundo). Isso evitaria o problema para o nominalista de, por exemplo, ter de tomar a propriedade de ter rins como idêntica à propriedade de ter coração, já que os membros que pertencem aos supostos dois conjuntos são os mesmos no mundo actual, e já que a identidade de membros implica a identidade de conjunto. Evitaria porque nos mundos possíveis não atuais há objetos com ruins e sem coração, de modo que a extensão dos conjuntos referentes às propriedades supracitadas, quando levamos em conta a totalidade dos mundos possíveis, irá diferir.
Eles também pensam que a teoria dos conjuntos junto com os mundos possíveis poderiam nos ajudar a reduzir as proposições: uma proposição seria o conjunto de mundos em que ela é verdadeira. Porém, se não queremos uma definição circular, temos de responder: em quais mundos seria uma proposição P verdadeira? A resposta é que ela seria verdadeira nos mundos P-ish, e que tais mundos P-ish, para qualquer proposição P, seriam entidades básicas. Assim, a definição não seria circular, e uma proposição seria apenas o conjunto de todos os mundos possíveis P-ish. Como os mundos são entidades concretas formados por entidades concretas, a motivação nominalista austera estaria sendo mantida nesta abordagem.
Nesse mesmo espírito, o nominalismo tenta também reduzir as modalidades, de dicto e de re, respectivamente, a uma junção de teoria dos conjuntos com mundos possíveis tal como se segue. Uma proposição P seria necessariamente verdadeira sse o conjunto dos mundos P-ish tem todos os mundos possíveis como membros. P seria necessariamente falsa sse o conjunto dos mundos P-ish não tem nenhum mundo possível como membro. P seria possivelmente verdadeira sse o conjunto dos mundos P-ish tem algum mundo possível como membro. E assim por diante. No caso das modalidades de re, há uma certa divergência dentro do conjunto dos nominalistas, a saber, entre os que acreditam na identidade transmundial e os que não acreditam em tal identidade – embora ambos concordem que ela deve ser reduzida a um discurso que se utiliza de mundos possíveis e teoria dos conjuntos. Os que aceitam a identidade transmundial, como nominalista que são, pensam uma propriedade como um conjunto (ou uma função) que atribui para cada mundo um conjunto de objetos. Assim, um objeto x é pensado como exemplificando actualmente uma propriedade P sse x é membro do conjunto de objetos P atribui ao mundo atual; x exemplifica P essencialmente sse x é membro de cada conjunto que P atribui a cada um dos mundos possíveis em que x existe; e x exemplifica P acidentalmente sse x é membro do conjunto que P atribui ao mundo atual e x não é membro de pelo menos um conjunto que P atribui a um mundo possível em que x existe. Com essas reduções, o nominalista intenta transformar áreas problemáticas do discurso (por exemplo, que falam sobre entidades intensionais ou entidades abstratas) em áreas não problemáticas (que falam de conjuntos e particulares concretos). Se o nominalista pretende reduzir tais noções, então deve deixar claro o que são os mundos possíveis independentemente dessas noções.
Uma dessas teorias nominalistas pertence a David Lewis. Ela diz que os mundos possíveis são entidades concretas do mesmo tipo que o nosso mundo, que são isolados espaciotemporalmente uns dos outros, que são formados por todos os particulares concretos que estejam em relação espaciotemporal, e que são tão reais quanto o nosso mundo. O mundo actual seria apenas o mundo em que se está ao pronunciá-lo; todo mundo seria actual com relação a si próprio, pois “atual” é visto como um indexical na abordagem lewisiana.
O problema dessa concepção é explicar como pode haver indivíduos que sejam transmundiais, pois parece que a aceitação de que há tais indivíduos pressupõe a falsidade da indiscernibilidade dos idênticos, que é o princípio que diz que: necessariamente, para quaisquer objetos a e b, se a é idêntico a b, então para qualquer propriedade @, a exemplifica @ sse b exemplifica @. Mas, segundo o próprio Lewis, há propriedades que x-em-W tem que x-em-W’ não tem, como a propriedade de ser um filósofo – o que ou violaria a indiscernibilidade dos idênticos, ou faria com que x-emW e x-em-W’ fossem indivíduos diferentes.
Lewis aceita que x-emW e x-em-W’ são indivíduos diferentes e defende uma teoria das contrapartes para explicar a relação entre eles. Uma contraparte de x é um indivíduo em outro mundo que parece com x em muitos aspectos importantes, mas que não é x. Nessa abordagem, uma propriedade P é essencial a x sse x e todas as suas contrapartes exemplificam P; e P é acidental a x sse x exemplifica P e alguma contraparte de x não exemplifica P.
A teoria de Lewis assume a tese do possibilismo, a saber, a tese que assere que existem objetos não actuais possíveis. Contudo, a maioria dos outros filósofos assume o actualismo, a saber, a tese de que tudo que existe é actual. Algumas objeções feitas pelos actualistas a uma teoria nominalista austera, como a teoria de Lewis, são que (a) o uso da teoria dos conjuntos para reduzir proposições não é interessante, pois faz com que haja apenas uma proposição necessariamente verdadeira e uma proposição necessariamente falsa, embora haja várias; que (b) as propriedades coexemplificadas nos mesmos mundos (como as propriedades de “ser um triângulo” e “ter 180º como soma dos ângulos internos”) teriam de ser consideradas idênticas; e que (c) as proposições não podem ser conjuntos, pois não acreditamos em conjuntos e conjuntos não podem ser verdadeiros ou falsos – as proposições, diferentemente dos conjuntos, são representativas.
Além dessas críticas, os actualistas defendem que podem prover uma abordagem completamente actualista da ideia de que há diversos modos que as coisas podem ser, utilizando os mundos possíveis. Contrariamente ao nominalismo, o actualismo, segundo Loux, não pretende ser um projeto que reduza entidades ou conceitos modais e não modais, pois defende que não é possível explicar as noções modais por meio de noções externas à rede de conceitos a que as noções modais pertencem. O projeto actualista apenas explica as relações entre tais noções.
Um exemplo de teoria actualista bem desenvolvida é a teoria de Alvin Plantinga. Ela defende que propriedades, proposições e modalidades estão intimamente conectadas e que não conseguimos explicá-las sem essas mesmas noções. Para Plantinga, todas as propriedades são objetos necessários que podem ou não ser exemplificadas em um mundo. Um mundo é uma entidade abstrata idêntica a um estado de coisas maximal possível, que também seria um ser necessário e poderia ou não obter (análogo à exemplificação); apenas um estado de coisas possível obtém, a saber, o mundo actual. Um estado de coisas S é maximal sse para todo estado de coisas (maximal ou não) S’, S inclui ou exclui S’. S exclui S’ sse é impossível S’ obter caso S tenha obtido, e S inclui S’ sse é impossível que S obtenha e S’ não obtenha. Nessa visão, até o mundo actual é um objeto abstrato, pois é um objeto abstrato que pode ou não obter. E isso faz o mundo actual diferir do que tomamos como o nosso universo físico, pois o universo é um objeto contingente e concreto que não poderia falhar em obter, enquanto o estado de coisas actual é um objeto abstrato necessário que de fato obtém, mas que poderia ou não obter.
Além disso, Plantinga preserva a distinção entre proposições e estado de coisas, falando que a primeira tem uma propriedade que nenhum estado de coisas teria, a saber, a de ser verdadeira ou falsa, e nos indica a relação entre eles, falando que para todo estado de coisas há uma proposição tal que o estado de coisas obtém sse a proposição for verdadeira. Uma proposição é verdadeira em um mundo possível sse tal mundo tivesse sido atual, tal proposição seria verdadeira. Isso é o que é preciso para aceitarmos as definições tradicionais das modalidades de dicto em termos de mundos.
Para lidar com a modalidade de re, Plantinga nos diz que objetos existentes no mundo atual podem existir em outros mundos possíveis. Mas “um objeto existir num mundo possível” apenas quer dizer que é impossível para tal mundo ser actual e tal objeto não existir, ou seja, que se tal mundo tivesse sido actual, tal objeto existiria. A isso, Plantinga junta a noção de “ter a propriedade P num mundo”: x tem a propriedade P em W sse W tivesse se tornado actual, x teria P. E, com tais instrumentos, Plantinga pode aceitar a abordagem tradicional da modalidade de re em termos de mundos possíveis.
Como Plantinga quer evitar o resultado necessitarista desagradável de que nada exemplifica propriedades contingentemente, ele precisa aceitar a identidade transmundial, caso não aceite a relação de contraparte – coisa que não aceita. Saul Kripke tem alguns argumentos contra a teoria das contrapartes. Um deles é que ela não corresponde às nossas intuições modais, pois, quando fico aliviado dos danos que eu poderia ter sofrido, fico aliviado, pois tal possibilidade é referente a mim. Se estivéssemos falando algo sobre contrapartes, eu não deveria ficar aliviado. Plantinga tem um argumento melhor, contra a incompatibilidade entre identidade transmundial e indiscernibilidade de idênticos: ele diz que o fato de x ter P em W e não ter P em W’ não nos permite inferir que P não pode ser atribuída a x sem estar indexicalizada a algum mundo. Na verdade, as propriedades indexicalizadas se fundam nas não indexicalizadas, e um objeto de fato tem as propriedades não indexicalizadas que ele actualmente tem. O que faria que x tivesse todas as propriedades indexicalizadas que tem e todas as propriedades que actualmente tem – o que removeria a incompatibilidade da identidade transmundial com a indiscernibilidade de idênticos.
Plantinga também defende que esses indivíduos transmundiais têm, em adição a propriedades essenciais triviais (que todos os objetos têm) e a propriedades essenciais gerais (que podem ser compartilhadas ou exemplificadas por mais de um particular), essências individuais (essencialismo leibniziano), que são propriedades essenciais de um particular e que não são exemplificadas por mais nenhum particular (tais essências são chamadas por ele de “haecceities” ou, em português, “ecceidades”). Exemplos de tais essências seriam as propriedades indexicalizadas que pertencem necessariamente e unicamente ao particular de cuja essência estamos falando. Plantinga pensa que qualquer essência de um objeto implica todas as suas propriedades (onde “P implica Q” apenas quer dizer necessariamente todo objeto que exemplifica P também exemplifica Q). Por exemplo, a propriedade de ser idêntico a Sócrates implica todas as propriedades essenciais de Sócrates. E, como entre essas propriedades essenciais estão as propriedades indexicalizadas, segue-se que, a partir da essência de um particular, um ser onisciente poderia saber tudo que é o caso nos diversos mundos possíveis com relação a tal particular.
Enfim, Loux nos mostra em seu texto que Plantinga e Lewis nos apresentam teorias interessantes sobre a natureza das modalidades e dos mundos possíveis, e nos indica como o nominalismo influencia o debate. Vale a leitura.
Rodrigo Cid – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bolsista CAPES. Professor substituto na UFRJ PPGLM, IFCS/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: rodrigorlcid@ufrj.br
[DR]



