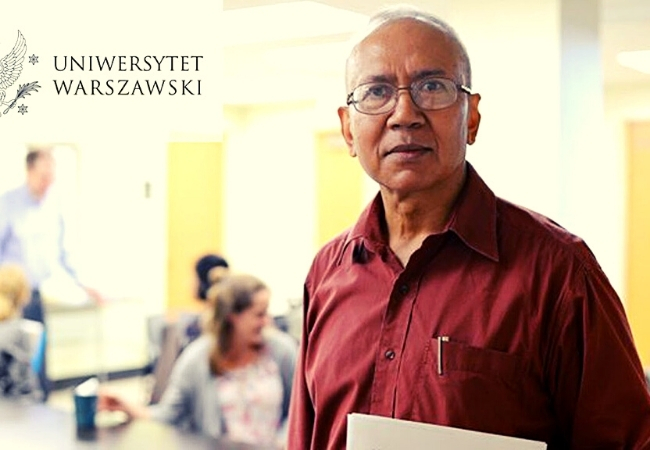Posts com a Tag ‘Narrativas’
Inventando a Hayden White. Imaginación y narrativas | Norma Durán R. A.
En una exposición sobre lo que implica el concepto de invención traído a cuento en diferentes discursos históricos, en particular en aquellos que abordan el proceso derivado del arribo de los europeos a América, José Rabasa distinguía al menos tres sentidos de tal noción: uno que equipara la invención al descubrimiento de algo desconocido; otro, en claro contraste con el primero, que la coloca en oposición al descubrimiento y, en este sentido, la relaciona con una distorsión o representación no confiable e imperfecta de una entidad dada, y, por último, uno que valora los procesos culturales y, en especial, los procedimientos semióticos y retóricos que operan en los discursos que rodean, abordan, atraviesan y configuran un asunto y su comprensión. Es a este último empleo del concepto de invención al que se inscribe Rabasa y desde el cual construye su estudio.1 Al hacerlo, seguía los pasos de quienes, como su maestro Hayden White, consideraban que la historia no ofrecía una vía de acceso directa, transparente y cabalmente correspondiente al pasado. Este último pensador, de hecho, sobresalió por cuestionar la supuesta objetividad aséptica y científica de la historia, destacando los cruces entre ésta y la literatura. Desde la publicación de Metahistoria en 1973, se dedicó a exponer los elementos poéticos que se ponen en juego en los entramados históricos, postura que fue afinando, reformulando y matizando en ensayos posteriores a raíz de las muchas críticas que fue recibiendo. De ahí que pueda decirse que a ambos autores los une el interés por lo que la historia tiene de ficción, de figuración, de invención en el sentido semiótico antes señalado. Leia Mais
Formação de professores: entre a pandemia e a esperança | Simone Albuquerque da Rocha
Professores homens na Educação Infantil| Imagem: TV PUC-Rio
Em tempos pandêmicos, quando o TIC-TAC do relógio badala em um outro ritmo totalmente diferente e a perplexidade parece tomar conta de todos os segundos, impedindo-os de seguir sua trajetória sucessiva de uma maneira habitual, visto que, diante da insegurança e incerteza o tempo parece infligir uma sensação de tortura, enquanto segue seu caminho infindo de minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, demonstrando que o tempo pode ser dividido para facilitar a contagem de sua passagem, mas ele nunca é o mesmo para cada um de nós.
A condição sanitária fez emergir uma série de sensações, colocando a raça humana diante de sua mortalidade e finitude, ao mesmo tempo em que aflorou a necessidade de discernimento, reflexão e empatia. A consciência chama a atenção para a urgência de toda a sociedade ponderar e estabelecer análises críticas sobre as atitudes pessoais e coletivas, de modo que seja possível pensar novas formas de agir, conviver e sobreviver, diante da impossibilidade de manter o mundo tal qual o conhecíamos até então. Leia Mais
Entre a Itália e o Brasil Meridional: História Oral e narrativas de imigrantes | Antonio de Ruggiero e Leonardo de Oliveira Conedera
Antonio de Ruggiero | Imagem: PUC-RS / Acervo pessoal do autor
Entre a Itália e o Brasil Meridional: História Oral e narrativas de imigrantes, organizado por Antonio de Ruggiero e Leonardo de Oliveira Conedera, apresenta estudos de caso de pesquisadores brasileiros sobre a temática da História da Imigração Italiana a partir de fontes orais que, ao possibilitarem uma variação de escalas entre a história individual e a grande história, permitiriam compreender a memória coletiva como a lembrança de um passado comum dentro de uma comunidade que constrói e reconstrói identidade compartilhada.
Segundo Maria Lusitana Santos (2012, p.161), a memória seria um tema popular na produção cultural de sociedades desenvolvidas. Podemos dizer que a memória ascendeu como importante fonte no final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) em virtude das tentativas de se apagar as fontes oficiais. Os testemunhos do vivido por vítimas dos campos de concentração e extermínios, por exemplo, surgem como um registro de um passado que não poderia ser esquecido, conferindo à História Oral um dos expedientes empregáveis para pesquisadores de História. Leia Mais
Memórias e narrativas: história oral aplicada | José Carlos S. B. Meihy e Leandro Seawright
O livro “Memórias e narrativas” dos historiadores José Carlos Meihy e Leandro Seawright é por um lado uma introdução ao campo da história oral, escrito para pesquisadores iniciantes – acadêmicos ou não – que se veem envolvidos nos desafios de estudar e trabalhar com a memória de expressão oral; mas por outro lado, ele é também uma sistematização dos conceitos, reflexões e teorias desenvolvidos pelos autores ao longo de suas trajetórias acadêmicas e de atuação, sobretudo como integrantes do Núcleo de Estudos em História Oral da Universidade de São Paulo (NEHOUSP). A generosidade do livro está justamente aí: ao apresentar a complexidade do campo da história oral, os autores explicitam seus posicionamentos frente a esse cipoal, desembaraçando os caminhos a serem percorridos pelos neófitos pesquisadores que se debruçam sobre a memória e a história.
O perfil didático do livro – reafirmado pelos boxes que destacam partes do texto ao longo de todos os capítulos – incorre por diversas vezes em um esquematismo que, embora evite simplificações, no mínimo atalha os debates e as contradições das abordagens sobre história oral. Considerando que não são objetivos dos autores desenvolver essas reflexões nem se aprofundar no estado da questão da história oral, eles apresentam os contrapontos apenas à medida que chamam atenção para riscos e erros a que o historiador oral está sujeito. É o que se verifica, por exemplo, na Leitura Complementar do primeiro capítulo, denominada “Memória de expressão oral: em busca de um estatuto”, sobre a famigerada querela entre os que “professam a manutenção da história oral como complemento e outros [que] propugnam a sua independência e autonomia” (MEIHY; SEAWRIGHT, 2020, p. 52). Os autores demarcam sua defesa por esta última definição como característica do campo da história oral e a caracterizam, para além disso, como uma metodologia que possui “procedimento procedente organizado de investigação, de comprometimento doutrinário e filosófico, orientado para a obtenção de resultados a partir de um núcleo documental específico” (MEIHY; SEAWRIGHT, 2020, p.56). Leia Mais
History and collective memory in South Asia, 1200-2000 | Sumit Guha
Sumit Guha | Foto: UW |
 Historians always work in evolving political contexts that influence their knowl- edge and narratives. This cultural reality provides a framework for Sumit Guha’s imaginative analysis of how the collective memories that shape human societies are contingent and fragile because they are embedded within the changing insti- tutional systems of social and political life. In History and Collective Memory in South Asia, 1200–2000, Guha analyzes the processes of remembering and forget- ting in South Asian cultures, but similar sociocultural patterns have also appeared in almost every other human society. Historical knowledge serves numerous public needs, including the need for governments and social elites to justify their power and the need for cultural communities to sustain shared collective identi- ties. Historians therefore have an essential public role for which they have often been supported in schools, religious orders, government libraries, and universi- ties, which Guha describes as the “cloistered” institutions that produce and teach historical knowledge (4). This link to institutions, however, makes historical knowledge vulnerable to changing political regimes and to popular upheavals in the social world that always surrounds the cloisters in which experts construct their historical narratives.
Historians always work in evolving political contexts that influence their knowl- edge and narratives. This cultural reality provides a framework for Sumit Guha’s imaginative analysis of how the collective memories that shape human societies are contingent and fragile because they are embedded within the changing insti- tutional systems of social and political life. In History and Collective Memory in South Asia, 1200–2000, Guha analyzes the processes of remembering and forget- ting in South Asian cultures, but similar sociocultural patterns have also appeared in almost every other human society. Historical knowledge serves numerous public needs, including the need for governments and social elites to justify their power and the need for cultural communities to sustain shared collective identi- ties. Historians therefore have an essential public role for which they have often been supported in schools, religious orders, government libraries, and universi- ties, which Guha describes as the “cloistered” institutions that produce and teach historical knowledge (4). This link to institutions, however, makes historical knowledge vulnerable to changing political regimes and to popular upheavals in the social world that always surrounds the cloisters in which experts construct their historical narratives.
I. CONTEMPORARY CHALLENGES TO SCHOLARLY HISTORICAL KNOWLEDGE
Although modern professional historians continue a long tradition of working in privileged cloisters, Guha argues that such experts have created only one of the cultural streams that carry historical knowledge across the generations of social life. The expertise of historical specialists has long been challenged or displaced by oral and popular histories that circulate informally in the public and private spheres of all human communities, creating alternative stories that have wide cultural influences and also affect the ideas of those who write history within even the best-supported institutional cloisters. Historical knowledge is thus inex- tricably connected to public life because it grows out of the collective identities and cultural memories that historical narratives both reflect and help to shape. The public interactions with cloistered historical knowledge, as Guha emphasizes with specific references to both India and the United States, have grown all the more visible in recent decades as diverse social groups have claimed their own historical knowledge and publicly derided the experts for writing false history. Professional historians are thus increasingly marginalized by the “knowledge” that emerges in the popular media or flows among the contemporary religious and political activists who wage transnational culture wars on websites and social media apps. Militant crowds in South Asia, Europe, and the US have been destroying monuments that represent discredited historical figures, but activists with radically diverging ideologies are also constructing new historical narra- tives that assert collective identities and political goals. These politically charged narratives have become part of wider cultural struggles to control historical memories, and they often challenge evidence-based historical accounts that were written in scholarly institutions. Guha wrote his book from a position within one of the cloistered institutions (the University of Texas) where professional experts have traditionally developed and evaluated valid historical knowledge. He therefore notes the context for his own historical project by explaining that recent public claims for the validity of nonexpert historical narratives “made me more keenly aware of how the academy exists only as part of a society” and how “public knowledge of the past” has long “been enfolded in political and economic systems” (x). Guha launches his narrative of South Asian historical knowledge with an explicit recognition that neither the political leaders nor social protest movements in our “post-truth” era are inclined to respect the carefully compiled, evidence- based research of professional historians (ix). Late twentieth-century academic historians such as Peter Novick described a declining faith in historical objectivity among scholars who worked in academic history departments, but the debates of that time were viewed mainly as internal philosophical arguments about the opposing epistemological perspectives of relativism and positivism.[1]
The cultural stakes of these arguments have now become part of a much broader political cul- ture because the cultural-political context has changed. Scientific experts have lost public influence as people outside of the traditional, knowledge-producing clois- ters have gained access to new media and communication networks. Professional historians, like other experts in both the natural sciences and the social sciences, now have to defend the value of evidence-based knowledge in a public sphere that often disdains the whole enterprise of careful documentary research. Guha’s account of collective memories and historical narratives in South Asia over the last eight centuries thus suggests that our (noncloistered) public culture may be returning to conceptions of historical knowledge that long shaped the use and abuse of history in earlier social eras. As Guha explains with persuasive examples, historical knowledge in premodern South Asia and Europe was viewed mainly as a tool to support the political claims of governing elites or to defend the sociocultural status of social groups whose identities were affirmed through semimythical narratives about past struggles and heroism. Human beings have always defined themselves, in part, by describing their historical antecedents, so historians inside and outside of institutional cloisters have provided the requisite collective memories in their written texts and oral histories. Yet Guha repeatedly notes the fragility of collective memories, which can quickly dissipate when social, political, and cultural regimes change or collapse. Most of the once-known information about past people and events has completely disappeared because the cloisters that produced or protected this knowledge were destroyed (for example, the religious communities that protected historical memories in ancient Egypt and Mesopotamia), or because later governing powers had no use for historical nar- ratives that had justified the power of previous rulers, or simply because nobody believed that the activities of common people needed to be recorded in historical narratives.
Guha thus provides humbling reminders that historical knowledge is for- ever changing or vanishing amid the constant public upheavals that transform and demolish the work of historians as well as the past achievements of every other sociocultural community. Guha’s reflections on the contingencies of now- vanished historical knowledge may remind readers of the melancholy themes in Percy Bysshe Shelley’s poem “Ozymandias” (1818), which famously described a traveler’s encounter with the ruins of an ancient king’s shattered statue on a lonely sandscape: “My name is OZYMANDIAS, King of Kings; Look on my works, ye Mighty, and despair!” No thing beside remains. Round the deca Of that Colossal Wreck, boundless and bare, The lone and level sands stretch far away.[2]
One of Guha’s themes in this book conveys a similar story about the fragility of historical knowledge and memories, which means that “the preservation of a frac- tion of the immense world of human experience in the historical record depends on choices and resources, or else it perishes irretrievably” (116). Every genera- tion, in short, must reconstruct historical memories to prevent their otherwise inevitable decay and disappearance in later human cultures.
II. EUROPE ON THE PROVINCIAL FRONTIER OF GLOBAL INTELLECTUAL HISTORY
The fragility of historical knowledge is one example of how Guha views the entanglement of collective memory, political power, and public struggles for social status. History and Collective Memory in South Asia focuses mainly on the development and loss of historical memory in India, but there are also descriptions of similar memory-producing practices in premodern Europe. These comparative perspectives contribute to a historical decentering of European cultural and political institutions that draws on Dipesh Chakrabarty’s influential proposals for “provincializing Europe.” 3 Guha challenges Western narratives that portray a unique European historiographical pathway from the classical Greek works of Herodotus and Thucydides to the nineteenth-century, evidence-based archival methods of Leopold von Ranke. The uniqueness of early European historical writing mostly disappears in Guha’s comparative framework as he shows how medieval European memories and identities were constructed through genealogical research and chronological summaries that South Asian historians also developed during these same centuries. In both of these premodern cultural spheres, most historical narratives focused on local events or people; and the useful knowledge came from genealogists and court heralds who confirmed the esteemed lineage of people who held privileged social status and political power (or wanted to claim new power for themselves). Religious writers in both Europe and South Asia also offered popular narra- tives to explain why particular churches and religious shrines should be visited and why they should be supported with generous gifts. European historical writ- ing thus evolved as an unexceptional local example of the historical research that was also developing widely across Persia and India during this same era. Placed within this wider framework, European genealogists were (like their Indian coun- terparts) “bearers of socially vital histories . . . who kept records and sent out pursuivants across their jurisdictions to record and verify” (35).
Guha thus provides carefully researched examples of how historians can “pro- vincialize Europe” when they move beyond traditional Western assumptions abou European exceptionalism. At the same time, however, he adds to the expanding work in “global intellectual history” by using two important methods for analyzing the history of ideas in different cultures and for tracing transnational intellectual exchanges.[4]
Guha first describes cross-cultural similarities in the labor of heralds and genealogists who served sociopolitical elites in England, France, and Spain, but he also shows how historical workers provided the same services for social elites in India. The social contexts differed, but historians served similar premodern public needs in both cultures. The genealogical arguments for social status, political power, and property ownership were developed with an assiduous attention to past generations and with often-needed adjustments to complex social histories; this careful work everywhere provided essential historical justifications for noble and royal claims to power. After summarizing similar cultural practices that developed independently within Europe and South Asia, Guha uses a second methodology of global intel- lectual history to analyze how ideas about historical knowledge later moved across cultural boundaries and influenced people on both sides of the colonizer/ colonized social hierarchy. The themes in Guha’s narrative thus shift from a description of cultural similarities to a description of cross-cultural exchanges and the mediation of cultural differences. During the nineteenth century, British colonial officials and educators arrived in India with new ideas about how his- torical knowledge should be based on documentary evidence, so the institutions they developed for cross-cultural instruction (including schools and universities) became sites for new cultural translations of materials they encountered in India. British educators developed a tripartite narrative that portrayed Indian history as an evolution from eras of Hindu and Muslim rule into the era of Britain’s Christian Imperial rule, which British officials portrayed as superior to the earlier Mughal Empire. Equally important, a new English-educated, South Asian intelli- gentsia gradually adopted some of the new European methods and ideas for their own anticolonial purposes. Ideas and research methods traveled across cultural boundaries, but they also changed as Indian historians used them to pursue goals that differed from the purposes and expectations of British officials. The Indian scholar Vishwanath Kashinath Rajwade (1864–1926), for example, worked in this hybrid sphere of cross-cultural exchanges during the colonial era, when he joined with other intellectuals in western India to develop a Marathi perspective on British imperialism. Rajwade believed that the “latest methods of source criticism would enable India to recapture its own history” (142), so his work made creative use of some European cultural practices that helped to advance the goals of an emerging Indian nationalism. According to Guha’s account of this hybrid cultural process, “Leopold von Ranke’s doctrines may have reached him [Rajwade] by indirect routes, but he was certain that their application would vindicate both Maratha and Indian nationalism. This was the atmosphere in which the early venture for a public and documented history was launched in the Marathi-speaking world” (143). These two methodological European exceptionalism. At the same time, however, he adds to the expanding work in “global intellectual history” by using two important methods for analyzing the history of ideas in different cultures and for tracing transnational intellectual exchanges.[5]
Guha first describes cross-cultural similarities in the labor of heralds and genealogists who served sociopolitical elites in England, France, and Spain, but he also shows how historical workers provided the same services for social elites in India. The social contexts differed, but historians served similar premodern public needs in both cultures. The genealogical arguments for social status, political power, and property ownership were developed with an assiduous attention to past generations and with often-needed adjustments to complex social histories; this careful work everywhere provided essential historical justifications for noble and royal claims to power. After summarizing similar cultural practices that developed independently within Europe and South Asia, Guha uses a second methodology of global intel- lectual history to analyze how ideas about historical knowledge later moved across cultural boundaries and influenced people on both sides of the colonizer/ colonized social hierarchy. The themes in Guha’s narrative thus shift from a description of cultural similarities to a description of cross-cultural exchanges and the mediation of cultural differences. During the nineteenth century, British colonial officials and educators arrived in India with new ideas about how his- torical knowledge should be based on documentary evidence, so the institutions they developed for cross-cultural instruction (including schools and universities) became sites for new cultural translations of materials they encountered in India. British educators developed a tripartite narrative that portrayed Indian history as an evolution from eras of Hindu and Muslim rule into the era of Britain’s Christian Imperial rule, which British officials portrayed as superior to the earlier Mughal Empire. Equally important, a new English-educated, South Asian intelli- gentsia gradually adopted some of the new European methods and ideas for their own anticolonial purposes. Ideas and research methods traveled across cultural boundaries, but they also changed as Indian historians used them to pursue goals that differed from the purposes and expectations of British officials. The Indian scholar Vishwanath Kashinath Rajwade (1864–1926), for example, worked in this hybrid sphere of cross-cultural exchanges during the colonial era, when he joined with other intellectuals in western India to develop a Marathi perspective on British imperialism. Rajwade believed that the “latest methods of source criticism would enable India to recapture its own history” (142), so his work made creative use of some European cultural practices that helped to advance the goals of an emerging Indian nationalism. According to Guha’s account of this hybrid cultural process, “Leopold von Ranke’s doctrines may have reached him [Rajwade] by indirect routes, but he was certain that their application would vindicate both Maratha and Indian nationalism. This was the atmosphere in which the early venture for a public and documented history was launched in the Marathi-speaking world” (143). These two methodological realms. Oral traditions shaped the identities of local communities, asserted the significance of local religious shrines, or justified the social positions of local elites who continued to challenge the centralizing power of imperial states. All of these narratives could coexist with the historical narratives of large empires because “outside the early temple-cities and imperial capitals, . . . local and folk traditions propagated mutually contradictory but noncompetitive narratives of the past” (27). There was never just one historical narrative, and the local folk nar- ratives sometimes became more powerful and widely accepted than the official narratives that historical experts produced in the cloistered institutions of imperial capitals. In every historical period, diverging narratives claimed to provide the best accounts of recent or remote historical events.
Guha introduces early Indian historical writing by focusing on Muslim histo- rians whose Persian monotheism asserted the existence of a “universal history” that transcended the fragmented local histories of earlier South Asian states (45). Muslim historians believed that a single God oversaw every human activity because all actions took place in a “universal time” (51). This temporal perspec- tive suggested that every great or small event contributed to an overarching historical process, yet the conflicts over political power inevitably occurred in specific places and local settings that required historical attention. Genealogists and court historians thus wrote historical accounts to show the ancient lineage of newly arrived Persian rulers in the era of the Delhi Sultanate (which spanned the thirteenth through the sixteenth centuries), and Persian-language narratives told official stories about heroic past achievements to justify the recent, regional expansion of Muslim power. Politicized historical narratives continued to appear during the later Mughal Empire, whose famous Emperor Akbar (r. 1556–1605) bolstered his centralizing aspirations by supporting new historical narratives (in Persian) and building new monuments that stressed the importance of imperial unity. Other strands of social memory nevertheless flourished outside of the official court-centered narratives that Mughal emperors promoted. Both before and during Akbar’s reign, Guha notes, “many forms of collective memory coex- isted, with the new Persian political and military histories as simply an additional branch of memory” (61). Local memories were often associated with local reli- gious shrines, and long after the Mughal conquests extended into eastern India there were still Bengali legends, lineage stories, and Hindu religious centers that defied or ignored the court-supported Mughal histories. These unofficial narra- tives sustained Bengali cultural memories, though local Buddhist memories were often lost in the competing Muslim and Hindu histories of the era.
As Mughal power declined in the late seventeenth century, the rising Marathi state in western India became a new center of historical knowledge and collective memory. Guha explains that the “Marathi-speaking gentry had long written or dictated narrative histories” for the region, but their expanding political aspirations soon generated new “macronarratives” that helped to justify the political claims and collective identity of the ambitious Marathi (Hindu) regime (107). Historical writing therefore celebrated the achievements of a Marathi elite that governed a mostly Hindu population and eventually displaced the Mughal empire in north- central India, but the Marathi historians ignored the historical achievements of their Hindu predecessors in southern India (the Vijayanagara Empire). The eighteenth-century Marathi elite thus used a narrowly defined collective memory to create an “enmeshing of history and identity [that] was unique in South Asia at the time” (109). Other social groups continued to shape collective historical memories, however, through narratives that circulated outside the Marathi literati. Workers and servants, for example, spoke in court cases that Guha cites to show how nonelite people could provide important historical information about family events and property holdings. Challenging Gayatri Spivak’s famous claim that the voices of subaltern people could never be heard or recovered, Guha refers to late seventeenth-century court testimonies in Maharashtra to argue that lower class women and men in western India “could speak and were sometimes unique sourc- es of evidence” (99).[6]
Craftsmen, barbers, and even gardeners offered their per- spectives on past events or conflicts. Most were illiterate, yet “ordinary villagers . . . passed on key elements of local history from generation to generation” (100). Both the elite Marathi writers and subaltern speakers narrated local history in texts and court testimonies that Guha describes as more factual than the histori- cal narratives that appeared in other parts of India. The west Indian Hindu literati nevertheless resembled historians throughout South Asia in supporting their own government’s political interests and in mostly ignoring the history of previous rulers. Like other elite writers, they also faced the challenge of unofficial historical narratives that conveyed the perspectives of other social groups, including the obscure subalterns who testified (historically) in legal proceedings and family disputes. The struggle to consolidate political power was always linked to cul- tural struggles over the control of stories about the past.
III. HISTORICAL KNOWLEDGE IN THE ERA OF IMPERIALISM AND POSTCOLONIAL TRANSITIONS
Historical writing in both the Marathi-speaking west and the Bengali-speaking east gradually changed after British colonial institutions became new centers of education and historical memory during the nineteenth century. Extending the cultural practices of their political predecessors, British imperialists introduced new historical narratives to increase their own prestige and stature. Guha shows that the power-enhancing uses of historical knowledge remained as prominent in the British colonial era as in the earlier periods of Indian history, but the British brought new European methods for source citations and historical writing. Their sources and narratives conveyed unexamined cultural assumptions about the superiority of Christian traditions, and they often portrayed British rule as a more enlightened imperial successor to the earlier Mughal Empire.
Although Guha explains how the British ascendancy decisively altered the political and cultural context for historical writing, he also argues that the Indian literati always found new ways to narrate their own history—in part by drawing on unofficial, popular histories that still circulated outside of British institutions.Indian writers increasingly accepted new standards of historical evidence, how- ever, which “tended to converge on demanding authentic contemporary sources” (118). The prestige of document-based historical narratives forced Indian histo- rians to recognize that “the power of Western narrative could not be denied, but chinks in it could be sought so as to turn it against the colonizer” (119). Counter- narratives thus challenged the official historical voice, which now spread a European, Christian message within and beyond the cloisters of British schools and universities. Guha gives particular attention to the hybrid historical work of western Indian writers such as the previously noted Vishwanath Kashinath Rajwade and the documentary specialist Ganesh Hari Khare (1901–1985), both of whom wrote texts that differed from the colonial historical narratives and used more factual evidence than could be found in the genealogical stories and “historical romance” of Bengali historians such as Bankim Chandra Chatterjee (1838–1894) (134). Despite Guha’s recognition of the cultural value in all kinds of historical narratives—popular oral histories, genealogies, religious stories, and even fictional works—he repeatedly affirms the superiority of historical research that uses verifiable documentary sources. Adhering to the modern research meth- ods of cloistered professional historians, Guha argues that the most reliable his- torical truths appeared in evidence-based narratives that explained what actually happened rather than what later generations wanted to believe could or should have happened.
The historical resistance to British colonialism did not end when South Asians established independent nations after 1947. As Guha notes in his discussion of postcolonial cultural transitions, historians in both Pakistan and India set to work on nation-building tasks that required coherent national histories and emphasized the kind of long-term continuities that nationalists typically find or invent in their own national cultures. The enduring influence of certain colonial-era British nar- ratives helped to shape new “ethno-nationalist” accounts of Hindu history that condemned Mughal rule and the oppressive power of Muslim outsiders (132). Colonial legacies also influenced some later postcolonial historians who sup- ported an “indigenist” rejection of the evidence-based historical knowledge that British historians had advocated in English-language universities (160). To be sure, British educators had often violated their academic standards for evidence- based historical writing as they promoted their own faith-based assertions about Christian miracles, the superiority of European cultures, and the flaws of Indian religious traditions. Guha notes with dismay, however, that the postcolonial rejection of imperial institutions and ideas evolved into a growing nationalist suspicion or rejection of carefully compiled, evidence-based historical narratives. Historians who searched for indigenous alternatives to British culture drifted away from rigorous research and celebrated ancient Vedic learning in mythic narratives that no longer cited historical evidence or documentary sources.
Guha’s concluding critique of postcolonial changes in South Asian cultures therefore returns to his introductory arguments as he condemns the dangers in “post-truth” societies that reject the foundational research of reliable historical knowledge. The cloisters of professional historical work, where evidence-based research methods established the criteria for accurate (though culturally inflected) knowledge, have been threatened or displaced by the political-cultural influence of a surging Hindu nationalism that resembles similar nationalist critiques of “fake history” and “false” academic work in the US. Political groups and their affiliated media systems in India and America have launched a similar “external assault on the community of professional historians” (x), thereby forcing historical experts to defend the truth of their knowledge in a transformed public sphere. Guha sees familiar historical patterns in these recent challenges to historical knowledge because carefully constructed historical narratives were often overwhelmed and rejected in the sociopolitical upheavals of past transitional eras. Each historical era is different, of course, but Guha suggests that cloistered historians may not recognize how the scapegoating of inconvenient or unpopular knowledge never disappears. “History departments in the few but comparatively well-funded Indian universities controlled by the central government,” Guha writes in a discussion of South Asian historians who lost influence after the 1970s, “were confident, indeed complacent, in their authority. . . . The narrow circle of specialists could still, in principle, resolve disputes by reference to sources and documents, as in the standard model. This gave its members an undue sense of their own grip on the past” (173).
This cultural moment has now passed, however, and the once-cloistered historians find themselves under attack from radical Hindu nationalists, Bollywood historical movies, and so-called identity histories that dismiss or misrepresent the complexities of historical evidence. This situation is by no means unprecedented, as Guha demonstrates in his careful analysis of how collective memories changed under the influence of different governing systems over the last eight centuries. Yet the recurring political struggle for control of historical knowledge seems to be gaining renewed force in a twenty-first-century context of far-reaching social media, website communications, and highly politicized group identities.
IV. HISTORICAL KNOWLEDGE AND THE PUBLIC SPHERE IN A “POST-TRUTH” WORLD
Guha’s careful examination of South Asian historical knowledge contributes valuable perspectives for wider discussions of how collective memories help to shape political cultures and the public sphere. He explains the significance of historical narratives and monuments that sustain collective identities, but he also stresses that popular memories and oral histories have always expanded or challenged the historical perspectives of cloistered experts and state-supported narratives. Guha therefore provides a broad overview to help his readers understand how contemporary critiques of evidence-based academic scholarship may resemble disruptions that have occurred whenever political regimes have been overthrown or new social-cultural-religious groups have come to power. Historical knowledge, as Guha demonstrates throughout his book, has always been fragile and vulnerable to public upheavals.
There are nevertheless limitations in Guha’s work that raise questions for further critical analysis. His insistence on the value of evidence-based research is relevant for historical studies in every society, even though the specific modern arguments for such research emerged in European universities and then gained global influence through other institutions that governments, imperial regimes, and private groups established in other places around the world. Guha notes this complex process of cross-cultural exchange, yet he does not discuss how technological transitions are creating new challenges for document-based historical research and also transforming how historians might study cross- cultural interactions. The new technological challenges began to emerge with the computer revolution of the 1990s, and they became even more pervasive as mobile telephones replaced printed texts and older computers for many twenty- first-century communications. Documents stored on obsolete floppy disks may already be almost as inaccessible as illegible stone tablets in an ancient cave. What happens to evidence-based historical memory when most communications take place in easily deleted telephone text messages or on social media apps that are constantly evolving with the technological innovations of companies that sell mobile telephones?
Guha concludes his book with a commendable insistence on the value of carefully researched historical work and a plea “that we continue to strive for an evidence-based mode of writing it” (178). The instant communications of social media meanwhile pose a double challenge to evidence-based historical writing because sources are disappearing almost instantly, and highly motivated political or religious groups are quickly spreading false historical narratives via internet technologies that previous cloistered historical experts never had to confront. Addressing the implications of these cultural changes would take History and Collective Memory beyond its chronological limits, but historians need to address such issues as they confront the growing public influence of false history, which Guha rightly condemns in his preface, introduction, and conclusion.
Contemporary technological challenges could be explored in future studies of new social media, but a different historical problem appears in Guha’s complaint that cloistered historians have helped to undermine their own evidence-based expertise by embracing postmodern critiques of objectivity. Ironically, as Guha points out in his preface, the influential Foucauldian argument that power cre- ates knowledge seems to have been embraced by powerful governing elites who generally reject the ideas and writing styles of postmodern theorists. One of the American architects of the Iraq invasion in 2003, for example, assured a journalist that American policymakers were powerful enough to define and thereby create political realities in a distant Middle Eastern society. “Postmodern thought,” Guha notes, “had thus been captured by its inveterate critics in the power elite” (ix). This concern about public actors who now adapt theoretical critiques of empirical knowledge to justify their own claims for reality-shaping narratives leads to one of Guha’s specific warnings about the current threats to historical knowledge. Although he provincializes European claims for unique historiographical traditions and methods, he also defends the Rankean belief in the documentary foundation of fact-based historical knowledge. Guha thus views the commitment to evidence-based knowledge as an essential cultural value that should never be dismissed as simply a Eurocentric ideology. Documentary evi- dence, as he correctly insists, provides valid criteria for historical truth in South Asia and in every other society that seeks to establish reliable knowledge about its own past. This commitment to evidence-based historical knowledge, however, leads Guha to an unexpected critique of historians who draw radical relativist implications from the argument that narrative choices shape the construction of all historical knowledge.
Guha’s work carefully examines the words and narrative structures that shape human uses of the past, yet he seems to pull back from his own analytical themes at the end of his book. “We have entered a post-truth world through many paths,” he notes: “One of those brought us here by arguing that all narratives were constructed, and consequently all are equally valid” (176). This is a puz- zling statement because Guha’s book actually shows why the second clause in this sentence is not correct. It is certainly true that all narratives are constructed, but Guha skillfully shows (and almost all historians would agree) that some nar- ratives are far more truthful than others because the best historical accounts are based on documentary evidence and other verifiable sources. Guha’s analysis of South Asian historians thus uses evidence-based criteria to explain why some constructed narratives are more valid than others. His concluding lament about a misguided academic acceptance of the postmodern emphasis on the shaping power of narratives seems to be refuted by the critical assessments of different textual constructions in his own impressive book.
My questions about the impact of changing technologies and the ongoing evaluation of truth claims in historical narratives suggest some of the key issues that Guha’s book encourages readers to continue exploring in our “post-truth” historical era. Although he develops an insightful account of the ways in which historical knowledge evolved in specific South Asian cultures, Guha also shows how this long-developing cultural history challenges traditional narratives about European exceptionalism, confirms the influence of cross-cultural exchanges, demonstrates the complex hybridity of colonial and postcolonial ideologies, and exemplifies the continual intersection of historical knowledge and public conflicts. Guha’s emphasis on the contingency of historical knowledge and the vulnerability of experts also reminds professional historians that sociopolitical forces affect the narratives they write as well as the economic resources that support their privileged positions. Historians thus remain vulnerable to the revo- lutionary upheavals they like to study from the safety of their cloistered positions.
Perhaps the current vulnerability of professional historians results partly from a gradual twentieth-century scholarly withdrawal from intellectual engagements with public life and public history. Given the pressing need for historical narra- tives in public life and in the cultural defense of collective identities, there will always be (nonexpert) groups who want to fill the public historical vacuum that exists when historians argue only among themselves. The historians’ long-term retreat to university cloisters has become increasingly problematic amid the recent populist upheavals around the world, but these unsettling events may now be forcing historians to become more aware of their connections to the public sphere. This awareness could grow in all national cultures as university-based historians struggle to maintain student enrollments and financial resources—and as activist groups constantly develop self-supporting historical narratives in the popular media that flourish outside academic cloisters.
Sumit Guha’s well-argued, well-researched account of collective memory in the longue durée of South Asian history thus helps historians understand the enduring connections between historical knowledge and the struggle for power in public cultures. Cloistered historical experts who find themselves increasingly besieged by twenty-first-century culture wars and polarizing political conflicts might turn to Guha’s narrative for transcultural perspectives on their current chal- lenges. They may also draw on his perceptive analysis of South Asian historical narratives to understand more clearly why they must engage with public cultures beyond their cloisters and defend the evidence-based historical knowledge that others will denounce, distort, or ignore.
Notes
- Guha refers to key themes in Peter Novick, That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988).
- Percy Bysshe Shelley, “Ozymandias,” in The Complete Poetry of Percy Bysshe Shelley, vol. 3, ed. Donald H. Reiman, Neil Fraistat, and Nora Crook (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2012), 326. This reference reflects my own response to Guha’s themes; he does not mention Shelley or this poem in his book.
- Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Princeton: Princeton University Press, 2000). Guha draws on Chakrabarty for his useful distinctions between “cloistered” and “public” history as well as his broader interest in displacing Europe from its “central, normative role in world history” (Guha 5).
- For a summary of notable research methods in this field, see Samuel Moyn and Andrew Sartori, “Approaches to Global Intellectual History,” in Global Intellectual History, ed. Samuel Moyn and Andrew Sartori (New York: Columbia University Press, 2014), 3-30.
- The key work for Guha is Maurice Halbwachs, On Collective Memory, ed. and transl. Lewis Coser (Chicago: University of Chicago Press, 1992).
- Guha challenges the influential argument that appears, among other places, in Gayatri C. Spivak, “Can the Subaltern Speak?” in Marxism and the Interpretation of Culture, ed. Cary Nelson and Lawrence Grossberg (Urbana: University of Illinois Press, 1998), 271-314.
Lloyd Kramer – University of North Carolina, Chapel Hill.
GUHA, Sumit. History and collective memory in South Asia, 1200-2000. Seattle: University of Washington Press, 2019. Pp. xiii, 240. Resenha de: KRAMER, Lloyd.The enduring public struggle to constructo, control, and challenge historical memories. History and Theory, v.60, n.1 p.150-162, mar. 2021. Acessar publicação original [IF].
Confluence Narratives: Ethnicity/History, and Nation-Making in the Americas | Antonio Luciano de Andrade Tosta
A obra aqui resenhada se inscreve no campo de investigação de uma identidade americana nascida do encontro de culturas diferenciadas. É longa a lista de pesquisadores que se voltam para o exame de um comparatismo literário que, longe de buscar as influências das mães-pátrias, partem para observar o dinamismo cultural gerado na literatura do Novo Mundo. Exemplo desse gênero de pesquisa são as coletâneas organizadas por Zila Bernd e outra por mim, que mapeiam o imaginário coletivo do continente americano por meio de levantamentos de figuras míticas que passaram por processos variados de transformações, produzindo fenômenos específicos de mestiçagem e hibridismo.1 Leia Mais
Narrativas, Universidades e educação | História Oral | 2020
No final de 2019, lançamos por esta revista de História Oral uma chamada para submissão de trabalhos para o dossiê Narrativas, universidades e educação que ora apresentamos. Nosso objetivo era congregar trabalhos que versassem sobre a trajetória das universidades e de seus profissionais. Autores diferentes estabelecem marcos distintos para aquela que teria sido a primeira universidade do país – dentre outras, a Universidade de Manaus, atual Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em 1909, a Universidade do Paraná, hoje Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 1912, e a Universidade do Rio de Janeiro, depois Universidade do Brasil e, por fim Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1920) – sendo, não obstante, seguro dizer que já nos aproximamos dos seus primeiros cem anos de atividade no Brasil. Especialmente aqui, essas instituições se constituíram como o espaço primordial de produção em ciência, tecnologia e conhecimento, possuindo também relevante papel na formação de professores para todos os níveis de educação. Diante dos desafios que têm acometido os estabelecimentos de ensino superior nos últimos anos, nós, organizadoras deste dossiê junto com as editoras que acolheram nossa proposta, acreditamos na importância de reunir trabalhos que registrem e debatam o papel da comunidade universitária nas múltiplas dimensões que ela pode ter assumido: na abertura de novas áreas de conhecimento, na interiorização de seus serviços e, especialmente, na formação de professores. Leia Mais
Narrativas, pandemia e adoecimento social | Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica | 2020
O ano de 2020 nos trouxe o cenário pandêmico com todos os seus desdobramentos sociais, políticos, econômicas, sanitários, educacionais, comunicacionais, culturais, e tantos outras implicações cotidianas nunca experimentadas pelos sujeitos deste século, um trauma em proporção planetária. Ao passo que o isolamento se mostra como a estratégia mais eficaz de proteção das populações, ele vem produzindo angústia, medo, tensões diante dos agravantes psicossociais, dos novos cuidados e hábitos de saúde e da confrontação com a vulnerabilidade física, emocional e social que se impõe a todos, de forma global. A confrontação com a morte e com a finitude da vida ou com a condição de vida precária traz à tona um tema tabu que ganha contornos ainda mais duros diante da impossibilidade de manter ritos de passagem que secularmente estruturam as relações pessoais e dão forma às histórias de vida. Até a presente data no Brasil, os números de mortes pela COVID-19 caminham para as 200 mil mortes, mas as notícias que chegam pela grande mídia sugerem subnotificações. São 200 mil famílias que perderam seus entes queridos. Perdas que exigem novas formas de elaborar o luto diante da suspensão dos habituais rituais de despedida. Leia Mais
Mulheres negras e museus de Salvador: Diálogos em branco e preto – SILVA (RTA)
SILVA, Joana Angélica Flores. Mulheres negras e museus de Salvador: Diálogos em branco e preto. Salvador: Edufba, 2017. Resenha de: SANTIAGO, Fernanda Lucas. Narrativas sobre mulheres negras: diálogos entre a História e a Museologia. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.10, n.5, p.509-514, jul./set., 2018.
Nós, historiadoras/es, partilhamos com nossas/os colegas museólogas/os alguns dilemas próprios do nosso ofício, como a responsabilidade com a narrativa que construímos, os desafios da análise crítica à fonte documental e o risco da fetichização e folclorização dos documentos. Para além disso, a função social de ambas as profissões, está intimamente ligada com a desconstrução de estereótipos e a necessidade constante de rever métodos e atualizar abordagens discursivas, entre outros aspectos. Desse modo, tanto na História como na Museologia, e em outras ciências humanas, a análise das fontes é o ponto-chave na construção da narrativa em que não se pode esperar que a fonte fale por si. Anterior à análise da fonte é necessário ter em vista o que pode ser considerado fonte. Quais sujeitos essa, ou aquela fonte nos permite acessar? Apesar dessas discussões não serem novidade na área da História, ainda determinados sujeitos ficam à margem das narrativas especialmente quanto à interseccionalidade de gênero, raça e classe. Qual o lugar destinado à mulher negra nas narrativas históricas? Qual o lugar destinado às mulheres negras nas exposições museológicas? Nesse sentido, Joana Flores Silva critica a “romantização da escravidão” nos museus de Salvador e o “não lugar” da mulher negra nos museus e em nossa sociedade. Foram essas questões, que motivaram a Museóloga a aprofundar sua análise e escrever sua dissertação de Mestrado em Museologia (2015) pela UFBA. Essa resenha refere-se ao texto de sua dissertação, cujo lançamento em formato de livro deu-se no dia 21 de julho de 2017 no Solar Ferrão1, Pelourinho, Salvador – BA. A pesquisadora possui profunda experiência na área da Museologia, assumiu diversos cargos de gestão e coordenação de museus em instituições governamentais, sendo responsável por diversos projetos com a finalidade de criar políticas públicas para atender a demanda social com relação às questões de acessibilidade, identidade e pertencimento do público soteropolitano. Sua militância segue lado a lado com sua sólida trajetória profissional. Atualmente, é museóloga da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Branco e Preto” é um marco na Museologia brasileira, pois inaugura2 a discussão de gênero e raça, além de ser um ato político extremamente simbólico a presença de uma museóloga negra discutindo racismo; representatividade; o lugar da população negra na narrativa oficial; acessibilidade aos museus; no mesmo lugar em que, há pouco mais de um século, pessoas negras estavam sendo vendidos em praça pública.
A pesquisadora analisou sete museus de tipologia histórica de Salvador contidos no Guia Brasileiro de Museus, buscando entender como são representadas as mulheres em exposições de longa duração, e o tratamento diferenciado dado às representações de mulheres negras e mulheres brancas. Para entender a composição dos cenários dos museus analisados, a museóloga considerou duas etapas do projeto expográfico: a primeira refere-se à preservação dos objetos, ou seja, o que é valorizado como documento digno de preservação? O que compõe uma coleção? E a segunda etapa refere-se à exibição. O que merece ser exibido ao público? Quem são os sujeitos representados nos lugares de maior ou menor destaque dentro dos museus? Como resultado da análise, a museóloga percebe que os acervos são pouco explorados e/ou distorcidos, no que tange a representação da mulher negra; há pouca ou ausência de referência sobre objetos que são atribuídos às mulheres negras. Caso parecido ocorre na História, quanto à invisibilidade das mulheres negras nas narrativas históricas. É necessário pensar qual a importância desse sujeito histórico (mulher negra) naquele contexto, e as experiências das mulheres negras na atualidade, e assim, questionar a intencionalidade de ligar o corpo negro ao passado de escravidão, promovendo seu silenciamento.
A museóloga explica que os recursos de luz e cor, conteúdo das legendas, a escolha dos objetos e espaços de maior ou menor destaque nos museus, evidenciam a intencionalidade expográfica de cristalizar hierarquias sociais. Assim como na narrativa histórica, escolhe-se apenas o que se deseja lembrar e o restante é esquecido, não há espaço para a pluralidade de experiências. A memória da mulher branca e pobre é Disponível em: <https://g1.globo.com/bahia/noticia/livro-mulheres-negras-e-museus-de-salvador-e-lancado-no-solar-ferrao-nesta-sexta-feira.ghtml>. Acesso em: 30 abr. 2018. 2 Disponível em: <https://dimusbahia.wordpress.com/2017/07/25/lancamento-do-livro-de-joana-flores-mulheres-negras-e-museus-de-salvador-lota-o-museu-abelardo-rodrigues/>. Acesso em: 30 abr. 2018. apagada, assim como a memória de mulheres negras livres e com poder de influência são esquecidas. Cristalizar a imagem da mulher negra como escravizada impede-nos de perceber a história da mulher negra para além dessa imagem, invisibiliza suas ações enquanto sujeito histórico ativo na construção socioeconômica do país e sua atuação como líderes comunitárias, em clubes, coletivos e outros movimentos sociais. Segundo a museóloga, a memória da mulher branca da elite nos museus de Salvador é sustentada através da memória da mulher negra escravizada, ou seja, a memória de um grupo é reforçada pela subalternização da memória de um outro grupo .
Joana Silva faz um apelo no sentido de que as teorias e práticas museológicas devem ir além de pensar no acesso ao museu, mas devem repensar as formas de representar os sujeitos que não frequentam museus, por não se reconhecerem nos discursos ultrapassados exibidos nessas instituições. É necessário dar um tratamento digno aos objetos que pertenceram às mulheres negras e contextualizar os usos dos objetos, que são parte da história esquecida pela historiografia oficial. Trazer legendas com referências mais precisas sobre os objetos e sujeito que os possuíam, ou os utilizavam. Tornar visível a herança cultural desde tempos remotos dos grupos excluídos, para resgatar o sentimento de pertencimento e identidade racial e social dos sujeitos históricos no presente. A autora indica como possibilidade contrapor historiografia oficial com as produções artísticas que valorizam a mulher negra.
A pesquisadora apresenta alguns marcos de reflexões sobre a função social do museu que está na pauta da Museologia internacional dos últimos 40 anos: a Mesa Redonda de Santiago no Chile em 1972, segundo Silva (2017, p.51) “o desenvolvimento e o papel dos museus no mundo contemporâneo”; a Declaração de Caracas, de 1992, de acordo com Silva (2017, p. 51) “compreende os museus como um dos principais agentes de desenvolvimento integral”. O Código de ética do ICOM (Conselho Internacional de Museus) que assegura a autonomia dos museus no tratamento de suas coleções mas, atenta para o compromisso em tornar acessível e representativo para os diversos grupos sociais. Mesmo após esses avanços, a autora constata que a maioria dos museus de Salvador ainda não se alinharam a essas determinações internacionais. A museóloga também apresentou marcos nacionais de maior relevância para a renovação da museologia, como a Constituição de 1988, que instituiu o Plano Nacional de Cultura. As conquistas do movimento negro através das Políticas de Ações Afirmativas, como a criação da SEPPIR (Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial) e SEPROMI (Secretaria de Promoção à Igualdade Racial), o Estatuto da Igualdade Racial. Esses marcos de Políticas Públicas sinalizam, de maneira geral, o respeito à diversidade cultural, a atualização da narrativa de maneira que promova a valorização dos sujeitos e grupos excluídos, resgatando o sentimento de pertença e identidade cultural.
A autora apresenta um breve histórico abordando a fundação de três instituições: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1838, o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro em 1922 e o Instituto Feminino da Bahia fundado em 1923. Segundo a autora, essas três instituições foram responsáveis por construir os símbolos de identidade nacional, progresso, modernidade, o modelo de mulher burguesa e por cristalizar o continuísmo do espaço marginal destinado à população negra e indígena no estado da Bahia.
A narrativa oficial da História inseriu a mulher negra no papel de escravizada e da mesma forma operou o discurso Museológico durante anos. Tanto a historiografia quanto a museologia são beneficiadas quando as/os pesquisadoras/res consideram em suas abordagens o recorte racial, e suas interseccionalidades com gênero e classe. Faz-se urgente a difusão de trabalhos como de Silva (2017) para o combate ao racismo, machismo e sexismo. Esse trabalho de análise da museóloga deve servir de exemplo as/aos pesquisadoras/res brasileiros, assim como em todo mundo afro-diaspórico. Não se trata de tentar esconder o passado de escravidão mas, trata-se de evidenciar que a população afro-diaspórica tem uma história rica e plural em experiências, não sendo aceitável a reificação da imagem do escravizado. Silva (2017) traz nas últimas páginas de seu texto uma lista emblemática referenciando diversas mulheres negras que merecem ser lembradas por seu trabalho e atuação política, como Maria Beatriz Nascimento, Karol com K, Jovelina Pérola Negra, Olga de Alaketu, Tia Ciata, Djamila Ribeiro entre outras.
Entre as funções sociais do museu também podemos considerar a função didático-pedagógica, para que os museus possam servir aos propósitos da Lei 10.639/03, que instituiu a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira no Ensino Básico, desde que os objetos representados dialoguem com o público visitante numa perspectiva de desconstruir estereótipos; dessa forma, os museus podem ser aliados na construção de uma Educação Intercultural.
Referências SILVA, Joana Angélica Flores. Mulheres negras e museus de Salvador: Diálogos em branco e preto. Salvador: Edufba, 2017.
Escritora Joana Flores lança livro ‘Mulheres Negras e Museus de Salvador’ no Solar Ferrão. G1 Bahia. Disponível em: <https://g1.globo.com/bahia/noticia/livro-mulheres-negras-e-museus-de-salvador-e-lancado-no-solar-ferrao-nesta-sexta-feira.ghtml> Acesso em: 30 abr. 2018.
Lançamento do livro de Joana Flores ‘Mulheres Negras e Museus de Salvador’ lota o Museu Abelardo Rodrigues. Dimus Bahia. Disponível em: <https://dimusbahia.wordpress.com/2017/07/25/lancamento-do-livro-de-joana-flores-mulheres-negras-e-museus-de-salvador-lota-o-museu-abelardo-rodrigues/> Acesso em: 30 de abr. 2018.
Fernanda Lucas Santiago Mestranda em História na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópólis – SC – Brasil. E-mail: flucasantiago@gmail.com.
Narrativas sobre loucuras, sofrimentos e traumas – WADI (RTA)
WADI, Yonissa Marmitt (org). Narrativas sobre loucuras, sofrimentos e traumas. Curitiba: Máquina de Escrever, 2016. Resenha de: BATISTA, Gabriela Lopes. Descentrando lugares de enunciação: narrativas sobre loucuras, sofrimentos e traumas. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.10, n.24, p.605-610, abr./jun., 2018.
Refletir sobre narrativas de instituições e de pessoas consideradas loucas, ou outras nomenclaturas como “doentes mentais”, “portadores de transtornos mentais” ou “pessoas com sofrimento psíquico” configura-se como intuito principal do livro lançado no ano de 2016, sob o título “Narrativas sobre loucuras, sofrimentos e traumas”. A obra reúne artigos que são resultado dos encontros do projeto “Gênero, Instituições e Saber Psiquiátrico em Narrativas de Loucura”, que contou com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e teve seu desenvolvimento na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).
Yonissa Marmitt Wadi, organizadora do livro, é docente do curso de graduação em Ciências Sociais e dos programas de pós-graduação em História, Poder e Práticas Sociais e Ciências Sociais da UNIOESTE. Sua atuação abrange a História Cultural e a História das Ciências, destacando a história da loucura e psiquiatria.
De acordo com a organizadora da obra, os artigos desenvolvem reflexões acerca de narrativas que surgiram em situações que poderiam ser consideradas limítrofes da existência humana, ou que escapariam do que seria instituído no que se nomeia normalidade cotidiana. Tais situações limítrofes, por serem consideradas pertencentes a uma população que se encontra à margem da sociedade, estariam condenadas ao esquecimento, bem como “gestadas em meio a relações complexas que envolvem políticas, poderes e saberes em temporalidades distintas” (p. 16). Dessa forma, os sujeitos dessas experiências trazem à tona categorias como trauma e sofrimento, a partir das condições impostas em instituições de isolamento como manicômios e leprosários, ou de eventos como guerras.
O livro está dividido em oito capítulos que envolvem tais categorias e que concernem à experiência de sujeitos, ou às políticas das instituições que atuam com esses sujeitos, além do prefácio escrito por Rafael Huertas, doutor em Medicina e Cirurgia pela Universidade Complutense de Madri e professor de investigação no Instituto de História, do Centro de Ciências Humanas e Sociais, do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC-Madri). A disposição dos oito capítulos foi organizada de forma que temáticas de abordagem similares ficassem próximas. institucionais. O primeiro, intitulado “Assistência psiquiátrica nacional: narrativas para uma política pública no contexto brasileiro (1940 a 1970)” tem como autores Ana Teresa Acatauassú Venancio e André Luiz de Carvalho Braga, ambos historiadores, no qual discutem a forma como diferentes setores do governo brasileiro ofereceram narrativas para consolidar a implementação de um órgão específico, o Serviço Nacional de Doenças Mentais (SNDM), que pudesse desenvolver ações para um projeto de assistência psiquiátrica, que os autores classificam como “indubitavelmente nacional”. Tais narrativas seriam oferecidas em documentos como relatórios governamentais do acervo da Divisão Nacional de Doenças Mentais (DINSAM), e em textos publicados em órgãos de divulgação mantidos pelo SNDM como os “Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais” e a “Revista Brasileira de Saúde Mental”. Já no segundo capítulo, a socióloga Teresa Ordorika Sacristán, no texto “Las historias clínicas: narraciones útiles para el análisis de la psiquiatrización de la sociedad”, reflete sobre reverberações de políticas criadas e suas aplicações nas instituições, utilizando, para tal, documentos clínicos. Em ambos os textos é possível perceber que o discurso médico-psiquiátrico possui códigos próprios e que se legitima por meio da propagação de ideias higienistas e eugênicas.
O terceiro e quarto capítulos direcionam-se às discussões de gênero nos discursos e nas instituições do Brasil e de Portugal. No caso brasileiro, Yonissa Marmitt Wadi e Telma Beiser de Melo Zara apresentam um pouco da trajetória de Stela do Patrocínio em “Problematizando o mundo: vida institucional e subjetivação no “falatório” de Stela do Patrocínio”. Como sugere o título, Stela ficou conhecida nas instituições manicomiais pelas quais passou ao longo de trinta anos pelo seu “falatório”, em que falava poeticamente sobre suas experiências e percepções do universo que a cercava, inclusive das instituições pelas quais passou. Diagnosticada como esquizofrênica, teve seu falatório gravado e, deste, originaram-se pesquisas que as autoras citam e utilizam ao longo do texto, principalmente os trechos em que Stela questionava, por meio de seu falatório, o casamento, papéis desempenhados por homens e mulheres na sociedade, ou mesmo a sua fala invisibilizada devido ao fato de ser mulher e interna. Já no caso português, Tiago Pires Marques em “Intimações do êxtase feminino: dois momentos da cultura da histeria em Portugal” analisa significados atribuídos ao êxtase nos âmbitos da religião e da ciência, e quais são os alargamentos ou alterações dos significados quando concernem à expressão do êxtase de mulheres, conferindo, na ciência, o encaminhamento de um diagnóstico do que por algum tempo fora uma patologia atribuída às mulheres: a histeria.
Em “Rastros de vidas: loucura e interdição civil na Comarca de Guarapuava-PR (1940-1950)”, a historiadora Abigail Duarte Petrini utiliza como fontes quatro processos de interdição, de forma que o objetivo descrito pela autora é “dar densidade às vidas das pessoas ditas loucas e aos conflitos e percalços de sua existência” (p. 121), percebendo, neste processo, como se configuraram as redes de relações sociais que operaram valores na Comarca de Guarapuava. A análise dos processos discute a forma que a vida dos sujeitos se transformou a partir de sua interdição, principalmente quando envolveram bens como propriedades, por exemplo, sejam urbanas ou rurais.
Os três capítulos que encerram a obra partem de discussões que utilizam o sofrimento como categoria de análise e privilegiam o uso de narrativas orais em contextos traumáticos. No sexto capítulo, “Lepra e narrativas de sofrimento na Argentina: considerações sobre o livro Dolor y Humanidad”, José Augusto Leandro e Silvana Oliveira analisam a referida obra escrita e publicada em Buenos Aires no ano de 1937. O livro fora uma iniciativa da instituição filantrópica Patronato de Leprosos e conta com 47 textos que foram selecionados através de um concurso literário. Os autores buscam ao longo do artigo estabelecer que a publicação do livro constituiu-se como um evento político de interesse que julgam imediato, que seria a aderência a um discurso em defesa da implementação de uma lei de isolamento compulsório para hansenianos no país. Além disso, buscam nas narrativas analisar “as dores da vida vislumbrada à margem de um mundo sadio na Argentina da década de 1930” (p. 149). Um ponto a ser destacado no trabalho consiste na afirmação de que a consciência da dor e/ou das motivações que a desencadearam colocaram a pessoa portadora de hanseníase em uma condição ativa, que seria de resistência.
O sofrimento e narrativas orais, relacionados à Segunda Guerra Mundial, estão presentes nos capítulos que encerram o livro. Méri Frotscher e Marcos Nestor Stein analisam o testemunho de uma mulher em “E estava tudo bem até começar a guerra: sofrimentos e ressentimentos em narrativas orais de uma refugiada da Segunda Guerra Mundial no Brasil”. Katharina H. fora deportada ainda na adolescência da Iugoslávia e enviada à Ucrânia, onde foi submetida a trabalhos forçados, assim como muitos outros que foram enviados para a URSS com o objetivo de reconstruir o país ainda durante a guerra, como parte de um acordo entre Stalin e os aliados. Debilitada e doente, dois anos e meio depois, fora dispensada, reencontrara seus familiares com os quais migrou para o Brasil, estabelecendo-se na colônia Entre Rios, localizada no município de Guarapuava-PR. Os autores analisam três entrevistas feitas com Katharina, realizadas nos anos de 1984, 2010 e 2012. Concluem que é possível perceber a reivindicação do estatuto de vítima, por conta de suas experiências que narram o sofrimento e trauma que remetem à deportação, expatriação e imigração.
Já no último capítulo, intitulado “Narrativas de sofrimento, narrativas de formação: reflexões sobre a autobiografia de uma refugiada da Segunda Guerra Mundial”, Beatriz Anselmo Olinto e Méri Frotsher analisam a autobiografia de Úrsula B., que, assim como Katharina, veio ao Brasil como refugiada da Segunda Guerra Mundial e estabelecera-se na colônia de Entre Rios. Salienta-se que a narrativa do trauma teria um efeito terapêutico de cura individual, lembrando às gerações futuras dos percalços pelos quais passara. A trajetória descrita por Úrsula perpassa não apenas sua vivência de guerra, mas também situa o leitor do cotidiano de sua família antes da guerra, abordando temas como casamento e maternidade. Relata também a experiência de êxodo e de estabelecimento no país que a abrigaria. As autoras finalizam ressaltando a importância contemporânea dos testemunhos, que emitem narrativas públicas de seus sofrimentos e que se relacionam à constituição de identidades que possuem o ressentimento e a melancolia como características.
O conjunto de artigos presente neste livro compreende uma importante diversidade de pesquisas que se dedicam a analisar narrativas de sujeitos que tiveram suas vozes relegadas ao esquecimento devido a fatores como institucionalização, gênero e guerras. Além disso, é pertinente ressaltar a discussão de políticas e implementação de instituições, como forma de compreender as práticas de marginalização e eugenia que Res estigmatizaram sujeitos a quem atribuíram patologias relacionadas à loucura, como a esquizofrenia, a histeria, entre outras. São experiências e emoções que podem ser ouvidas por meio das pesquisas.
Gabriela Lopes Batista – Doutoranda em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina. – Florianópolis – SC – BRASIL E-mail: gabilopes04@yahoo.com.br.
As faces de John Dube: memória, história e nação na África do Sul / Antonio E. A. Barros
A reconstituição progressiva das diferentes estratégias, tramas de competição política e batalhas pela memória da nação sul-africana contemporânea constituídas em torno do legado e da biografia de uma de suas figuras centrais, John Langalibalele Mafukuzela Dube (1871-1946), constituem o objeto principal do mais recente livro do historiador maranhense Antônio Evaldo Almeida Barros. Resultante de sua tese de doutorado, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Universidade Federal da Bahia, em 2012, sob orientação de Lívio Sansone, o livro constitui um convite etnográfico, interdisciplinar e bem documentado para acompanhar o autor na aventura da exploração das artimanhas da nação e da memória no contexto sul-africano, explorando o contínuo, complexo e multifacetado processo de reconstrução biográfica d’As Faces de John Dube.
Por oportuno, tendo em vista o próprio objeto analisado na obra, talvez fosse interessante tecer algumas breves considerações sobre o autor, assim se tornará mais compreensível o esforço intelectual realizado e algumas de suas bases epistemológicas. Podemos começar então pelo denso investimento realizado anteriormente por Antonio Evaldo para a reconstituição de uma história social da cultura popular maranhense na contemporaneidade, cujos resultados só parcialmente começam a ser divulgados2. Desde esse momento, parece-me, os meandros da nação, cultura, memória e identidade constituem eixos centrais de discussão que se prolongam no trabalho ora resenhado. Da mesma forma, do ponto de vista metodológico, percebe-se n’As Faces de John Dube a mesma paixão pela imersão no campo arquivístico, porém, com uma exposição muito mais arguta e envolvente a respeito do processo de construção da pesquisa, com um enredo que nos convida a acompanhar a construção da obra em processo e, paralelamente, do próprio Dube em movimento. Para um observador próximo, torna-se claro também a inscrição dessa pesquisa em um programa de investigação promovido por jovens pesquisadores do Maranhão, que tem como meta incorporar o continente africano em uma pauta de investigações comparativas, constituída em torno de afinidades temáticas e problemas conceituais, e radicada nas redes de discussão epistemológica do eixo sul-sul3.
Com efeito, recorrendo a textos e narrativas desse intelectual sul-africano reconhecido, passando por biografias, artigos, ensaios e livros de natureza diversa sobre Mafukuzela distribuídos por diversos arquivos, e atravessando diferentes configurações temporais, Antônio Evaldo nos convida, então, a uma densa e multissituada exploração das modalidades de gestão coletiva, enquadramento institucional e lutas de memória em torno de Dube. E aqui se encontra, para o parecerista, o aspecto mais interessante da obra, posto que o que se coloca sob análise não é propriamente o sujeito empírico, mas o problema das formas de autoinscrição simbólica e política dessa figura central da narrativa sul-africana em diferentes configurações. São, portanto, as modalidades de patrimonialização da cultura e suas distintas concepções de história, desenvolvimento, raça e cultura que entram em pauta.
Evidentemente, a escolha temática e a pluralidade de fontes e materiais de caráter crítico ou laudatório sobre John Dube têm como suporte a pluralidade de papéis e cargos por ele exercidos e as sucessivas tomadas de posição que adotou no espaço público. Assim, como bem demonstra o autor, em que pese a variedade de visões construídas por biógrafos, documentaristas e comentadores, há relativo consenso de que não se trata de um indivíduo ordinário ou socialmente insignificante, o que ajuda a compreender a profusão de dispositivos empregados para produzir, atualizar ou questionar o legado desse personagem4. Porém, se essas realizações são bem conhecidas por aqueles que têm se interessado por sua vida e obra, é também significativo observar que os discursos e práticas atribuídos a Dube não costumam ser trazidos à tona de modo despropositado; a eles são destinadas ênfases e interpretações de natureza política, acadêmica ou artística, situadas no contexto social e histórico de seus produtores, numa cadeia de interpretações que envolve, além de Dube, homens e mulheres que com ele conviveram ou que, posteriormente, o tomaram como objeto de suas narrativas.
Para recobrar o processo complexo de utilização de Mafukuzela como objeto de diferentes estratégias e tramas de competição política e batalhas pela memória da nação, Antônio Evaldo tenta reconstituir esse trabalho de muitas mãos em três recortes. No primeiro capítulo, intilulado John Dube no seu próprio tempo, o autor narra alguns momentos da vida de John Dube explorando os seus discursos distribuídos por ensaios, livros e outras formas de intervenção social escrita. Neste caso, interessa ao autor descrever simultaneamente o contexto sócio-político e o itinerário de vida de John Dube, ao passo em que são exploradas as suas interpretações sobre a realidade e as narrativas e imagens que projetou sobre si. A hipótese de fundo é que a extraordinariedade do seu trajeto, situado nas fronteiras entre a sua cultura de origem e as fontes da cultura dominante, e o seu esforço por encontrar um sentido e posição no mundo dentro do conjunto de injunções contraditórias aos quais foi submetido delimitam e influem sobre as operações posteriores de revisão do seu legado.
A partir de então a análise descola-se propriamente do indivíduo para nos situar nas grandes tendências interpretativas que, desde o final do século XIX até o início do século XXI, tomam John Dube como objeto ou sujeito de interesse. É assim que, em Dube rememorado em tempos e espaços da África dos Sul segregada (capítulo 2), o autor passa a explorar aqueles que tendem a identificar Mafukuzela como colaborador direto ou indireto do processo de implementação do regime segregacionista sul-africano. A despeito de que essa representação da vida de Dube posa ser encontrada em diferentes momentos e contextos da história da África do Sul contemporânea, fato é que ela se torna claramente dominante nos anos do Apartheid, particularmente entre as décadas de 1940 e 1970. A tônica das publicações diversas que analisou – e com maior detalhe, dois ensaios biográficos e uma biografia – é aquela na qual Dube pode ser visto como fantoche dos brancos, incentivador da solidariedade racial, numa expressão, promotor do apartheid. Em suma, John Dube seria o retrato de como ser fraco e ambíguo diante das forças sociais, políticas e econômicas da história sul-africana, e da luta contra a opressão social e racial.
De outro lado, há aqueles que posicionam John Dube como personagem central das lutas históricas contra a segregação racial, inscrevendo-o, como ocorre atualmente, como uma espécie de herói sul-africano. Também neste caso podem-se observar registros desta tendência em diferentes décadas e situações, como nas representações sobre Dube produzidas por sua família e grupo social nos anos 1970 no âmbito dos izibongos5 que lhe foram dedicados, analisados no final do segundo capítulo. Mas este padrão interpretativo tornar-se-ia claramente dominante na África do Sul pós-Apartheid, particularmente no contexto de invenção da África do Sul como Rainbown Nation.
São justamente esses usos e abusos de John Dube que o autor analisa no terceiro capítulo: John Dube em tempos e espaços da nação arco-íris. Porém, antes de destacarmos o foco do capítulo, interessa enfatizar a digressão feita pelo autor no início dessa última parte do livro, quando somos surpreendidos com uma nova e bem-humorada exploração de sua experiência etnográfica, destacando não apenas as suas percepções subjetivas a respeito das diferenças entre África e Brasil, como também o complexo jogo de permanências e mudanças no jogo de classificações e etiquetagens naquele espaço simbólico. É que o tópico permite ver com clareza que o foco principal da obra não se situa exatamente nas situações e experiências múltiplas, desiguais e diferentes dos sujeitos concretos, mas nas condições sociais de formatação, enquadramento e reconhecimento público de determinadas narrativas e categorias de classificação da realidade.
Em museus e monumentos, nos meios acadêmicos, celebrações e homenagens, na imprensa ou em meios digitais, o autor vai explorando como vai sendo esculpida simbolicamente e objetivado o discurso da Rainbow Nation ao passo em que Dube é reabilitado como sujeito absolutamente envolvido nas lutas pela liberdade, opositor inteligente de ações e movimentos que visavam instituir o Apartheid. Conectada à instalação dessa ruptura, a vida de Mafukuzela passa a ser tomada como exemplo de que nas origens da nação sul-africana moderna haveria formas claras de relações raciais harmônicas entre brancos e negros. John Dube seria, portanto, o retrato de como ser forte diante das forças sociais, políticas e econômicas da história e na luta contra a opressão social e racial; um exemplo heróico para ser seguido numa África do Sul que se pretende como nação caracterizada pela diversidade cultural e étnica.
A guisa de conclusão, gostaria de destacar um último aspecto da obra que retoma os argumentos da conclusão apresentada pelo autor. Ele diz respeito ao valor pedagógico de uma abordagem que tem clareza com relação ao foco principal do trabalho. Sem prender-se a uma visão encantada e celebratória a respeito da construção da Rainbow Nation, e mobilizando uma pluralidade de fontes com precauções teóricas, o livro consegue, antes de qualquer coisa, demonstrar as múltiplas tensões, simbólicas e sociais, por meio das quais a nação é fabricada e representada na contemporaneidade. Porém, a apreensão desse processo de produção da realidade oficial e pública, objeto do trabalho, não faz com que o autor deixe de ponderar o fato de que os processos de visibilização e consagração de determinados patrimônios e atores sociais, como John Dube, recobrem diferentes formas de silenciamento e, por vezes, fazem esquecer realidades não ditas e percebidas nessas narrativas, o que pode se desdobrar ainda em um novo e instigante programa de investigações.
Notas
- Consultar, por exemplo: BARROS, Antonio Evaldo A. Invocando deuses no templo ateniense: (re)inventando tradições e identidades no Maranhão. Outros Tempos, São Luís, v.3, p. 156-182, 2006. Id. O pantheon encantado: culturas e heranças étnicas na formação da identidade maranhense. 2007. 319 p. Dissertação (Mestrado em Estudos Étnicos e Africanos) – IFCH, PÓS-AFRO, CEAO, Salvador: UFBA, 2007.
- Desse ângulo, inclusive, este livro pode ser lido como um dos mais belos e pedagógicos exemplares de uma agenda de pesquisas coletivas levada a cabo no bojo do Núcleo de Estudos África e Sul Global (NeÁfrica) – grupo vinculado à Universidade Federal do Maranhão e Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) – o qual tem se traduzido em diferentes publicações, eventos e irrigado diversos projetos de investigação.
- Neste caso, valeria muito à pena atentar para a sugestão de um programa de pesquisas realizada por Livio Sansone no prefácio do livro, quando assinala que “Dube não é somente importante, mas é também exemplar para o estudo das biografias dos pais da pátria que foram a expressão de vários outros países africanos” (p. 15).
- Izibongo refere-se a louvores entoados em honra de uma pessoa, trata-se de um gênero de louvor poético, de poesia oral, comum entre os zulus, uma espécie de poesia ou louvor com características metafóricas, laudatórias, elogiosas e no qual se narram feitos históricos de uma pessoa que já morreu, sobretudo reis e aqueles que são heroificados. Imbongi é a pessoa especializada em proferir o izibongo.
Wheriston Silva Neris – Doutor em Sociologia. Professor do Campus III -UFMA e docente permanente do PPGHIST/UEMA. E-mail: wheristoneris@yahoo.com.br.
BARROS, Antonio Evaldo Almeida. As faces de John Dube: memória, história e nação na África do Sul. Curitiba, PR: CRV, 2016. Resenha de: NERIS, Wheriston Silva. As tramas da patrimonialização da cultura: histórias, memórias e narrativas de/sobre John Dube na Rainbow Nation. Outros Tempos, São Luís, v.15, n.25, p.192-196, 2018. Acessar publicação original. [IF].
Estudos Feministas e de Gênero / Cristina Stevens, Susane R. Oliveira e Valeska Zanello
Entre os dias 28 e 30 de maio de 2014 foi realizado na Universidade de Brasília (UnB) o II Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero: Articulações e Perspectivas. O evento, de caráter interdisciplinar, recebeu pesquisadoras/es de diversos lugares do país e contou com a apresentação de inúmeros trabalhos que tem como foco as mulheres, os feminismos, a sexualidade, as identidades e relações de gênero. Os trabalhos apresentados por professoras/es e pesquisadoras/es doutoras/es nas sessões de conferência e mesas redondas foram selecionados, avaliados e reunidos em um livro digital, organizado pelas professoras Cristina Stevens, Susane Rodrigues de Oliveira e Valeska Zanello. Este livro, intitulado Estudos Feministas e de Gênero: Articulações e Perspectivas, lançado em 2014 pela Editora Mulheres de Santa Catarina, contou também com o apoio da CAPES, da Universidade Livre Feminista e do CFEMEA. A obra está disponível gratuitamente para download, em formato PDF, no site do CFEMEA e do Colóquio (www.coloquiofeminista2014.com).
A realização desse Colóquio e, consequentemente, a publicação dessa obra, evidenciam que os questionamentos feitos pelos movimentos sociais continuam em vigor. Ao conquistar espaço no universo acadêmico, as reivindicações feitas por ativistas e simpatizantes encontram a oportunidade de não apenas contestar o que ocorre nas ruas e na vida cotidiana, mas também o que ocorre dentro das Universidades. Dessa forma, são apresentados novos pontos de vista e novos saberes que certamente contribuirão para a renovação das ciências. Os textos reunidos nessa coletânea seguem a tendência da intersecionalidade ao trabalhar, também, com questões raciais e de classe, tão discutidas atualmente pelos feminismos. Segundo as próprias organizadoras,
A surpreendente conclusão que podemos tirar a partir da leitura desses textos multifacetados é a de que as perspectivas feministas e de gênero nas produções acadêmico-culturais são bastante diversas em suas articulações com questões de raça, etnia, geração, sexualidade, religião, classe, dentre outras. Os textos que integram este livro incorporam novos idiomas críticos, visões políticas e ferramentas teórico-metodológicas na abordagem do binômio Feminismos-Gênero em áreas diversas como Antropologia, Artes, Cinema, Direito, Educação, Filosofia, Física, História, Literatura, Psicologia, Publicidade e Sociologia. Sem dúvida, os trabalhos são testemunhos positivos do dinamismo promissor desta relativamente recente área de estudos, experiências e práticas acadêmico-culturais [1].
O livro apresenta quarenta e sete capítulos e está dividido em sete partes, sendo elas: 1) Perspectivas feministas na pesquisa acadêmica; 2) Corpo, violência e saúde mental; 3) Mulheres e literatura: do medievo à contemporaneidade; 4) Educação, ciência e diferenças de gênero; 5) Imagens, cinema, mídia e publicidade; 6) Ações, direitos e políticas; 7) Identidades, experiências e narrativas.
A primeira parte da obra apresenta os textos de cinco conferencistas brasileiras que possuem larga experiência de pesquisa e produção intelectual feminista, são elas Débora Diniz, Susana Funck, Tania Swain, Sônia Felipe e Sandra Azerêdo. Débora Diniz apresenta as “Perspectivas e articulações de uma pesquisa feminista”. A autora defende que o gênero é um regime político que encontra na família sua instituição reprodutora e cuidadora. Diniz também recupera o conceito de patriarcado tratando-o como uma tecnologia moral. Segundo ela, é possível retomar esse conceito e ser sensível “às expressões locais de sua governança pelo presente histórico” [2]. Com isso, a autora propõe que toda pesquisa sobre gênero será feminista, uma vez que tal empreendimento é capaz de desafiar o regime político de sexagem dos corpos.
Susana Funck fala dos desafios atuais dos feminismos, com ênfase nos estudos literários e culturais e suas influências em outros campos do saber. Desse modo, a autora ressalta que, embora, muitas das agendas feministas já estejam incluídas nos estudos acadêmicos e nos movimentos sociais de grande parte das nações contemporâneas, suas metas de igualdade e diversidade ainda estão longe de serem alcançadas. Nesse sentido, observa que um dos maiores desafios talvez seja o de desmistificar a prática feminista como uma unanimidade monolítica e fazer valer as várias facetas da categoria gênero, perpassadas como são por vetores de raça, classe, nacionalidade, sexualidade, faixa etária e tantas outras diferenças.
A historiadora Tania NavarroSwain, em seu texto “Por falar em liberdade…”, analisa os dispositivos que se colocam em ação para sustentar a diferença sexual, os chamados subsistemas constitutivos do patriarcado. Segundo a autora, a diferença sexual, que é implantada no imaginário ena materialidade de corpos sexuados, constitui motor de ação patriarcal e exercício de poder. Assim, destaca que o patriarcado se impõe pela violência, pela persuasão/amor e por uma sexualidade que se impõe como centro identitário e de significação do ser.
A filósofa Sônia Felipe apresenta uma importante reflexão sobre o feminismo antiespecista. Nesse caso, o termo “especismo” pode ser compreendido como similar ao “machismo” e ao “racismo”. O termo foi elaborado pelo cientista e filósofo inglês Sir RichardRyder ainda o século XX para descrever a discriminação e exploração perpetradas pelos seres humanos contra outros animais sencientes. Para Ryder, usar, “abusar, explorar e matar animais para consumo e divertimento humano é uma forma de posicionar os seres humanos acima de todos os animais e de alimentar o padrão machista e racista que rege as relações de poder entre os humanos”. Por fim, Sônia Felipe propõe como opção ética uma perspectiva ecoanimalista do feminismo, afinal “Os machistas tratam as mulheres de forma especista: como animais. E as mulheres, incorporando e emulando o mesmo especismo, tratam os animais como matéria destituída de espírito, portanto, inferiores” [3].
Já a psicóloga Sandra Azeredo, no texto “O que é mesmo uma perspectiva feminista de gênero?”, destaca que o gênero, como uma categoria central na teorização feminista que problematiza as noções de sexo e sexualidade, tem necessariamente que incluir outras categorias, especialmente a categoria raça, em suas teorizações, de modo a contribuir para práticas de emancipação. No encerramento do texto a autora ressalta que
(…) uma perspectiva feminista de gênero significa partir da igualdade, nos abrindo para o encontro com as outras pessoas (inclusive os animais não humanos), com respeito, nos rendendo, mútua e voluntariamente, aos ditames da intersubjetividade [4].
A segunda parte do livro reúne os textos de Érica Silva, Gislene Silva, Valeska Zanello, Ionara Rabelo, Marcela Amaral, Ana Paula de Andrade, Gláucia Diniz e Cláudia Alves. Trata-se de estudos desenvolvidos no campo da psicologia e da literatura, sobre a saúde mental feminina. No texto “Gênero e loucura: o caso das mulheres que cumprem medida de segurança no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”, Érica Silva analisa os casos de dezesseis mulheres que cumprem medida de segurança no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A autora destaca a prevalência de mulheres pobres, de baixa escolaridade, negras e pardas que estão sob a tutela do Estado. Por terem algum transtorno mental –geralmente em decorrência do uso de álcool e/ou drogas –, elas são consideradas inimputáveis ou semi-inimputáveis pela Justiça e destinadas à Ala de Tratamento Psiquiátrico localizada na Penitenciária Feminina do Gama, ou ao tratamento ambulatorial na rede pública e privada de saúde. Silva faz importantes questionamentos sobre o tratamento dado a essas mulheres que se encontram em um contexto de marginalidade e invisibilidade na sociedade brasileira. Por sua vez, o texto de Ana Paula de Andrade tem o objetivo de problematizar os atravessamentos das questões de gênero na política pública de saúde mental em seus diferentes níveis. Já o texto “Saúde mental, mulheres e conjugalidade”, de Valeska Zanello, ao tratar do caso clínico de uma mulher internada em um hospital psiquiátrico, cujo sintoma que se destacou foi “choro imotivado”, busca apontar o que a chancela do diagnóstico psiquiátrico “depressão” escondia.
A terceira parte, “Mulheres e literatura: do medievo à contemporaneidade”, reúne textos de Cíntia Schwantes, Cristina Stevens, Janaina Gomes Fontes, Luciana Eleonora de Freitas Calado Deplagne, Virgínia Maria Vasconcelos Leal, Wiliam Alves Biserra e Nadilza Martins de Barros Moreira. O texto de Cristina Stevens avança, especialmente, no debate e reflexão sobre as representações literárias da violência contra as mulheres; focalizando a mudança radical de tratamento desta temática na contemporaneidade, quando as mulheres assumem a posição de sujeito dessas construções ficcionais e abordam o tema da violência como consequência da injusta dominação masculina na produção do conhecimento. Sobre as mulheres na literatura, Nadilza Moreira tece um esboço comparativo entre as obras de Nísia Floresta e Júlia Lopes de Almeida, ambas reconhecidas pelo pioneirismo na luta feminista ainda no século XIX. Em seu trabalho, Moreira vai elucidar que diversas mulheres do Brasil oitocentista se dedicavam à atividade intelectual e à escrita, inclusive resistindo às campanhas contrárias dos homens escritores que temiam a concorrência. Ao concluir, Moreira faz uma provocação: que mulheres como Nísia Floresta e Júlia Lopes de Almeida continuem sendo redescobertas pela Academia, pois elas “aguardam por mentes laboriosas, por pesquisadores desafiadores que queiram lhes dar a devida relevância, para colocá-las visíveis nas prateleiras da contemporaneidade” [5].
A participação feminina na educação e as questões de gênero nas ciências, especialmente nas disciplinas de física e história, são exploradas na quarta parte do livro. Diva Muniz, no texto “Memórias de uma menina bem comportada: sobre a experiência da alfabetização e a modelagem das diferenças”, apresenta uma análise de suas próprias experiências vividas na infância, nos anos cinquenta, no processo de alfabetização. Muniz revoluciona a narrativa historiográfica ao se colocar como sujeito da própria história, utilizando a própria memória para fazer considerações sobre todas as “tecnologias de gênero” que estiveram presentes em sua vida, bem como as formas de subversão e resistência à própria realidade. Assim escreve a autora,
Submetida a esse processo de disciplinarização escolar, fui sendo “fabricada” como menina educada e aluna aplicada aos estudos. Apesar e por conta desse processo, também me produzi como pessoa crítica, questionadora e independente e até mesmo impertinente. Afinal, somos assujeitadas às prescrições sociais e escolares, mas nunca de modo pleno: resistimos, negociamos, agenciamos outros termos, condições, posições e alianças; fazemos escolhas e recusas na constituição de nossas histórias e na configuração de nossas subjetividades [6].
Valéria Silva, com base nas teorias feministas, analisa as representações das mulheres nos livros didáticos escolares. Por sua vez, Susane Oliveira trata de questões relacionadas à inclusão da história das mulheres nos currículos escolares, atentando para as demandas dos movimentos feministas e delineando algumas propostas para a efetivação dessa inclusão, tendo em vista o potencial educativo da história das mulheres na promoção da cidadania e igualdade de gênero. A autora aponta que, para os avanços existentes ocorrerem, como no caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), foi necessária a mobilização dos movimentos sociais no processo. No caso do ensino da história,
Tais mudanças, somadas às inovações que ocorreram na historiografia e nas tendências pedagógicas na segunda metade do século XX, impuseram à história, enquanto disciplina escolar, um papel fundamental no reconhecimento e valorização das identidades e memórias de diferentes grupos sociais, especialmente daqueles que haviam sido marginalizados e/ou silenciados nos discursos históricos tradicionais, como as mulheres, os jovens, os trabalhadores, as crianças, os idosos, as etnias e minorias culturais [7].
Patrícia Lessa analisa os escritos da educadora Maria Lacerda de Moura, produzidos na primeira metade do século XX, cujas ideias sobre a libertação das mulheres e dos animais não humanos é bastante atual. O texto de Ademir Santana analisa a participação masculina no movimento feminista a partir de experiências na Física. Já Adriana Ibaldo versa sobre a desigualdade de gênero nas ciências exatas e a dificuldade que as mulheres precisam enfrentar para permanecerem na área. A autora apresenta dados sobre a produtividade feminina na física, que ainda é tímida –entre 6% e 25% –e relembra as situações cotidianas que podem levá-las à interrupção da carreira nos mais diversos níveis, como o machismo arraigado em ambientes majoritariamente masculinos e o estereótipo de que mulheres são inaptas às ciências exatas. Para a transformação desse cenário, a autora propõe medidas que incentivem o ingresso de jovens alunas aos cursos de física, como o projeto Atraindo meninas e jovens mulheres do Distrito Federal para a carreira em física, financiado pelo CNPq com foco em estudantes do Ensino Médio da rede escolar.
A quinta parte do livro, “Imagens, cinema, mídia e publicidade”, reúne oitos textos. O primeiro, de Maria Pereira analisa imagens de mulheres artistas no ocidente medieval. O texto de Maria Elizabeth Ribeiro Carneiro dedica-se às representações imagéticas de mulheres negras no Brasil oitocentista em “Corpos negros no/do feminino em três movimentos: um exercício de (des) construção” analisando três imagens da época: duas fotografias e um quadro. Em seu trabalho, Carneiro tece importantes considerações sobre a intersecionalidade entre gênero e raça e como os corpos das mulheres negras eram representados no século XIX. Suas palavras elucidam que no interior dessa maquinaria “política ocidental corpos negros e cativos exibem marcas de sexo-gênero e de raça, extraídas e significadas como diferenças construídas na arquitetura da dominação do patriarcado escravocrata” [8]. Os textos de Liliane Machado, Mônica Azeredo e Sulivan Barros analisam as perspectivas de gênero nas produções audiovisuais (filmes e documentários). Os textos de Sandra Machado, Ana Veloso e Cynthia debatem os processos sociais engendrados pela publicidade e propaganda que tornam as mulheres imagens-espetáculo, fetiches e objetos de consumo, impondo padrões de comportamento e preconceitos socioculturais que esvaziam o sentido político das contestações dos grupos feministas.
A sexta parte do livro apresenta seis textos que versam sobre direitos e políticas públicas para as mulheres, desenvolvidos pelas/os autoras/es Ela Wiecko, Soraia da Rosa Mendes, Wanda Miranda Silva, Camila de Souza Costa e Silva, Lourdes Maria Bandeira, Tânia Mara Almeida, Carmen Hein de Campos, Ana Liési Thurler, Sônia Marise Salles Carvalho, Nelson Inocêncio, Umberto Euzébio e José Zuchiwschi. Os textos, das oito primeiras autoras, abordam, teórica e empiricamente, estratégias atuais de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres brasileiras, a partir de um campo interdisciplinar de conhecimentos científicos, redes interinstitucionais e movimentos sociais. São discutidas abrangências e limitações na aplicação da Lei Maria da Penha frente a paradigmas, valores e práticas fundadas em representações sexistas, bem como em identidades essencializadas e referenciadas pela articulação de múltiplas desigualdades (grupos de mulheres indígenas, pobres, negras, dentre outros). Já o texto de autoria dos quatro últimos autores/as, mencionados acima, trata da proposta da Universidade de Brasília na criação da Diretoria da Diversidade no Decanato de Assuntos Comunitários, que propõe reforçar o direito à diferença e o respeito à diversidade na comunidade acadêmica.
Já a sétima e última parte da obra, intitulada “Identidade, experiências e narrativas”, reúne os textos de Águeda Aparecida da Cruz Borges, Juliana Eugênia Caixeta, Lia Scholze, Maria do Amparo de Sousa, Lia Scholze, Cláudia Costa Brochado, Gilberto Luiz Lima Barral e Tania Swain. O texto de encerramento, “Histórias feministas, história do possível”, de Tania Navarro Swain expõe uma crítica às narrativas historiográficas que muitas vezes silenciam e excluem a participação feminina na história. Sua proposta se baseia em resgatar as histórias que, apesar de possuírem vestígios materiais e simbólicos, foram negligenciadas pelos historiadores. Segundo ela, esses profissionais “enclausurados em um imaginário androcêntrico, não conseguem pensar e nem ver aquilo que se abre à pesquisa, um mundo onde o feminino atuava como sujeito político e de ação” [9].
Enfim, a obra Estudos feministas e de gênero: articulações e perspectivas reúne uma amostra bastante significativa da produção intelectual feminista que vem se desenvolvendo nas universidades brasileiras, nas mais diversas áreas de conhecimento. Trata-se de uma produção reveladora da dimensão política dos estudos feministas e de gênero, que contribui não só na denúncia e crítica às desigualdades de gênero presente nos mais diversos espaços sociais, mas também na renovação dos saberes, oferecendo novos horizontes de expectativas à produção científica.
Notas
- STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Estudos Feministas e de Gênero: Articulaçõese Perspectivas. Ilha de Santa Catarina: Editora Mulheres, 2014, p. 9.
- DINIZ, Débora. Perspectivas e articulações de uma pesquisa feminista. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 12.
- FELIPE, Sônia. A perspectiva ecoanimalista feminista antiespecista. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 59.
- AZEREDO, Sandra. O que é mesmo uma perspectiva feminista de gênero? In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 84.
- MOREIRA, Nadilza Martins de Barros. Os manuais femininos/feministas de Júlia Lopes de Almeida dialogam com “(…) uma alma brasileira” de Nísia Floresta: esboço comparativo. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 249.
- MUNIZ, Diva do Couto Gontijo. Memórias de uma menina bem comportada: sobre a experiência da alfabetização e a modelagem das diferenças. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 260.
- OLIVEIRA, Susane Rodrigues de. Ensino de história das mulheres: reivindicações, currículos e potencialidades pedagógicas. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 260.
- CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Corpos negros no/do feminino em três movimentos: um exercício de (des)construção. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 356.
- SWAIN, Tânia Navarro. Histórias feministas, história do possível. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 613.
Ana Vitória Sampaio Castanheira Rocha – Doutoranda em História na Universidade de Brasília.
STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Estudos Feministas e de Gênero: Articulações e Perspectivas. Ilha de Santa Catarina: Editora Mulheres, 2014. 620p. Resenha de: História histórias. Brasília, v.2, n.4, p.200-206, 2014. Acessar publicação original. [IF]
Memórias e narrativas (auto) biográficas – GOMES; SCHMIDT (RBH)
GOMES, Ângela M. de Castro; SCHMIDT, Benito Bisso (Org.). Memórias e narrativas (auto) biográficas. Rio de Janeiro: Ed. FGV; Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2009. 278p. Resenha de: SILVA, Weder Ferreira. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.31, n.61, 2011.
O entusiasmo dos historiadores pela pesquisa no campo das narrativas biográficas e autobiográficas vem ganhando destaque nas publicações recentes no Brasil e no mundo. Um breve passar de olhos em catálogos de editoras e em estantes de livrarias atesta que o país experimenta grande aumento de publicações de caráter biográfico e autobiográfico – a título de exemplo citemos apenas O retorno de Martin Guerre, de Natalie Z. Davis (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987) e D. Pedro II, de José Murilo de Carvalho (São Paulo: Companhia das Letras, 2007).
Esse entusiasmo dos pesquisadores do campo das ciências sociais se deve ao fato de que o contato com fontes primárias, documentos, papéis, cartas, bilhetes e fotografias é capaz de revelar parcelas desconhecidas ou até então invisíveis da história e do mundo social vivenciado tanto por homens e mulheres ‘comuns’ quanto por personagens de maior relevo na história. Essa sensação é fortalecida quando o material foge aos rigores institucionais da produção documental, às características seriais e ao formato burocrático, e tem uma origem privada, um caráter pessoal, conferindo a impressão de que se está tomando contato com aspectos muito íntimos da história de seus personagens. O acesso a tais fontes tem a força de simular o transporte no tempo, a imersão na experiência diretamente vivida, sem mediações.1 Paralelamente a esse movimento, é importante ressaltar que é cada vez maior o interesse do leitor por certo gênero de escritos – uma escrita de si – que inclui diários, cartas, biografias e autobiografias, independentemente de serem memórias ou entrevistas de trajetórias de vida, por exemplo.
Como apontou Giovanni Levi, nosso fascínio de arquivistas pelas descrições impossíveis de corroborar por falta de registros documentais alimenta não só a renovação da história narrativa, como também o interesse por novos tipos de fontes – nas quais se poderiam descobrir indícios esparsos dos atos e das palavras da vida cotidiana dos atores sociais.2 É nesse mesmo movimento historiográfico que se enquadra a publicação do livro Memórias e narrativas (auto)biográficas, organizado por Ângela de Castro Gomes e por Benito Bisso Schmidt.
O conjunto de textos apresentado no livro constitui significativo exemplo de como os chamados escritos de si ou autorreferenciais vêm ganhando terreno no campo da historiografia, ilustrando, assim, as várias possibilidades e os resultados de pesquisas que utilizam tais escritos como fonte de investigação histórica. Nesse sentido, o livro Memórias e narrativas (auto)biográficas apresenta ao leitor uma nova possibilidade heurística para os arquivos privados. De acordo com os organizadores do livro, “a atenção de muitos historiadores voltou-se para os arquivos privados, nos quais passaram a procurar não apenas rastros das ações e ideias de seus personagens, mas também a forma pela qual eles constituíram a si mesmos, à medida que selecionavam e guardavam seus documentos e, assim, propunham um sentido para suas vidas” (p.7).
Na esteira das transformações pelas quais a historiografia passou desde a década de 1980, a biografia, isto é, o indivíduo, emerge como tema relevante para a compreensão não apenas do social, mas também de questões ligadas à ‘invenção’ de si. Essas novas abordagens passam a ocupar espaço privilegiado no conhecimento histórico, suscitando, com isso, reflexões sobre o espaço privado e o público, sobre o individual e o coletivo e sobre as formas narrativas e analíticas da escrita da história. Daí a importância dos acervos pessoais como elementos para a compreensão da ‘superfície social’ em que age o indivíduo numa multiplicidade de campos, a cada momento. Nos textos que compõem o livro é possível observar que as narrativas autobiográficas evidenciam de forma clara como a trajetória de um indivíduo varia no tempo, o que atesta, mais uma vez, aquilo que Pierre Bourdieu chamou de ilusão biográfica – a ilusão de uma linearidade e coerência do indivíduo.3 Dito isto, cabe ainda ressaltar a proposição de Paul Ricoeur, para quem a história de vida de indivíduo não cessa de ser refigurada por todas as histórias verídicas ou fictícias que um sujeito conta de si mesmo. Essa refiguração faz da própria vida um tecido de histórias narradas.4
Os textos que integram o livro em questão estão dispostos em quatro partes. A primeira – “O historiador entre a história e a memória” – compõe-se de um artigo de Sabina Loriga em que a autora aborda ‘as porosas fronteiras’ entre história e memória. Com base na obra A memória, a história, o esquecimento, de Paul Ricoeur (Campinas: Ed. Unicamp, 2007), a historiadora tece considerações sobre as múltiplas relações estabelecidas entre a história e a memória. Nesse sentido, o texto de Loriga antecipa o contexto historiográfico em que se situam os artigos subsequentes da obra.
Na segunda parte do livro, Ângela de Castro Gomes, Haike Roselane Kleber da Silva, Yonissa Marmitt Wadi e Keila Rodrigues de Souza abordam facetas das trajetórias de indivíduos com base nas correspondências que trocaram. Ao leitor, ficará evidente que a documentação epistolar permite ‘decompor’ a vida de indivíduos aproximando-se da sua esfera privada de atuação. Ao investigarem a troca de correspondência entre figuras de relevo da política e da intelectualidade da Primeira República, as cartas de germanistas no Brasil e bilhetes de pessoas que cometeram autoviolência, os autores tecem reflexões sobre a construção do ‘Eu’, demonstrando que as escritas de si também se constituem em lugares de memória.
Na sequência, Joseli Maria Nunes Mendonça, Benito Bisso Schmidt e Gisele Venâncio ocupam-se em investigar como determinados atores sociais construíram suas imagens por meio de narrativas autobiográficas. Essas análises são reveladoras para pensar as estratégias utilizadas de forma consciente ou não – no processo de construção de si mesmo. Nesse espectro de análise é possível notar as disputas, os silêncios, as hipérboles, enfim, as oscilações das narrativas que pretendem ‘forjar’ uma imagem de si projetadas para a posteridade.
Por fim, os artigos de Márcia de Almeida Gonçalves, Bruno Barreto Gomide, Marcelo Timotheo da Costa e Maria Elena Bernardes têm como objeto de análise as produções biográficas e autobiográficas que pretenderam traçar um sentido social e existencial para as trajetórias de notáveis intelectuais e políticos brasileiros dos séculos XIX e XX. No capítulo que encerra o livro, Maria Elena Bernardes faz uma incursão à instigante trajetória de vida da escritora e militante comunista Laura Brandão. Nessa biografia, como que em um jogo de escalas, a autora articula aspectos da vida da militante com elementos mais amplos da história do Brasil e mundial, revelando, assim, as potencialidades que a biografia pode oferecer ao campo do ofício do historiador.
Não obstante a diversidade dos objetos e de enfoques, os artigos que compõem a obra Memórias e narrativas (auto)biográficas podem ser conectados um ao outro formando, assim, um ‘hipertexto’ que se constitui em importante contribuição para o campo da historiografia que se ocupa em investigar a multiplicidade de temas relacionados aos fenômenos da lembrança, do esquecimento e da produção do ‘eu’.
Notas
1 HEYMANN, Luciana Quillet. Indivíduo, memória e resíduo histórico: uma reflexão sobre arquivos pessoais e o caso Filinto Muller. Estudos Históricos, Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, v.19, p.41, 1997. [ Links ]
2 LEVI, Giovanni. Usos da biografia. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína. Usos e abusos da história oral. 8.ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006. p.169. [ Links ]
3 BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA; AMADO, 2006, p.183-191. [ Links ]
4 RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Campinas (SP): Papirus, 1997. t 3. p.425. [ Links ]
Weder Ferreira Silva – Doutorando em História Social pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Largo de São Francisco de Paula, nº 1, sala 205. Centro. 20051-070 Rio de Janeiro – RJ – Brasil. E-mail: wedhistoria@yahoo.com.br.
[IF]Monuments, Empires, and Resistance: The Araucanian Polity and Ritual Narratives – DILLEHAY (C-RAC)
DILLEHAY, Tom D. Monuments, Empires, and Resistance: The Araucanian Polity and Ritual Narratives. Nueva York: Cambridge University Press, 2007. 484P. Resenha de: Chungara – Revista de Antropología Chilena, Arica, v.42 n.2, p.539-540, dic. 2010.
Este libro ofrece una nueva mirada sobre la organización sociopolítica y religiosa de los Araucanos en la región central sur de Chile entre 1550 y 1850, a través del análisis arqueológico de paisajes sagrados, fuentes etnohistóricas y las narrativas rituales de chamanes (machi) contemporáneos. Dillehay aborda los amplios contextos regionales, intelectuales y materiales del monumentalismo araucano desde diferentes ángulos, incluyendo la economía política, la historia cultural, el materialismo cultural, la ideología, la teoría de la práctica, el simbolismo y el significado. Los montículos de tierra ceremoniales (kuel) son monumentos estéticos, líneas temporales, monumentos conmemorativos, identidades e ideologías arquitectónicas. Ilustran cómo se desarrollaron los paisajes sociales como parte de una nueva organización política, muestran cómo los líderes políticos tradicionales y los chamanes sacerdotales habitaban espacios sagrados y cómo les conferían valor a estos espacios para articular sistemas ideológicos dentro de la sociedad en general. El mapa araucano de rutas y lugares sagrados conecta los kuel con el mundo espiritual, cosmológico y natural así como con la historia de estos lugares en un recorrido topográfico sagrado. La articulación del poder ritual, social y del conocimiento era, por lo tanto, esencial para la construcción y expansión de la organización política regional araucana. Esta organización resistió eficazmente el avance extranjero durante tres siglos -primero de los españoles y luego de los chilenos-, hasta su derrota definitiva en 1884. Dillehay demuestra cómo los Araucanos manipulaban los conceptos de espacio, tiempo, memoria y pertenencia para oponerse a los intrusos y expandir su poder geopo-lítico en una organización política unificada, a medida que cambiaban las relaciones interétnicas a lo largo de la frontera española.
Dillehay cuestiona las percepciones anteriores de los Araucanos como grupos patrilineales descentralizados de cazadores y recolectores enfrentados unos con otros. Muestra que los valles de Purén y Lumaco utilizaron modelos andinos de autoridad estatal y su propio esquema cosmológico para desarrollar una organización política agrícola regional compuesta por patrilinajes dinásticos confederados con un alto grado de complejidad social y poder político. Esta confederación de organizaciones geopolíticas cada vez más amplias se constituyó en primera instancia en el nivel local de multipatrilinaje (ayllarehue) y, finalmente, en el nivel interregional (butanmapu). Dillehay sostiene que la organización política era jerárquica, aunque al servicio de un sistema religioso y sociopolítico heterárquico horizontal en el que los líderes compartían posiciones de poder y autoridad. Dillehay cuestiona la idea de que el control político esté ligado a la acumulación de riqueza material y poder ritual. Los Araucanos apreciaban y rivalizaban en gran medida por el prestigio y el respeto y el control del pueblo, pero existían muy pocas diferencias materiales entre los distintos líderes araucanos hasta fines del siglo XVIII. El período de uso del kuel dependía de la capacidad de liderazgo y de la sucesión de linajes dinásticos. Hoy en día las alianzas entre los kuel establecidas a través del matrimonio y su distribución en los valles de Purén y Lumaco emulan la organización espacial y de parentesco de los linajes que habitan el valle.
Los montículos interactivos de aspecto humano construidos por los Araucanos entre 1500 y 1850 requerían rituales para apaciguar, ofrendas de chicha y sangre de oveja, y obediencia a la ideología panaraucana a cambio de bienestar, protección, fertilidad agrícola y predicciones futuras. Los montículos, volcanes y montañas son equivalentes conceptuales y están asociados con las necesidades araucanas de defensa, territorio, refugio, contención e identidad relacional con volcanes y espíritus ancestrales. Los kuel son parientes vivos que unen a los Araucanos de diferentes regiones y promueven la soberanía étnica. Los kuel eran enterratorios de chamanes y jefes, monumentos conmemorativos de ancestros y genealogía, señales de estatus para líderes de linaje y lugares de ceremonias, festividades y poder político. Los sacerdotes chamanes (machi) realizaban rituales colectivos en los kuel para obtener consuelo, curación y bienestar. Los líderes políticos y militares (Ulmén, longko y toqui) utilizaban los kuel para sus discursos políticos. Estas performancias públicas reorganizaban los conceptos araucanos de culto a los ancestros, religión e ideología comunitarios en un marco más amplio y complejo para brindar apoyo a la organización política, y servían para reclutar mano de obra y soldados.
Si bien con Dillehay hemos documentado anteriormente y en forma independiente la práctica de los chamanes sacerdotales araucanos en los valles centrales del sur de Chile en el siglo XVII y en contextos contemporáneos, este libro es el primero en vincular las prácticas rituales sacerdotales de las machi con los montículos sagrados. El libro detalla cómo las machi contemporáneas se comunican con los montículos a través de ñauchi (alfabetización de montículos) y ofician de mediadores entre el montículo, la comunidad y otras deidades y espíritus. Los montículos son espíritus parientes que interactúan con machi contemporáneos, lugares de conocimiento donde las comunidades recuerdan su historia y expresiones materiales de la cosmología araucana. Los Araucanos contemporáneos de los valles de Purén y Lumaco continúan utilizando montículos para mantener relaciones entre pratilinajes y entre los vivos y muertos, el pasado, el presente y el futuro. Queda por ver el rol que los montículos y sus marcos sociopolíticos desempeñan en los movimientos contemporáneos de resistencia panaraucana.
Monuments, Empires and Resistance es un texto importante para arqueólogos y antropólogos interesados en los procesos demográficos, ideológicos y sociopolíticos asociados con el monumentalismo.
Ana Mariella Bacigalupo – State University of New York En Buffalo, USA. E-mail: anab@buffalo.edu
[IF]
A experiência do tempo: conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845) – ARAUJO (RBH)
ARAUJO, Valdei Lopes de. A experiência do tempo: conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845). São Paulo: Hucitec, 2008. 204p. Resenha de: CALDAS, Pedro Spinola Pereira. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30, n.59, jun. 2010.
A publicação de A experiência do tempo, de Valdei Lopes de Araujo, deve ser vivamente aproveitada. Trata-se de um livro rico, digno de se encontrar nas estantes dos interessados em história política e intelectual do Brasil no século XIX, mas também nas bibliotecas dos estudiosos da história da historiografia e – por que não? – da filosofia da história. Melhor ainda: pode despertar no estudioso de vocação empírica o interesse pelas questões filosóficas mais abstratas, bem como mostrar à mente mais especulativa e reflexiva que os conceitos podem encontrar correspondência na realidade histórica mutável.
Valdei Lopes de Araujo é professor na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), onde integra o Núcleo de Estudos em História da Historiografia e Modernidade (NEHM). O livro é fruto de sua tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura da PUC-Rio, resultante de pesquisa orientada por Luiz Costa Lima. A refinada abordagem feita por Valdei Araujo se explica, sem nenhum demérito para a originalidade da obra, em parte pela formação obtida sob orientação de um intelectual que sempre estimulou a reflexão teórica e foi um dos responsáveis pela difusão da hermenêutica literária no Brasil, e que resulta na grande contribuição do livro de Valdei Araujo para o debate teórico e historiográfico. Seu mérito, portanto, consiste na sofisticada incorporação de discussões teóricas desenvolvidas na Alemanha na segunda metade do século XX, sobretudo aquelas herdeiras e críticas da hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, autor que influenciaria tanto o historiador Reinhart Koselleck como um teórico e crítico literário do porte de Hans-Ulrich Gumbrecht. Sente-se a influência de Koselleck e Gumbrecht no texto de Valdei Araujo: do primeiro, a preocupação com a história conceitual, gênero no qual o autor se sai extremamente bem, dando bom exemplo de como os conceitos não são reflexos polidos da vida histórica, mas a própria forma pela qual esta se torna inteligível. Destarte, o conceito é lugar de experiência, e não de distanciada e desinteressada cognição por parte de intelectuais diletantes. Nada melhor que uma boa obra de história dos conceitos para que o estudioso da história do Brasil e da historiografia brasileira tenha a chance de manchar a imagem homogênea do intelectual brasileiro retórico e desocupado, que se preocupava com o mundo das letras somente por distração e ornamento. Mas o conceito – e aqui se percebe a influência de Gumbrecht – é também fruto de uma radical presença histórica, situada circunstancialmente. O livro, portanto, é profundamente feliz em se apropriar de textos teóricos como os de Koselleck e Gumbrecht sem, em momento algum, cair no erro de fazer de sua pesquisa uma exposição de conceitos importados, uma aplicação que viria meramente a confirmar o já sabido. Assim, embora a obra lide com fontes em grande parte já analisadas por outros historiadores, a maneira de lidar com elas é bastante original e criativa.
O livro inicia-se com uma questão fundamental para se pensar não somente a independência do Brasil, mas o que ela representa categorialmente como experiência moderna. Como diz Valdei Araujo em suas considerações finais: “A relação com o tempo e com o passado estava ainda condicionada, de um lado, por elementos clássicos da imitação e do exemplo e, de outro, por um entendimento geral do universo como a repetição de leis eternas e eventos cíclicos” (p.185).
A primeira parte de A experiência do tempo, denominada “A História do Sistema”, basicamente descreve e analisa a trajetória um tanto trágica de José Bonifácio de Andrada e Silva, o qual, tomando por base ainda uma visão cíclica de história, concebia o sentido da história do Brasil a partir da regeneração. Regeneração é possível somente se for entendida como a etapa subsequente à decadência, termo fundamental para a compreensão morfológica das ciências naturais. A propósito, é instigante perceber a semelhança do debate intelectual brasileiro sobre a modernização com a discussão travada no espaço alemão no último quarto do século XVIII, como demonstram as pesquisas de Peter Hans Reill.1 Porém, “regeneração”, para Bonifácio, se implicava a recuperação da essência de ser português, ainda que transplantada para o Brasil, não significava um retorno. Para usar os termos do autor, ao “espelhar” a história de Portugal, a história do Brasil abria uma possibilidade em sua busca de consciência, a de ser “uma outra história que já não podia mais ser de Portugal” (p.63). É esta a dialética delineada por Valdei Araujo, a do “tempo como repetição” (título do primeiro capítulo) para o “tempo como problema” (título do segundo capítulo). A tentativa da natural superação da decadência abria, portanto, a fresta para o projeto moderno. Afinal, a regeneração dar-se-ia em uma natureza virgem, pura, plenamente visível em seus princípios criadores, a qual teria sua potencialidade moldada pela ciência.2 O dilema da singularidade da história brasileira, posto pelo autor desde Bonifácio, é detidamente desdobrado no exame da possibilidade da existência histórica da língua e da literatura brasileiras, que deveriam ser construídas tendo por base o eixo clássico greco-latino, mas sem fazer dessa base um modelo a ser meramente copiado.
A segunda parte do livro (“O Sistema da História”), que compreende um excurso e dois capítulos adicionais, trata justamente da maneira pela qual os intelectuais brasileiros enfrentaram o incômodo gerado pela necessidade incontornável de se afirmar a singularidade nacional. Incômodo? Necessidade? Sim. O autor afirma-os muito precisamente: “As teorias disponíveis que poderiam explicar a constituição de novas formas, sejam animais, sejam políticas, estavam muitas vezes fundadas na ideia de degeneração” (p.126), e conclui, demonstrando a dimensão do problema, que, sendo verdadeiro o modelo organicista, “a mudança só poderia ser entendida como aperfeiçoamento, regeneração ou degeneração. O mesmo não seria válido então para as nações? Como entender o surgimento de uma nova nação?” (p.126).
Valdei Araujo apresenta, então, os esforços dos intelectuais envolvidos com a revista Nitheroy (como Domingos José Gonçalves de Magalhães) e com a própria fundação do IHGB. Se na primeira se percebia a tonalidade romântica com a qual se coloriria a singularidade nacional em fase de afirmação (mas na qual a história pertencia a um grupo amplo das “letras”), no documento fundador do IHGB, de 16 de agosto de 1838, percebe-se a presença de traços marcantes daquilo que – lembra muito bem o autor – Arnaldo Momigliano considerou fundamental para a caracterização da historiografia moderna, a saber, a conjunção da tradição antiquária e erudita, a preocupação com o sentido filosófico da história, e, por fim, a narrativa. Para Valdei Araujo, o primeiro traço é muito mais visível que os dois subsequentes, principalmente o terceiro, ainda muito discreto.
Outra faceta da modernidade ressaltada pelo autor, tão importante quanto o estabelecimento das bases da pesquisa histórica (mas dela decorrente), reside na abertura da possibilidade da experiência no lugar da imitação. O fato, assim, não é a recapitulação de um exemplo já feito, registrado, ensinado e conhecido, mas, sobretudo, a expressão da individualidade de uma época. O fato, portanto, é impensável dentro do modelo cosmológico ou exemplar, mas torna-se cognoscível em sua assimilação pela pesquisa antiquária e erudita no escopo da tentativa de afirmação da singularidade nacional.
A singularidade, de alguma forma, operava uma interessante transformação semântica: a degeneração deixava lugar para a consciência da finitude, para a consciência de uma experiência tipicamente moderna – a sensação da transitoriedade de todas as experiências. O projeto inicial do IHGB era, mostra muito bem Valdei Araujo, marcado por uma ambiguidade essencial: distante do organicismo que animara um José Bonifácio, o mundo letrado que girava em torno ao Instituto não respirava ainda o ar do pensamento evolucionista, naquele momento o único capaz de, para me apropriar de uma expressão de Henry James, ser o fio capaz de unir todas as pérolas. Como diferenciar as épocas da história do Brasil? Como organizar os fatos?
O livro de Valdei Araujo cumpre papel importante no ambiente atual de discussões teóricas e historiográficas, bastante marcadas pelo embate entre o ceticismo quase cínico dos ditos “pós-modernos” e os racionalistas. Afinal, Experiência do tempo mostra que a historiografia brasileira dá uma guinada fundamental em um momento de crise de orientação – para usar um termo de Jörn Rüsen. Portanto, não há problema algum em se escrever história em tempos de incerteza. De alguma maneira, sempre foi assim e esse foi o desafio sempre respondido, ainda que de muitas maneiras diferentes, pelos historiadores.
Notas
1 Cf. REILL, Peter Hans. Vitalizing nature in the Enlightenment. Berkeley: University of California Press, 2005; [ Links ] ______. Die Historisierung von Natur und Mensch. Der Zusammenhang von Naturwissenschaften und historischem Denken im Entstehungsprozess der modernen Naturwissenschaften. In: KÜTTLER, Wolfgang; RÜSEN, Jörn; SCHULIN, Ernst. Geschichtsdiskurs Band 2: Anfänge modernen historischen Denkens. Frankfurt am Main: Fischer, 1994. [ Links ]
2 Nesse sentido, permito-me uma comparação. José Bonifácio lembra muito o Goethe que viaja pela Itália. Na península, encontra a serenidade juvenil e a naturalidade de cuja falta tanto se ressentia em Weimar, onde já era um grande nome intelectual, sufocado pelas formalidades cortesãs. Vale lembrar que ambos – Bonifácio e Goethe – dedicavam-se largamente à ciência natural. Para uma visão da concepção de natureza em Goethe, ver MOLDER, Maria Filomena. O Pensamento morfológico de Goethe. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1995. [ Links ]
Pedro Spinola Pereira Caldas – Professor Adjunto II do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica. Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco H, sala 1H42. 38400-902. Uberlândia – MG – Brasil. E-mail: pedro.caldas@gmail.com.
[IF]