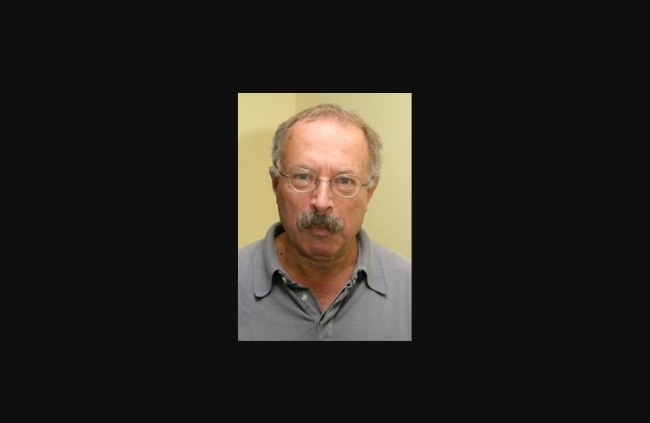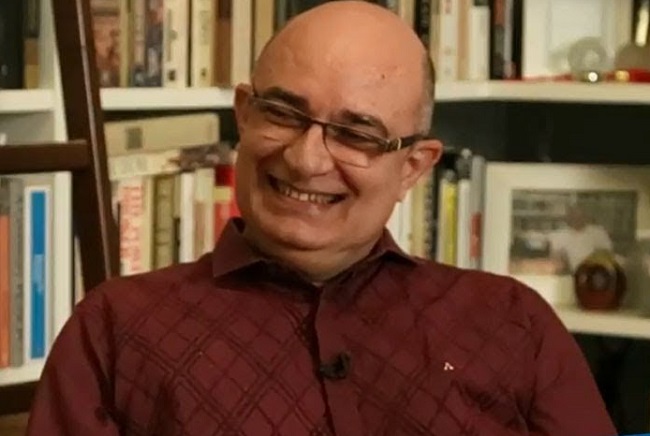Posts com a Tag ‘Metodologia da história’
Fighting the Last War: Confusion, Partisanship, and Alarmism in the Literature on the Radical Right | Jeffrey M. Bale e Tamir Bar-On
Estado Islâmico | Imagem: BBC News
Tudo parece tranquilo entre os investigadores das novas direitas do eixo Europa-América nos últimos cinco anos. Eles divergem conceitualmente (fascismo, neofascismo, posfascismo, ultradireita, nova direita etc.), ocupam-se de objetos distintos (ideologias, partidos, eleições, movimentos, redes, subculturas, líderes, programas, eleições e ações de governo), mas convergem na ideia de que a maior parte dos seus fenômenos-objeto representa ameaças à democracia liberal. Não sem razão, parte deles encerra os seus ensaios ou teses com a clássica alusão ao “que fazer?”, de Vladmir Lênin. Essa harmonia tem chance de ser abalada após a publicação de Fighting the Last War: Confusion, Partisanship, and Alarmism in the Literature on the Radical Right (2022). Nesse ensaio estendido, Jeffrey M. Bale e Tamir Bar-On denunciam a incompetência dos acadêmicos e jornalistas para interpretar fenômenos designados como “direita radical”, “extrema direita” ou “nova direita radical”, e a esperteza de políticos, empresários e oligarcas das Big Tech que tiram proveito dessa espécie de “histeria” intelectual para “deslegitimar e demonizar virtualmente todos os oponentes da atual ideologia ocidental reinante do globalismo progressista” (p.xvi).
 Jeffrey Bale e Tamir Bar-On são dois experimentados professores universitários e investigadores de movimentos extremistas há décadas. Bale é historiador e especialista em movimentos religiosos e políticos “propensos à violência” e docente no Nonproliferation and Terrorism Studies (NPTS) e no Program at the Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MIIS). O sociólogo Bar-On estuda ideologias políticas e novas direitas e é professor na School of Social Sciences and Government e do Monterrey Institute of Technology and Higher Education, no México. Para chamar os colegas às falas, eles apontam preconceitos acadêmicos, uso equivocado de conceitos, desinformação sobre o imperialismo islâmico, sobre seus traços teocrático, fundamentalista e (no caso dos jihadistas) violento.
Jeffrey Bale e Tamir Bar-On são dois experimentados professores universitários e investigadores de movimentos extremistas há décadas. Bale é historiador e especialista em movimentos religiosos e políticos “propensos à violência” e docente no Nonproliferation and Terrorism Studies (NPTS) e no Program at the Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MIIS). O sociólogo Bar-On estuda ideologias políticas e novas direitas e é professor na School of Social Sciences and Government e do Monterrey Institute of Technology and Higher Education, no México. Para chamar os colegas às falas, eles apontam preconceitos acadêmicos, uso equivocado de conceitos, desinformação sobre o imperialismo islâmico, sobre seus traços teocrático, fundamentalista e (no caso dos jihadistas) violento.
Os teóricos da História têm uma teoria da história? Reflexões sobre uma não-disciplina | Zoltán Boldizsár Simon
Zoltán Boldizsár Simon | Imagem: UCL
“Os teóricos da História têm uma Teoria da História?” Esse título é intrigante, paradoxal e, ao mesmo tempo, autoexplicável. Sua resposta é fornecida ensaisticamente por Zoltán Boldizsár Simon, historiador nascido na Hungria e atuante na Universidade de Bielefeld (Alemanha). O texto foi publicado, inicialmente, na revista História da Historiografia, no mesmo ano, tornado livro pela Editora Milfontes. Com as apresentações de Bruno César Nascimento, editor, e de Luisa Rauter Pereira, coordenadora da “Coleção Fronteiras da Teoria”, percebemos que as dimensões, o caráter sintético da escritura e o contexto de lançamento estão plenamente adequados. Nascimento e Pereira querem textos inéditos em língua portuguesa, manuseáveis em salas universitárias. Textos que mobilizem a reflexão acerca do valor de determinados domínios acadêmicos sobre si mesmos e como instrumentos de interpretação de desafios globais impostos ao tempo presente – a exemplo dos conflitos por identidade étnica e de gênero e as ameaças do aquecimento global.
Considerando a interrogação quase kamikaze, o ensaio foi excelente escolha para a abertura e lançamento da referida coleção. Entretanto, considerando a repercussão por escrito em mais de 200 revistas brasileiras de História e, até no Google Acadêmico, a resposta dos nacionais à provocação do professor húngaro praticamente inexiste, apesar dos 300 downloads do artigo na História da Historiografia. Ainda assim, o autor conseguiu a atenção de Arthur Ávila, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que mostrou desconforto com a definição simoniana de Teoria da história como aquilo “que hoje fazemos dela”: se Teoria da História é “o que dela fazemos’, continua Ávila, “qual seria o sentido em se chegar a uma definição universalmente válida dela? […] Finalmente, para nós, que estamos no Sul global, este gesto mesmo que importante e defensável, não repetiria aquela velha divisão do trabalho intelectual que coloca o Norte como produtor de teorias, seja sobre o que for, e o meridião do mundo como mero aplicador ou reprodutor de teorias […] ?” (p.9). Tradutor e apresentador do ensaio, Ávila, porém, faz uma ponderação. Afirma que a maior contribuição da obra estaria no próprio questionamento e não, necessariamente, nas respostas ao problema. Penso que o contrário pode também ser verdadeiro, se levarmos em conta o contexto de produção da obra e o que ela oferece, implicitamente, à formação dos graduandos em História no Brasil. Leia Mais
Práticas de pesquisa em história | Tania Regina de Luca
Sabe-se que os ofícios dedicados à pesquisa apresentam diversas dificuldades em suas execuções, e o processo de formação do conhecimento histórico e suas investigações não seriam divergentes. Devido a essa adversidade, o grupo PET- História (Programa de Educação Tutorial) da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, Campus de Franca, teve contato com reflexões elucidadoras por meio da obra Práticas de pesquisa em história (2020) dá Prof.ª. Drª. Tânia Regina de Luca, que além de seus estudos em metodologia da pesquisa histórica, debruça-se também sobre a História do Brasil Republicano, área na qual é Livre Docente desde 2009, na Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Esta referida produção, a qual está contemplada em uma coletânea de textos da editora Contexto que estampa diversos temas da História, tem em seu cerne a intenção de demonstrar os métodos e procedimentos que constituem – de maneira extremamente didática devido aos exemplos presentes na obra – a produção histórica, com a finalidade de impulsionar esta missão disposta aos historiadores.
Já de início pode-se perceber a preocupação da autora ao ressaltar aspectos consagrados para a atual Academia a respeito da História e do discurso historiográfico, como a proposição da reescrita da história, apoiada nas reflexões feitas pela primeira geração da escola francesa dos Annales, principalmente a partir do historiador Marc Bloch (1886-1944). De acordo com De Luca, a História está completamente afastada de ser estática, noção longe da perspectiva de ser o passado sujeito a alterações, e sim interligada à mudança do conhecimento acerca dele, devido às interpretações e sentidos serem variáveis e dependerem da demanda do tempo presente do historiador, que claramente mudam de acordo com as gerações, conferindo assim a mutabilidade do discurso histográfico, também denominada historicidade. Esta ponderação é imprescindível para a prática em pesquisa de história, primordialmente aos discentes no início de suas considerações a respeito de temas para a pesquisa, por demonstrar que, apesar de se ter um grande acervo sobre a suas possíveis reflexões ou próximas a elas, a pertinência de seus projetos é intacta devido o tempo de escrita ser diferente e logo, seus pareceres a respeito do objeto são distintos dos demais. Leia Mais
Passés singuliers. Le “je” dans l’écriture de l’histoire | Enzo Traverso
Enzo Traverso | Imagem: Quatro Cinco Um
Enzo Traverso es un intelectual que no requiere de mayores presentaciones. Sus investigaciones cruzan temáticas como la memoria, el antisemitismo, los totalitarismos, el pensamiento marxista y el sentido de la historia en la sociedad contemporánea. En Passés singuliers, aborda la problemática concreta relacionada con el énfasis individual asumido en su narrativa sobre el pasado, hasta ahora, tradicionalmente elaborada en tercera persona.
Al respecto, el autor plantea en este libro un conjunto de ejemplos que muestran el giro presente en los escritos de un conjunto de autores en donde, la voz propia aparece para otorgar elocuencia a su experiencia del pasado, reconstruido a partir de su testimonio de los hechos, introduciéndonos en un debate de carácter epistemológico acerca del rol de las subjetividades en el relato histórico. Leia Mais
Tópicos em História | Historiæ | 2021
No segundo número de 2021 Historiæ apresenta o dossiê “Tópicos em História” buscando compreender o fazer histórico e o fazer historiográfico por parte de historiadoras e historiadores e, igualmente, estabelecer um diálogo com pesquisadores de outras áreas que contribuem para a construção da História.
O objetivo deste número é apresentar uma diversidade de objetos, temas, metodologias e teorias que compõe a riqueza da pesquisa histórica. Assim, subvertemos a lógica de um dossiê temático para compor um “dossiê multitemático”, valorizando as pesquisas de fluxo contínuo submetidas na plataforma da revista. Leia Mais
Práticas de pesquisa em história | Tania Regina de Luca
Tania Regina de Luca – 2016 | Foto: Memória do Pão de Santo Antônio
Tania Regina de Luca, professora do Departamento de História da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, é conhecida historiadora da imprensa nacional e estrangeira. No livro Práticas de pesquisa em história (2020), parte da sua experiência de pesquisadora é compartilhada, “especialmente”, com “estudantes de graduação”. Trata-se de um clássico livro propedêutico de investigação histórica e de metodologia científica.
 O texto é estruturado em seis capítulos que exploram o fazer do historiador, a ideia de fonte histórica e os passos para a concretização de uma pesquisa acadêmica em história: recorte do objeto, seleção de fontes, construção do texto e do projeto de pesquisa. Segundo a autora, o objetivo da obra é “apresentar, de forma didática, procedimentos e métodos que distinguem a produção do conhecimento historiográfico e, desse modo, incentivá-lo a participar ativamente desse instigante desafio que é escrever História, elaborando e executando o seu próprio projeto de pesquisa.” (p.10-11). Leia Mais
O texto é estruturado em seis capítulos que exploram o fazer do historiador, a ideia de fonte histórica e os passos para a concretização de uma pesquisa acadêmica em história: recorte do objeto, seleção de fontes, construção do texto e do projeto de pesquisa. Segundo a autora, o objetivo da obra é “apresentar, de forma didática, procedimentos e métodos que distinguem a produção do conhecimento historiográfico e, desse modo, incentivá-lo a participar ativamente desse instigante desafio que é escrever História, elaborando e executando o seu próprio projeto de pesquisa.” (p.10-11). Leia Mais
El oficio del historiador: Reflexiones metodológicas en torno a las fuentes | Yobenj Chicangana-Bayona, María Cristina Pérez Pérez e Ana María Rodríguez Sierra
Yobenj Chicangana-Bayona | Foto: Museo Colonial
 El oficio del historiador. Reflexiones metodológicas en torno a las fuentes es un volumen colectivo en donde se reúnen textos que abordan diferentes temáticas y periodos, convocados por la misma premisa: reflexionar sobre las implicaciones, potencialidades y limitaciones del uso de fuentes primarias de diverso tipo en la investigación histórica. Se trata de una obra de corte metodológico e historiográfico, que sin duda aportará a la discusión sobre la práctica de la disciplina histórica en Colombia, en la línea de otros trabajos aparecidos recientemente.[1]
El oficio del historiador. Reflexiones metodológicas en torno a las fuentes es un volumen colectivo en donde se reúnen textos que abordan diferentes temáticas y periodos, convocados por la misma premisa: reflexionar sobre las implicaciones, potencialidades y limitaciones del uso de fuentes primarias de diverso tipo en la investigación histórica. Se trata de una obra de corte metodológico e historiográfico, que sin duda aportará a la discusión sobre la práctica de la disciplina histórica en Colombia, en la línea de otros trabajos aparecidos recientemente.[1]
En la introducción, las editoras Yobenj Chicangana-Bayona,[2] María Cristina Pérez Pérez [3] y Ana María Rodríguez Sierra [4] llaman la atención sobre la necesidad e importancia de reflexionar pausadamente en torno a la materia prima de nuestro trabajo: las fuentes, ya que muchas veces las presuponemos y naturalizamos sin cuestionarlas, así como a menudo sucede con nuestras decisiones metodológicas. De allí la relevancia de tener presentes los desafíos, las dificultades, los cuidados, las maneras de búsqueda, selección y organización que implica el trabajo documental en la investigación histórica. Su propuesta es, entonces, presentar una compilación de experiencias de investigación a partir de las cuales los autores desarrollan reflexiones derivadas de su trabajo empírico con diversos tipos de archivos y documentos. “Son once artículos en los que se reflexiona sobre la importancia de las fuentes para el oficio del historiador, por medio del análisis del potencial significativo de estas y su tratamiento metodológico en el estudio de casos particulares” (p. x). Leia Mais
Microhistorias | Giovanni Levi
Giovanni Levi | Foto: Universidad Austral de Chile
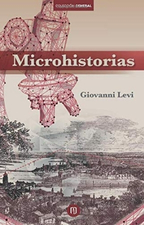 La publicación de la obra del destacado historiador italiano es un verdadero acierto editorial, entre otras razones porque Giovanni Levi ha sido ante todo un escritor de artículos de revista, siempre producto de investigaciones apoyadas en una cuidadosa consulta de archivo, pero no autor de libros, género del que solo se le conocen dos: Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna, de 1985, que nunca circuló en castellano, y La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del siglo xvii, también de 1985, traducido pronto a muchas lenguas, entre ellas al español en 1990. La publicación de esta colección de ensayos también es la ocasión para el lector de tener una perspectiva más equilibrada de la riqueza analítica de la llamada microstoria italiana, casi siempre reducida entre nosotros a una obra: El queso y los gusanos, el gran best-seller de Carlo Ginzburg de 1976, lo que significó una cierta distorsión en el conocimiento de esta importante corriente historiográfica, al reducirla a una de sus líneas, al tiempo que se empobreció la propia obra de Ginzburg, cuyos demás títulos permanecen más o menos ignorados.
La publicación de la obra del destacado historiador italiano es un verdadero acierto editorial, entre otras razones porque Giovanni Levi ha sido ante todo un escritor de artículos de revista, siempre producto de investigaciones apoyadas en una cuidadosa consulta de archivo, pero no autor de libros, género del que solo se le conocen dos: Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna, de 1985, que nunca circuló en castellano, y La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del siglo xvii, también de 1985, traducido pronto a muchas lenguas, entre ellas al español en 1990. La publicación de esta colección de ensayos también es la ocasión para el lector de tener una perspectiva más equilibrada de la riqueza analítica de la llamada microstoria italiana, casi siempre reducida entre nosotros a una obra: El queso y los gusanos, el gran best-seller de Carlo Ginzburg de 1976, lo que significó una cierta distorsión en el conocimiento de esta importante corriente historiográfica, al reducirla a una de sus líneas, al tiempo que se empobreció la propia obra de Ginzburg, cuyos demás títulos permanecen más o menos ignorados.
Microhistorias es una colección de veinte ensayos —cincuenta años de trabajo—, seleccionados por el propio Levi, reunidos en una excelente edición y con traducciones (del italiano, el francés y el inglés) que parecen muy correctas, y que dejan una imagen clara no solo de la historiografía italiana de los últimos cincuenta años, sino en gran parte de la historiografía internacional del siglo xx, y del propio recorrido intelectual de Giovanni Levy. Tal vez la gran dificultad de reseñar este volumen sea la de su amplitud temática y la riqueza de problemas que se examinan, tanto desde el punto de vista del enfoque “microanalítico” —término que también aparece en Levi—, como desde el punto de vista del “oficio de historiador”: el mundo de los archivos, el trabajo de las fuentes, la relación con las otras ciencias sociales, la primacía de los problemas y sobre todo de las preguntas sobre las técnicas, y las exigencias de claridad y precisión en la transmisión de los resultados de investigación al público lector. Leia Mais
El hilo de Ariadna. Propuestas metodológicas para la investigación histórica | Claudia salomón Tarquini, Sandra R. Fernández, María de los Ángeles Lanzillotta e Paula I. Laguarda
En el marco de una conversación entre Pierre Bourdieu y Lutz Raphael propuesta por la revista Geschichte und Gesellschaft en octubre de 1989, el sociólogo francés lamentaba que los historiadores (sobre todo, los de la tradición annaliste) se esforzasen por escamotear los secretos de fabricación propios del oficio e hiciesen de su práctica – tanto en lo referido al uso de conceptos como al de sus técnicas y metodologías– una suerte de cifrado aristocrático. Con tal arcano, según Bourdieu, los historiadores no hacían más que disimular la distinción de sus métodos puesto que cualquier aprendizaje del oficio, lejos de toda posible democratización, sólo se podía adquirir con el tiempo. A esta misma situación de vacío aluden las editoras de El hilo de Ariadna cuando recuerdan con pesar la típica expresión “a investigar se aprende investigando” y para cuyo extremo empirismo el único consejo que suele ofrecerse a la hora de poner manos a la obra más bien parece un penoso subterfugio: “lo usual en estos casos”.
A diferencia de lo que ocurre con el resto de las ciencias sociales donde la profusión de manuales metodológicos nunca ha cesado, los de metodología histórica – otrora esenciales para consolidar la cientificidad de la disciplina entre fines del siglo XIX y la primera mitad del XX, aunque con piezas normativas demasiado obsesionadas con la búsqueda policial del error como las de Bernheim o de Langlois y Seignobos– fueron cayendo en un paulatino descrédito hasta desaparecer casi por completo del horizonte de producción de los historiadores. Si bien los niveles de especialización han imposibilitado todo conato por unificar criterios comunes entre áreas de investigación histórica cada vez más atomizadas –algo de lo que da cuenta la obra que reseñamos–, lo cierto es que cualquier remedo metodológico pasó a ser visto en historia como un pecado determinista, como una invasión de las huestes especulativas sobre la experiencia de los agentes o, en suma, como un facilismo pedagógico que sólo buscaba uniformizar la densidad de una noble y compleja tarea. Tan sólo persistieron como de soslayo algunos manuales –en el ámbito hispanoparlante, el tratado de Julio Aróstegui, citado con frecuencia en El hilo de Ariadna, es uno de ellos– mientras otros sobrevivieron a riesgo de permanecer anclados en campos muy específicos, pero siempre utilizados de forma recóndita como sospechosos insumos universitarios. Así pues, salvo por aquel período “metódico” (durante el cual sólo se avanzó sobre las técnicas, pero no sobre la teoría) y tras las posiciones antihegelianas (más aparentes que reales) de Ranke, tras las invectivas de Lucien Febvre contra la filosofía (en realidad, de la historia) o, inclusive, tras las querellas del marxismo británico de corte thompsoniano con su alegato de lo empírico y el work in progress como única opción para devenir historiador profesional, se fue configurando en nuestra disciplina un sentido común según el cual era posible y hasta deseable prescindir tanto de la formalización metodológica explícita (que sólo comienza cuando el aspirante a historiador emprende su tesis) como de la reflexividad teórica (que, por lo general, nunca se realiza) puesto que ambas, cual bestia bicéfala, parecían sólo dirigidas a prescribir la libertad de toda investigación. Leia Mais
As raízes clássicas da historiografia moderna – MOMGLIANO (RETHH)
MOMIGLIANO, Arnaldo. As raízes clássicas da historiografia moderna. São Paulo: editora UNESP, 2019. Resenha de: SÁ, Charles Nascimento de. Historiografia clássica e os caminhos para a história moderna. Revista Expedições: Teoria e Historiografia, Morrinhos, v. 11, jan./dez. 2020.
Conta-nos François Hartog em seu livro “Crer em História” que os anos sessenta e setenta do século XX viram a ascensão do estruturalismo e da virada linguística no campo das ciências Humanas. As ideias de que a fala e a linguagem davam sentido à existência e ao entendimento humano ganharam força nas academias e entre pesquisadores. A noção de relativismo cultural na produção do saber histórico ganhou impulso com o chamado pós-modernismo. No campo da história uma das obras mais impactantes nessa discussão foi o livro “Meta-História” do historiador norte-americano Haydem White. Tendo originado um forte debate sobre o sentido da compreensão histórica e dos limites da escrita e da ciência nessa área, ele gerou forte reação por parte da comunidade acadêmica de Clio.
A primeira grande resposta, e que se tornou base para a contestação das ideias de White, veio do historiador italiano Arnaldo Momigliano. Coube a um artigo por ele escrito servir de base para a defesa do método e da pesquisa em História. Momigliano indicou que a ele “pouco importava que os historiadores usem a metonímia ou a sinédoque, ou qualquer outro tropo, o que importa é que suas histórias devem ser verdadeiras” (HARTOG, 2017, p. 86). Seu artigo foi utilizado por Eric Hobsbawn e Carlo Ginzburg, dentre outros, em produções que estes escreveram em defesa do conhecimento histórico.
Inicia-se essa resenha com uma indicação de Haydem White para chamar atenção da importância do professor Arnaldo Momigliano no campo da historiografia. Tendo cultivado uma formação das mais relevantes e extensas na História ele desenvolveu ampla gama de estudos sobre o método histórico, questões sobre as sociedades da Antiguidade e do Renascimento, bem como análises sobre Edward Gibbon e seu método. Monmigliano foi o que se chamou scholars, isto é, indivíduos possuidores de rara e ampla erudição, com leituras vastas sobre o campo da história e suas áreas correlatas. Foi um dos grandes expoentes da escola italiana ao lado de Croce, Bobbio, Ginsburg.
Este texto reporta-se a análise do livro “As Raízes Clássicas da Historiografia Moderna” publicado no Brasil pela Editora UNESP, com um total de 252 páginas, esta obra contém seis palestras feitas por Momigliano na Universidade de Berkeley na Califórnia na Sather Classical Lectures na década de 1960, nos dizeres do próprio Momigliano a participação nesses encontros “constituem uma célebre ocasião para encontros mais amplos. Tão célebre que já foi dito que um homem faz sua reputação ao ser convidado a ministra-los, e que a perde ao fazê-lo” (MOMIGLIANO, 2019, p. 242). O livro foi anteriormente publicado no Brasil pela editora EDUSC no ano de 2004 e em bom momento vem novamente a público pela UNESP.
Para consecução do volume o autor levou quase vinte anos, entre anotações, reescritas e citações. Os assuntos aí pontuados e discutidos concentram-se em questões sobre a Antiguidade clássica e os estudos sobre o mundo e a civilização grega e romana, sua cultura, sociedade, e, de modo particular, a gênese que estes povos desenvolveram na constituição do saber histórico. Para tal abordagem ganham escopo no livro a análise de diversos historiadores do período, com destaque para Tácito, Tucídides, Heródoto, Plínio – o jovem, Plutarco, dentre outros. Encontra-se aí também a abordagem sobre a importância dos antiquários para a historiografia da época moderna, e seu posterior declínio a partir da sedimentação da história enquanto ciência no século XIX e XX. Finalizando têm-se um estudo sobre a historiografia eclesiástica.
O livro abarca comentários e observações que transitam pelo Império Romano, pelas cidades gregas, pelo mundo persa, turco, Império Bizantino e pelos castelos e mosteiros da Idade Média. Em todas as seis palestras fica evidente as correlações envolvendo a constituição do pensar e do fazer histórico entre gregos e depois romanos e sua conexão com a noção de História que se mantêm ainda hoje.
O primeiro capítulo intitula-se “a historiografia persa, a historiografia grega e a historiografia judaica”. Diferente do que se defendeu entre alguns estudiosos, para Momigliano os gregos reconheciam o caráter não linear na história e não a entendiam como cíclica. Além disso, outro ponto que também sempre foi gerador de polêmicas e atritos foi sobre a contribuição de Heródoto e Tucídides para a história. Em sua análise o autor aponta diferenças e semelhanças entre os dois escritores. Se Tucídides foi sempre visto como mais metódico em seu trabalho, mais realista em sua abordagem, as ideias e temas tratados por Heródoto, muitas das quais cheias de alegorias e fantasias, não significam que ele acreditava naquilo que escrevia, o viés crítico e reservado do “pai da história” na apresentação de muitos de seus relatos é sinal, para Momigliano, de sua apreciação com ressalvas sobre aquilo que escrevia. Outrossim, a influência e importância da historiografia judaica no mundo antigo é aí indicada e discutida.
O livro esclarece, discute, noções e ideias subjacentes aos povos antigos, bem como àqueles do Renascimento adentrando na historiografia moderna. Em todo processo de análise o autor realiza uma metodologia de longa duração no estudo de temas e conceitos subjacentes ao conhecimento histórico. Estes assuntos foram desenvolvidos na Antiguidade, com sua influência se mantendo em debates e questões levantadas a posteriori.
No capítulo intitulado “A tradição herodotiana e tucididiana” ele esclarece que “ao combinar a pesquisa com a crítica da documentação, Heródoto amplia os limites da investigação histórica” (MOMIGLIANO, 2019, p. 69). Para ele o pai da história possuía um humanismo profundo e sutileza em suas reações aos assuntos por ele abordados. Já Tucídides, mais preocupado com seu universo geográfico e sob impactos das questões políticas de seu tempo, entende o passado como chave para compreensão da situação política de sua época afinal “o presente era a base para a compreensão do passado” (MOMIGLIANO, 2019, p. 74).
Outro tema a perpassar as palestras que compõem o livro encontra-se na discussão entre a história e sua escrita. Discorre o autor sobre influências, autores e escolas na produção deste saber. No texto sobre “Fábio Pictor e a origem da história nacional” Momigliano se adensa em uma discussão sobre noções historiográficas partilhadas na Antiguidade pelos judeus, gregos e romanos. Cada grupo é aí inserido dentro de sua filosofia e ideia de história. No universo da palavra, os judeus, que tinham como base a escrita para aceitação de sua fé, representaram um dos grandes vetores na produção do saber histórico no mundo antigo, até que, devido ao entendimento de que tudo já havia sido dito, sua produção histórica definhou.
Coube a gregos e romanos a continuidade dessa discussão. Entre os romanos, diversos historiadores se consagraram ao entendimento da história de Roma e seus feitos. Entre estes estava Quinto Fábio Pictor, cujas obras evidenciaram a influência da cultura grega no mundo romano. Ele foi um dos responsáveis por trazer essa influência para aqueles que em Roma se dedicavam aos estudos de Clio. No entanto, isso não foi o mais significativo neste autor. O que realmente chamava atenção em seus textos era que ele os escrevia em língua grega. Aliado a isso sua parcimônia e objetividade na apresentação de seus estudos ocasionou um debate em que se discutia se ele não estaria fazendo propaganda e não história.
Encerrando seu livro encontra-se o texto “As origens da historiografia eclesiástica”. Nesse artigo ele discute sobre Eusébio e sua história da Igreja, ao mesmo tempo em que aponta a impossibilidade de uma história ecumênica do cristianismo a partir do século VI, na época de Justiniano, devido as diferenças entre o Ocidente e o Oriente e ao fato de a religião cristã ter se tornado cada vez mais vinculada ao Estado nessas duas partes do mundo antigo.
Momigliano começa esse capítulo contando a trajetória do monge beneditino Benedetto Bacchini e sua descoberta da obra Il Giornale dei Letterati escrita no século IX e que ele, vivendo entre o final do século XVII e início do XVIII resgatou em uma biblioteca. Essa obra era importante por trazer a discussão sobre o pallium, insígnia dada pelo papa para confirmar a autoridade de um arcebispo sobre sua sé. Antes, tal feito era exercido também pelos imperadores.
Esse assunto que abre o artigo já é apontado por Momigliano como um relato de um autor de um texto pouco conhecido. No entanto, ele ressalta que o escreveu justamente para indicar como na história eclesiástica “um acontecimento do século V, relatado por um historiador eclesiástico do século IX, ainda tinha implicações práticas no século XVIII” continua ele informando que “os precedentes têm, evidentemente, importância para qualquer tipo de história, e não há nada no passado que em determinadas circunstâncias não possa provocar paixões no presente” (MOMIGLIANO, 2019, p. 212-213).
Destaca-se na citação acima um traço perene nos estudos historiográficos e no entendimento da própria noção de historiografia. O pensar e o agir nessa área estão em sintonia com a ideia de que seu saber se faz no interior da pesquisa e escrita da história (AROSTEGUI, 2006, p. 37). Esta apreciação está em consonância com o saber e as indagações do tempo presente. No caso específico da história eclesiástica Momigliano destaca ainda em sua abordagem que “em nenhuma outra história os precedentes significam tanto como na história eclesiástica. A própria continuidade da história da Igreja através dos séculos torna inevitável que qualquer coisa que tenha acontecido no passado da Igreja seja relevante para o seu presente” (MOMIGLIANO, 2019, p. 213).
Ao caminhar assim em todas as palestras proferida na Universidade de Berkeley, e no livro que elas originaram e que só veio a ser publicado após a morte do autor, este judeu oriundo da península itálica transita com maestria por temas e ideias que são fundamentais para o entendimento da noção de história e de historiografia. Passeando por indivíduos, povos, nações, livros e ideias que surgem em um período, influenciam autores e saberes em outros, são contestados por alguns pensadores, endossados por alguns e seguem como baluartes para novas descobertas.
O pensar histórico atrela-se a períodos e tempos que se esboçam em continuidades e rupturas que a presente obra, em sua abordagem sobre temáticas da Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, leva-nos a contemplar o processo de gênese e revisões que consolidaram essa área do conhecimento humano. Neste livro é possível observar seu caminho das cidades gregas, dos escritos judaicos, da produção romana até os dias atuais.
Uma última indicação deve aqui ser feita. Na diagramação e revisão do texto a editora cometeu dois erros. Na página 208 colocou-se “crônica do século XIX” quando o correto seria século IX. Já na página 212 fala-se em “implicações práticas no século XIII” quando o correto seria século XVIII. Esses dois erros por certo comprometem a compreensão para quem estiver mais desatento, mas não desabonam o caráter e a importância do livro. Boa leitura.
Referências
ARÓSTEGUI, Julio. A pesquisa histórica: teoria e método. Bauru: EDUSC, 2006.
HARTOG, François. Crer em história. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.
Charles Nascimento de Sá –Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP/Assis). Mestre em Cultura e Turismo pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Professor de História da Bahia e Historiografia na Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus XVIII/ Eunápolis).
Um mundo sem guerras: a ideia de paz, das promessas do passado às tragédias do presente – LOSURDO (RBH)
O ano de 2019 certamente não será recordado pela ocorrência de grandes avanços em favor da paz mundial. Na África, a Líbia não conseguiu superar a instabilidade política instaurada com a derrubada de Muammar Kadhafi, em 2011, e a disputa pelo poder transformou-se em uma extensa guerra civil desde então. Naquele mesmo ano, no Oriente Médio, a Síria de Bashar Al-Assad foi arrastada para um conflito envolvendo agentes internos e externos, e até este momento o país devastado se defronta com o enfrentamento de grupos antagônicos que impedem a pacificação do país. Leia Mais
O Tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da história | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz. O Tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da história. São Paulo: Intermeios, 2019. Resenha de: MAYER, Milena Santos. Revista Expedições, Morrinhos, v. 11, jan./dez. 2020.
“Os textos aqui reunidos formam uma constelação simultaneamente erudita e polêmica, ferina e generosa, que pode ser lida de trás para frente, de frente para trás, com pés calçados no presente, com olhos no passado ou como um projeto de história futura” (CEZAR, 2019, p.12). É assim que o historiador Temístocles Cezar apresenta o livro “O Tecelão dos Tempos “publicado no ano de 2019 pela Editora Intermeios. Publicados anteriormente em outros livros ou revistas acadêmicas, os escritos são frutos de análises, pesquisas e apresentações do historiador Durval Muniz Albuquerque Junior em conferências, aulas magnas ou seminários. O autor de “A Invenção do Nordeste e Outras Artes” (1999), “Nordestino: Uma Invenção do Falo – Uma História do Gênero Masculino” (2003) e “História: A Arte de Inventar o Passado” (2007), dentre outros, apresenta a nova publicação rebatendo críticas e comentando a repercussão que o livro de 2007, dedicado também à teoria, que causou entre os colegas da academia.
Segundo Durval, as críticas iniciaram pelo próprio título, uma vez que os termos arte e invenção sugerem um debate polêmico e recorrente no campo da história diante da busca por uma cientificidade. Além das questões teóricas, o autor foi avaliado em relação a forma em que o texto foi construído e apresentado. Por esse motivo, o historiador dedica a apresentação do novo livro para rebater as críticas, justificar e argumentar o uso do ensaio como gênero de escrita. Para ele é possível produzir conhecimento histórico preocupando-se também com a forma e com a estética da narrativa. No decorrer da leitura é possível perceber a intenção em reforçar o entendimento de que o trabalho do historiador é um trabalho de escrita e que, portanto, a forma dessa escrita é essencial e um desafio constante. “Sem a reflexão crítica sobre a arte da narrativa não há ciência possível na historiografia” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2019, p. 16). Leia Mais
Lenguaje, autoridad e historia – ZAMORA (A-EN)
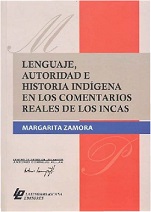 ZAMORA, Margarita. Lenguaje, autoridad e historia en Los comentarios reales de los Incas. Lima: Editora Latinoamericana, 2018. Tradução de Juan Rodríguez Piñero y Vanina M. Teglia. Resenha de: AIZENBERG, Nicolas. About Language, Authority, and Indigenous History in the Comentarios Reales de los Incas by Margarita Zamora. Alea, v.22 n.1 Rio de Janeiro, Jan./Apr. 2020.
ZAMORA, Margarita. Lenguaje, autoridad e historia en Los comentarios reales de los Incas. Lima: Editora Latinoamericana, 2018. Tradução de Juan Rodríguez Piñero y Vanina M. Teglia. Resenha de: AIZENBERG, Nicolas. About Language, Authority, and Indigenous History in the Comentarios Reales de los Incas by Margarita Zamora. Alea, v.22 n.1 Rio de Janeiro, Jan./Apr. 2020.
La obra del Inca Garcilaso de la Vega, por su extensión y complejidad, ha dado lugar a múltiples debates para su exégesis. Al escritor se le ha considerado desde un cronista fiable hasta un fabulador, desde un humanista aculturado hasta “Un humanista inca” (David Brading), desde un escritor que buscaba la reconciliación entre etnias hasta alguien que fue leído por Tupac Amaru II como estímulo para su revolución, desde un hacedor de una utopía imposible hasta un promotor de un gobierno viable para el Perú. Margarita Zamora, en su libro Lenguaje, autoridad e historia indígena en los Comentarios de los Incas, de reciente publicación en español gracias a la traducción de Juan Rodríguez Piñero y Vanina M. Teglia, retoma y reelabora estas polémicas y profundiza algunos tópicos mencionados pero no profundizados por diversos estudios sobre la obra del gran cronista peruano.
Usos de la tradición
En este libro, Zamora aborda los Comentarios reales desde la filología como construcción de autoridad y como llave de la historia. Para esto, la especialista realiza un exhaustivo racconto de la tradición humanista europea de la que se nutre el Inca Garcilaso, partiendo de figuras tales como Antonio de Nebrija, Lorenzo Valla, Erasmo y Fray Luis de León. En cuanto a Valla, en los escritos de la Antigüedad, se cifra el anhelo de la recuperación de un orden perdido, “en consecuencia, el mal uso del lenguaje o la traducción errónea constituían un ataque a ese orden” (ZAMORA, 2018, p. 44). En Erasmo, hay un deseo de volver a las fuentes cristianas a través de una purga y su correspondiente comentario. Y, por último, en Fray Luis, también se encuentra el proyecto de purificar dichas fuentes, pero teniendo en cuenta las potencialidades y limitaciones de la lengua en la que serán traducidas. A través de la contextualización, la autora demuestra los usos que hace Garcilaso de la tradición europea, es decir, cómo se nutre de ella para crear su propia autoridad: si con la conquista gana prestigio el punto de vista del testigo, el Inca deberá crear otros recursos de validación para su autoría teniendo en cuenta que su nacimiento es posterior y que el punto de vista de los cronistas suele ser el del conquistador. Si el cronista insiste en que los españoles todo lo corrompen, y que los infortunios del virreinato se debían a una falta de comprensión lingüística, entonces los europeos carecerían de las competencias necesarias para una cabal comprensión de los nativos, sus costumbres y su pasado. Así, el cronista parte de la idea de que el trauma de la conquista no fue fruto de los deseos de posesión y dominio por parte de los españoles -como podría argumentar un Fray Bartolomé de Las Casas- sino de la falta de comprensión entre lenguas y culturas tan diversas entre sí. Pero si el problema del primer encuentro entre los representantes de España y los del Incario fue de corte lingüístico, esto le permite al autor posicionarse mejor que un testigo: con Los comentarios reales pasamos del paradigma del punto de vista al paradigma filológico con el que se obtendría un acceso más verdadero, tanto a los sucesos precolombinos como a los de la conquista, gracias al conocimiento de las lenguas de los sectores en pugna y no gracias a una experiencia de primera mano. A su vez, a través de la comparación entre Las Casas y el Inca, Zamora demuestra que, al correr el eje de la crítica a los españoles (de ambiciosos a ignorantes), la crítica de Garcilaso es más sutil, al mismo tiempo que más vehemente: la cultura letrada y la cultura del libro poseen un límite epistemológico.
En busca del origen perdido
La autora recuerda la concepción de Nebrija: la filología como forma de recuperar el origen perdido. Con este método, las palabras recobrarían un significado esencial y arrojarían luz sobre el pasado de una cultura otra o propia, actual o perdida. Este clima intelectual de época avala que el Inca Garcilaso asegure que la confusión lingüística de los españoles conlleva errores múltiples. De esta manera, la filología es una llave al pasado: a través de un estudio de la lengua, se pueden establecer períodos históricos. Esto va a sostener Garcilaso para defender al gobierno incaico de acusaciones tales como tiranías o sacrificios humanos ante sus detractores. Al confundir las palabras quechuas, el europeo mezcló y, según el Inca Garcilaso, malinterpretó la teología incaica. De esta manera, confundieron las dos etapas precolombinas, la pre-incaica y la incaica (ZAMORA, 2018, p. 88). Esta torre de Babel llevó a que los españoles confundieran a los Incas y los interpretaran como hacedores de los actos barbáricos antes señalados. El autor de los Los comentarios sostendría que los españoles no serían buenos conocedores de la religión e historia incaicas sino, más bien, que habrían carecido de los conocimientos para comprenderlas. Las consecuencias de esta afirmación de Garcilaso se vuelven preocupantes para la España católica e imperialista: al no poder conocer bien a otras culturas, la labor evangélica se dificulta, con lo que se corre el riesgo de que los nativos vuelvan a los cultos pre-incaicos, según demuestra Zamora.
Providencia y mundo andino
¿Cuáles serían los riesgos de una vuelta a las creencias pre-incaicas, además de los sacrificios humanos o de la antropofagia? Al establecer su rol como “traductor” entre culturas, Garcilaso establece una cronología que comienza con aquellos pueblos barbáricos, seguida por la expansión de la civilización cusqueña como foco que irradia un proto-cristianismo y, por último, la venida del cristianismo propiamente dicho. La diferenciación entre etapas en el período precolombino ya había sido llevada a cabo por otros cronistas. La sagacidad garciliana se funda en conectar esas etapas con la actual, la cristiana. Estas tres fases se encuentran unidas gracias a la providencia divina, es decir, hay una intervención divina para arrancar a los indígenas de su período desgraciado hacia uno civilizado. De esta forma, el período incaico no es algo anecdótico sino crucial para la pacificación de los indígenas y su preparación para el evangelio. Ahora bien, los españoles, al confundir ambas etapas, persiguen las costumbres incaicas y terminan erosionando el eslabón de esa cadena que conectaría al cristianismo. Como indica Zamora, “para Garcilaso la idea de una teología monoteísta inca está unida a su presentación del Tahuantinsuyu como praeparatio evangelica, lo que le garantiza, a la civilización inca, un lugar de privilegio en la historia cristiana” (ZAMORA, 2018, p. 137). La autora explica que la presentación de una religión amerindia proto-cristiana o proto-monoteísta es una estrategia de Garcilaso para presentar, al Cuzco y a sus gobernantes, como piezas importantes de la historia universal y como propagadores del monoteísmo y no como idólatras y tiranos. De esta manera, lo que han perdido los españoles es la posibilidad de cristianizar por métodos pacíficos a los indígenas, porque no han comprendido el rol del Cuzco como foco civilizador ni que Pachacámac, en realidad, no haya sido el diablo sino una intuición racional del verdadero Dios cristiano. Al perseguir el culto inca en vez de guiarlo hacia el cristiano, los indígenas se refugian en viejos dioses. Esto indica dos cosas: un atraso para los planes evangelizadores (los cristianos sabotean su propia misión), pero, además, según Zamora demuestra de manera lúcida, el hecho de que Garcilaso da a entender que los Incas civilizaban sin perseguir otros cultos, es decir, la autora evidencia una de las tantas críticas veladas hechas por el cronista.
Utopía pero con topos
Uno de los puntos más fuertes del libro Lenguaje, autoridad e historia indígena en los Comentarios de los Incas radica en la profundización del concepto de utopía en el Inca Garcilaso, mencionado por varios estudios pero no profundizado. Para comprender los alcances de este concepto, Zamora desarrollará la propuesta de Tomás Moro y su Utopía para luego mostrar su articulación en los Comentarios reales. Como ella señala, Utopía es un “modelo político de una civilización americana imaginaria” (ZAMORA, 2018, p. 149). De esta forma, el gobierno perfecto que diseñó el inglés sirve como modelo para el Inca. La diferencia está en que, para el primero, era una proyección mientras que, para el segundo, algo real y concreto, anclado en la historia. Pero el uso que hará el cronista peruano irá más allá. Según Zamora, el Inca realizó una traducción, pero no en el sentido que habitualmente se le da. Ella citará al lingüista y crítico literario Roman Jakobson, quien propone una traducción intersemiótica, es decir, un concepto que sea común a ambas culturas (la utopía, en este caso), a fin de poder explicar a los europeos lo que fue el Tahuantinsuyu (ZAMORA, 2018, p. 154-155). De esta forma, Zamora no se contenta con señalar que estamos ante un discurso utópico sino que explica cómo opera este concepto renacentista en la crónica y con qué fines es utilizado.
Para concluir, la traducción de Lenguaje, autoridad e historia indígena en los Comentarios de los Incas, realizada por Juan Rodríguez Piñero y Vanina Teglia, acerca, al mundo hispanohablante, un libro necesario para seguir pensando la obra garciliana y para cuestionar y profundizar algunas perspectivas trabajadas por otros críticos, centrándose en las estrategias discursivas que realizara Garcilaso para construir su autoridad ante los cronistas con los que está polemizando. Un libro que reabre nuevas discusiones sobre el cronista mestizo en cuanto a los usos de las tradiciones humanista y cristiana.
Referências
LA VEGA, Garcilaso de. Comentarios Reales. Lima: Editorial Mercurio, 1970 [ Links ]
ZAMORA, Margarita. Lenguaje, identidad e historia en Los comentarios reales de los Incas. Lima: Latinoamericana Editores, 2018. [ Links ]
ZAMORA, Margarita. Language, Authority, and Indigenous History in the Comentarios reales de los Incas. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. [ Links ]
1Traducción al español de la edición de Cambridge: Language, Authority, and Indigenous History in the Comentarios reales de los Incas, Cambridge University Press, 1988
Nicolás Aizenberg. Estudiante de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y adscripto a la cátedra Literatura latinoamericana I (cátedra Colombi) de la misma universidad con un proyecto de investigación sobre “El Inca Garcilaso de la Vega y su visión pesimista del Perú colonial”, dirigido por Vanina Teglia. Ha participado como expositor de varios congresos de literatura colonial. E-mail nicolasaizen@gmail.com.
Práticas Religiosas, Errância e Vida Cotidiana no Brasil (Finais do Século XIX e Inícios do XX) – WISSENBACH (PH)
WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Práticas Religiosas, Errância e Vida Cotidiana no Brasil (Finais do Século XIX e Inícios do XX). São Paulo: Intermeios; USP-Programa Pós-Graduação História Social, 2018, 256 p. Resenha de: PERES, Elena Pajaro. Religiosidade em trânsito. Práticas cotidianas do sagrado coração no Brasil da Primeira República. Projeto História, São Paulo, v.67, pp. 439-446, Jan.-Abr., 2020.
Em 1929 o imigrante italiano José Zarelli, depois de muito trabalhar em São Paulo como vendedor, comprou uma pequena propriedade rural nos arredores da cidade. Foi nesse pedaço de terra que resolveu recuperar uma antiga habilidade que trouxera da Europa: esculpir imagens de madeira inspiradas em figuras do mundo camponês. Com o tempo foi acrescentando a essas imagens atributos de matriz africana sobre os quais tomou conhecimento no Brasil. Essa modificação de sua arte levou Zarelli a ganhar fama como escultor feiticeiro. Suas criações, após os devidos rituais de consagração, passaram a ser consideradas objetos sagrados, ou, como seria mais apropriado denominá-las, ínqueces,
e começaram a integrar altares religiosos, tornando-se, o próprio artesão, um rezador.
Essa significativa história, narrada por Oswaldo Xidieh em artigo de 1944, foi retomada pela historiadora Cristina Wissenbach em seu livro Práticas Religiosas, Errância e Vida Cotidiana no Brasil (Finais do Século XIX e Inícios do XX), publicado em 2018 pela editora Intermeios, para nos introduzir de maneira exemplar no universo das interconexões entre o catolicismo de base popular, imbricado de práticas camponesas muitas vezes consideradas heréticas na Europa, as religiões de matrizes africanas e os saberes milenares dos povos indígenas. A partir daí, capítulo a capítulo, o leitor vai conhecendo como se deu historicamente esse entrecruzamento cultural recriador de formas de expressividade artística e religiosa.
Essa configuração cultural multifacetada vem sendo nas últimas décadas recuperada por estudos acadêmicos – como os da própria professora Wissenbach, do historiador Robert Slenes e do antropólogo estadunidense James Lorand Matory, entre outros – que têm demonstrado como elementos provenientes de diferentes tradições entrechocaram-se no Brasil, levando ao surgimento de novas e intrincadas práticas culturais.
O livro de Wissenbach traz à luz os quatro capítulos revisados da tese de doutoramento Ritos de Magia e Sobrevivência. Sociabilidades e práticas mágico-religiosas no Brasil (1890/1940), apresentada ao Departamento de História da Universidade de São Paulo em 1997. No processo de revisão dos capítulos, a pesquisadora incorporou sua experiência como professora de História da África na Universidade de São Paulo, ampliando diálogos e abrindo suas reflexões para novos horizontes, como ela mesma afirmou em um dos eventos de lançamento ocorrido no Centro Cultural São Paulo. Seguindo os mais recentes debates na área, Wissenbach atualizou bibliografia e conceitos, enfatizando pontos antes apenas mencionados em sua tese. Dessa forma utilizou o conceito de pós-emancipação no lugar de pós-abolição, práticas religiosas no lugar de magia, vida cotidiana em vez de sobrevivência. Acrescentou ainda o conceito de errância, que antes não estava explicitado no título ou definido teoricamente.
As memórias, as crônicas, os relatos de viagem e de expedições foram algumas das fontes utilizadas na pesquisa. Contudo, foi na documentação criminal e nas notícias impressas nos jornais que a historiadora descobriu o elo para se aproximar das vivências concretas das populações que se encontravam em trânsito e que, num período conturbado da passagem do século, nos primeiros anos da República brasileira, experimentavam novas formas de estar no mundo. Ao revelar a luta do poder instituído para tentar disciplinar essas populações e suas manifestações culturais e religiosas, a documentação policial também revela, mesmo que parcialmente, as táticas utilizadas pelos mais pobres para se desvencilhar desse poder. A autora explica como esses registros, pelo seu próprio caráter fragmentário, permitem a compreensão de práticas que também se davam fragmentariamente, permeadas pelo improviso e pelo aproveitamento das brechas. Práticas que assumiam formas fugidías para garantir a permanência e liberdade de expressão em um meio dominado cada vez mais pelo pensamento racial e evolucionista.
Assim, dialogando com as fontes, tendo como fio teórico condutor de seu método o perspectivismo e a hermenêutica, que alerta para a historicidade do próprio conhecimento histórico, Wissenbach mergulha e faz o leitor mergulhar no mundo das religiosidades populares, um mundo que não se atrela ao poder oficial e desafia constantemente as religiões institucionalizadas.
No primeiro capítulo – Ritos e crenças de homens livres no pós-emancipação – a autora revela, a partir de uma extensa pesquisa bibliográfica e de fontes, como a população economicamente pobre criou padrões de organização de moradia, trabalho e convivência, colocando em circulação ideias, práticas e mercadorias nos momentos das festas religiosas, dos encontros e das feiras. Quando movimentamos as páginas, seguindo os rastros deixados no texto, podemos acompanhar a versatilidade desses grupos na busca de um melhor terreno para plantio e caça, no trabalho de construção e reconstrução da moradia, na decisão de abandonar os poucos bens materiais que não seriam úteis ou que não poderiam ser carregados durante a mudança de um território a outro. Práticas essas sempre vistas com reprovação pelos detentores das terras e do poder, que pretendiam aprisionar essas populações pelo trabalho, quando necessário, ou, quando eram vistas como dispensáveis, eliminá-las ou isolá-las em alguma área em que permanecessem segregadas.
O estudo mostra como esses grupos sociais criaram vínculos com a natureza, realizando todas as tarefas em seu tempo certo. Era na mata que encontravam parte importante de sua alimentação, ervas medicinais e seu mundo espiritual. Tudo o que era considerado sinal de atraso pelo pensamento modernizador que adveio com a República adquire uma outra roupagem quando se busca, como fez Wissenbach, uma aproximação compreensiva dos valores e meios de vida dessas populações. Eram grupos que viviam dispersos, mas evitavam o isolamento por meio de uma hierarquia social bem configurada em um mundo paralelo ao poder oficial e por ele incompreendido. Nesse grupo se destacam os africanos e afro-brasileiros a quem a autora dedicou grande parte do estudo publicado nesse livro.
Importantes discussões são apresentadas nesse primeiro capítulo, incorporando novas abordagens sobre as manifestações culturais especialmente dos povos provenientes da África centro-ocidental, que, segundo reforçam pesquisas atuais, foram os grupos majoritários trazidos ao Brasil no século XIX pelos traficantes de escravizados.
No segundo capítulo – Dissonâncias sociais da cidade moderna – vislumbra-se como as expressões de cultura e religiosidade presentes no interior do país começam a se reconfigurar a partir do movimento dessas populações em direção às áreas urbanas, promovendo a ressocialização das camadas populares em novos espaços. Discursos políticos, médicos e higienistas, que acompanharam e legitimaram a chamada modernidade, passaram a considerar as práticas religiosas desses grupos como sinais de incultura, atraso e ignorância. A história de Canudos e seu crescimento demográfico explosivo em torno das pregações do beato é recuperada pela autora como uma referência importante para se compreender processos semelhantes que ocorriam nas cidades brasileiras. Essas práticas começaram a ser cada vez mais notadas, anotadas e perseguidas. Nesse cenário aparecem novamente com destaque os contingentes de africanos e afro-brasileiros que, nas cidades conturbadas por um processo de urbanização abrupta, dividiram o espaço com imigrantes pobres de diferentes nacionalidades. Sabe-se que essa convivência foi muitas vezes tensa e conflituosa, mas, como esse e outros estudos demonstram, também foi marcada pelo compartilhamento de tradições.
No capítulo 3 – Religiosidade e magia nas primeiras décadas do século XX – a autora leva o leitor pelos meandros da escrita de cronistas e romancistas, que descreveram as práticas religiosas, especialmente aquelas que se davam nas casas de homens negros e mulheres negras. Essas descrições em sua maioria traziam toques de exotismo, demonstrando a tentativa de distanciamento dos autores em relação àquela população encantada por feitiços, magia e tudo aquilo que pertencia ao mundo do secreto e do oculto. As camadas remediadas e as mais ricas temiam aqueles “cultos misteriosos”, reservados aos iniciados, e preferiam se aproximar do espiritualismo de base francesa ou americana, mais atrelado à ciência e às supostas comprovações.
Nesse terceiro capítulo acompanha-se ainda a história de como o espiritismo se disseminou rapidamente também entre as camadas mais pobres da população, combinado com as crenças de ascendência europeia e às religiões afro-brasileiras.
O ritmo da narrativa se intensifica até atingir o capítulo 4 – Espaços sociais das crenças religiosas na urbanização de São Paulo – onde se vê como o discurso que representa o medo pela perda de controle sobre esses grupos espiritualizados foi muito forte em São Paulo entre 1890 e 1900, período em que a população da cidade cresceu em 268%. Esse medo acompanhou de perto a disseminação de práticas religiosas diversas por todo espaço urbano.
Particularmente nesse capítulo final pode ser feita uma ponte entre esse estudo e as mais recentes concepções dos estudos africanos, que demonstram como a incorporação de novas crenças e sua recriação era uma prática comum na África central. Pesquisas de historiadores africanistas como Linda Heywood e John Thornton apontam enfaticamente na direção de que novos elementos sempre foram apreendidos e transformados quando considerados benéficos ou úteis à cosmologia dos povos africanos. A convivência no Brasil com curandeiros, pitonisas e adivinhos provenientes das mais variadas nacionalidades, como demonstra Wissenbach, ampliou ainda mais essa prática. Essa “mistura”, da qual nos fala a autora, permeava o extrato social e cultural onde essas populações viviam, nas pequenas casas de cômodos, nos quintais coletivos, no compartilhamento de atividades informais. Aos poucos as práticas chamadas de curandeirismo irmanaram-se aos novos campos da ciência, como a homeopatia.
Na conclusão Wissenbach mostra como as práticas religiosas populares eram mais perseguidas e, ao mesmo tempo, mais temidas, quando eram empreitadas por homens negros, os chamados mestres cumbas ou feiticeiros. Foi contra eles que a repressão policial agiu de forma mais intensa até seu ponto máximo nos anos de 1930. Mesmo temidos, eram eles que lançavam uma fagulha de esperança para aqueles que não tinham a quem recorrer ou que não acreditavam em qualquer ajuda que pudesse vir do poder estabelecido. Da mesma forma, segmentos negros da população eram perseguidos quando fundavam agremiações religiosas, como igrejas reformadas, grêmios de ocultismo e centros espíritas.
Nos processos criminais, analisados pela historiadora, um ponto chamou sua atenção de forma impactante, a presentificação das narrativas a partir do final do século XIX. Desapareceram os detalhes da vida pregressa, da África ancestral, que podiam ser encontrados nos depoimentos de escravizados e libertos. A cidade em processo de modernização parecia reservar espaço apenas para o novo. Essa importante reflexão da autora nos leva a indagar se a memória de fato fora perdida ou começara a ser acobertada como tática de proteção num momento de perigo, em que as perseguições a tudo que remetesse à África haviam se intensificado.
E aqui podemos voltar ao início do livro, quando, citando Xidieh, Wissenbach ressalta que há um momento certo para a narração, que não é o momento da noite ou do dia, mas é o momento social em que elas se justificam e funcionam. É preciso concordar que essa pesquisa, que demorou um longo tempo para ser publicada, chegou num momento preciso de narração, num tempo necessário, permitindo a lembrança e o estudo crítico de práticas que fogem das imposições oficiais e se afirmam em sua diversidade, em profunda conexão com o contexto histórico das camadas populares, seus conflitos e compartilhamentos. Nesse sentido o livro atende a um público amplo, formado não apenas por historiadores, estudiosos das religiões, da história urbana e do cotidiano, mas também por todos os interessados nos assuntos relativos à diversidade, ao direito de expressão, às dissonâncias culturais, ao compartilhamento e tensão entre tradições. O trabalho de Cristina Wissenbach é profícuo em ampliar caminhos de pesquisa e discussão.
Elena Pajaro Peres – Doutora e mestre em História pela FFLCH-USP. Pós-doutora pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Visiting Scholar no African American Studies Program da Boston University (2013-2014). É pesquisadora no grupo Trilhas e circuitos do riso no espaço público brasileiro (1880-1960)-DH-USP/CNPq.
Un arte vulnerable: la biografia como forma | Nora Avaro, Julia Musitano e Judith Podlubne
A obra Un arte vulnerable é resultado de um colóquio homônimo sobre escrita biográfica. O evento foi idealizado e organizado pelas autoras do livro na Faculdade de Humanidades e Arte, na cidade de Rosario, Argentina, entre os dias 11 e 12 de novembro de 2016. As organizadoras se mostram convictas de que não há teoria biográfica que possa suplantar a derivada da atividade própria de cada experiência narrativa de uma vida. Vale notar que tal convicção, mola propulsora para o evento acadêmico, é perceptível nos textos que compõem o livro. Os artigos reunidos são reescritas das apresentações dos convidados para o colóquio, com acréscimos advindos de discussões suscitadas durante o encontro acadêmico.[1]
A obra conta com dezoito capítulos distribuídos em quatro seções temáticas, que não são estanques, mas comunicam-se na medida em que a leitura flui. A primeira parte intitulada “Teorias em ato”, [2] apresenta uma gama variada de discussões como a questão da onisciência do biógrafo nas formas tradicionais de narrativas de vida; as possibilidades uma escrita biográfica com fronteiras permeáveis a infiltrações de incursões autobiográficas; o fetiche referencial; as ligações entre vida e obra; o método biográfico; o dispositivo da escrita; as conexões entre a biografia e o ensaio.
Antonio Marcos Pereira é autor do primeiro ensaio e toma Flaubert’s Parrot, de Julian Barnes, como linha de partida para questionar os limites entre biografia e ficção em uma rica abordagem sobre duas veredas metodológicas: a biografia canônica e a biografia processual. A primeira obedece à tradição de manter o máximo possível o biógrafo invisível na construção do texto. Já na biografia processual, o biógrafo deixa transparecer seu trabalho investigativo, as dificuldades de pesquisa, as disputas de memória. Enquanto a biografia canônica valoriza uma narrativa neutra, isenta de lacunas, a biografia como processo procura demonstrar os limites enfrentados pelo autor, as versões contraditórias. Antonio Marcos Pereira opta pelo segundo caminho, pois, para ele, as narrativas mais profundas seriam aquelas que possibilitam um estreitamento nos laços entre um leitor, o biógrafo e o biografado; o biografado e sua obra.
O que torna uma vida digna de ser narrada? É em reposta a esse questionamento que Carlos Surghi escreve o seu artigo valendo-se da hermenêutica de Wilhelm Dilthey para não só abordar de forma crítica os modelos biográficos que narram vidas teleobjetivadas como também as relações entre vida e obra. A análise instiga-nos a pensar sobre a “fascinação biográfica”, conceito que permite avaliar o rompimento com aquilo que Antonio Marcos Pereira já havia identificado no capítulo anterior como biografia canônica. O texto é um convite para deter-se em reflexões acerca da subjetividade do biógrafo: a faina investigativa, que gera uma obsessão incontrolável, um completar-se a si mesmo na medida em que se escreve sobre o outro.
O gênero biográfico, recorrentemente é ancorado numa aporia: ou se faz biografia ou se faz história. Há, portanto, uma tentativa, sempre frustrada, de se medir o teor biográfico e o ficcional de uma narrativa biográfica, na visão de Aldo Mazzucchelli. Em ritmo de ensaio e dotado de erudição, o autor realiza um exame das diferenças entre as concepções positivistas sobre documento e verdade em contraposição a ilusão do “texto puro”, livre de qualquer referência, conforme alguns modelos pós-estruturalistas. O texto apresenta ainda uma interessante discussão sobre a questão do chamado “retorno do autor” e, valendo-se de ideias de Heidegger sobre o papel social da escrita, reflete sobre os avanços tecnológicos e os seus efeitos nos processos de subjetivação do autor.
Na sequência, Julieta Yelin parte de uma provocação: existem biografias de animais? A autora nega a possibilidade de tal empreendimento, e, para justificar, estabelece relações entre o pensamento de Foucault e Heidegger no que concerne a questão da linguagem como prova do mundo, como efeito da bios. A zoografia se encontra perante um entrave: os animais não falam e a exigência vocal do biografado é inegociável. Assim, a possibilidade de se escrever uma zoografia seria mediante uma linguagem adequada para se falar de outras linguagens e outras formas de vida.
Lorena Amaro Castro fecha o bloco teórico com uma análise enriquecedora das contribuições de Virgínia Woolf no tocante à biografia e autobiografia. É destacado o papel da biógrafa inglesa na quebra de paradigmas ao realizar experiências profícuas com o referencial e o ficcional. “Flush: uma autobiografia” seria um ótimo exemplo desse rompimento com os rígidos modelos pré-estabelecidos, já que Woolf, de uma só tacada, escreve uma autoficção sob o ponto de vista de um animal de estimação, no caso um cocker spaniel e ainda, se lança em um terreno dominado pelos homens, questionando, portanto, as normatizações sociais sobre gênero e hierarquia familiar.
“O romance do biógrafo”, título da segunda seção, reúne textos de autores que publicaram biografias e aproveitam o espaço para compartilharem as experiências acumuladas ao longo desse processo. A ligação entre esse segundo bloco de textos e o primeiro é estabelecido por Irene Chikiar Bauer, biógrafa de Virgínia Woolf. O artigo expõe elementos da escrita biográfica de Bauer, como o uso da cronologia a fim de fugir das limitações temáticas que envolvem a biografada atendo-se ao seu fluxo de vida. Além da questão metodológica, é compartilhado com o leitor os desafios da pesquisa, da tarefa hercúlea de dar conta do enorme corpus documental e a difícil tarefa, autoimposta pela biógrafa, de se manter a distância da protagonista, a fim de não se envolver com a personagem cuja vida narrava.
Ana Inés Larres Borges relata a experiência de escrever a biografia da poetisa Idea Vilariño. Partindo do ceticismo de Jorge Luis Borges quanto às possibilidades de se efetivar os vínculos entre vida e obra, o texto problematiza não só esses limites, mas também a hegemonia estruturalista em sua faina antibiográfica. O mote do artigo em questão é pensar os dilemas e tensões entre vida e obra na junção de escrita da vida privada e da trajetória de um autor, ou seja, ponderar a velha demanda sobre a necessidade de se conhecer a vida para compreender a obra.
Carlos María Domínguez deixa claro que seu texto é muito mais uma reflexão sobre a experiência de escrever três biografias do que tratar de teorias sobre o gênero. São relatados os desafios inerentes, principalmente, à coleta de depoimentos. Diante das lacunas, das inconsistências e das contradições, o biógrafo se viu forçado a conjeturar a fim de não cometer enganos, propositais ou não. Cada uma das biografias apresentou desafios próprios que foram vencidos ou contornados por estratégias específicas para cada caso.
Osvaldo Baigorria encerra a segunda divisão da obra com o relato de como escreveu a biografia de Néstor Sánchez. O biografado desafiava uma narrativa de sua vida uma vez que o período mais importante de sua trajetória era envolto por em um breu de informações desencontradas ou faltantes. A saída, ao invés de romancear, foi elaborar uma narrativa conjetural, ou como o próprio autor classifica, uma “pós-autobiografia”. O texto é um relato saboroso, permeado pelas confissões de subjetivação do biógrafo, que, na execução do projeto, pegou-se indagando sobre si mesmo. A experiência de subjetividade acabou gerando não um livro sobre Sánchez, mas com Sánchez, resultando em uma “ilusão referencial” ou “superstição realista”.
A terceira seção do livro, “A vida em obra”, é a reunião de leituras críticas sobre biógrafos e biografados. Nessa etapa do trabalho, os autores procuram refletir sobre as escolhas metodológicas e teóricas, sobre as estratégias narrativas, sobre as motivações dos biógrafos e os comportamentos de determinados biografados. É outra visão da operação biográfica, [3] não mais sob o ângulo da subjetividade de quem escreveu uma história de vida, mas de quem analisa os modos pelos quais a vida de alguém foi colocada em forma escrita.
O elo entre a terceira subdivisão e a anterior é uma nova aparição de Osvaldo Baigorria. Todavia, não como autor de texto, mas como objeto de análise de Julia Musitano que se debruça sobre a biografia de Néstor Sánches. A pergunta seminal de Musitano é: o que levou o biógrafo a se interessar pelo biografado? Provavelmente, segundo o texto, porque Baigorria seria alguém fascinado pelo indivíduo nômade, aquele que prefere não pertencer a um só lugar. Assim, o biógrafo realiza com o biografado uma fusão, não autorizada, do seu eu com o outro, ou seja, aquilo que o próprio Baigorria admite ser uma pós-autobiografia.
Em seguida, Nieves Battistoni elege a biografia de Osvaldo Lamborghini escrita por Ricardo Strafacce para ser analisada. O curioso desse caso seria que Strafacce, com uma carreira dedicada ao exercício da advocacia, nunca havia escrito um livro até publicar a vida de Lamborghini. Apesar de o texto da biografia ser coordenado por uma cronologia rígida, há concessões narrativas que dão dinâmica ao texto, como flashbacks e fordwards, que geram tensão dramática e expectativa nas passagens de um capítulo para o outro. O uso da cronologia rígida teria como objetivo contrastar com a vida descontínua e nômade do personagem retratado, a fim de refutar os mitos de uma vida errática. Assim como ocorre com Baigorria, ocorre também uma síntese entre biógrafo e biografado, ou seja, uma narrativa com aspectos autobiográficos.
Patrício Fontana inicia o seu texto com uma reflexão sobre a ideia do “retorno do autor” e do sujeito nas últimas décadas para depois analisar a biografia de Silvina Ocampo de autoria de Mariana Enríquez. Questões importantes são levantadas sobre os limites entre perfil biográfico e uma biografia propriamente dita. O “perfil” seria uma forma de se esquivar de dar conta de uma biografia “total”? Quanto de totalidade seria necessário para que um texto seja considerado biografia e não um perfil biográfico? Patricio Fontana responde não só a essas indagações como também sobre as relações da biógrafa com o seu texto e sobre os limites e as características do gênero em si.
Analía Capdevila analisa a biografia escrita por César Aira sobre a vida de Alejandra Pizarnik cuja espinha dorsal é o estabelecimento das vinculações entre vida e obra da biografada. São expostas as dificuldades do biógrafo em romper com os clichês, mitificações e estereótipos que cercam a biografada. Para tanto, a trama é conduzida por um narrador sempre cauteloso, que prefere expressões como “pode ter sido” ou “deve ser assim” do que uma afirmação categórica.
Judith Podlubne se encarrega de perscrutar a biografia de Oscar Masotta assinada por Carlos Correa, amigo do biografado, que confessa não ser guiado por nenhum método de escrita de vida. São convidadas para o texto análises da crítica literária em articulação com concepções de Virgínia Woolf, David Hume, George Luckács e Theodor Adorno no tocante a temas relacionados ao fazer biográfico, aos entrecruzamentos entre biografia e ensaio, ensaio e retrato, a fim de concluir que o estudo de caso apresentado evidencia a maneira como a escrita de uma vida afeta o biógrafo.
A terceira etapa do livro é encerrada com um artigo de Marcela Zanin sobre a biografia de Rúben Darío escrita por Vargas Vila. Diferentemente de alguns biógrafos que desejam explicar a obra a partir da vida, Vila se propõe a estabelecer os vínculos entre obra e vida, às vezes, para constatar a dissonância entre ambas. Trata-se de uma biografia com mesclas de autobiografia em razão das relações, nem sempre harmoniosas, que o biografado manteve com o biógrafo. Segundo Zanin, mais do que mesclar a própria vida com a do biografado, Vila quer viver paralelamente a vida de Darío.
Em “Cenas biográficas”, derradeira seção da obra, biógrafos contam suas vivências no exercício de suas atividades: as viagens para pesquisa de campo, os locais visitados em busca de inspiração ou coleta de documentos, arquivos e depoimentos, os pontos de partida e de chegada, os altos e baixos na experiência de narrar a história da vida de determinado personagem.
Mónica Szurmuk é biógrafa de Alberto Gerchunoff e usa o artigo para dar vazão à sua subjetividade com matizes de confissão, como ter aprendido a escrever biografia escrevendo uma biografia e também com base na leitura de outras histórias de vida; a forma como o desconhecimento e inexperiência com o gênero causou atrasos e grandes dificuldades na escrita que, por sinal, não estava sujeita a contratos, prazos; não sabia se a obra seria, inclusive, publicada ou se fosse, em qual língua, inglesa ou espanhola. O texto de Szurmuk permite, mais uma vez, evidenciar-se que o contato entre biógrafo e biografado acaba por levar a experiências de subjetivação.
Na sequência, Nora Avaro elabora um texto em que traz para a reflexão análises de autores que lhe fazem companhia em Un arte vulnerable como Irene Bauer, Antonio Marcos Pereira, Aldo Mazzucchelli e Ana Larre Borges. Nora Avaro mescla as análises desses autores com a sua própria experiência de biografar Adolfo Pietro, com considerações acerca dos métodos de escrita utilizados: uma combinação antagonista de exaustividade monumental e liberdades interpretativas. A biógrafa encerra com reflexões sobre a escrita biográfica e os processos de subjetivação do biógrafo que acaba se fundindo à narrativa da vida que elegeu para contar.
Martín Pietro fecha a coletânea com um texto dividido em subtítulos que funcionam como placas indicativas do percurso realizado pelo biógrafo em sua empreitada de escrever a vida de Juan José Saer: pesquisa, levantamento de dados, arquivos, documentação, entrevistas e viagens para pesquisa de campo. É possível acompanhar não só as etapas preliminares para a escrita, mas as concepções do biógrafo sobre o gênero: necessidade do uso maciço de documentação e pesquisa, a importância atribuída ao contexto e às redes de sociabilidade do protagonista, e, por fim, a valorização de se estabelecer os vínculos entre a vida e a obra do biografado.
Un arte vulnerable descortina um panorama rico de questões e abordagens no tocante à biografia e autobiografia no espaço latino-americano. A contribuição da obra é no sentido de oferecer reflexões sobre essas formas de escrita e suas peculiaridades, como a de alimentar-se da literatura e ao mesmo tempo impor a barreira documental como forma de legitimar o seu discurso. É justamente esse caráter híbrido da (auto)biografia que lhe confere, a um só tempo, vulnerabilidade, insipiência, vigor e movimento. [4]
Cabe ressaltar que os artigos que compõem a coletânea não devem ser tomados como conjuntos estanques. De fato, os textos convidam a imaginar outros arranjos e articulações possíveis. A título de exemplo, Nora Avaro estabelece relações com autores que assinam textos presentes na obra a fim de evidenciar as relações entre teoria e prática na escrita biográfica.
O livro apresenta importantes análises sobre temas candentes no tocante ao biografismo. 5 Essa publicação evidencia a complexidade de tomadas de posição sobre relações entre vida e obra, as fronteiras entre literatura e biografia, a problemática da subjetivação do biógrafo, os vínculos entre biógrafo e biografado, os usos do arquivo, dos documentos e das entrevistas, os desafios da pesquisa e da escrita da vida de um personagem. Trata-se de uma obra essencial para quem estuda a escrita biográfica e autobiográfica, seus limites e as suas possibilidades.
Notas
1. Ao todo, são dezoito autores que assinam os artigos, por economia optamos por não comentar dados básicos sobre formação, vínculos institucionais e linhas de pesquisa de cada um, por sinal, algo que poderia estar presente no livro. Em linhas gerais, a obra tem o mérito de reunir biógrafos e pesquisadores latino-americanos oriundos de Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, que concentram seus estudos e atuações em áreas tais como literatura, ensaísmo, crítica literária, teoria literária e escrita biográfica.
2. Serão realizadas traduções livres tanto de expressões como de trechos da obra na medida em se fizerem presentes no texto desta resenha.
3. O conceito de operação biográfica procura realizar uma releitura da operação historiográfica de Certeau (CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1982), mas a partir das demandas do gênero biográfico. Sobre o conceito de operação biográfica, ver: MUNIZ JUNIOR, João. Biografia e história em Raimundo Magalhães Junior: narrativas de panteonização e iconoclastia. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2017, p. 105.
4. Sobre a questão do hibridismo, ver: DOSSE, François. O Desafio Biográfico: escrever uma vida. São Paulo: EdUSP, 2009.
5 Sobre a noção de biografismo, ver: SILVA, Wilton C. L. Para além da ego-história: memoriais acadêmicos como fontes de pesquisa autobiográfica. Patrimônio e Memória, São Paulo, Unesp, v. 11, n. 1, p. 71-95, jan.-jun. 2015.
João Muniz Junior – Doutorando em História, com bolsa da CAPES, pela Universidade Estadual Paulista – Campus Assis (UNESP/Assis). Mestre e graduado em História pela UNESP/Assis. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. E-mail: joaomuniz_jr@hotmail.com CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/6369667028646263
AVARO, Nora; MUSITANO, Julia; PODLUBNE, Judith (Orgs.). Un arte vulnerable: la biografia como forma. Rosario: Nube Negra, 2018. Resenha de: MUNIZ JUNIOR, João. Os caminhos da biografia: teorias, métodos, experiências e possibilidades. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, n. 22, p. 224-230, set./dez. 2019. Acessar publicação original [DR]
Manifesto pela História – ARMITAGE; GULDI (RBH)
Manifesto pela História é uma apologia da história de longa duração que reacende as discussões sobre o lugar dos historiadores na sociedade contemporânea. Publicado originalmente em 2014 pela Cambridge University Press (Armitage; Guldi, 2014), o livro foi prontamente disponibilizado na internet, o que permitiu sua rápida difusão. Após as traduções para os idiomas chinês, coreano, espanhol, italiano, japonês, turco e russo, finalmente está disponível para o leitor brasileiro a versão publicada pela editora Autêntica. 1 Leia Mais
Terceiro Reich na história e na memória: novas perspectivas sobre o nazismo, seu poder político, sua intrincada economia e seus efeitos na Alemanha do pós-guerra – EVANS (RBH)
O suicídio de Adolf Hitler, em 1945, assinalou o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa e do regime nacional-socialista. Experiências históricas que marcaram a memória e a história de diversas maneiras. De lá para cá, inúmeros estudiosos estão a narrar e a interpretar o nazismo. A cada livro novo, a cada geração de pesquisadores, os saberes históricos sobre o nacional-socialismo são revisados e ampliados. Leia Mais
Teoria da História (v.1) Razão Histórica: os fundamentos da ciência histórica | Jörn Rüsen
RÜSEN, Jörn. Razão Histórica – Teoria da História: os fundamentos da ciência histórica. Brasília: Editora UnB, 1ª reimpressão, 2010. Resenha de: SOUZA, Fernanda Almeida de; URBAN, Ana Claudia. Revista de Educação Histórica, Curitiba, n.18, p.94-98, jan./jun., 2019.
Jörn Rüsen, professor emérito da Universidade de Witten/Herdecke (Alemanha), foi professor nas Universidades de Braunschweig, Berlin, Bochum e Bielefeld. Presidiu o Instituto de Estudos avançados (KWI), de Essen, de 1997 a 2007. É autor de obras fundamentais nos campos da teoria, da metodologia e da didática da História, assim como da história dos direitos humanos e das ciências da cultura. Sua obra encontra grande eco internacional no Brasil, em Portugal, na Espanha, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na África do Sul. É professor e conferencista visitante em diversas universidades alemãs e internacionais, notadamente no Brasil: Brasília, Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo.30 Sua obra mais conhecida e estudada nos últimos anos nas Universidades e Pós-Graduação no Brasil é Teoria da História: os fundamentos da ciência histórica publicado em três volumes: Razão Histórica (Volume 1); Reconstrução do passado (Volume 2); História Viva (Volume 3). A análise que apresento é sobre o Volume 1: Razão Histórica, na qual aponto os parâmetros relevantes da obra por eixos temáticos, e não seguindo a ordem da narrativa do livro.31
Jörn Rüsen é um filósofo da história, assim como outros autores desse campo de estudo, se propôs a fundamentar uma Teoria da História, sendo assim, conceituar a história como ciência está presente nas suas análises. O conceito de História como Ciência é apresentado a partir do questionamento, o que é ciência? O autor apresenta que cada área científica tem suas particularidades, logo, a história também tem sua especificidade. Mas é preciso uma reflexão além do fator das especificidades, para afirmar a História como Ciência se faz necessário também, refletir sobre o caráter comum que valida as diversas áreas das ciências, que é o procedimento metódico, de acordo com Rüsen (2010, p. 99) “o pensamento histórico é científico, portanto, à medida que procede metodicamente”. O parâmetro de História Ciência ocorre então, quando o processo histórico de regulação metódica da pesquisa, leva o conhecimento genérico à plausibilidade racional e controlável da ciência.
Observamos o gráfico de ideias que norteiam as explanações do livro Razão Histórica:

O gráfico é apresentado no livro sob perspectiva de explanar o conceito de matriz disciplinar. Para Rüsen a Teoria da História é vista com extrema importância, evidenciando que os historiadores necessitam primeiramente estar muito bem inseridos neste universo da História Ciência, faz uma análise firme e crítica dos propósitos que devem ter a Teoria na construção da Ciência da História, no sentido da história como produto da operação científica da história acadêmica ou investigativa, ou seja, faz parte da História Ciência reflexões profundas sobre o caráter específico do historiador, que para o autor é a especificidade do trabalho de dar sentido à experiência da mudança temporal do passado.
A Teoria da História tem de apreender, pois, os fatores determinantes do conhecimento histórico que delimitam o campo inteiro da pesquisa histórica e da historiografia, identificá-los um a um e demostrar sua interdependência sistemática. E como a pesquisa e a historiografia nada tem de estático, cabe à teoria mostrar como esse processo é dinâmico. Seu objeto são os fundamentos e princípios da Ciência da História. O termo técnico para descrevê-lo é matriz disciplinar: o conjunto sistemático de fatores ou princípios do pensamento histórico determinantes da Ciência da História como disciplina especializada. (RÜSEN, 2010, p. 29).
A matriz disciplinar apresentada no gráfico está propondo um processo lógico-dedutivo para fundamentar a Ciência da História. O ponto de partida é o vínculo entre História enquanto ciência (História Ciência) e o trabalho do historiador (Ciência da História) que ocorre, na medida em que o historiador para dar sentido à experiência do passado com o propósito de torná-lo presente, segue regras e métodos construídos pela História Ciência. O ‘sentido’ referido na obra, tem um caráter norteador, deve ser buscado pelas carências do presente, e esse processo racional pela busca de ‘sentido’ através das carências do presente, passa pelo campo das ideias, que seriam as perspectivas orientadoras da experiência do passado. A partir dessa estrutura racional do pensar, ocorre o uso do método, para concretizar os encaminhamentos da pesquisa. Esses fatores aparecem, em princípio, em todo pensamento histórico, “no entanto, articulados na matriz disciplinar da Ciência da História, eles adquirem a especificidade que permite distinguir o pensamento histórico constituído cientificamente do pensamento histórico comum.” (RÜSEN, 2010, p. 35).
O texto expressa que para Rüsen é primordial que a pesquisa histórica ou historiográfica se inicie não como forma de se encaixar ou adaptar-se a regras teóricas somente, ou que uma pesquisa se constitua a partir de interesses puramente pessoais ou quaisquer, dessa forma se produziriam histórias ‘não válidas’, ou seja, sem conexão com as demandas de interesse da sociedade presente, sem que o conhecimento produzido tivesse significado aos seus interlocutores. A história ‘válida’ então, seria aquela na qual o historiador estabelece seu objeto cognoscível através de um olhar cuidadoso a partir do seu presente, buscando observar quais são as carências da vida prática da sociedade, e a partir das carências sinalizadas, buscar um ‘sentido’ de conexão entre o passado e o presente, esse processo fundamenta o conceito de consciência histórica, explorado por Rüsen (2010, p. 57) “como a suma das operações mentais com quais os homens interpretam sua experiência na evolução temporal do seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo.”
Rüsen evidencia com clareza que a Ciência da História deve se movimentar pela consciência histórica, e que essa através de uma narrativa inteligível, consegue chegar ao âmbito de perspectivar o futuro.
“História” é exatamente o passado sobre o qual os homens têm de voltar o olhar, a fim de poderem ir à frente em seu agir, de poderem conquistar seu futuro. Ela precisa ser concebida como um conjunto, ordenado temporalmente, de ações humanas, no qual a experiência do tempo passado e a interação com respeito ao tempo futuro são unificadas na orientação do tempo presente. (RÜSEN, 2010, p. 74).
A valorização da consciência histórica é central na obra, bem construída e articulada por Rüsen, por exemplo, quando parte do princípio do questionamento, como surgem dos feitos a História? O autor para construir sua argumentação em favor da consciência histórica como resposta, fundamenta-se em bibliografias alemãs que responderam à pergunta em questão, ou de forma muito subjetiva ou de forma muito objetiva, os fatores de subjetividade (de Max Weber) e objetividade (do materialismo histórico) passam pela criticidade do autor, como forma de validar sua defesa por respostas históricas estruturadas a partir da matriz disciplinar.
Para Rüsen a matriz disciplinar e as conexões de orientações apresentadas nela: carências de orientação, diretrizes de interpretação, métodos; formas de apresentação, funções de orientação, é uma explicação teórica do tipo de racionalidade da constituição histórica de sentido, mas essas diretrizes não devem ser interpretadas como uma série de etapas sucessivas e estanques, ao contrário, esses fatores devem ser condicionados mutualmente representando uma forma de ‘pensar a história’ dentro de um conjunto sistemático e complexo.
Fazer uso da matriz disciplinar implica no uso de valoração da narrativa, para que todos os fatores apresentados na matriz possam ser articulados. Essa reflexão está no apêndice à edição brasileira e seu objetivo maior é articular a defesa da matriz disciplinar ao referencial teórico.
O apêndice mencionado, recebeu como título: a constituição narrativa do sentido histórico, no qual Rüsen explora o tema de forma bem argumentativa, mostrando por referenciais teóricos, como a questão da história narrativa foi tratada e refletida historicamente; o tema é explorado sob perspectiva do paradigma narrativista, onde para Rüsen como não existe uma racionalidade única, mas sim diversos tipos de racionalidade, trata-se agora de desenvolver “um tipo de racionalidade da constituição histórica de sentido na forma de um paradigma que resista à crítica feita à racionalidade até agora dominante no pensamento histórico moderno e que exprima em pretensões convincentes de racionalidade.” (RÜSEN, 2010, p. 169).
Para a narrativa histórica “é decisivo, por conseguinte, que sua constituição de sentido se vincule à experiência do tempo de maneira que o passado possa tornar-se presente no quadro cultural de orientação da vida prática contemporânea.” (RÜSEN, 2010, p. 155).
Rüsen argumenta com propriedade sobre as questões paradoxais da Ciência História, percebe isso como extremamente necessário, e expressa que o campo teórico da história não pode ser dado como finalizado, é necessário continuar explorando e ressignificando os teóricos e bibliografias. O livro também aborda outras temáticas próprias da Teoria da História, como, conceito de verdade, partidarismo, uso das fontes, humanismo, que não foram abordados, pois optei em encaminhar a resenha dentro do conceito que julguei ser a verdadeira alma do livro: a importância da consciência histórica estabelecida e guiada a partir da matriz disciplinar na produção da ciência da história. Como se trata de uma trilogia, os temas abordados em Razão Histórica continuam sendo explorados em perspectiva teórica em Reconstrução do Passado e História Viva.
Notas
30. www.joern-ruesen.de
31. Esta resenha foi produzida para a disciplina de Teoria da História (disciplina do Mestrado Profissional em Ensino de História da UFPR/ 2019), o objetivo estabelecido era buscar na leitura contribuições que pudessem dialogar com o projeto de pesquisa.
Fernanda Almeida de Souza – Professora da Rede Estadual de Ensino do Paraná, graduada em História, mestranda no Mestrado Profissional em Ensino de História da UFPR. E-mail: fernanda.giles.28@hotmail.com
Ana Claudia Urban – Doutora em Educação. Professora da Universidade Federal do Paraná – Setor de Educação. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Mestrado Profissional em Ensino de História e Professora de Metodologia e Prática de Docência de História. Pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH – UFPR). ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001- 9957-8838. E-mail: claudiaurban@uol.com.br
[IF]O que pode a biografia – AVELAR; SCHMIDT (PH)
AVELAR, Alexandre de Sá; SCHMIDT, Benito Bisso (Orgs.). O que pode a biografia. São Paulo: Letra e Voz, 2018. Resenha de: MOREIRA, Igor Lemos. Existem limites para a biografia? Projeto História, São Paulo, v.64, pp. 354-361, Jan.-Abr., 2019.
Aguardada desde a publicação de Grafia da vida: reflexões e experiências com a escrita biográfica (2013), a nova coletânea de textos organizada por Alexandre de Sá Avelar e Benito Bisso Schmidt a respeito do gênero biográfico foi lançada em 2018. Publicado pela editora Letra e Voz, o livro intitulado O que pode a biografia segue a mesma proposta da primeira obra: a reunião de textos téorico-metodológicos e relatos de experiências sobre a produção de biografias. Esse processo é perceptível, inclusive, nas diferenças de estruturação de ambas as obras. Enquanto a coletânea de 2013 foi organizada em três eixos reunindo onze autores (além da apresentação feita por Marieta Ferreira), a publicação de 2018 é dividida apenas em dois, focando, através de doze capítulos, nos elementos teóricos e nas práticas.
Iniciando com uma concisa apresentação, que faz referência a própria continuidade do trabalho iniciado em 2013, os organizadores afirmam que o livro nasce em um contexto de sedução pelo gênero biográfico no país, aumentando o número de interessados e convocando novas reflexões no campo das humanidades e das letras. Em seguida, são apresentados cinco textos que debatem a biografia a partir de seus “horizontes teórico-metodológicos”. Em “Contar vidas em uma época presentista: A polêmica sobre a autorização prévia”, Benito Schmidt retoma o tema da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida em 2015 pela ANEL, onde se previa a necessidade de anuência prévia concedida pelo biografado ou seus familiares ao escritor/pesquisador. Partindo da ADI e de casos brasileiros, como a polêmica envolvendo o historiador Paulo Cesar de Araújo1, o autor reflete sobre os regimes de historicidade, com ênfase no presentismo (HARTOG, 2013), e nas disputas de memórias que cercam o tema. Em seu texto, Schmidt pensa a constituição do campo biográfico na historiografia, entendendo as múltiplas temporalidades que transitam dentro do processo que chamou de “a biografia em julgamento”.
Em Os usos da biografia pela micro-história italiana: interdependência, biografias coletivas e network analysis, Deivy Ferreira Carneiro aborda as relações entre micro-história e biografia sob a chave de análise das experiências, das relações e do contexto social. Partindo da micro-história, o autor procura entender os sujeitos biografados como relacionais, pertencentes a determinados grupos e redes o que aproximaria a biografia da micro-história. Tal processo também rompe com a própria certeza da vida dos sujeitos biografados e com a ideia da linearidade das biografias produzidas predominantemente até o século XX. Segundo o autor, “a maior contribuição trazida pelo debate microanalítico acerca da biografia, a meu ver, foi trazer à tona um indivíduo cheio de incertezas que, na verdade, não tem uma percepção clara de si mesmo. (CARNEIRO, 2018. p. 56).
Maria da Glória de Oliveira, em Para além de uma ilusão: indivíduo, tempo e narrativa biográfica, dá seguimento à temática do sujeito, pensando a construção das trajetórias através dos processos de mediação narrativa, partindo de Pierre Nora. Historicizando a própria biografia, a historiadora tece sua reflexão acerca do papel da construção narrativa, especialmente da intriga, como maneira de “confrontar o indivíduo com a experiência do tempo” (OLIVEIRA, 2018. p. 61). Retomando também a noção de ilusão biográfica se destaca a compreensão que uma trajetória, e a experiência dos biografados, ocorre através não apenas de sua inserção contextual, mas igualmente da configuração do ato narrativo pelo qual essas experiências são materializadas.
A temática da narrativa é continuada por Mary Del Priore, autora de Biografia, biografados: uma janela para a história. Através também de uma historicização do gênero, Del Priore problematiza como os próprios historiadores opinaram e se relacionaram com as biografias. Em suas análises a autora reflete sobre as relações entre História e Literatura nesse processo, além de provocar o leitor a refletir sobre a própria disciplina e o lugar social e narrativo dos historiadores.
O último texto da seção, “Histórias de vida: um lugar de resistência para a reportagem”, é assinado por Rose Silveira. Destacando a distinção entre reportagem e notícia, a autora discute as possibilidades de pensar o livro-reportagem como uma forma de escrita biográfica. Aproximando História e Comunicação, o capítulo pontua elementos centrais da relação, abrindo espaço para reflexão sobre outras formas de produção de biografias no presente por não-historiadores. Como a autora destaca, esse processo ocorre através da noção de operação historiográfica a partir de Michel de Certeau. Por fim, visando exemplificar seus argumentos, Silveira analisa as biografias: A vida imortal de Henrietta Lacks (Rebecca Skloot) e Marighella: o guerrilheiro que incendiou o mundo (2012).
A segunda parte do livro, que reúne sete textos que apresentam como os enfoques teórico-metodológicos discutidos anteriormente perpassam as “experiências de pesquisa e leitura” de biografias. O texto que abre a sessão, assinado por Alexandre de Sá Avelar, discute a experiência de escrita de uma vida a partir da ideia de trajetória, o que foge do perfil totalizante da biografia. Procurando repensar o processo de elaboração de sua tese de doutorado defendida em 2006, o autor, em O reencontro com o general e o meu labirinto: sobre a releitura de uma tese, reflete sobre os meandros da pesquisa, suas motivações e principalmente os processos de delimitação do enfoque teórico. Avelar destaca que apesar de focalizar na trajetória de um individuo, isso não o excluiu “das preocupações propriamente biográficas” (AVELAR, 2018. p. 131). Sua noção de trajetória não se opõe à de biografia. Trata-se de uma forma da compreensão de um personagem através de uma proposta especifica ou um fio condutor em especial, que em seu caso foi a leitura da produção de Macedo Soares como modo de entendimento da estabilização dos processos de consolidação do capitalismo industrial brasileiro.
Dando seguimento ao relato de Avelar, Francisco Martinho aborda sua relação com o português Marcello Caetano, pensando os percursos que o levaram a produzir uma biografia política e intelectual sobre essa figura. Marcello Caetano: sobre a travessia de uma pesquisa é um relato de pesquisa primoroso no sentido que demonstra não apenas o processo de elaboração da biografia, mas compartilha as angústias e os desafios desse gênero de produção, especialmente com sujeitos que viveram em outros países que não o de origem do biografo. Abordando os limites e dificuldades da pesquisa, inclusive de acesso a documentações no exterior, Martinho lembra ao leitor a importância de se reconhecer a impossibilidade de apreensão total da vida de um sujeito, principalmente de maneira linear.
Em seguida, o brasilianista James Green nos presenteia com um relato sobre os bastidores de sua obra recentemente publicada pela Editora Civilização Brasileira. Green faz uma analogia direta aos próprios dilemas que perpassam a segunda seção da coletânea ao intitular seu texto como “Herbert Daniel: revolucionário e gay, ou é possível captar a essência de uma vida tão extraordinária”. Pensando a relação biografo e biografado, o historiador compartilha dilemas muito semelhantes aos dos dois textos anteriores, mas aponta outro elemento: a proximidade temporal e pessoal com o tema, marcada especialmente pelo potencial uso da história oral. Narrando, por exemplo, suas tentativas de diálogo com parentes de Daniel, o autor destaca como um personagem é construído, através dos rastros e das memórias, pelo próprio pesquisador apenas no decorrer da própria pesquisa.
A questão dos rastros é retomada em seguida por Jorge Ferreira em Escrevendo João Goulart. Autor de uma das obras de não ficção mais vendidas de 2011 (FERREIRA, 2016), o pesquisador destaca seus processos de pesquisa, assim como os acasos e momentos inesperados de acesso da documentação. Apesar dos pontos de contato com os relatos anteriores, Ferreira atenta algumas questões próprias de pesquisadores da área de história política e econômica. Nesse sentido, uma das principais contribuições de seu texto é reforçar que o sujeito é, não apenas relacional com seu contexto, mas também “conformado por estruturas econômicas ou pelas ideias de classe social” (FERREIRA, 2018. p. 182).
A temática da autobiografia é discutida nos dois textos seguintes da coletânea. Laura de Mello e Souza, em “Vitório Alfieri, a vida e a história”, mergulha em suas memórias com Vitório Alfieri e sua obra autobiográfica Vita produzindo um ensaio sobre a trajetória e o desenvolvimento intelectual de um dos autores que mais a intrigaram. Nesse sentido, mais do que pensar o procedimento de uma biografia escrita por ela, Mello e Souza reflete também sobre os processos de construção autobiográfica do escritor do século XIX.
Em seguida, “autobiografia, gênero e escrita de si: nos bastidores da pesquisa”, de Margareth Rago, constrói uma reflexão autobiográfica de seu envolvimento com o tema das autobiografias apresentando ao leitor suas inspirações, motivações, estratégias e referências. Seu capítulo propõem ao leitor compreender as tecituras da composição dos sujeitos, que nunca se veem totalmente excluídos de processos e estruturas maiores como o gênero, ou ainda a dimensão coletiva existente na própria produção de si.
O último texto da seção é, certamente, um dos mais intrigantes. Temístocles Cezar, em “Bartleby e Nulisseu: a arte de contar histórias de vida sem biografia”, brinca em um eterno jogo entre realidade e ficção ao narrar a história de Nilusseu, uma jovem estudante de história encantada com Bartleby, personagem do conto de Herman Melville, publicado em 1853. Em uma trama instigante e reflexiva, permeada por referências a teóricos como Marx, Hegel, Foucault, assim como estudiosos das teorias da biografia como Sabina Loriga, Cezar provoca o leitor a refletir sobre as possibilidades de escrever uma história de vida sem fazer biografia.
Colocando sob sua mira a própria ideia dos indivíduos serem ou não únicos, o autor nos instiga a refletir sobre quem determina essa individualidade e protagonismo dos sujeitos. Mais que isso sua trama possibilita pensar a ideia de ilusão biográfica, ao intrigar o leitor com a jovem Nilusseu que se confunde ao seu próprio mundo de leituras.
A pergunta inevitável que marca esse capítulo – e penso não ser a toa os organizadores o terem colocado como o último texto do volume –, seria: é possível contar histórias de vida sem biografia, se afinal existem histórias no plural? Penso que a estruturação da obra caminha para esse ponto central. A coletânea, O que pode a biografia não fornece um manual prático sobre como trabalhar ou pesquisar o gênero. Ao mesmo tempo, sua intenção também não é o que o título poderia sugerir: um manifesto acerca das regras e diretrizes do campo. A obra organizada por Avelar e Schmidt convoca a uma reflexão sobre um campo aberto e de fronteiras móveis.
Apesar das conexões, cada texto elencado apresenta pontos de vista únicos sobre o fazer biográfico. “Pode a micro-história dialogar com a biografia? São campos iguais?” “Somente historiadores produzem biografias?” “Não seria toda forma de escrita uma auto-biografia?” “Biografia e trajetória são campos distintos?” são apenas algumas das reflexões provocadas, não tendo por objetivo fornecer respostas definitivas. Passando da teoria a prática, os textos demonstram a impossibilidade do próprio pesquisador ver esses dois campos como dimensões dissociadas. Em momentos de crise da história e de consolidação e crescimento da história pública O que pode a biografia é um sopro renovador ao campo.
Referências
AVELAR, Alexandre de Sá; SCHMIDT, Benito Bisso (Orgs.). Grafia da vida: reflexões e experiências com a escrita biográfica. São Paulo (SP): Letra e Voz, 2012.
FERREIRA, Jorge. De volta ao público: João Goulart, uma biografia. MAUAD, Ana Maria; ALMEIDA, Janiele Rabêlo de; SANTIAGO, Ricardo (Org). História Pública no Brasil: Sentidos e Intinerários. São Paulo: Letra e Voz, 2016. p. 121-131.
HARTOG, François. Regimes de Historicidade: Presentismo e Experiências do Tempo. Belo Horizonte, Mg: Autêntica, 2014.
OLIVEIRA, Márcia Ramos de Oliveira. Reflexões sobre o gênero biográfico: literatura, ilusão e disputas de memória. In: GONÇALVES, Janice (Org.) História do Tempo Presente: Oralidade, memória, mídia. Itajaí: Casa Aberta, 2016. p. 101-116.
Nota
1 Em um texto recente, a pesquisadora Márcia Ramos de Oliveira (2016), também discutiu os embates em torno do gênero biográfico ocorridos na sociedade brasileira a partir de 2015. Apesar de ambos focalizarem temáticas semelhantes, a autora destaca principalmente os diferentes embates de memória, ligados a narrativa, focando especificamente no caso de Paulo Cesar de Araújo.
Igor Lemos Moreira – Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina. Bolsista CAPES-DS e Integrante do Laboratório de Imagem e Som. E-mail: igorlemoreira@gmail.com. Número do ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6353-7540. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES).
Historisierung der Historik. Jörn Rüsen zum 80 – SANDKÜHLER; BLANKE (ZG)
SANDKÜHLER, Thomas; BLANKE, Horst Walter (eds.). Historisierung der Historik. Jörn Rüsen zum 80. Geburtstag, Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau , 2018. WAGNER, Helen. Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, Berlin, v.18, p. 214-218, 2019.
Acesso somente pelo link original
[IF]
Historicidade e objetividade – DASTON (HU)
DASTON, L. Historicidade e objetividade. Tradução: Derley Menezes Alves e Francine Iegelski (org. Tiago Santos Almeida). São Paulo: LiberArs, 2017. 143 p. Resenha de: SOUSA, Raylane Marques. Por uma história dos ideais e práticas da objetividade científica. História Unisinos 22(4):702-707, Novembro/Dezembro 2018.
A coletânea de artigos intitulada Historicidade e objetividade, de Lorraine Daston, historiadora das ciências e diretora do Instituto Max-Planck de História das Ciências de Berlim, publicada no segundo semestre de 2017 e correspondente ao primeiro lançamento da “Coleção Epistemologia Histórica”, da Editora LiberArs, constitui-se num desafio de historicização das ciências e num projeto de epistemologia eminentemente histórica. O livro em tela congrega um prefácio, uma apresentação e sete artigos e persegue o propósito que desvelaremos a seguir.
No prefácio, Lorraine Daston anuncia-nos a proposta da obra 1. A autora esclarece-nos que os artigos, com a ressalva de um, enquadram-se numa perspectiva de historicização das ciências e num programa de “epistemologia histórica”. Se a intenção de Daston é construir um programa de epistemologia histórica, isto é, “a história das categorias e práticas que são tão fundamentais para as ciências humanas e naturais que parecem muito autoevidentes para ter uma história” (p. 9-10), o itinerário argumentativo que ela desenha nas sete investigações em pauta revela-o de forma coerente e original, uma vez que o objetivo embrionário da coleção desses artigos, tendo em conta o excelente esteio bibliográfico em que se sustentam, é justamente mostrar que a objetividade nas ciências, a atividade de observação, a elaboração de um fato científico e as formas de quantificação têm uma história e pensar sobre as especificidades dessa história nos leva “a repensar a história de como sabemos o que sabemos” (p. 10).
Na apresentação, intitulada “História das Ciências, Teoria da História e História Intelectual”, Tiago Almeida e Francine Iegelski (2017) apontam-nos os motivos que os levaram à tradução, à organização e à publicação de Historicidade e objetividade. Os autores esclarecem-nos que a execução desse projeto tem dois objetivos: o primeiro é de colocar o público brasileiro em contato com os debates mais fecundos da historiografia das ciências; e o segundo é de discutir o já consolidado “programa historiográfico” ou a “epistemologia histórica” de Lorraine Daston para a história das ciências. Os autores evidenciam igualmente que o programa ou a epistemologia histórica de Lorraine Daston se distingue dos programas historiográficos anteriores e contemporâneos porque foi capaz de incorporar as contribuições e se desviar dos defeitos das três principais escolas da história das Nas relações que estabeleciam entre o conhecimento e seus objetos, a primeira escola tinha o defeito de ser idealista, a segunda de ser estruturante, e a terceira de se aprisionar ao particular. Desse modo, como frisam os autores, em seu programa ou epistemologia histórica, Daston recusa a ideia, bem acolhida e propagandeada por essas escolas, segundo a qual “historicizar equivaleria a relativizar ou, o que é pior, invalidar” (p. 12), ao mesmo tempo em que recupera o método de comparação entre as ciências, apesar de suas diferentes especialidades. De acordo ainda com os autores, a originalidade da abordagem de Daston para a história das ciências reside no fato de ser um projeto de trabalho conciliador, favorável à reunião de pesquisadores de diversas áreas, dedicado ao estudo de categorias, conceitos, ideias, objetos e práticas basilares da ciência moderna. Além disso, a apresentação retrata que certo número de pesquisadores chegou ao campo da História das Ciências via Teoria e Metodologia da História e História das Ideias e Intelectual, e vice-versa. Tanto o campo da História das Ciências quanto os campos da Teoria e Metodologia da História e História das Ideias e Intelectual se interessam pela historicidade das ciências, pelas relações entre conceitos, ideias, discursos, textos e contextos, e pelas temporalidades e escritas da história. Assim, o fascínio por esses temas acabou por aproximar essas áreas de conhecimento e por favorecer o contato dos historiadores da história com os historiadores da ciência, além de familiarizar os primeiros com os trabalhos de Daston, principalmente aqueles textos que versam sobre a objetividade e seus significados e múltiplas formas de manifestação.
No artigo 1 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Objetividade e fuga da perspectiva”, Daston esforça-se por traçar uma história não linear e contingente da objetividade científica, história essa que vai do fim do século XVIII ao início do século XIX3. O texto inicia com uma explanação concernente aos múltiplos sentidos da palavra objetividade e suas variantes nos idiomas francês (objectivité) e alemão (Objektivität). Nessas duas línguas, a autora explica que a palavra é confusa e refere-se a um só tempo à metafísica, aos métodos e à moral. A primeira referência diz respeito à busca dos cientistas por uma verdade objetiva no conhecimento, a segunda diz respeito aos procedimentos objetivos que sustentam toda pesquisa científica, e a terceira diz respeito à conduta objetiva, imparcial e desapaixonada do investigador. Daston assinala, na continuação do debate do texto 1, que os pesquisadores dos Science Studies têm se interessado bastante pelo conceito de objetividade na atualidade, mas eles continuam focando nos problemas de existência e legitimidade, em vez de problemas históricos. De maneira efetiva, como a autora argumenta, a objetividade tem uma história, e um dos episódios que lhe permite falar de tal história é a emergência, no século XIX, do que ela chama de ideal de “objetividade aperspectivística”, isto é, a tentativa de eliminação de características individuais do conhecimento científico. Assim, é no esforço de compreender o ideal de objetividade aperspectivística que a autora tece uma história crítica desse conceito no primeiro texto. Lorraine Daston sugere também que é possível visualizar o desenvolvimento desse conceito na literatura estética e moral do século XVIII, como no caso dos autores Shaftesbury, Hume e Adam Smith. A autora nos diz que as discussões a respeito da “perspectiva” no século XVIII e XIX procuram a supressão e o distanciamento emocional do indivíduo e colocam afirmações morais e estéticas em lado oposto às afirmações científicas, a exemplo dos pensadores mencionados. Seguindo o seu raciocínio, a autora também procura investigar a situação do conceito nas ciências naturais, opondo as tentativas dos homens de ciência do século XIX de sacrificar os traços pessoais a práticas precedentes. A autora esclarece que as investidas desses homens de ciência de supressão de traços individuais eram como que uma precondição para a criação de uma comunidade científica justa, harmoniosa e coerente, assim como uma garantia de alcançar a verdade científica.
Finalmente, a autora conclui o texto 1 com uma breve reflexão sobre como e por que a história do conceito de objetividade aperspectivística ganhou uma camada moral. Segundo a autora, a objetividade aperspectivística prescrevia certa indiferença e desapego por tudo o que é pessoal. Os cientistas deveriam não apenas abandonar tudo o que lhes é próprio, mas também esquecer todo e qualquer reconhecimento de si mesmos. Ademais, os valores da objetividade aperspectivística contribuíram para que os cientistas pautassem a sua conduta em métodos mecânicos e observações morais. A par dessas informações, o primeiro artigo do livro diz-nos que a objetividade que Lorraine Daston nos apresenta como tendo uma história tem como base as seguintes críticas: em primeiro lugar, a objetividade nas ciências não é um “dado trans-histórico” (p. 16) e que busca “a estrutura última da realidade” (p. 17); e, em segundo lugar, a objetividade não é mecânica e que visa suprimir “a propensão universal humana de julgar e estetizar” (p. 17).
O artigo 2 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “A economia moral da ciência”, procura avaliar e desbancar uma antiga tradição que opõe fatos a valores. A espinha dorsal do presente texto é a ideia de que a ciência tem o que Lorraine Daston chama de “economia moral” e esta economia moral constitui o modo de conhecimento científico. Mais especificamente, a autora assevera que a ciência tem “certas formas de empirismo, quantificação e objetividade que não apenas são compatíveis com economias morais, elas exigem economias morais” (p. 38).
Segundo Daston, muito embora a ciência seja um exemplo de racionalidade e facticidade, ela não está isenta de afetos e emoções, valores, ideologias, normas e regularidades institucionais. Consoante a autora, “economias morais, ao contrário, são partes integrais da ciência: de suas fontes de inspiração, suas escolhas de temas e procedimentos, a peneira da evidência e seus padrões de explicação” (p. 42).
Embora as economias morais existam na ciência, para que elas servem e como elas estruturam as ideias-força de como os cientistas vêm a conhecer? Acerca dessas questões, Daston explica que uma economia moral é boa para a quantificação, o empirismo e a própria objetividade. As várias formas de quantificação têm economias morais. Os historiadores da ciência quantificam cientificamente, mas nem todos aspiram à exatidão matemática de suas mensurações, embora a precisão seja uma das virtudes mais observadas e louvadas entre eles. O empirismo também é um elemento fecundo em economias morais. Os três principais aspectos do empirismo da filosofia natural do século XVII, o testemunho, a facticidade e a novidade, apoiam-se e entrelaçam-se em valores e afetos. A objetividade, entretanto, é já uma economia moral. De acordo com Daston, duas de suas variantes mais importantes, ambas oriundas do século XIX, são: a “objetividade mecânica” e a “objetividade aperspectivística” (p. 59). A objetividade mecânica fundamenta-se em uma epistemologia da autenticidade e exige a eliminação de qualquer interferência pessoal no conjunto de observações da natureza. Já a objetividade aperspectivística assenta-se no lema “a visão a partir de lugar nenhum” de Thomas Nagel e combate as idiossincrasias de indivíduos e até de coletivos de pesquisadores em prol da verdade científica. Portanto, o elemento fundamental da discussão de Daston sobre as economias morais do conhecimento científico baseia-se na ideia de que o núcleo da ciência é moral e ressoa a voz do dever moral.
No artigo 3 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Uma história da objetividade”, Daston começa pontuando aspectos das três escolas que dominaram a história das ciências, a saber: a escola filosófica, a escola sociológica e a escola histórica. A escola filosófica é idealista e pensa a história das ciências como “a história da emergência e desaparecimento dos conceitos de natureza, dos sistemas metafísicos e dos quadros epistemológicos” (p. 69). Os historiadores filósofos da ciência associados a essa forma de pensar direcionam sua atenção para as teorias científicas e para a interlocução dessas teorias com outras áreas do conhecimento, como a filosofia e a teologia.
A escola sociológica concentra seu olhar sobre as estruturas sociais (tanto as microscópicas quanto as macroscópicas) da pesquisa científica. Os historiadores sociólogos da ciência que compartilham dessa tendência enxergam a ciência como uma instituição importante inserida na sociedade e que espelha a divisão dos poderes e a produção dos significados culturais. Já a escola histórica foca no local e no singular, aspectos que as outras duas escolas deixaram de lado. Os historiadores aliados a essa forma de pensar a ciência primam não apenas pelas teorias, mas também pelas práticas científicas e pelo trabalho nos arquivos. Outro aspecto basilar desse texto 3 é a apresentação do novo programa de Daston para a história das ciências. A autora finalmente explica o que entende por “epistemologia histórica” (Historical Epistemology): “a história das categorias que estruturam o nosso pensamento, que modelam nossa concepção da argumentação e da prova, que organizam nossas práticas, que validam nossas formas de explicação e que dotam cada uma dessas atividades de um significado simbólico e de valor efetivo” (p. 71). A singularidade da epistemologia histórica de Daston é que ela se relaciona à história das ideias, das práticas, dos afetos e emoções, dos valores e significados que organizam as economias morais das ciências. Daston estabelece novas perguntas para velhas questões. É principalmente nesse aspecto que a abordagem da autora se diferencia das demais que ordinariamente tomam a objetividade científica como desprovida de história.
No artigo 4 da obra Historicidade e Objetividade, intitulado “O que pode ser um objeto científico? Reflexões sobre monstros e meteoros”, Daston explica o que é e o que pode se tornar um objeto de pesquisa científica. A resposta da autora para esse questionamento é uma crítica construída com base na afirmação de Aristóteles de que as ciências se fazem a partir de regularidades: “daquilo que é sempre ou pelo maior período de tempo” (p. 79). Para Daston, porém, somente a regularidade não é suficiente para destacar um item do cotidiano ordinário e torná-lo objeto de investigação científica. É necessário ir além e observar “se uma classe de fenômenos é quantificável, manipulável, bela, experimentalmente repetível, universal, útil, publicamente observável, explicável, previsível, culturalmente significativa ou metafisicamente fundamental” (p. 79). Segundo Daston, esses critérios se justapõem e demonstram que a escolha dos objetos científicos vai além do simples critério de regularidade. Assim, um estudo sério do que é e do que não é objeto para a ciência deve levar em consideração esses critérios e como eles se sobrepõem à experiência normal do cotidiano e destacam alguns fenômenos como objeto de investigação e outros não. O objetivo de Daston nesse texto 4 é exatamente examinar, por meio de exemplos históricos, como e por que os objetos da filosofia preternatural se tornaram objetos de investigação da ciência em meados do século XVI e foram esquecidos no século XVIII. Segundo a autora, os objetos da categoria preternatural/além da natureza (sintetizados em dois grupos, monstros e meteoros) continuaram a existir nesse período, mas não despertaram mais interesse dos cientistas, porque os três princípios (ontológico, epistemológico e sensitivo) que mantinham tal categoria unida e em evidência foram desvelados. Daston defende que os objetos preternaturais foram escolhidos, em primeiro lugar, pelo princípio ontológico, que significa coisas e eventos fora da ordem cotidiana da natureza. Em segundo lugar, eles foram escolhidos pelo princípio epistemológico, que exige um trabalho mais pesado de coleta, explicação e fundamentação.
Em terceiro lugar, eles foram escolhidos pelo princípio da sensibilidade, que dá conta das maravilhas e, até mesmo, dos milagres e prodígios. De acordo com a autora, no entanto, a filosofia preternatural não teve morte espontânea. Os três princípios que a fundamentavam foram incorporados pela filosofia natural do final do século XVII e início do século XVIII. Além disso, a emergência de uma nova metafísica e uma nova sensibilidade dissolveu sua lógica, embora sem eliminar seus componentes, tornando-a irrelevante para os estudos científicos.
No artigo 5 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Sobre a observação científica”, Daston apresenta-nos a observação científica como um gênero epistêmico dotado de historicidade. A autora explica-nos que a observação é a prática científica basilar das ciências humanas e naturais. Embora tal prática não desperte o interesse das ciências enquanto objeto de investigação, alguns filósofos e positivistas lógicos se dedicaram a examiná-la no século XX, mais precisamente com intuito de fortalecer “a visão científica da observação como primitiva e passiva” (p. 91). Já os críticos da postura adotada por tais filósofos e positivistas lógicos defendiam a ideia de que as observações eram inevitavelmente entremeadas de juízos de valor e, por isso, não poderiam oferecer um julgamento imparcial quando entrassem em conflito. Segundo a autora, nas duas situações, a preocupação dos filósofos da ciência era epistemológica e estava assentada na filosofia de Kant, a saber: “haveria ou não haveria algo como uma observação científica não contaminada pela teoria?” (p. 91). No fundo, a preocupação desses filósofos era como higienizar a observação, evitando que ela fantasiasse e distorcesse os dados objetivos. Nesse texto 5, o objetivo de Daston é discutir as bases ontológicas da observação científica especializada, especialmente como esta reconhece e seleciona objetos para uma comunidade de cientistas.
Com efeito, como nos diz a autora, esta discussão ocupa algum espaço “entre epistemologia (que estuda como observadores científicos adquirem conhecimento acerca dos objetos por eles escolhidos) e metafísica (que investiga a realidade última das entidades observadas)” (p. 92). Assim, na perspectiva de Daston, a ontologia é algo como os cientistas preenchem o universo com percepções, retirando objetos do cotidiano comum, classificando-os e tornando-os objetos de investigação científica, e traduzindo- os em formas (textos-imagens-tabelas) ou numa linguagem popular a um coletivo ou a uma comunidade. De acordo com a autora, uma tentativa de historicização da observação científica pode ajudar a trazer à superfície práticas científicas tomadas até então como a-históricas e autoevidentes e conectar a história das ciências à história das sensibilidades e do eu, como também expandir o espaço das experiências científicas. Nesse sentido, o que constitui o mote desse texto 5 é a ideia que assim pode ser sintetizada: não existe ciência sem a prática da observação, e tampouco mundo articulado visível, audível ou táctil.
O artigo 6 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Science Studies e História das Ciências”, constitui-se como um desvio nessa coletânea, como afirma Lorraine Daston no Prefácio. Esse capítulo não explora episódios históricos, mas a situação de aproximação e estranhamento entre duas disciplinas que abordam o mesmo tema, neste caso, “ciência e tecnologia” (p. 109). O objetivo de Daston, nesse texto, é rastrear a situação de interdisciplinaridade e intercâmbio entre os Science Studies e a História das Ciências, bem como o presente e o futuro de ambos os campos. Assim, o texto divide-se em duas partes. A primeira parte traz um curto relato das conexões entre Science Studies e História das Ciências desde 1970. A segunda parte examina como seus caminhos se separaram na década de 1990 à medida que a História das Ciências se aproximava da História e os Science Studies se afastavam. A partir do relato sucinto da conexão entre os dois campos, com foco nos Science Studies, Daston destaca que os objetivos deste último campo se sintetizavam em “humanizar a ciência tornando-a mais social (ou pelo menos sociável) ou domesticá-la, também tornando-a mais sociável (ou pelo menos sociológica)” (p. 111), e se afastar de tudo o que “cheirasse a psicologia” (p. 111). De acordo com a autora, esses objetivos se apoiavam em dois princípios: em primeiro lugar, “a ênfase nas instituições e estruturas, não nos indivíduos e ações” (p. 111); e, em segundo lugar, o destaque de que “o social se baseava fortemente nas estratégias marxistas desmistificadoras da ideologia” (p. 112). Esses dois princípios sugerem, segundo Daston, que os Science Studies seguiram correntes distintas de pensamento: Karl Marx e Émile Durkheim, mas também a sociologia do conhecimento de Karl Mannhein, a filosofia-sociologia de Fleck, entre outras. Mas o componente-chave que estabeleceu o afastamento entre os Science Studies e a História das Ciências foi a leitura da obra A estrutura das revoluções científicas, de Thomas S. Kuhn, lançada em 1962. Assim, enquanto os Science Studies interpretaram a obra de Kuhn como uma exposição do relativismo, os historiadores das ciências, em contrapartida, extraíram lições diferentes e mais próximas da argumentação de Kuhn, a saber, que a História das Ciências não poderia mais ser entendida como progresso constante em busca de um télos e uma verdade última, mas deveria afastar-se das narrativas teleológicas. O ponto de aproximação entre os dois campos seria a crítica a uma visão positivista da história, que se definia por um método mecânico e apartado do social.
A outra metade do artigo 6 é dedicada à exposição dos motivos que levaram ao distanciamento entre os Sciences Studies e a História das Ciências. A começar com o esclarecimento do que é ciência e de como estudá-la, essa segunda parte prolonga a discussão a respeito do estranhamento entre os dois campos. Segundo Daston, os Science Studies se recusavam a aceitar a doutrina científica atual e concebiam as ideias de verdade e falsidade das proposições como insuficientes para sua aceitação. Além disso, eles achavam que uma explicação para ser completa deveria levar em consideração aspectos sociais, políticos e cognitivos. O motivo do distanciamento dos Sciences Studies com relação à História das Ciências foi a transparência dos relatos dos cientistas. Por meio de uma discussão pormenorizada sobre como os historiadores da ciência viam a ciência atual, Daston evidencia que eles eram menos desconfiados no que diz respeito às verdades e às falsidades das proposições, embora fossem extremamente descrentes quanto às narrativas da ciência do passado em relação à ciência presente. De acordo com Daston, talvez o principal motivo que levou ao distanciamento dos Science Studies da História das Ciências na década de 1990 tenha sido o debate acerca da “contextualização da ciência”. Enquanto o primeiro campo levantava a bandeira da “ciência em contexto” e contribuía para o fim da autonomia da ciência no que concerne à sociedade, o segundo campo também hasteava essa bandeira, mas explorava de forma mais detida o contexto histórico e trabalhava para sua ampliação e aprofundamento, incorporando novos conceitos, categorias e práticas das ciências sociais e, principalmente, da história.
No artigo 7 da obra Historicidade e objetividade, intitulado “Objetividade e imparcialidade: virtudes epistêmicas nas humanidades”, encontramos a desmistificação das relações entre as humanidades e as ciências que, por mais de um século, foram marcadas pelas oposições “Geistes versus Naturwissenschaften, ideográficas versus nomotéticas, interpretativas versus exploratórias, orientadas para o passado versus orientadas para o futuro” (p. 127). De acordo com Daston, desde pelo menos o século XVI, as humanidades e as ciências compartilham “métodos, instituições, ideias e virtudes epistêmicas” (p. 127). Imparcialidade e objetividade são duas das virtudes epistêmicas amplamente compartilhadas no século XIX2. Começando com uma sentença lapidar do jovem Nietzsche em sua II Consideração extemporânea: “Objetividade e justiça não tem nada a ver uma com a outra” (Nietzsche, 2017, p. 90), Daston apresenta-nos a crítica que o filósofo fez aos valores da imparcialidade e da objetividade, assim como aos estabelecimentos de ensino de seu tempo que supervalorizaram tais virtudes epistêmicas e as trouxeram para as humanidades. Segundo a autora, quando a história se tornou uma ciência empírica no século XIX, esses valores entraram em concussão e Nietzsche foi quem melhor percebeu os choques. O objetivo de Daston, nesse texto, é mostrar que os valores da imparcialidade e objetividade têm histórias próprias e precisam ser problematizadas.
Assim, Daston faz um esboço dos objetivos da imparcialidade e da objetividade na história, evidenciando como a imparcialidade foi difundida e praticada por historiadores ao longo dos séculos XVIII e XIX, especialmente em favor de uma história dos estados-nação. A autora assinala que, no século XVIII, a história consistia em narrativas dos eventos e das vidas dos grandes homens apresentadas como exemplos para formação do julgamento e do caráter do leitor. Nesse modelo de história, a imparcialidade não significava neutralidade de valor por parte do historiador, mas sim não tomada de partido de nenhuma das partes envolvidas na história – não engajamento político –, com objetivo de alcançar conclusões sólidas acerca de guerras e conflitos políticos do passado. Assim, por exemplo, Leopold von Ranke é um dos mais importantes historiadores associados a essa doutrina da imparcialidade. Heinrich von Sybel e Georg Gervinius, posteriormente, criticaram Ranke por sua imparcialidade e neutralidade. O jovem Nietzsche também teceu duras críticas ao historiador prussiano por sua imparcialidade e autoimposta “objetividade de eunuco”.
A sequência do texto 7 apresenta as técnicas da objetividade aplicadas à história, bem como certos aspectos do historiador objetivo. No centro do sentido de objetividade dos historiadores do século XIX está “o forte sentimento de restrição científica” (p. 133), que julgava até que ponto a evidência em mãos poderia ir. Daston constata que tanto os métodos e as técnicas da crítica histórica quanto certas atitudes objetivas do historiador diante de seu objeto assentam- se na polêmica entre filólogos clássicos e historiadores da antiguidade a respeito das declarações metodológicas de Tucídides em seus discursos. Segundo Daston, as duas principais questões que mobilizaram os estudos acadêmicos sobre Tucídides foram estas: “primeiro, em que medida o próprio Tucídides estava conscientemente aspirando ao padrão de história objetiva?; segundo, ele se manteve fiel a esse padrão, especialmente ao relatar discursos?” (p. 136). A autora explica que as palavras objetividade e subjetividade são produtos de meados do século XIX, logo a importação desses termos para as análises da obra e do método histórico de Tucídides é um equívoco. Daston recupera ainda a crítica de Nietzsche à religião ascética da objetividade que dominou e formatou os historiadores no século XIX. A autora está preocupada em entender como, em tão pouco tempo, o valor da objetividade se tornou uma virtude superestimada entre os historiadores. Nietzsche é a chave interpretativa para essa questão. O filósofo alemão farejou no culto da objetividade um ar de “autoengano”, “superstição” e “mitologia”, uma falsa religião e uma falsa fé. Nietzsche encarava a religião da objetividade e seus sectários como um verdadeiro problema, porque tal religião pregava a autorrestrição, o autossacrifício e exalava um odor desagradável de ascetismo que rapidamente se espalhara pelas instituições de ensino da Alemanha de seu tempo.
Por meio da exposição sistemática dos sete artigos que integram a obra Historicidade e objetividade, concluímos que Lorraine Daston compreende a objetividade de forma distinta daquela comumente compartilhada pelas doutrinas objetivistas, que associam à postura objetivista a ideia de que é possível “ver os fatos como eles realmente são”, isto é, conhecer a realidade em si e por si mesma. Daston consegue distanciar-se dessa tendência ao inserir a objetividade em uma perspectiva histórica, em um modo por meio do qual a objetividade não pode ser vista desvinculada de uma interpretação pluralista e multiforme da realidade. Nos sete artigos que constam nessa coletânea, interessa a Daston principalmente dissociar a objetividade – na área da História das Ciências, em particular – de concepções que a tomam como um dado a-histórico. Nesse sentido, no programa epistemológico dastoniano, à noção de objetividade é adicionada uma faceta interpretativa, já que a sua epistemologia histórica se relaciona à história das ideias e das práticas, dos afetos e das emoções, da moral e dos valores. Assim, Daston demonstra que a objetividade da ciência é tanto mais histórica quanto mais ela se mostrar relacionada aos muitos pontos de vista e às interpretações humanas.
Dessa maneira, consideramos essa obra como uma importante contribuição não só para os estudos pertinentes à historiografia, história, filosofia e sociologia das ciências e relacionados à historiografia, filosofia e teoria da história, mas também para clareamento de questões que envolvem o complexo e multifacetado conceito de objetividade científica, abrindo e iluminando o caminho para outras pesquisas, discussões e questionamentos sobre esse tema.
Referências
ALMEIDA, T.; IEGELSKI, F. 2017. História das Ciências, Teoria da História e História Intelectual. In: L. DASTON. Historicidade e objetividade. Tradução: Derley Menezes Alves e Francine Iegelski (org. Tiago Santos Almeida). São Paulo, LiberArs, p. 11-14.
DASTON, L.; GALISON, P. 2007. Objectivity. New York, Zone Books, 501 p.
DASTON, L. 2016. The Truth in the Leaves. Max Planck Research.
ViewPoint_History of Science. Berlin, 26 Apr., p. 10-15. Disponível em: https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/content/daston. Acesso em: 18/05/2018.
NIETZSCHE, F. 2017. Segunda consideração extemporânea: Sobre a utilidade e a desvantagem da História para a vida. Organização e tradução: André Itaparica. São Paulo, Hedra, p. 29-146.
Notas
2 A título de esclarecimento, a escolha dos sete artigos que integram a obra em análise não foi feita por Lorraine Daston, mas pelo historiador brasileiro Tiago Santos Almeida. No prefácio, Daston explica que os sete títulos agrupados na coletânea foram escritos em diferentes momentos de sua trajetória intelectual e profissional e que alguns deles não trazem respostas satisfatórias a uma série de desconfortos teóricos e interpretativos suscitados pelo problema da objetividade nas ciências. No entanto, exatamente por essa razão, ela espera que os leitores brasileiros compreendam cada artigo como evidência de uma mente em ação, que se esforça para entender aspectos da história do conceito de objetividade científica.
2 Sobre a certeza, a precisão, a verdade e a objetividade como virtudes epistêmicas fundamentais da ciência, como características particulares que definem a identidade da ciência e a prática científica, ver também Daston (2016).
Raylane Marques Sousa – Universidade de Brasília. Programa de Pós-Graduação em História. Campus Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências, Norte, Bloco A, Subsolo (ASS 679-690), 70910-900, Brasília, DF, Brasil.
História e narrativa: a ciência e a arte da escrita histórica – MALERBA (PL)
Em História e narrativa: a ciência e a arte na escrita histórica, Jurandir Malerba, professor da UFRGS, reúne textos de importantes pesquisadores, filiados a diferentes áreas das Ciências Humanas, cuja temática nos convida a refletir em que medida a história se aproxima de um discurso científico e/ou artístico.
Resultado de uma disciplina ofertada no Programa de Pós-graduação em História da PUC-RS, o livro tem o mérito de trazer ao público que compartilha a língua portuguesa a tradução de estudos seminais para o campo da narrativa histórica, além de textos inéditos ou reeditados que evidenciam o reconhecimento e a competência de pesquisas produzidas por brasileiros no campo da teoria da história. Leia Mais
What is Global History?
Um dos temas mais discutidos nos departamentos de humanidades ultimamente é a História Global. Nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxão em geral, tem havido uma proliferação de trabalhos que procuram adotar a história global seja como uma perspectiva, seja como um objeto de estudo. Centros de pesquisa como o Center for Global history na Universidade de Oxford, o Institute for Global and Transnational History na Universidade de Shandong (China) e o centro para História global da Freie Universitat Berlin; publicações como o Global History Journal e o New Global Studies Journal [1] e ainda redes de pesquisadores tal qual a Global History Collaborative e a European Network in Universal and Global History demonstram o crescente interesse pela temática que aqui tratamos [2].
Para o historiador Sebastian Conrad, a História global nasceu da convicção de que os instrumentos que os historiadores vinham utilizando para explicar o passado já não eram mais suficientes. Há duas razões para isso, dois pecados originais das ciências humanas que foram formadas no século XIX. Primeiro, elas foram fundadas a partir de uma ideia de estado-nação, de um “nacionalismo metodológico”, isto é, uma tendência a considerar o Estado-Nação como unidade fundamental de análise. E o segundo pecado original seria o eurocentrismo, ou seja, a tendência das ciências humanas de ver a Europa como o motor da história mundial.
No entanto, não é possível dizer que os historiadores globais foram os primeiros a reagirem a essas limitações. Modelos de História-Mundo já existiam desde Heródoto, Sima Qian e Ibn Khaldun, pois eles produziram narrativas que pensavam a história de seus próprios povos mas também a de outros, mesmo que fossem para constratar civilização com barbárie. Mais recentemente, a História comparada, as teorias de sistema-mundo e os estudos pós-coloniais já desafiavam a compartimentalização arbitrária do passado.
Assim, se temos consciência das origens remotas das formas de pensar globalmente o passado, resta saber o que distingue a Global History dessas outras abordagens? O que, afinal, é a História Global? Essa é a questão que o livro de Sebastian Conrad busca responder.
Sebastian Conrad é professor de História na Freie Universität Berlin, interessado em abordagens de História global e transnacional, em História da Europa Ocidental, da Alemanha e do Japão. Outras publicações conhecidas suas são German Colonialism: A Short History e Globalisation and the Nation in Imperial Germany. Desde 2006, ao menos, o autor vêm publicando artigos, capítulos e livros de cunho teórico-metodológico sobre História global, como o que aqui tratamos, What is Global History?.
No primeiro e introdutório capítulo deste livro, o autor contextualiza brevemente o surgimento dessa abordagem, afinal, provavelmente não haveria História global sem globalização, e disserta sobre o por quê a maneira como os historiadores reconstrõem o passado está mudando, na medida da crescente integração do mundo presente. Além disso, ele aponta três variedades de História Global, a ver: História de Tudo, História das Conexões e História baseada no conceito de Integração.
Na sequência, em “A short history of thinking globally”, ele reconstitui a trajetória das formas de pensar a história para além das fronteiras nacionais, desde as narrativas ecumênicas na Antiguidade e Idade Média, na Época Moderna, a partir da hegemonia ocidental no século XIX, chegando até a World History do Pós-Guerra.
No terceiro capítulo, Conrad mostra como diferentes abordagens mais recentes contribuiram para construir visões do passado que ultrapassam a fronteira do Estado-Nação. Uma delas, a História Comparada, que busca olhar para similitudes e diferenças entre dois ou mais casos, bem como estabelecer conexões entre eles sempre que possível. Ainda, há a História Transnacional, surgida na década de 90, e que pode ser considerada uma mãe da Global History, pois já procurava abertamente transcender a o Estado-Nação. Adicionamos a teoria dos sistemas-mundo que não busca ver a nação, mas blocos regionais e sistemas como unidades primeiras de análise, enfatizando a integração de mercados (economia-mundo) e a integração política em extensos territórios (império-mundo). E, enfim, os estudos pós-coloniais e as modernidades múltiplas que contribuiram, cada um a sua maneira, para crítica ao eurocentrismo.
No capítulo 4, Sebastian Conrad finalmente oferece ao leitor uma definição de História Global enquanto uma perspectiva particular, distinta dos estudos pós-coloniais, da História Comparada e das modernidades múltiplas. Para ele, há um foco nos contatos e interações que marcam os trabalhos dessa corrente. A palavra-chave mais associada a essa linha é a “conexão”, porém a busca por redes e nexos globais não é suficiente para delimitar o que é História global. A Global History, além disso, explora espacialidades alternativas (parte de uma “spatial turn”), busca entender unidades históricas (civilização, nação, família, etc) sempre em relação a outras e é crítica, ou pelo menos auto-reflexiva, quanto à questão do eurocentrismo. No mais, os historiadores globais se distinguem pelo exame de transformações estruturais em larga escala e pela tentativa de rastrear cadeias causais a nível global. Essas são algumas mudança heurísticas que marcam a passagem dos antigos modelos de História-mundo para a atual História Global.
No quinto capítulo, o autor trata da relação entre História e integração global. Deve-se lembrar que História Global não é uma história da globalização, mas a integração global é o contexto em que o historiador, com essa perspectiva, trabalhará. Obviamente, o impacto das conexões a serem estudadas depende do grau de integração de sua época.
Na parte seguinte, Conrad disserta, em dois capítulos, a respeito do espaço e do tempo. Em primeiro lugar, existem algumas espacialidades privilegiadas para historiadores globais. Os oceanos, por exemplo, permitiram interconexões econômicas, políticas e culturais por toda história humana e as redes, enquanto partes amplas de estruturas de poder, são objetos comuns nesses estudos. Mas nem sempre história global quer dizer narrativas planetárias, é possível fazer uma micro- história do global, se quisermos olhar como processos amplos se manifestam localmente. Dessa maneira, uma consequência imediata de se transcender as fronteiras nacionais é ter que adotar uma outra periodização, é preciso periodizar o passado não só localmente, como também globalmente.
Nos três últimos capítulos, o autor se debruça sobre a questão dos “lugares de fala”, ao observar que, mesmo que historiadores queiram contar uma história global, eles sempre o fazem de uma origem geográfica em particular. Além disso, ele mergulha na noção de “world-making” do filósofo Nelson Goodman. E conclui, num dos capítulos mais interessantes do livro, fazendo uma sociologia da Global History, ponderando os seus impactos políticos, seus desafios e horizontes.
Um dos méritos do trabalho de Sebastian Conrad é encontrar a originalidade de cada abordagem que ele trata, sem perder de vista as semelhanças entre cada uma delas. Como é comum nos bons trabalhos de historiografia e História intelectual, ele consegue estabelecer a relação entre os objetivos de cada escolha metodológica (seu programa) e seus resultados nas obras mais representativas de cada uma, às vezes lançando mão de críticas e apontando os limites de algumas perspectivas.
Ademais, Conrad faz um percurso que coloca a História Global ao lado de suas antecessoras, a insere em seu contexto acadêmico e político e a distingue de outras correntes históricas também avessas ao “nacionalismo metodológico”. Neste sentido, podemos dizer que o autor responde a pergunta do livro “ O que é História Global?” tanto diacronicamente, ao investigar as raízes da Global History até as narrativas ecumênicas de Heródoto e de outros, bem como sincronicamente, ao destaca-la de outras formas contemporâneas de narrativas transnacionais.
Por fim, o autor considera e analisa as diferente maneiras de se fazer História Global, na longa e curta duração, na ampla e pequena espacialidade. Ele enxerga a Global History não como uma tentativa de se fazer uma história de tudo, em escala planetária, mas como um perspectiva que não necessariamente exclui outras abordagens históricas como a marxista, a micro- história, os estudos pós-coloniais, etc. Justamente por ser um paradigma abrangente, talvez a História Global possa se consolidar nos meios acadêmicos do Brasil e do mundo. Como Conrad afirmou em tom otimista no final de seu livro: “O gradual desaparecimento da retórica do global irá então, paradoxalmente, assinalar a vitória da História Global como um paradigma” (p.235).
Notas
1. Além disso, revistas importantes como a American Historical Review e a Past & Present têm cada vez mais publicado artigos nesse campo.
2. Nos Estados Unidos, por exemplo, a História global vem respondendo a demandas de inclusão étnica no âmbito do ensino de História tanto nos níveis escolares quanto no superior. As tentativas (nem sempre sem reações) de substituição de cursos de “Civilização Ocidental” e “História dos Estados Unidos” por cursos de “História Global” vão no sentido de construir narrativas que dêem voz a todo o conjunto de imigrantes que construiram o país. Para um panorama desse debate, ver: ÁVILA, A. L. “A quem pertence o passado norte-americano?: A controvérsia sobre os National History Standards nos Estados Unidos (1994-1996)”, Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 41, p.29-53, jul. 2015.
Filipe Robles – Graduando em História pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: filiperobles@id.uff.br
CONRAD, Sebastian. What is Global History? Princeton: Princeton University Press, 2016. Resenha de: ROBLES, Filipe. Escrevendo e pensando a História globalmente. Cantareira. Niterói, n.28, p. 235-237, jan./jun., 2018. Acessar publicação original [DR]
Teoria da história: uma teoria da história como ciência | Jörn Rüsen
RÜSEN, Jörn. Teoria da história: uma teoria da história como ciência. Tradução de Estevão C. de Rezende Martins., Curitiba: Editora UFPR, 2015. Resenha de: REIS, Aaron. Rüsen e a Teoria da História como ciência. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
Em Teoria da história: uma teoria da história como ciência, o professor emérito da Universidade de Witten-Herdecke (Alemanha) Jörn Rüsen retoma um conjunto de reflexões que, no Brasil, ficou conhecido a partir da trilogia Razão histórica (2001), Reconstrução do passado (2007) e História viva (2007). Na mais recente obra, traduzida para o português por Estevão Chaves de Rezende Martins – professor do Departamento de História da Universidade de Brasília -, o filósofo da história propõe uma revisão de sua teoria, publicada originalmente na década de 1980. Nela, reconhece o pesquisador, não foi possível considerar todo o debate “relevante” e necessário para uma “inovação” de suas ideias. Porém, ao recorrer aos seus próprios trabalhos – aqueles que originaram a trilogia e, também, produções posteriores -, Rüsen nos oferece uma síntese do que há de mais importante e atual em sua obra. Leia Mais
Hinduism & Its Sense of History – SCHARMA (RMA)
SHARMA, Arvind. Hinduism & Its Sense of History. New Delhi: Oxford University Press, 2003. 134p. Resenha de: CARVALHO, Matheus Landau de. Teoria e metodologia do tempo na Índia: o pensamento hindu sobre a História. Revista Mundo Antigo, v.5, n.11, dez., 2016.
Publicado pela Oxford University Press em 2003, Hinduism & Its Sense of History é uma obra do historiador indiano Arvind Sharma dividida em quatro partes dedicadas à teoria e metodologia da história da Índia. Calcado em uma ampla gama de fontes primárias e secundárias de caráter historiográfico, religioso, linguístico e filosófico, Sharma avalia a afirmação recorrente há séculos de que os hindus como um povo e o Hinduísmo como uma tradição religiosa plural não possuem um senso de história suficiente. Leia Mais
Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico – AURELL et al (S-RH)
AURELL, Jaume; BALMACEDA, Catalina; BURKE, Peter; SOZA, Felipe. Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico. Madrid: Ediciones Akal, 2013, 494 p. SILVA, Wilton Carlos Lima da. Outras palavras: sobre manuais e historiografias¹. SÆCULUM – REVISTA DE HISTÓRIA [34]; João Pessoa, jan./jun. 2016.v
Entre minhas aventuras recentes se inclui uma tentativa de praticar exercícios e alongamentos através de aulas de Pilates, que resultaram ao mesmo tempo em uma rápida melhoria de minhas condições físicas de homem obeso e sedentário ao custo de algumas pequenas dores musculares e certas sequelas em minha autoestima – se a traição amorosa dói, no entanto pode ser relativizada pelas minhas particularidade e as do objeto do meu desejo, já a percepção de que seu próprio corpo está lhe traindo e que isso acontece porque somente você é o responsável dói o dobro. No entanto, em meio ao desconforto pela constatação de minhas limitações físicas e certo orgulho pela persistência estoica naquela atividade que expunha de forma inquestionável uma de minhas muitas limitações, uma sobrinha, que é fisioterapeuta, me consolou: “Pilates é assim. Se está fácil é porque você não está fazendo direito!”. Ensinar história, particularmente na universidade, é um desafio de mesma natureza e que poderia ser descrito de forma bastante semelhante – quando é feito de forma simples e fácil é porque não está sendo bem feito. A tensão entre as exigências de uma boa formação, as limitações de tempo e de recursos para a construção de um bom curso, os diferentes níveis de envolvimento e cognição dos alunos, a intensa e extensa produção historiográfica contemporânea, a acessibilidade limitada aos textos, as dificuldades de intercâmbios intelectuais, as tendências corporativas e de endogêneses teórico-metodológicas, a crescente especialização do trabalho docente, entre outros aspectos do ensino universitário, tornam o surgimento de bons manuais algo extremamente necessário e positivo. No caso brasileiro, o destaque confirmado pelas seguidas edições de Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia3, de 1997, e o surgimento de Novos domínios da História4, em 2012, ambos manuais organizados por Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas, entre outros exemplos possíveis, demonstra a importância desse tipo de publicação enquanto ferramenta de trabalho para professores e pesquisadores. Publicações semelhantes em outros idiomas oferecem uma vantagem a mais, além do mapeamento e da ordenação de natureza didática e expositiva de um campo amplo e múltiplo que qualquer historiografia dinâmica apresenta, a possibilidade do reconhecimento de convergências e divergências temáticas e teórico-metodológicas são um ganho difícil de desprezar. Nesse sentido, Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico é um livro com quatro autores, de três países distintos e diferentes especialidades, o que se traduz em um panorama historiográfico rico e diferenciado5. A ambição de se oferecer uma história da historiografia, pelo menos em língua inglesa, tem outros respeitáveis representantes recentes em distintas tradições intelectuais, como A History of Histories: epics, chronicles, romances and inquiries from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century (2007), um alentado volume de 553 páginas do historiador inglês John Burrow6, A global History of History (2011), outro volumoso livro, de 605 páginas, do professor anglo-canadense Daniel Woolf7, ou The Oxford History of historical writing (2011-2012) que é uma obra coletiva, em cinco volumes, que envolve uma infinidade de autores e editores distintos por volume8. Embora todas as três tenham méritos indiscutíveis nenhuma delas está livre de algumas críticas e questionamentos. O historiador inglês Keith Thomas fez uma elogiosa resenha do livro de Burrow, professor emérito de Oxford, na qual reconhece no autor, uma das maiores autoridades sobre a história intelectual dos séculos XVIII e XIX e, na obra, o resultado de um enorme esforço de erudição, com texto um muito agradável e repleto de observações agudas9.
Embora também assinale a existência de alguns pequenos equívocos só perceptíveis por especialistas, como por exemplo, a inclusão de somente duas mulheres entre os historiadores dignos de nota (Anna Commena, um princesa bizantina do século XII, e Natalie Zemon Davis, a autora norte-americana de O retorno de Martin Guerre10) ou seu escopo de análise limitado a historiadores da Europa e da América do Norte (particularmente os que escreveram em inglês ou estão disponíveis em tradução). Por sua vez o livro de Woolf, que já havia organizado A global Encyclopedia of historical writing11, de 1998, impressiona pela combinação de uma significativa erudição com um estilo agradável e didático, utilizando-se de mútuas referências entre textos e imagens, em um esforço de apresentação de uma abordagem claramente desvinculada da perspectiva eurocêntrica, e que em busca de uma perspectiva verdadeiramente global, ao longo de seus nove capítulos, valoriza escritos históricos da América do Sul, Coréia, Tailândia, Islândia, Tibete e Pérsia ao lado de outros da Antiguidade Greco-Romana, do Renascimento e do Iluminismo no Ocidente. Os dois últimos capítulos, inclusive, intitulados respectivamente “Clio’s empire: European historiography in Asia, the Americas and Africa” e “Babel’s tower: history in the Twentieth Century”, trazem duas questões extremamente interessantes: a questão da força e influência dos modelos intelectuais europeus na historiografia não europeia e a poliglosia do discurso historiográfico contemporâneo. Curiosamente, talvez como sintoma de nosso isolamento intelectual, quer pela questão idiomática quer por limitações da produção local, nas dezesseis páginas do índice onomástico da edição em inglês não existe nenhuma referência sobre a historiografia brasileira. Finalmente, a extensa obra financiada por Oxford tem uma clara preocupação em afirmar tanto a excelência acadêmica de sua equipe internacional de estudiosos quanto a ênfase na diversidade cultural. O volume 1, com 672 páginas, é organizado por Andrew Feldherr12 e Grant Hardy13, oferecendo ensaios de diversos autores sobre o desenvolvimento da escrita histórica a partir do antigo Oriente Próximo, da Grécia clássica, Roma, e do Leste e Sul da Ásia desde as suas origens até 600 d.C. O volume 2, também com 672 páginas, sob coordenação de Sarah Foot14 e Chase F. Robinson15 reúne vinte e oito especialistas que buscam apresentar a diversidade da escrita da história na Europa e na Ásia entre 400-1400, realçando tanto características regionais e culturais quanto abordagens temáticas e comparativas sobre gênero, guerra e religião, entre outros aspectos, que se fazem nos trabalhos de historiadores do período delimitado. O volume 3, com 752 páginas, é organizado por quatro especialistas, o argentino Jose Rabasa16, o japonês Masayuki Sato17, o italiano Edoardo Tortarolo18, e o canadense, já citado, Daniel Woolf19, abordando o período entre 1400 e 1800, em ordem geográfica de leste a oeste, da Ásia as Américas, com as principais contribuições da escrita da história no período. O volume 4, com 688 páginas e organizado pelo australiano Stuart MacIntyre20, Juan Maiguashca21 e Attila Pok22, apresenta ensaios sobre a historiografia no mundo entre 1800 e 1945, abordando um leque de culturas e países que se estende do pensamento histórico e da erudição europeia passando por Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, México, Brasil e América do Sul espanhola, além de China, Japão, Índia, Sudeste da Ásia, Turquia, o mundo árabe e da África Subsaariana. Finalmente, o último volume, de número 5, com 744 páginas e organizado pelo sinólogo Axel Schneider23 e pelo canadense Daniel Woolf, que também participou da organização de um dos volumes anteriores, apresenta um arco temporal que se estende de 1945 até os dias atuais, discutindo distintas abordagens teóricas e interdisciplinares para a história assim como buscando demarcar particularidades e similitudes entre historiografias nacionais e regionais. O diferencial de Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico, em contraste com as obras anteriormente citadas, segundo seus próprios autores, é que o time de quatro pesquisadores permite superar as limitações de formação de um único especialista (o caso dos trabalhos de Burrow e Woolf) ao mesmo tempo em que o número relativamente reduzido de colaboradores permite a articulação do texto enquanto um panorama mais articulado e menos semelhante a um jogral com temas estanques – o caso do manual de Oxford –, resultando em uma combinação específica de volume informacional e inteligibilidade do quadro panorâmico. A famosa frase de Gaston Bachelard, que compara o conhecimento a uma fraca lanterna que é utilizada para iluminar um grande sótão, de modo que iluminar um dos cantos do aposento é deixar boa parte dele na escuridão, é uma imagem recorrente para descrever toda obra de síntese. Assim como os três textos referenciados anteriormente apresentam problemas e soluções para o pesquisador ou docente interessado em ampliar ou compartilhar seus conhecimentos em uma perspectiva global da produção historiográfica, o mesmo se percebe no volume de Aurell, Balmaceda, Burke e Soza.
Esse trabalho, inclusive, apresenta mais duas particularidades, uma de dimensão geracional, pois Burke pode facilmente ser reconhecido como um autor consolidado em termos de tempo, extensão da obra e diversidade de temas, Aurell e Balmacera seriam autores de produção mais recente, com obras bem referenciadas, mas que ainda estão se constituindo, e Soza é um jovem pesquisador, e o foco linguístico cultural, pois o historiador inglês, casado com uma brasileira, tem tanto familiaridade com a tradição intelectual de língua inglesa e francesa, como também em português, e os demais autores, enquanto conhecem a historiografia europeia, também transitam pela produção de língua espanhola – entre outros aspectos isso permitiu, em contraste com algumas das obras citadas, que a produção espanhola e portuguesa aparecesse desde de a Idade Média e houvesse um capítulo específico sobre a América Latina (assim como outros dois sobre a historiografia chinesa e a árabe). O esforço em resgatar a prática da cultura historiográfica enquanto rede de relações que envolve produtores do conhecimento, seus receptores e os mecanismos de conservação e divulgação aproxima a estrutura do trabalho da obra clássica da história da literaturas Mimésis24 (1946), de Erich Auerbach, na qual a apresentação do cânone divide espaço com o incentivo a descoberta e a busca dos originais. Para isso, ao final de cada capítulo há um conjunto de indicações bibliográficas e comentários sobre as principais tendências teórico-metodológicas, os autores e as obras mais representativas de cada período. Em termos estruturais, os dois primeiros capítulos, sobre a antiguidade greco-romana (p. 09-94) ficam a cargo de Catalina Balmaceda; o terceiro capítulo, do período medieval (p. 95-142), é abordado por Jaume Aurell; os capítulos 4º, do Renascimento e a Ilustração (p. 143-182), e 5º, sobre historiografia islâmica e chinesa (p. 183-198), são escritos por Peter Burke; o 6º, sobre historicismo, romanticismo e positivismo (p. 199-236), o 7º, sobre a transição do século XIX ao XX (p. 237-286) e o 8º, sobre o giro linguístico e as histórias alternativas (p. 287- 340), são tratados por Jaume Aurell e Peter Burke; enquanto que o 9º e último capítulo (p. 341-437), sobre historiografia latino-americana, é assinado por Felipe Soza25. Além da oportunidade de entrar em contato com características das obras de autores pouco conhecidos na tradição intelectual brasileira, como os árabes Ibn Khaldun e Mustafa Naima, os chineses Sima Qian e Ouyang Xiu ou o indiano Ranajit Guha, o livro destaca-se pela síntese rica e ampla sobre a historiografia latino americana. Em geral os manuais enfrentam o desafio de equilibrarem-se entre a representação da extensão de um conhecimento sobre o qual se projetam e a síntese didática e acessível de um vasto campo de conhecimento, buscando oferecer um que o detalhismo do especialista. Com certeza todos os trabalhos aqui citados, e em especial, pelas particularidades anteriormente expressas, o livro Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico cumpre de forma exemplar tais ambições, merecendo inclusive uma tradução para o português. Quem ler, comprovará.
Notas
1 Este texto é resultado de um estágio de pesquisa realizado na Universidade de Sevilha, Espanha, entre janeiro e fevereiro de 2016, com bolsa do Programa de Movilidad de Profesores e Investigadores Brasil-España, da Fundación Carolina.
3 CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
4 CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Novos domínios da História. Rio de Janeiro: Campus; Elsevier, 2012.
5 Jaume Aurell é Professor Titular de Historia Medieval e Teoria da História na Universidade de Navarra, Espanha; Catalina Balmaceda, professora de Historia Clássica do Instituto de Historia da Pontifícia Universidade Católica, Chile; Peter Burke, professor emérito da Universidade de Cambridge, Inglaterra; e Felipe Soza, professor adjunto do Instituto de Historia da Pontifícia Universidade Católica, Chile.
6 A obra foi traduzida para o português. Ver: BURROW, John. Uma História das Histórias: de Heródoto e Tucídides ao século XX. Tradução de Nana Vaz de Castro. Rio de Janeiro: Record, 2013.
7 A obra foi traduzida para o português. Ver: WOOLF, Daniel. Uma História global da História. Tradução de Caesar Souza. Petrópolis: Vozes, 2014.
8 FELDHERR, Andrew & HARDY, Grant (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 1: beginnings to AD 600. Oxford: Oxford University Press, 2011. FOOT, Sarah & ROBINSON, Chase F. (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 2: 400-1400. Oxford: Oxford University Press, 2011. RABASA, José; SATO, Masayuki; TORTAROLO, Edoardo & WOOLF, Daniel (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 3: 1400-1800. Oxford: Oxford University Press, 2011. MacINTYRE, Stuart; MAIGUASHCA, Juan & POK, Attila (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 4: 1800-1945. Oxford: Oxford University Press, 2011. SCHNEIDER, Axel & WOOLF, Daniel (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 5: historical writing since 1945. Oxford: Oxford University Press, 2012.
9 THOMAS, Keith. “Mapping the world – a History of Histories: epics, chronicles, romances and inquiries, from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century”. The Guardian, Londres, 15 dez. 2007. Disponível em: <http://www.theguardian.com/>. Acesso em: 20 out. 2015.
10 DAVIS, Natalie Zemon. O retorno de Martin Guerre. Tradução de Denise Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
11 WOOLF, Daniel (org.). A global ecyclopedia of historical writing. Londres: Taylor & Francis; Nova York: Routledge, 1998.
12 Professor de Antiguidade Clássica na Universidade de Princenton, EUA.
13 Professor da História de Religiões na Universidade da Carolina do Norte, EUA.
14 Professora de História das Religiões na Universidade de Oxford, Reino Unido.
15 Professor da Universidade de Nova York, especializado em História islâmica.
16 Professor da Universidade de Harvard, EUA, especialista em literatura e estudos pós-coloniais. 17 Professor da área de Teoria da História e Historiografia da Universidade Yamanashi, Kyoto, Japão. 18 Professor de História Moderna e de Historiografia da Universidade de Turim, Itália. 19 Professor da Queen’s University, Kingston, Canadá. 20 Professor da Universidade de Melbourne, Austrália. 21 Professor especialista em História da América Latina da Universidade de York, Toronto, Canadá. 22 Professor da Academia Húngara de Ciências, Budapeste, Hungria. 23 Professor da Universidade de Gottingen, Alemanha.
24 AUERBACH, Erich. Mimésis: a representação da realidade na Literatura Ocidental. Tradução de G. B. Sperber. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2015. 25 Sobre História e historiografia da/na América Latina, ver também: MAIGUASHCA, Juan. “História marxista latino-americana: nascimento, queda e ressurreição”. Almanack, São Paulo, UNIFESP, n. 7, mai. 2014, p. 95-116. Disponível em: <http://www.almanack.unifesp.br/>. Acesso em: 21 out. 2015.
Wilton Carlos Lima da Silva – Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Assis. Professor Livre-Docente do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP Assis. Coordenador do MEMENTO – Grupo de Pesquisa de Memórias, Trajetórias e Biografias (UNESP Assis/ Diretório CNPq). E-Mail: <wilton@ assis.unesp.br>.
https://periodicos.ufpb.br/index.php/srh/article/download/29242/15841
[MLPDB]Estratos do tempo: estudos sobre história – KOSELLECK (HP)
KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo: estudos sobre história. Tradução de Markus Hediger. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora PUC-Rio, 2014. 352 p. Resenha de: HRUBY, Hugo. A complexidade do tempo histórico. História & Perspectivas, Uberlândia, v. 29, n. 54, 2 ago. 2016.
Provas de Liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação – SCOTT; HÉBRARD (RETHH)
SCOTT, Rebecca J. & HÉBRARD, Jean M. Provas de Liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação. Tradução: Vera Joscelyne. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2014. Resenha de: GESSER, Ana Carolina. Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação. Revista Expedições: Teoria da História e Historiografia, n. 2 – AGOSTO-DEZEMBRO de 2016.
A obra Provas de Liberdade: uma odisséia atlântica na era da emancipação, publicado em 2014 pela editora Unicamp, é o livro mais recente de Rebecca J. Scott, na qual divide a coautoria com Jean M. Hébrard. Através de 295 páginas, este livro compõe-se de um mapa de rotas atlânticas, uma genealogia esquemática da família Vincent/Tinchant, prólogo, nove capítulos, epílogo e um caderno de imagens.
Rebecca Scott é professora de História de Direito na Universidade de Michigan, na qual leciona o curso de direitos civis e fronteiras da cidadania sob uma perspectiva histórica. Suas discussões pautam-se em discutir a legislação diante da escravidão e da liberdade. Jean M. Hébrard é professor visitante na Universidade de Michigan, cujas aulas e seminários estão relacionadas a história social e cultural das sociedades escravistas e pós escravistas do mundo atlântico.
Os autores iniciam o prólogo de Provas de Liberdade, citando uma carta enviada por Edouard Tinchant, um comerciante de charutos de Antuérpia, no ano de 1899, ao general Gómez.
No conteúdo da carta, Edouard pedia ao general que o autorizasse a utilizar o nome de Gomez para a marca de seus artigos. A citação da carta foi proposital, pois esta fonte permitiu que os autores pudessem chamar a atenção para aspectos reveladores da política e da identidade de Tinchant: a alusão das origens haitianas de Edouard para convencer o general, ao estabelecimento de seus pais na Louisiana e a justificativa dos motivos pelos quais seus pais decidiram se mudar para a França, e a insinuação acerca de “leis abomináveis” e “preconceito ignorante” como motivadores dessa migração.
É inegável o especial interesse dos pesquisadores por esta carta, pois, ela retratava um mundo atlântico em que várias lutas sobre raça e direitos estavam entrelaçadas, e no quais idéias e conceitos eram intercambiados (SCOTT, HÉBRARD, 2014). Tantas ligações os levaram a questionar sobre a própria abrangência dela. O que poderia este documento apresentar em termos de uma coesão, como a personificação de uma conexão entre as três maiores lutas antirracistas do século XIX: a Revolução Haitiana, a Guerra Civil, a Reconstrução dos Estados Unidos e a Guerra Cubana pela independência? Para responder essa questão ambiciosa, os autores seguiram os rastros do itinerário da família de Edouard Tinchant, através de registros mantidos por padres tabeliães, oficiais e recenseadores oficiais de diversos lugares. A prática investigativa levou então, os pesquisadores a todos os lugares pela qual essa família passou: começou na Senegâmbia (Senegal), foi para Saint Domingue (Haiti) no final do século XVIII, continuou até Santiago de Cuba (Cuba), Nova Orleans (Estados Unidos), Porto Príncipe (Haiti), Pau (França), Paris (França), Antuérpia (Bélgica), Veracruz (México) e Mobile (Alabama, Estados Unidos).
A odisséia dessa família despertou um interesse especial nos autores. No cerne de sua pesquisa esteve a preocupação em perceber como a exigência por dignidade e respeito esteve atrelada a importância da produção de documentos e dos movimentos políticos gerados tanto pelas grandes revoluções da época quanto por embates locais de reivindicação de direitos. Ao optar pelo encalce da trajetória dos membros dessa família, Scott e Hébrard especificam sua orientação metodológica, caracterizando seu estudo como o de micro-história posta em movimento. Esse tipo de estudo, segundo os mesmos, se apoia na convicção de que os estudos de um local ou evento cuidadosamente escolhido, examinado bem de perto, pode revelar dinâmicas não visíveis através das lentes mais familiares de região e nação.
O essencial de suas análises é, portanto, a percepção de como as experiências pessoais nos diversos espaços do chamado mundo Atlântico do século XIX, esses movimentos contínuos de pessoas e de papéis através do Caribe e da travessia do oceano permitem interconectar eventos que desvelam problemas como o da liberdade, dos fenômenos de raça e antirracismo com movimentos políticos e revolucionários.
A busca pela trajetória de homens livres de cor revela o lugar social da qual provém esses historiadores quando se observa como se apropriam de grandes elementos basilares da historiografia a partir da segunda metade do século XX: a História Cultural e a Nova Esquerda Inglesa, a micro-história e a História Atlântica. Embora hoje a ênfase na história de homens livres de cor não constitua nenhuma novidade, movimentos historiográficos como a Nova Esquerda Inglesa foram essenciais para a emergência estudos que explorassem as experiências históricas de homens e mulheres que até então tiveram a existência ignorada ou abordada de forma passiva, e ao trazer novos sujeitos para a história – a chamada história vista de baixo -, trouxe também o problema das fontes (BURKE, 1992, p. 40).
O acesso à documentação de pessoas “comuns”, portanto, também trouxe consigo problemas de método, uma vez que o acesso ao testemunho direto a essas pessoas era muito escasso. Entretanto, a vasta documentação, dentre registros de batismo, carta de alforria, correspondências, certidões, de que se munem Scott e Hérbrard, permitem – através da metodologia da micro-história – que a prática de redução de escala de observação, análise microscópica e um estudo intensivo do material documental revele indícios de sujeitos até então marginalizados.
Por meio do prólogo, também podemos observar que o lugar social de qual falam Scott e Hérbrard está profundamente ligado a um movimento de historiadores que vem desde pelo menos a segunda metade do século XX, colocando uma perspectiva atlântica em suas análises. Não por acaso, o contexto da Guerra Fria, a emergência do terceiro Mundo e a procura por um legado cultural na América do Norte levou este grupo de pesquisadores da história colonial, imperial e da escravidão, a questionarem e romperem com as fronteiras regionais, nacionais e imperiais, uma vez que estas, ao delimitarem os horizontes de pesquisa e abordarem uma perspectiva eurocêntrica, colocavam a histórias como da África e da América Latina à margem. Dessa forma, a pretensão por uma história que estabeleça conexões, comparações, observando recorrências coerências em marcos globais e interimperiais estruturados tem ganhado atenção dos historiadores, que ao focar em questões de gênero, sexualidade, raça e etnicidade têm encontrado no Atlântico um terreno fértil. O reconhecimento da História Atlântica enquanto disciplina iniciou-se com o movimento de historiadores norte-americanos dispostos a abraçar os projetos Atlânticos, e a Universidade de Michigan, onde Scott leciona, é uma das instituições onde os estudantes podem especializar-se nesse tipo de História145.
No primeiro capítulo, Rosalie, mulher negra de nação Poulard, a carta remetida por Edouard ao capitão Máximo Gómez ganha atenção para análise dos autores. Ao reportar sua própria ascendência aos haitianos, intitulando a si mesmo como um “filho da África”, Eduard conectou sua história com a dos seus pais, que tinham sofrido com embate da Revolução Americana, Francesa e Haitiana, carregando consigo o estatuto de escravos. A partir disso, chegou-se à documentação de batismo e de cartas da mãe de Edouard, e também à origem de Rosalie, sua avó, identificada como de nação Poulard.
Neste capítulo, são abordados vários aspectos da provável vida de Rosalie: o significado político de pertencer à nação Poulard, seus costumes e políticas peculiares, as condições das viagens e dos navios em que eram trazidos os cativos da costa do Senegal para Saint-Domingue (Haiti).
Embora os autores não tenham informações precisas sobre a viagem de Rosalie, o resgate de peculiaridades do seu provável itinerário atlântico forneceu-os certos elementos característicos acerca dos conhecimentos que pessoas de nação Poulard trouxeram consigo e foram difundidos durante o tempo em que permaneceram sob o cativeiro no Caribe. Uma destas características era a familiaridade com a importância da escrita: sabendo ou não ler, pessoas como Rosalie tinham a consciência que o papel poderia mudar sua condição.
O segundo capítulo, Rosalie…minha escrava, relata o processo de escravização de Rosalie em Saint-Domingue (Haiti) e os fatores – como as revoltas, repressões e a Revolução Haitiana – que levaram-na a deixar a ilha e se mudar para Jérémie (Haiti). Ao situar a paulatina importância econômica que assumiu Jérémie (Haiti) depois que Rosalie se mudou, os autores reconstituem a história de pessoas de sua rede de relações. Dentre elas, Marthe Guillaume, a negra livre que constituiu fortuna com o comércio de compra e venda de escravos. Mostram como prosperou Marthe, a importância da sua rede de conexões e apadrinhamento e de onde provinha sua renda: do trabalho de escravos, na qual Rosalie era uma. Também expõem fatores que levaram a região a atrair outras pessoas, como Michel Vincent, cujas aventuras anteriores de colono não deram certo.
O capitulo continua tecendo relações entre o contexto em que vivia Rosalie com as condições da Revolução Francesa, conectando as pressões que homens livres de cor da colônia exerciam para tentar fazer cumprir as garantias de direitos iguais e a extensão da cidadania às pessoas deste estatuto. Dessa forma, observa como discussões mais amplas, como a questão da cidadania aos homens de cor, concedia no ano de 1792 pela Assembléia Legislativa Francesa, influenciou nos interesses locais, onde os homens brancos conservadores, ao verem seu poder ameaçado, entraram em confronto com poderes coloniais acabando por induzir Guillaume, a senhora de Rosalie, a vender esta última a um vizinho, um açougueiro que era livre e mulato.
Partindo novamente para um contexto macro, os autores abordam as tensões que envolviam homens livres de cor e brancos, as repressões sofridas pelos primeiros e as implicações negativas para os escravos com as alianças estabelecidas entre os brancos do poder local com a Grã- Bretanha. Da mesma forma, salientam as alianças estabelecidas entre homens livres e escravos, e as expectativas destes em face da possibilidade de alforria. Neste meio tempo, Rosalie havia voltado ao poder de sua antiga senhora. Com este acontecimento, os pesquisadores postulam sobre a relação entre Rosalie e Michel Vincent, que em 1795 tinham dois filhos registrados, embora não possuíssem um registro de união. Marthe Guillaume, nesse mesmo ano, expressou o desejo de conceder liberdade a Rosalie, mas as circunstâncias políticas estavam dificultando a concessão de qualquer alforria. Nesse tempo, sugerem os autores, é possível que Rosalie vivesse como uma pessoa livre, e com relativa comodidade com Michel Vincent, considerando que Guillaume não se propôs a fazer qualquer reivindicação legal sobre ela.
A questão que se coloca é que, embora Rosalie provavelmente vivesse como uma mulher livre, o seu estatuto era de uma pessoa “sem documentos”, pois não possuía qualquer titulo que estabelecesse a legitimidade de seu estatuto civil. O capítulo passa a versar então sobre como o status de Rosalie, agora grávida do terceiro filho, dificultaria a situação do casal que, diante da invasão das tropas de Napoleão e a possibilidade de reescravização em Jérémie (Haiti), viu na viagem para a França uma alternativa. O capítulo termina abordando as estratégias utilizadas por aqueles que estavam na mesma situação de Rosalie e sobre como os conhecimentos de tabelionato de Michel Vincent levaram-no a forjar uma carta de alforria aos moldes do Antigo Regime, uma forma mais segura que poderia definir o destino da agora, “liberta”.
O terceiro capítulo, intitulado A cidadã Rosalie inicia caracterizando as diferenças político-jurídicas entre Haiti e Cuba, um baluarte da escravidão e de colonização espanhola. Versa sobre quais estratégias as pessoas livres de cor refugiadas do Haiti utilizaram para não voltarem a serem reescravizadas em Cuba e sobre como, a partir da morte de Michel Vincent, Rosalie, que já havia homologado o testamento deste, tornou-se sua herdeira e conseguiu com que as autoridades de Santiago assinassem o documento de alforria forjado ainda em Jérémie. Porém, novamente os planos de Rosalie são mudados pela conjuntura política das relações conturbadas entre a França napoleônica e Espanha, e diante dessas circunstâncias, os autores expõem as peculiaridades que faziam da Lousiana o território vizinho mais atraente em uma época difícil para a população francesa que vivia em território espanhol. Por fim, o capitulo termina discorrendo sobre as possibilidades e aprendizados de Rosalie, como a importância dos documentos dentro de uma sociedade escravista, as implicações da sujeição à mudança de jurisdição e a relevância do estabelecimento de uma boa rede de conexões, pois, ao enviar sua terceira filha, Élisabeth com sua madrinha para New Orleans, viu a indispensabilidade de estar integrada a uma família diante das condições adversas em que se encontrava.
A travessia no Golfo é o título do quarto capítulo, que desloca o foco narrativo para as experiências de Élisabeth, filha de Rosalie, em Nova Orleans (Estados Unidos). Os autores atentam para os percalços pelos quais passaram os refugiados, como Élisabeth, ao entrar no território da Louisina (Estados Unidos), e sobre como o rótulo de homem livre de cor a eles atribuído gerou problemáticas mais amplas acerca da questão do estatuto, pois, definia direitos, posição social e sobrevivência.
Passando de considerações mais gerais sobre a condição dos refugiados nas novas terras, este capítulo passa a abordar as boas condições nas quais Élisabeth estabeleceu com seus padrinhos, e sua relação com Jacques Tinchant, com quem se casou em 1822. Observa-se então o que os autores chamaram de uma união emblemática de novas famílias americanas, pois Jacques e Élisabeth haviam crescido em casas atravessadas por uma linha de cor: seus pais não puderam contrair união civil por serem casais “inter-raciais”. A mudança do sobrenome de Elisabeth, que agregou o sobrenome do seu pai, Vincent, na certidão de batismo dos seus filhos, foi ressaltada como um fator que a distanciava de sua ascendência escrava, além de suas boas relações com o tabelião facilitarem essa mudança.
A despeito das boas condições materiais que pessoas livres de cor como a família de Jacques Tinchant gozava, eram as restrições impostas pelas leis que geravam um descontentamento na população de cor livre. Dessa forma, a principal questão deste capítulo é a de que a prosperidade econômica, a estabilidade material de pessoas de cor e suas boas relações sociais não eram suficientes para mitigar as limitações impostas a elas, pois não podiam contar com direitos pra si e nem para a educação de seus filhos. Os autores terminam então, discorrendo sobre como Jacques deixou seus negócios aos cuidados de seu meio-irmão e os motivos prováveis da decisão de viajar com sua família para a França, onde sua mãe adoecida o aguardava.
O quinto capítulo, com um título bastante sugestivo, A terra dos direitos dos homens mostra como as motivações pessoais de migração de Jacques estavam atreladas à promulgação do Código Civil Francês e a Carta Constitucional de 1814. Ao estabelecerem a igualdade legal a todos os cidadãos, estendendo a todos o gozo de direitos civis e políticos por homens de cor livres, essa mudança na legislação atraiu a família de Jacques e Elisabeth pela perspectiva de educação e respeito para os meninos e de direitos para eles próprios, assim como a possibilidade de se tornarem proprietários de terras.
O acesso a um bom acesso educacional permitidos pela França, na qual os filhos de Jacques foram inclusos, juntamente com a boa fase dos negócios do mesmo, ocupam as páginas deste capítulo, que relaciona a prosperidade política desta nação com o gozo dos direitos civis experimentados no liceu pelos filhos de Jacques e Élisabeth. O filho mais velho do casal, Joseph, ganha a atenção no final deste capitulo, pois seus interesses particulares pelas aulas sobre direito e filosofia desvelam, além das idéias e conteúdos que faziam parte da educação formal de alunos como ele, o que o legado da Revolução Francesa deixou para a formação das concepções que professores das universidades tinham acerca de raça, cor, direitos civis e políticos e os militantes das causas abolicionistas. Porém, este capítulo também termina mostrando como a volta da situação política conturbada na França, juntamente com as adversidades econômicas enfrentadas por seu pai levaram Joseph a manter a tradição familiar dos Vincent-Tinchant em considerar atravessar o atlântico para, ao lado de seu irmão mais velho Louis, que havia ficado em New Orleans (Estados Unidos) quando seus pais resolveram viajar para a França, trilhar novos rumos.
Diante da viagem de Joseph para New Orleans (Estados Unidos), o capítulo seis, Joseph e seus irmãos, inicia expondo as possibilidades e limitações que ali encontravam homens livres de cor, chamando novamente a atenção para a fronteira entre escravidão e liberdade. Joseph e Louis, diferentemente de seu pai, não possuíam o mesmo conhecimento de produção rural, mas encontraram na produção e comércio de charutos – uma prática comum entre homens livres de cor – uma saída para obter lucros. A herança deixada pela madrinha de Élisabeth, composta em parte pela propriedade de escravos, permitiu a investida neste novo negócio.
Recursos financeiros de Jacques advindos da venda de parte das terras que possuía na Lousiana (Estados Unidos) forneceram o capital para a expansão dos negócios e, depois de Scott e Hébrard ocuparem as páginas deste capítulo para contextualizar o comércio de tabaco entre os vários pontos do Atlântico, concluíram que a Bélgica pareceu ser a melhor opção para as investidas além-mar de Joseph, que passou a morar em Antuérpia (Bélgica) com o resto da família, enquanto Louis cuidava da parte de produção na Louisiana (Estados Unidos).
Porém, novamente mudam-se os planos dos Tinchant, e agora era o contexto propiciado pela guerra da Secessão – culminando com a separação da Lousiana da União em 1861 – que levou os irmãos Tinchant a migrarem novamente para os Estados Unidos diante da má situação dos negócios. Além dos problemas que Joseph teria que lidar nos negócios, seus pais resolveram enviar Édouard, seu irmão mais novo, para New Orleans, após este manchar a reputação da família em Antuérpia (Bélgica).
A narrativa dos autores chega, assim, a Édouard. Buscar entender como a vida anterior em Antuérpia (Bélgica), que permitira que tivesse acesso a níveis educacionais, acabou influenciando as opções políticas abolicionistas de Édouard foi o objetivo deste capítulo. Além da militância pela causa na imprensa, ele acabou envolvendo-se na luta com as tropas da União, mas sua posição em não lutar novamente e a decisão em permanecer na Louisiana (Estados Unidos) quando seus irmãos estavam migrando para o México foi a chave para entender os intempéries daqueles que como Édouard, lutavam pela igualdade de direitos e pelo fim da escravidão: o alto comando da União era cúmplice dos preconceitos de uma sociedade escravista.
O sétimo capítulo, que tem como título É preciso fazer com que o termo direitos públicos signifique alguma coisa, descola o foco de análise para a atuação política de Édouard na Louisiana (Estados Unidos). Para compreender o entendimento do que Édouard tinha acerca do conceito de cidadania, os autores retomam a bagagem intelectual trazida da França, que explica a definição do que ele entendia por direitos públicos, ao mesmo tempo em que observam a cautela que teve ao utilizar o termo igualdade de direitos nos Estados Unidos, dadas as particularidades segregacionistas deste país.
A posição ideológica de Édouard, atrelada ao seu apoio político à União é destrinchada ao longo do capítulo, que mostra principalmente como Édouard ganhou suporte político e participou ativamente da promulgação da Constituição da Louisiana. O reconhecimento à cidadania, independente de cor, foi uma conquista prevista nesta Constituição, que juntamente com outros debates visando direitos à população de cor levaram os pesquisadores a conjecturarem em que medida as limitações sociais impostas aos antepassados destes sujeitos podem ter colaborado para a intenção de debater esses ideais.
Embora nem todas as idéias de Édouard fossem acatadas no texto final, os autores versam sobre os direitos públicos que essa Carta permitiu as pessoas de cor, e sobre seus reflexos na arena legal, como a permissão para que pessoas provenientes de famílias humildes pudessem, por exemplo, entrar na justiça caso fossem barradas em lugares de comércio.
A despeito dessas conquistas, este capítulo mostra como os direitos às pessoas de cor previstos nessa Constituição, ao conflitar com os interesses da Suprema Corte, fizeram com que os artigos referentes a direitos públicos fossem removidos e com que Édouard e seus companheiros perdessem poder e consequentemente, o emprego com o aumento do segregacionismo, principalmente nas escolas. Edouard lecionava, e essa situação forçou-o, juntamente com a família que formou, a migrar. Por fim, o capítulo termina discutindo os motivos para Édouard escolher Mobile (Estados Unidos) como o lugar que teria que reconstruir sua vida.
Horizontes de comércio, o oitavo capítulo, desloca o foco para a história dos outros filhos de Jacques Tinchant e Elisabeth Vincent: Jules, Pierre e Joseph, para mostrar o que teria acontecido com eles após a abertura do comércio de charutos, quando cada um cuidou de uma parte do comércio. Resgatam as intempéries que Jules e Pierre passaram quando trabalham com o comércio no México sob a influência e ocupação francesa para mostrar como as guerras atrapalharam seus negócios e dos motivos da migração de Joseph para o México.
A forma como os quatro irmãos mais velhos da família Tinchant se estabeleceram com a produção e comércio de charutos é mostrada através dos vários percalços e intrigas que os acompanhavam. O grande acúmulo de dívidas foi apontando como a principal causa da migração de Joseph, que em busca de novos mercados, mudou com a família para Havana, onde fez boas relações e novamente a viagem para a Antuérpia (Bélgica), finalmente obtendo sucesso com a criação de uma companhia de charutos com o nome de Tinchant y Gonzales. Os autores observam então, como a conexão entre este nome com a América Latina, juntamente com a cidadania mexicana conseguida anteriormente por Joseph, reforçaram aos seus charutos um ar de qualidade, distanciando-o da identidade da ascendência de escravos que foram trazidos para a América. A invenção desta “tradição”, portanto, criou um status que permitiu o sucesso na produção e venda de charutos.
Passa-se então à analise da sina de Édouard. Estabelecendo a sua companhia de charutos em Mobile (Estados Unidos), dedicou-se aos afazeres de um homem de negócios e as responsabilidades de pai de família, principalmente porque era um mau momento para se envolver com política em Mobile, visto que o Alabama era um estado extremamente racista. Quando estava começando a se estabelecer, ele e sua família desaparecem de Mobile e se mudam repentinamente para Antuérpia (Bélgica). Os autores atribuem essa mudança a motivações por política, negócios e família, uma vez que Édouard fora trabalhar com Louis e chamou a nova política republicana na presidência de “leis abomináveis” e “preconceitos ignorantes”.
Enquanto Édouard nunca fez questão de relacionar seus charutos à Havana ou a Europa, e sempre relacionando o nascimento de seus pais as lugares que lembravam deles, Joseph e seus descendentes faziam referências a origens aristocratas espanholas e francesas que achavam estarem entre seus antepassados e, nessas atitudes, residem as diferenças entre os irmãos: a exclusão da menção de exílio, a luta pelo republicanismo e por igualdade de direitos foram excluídas dessa narrativa sobre a ascendência familiar por parte daqueles que obtiveram sucesso comercial cosmopolita, que não queriam ser associados a preconceitos de cor.
Após o capítulo anterior focar no sucesso econômico dos irmãos Tinchant, o nono e último capítulo, intitulado Cidadãos para o bem da nação, mostra como a questão da cidadania alcançada a nível nacional devido às múltiplas viagens atlânticas de Joseph e seus irmãos interferiram por um lado, na tentativa dos irmãos Joseph e Ernest, no ano de 1892, em buscar a grande naturalisation, que conferia direitos políticos e civis a um cidadão belga e por outro de Édouard de buscar a nacionalidade francesa.
Chama-se atenção aqui para as restrições da lei e o preconceito racial, embates que Rosalie e seus descendentes tiveram que lidar, desenvolvendo táticas engenhosas: ora fugiam de guerras, ora participavam, ora expressavam-se politicamente, ora calavam-se. A reivindicação da cidadania e de nacionalidade nos diversos lugares que estiveram, juntamente com todas as ações mobilizadas ao longo desta narrativa, permitiram perceber a magnitude de forças que foram necessárias para o alcance de seus direitos.
“Por um motivo racial” foi o título escolhido pelos autores para narrar a odisséia de Marie-José Tinchant. O relato da ousadia da neta de Joseph Tinchant na imprensa, nos tribunais e sua participação política na guerra como militante presa permitiram aos autores perceber como as questões raciais interferiram na construção de uma memória política sobre a mesma, pois, quando os descendentes de Marie-José entraram na justiça, alegando serem beneficiários de uma prisioneira política, a justiça belga atribuiu à razão de sua prisão pelos nazistas como sendo um motivo racial.
Quando a filha de Marie-José, em 2010 finalmente conseguiu, por parte das autoridades de Bruxelas, o reconhecimento da prisão de sua mãe como prisioneira política, já havia migrado para o México em busca de suas raízes familiares naquele país.
A partir da observação da escrita dos capítulos, percebemos como os autores de Provas de Liberdade evocam a trajetória de alguns indivíduos do passado através da sequência dos acontecimentos e das interações conscientes destes com um contexto maior, trabalhando sempre com um “jogo de escalas” para explicar como uma conjuntura de guerra, ou de luta política, por exemplo, influiu em suas atitudes. Assim, Scott e Hérbrard, ao tentar compreender as ações destes indivíduos, reproduzem no interior deste discurso desdobrado, a relação entre um lugar do saber e sua exterioridade. É essa distorção que nos permite então, perceber ocultos no texto, sobre o lugar de onde falam seus autores.
Concomitantemente, ao colocar em cena a trajetória destes sujeitos, a construção narrativa dos autores permite que a sociedade se situe em relação a um passado e abre espaço para o presente. Como observou Certeau, a escrita “faz mortos para que os vivos existam. Mais exatamente, ela recebe os mortos, feitos por uma mudança social, a fim de que seja marcado o espaço aberto por este passado e para que, no entanto, permaneça possível articular o que surge com o que desaparece.” (CERTEAU, 1982, p. 107). A família Tinchant e os indivíduos estão mortos e os percalços, intempéries, forças que eles tiveram que lidar morreram com eles, naquela sociedade que é diferente da nossa, como o livro de Scott permite observar. Ao mesmo tempo em os descendentes dos Tinchant se afastavam dos estigmas e estereótipos atribuídos à ascendência africana, não tendo que lidar com as mesmas situações que seus antepassados, constituíam uma memória familiar, e é essa memória que revela permanências e conecta o mundo dos vivos àquele “enterrado” pela escrita da história.
Referências
BURKE, Peter. A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP, 1992.
CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Trad. Maria de Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 1982.
GAMES, Alison. Atlantic history: definitions, challenges, and opportunities. In: The American Historical Review, vol. 111, nº 3, 2006.
SCOTT, Rebecca J. & HÉBRARD, Jean M. Provas de Liberdade: uma odisséia na era da emancipação. Tradução: Vera Joscelyne. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2014.
Ana Carolina Gesser – Mestranda em História pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Bosista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. E-mail: anacarolinagesser@gmail.com.
A História deve ser dividida em pedaços? | Jacques Le Goff
Em um dos seus últimos trabalhos, Jacques Le Goff discute a propriedade ou não de se dividir a História em períodos ou, como consta do título, em pedaços. O livro encontrase distribuído em doze itens: Preâmbulo (pp.7-9); Prelúdio (pp.11-14); Antigas Periodizações (pp.15-23); Aparecimento Tardio da Idade Média (pp.25-32); História, ensino, períodos (pp.33-43); Nascimento do Renascimento (pp.45-58); O Renascimento atualmente (pp.59-73); A Idade Média se torna “os tempos obscuros” (pp.75-95); Uma Longa Idade Média (pp.97-129); Periodização e Mundialização (pp.131-134); Agradecimentos (pp.135-136) e Referências Bibliográficas (pp.137-149).
Nesse trabalho, Le Goff postula claramente a favor da ideia de uma Longa Idade Média e/ou, se desejarmos, uma Idade Média Tardia, que seria encerrada com as chamadas “revoluções” Industrial e Francesa no século XVIII. Em contrapartida, contesta a ideia de um Renascimento que teria rompido com o período medieval nos séculos XV e XVI. Leia Mais
A História Refigurada: novas reflexões sobre uma antiga disciplina – JENKINS (RTF)
JENKINS, Keith. A História Refigurada: novas reflexões sobre uma antiga disciplina. Tradução de Roberto Cataldo Costa. São Paulo: Contexto, 2014. Resenha de: ASSIS, Gabriella Lima de. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 7, n. 1, jan.-jun., 2014.
Depois de publicar ao longo da década de 1990 obras que discutiram as pro-fundas mudanças pelas quais a história passou enquanto disciplina1, o historiador inglês Keith Jenkins, professor emérito da University of Chichester, escreveu uma no-va obra na qual apresentou os seus argumentos em relação ao discurso da pós-modernidade.
Segundo o próprio autor, a sua intenção nesta nova obra recentemente tra-duzida para o português com o título “A História Refigurada”2 foi apresentar para os estudantes de história que estão empenhados em “fazer história” ou prestes a isso, novos argumentos capazes de trazer frescor a uma disciplina tão antiga por meio da tentativa de refigurá-la diante das abordagens sinalizadas pelo pós-modernismo.
Existem muitas definições diferentes acerca do pós-modernismo3, porém nesta obra Keith Jenkins o compreendeu como “a era da aporia” em que o discurso da história deve ser pensado como uma estética “e não como uma epistemologia objetiva, verdadeira ou fundacional”4. Desta maneira, ao longo do desenvolvimen-to dos argumentos concatenados no livro, o autor mencionou que a sua expectativa com a escrita deste livro não foi a de superar a história pós-moderna, na verdade seu objetivo principal foi trabalhar o discurso da história na direção desse tipo de democra-cia radical e aberta, que entende a impossibilidade de instituir um fechamento histórico/historicizante total do passado, ao mesmo tempo que reconhece que suas formas refiguradas de conceber – ou seja, figurar – as coisas “nunca terão sido boas o suficiente” – e que esta é a mais desejável5.
Com uma escrita intencionalmente polêmica e muito provocativa, Keith Jenkins não omitiu que foi muito influenciado por Jacques Derrida, Hayden White e Frank Ankersmit juntamente com seus respectivos postulados teóricos durante a escrita desta obra. Sem esperar a aprovação dos mesmos, Keith Jenkins afirmou que se beneficiou pessoalmente ao ler todos eles e pretendeu de forma clara expres-sar os méritos de cada um nos três capítulos que compõe seu novo livro.
O primeiro capítulo intitulado “Tempo (s) de abertura” apresenta as contri-buições do teórico francês Jacques Derrida para o pensamento histórico. Da manei-ra como Keith Jenkins nos permite entender, a principal contribuição deste autor foi unir “a demonstração da impossibilidade do fechamento linguístico/discursivo a uma promessa emancipatória e política”6.
A idéia central deste capítulo parece ser a de demonstrar que a abertura ine-vitável proporcionada pelas perspectivas pós-modernas que Derrida ajudou a con-solidar, tem permitido releituras e reescritas do passado fazendo surgir uma história sempre refigurada. Nesse sentido, segundo Jenkins, os trabalhos de Derrida tenta-ram “mostrar, entre outras coisas, a impossibilidade de reduzir ao finito ou ao cog-noscível as infinitas possibilidades do pensar sobre o que a história pode ser”7.
Para Keith Jenkins, ser pós-modernista não é simplesmente aceitar perspec-tivas em múltiplos níveis ou crer na multi-interpretação. Na verdade, da maneira como discorreu Keith Kenkins neste capítulo, o que os pós-modernos problemati-zam não é o conteúdo da história, e sim o status de sua forma.
Novamente lançando mão de Derrida, Keith Jenkins explicou que os senti-dos não são constituídos por signos/palavras autossuficientes. Na verdade, E, de fato, é essa natureza aparentemente fixa do sentido que mui-tas vezes faz com que pessoas pensem equivocadamente que há al-go essencial na linguagem… de modo que, por exemplo, alguns historiadores supõem a existência de algo intrínseco no nome da história que a isentaria de receber sentidos e conotações infinita-mente novos, ao invés de ver que a “história”, como todos os con-ceitos, é um “significante vazio”8.
Ainda no primeiro capítulo Keith Jenkins trabalhou as idéias de “indecidibi-lidade da decisão” e de “aporia” de Derrida, cujas implicações na história podem ser compreendidas na medida em que enxergamos que o passado nada contém de valor intrínseco, nada a que tenhamos de ser leais, nenhum fato que tenhamos que encontrar, nenhuma verdade, problema ou tarefa a resolver, na verdade somos nós que decidimos sobre essas coisas9.
No segundo capítulo chamado “Ordem (ns) do dia” Keith Jenkins demons-trou como pode ser libertador para os historiadores a idéia pós-moderna de que não exista um método histórico ou uma epistemologia que não seja problemática.
Partindo dessa vez das contribuições do teórico norte-americano Hayden White, Keith Jenkins explicou que assim como o passado e a história, os fatos tam-bém são construções interpretativas. Para ele, “isso não significa negar a realidade dos acontecimentos passados, mas argumentar que eles não importam até receber significação no discurso”10.
Neste capítulo Keith Jenkins pode explicar o cerne do pensamento de Hayden White que o tornou um adepto dos pressupostos da história pós-moderna. Para ele, White considera axiomático que as hitsórias – especialmente as história narrativas (embora, provavelmente, todas as histórias se-jam narrativas em suas estruturas gerais) – sejam basicamente fictí-cias. Ou seja, embora possam querer dizer a verdade e nada mais que a verdade sobre seus objetos de estudo e sobre o que recolhem do arquivo, os historiadores não têm como narrar suas descobertas sem recorrer ao discurso figurativo11.
Ainda neste capítulo, Keith Jenkins falou sobre como o holandês Frank An-kersmit partiu de algumas idéias elaboradas por Hayden White para formular a noção de história como proposta, como apresentação e não como representação. Do ponto de vista de Jenkins seria possível concluir que para ambos os teóricos, o mais importante na escrita dos historiadores não está no nível do enunciado mas no da apresentação textual proposta, é esta que estimula o debate historiográfico. Des-ta forma a história seria sempre tão inventada (imaginada) quanto encontrada.
Em “Começar de novo: das disposições desobedientes”, o terceiro capítulo apresentado no livro, Keith Jenkins defendeu uma atitude que podemos considerar pós-moderna. Sem oferecer um mapa ou modelo de ação, o autor faz um elogio as análises históricas que celebram o caráter falho do fechamento.
Em sua análise o pós-modernismo pode ser entendido de maneira positiva por parte dos historiadores profissionais. Do modo como Keith Jenkins escreveu neste capítulo, o pós-modernismo não é uma espécie de moda, tão pouco pode ser resumido como uma interpretação pluralista. Para o autor, O pós-modernismo, como se entende positivamente aqui, é a ob-tenção de uma atitude, uma disposição militante, radical, que fra-giliza não apenas o conteúdo, mas também as formas gramaticais das histórias modernistas sem uma pitada de nostalgia, e oferece, em seu lugar, em suas novas gramáticas e atos de atenção, novas formas de mostrar “o antes do agora” ainda não concebido12 Por fim o autor acrescentou ainda o que ele denominou de “Coda”, para di-zer a respeito das principais implicações do seu pensamento histórico apresentado ao longo desses três capítulos que compuseram a sua nova obra. Firmando os seus posicionamentos bem como as idéias das quais partiu para escrever “A História Refigurada”, Keith Jenkins encerra fazendo algumas afirmações não menos polê-micas que certamente servem para aguçar e incentivar novas produções sobre o assunto.
Jenkins concluiu seu texto dizendo que “a ruptura entre as histórias moder-nas e pós-modernas não é uma ruptura epistemológica”13, a modernidade e a pós-modernidade são mundos diferentes, “todas as histórias são, portanto, do tipo esté-tico, que os pós-modernos levam ao nível da consciência”14.
De maneira geral podemos dizer que neste novo livro, Keith Jenkins estabe-leceu uma avaliação das principais questões levantadas pelo conhecimento históri-co nos últimos anos. Ele defendeu que grande parte dessas questões impactantes para a prática histórica permanece em aberto. Por meio de uma escrita instigante, Jenkins tratou da pós-modernidade trazendo à tona novas reflexões que servem tanto para professores quanto para alunos interessados pelas discussões sobre o pensamento histórico.
1 Cf. Rethinking History (1990) [ A História repensada]; On “What is History!” From Carr and Elton to Rorty and White (1995); The Postmodern History Reader (1997) e Why History! Ethics and Postmodernity (1999).
2 O título original da obra é Refiguring History: New Thoughts on an Old Discipline, trata-se de uma pu-blicação da Routledge de 2003.
3 Entre os teóricos que buscaram uma definição da temporalidade pós-moderna podemos citar: LYOTARD, Jean-François. A Condição Pós-Moderna. 5ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998; JAMESON, Fredric. Pós-Modernismo: A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. 2ºed. São Paulo: Ativa, 2004; BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001; MUNS-LOW, Alun. Desconstruindo a História. Petrópolis: Vozes, 2009.
4 JENKINS, Keith. A História Refigurada: novas reflexões sobre uma antiga disciplina. Tradução de Ro-berto Cataldo Costa. São Paulo: Contexto, 2014, p. 103.
5 Ibidem, p. 14.
6 JENKINS, KEITH. op. cit. p. 48.
7 Ibidem, p. 33. 8 Ibidem, p. 36.
9 Keith Jenkins, op. cit. p. 46.
10 Ibidem, p. 65.
11 Ibidem, p. 67. 12 Keith Jenkins, op. cit. p. 97.
13 Ibidem, p. 100.
14 Ibidem, p. 101.
Gabriella Lima de Assis – Universidade Federal de Mato Grosso. Programa de Pós-graduação em História Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2367 – Bairro Boa Esperança – Cuiabá – MT – 78060-900 E-mail: gabriella.lima@gmail.com.
Conceiving Freedom: Women of Color, Gender, and the Abolition of Slavery in Havana and Rio de Janeiro – COWLING (RBH)
COWLING, Camillia. Conceiving Freedom: Women of Color, Gender, and the Abolition of Slavery in Havana and Rio de Janeiro. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2013. 344p. Resenha de: SANTOS, Ynaê Lopes dos. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, no.72, MAI./AGO. 2016.
Ramona Oliva e Josepha Gonçalves de Moraes poderiam ter sido heroínas dos folhetins e romances que enchiam de angústia e compaixão a alma dos leitores do final do século XIX. Negras, cativas ou ex-escravas, essas mulheres foram em busca do aparato legal disponível em Havana e no Rio de Janeiro, respectivamente, e fizeram de sua condição e do afeto materno as principais armas na longa luta pela liberdade de seus filhos na década de 1880. Todavia, a saga dessas mulheres não era fruto da vertente novelesca do século XIX e tampouco foi fartamente estampada nos jornais da época. Para conhecer e nos contar essas histórias, Camillia Cowling fez uma intensa pesquisa em arquivos do Brasil, de Cuba, Espanha e Grã-Bretanha, tecendo com o cuidado que o tema demanda a trajetória de mulheres negras – libertas e escravas – que entre o fim da década de 1860 e a abolição da escravidão em Cuba (1886) e no Brasil (1888) utilizaram o aparato legal disponível nas duas maiores cidades escravistas das Américas para lutar pela liberdade de seus filhos e filhas.
A fim de dar corpo a uma história que muitas vezes é apresentada como estatística, a autora examinou uma série de documentos legais produzidos a partir da década de 1860 para compreender os caminhos traçados por algumas mulheres em busca da liberdade. Em pleno diálogo com as importantes bibliografias sobre gênero e escravidão produzidas nos últimos anos, Camillia Cowling nos brinda com um livro sobre mulheres negras, maternidade, escravidão e liberdade, demonstrando como as histórias de Ramona, Josepha e outras tantas libertas e escravas, longe de serem anedotas do sistema escravista, podem ser tomadas como portas de entrada para a compreensão mais fina da dinâmica da escravidão no Novo Mundo nas duas últimas localidades em que essa instituição perdurou.
A complexidade do tema abordado e o ineditismo das articulações entre história da escravidão nas Américas, abolicionismo, dinâmica urbana, agência de mulheres negras, maternidade e processos jurídicos se expressam na forma como a autora organizou sua obra.
Na primeira parte de seu livro, Camillia Cowling trabalhou com a relação entre escravidão e espaço urbano naquelas que foram as maiores cidades escravistas das Américas, Havana e Rio de Janeiro. Analisando as dinâmicas de funcionamento da escravidão urbana, a autora sublinhou que as cidades não devem ser tomadas como mero pano de fundo dos estudos sobre escravismo nas Américas, e assim construiu uma narrativa que corrobora boa parte do que a historiografia aponta: a força que a escravidão exerceu sobre o funcionamento dessas urbes. Tal força poderia agir tanto nas especificidades geradas em torno das atividades executadas pelos escravos urbanos – sobretudo no que tange à maior autonomia dos escravos de ganho -, como nos sentidos e usos que essas cidades passaram a ter para a população escrava e liberta, a qual muitas vezes fez do emaranhado espaço citadino esconderijos e refúgios de liberdade. O engajamento jurídico das mulheres escravas e libertas frente às políticas graduais de abolição de cada uma dessas cidades é, pois, apresentado como mais uma característica da complexa dinâmica que permeou a escravidão urbana no Rio de Janeiro e em Havana.
A escolha pelas duas cidades não foi aleatória, muito menos pautada apenas por índices demográficos. Ainda que a autora tenha anunciado trabalhar com base na metodologia da micro-história, a abordagem comparativa que estrutura sua análise se pauta no diálogo com perspectivas mais sistêmicas da escravidão das Américas, principalmente com as balizas que norteiam a tese da segunda escravidão (Tomich, 2011). Como vem sendo defendido por uma crescente vertente historiográfica, a paridade entre Havana e Rio de Janeiro – pressuposto fundamental da análise de Camillia Cowling – seria resultado de uma série de escolhas semelhantes feitas pelas elites de Cuba e do Brasil em prol da manutenção da escravidão desde o último quartel do século XVIII até meados do século XIX, mesmo em face do crescente movimento abolicionista. Tal política pró-escravista (que também foi levada a cabo pelos Estados Unidos) teria permitido que a escravidão moderna se adequasse à expansão capitalista, criando assim um chão comum na dinâmica da escravidão nessas duas localidades, inclusive no que concerne às possibilidades legais que os escravos acionaram para lutar pela liberdade – possibilidades essas que se ampliaram após a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Não por acaso, as capitais de Cuba e do Brasil transformaram-se em espaços privilegiados para que mulheres negras, apropriando-se do próprio conceito de maternidade e ressignificando-o, utilizassem as leis abolicionistas reformistas, nomeadamente a Lei Moret de Cuba (1870) e a Lei do Ventre Livre do Brasil (1871), para resgatar seus filhos do cativeiro.
Os caminhos percorridos pelas mulheres escravas e libertas e as muitas maneiras por meio das quais elas conceberam a liberdade (de seus filhos e delas próprias) passam a ser examinados pormenorizadamente a partir da segunda parte do livro. A pretensa universalidade do direito sagrado da maternidade foi uma das ferramentas utilizadas nos discursos abolicionistas do Brasil e de Cuba, os quais apelavam para um sentimento de igualdade entre as mães, independentemente de sua cor ou condição jurídica. Como destaca a autora, a evocação do sentimento de emoção transformou-se numa estratégia importante do movimento abolicionista que, a um só tempo, pregava a sacralidade da maternidade e ajudava a forjar um novo código de conduta da elite masculina, que começava a enxergar a mulher escrava de outra forma.
Camillia Cowling demonstra que a sacralidade universal da maternidade foi apreendida de diferentes formas nas sociedades escravistas. Se por um lado, a partir da década de 1870, tal assertiva ganhou força quando a liberdade do ventre ganhou status de lei, por outro lado a pretensa igualdade que a maternidade parecia garantir para as mulheres muitas vezes parecia restringir-se ao campo jurídico, mais especificamente, à luta gradual pela liberdade. Revelando uma vez mais a complexidade dos temas abordados, Camillia Cowling destaca que esses mesmos abolicionistas muitas vezes descriam na feminilidade das mulheres negras (brutalizadas pela escravidão), colocando-se contrários às relações inter-raciais, embora defendessem a manutenção das famílias negras.
Todavia, nesse contexto, o ponto alto do livro reside justamente no exame das estratégias empregadas pelas mulheres negras para lutar, juridicamente, pela liberdade não só de seu ventre, mas de seus filhos. A compreensão que essas mulheres tinham das leis graduais de abolição; o entendimento também compartilhado por elas de que as cidades do Rio de Janeiro e de Havana não eram apenas espaços privilegiados para suas lutas, mas também uma parte importante para a definição do que a liberdade poderia significar; e as redes de solidariedade tecidas por essas mulheres, que muitas vezes extrapolavam os limites urbanos, são algumas das questões trabalhadas pela autora.
Os desdobramentos dessas questões são muitos, a maioria dos quais analisada por Camillia Cowling na última parte de seu livro. As concepções que as mulheres negras desenvolveram sobre liberdade e feminilidade com base na maternidade merecem especial atenção, pois elas permitem, em última instância, redimensionar os conceitos de escravidão e, sobretudo, de liberdade nos anos finais de vigência da instituição escravista das Américas e nos primeiros anos do Pós-abolição. Se é verdade que, assim como aconteceu como Josepha Gonçalves e Ramona Oliva, a luta jurídica pela liberdade de seus filhos não teve o desfecho desejado e eles continuaram na condição de cativeiro, os caminhos e lutas trilhados por elas não só criaram outras formas de resistência à escravidão – que por vezes, tiveram outros desfechos -, como ajudaram a pautar práticas de liberdade e de atuação política que ganhariam novos contornos na luta pela cidadania plena alguns anos depois.
O tratamento dado pela autora sobre a luta de mulheres/mães pela liberdade de seus filhos e a forma por meio da qual ela enquadra tais questões naquilo que se convém chamar de “contexto mais amplo” faz que Conceiving Freedom possa ser tomado como uma importante contribuição nos estudos da escravidão urbana, não só por sua perspectiva comparada, mas também por trabalhar num território de fronteira da historiografia clássica, demonstrando que os limites entre o mundo escravista e o mundo da cidadania não podem ser balizados apenas pela declaração formal da abolição da escravidão. A luta começou antes dessas datas oficiais e continuou nos anos seguintes, sobre isso não restam dúvidas. Todavia, o protagonismo desse movimento não se restringiu às ações dos homens que lutaram pela abolição. Ao invés de fechar uma temática, o trabalho de Cowling indica novos caminhos num campo que poderá trazer contribuições promissoras para os estudos da escravidão e da liberdade nas Américas.
Por fim, vale ressaltar que num momento político como o atual, em que tanto se fala, se discute e se experimenta o empoderamento de mulheres negras, o livro de Camillia Cowling é igualmente bem-vindo. Não só por iluminar trajetórias que foram silenciadas ou tratadas como simples anedotas (demonstrando que a luta não é de hoje), mas igualmente por permitir repensar os moldes e os modelos por meio dos quais as histórias e as memórias da escravidão e da luta pela liberdade são construídas.
Referências
TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Edusp, 2011. [ Links ]
Ynaê Lopes dos Santos – Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Professora Adjunta de História da Escola Superior de Ciências Sociais CPDOC-FGV. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: ynae.santos@fgv.br.
Um estilo de história: a viagem, a memória, o ensaio: sobre Casa-grande & senzala e a representação do passado – NICOLAZZI (RBH)
NICOLAZZI, Fernando. Um estilo de história: a viagem, a memória, o ensaio: sobre Casa-grande & senzala e a representação do passado. São Paulo: Ed. Unesp, 2011. 484p.Resenha de: PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, no.72, MAI./AGO. 2016.
Tanto já se escreveu sobre Gilberto Freyre, e particularmente sobre Casa-grande & senzala, que está cada vez mais difícil se dizer alguma coisa nova e significativa sobre o autor ou sobre o livro de 1933. O risco de “chover no molhado”, como o próprio Nicolazzi diz, é bastante grande. Entre os estudiosos anteriores de Casa-grande, Nicolazzi está mais próximo de Ricardo Benzaquen, cujo trabalho reconhece como inspirador, mas oferece uma visão propriamente sua da obra de Freyre.
Um estilo de História é uma versão ligeiramente modificada de uma tese de doutorado defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2008, que recebeu o prêmio Manoel Luiz Salgado Guimarães da Anpuh em 2010. Apesar de Nicolazzi não ter aproveitado esse lapso de 7 anos entre a defesa e a publicação de 2015 para fazer referência aos estudos publicados nesse intervalo, dá uma contribuição original para a montanha do que se pode chamar de “Estudos Freyreanos”, examinando Casa-grande de vários ângulos. Como o próprio autor confessa logo no início, seu livro é “um conjunto de ensaios travestido em tese universitária”, o que é muito apropriado no caso do estudo de um autor que adorava o gênero ensaístico e descrevia até mesmo sua volumosa obra de novecentas e tantas páginas, Ordem e Progresso, como um “ensaio”. O que mantém Um estilo de História mais ou menos coeso é o argumento do autor de que Freyre escolheu um estilo de representação do passado, um modo de proximidade, que diferia muito das representações anteriores empregadas por antigas histórias do Brasil; e que esse estilo pode ter mesmo sido adotado por Freyre em resposta direta a Os sertões.
Para justificar sua tese sobre representações, Nicolazzi adota o método de leitura atenta (close reading) dos textos para chegar a conclusões sobre o estilo, as estratégias literárias e os modos de persuasão tanto de Euclides da Cunha quanto de Gilberto Freyre. Seus sete ensaios-capítulos são organizados em três seções. A primeira se inicia com um relato da recepção de Casa-grande no Brasil (em outras palavras, representações de uma representação), e daí se volta para os dez prefácios do autor, nos quais ele se defendia contra más representações de sua obra, ou deturpações, e conversava, por assim dizer, com seus resenhistas. A segunda seção, que compreende mais dois ensaios, deixa Freyre de lado para se concentrar em Euclides da Cunha. A terceira seção retorna a Freyre, com três capítulos dedicados respectivamente a viajantes, memórias e ao próprio gênero do ensaio. Nicolazzi considera Freyre um viajante que privilegiava o testemunho de outros viajantes e oferecia aos seus leitores a sensação de estarem viajando ou no espaço ou no tempo. Também enfatiza a importância das memórias em Casa-grande: as do próprio autor, as de sua família e as dos indivíduos que entrevistou, o mais famoso dos quais foi o ex-escravo Luiz Mulatinho. O livro termina com um ensaio sobre o ensaio, refletindo sobre ensaios históricos e sobre a tradição brasileira do ensaísmo, a fim de buscar a singularidade da contribuição de Freyre para essa tradição.
Um estilo de História é fruto de uma leitura vasta e variada, que inclui não somente a historiografia, de Heródoto a Hayden White, mas também filosofia, literatura, psicologia, sociologia e antropologia, os campos nos quais o próprio Freyre estava muito à vontade. Nas páginas de Nicolazzi, Paul Ricoeur está ao lado de Wolf Lepenies, Roland Barthes ao lado de Clifford Geertz, Oliver Sacks de Quentin Skinner, François Hartog de Walter Benjamin, Jean Starobinski de Frank Ankersmit, Michael Baxandall de Gérard Genette, além de outros. Enfim, tantos nomes, tantas luzes a iluminar um texto.
Assim como a justaposição do livro de Euclides com o de Sarmiento, Civilização e barbárie, se tornou um tópos, o mesmo aconteceu com a comparação e o contraste entre Os sertões e Casa-grande, que novamente coloca a representação do “outro” versus a representação de “nós” em pauta. No entanto, Nicolazzi desenvolve esse contraste de modo interessante e valioso, focalizando pontos de vista. Segundo ele, o contraste essencial entre Freyre e Euclides – cujo trabalho Freyre estudou cuidadosamente e sobre o qual escreveu mais de uma vez – é que Euclides exemplifica o que Claude Lévi-Strauss chamou de “olhar distante”, observando e representando outra cultura como se estivesse pairando alto no ar; uma cultura que ele via como oposta à sua própria, ou seja, uma representando a civilização, e a outra, a barbárie. Sua estratégia literária era a do naturalista, registrando detalhes com o espírito de um cientista, uma espécie de Émile Zola do sertão. Em contraste, Freyre, como um antropólogo no campo, tentava chegar perto dos escravos e ainda mais perto dos senhores (e das senhoras) de engenho sobre os quais escreveu. Como Michelet – e diferentemente de Euclides – Freyre tentava evocar o passado, suprimir a distância e identificar-se com os mortos e com tudo o que já se foi. Ele pode até ser criticado – e o foi por Ricardo Benzaquen – por estar “correndo o risco de uma proximidade excessiva”.
Há muito a ser dito em favor desse contraste. Afinal de contas, Freyre disse em certa ocasião que “o passado nunca foi, o passado continua”. Sua “história íntima” e sua “história sensorial” tentavam exatamente tornar os leitores capazes de ver, ouvir, cheirar, sentir o gosto e até mesmo tocar o passado. O elemento autobiográfico em Casa-grande, enfatizado ainda mais em 1937 em seu Nordeste, é efetivamente central, e a confusão entre a vida do autor, de sua família e de sua região natal (ilustrada pelo uso frequente que Freyre faz da primeira pessoa do plural) é, na verdade, reminiscente de Michelet.
No entanto, a oposição entre distância e proximidade precisa ser qualificada, se não mesmo questionada – do mesmo modo como o próprio Freyre gostava de primeiro estabelecer, para depois solapar as categorias opostas de sobrados e mocambos, ordem e progresso, e assim por diante. Pois Freyre não era adepto de polaridades rígidas – que não davam conta dos paradoxos, contradições e complexidades da realidade humana – e se apelava para oposições binárias, sua estratégia era sempre enfraquecê-las por meio de mediações entre opostos, para o que o uso de termos recorrentes como quase-, para-, semi- se adaptava muito bem.
Assim, no que diz respeito à proximidade que Freyre pretenderia ter de seu objeto de estudo, deve-se acrescentar que ele também era capaz de ver seu próprio país com olhos estrangeiros. Seu emprego recorrente de textos escritos por viajantes como evidência não somente dá aos leitores a sensação de “estarem lá”, como Nicolazzi sugere, mas também os provê com distanciamento, já que os viajantes são frequentemente estrangeiros que podem ver mais facilmente o que nativos não veem. De qualquer modo, em algumas de suas passagens menos memoráveis, Freyre escorrega de seu estilo usualmente vívido e subjetivo e cai, por assim dizer, numa linguagem acadêmica, objetiva, escrevendo no capítulo 1, por exemplo, que “por mais que Gregory insista em negar ao clima tropical a tendência para produzir per se sobre o europeu do Norte efeitos de degeneração … grande é a massa de evidências que parecem favorecer o ponto de vista contrário”. Aqui, como em outros pontos da obra, a proximidade e a subjetividade do estudo da sociedade patriarcal dão lugar ao distanciamento e à objetividade. Pode-se, pois, descrever Casa-grande muito apropriadamente como um livro híbrido, não somente no sentido de combinar técnicas científicas e de ficção, como Nicolazzi aponta, mas também por se mover entre o fora e o dentro, entre distância e proximidade.
Como uma boa tese de doutorado, Um estilo de História é extremamente minuciosa e, em certos aspectos, ainda “cheira” a uma tese no sentido de que o autor não parece saber bem quando parar, repetindo argumentos e mesmo citações (uma delas três vezes) a fim de fortalecer seu argumento. Os leitores, ou ao menos alguns deles, podem ter às vezes a sensação de que Nicolazzi está usando uma marreta para abrir uma noz. Como muitas teses brasileiras, Um estilo de História está também sobrecarregada de reflexões sobre método e teoria, assim como apoiada em grande bagagem intelectual, desconsiderando, às vezes, o princípio conhecido como “o rifle de Chekhov”. Chekhov certa vez aconselhou os escritores a “removerem tudo que não tem relevância para a estória. Se você diz no capítulo primeiro que tem um rifle pendurado na parede, no segundo ou no terceiro esse rifle tem necessariamente de ser usado para atirar em alguma coisa. Se não for para ser disparado, então o rifle não deveria estar pendurado lá”. Do mesmo modo, se a Metahistory de Hayden White é discutida na introdução, como foi o caso, os leitores seguramente têm o direito de esperar que o livro de White seja usado mais tarde, discutindo, por exemplo, se Casa-grande & senzala foi “encenada” como uma comédia ou romance. Essas expectativas, no entanto, são frustradas.
Outra questão que importa levantar diz respeito ao uso acrítico que Nicolazzi fez, algumas vezes, dos escritos autobiográficos de Freyre, especialmente de seu “diário da juventude”. Esse texto ocupa lugar importante no livro para reforçar seu argumento sobre a legitimidade que as experiências vividas por Freyre dão ao estilo de história que escolheu escrever. Há evidências de que esse diário “da juventude”, publicado em 1975, não foi efetivamente redigido entre 1915 e 1930, tal como o Freyre maduro – tão envolvido em self-fashioning – quis fazer crer. Ele era, na verdade, exímio na arte da autoapresentação, produzindo com esmero a imagem que os leitores deveriam ter dele. Nicolazzi reconhece isso logo na primeira parte de seu livro. No entanto, várias vezes utilizará esse “diário”, ou ensaio-memória, como se ele representasse fielmente o que o autor fizera ou pensara quando ainda estava para escrever Casa-grande. É de se crer que esses deslizes se devam ao fato de o livro incluir textos escritos em momentos diversos, e que falhas ou descuidos como esses compreensivelmente escaparam na revisão.
Não obstante esses pequenos senões, Um estilo de História é livro inovador e perspicaz que elucida, inspira e instiga a curiosidade do leitor. É também valioso por tratar de ideias de proximidade e distância nos moldes de alguns estudos recentes e refinados sobre “distância histórica”, em especial os desenvolvidos por Mark Phillips e alguns de seus colegas. Particularmente interessante é a diferenciação que Phillips faz entre distância e distanciamento, o primeiro uma postura espontânea entre os historiadores, o segundo uma estratégia proposital usada por alguns deles para trazer o passado para perto do leitor, como num close-up, quando assim acham importante, ou distanciar o passado para obter outros efeitos. Enfim, a retórica da proximidade e da distância como uma ferramenta que alguns historiadores usam conscientemente, como um romancista, para causar determinados efeitos em seus leitores, é uma linha de estudos fecunda à qual o livro de Nicolazzi pode ser associado. E, nesse sentido, Um estilo de História tem o grande mérito de potencialmente acenar para um novo e promissor fio a ser seguido pelos estudiosos de historiografia e de Gilberto Freyre.
Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke – Research Associate, Centre of Latin American Studies, University of Cambridge. Cambridge, UK. E-mail: mlp20@cam.ac.uk.
Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação – SCOTT; HÉBRARD (RBH)
SCOTT, Rebecca J. Hébrard, Jean M. Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação. Campinas: Ed. Unicamp, 2014. 296p. Tradução de Vera Joscelyne. Resenha de: MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36, no.72, MAI./AGO. 2016.
Doze milhões de pessoas foram transportadas involuntariamente do continente africano para as Américas entre os séculos XV e XIX para serem vendidas como escravas. Em Provas de liberdade, Rebecca Scott e Jean Hébrard reconstituíram a trajetória de uma delas, Rosalie, de nação Poulard, e seguiram seus descendentes por cinco gerações historiando grandes temas da era contemporânea como a abolição da escravidão de africanos, a cidadania e as lutas contra o racismo.
Rebecca Scott, professora de História da América Latina e de Direito da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, é conhecida do público brasileiro por seu livro Emancipação escrava em Cuba, cuja abordagem da desintegração da escravidão na colônia espanhola deu poder explicativo para a mobilização de escravos e libertos e teve um impacto significativo na historiografia brasileira da escravidão. Jean Hébrard é um dos diretores do Centre de Recherches sur le Brésil Colonial et Contemporain da École des Hautes Études en Sciences Sociales, na França, e professor visitante de História da América Latina e Caribe na Universidade de Michigan. O livro, publicado em inglês em 2012, rendeu aos autores dois prêmios da American Historical Association concedidos a livros sobre a História das Américas e sobre História Atlântica, em 2012, e um da Sociedade Americana de Estudos Franceses e do Instituto Francês de Washington para livros sobre temas comuns à França e às Américas, em 2013. Como Papeles de libertad, foi publicado em Cuba pelas Ediciones Unión e na Colômbia pelo Instituto Colombiano de Antropologia e História (ICANH). A edição brasileira, da Editora da Unicamp, contou com tradução de Vera Joscelyne e revisão técnica por equipe coordenada pelos autores e incluiu ilustrações, um mapa e um índice apenas onomástico – quando a edição original tinha índice remissivo onomástico e temático.
Provas de liberdade, como todo bom livro, tem diferentes camadas de entendimento e apreciação. Historiadores de qualquer área vão reconhecer a extensão da pesquisa e a originalidade da proposta metodológica; os especialistas na área de escravidão vão observar as contribuições historiográficas, e o público não especialista terá uma leitura prazerosa, emocionante e surpreendente.
Como relatam os autores, a pesquisa começou com a descoberta de uma carta no Arquivo Nacional de Cuba enviada da Bélgica por Edouard Tinchant ao general cubano Máximo Gomez no fim do século XIX. Nela, Tinchant declarava simpatia pela causa da independência de Cuba e associava a sua trajetória e a de sua família às lutas por cidadania e contra o racismo. Scott e Hébrard partiram, então, a verificar e reconstituir a história dessas pessoas que “personifica[vam] uma conexão entre três das maiores lutas antirracistas do ‘longo século XIX’: a Revolução Haitiana, a Guerra Civil e a Reconstrução nos Estados Unidos, e a Guerra Cubana pela independência” (p.17). O método, que os autores batizaram de “micro-história em movimento”, consistiu em seguir o rastro documental da família de Edouard Tinchant, duas gerações para trás e duas para a frente, por meio de documentos públicos e privados de todo tipo, garimpados em arquivos de oito países em três continentes e, na falta deles, preencher os vazios com dados que se associavam às trajetórias seguidas tanto por proximidade quanto por probabilidade. Sabendo, por exemplo, pela certidão de nascimento da mãe de Edouard, Elisabeth, que a mãe dela era Marie Françoise, conhecida por Rosalie, negra de nação Poulard, Scott e Hébrard puderam situar seu local de origem, a colônia francesa do Senegal, e o período aproximado de sua venda para o tráfico atlântico entre a Senegâmbia e Santo Domingo, o final da década de 1780. A falta de registros pessoais da primeira fase da vida da mulher que mais tarde se chamaria Rosalie foi então contornada pelos autores com o recurso a relatos contemporâneos de europeus, a documentos sobre a escravidão na colônia francesa do Senegal e à literatura secundária sobre a África Ocidental, o Islã na África e o tráfico atlântico do final do século XVIII.
No início da década de 1980, quando a área de estudos de escravidão começava a ganhar contornos e os especialistas ainda cabiam em um auditório, esboçava-se uma transição entre abordagens: de um lado, a do sistema de organização do trabalho e exploração dos trabalhadores, que dialogava com as teorias econômicas, e de outro, a das relações entre sujeitos históricos com autodeterminação, que abria o leque de influências disciplinares para incluir a sociologia, a antropologia e a linguística. Nessa fase, os historiadores passaram a observar mais de perto os mecanismos de reprodução do sistema, seus “segredos internos”, e com isso o comportamento dos grupos sociais, seus interesses e conflitos. O reconhecimento do protagonismo dos sujeitos históricos das camadas subalternas abriu espaço para que se multiplicassem as pesquisas em que a escala de análise dos diversos temas – trabalho, família, resistência, identidade étnica, práticas mágicas e religiosidade, entre outros – fosse a do indivíduo.
Depois de três décadas de grande florescimento e efervescência, a abordagem centrada nas pessoas escravizadas se vê às voltas com críticas acerca da representatividade dos sujeitos escolhidos e também da relevância dos seus achados para o entendimento dos grandes processos da História. Por isso, Provas de liberdade é ao mesmo tempo um libelo em defesa do jogo de escalas e uma demonstração de como proceder para incorporar o protagonismo dos sujeitos em uma análise dos processos históricos.
Os autores não trataram seus personagens como típicos ou excepcionais. A cada momento, na geração de Rosalie, de sua filha Elisabeth, de seu neto Edouard Tichant ou dos sobrinhos e sobrinhos-netos dele, Scott e Hébrard buscaram retratar momentos difíceis de tomada de decisão, de escolhas entre diferentes caminhos possíveis. Cada capítulo acaba com alguém embarcando rumo a uma nova fase na vida, sempre sob pressão ou ameaça. Foi assim quando Rosalie, já liberta, mas sem documento oficializado de sua liberdade, teve que fugir de Saint Domingue para Cuba com a filha Elisabeth em 1803, ou ainda quando a africana embarcou Elisabeth com sua madrinha para New Orleans, na Louisiana, em 1809 e voltou para o Haiti, agora independente. Foi ainda o caso da escolha feita por Elisabeth e seu marido, Jacques Tinchant, ele também filho de emigrantes haitianos de origem africana, de partir com quatro filhos para a França, país onde teriam direitos civis que não eram reconhecidos às pessoas livres de cor na Louisiana escravista da década de 1840. Foi igualmente a escolha de Edouard, nascido na França em 1841, de se juntar a dois de seus irmãos que trabalhavam em manufaturas de charutos em New Orleans. Na Louisiana, Edouard se engajou num batalhão de pessoas de cor durante a Guerra Civil, do lado da União, e depois entrou para a política, sendo eleito deputado da Assembleia Constituinte da Louisiana durante a Reconstrução, quando defendeu a igualdade de direitos civis, políticos e públicos para todos os cidadãos. Em cada trajetória e em cada momento vemos sujeitos fazendo escolhas em condições adversas, reagindo às limitações impostas pela conjuntura, protagonizando eventos e processos históricos como as transformações da escravidão e sua abolição, o pós-emancipação, ou mesmo a resistência ao nazismo na Segunda Guerra Mundial, história que antes víamos apenas de longe.
O diferencial metodológico do livro está na aproximação com o campo do Direito. Em primeiro lugar, os autores lançaram um novo olhar para os registros individuais. Sob a lupa do historiador cuidadoso, os documentos revelaram histórias complexas da aquisição e exercício de direitos (à propriedade, à liberdade, à nacionalidade, à cidadania), desnaturalizando-os e inscrevendo-os num campo de disputas. Assim, o direito à propriedade sobre escravos pode vir de uma apropriação ilegítima, posteriormente formalizada, como a que aconteceu entre milhares de ex-escravos de Saint Domingue que migraram para Cuba e depois para a Louisiana, onde a escravidão persistia: acabaram reescravizados. Em segundo lugar, Scott e Hébrard convidam os leitores a perceber como os protagonistas conferiam importância aos documentos escritos, mesmo que às vezes não pudessem ler. Essa consciência levou Rosalie a fazer questão de uma carta de alforria mesmo já sendo emancipada, pois nos territórios para onde iria ainda havia escravidão e ela sabia que precisaria provar sua condição. Nisso, percebemos que o entendimento sobre o significado e mesmo o conteúdo dos documentos sempre esteve em disputa entre as diversas forças sociais (incluindo as autoridades), e que as pessoas frequentemente se moviam na incerteza; não havia garantia plena de que uma pessoa livre de cor não fosse reescravizada, pois a fronteira entre escravidão e liberdade era bem mais porosa e cinzenta do que antes imaginávamos. Por último, é preciso ressaltar novamente a importância da abordagem simultânea em diferentes escalas, pois, ao narrar a história pelo fio condutor dos embates dessa família pelo reconhecimento de direitos – à liberdade, à respeitabilidade, à dignidade e igualdade perante a lei – os autores fizeram uma história social centrada na luta por direitos, sobretudo direitos humanos, no período entre a Revolução Francesa e o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o protagonismo dos negros, mulheres e povos submetidos à colonização forçou sua ressignificação e ampliação até serem reconhecidos como universais.
Em suma, Provas de liberdade é uma obra acadêmica rigorosa e inovadora que os leitores terão o prazer de ler como um romance.
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC, Brasil. beatriz.mamigonian@ufsc.br.
Teoria da História: uma teoria da história como ciência – RÜSEN (RHH)
Importante autor na área da teoria da história e da didática histórica, Jörn Rüsen, professor emérito da Universidade de Witten/Herdecke na Alemanha, procura, neste livro, retomar e somar novas perspectivas e reflexões à teoria da história estabelecida em sua obra, especialmente na trilogia publicada no Brasil com os títulos Razão histórica (2001), Reconstrução do passado (2007) e História viva (2007). Segundo Rüsen, a história é parte do cotidiano social e individual, em sua formatação tanto científica quanto não científica. Procurar alguma realização por meio do pensamento histórico é um esforço antropológico, uma constante humana – o saber histórico auxilia na relação com as dimensões do tempo, buscando explicar, compreender e planejar. Os seres humanos vivem no tempo e o pensamento histórico se relaciona com a administração da experiência temporal: sempre há carências de orientação. A partir destas noções o autor procura fundamentar e articular a importância do conhecimento histórico científico, especializado e profissional, na perspectiva existencial do ser humano frente a outros saberes, históricos ou não. Leia Mais
R. G. Collingwood: A Research Companion – CONNELLY et al (IJHLTR)
 CONNELLY, James Connelly; JOHNSON, Peter Johnson; LEACH, Stephen. R. G. Collingwood: A Research Companion. London: Bloomsbury, 2015. 293p. Resenha de: HUGHES-WARRINGTON, Mamie. International Journal of Historical Learning Teaching and Research, London, v.13, n.2, p.14-15, 2016.
CONNELLY, James Connelly; JOHNSON, Peter Johnson; LEACH, Stephen. R. G. Collingwood: A Research Companion. London: Bloomsbury, 2015. 293p. Resenha de: HUGHES-WARRINGTON, Mamie. International Journal of Historical Learning Teaching and Research, London, v.13, n.2, p.14-15, 2016.
In 1992, I became the fortunate owner of a small photocopied guide to the R. G. Collingwood papers in the Bodleian Library, Oxford. This much-thumbed, much-annotated booklet became the first item in a collection of transcriptions and notes that soon spilled over the limits of a single folder and settled into a row of boxes that continues to grow today.
Such was the lot of a researcher on the life and works of Robin George Collingwood (1889– 1943), philosopher, archaeologist, historian and luminary of Oxford University in the first half of the twentieth century. Until now. Connelly, Johnson and Leach’s companion for researchers admirably fulfils its aims of providing a comprehensive and systematic listing of materials by and on Collingwood and of placing those materials in the context of a detailed chronology of his life (p. 2).
The book is helpfully divided into eight sections, covering a biography, a chronology of life events, letters, unpublished and published works by Collingwood and his commentators and details of the many archive holdings. The largest section – a description of correspondence – is arguably the most helpful, for the volume and scattered nature of holdings provides a considerable challenge to any budding researcher. The chronology is also a powerful aide to understanding Collingwood’s battle with failing health, which he describes rather poignantly in a 1941 letter to Christopher Hawkes as the time ‘since the superincumbent sword of Damocles became clearly visible, and here I am driving a pen, though not well’ (p. 137).
To those who would argue that it is an important rite of passage for new researchers to find materials for themselves, the simplest rebuttal is that comprehensive aids for research assist in the development of a comprehensive and nuanced understanding of the ideas and life events of individuals and groups. Moreover, they minimise the risk of misunderstandings that arise from not having considered particular materials, protecting students, early career researchers and those interested in Collingwood because of his connections to others from the dreaded ‘but you haven’t read x’ of the experienced Collingwood researcher.
There is a little to quibble about the book. The biography (pp. 3–6) gives the reader little sense of The Idea of History as a posthumous collection brought together by Collingwood’s student, T. M. Knox, or of the significant discovery in 1993 of missing chapters from The Principles of History in the basement of Oxford University Press. The published Collingwood is only the tip of an extensive manuscript collection that shows the evolution of his thought at work.
Nor does the book give the reader a sense of what to expect when they see a Collingwood manuscript for the first time. Collingwood’s handwriting is far from challenging as far as philosophers go, and his use of recycled exam scripts provide a helpful reminder of the Oxford in which he worked. But readers do need to be warned about his liberal use of ancient Greek terms, as well as his predilection for quoting from poems without noting their source. What was customary intertextual reference in Oxford of the 1930s can take the present day reader by surprise, and the best remedy is to begin with the revised editions of Collingwood’s philosophical work – starting notably with David Boucher’s edition of The New Leviathan (1992) – as they contain transcriptions and explanatory notes to a significant group of manuscripts.
Finally, the collection does not explicitly give the reader a sense of the balance of Collingwood’s interests in toto, as distinct from a year-by-year summary. This is a significant gap, as an analysis of the Collingwood corpus can remind us not to pass over his contributions to aesthetics when we see the vast lists of writings on archaeology, metaphysics and the philosophy of history.
But these are minor quibbles, and given the significant opportunities for research posed by a still largely untapped group of writings, this Research Companion is a welcome introduction to those new to Collingwood studies.
Marnie Hughes-Warrington – Australian National University, Australia. E-mail: marnie.hughes-warrington@anu.edu.au.
[IF]Sociologia no Espelho. Ensaísticas, cientistas sociais e críticos literários no Brasil e na Argentina (1930-1970) – BLANCO; JACKSON (PH)
BLANCO, A.; JACKSON, L. C. Sociologia no Espelho. Ensaísticas, cientistas sociais e críticos literários no Brasil e na Argentina (1930-1970). São Paulo: Editora 34, 2014. Resenha de: TEDESCO, Alexandra Dias Ferraz. Historiadores e sociólogos no espelho. Projeto História, São Paulo, n. 54, pp. 322-330, Set.-Dez. 2015.
A obra de Luiz Carlos Jackson e Alejandro Blanco que comentaremos nesse espaço, Sociologia no Espelho – Ensaístas, cientistas sociais e críticos literários no Brasil e na Argentina (1930-1970), publicada em português pela Editora 34, em 2014, traz, em seu título, algumas das implicações e tensões que constituem o próprio cerne da hipótese do livro. A proposta chama atenção não apenas pelo recorte temporal (datas paradigmáticas nos dois países, que sugerem ainda um período de constantes choques políticos e tensões sociais) mas, principalmente, pela multiplicidade de agentes em análise e em interação, que abre caminho para a hipótese estruturadora da análise dos dois autores: a ideia de que as trajetórias intelectuais operam em relação dinâmica com o contexto de institucionalização das referidas áreas acadêmicas e, ainda, que se pautam – em maior ou menor grau – pelas vicissitudes dos processos sociais que se desenvolvem na esfera não-acadêmica. Assim, embora a proposta do livro aborde, com riqueza de detalhes, algumas oscilações epistemológicas importantes, as questões políticas e sociais não aparecem de forma sorrateira na análise, outrossim, constituem matéria de base para a compreensão da relação entre ensaístas, cientistas sociais e críticos literários nos dois contextos.
Seguindo a proposta dialética da obra, o lugar intelectual de que falam os autores é um dado importante para a compreensão mais ampla da proposta metodológica contida na obra. Alejandro Blanco, graduado em sociologia pela Universidade de Buenos Aires e doutor em História pela mesma universidade, atualmente pesquisador do CONICET, desenvolve uma série de pesquisas no âmbito da História Intelectual, notadamente sobre o processo de institucionalização da sociologia na Argentina.1 Luiz Carlos Jackson, por seu lado, professor de Sociologia da Universidade de São Paulo trabalhou, em sua tese de Livre Docência na mesma Universidade com a perspectiva da Sociologia Comparada.2 Essas breves considerações biográficas ajudam a contextualizar o esforço conjunto do qual resulta Sociologia no Espelho, na medida em que as problematizações buscadas na obra refletem uma importante flexibilidade disciplinar, fundamental, em nosso ponto de vista, para dar corpo a um projeto comparativo que trabalha na fronteira entre a sociologia da cultura, a análise das trajetórias e a história intelectual. É nesse amalgama, inclusive, que o livro ganha centralidade também nas discussões historiográficas, notadamente naquelas que pretendem abrir-se a diálogos transversais, abrindo mão de uma visão laudatória de suas fronteiras epistemológicas. O esforço por operar com um escopo metodológico tão amplo e diversificado dá a tônica, como veremos, da estruturação dos capítulos.
A obra, que conta com prefácio do professor Sergio Miceli, está dividida em três capítulos. São eles, A Batalha dos Gêneros, focado nas relações nem sempre amistosas entre a sociologia e as disciplinas já consolidadas nos campos intelectuais dos dois países – notadamente com o ensaio, Sociologias Comparadas, momento em que os autores aprofundam a reflexão teórica e descortinam as vinculações temáticas dessa sociologia que emerge, nos dois países, a partir das décadas de 1930 e 1940 e, por fim, Terrenos da Crítica, onde a análise se dirige para as relações desse processo de institucionalização da sociologia com o amadurecimento de uma crítica literária profissional nos dois países.
É importante destacar que, ademais da clareza da divisão dos capítulos, há fios condutores evidentes entre eles, quais sejam: a natureza dinâmica do método que evita comparações estanques, procurando lançar uma luz conjunta aos dois contextos, a relação entre o processo de institucionalização da sociologia com os processos político sociais mais amplos e, não menos importante, a articulação das hipóteses a partir da trajetória do que os autores denominam como os “quatro ases” desses processos: Gino Germani e Adolfo Prieto, no caso argentino, e Florestan Fernandes e Antonio Candido, no caso brasileiro. Detenhamo-nos agora, brevemente, aos desdobramentos da hipótese.
O primeiro capítulo parte da ideia de que os embates pelos quais a sociologia procurou se colocar no rol das instâncias de fala acadêmica autorizada foram, nos dois contextos, distintos, sobretudo no grau desses enfrentamentos. No caso argentino, a existência de uma ampla rede de financiamento privado de revistas e circuitos intelectuais operando à margem de uma Universidade que, embora mais antiga que as brasileiras, esteve permanentemente exposta às intervenções do campo político, contribuiu para uma relação de enfrentamento mais branda em relação às tradições consagradas da tradição intelectual argentina, notadamente o ensaio. Além disso, a composição social argentina das décadas de 1930 a 1950 – com a entrada maciça de imigrantes e o aumento de demandas de inserção da classe média – fomentou uma composição mais diversificada para o recrutamento dos universitários na década de 1950. Essa circunstância favoreceu, na análise dos autores, a emergência da sociologia como voz paralela no campo acadêmico, na medida em que a tônica dos ensaios que circulavam na Argentina nas décadas de 1930 e 1940 – e que eram dominados por autores amplamente lastreados por vinculações pessoais e familiares com o mercado privado de instâncias culturais tradicionais, como cafés e salões – não se propunha a reconstituir os nexos históricos e sociais da formação do país, estando muito mais vinculados à chamada “literatura de crise”.3 Comparativamente, o caso brasileiro apresenta um panorama distinto. Nesse caso, o processo de institucionalização dos estudos sociológicos é confrontado com um campo literário consolidado, desde meados do Segundo Império, em torno do romance. Nesse campo já bastante articulado, a relação estreita entre essa tradição romancista e os ensaístas dos “estudos sociais” brasileiros, como Gilberto Freyre e Sergio Buarque de Hollanda, promoveu uma configuração salutar: na medida em que as propostas sociológicas desenvolvidas na USP e na ELSP confrontaram-se em termos metodológicos de forma mais dura que em relação ao caso argentino, o fato de esses literatos pertencerem a uma larga tradição de vinculação burocrática e institucional, leva a uma flagrante continuidade nos temas, pelo menos até a década de 1950.4 Em suma, o problema da “formação da nação” marca essa confluência de temas, muito embora a “forma” literária fosse questionada pelo projeto empírico que se gestava nas instituições de sociologia de São Paulo.
No segundo capítulo, uma pergunta inicial aglutina e justifica as digressões teórico-metodológicas que se seguem. Precisamente, como explicar, apesar das diferenças sugeridas no capítulo anterior, o aparecimento de empreendimentos intelectuais tão bem sucedidos, como os de Gino Germani, no caso argentino, e de Florestan Fernandes, no caso brasileiro? A resposta passa por uma análise da questão estrutural das Universidades em que operam esses agentes. A partir de um histórico da formação das três instituições centrais da análise, quais sejam, a Faculdad de Filosofia y Letras da UBA (1896), a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP (1934) e a Escola Livre de Sociologia e Política (1933), o cotejamento dos autores se direciona a pensar de que forma as condições institucionais desses três centros viabilizaram, oportunizaram ou dificultaram um projeto acadêmico bastante ambicioso que une dois “ases” desse processo: Gino Germani e Florestan Fernandes. Na análise comparada, chegam à conclusão de que enquanto Florestan operava a partir de uma tradição mais consolidada e de uma ampla rede de apoiadores (formada, o que não é destituído de importância, por sumidades como D. Pierson e R. Bastide), Germani não conta com essa retaguarda, tampouco com um capital cultural acadêmico comparável ao brasileiro. Sinteticamente, “o brasileiro caminhou da ciência à política, o argentino trilhou o caminho inverno” (161).
Essa condição é fundamental pois é a partir das respectivas tradições intelectuais e institucionais em que se inseriram que os sociólogos desenvolvem suas estratégias de legitimação no espaço público. As Universidades argentinas, como apontado anteriormente, sofreram com longas intervenções – especialmente, a Universidade de Buenos Aires. Posto isso, os espaços acadêmicos atuaram como peça fundamental no acumulo de capital cultural dos intelectuais argentinos, motivo pelo qual a relação do mundo intelectual com o mundo político é comparativamente mais permeada por tensões e oscilações. No caso brasileiro, onde o Estado foi o grande empregador dos “homens de letras” ao longo de toda a primeira metade do século XX, a estrutura universitária era substancialmente mais rígida, o que torna os empreendimentos da sociologia mais orgânicos institucionalmente e, ao mesmo tempo, mais heterônomos em relação à tradição intelectual já estabelecida.
Já postas, dessa forma, as vicissitudes do processo inicial de enfrentamento da sociologia e constituição como uma disciplina autônoma nos dois países, e já balizados seus principais articuladores teóricos em confluência com as questões institucionais, passa-se para o capítulo final, Terrenos da Crítica. Nesse momento da análise a sociologia desponta, enquanto disciplina institucionalizada e em vias de especialização, enquanto legitimadora de uma série de prestígios acadêmicos, relações fundadas tanto no projeto teóricoepistemológico desenvolvido nos dois contextos, quanto nas trajetórias de seus dois protagonistas, que dão uma medida da posição de destaque que a sociologia ocupou, nos dois países, em relação a outras disciplinas do campo acadêmico.
Embora a esta altura já esteja claro que os embates da sociologia para estabelecer-se enquanto disciplina autônoma foram gradualmente distintos nos dois países, a tensão que se observa entre essas perspectivas sociológicas ascendentes e o campo da crítica literária é um fator em comum em ambos os contextos. Em síntese, “nos dois casos e quase ao mesmo tempo a crítica literária aproximou-se da sociologia, esforçando-se por obter um estatuto mais científico do que detinha até, aproximadamente, a primeira metade do século XX” (pg.
167). Como explicar, no entanto, esse movimento compartilhado? Para encontrar essa resposta, Blanco e Jackson trazem mais dois “ases” para o desenvolvimento do argumento: o argentino Adolfo Prieto e o brasileiro Antonio Candido. A análise dessas trajetórias procura levar em conta as tradições intelectuais nas quais se plasmam e, especificamente, as formas de inscrição institucional da crítica literária nos dois países. Salientando a relação díspar dos dois autores em relação ao polo central, representado então pela sociologia, os autores historicizam essas trajetórias cuidadosamente, considerando aspectos às vezes tidos como marginais, como a repercussão das publicações periódicas na definição de um espaço de autonomia para a crítica literária. Ao fim e ao cabo, a posição marginal do crítico literário Adolfo Prieto – atuante em universidades marginais da Argentina – e a posição central de Candido – ligado originalmente ao grupo de Florestan Fernandes na USP – contribuem para entender as disputas epistemológicas travadas por eles dentro de um quadro mais amplo, constituído em função da estrutura dos campos intelectuais em que se inseriram.
Nesse sentido, para dimensionar o impacto da sociologia na Crítica Literária é fundamental ter em vista que o método empírico, repertório teórico e epistemológico que une os projetos de Germani e de Florestan, logrou tornar-se, nas décadas de 1950 e 1960, o próprio paradigma através do qual deveriam se legitimar as análises sobre a modernização nos dois países. Dessa forma, observar de que forma os críticos literários foram confrontados com esse critério de validação, e de que forma se apropriaram do mesmo, é, indiretamente, perscrutar a circulação acadêmica do projeto sociológico, considerando suas distinções mas entendendo-o, como está suposto na proposta da obra, sob o mesmo foco de luz comparativo.
Os capítulos, como pretendemos demonstrar, abordam as tradições intelectuais dos dois países, as vicissitudes das organizações acadêmicas do Brasil e da Argentina e, por fim, as trajetórias dos “quatro ases” a partir de uma perspectiva comparada. A defesa do método, contudo, não é apenas um artifício narrativo, mas constitui o centro da hipótese, e perpassa os capítulos de forma sincrônica, conferindo a eles uma perspectiva contingente, atenta aos perigos de naturalizar determinadas relações entre sujeitos e objetos de pesquisa.
Consideramos, nesse sentido, que a contribuição do livro passa pela consideração das estratégias dos discursos científicos, acadêmicos, intelectuais, enquanto constituintes das dinâmicas de prestígio que organizam as relações entre as disciplinas. Dessa forma, é nessa trincheira entre auto-referenciamento disciplinar e cooperação metodológica que o livro ganha relevância, também, para historiadores.
Entender a disputas entre sociólogos, ensaístas e críticos literários – admitindo, quando é o caso, suas continuidades – em termos de estratégia de legitimação específicas pode indicar, no campo da história, um caminho de auto-reflexidade importante: assim como os “ases” do baralho em que se movem os sujeitos da pesquisa oscilam nas posições dentro do campo, as fronteiras disciplinares não respondem, somente, à discordâncias epistemológicas: são organizadoras do campo e, como tal, exigem, permanentemente, a “vigilância epistemológica” sugerida por Pierre Bourdieu.5 Não se trata, dessa forma, de obscurecer especificidades, mas de abrir-se ao diálogo, de abrir-se a um esforço conjunto de entendimento do mundo intelectual.
Notas
1 Além de uma série de artigos sobre a recepção de autores como Weber e Simmel na Argentina, é possível consultar, também, Razón y Modernidad, publicado em 2006 pela Editora Siglo XXI.
2 No caso de Jackson é possível consultar, além de seus estudos sobre a chamada Escola Paulista de Sociologia, a obra Os Parceiros do rio Bonito e a Sociologia de Antônio Cândido, publicado pela Editora da UFMG em 2002.
3 Esse é um dado importante para compreender os embates dentro do campo intelectual argentino, na medida em que, nesse caso, dá-se uma separação entre o campo acadêmico universitário (mais diretamente influenciado pelas hecatombes políticas das décadas de 1930 e de 1940) e uma longa e consolidada tradição de circulação de ideias e intelectuais nos ambitos privados, restritos às sociabilidades criollas. Exemplo dessa condição é o próprio CLES (Colégio Livre de Estudos Superiores) que atua – nos momentos de intervenção peronista na Universidade – como alternativa aos intelectuais que tiveram suas cátedras caçadas durante o regime. A existência e a força dessas plataformas de consagração acadêmica extra-universitárias, portanto, contribui para que a sociologia que emerge dentro do mundo acadêmico, na década de 1950, não dispute a mesma posição no campo intelectual. É um contraste bastante marcado em relação ao caso brasileiro, onde a tradição literária esteve, desde sua origem, vinculada às instituições acadêmicas, tanto por seu público como pela trajetória de seus principais autores.
4 Os autores levam em conta, nessa análise comparativa, que enquanto Buenos Aires era o grande centro da vida intelectual argentina, centralizando a maior parte desses embates, o caso brasileiro apresenta um outro fator de complexidade: as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro vivenciaram processos radicalmente distintos. Enquanto na primeira, pela questão da imigração e da relativa distância dos centros políticos de decisão, foi possível pensar a sociologia enquanto um projeto de cunho científico, no caso carioca a precoce criação de institutos ligados ao poder governamental tornou os embates mais imbuídos de conteúdo político. Essa relação é perene ao longo de todos os capítulos do livro, na medida em que se, em certos sentidos, Buenos Aires aparece em relação de similitude com o Rio de Janeiro – pela proximidade do poder e pelas redes de burocracia oficiais que se constituíam num fator dificultador da economia -, em termos de base de recrutamento e de projeto teórico e metodológico, a capital portenha possuía paralelos importantes com a cidade de São Paulo.
5 BOURDIEU, P. Meditações Pascalianas. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 2001.
Alexandra Dias Ferraz Tedesco – Mestre em história pela UNESP, campus de Franca, e doutoranda do programa de Pós Graduação em História da UNICAMP, bolsista do CNPq.
Teoria da História (v.1) Princípios e conceitos | José D’Assunção Barros
Pode um historiador ser considerado culto e competente sem nenhuma preparação teórico-metodológica? Pode um professor, mesmo dos Ensinos Fundamental e Médio, ensinar sem nenhuma bagagem teórico-metodológico? A epistemologia deve ficar restrita à alguns pequenos círculos ou deve envolver todos os membros da comunidade de historiadores?1 São sobre tais questionamentos que o livro “Teoria da História: princípios e conceitos fundamentais”, de José D’Assunção Barros, se propõe a discutir. Na obra, o autor apresenta explicações fundamentais para a compreensão da História como campo de conhecimento, com suas próprias peculiaridades teóricas e metodológicas. Leia Mais
What is History for? Johann Gustav Droysen and the functions of historiography | Arthur Alfaix Assis
A publicação de What is History for? Johann Gustav Droysen and the functions of historiography, de Arthur Assis, apresenta uma proveitosa discussão sobre a historiografia de Johann Gustav Droysen (1808-1884), importante historiador alemão do século XIX. Com base na análise da historiografia de Droysen, o autor oferece ao leitor um amplo panorama da historiografia alemã durante o século XIX, centrando-se nos debates sobre o historicismo, paradigma dominante no conhecimento histórico alemão oitocentista, e na reformulação do valor pragmático para a historiografia. Nesse sentido, a obra de Arthur Assis não se dirige somente aos especialistas e pesquisadores do pensamento de Droysen, mas a todos os estudiosos de historiografia alemã e geral, história intelectual e mesmo historiografia política, uma vez que destaca as influências políticas do pensamento daquele autor. Leia Mais
O conhecimento da vida – CANGUILHEM (SS)
CANGUILHEM, Georges. O conhecimento da vida. Tradução de Vera Lucia Avellar Ribeiro. Revisão técnica de Manoel Barros da Motta. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. Resenha de: PUTTINI, Rodolfo Franco. Ética, conhecimento e vida. Scientiæ Studia, São Paulo, v.13, n. 2, p. 449-58, 2015.
O objetivo não será aqui aprofundar a asseveração de que, desde a sua famosa tese de doutoramento (1995a), Georges Canguilhem (1904-1995) iniciou e propulsionou a estruturação de um programa de pesquisa cujo trabalho filosófico voltou-se para os problemas contemporâneos da biologia e da medicina iniciados pelas diretrizes da tradicional escola francesa de epistemologia histórica desde Gaston Bachelard. No entanto, acentuarei que os primeiros testemunhos vigorosos desse percurso intelectual podem ser verificados no livro La connaissance de la vie, publicado em 1952, nove anos após a defesa de seu doutoramento em 1943, republicado em 1952 pela editora francesa Hachette, reeditado por doze vezes até 1965 com textos inéditos pela editora J. Vrin, e cuja tradução em língua portuguesa somente em 2012 foi realizada pela editora brasileira Forense Universitária.
O livro reúne em oito ensaios o nexo entre o pensamento e a vida, uma associação pouco valorizada nas ciências biológicas. Canguilhem apresenta os ensaios segundo uma ordem de importância histórico-filosófica, assim distribuída: Introdução, “O pensamento e o vivente”, ensaio escrito em 1952; um ensaio sobre o método, “A experimentação em biologia animal”, de 1951; um ensaio de história da ciência, “A teoria celular”, de 1945; e um conjunto de textos de filosofia da ciência escritos em 1946, 1947 e 1951 – “Aspectos do vitalismo”; “Máquina e organismo”; “O vivente e seu meio”; “O normal e o patológico”; “A monstruosidade e o monstruoso” –, e apêndices (três pequenas notas, sem datas), seguidas de bibliografia ou indicações de livros recomendadas pelo próprio autor. Essa estruturação aproxima várias temáticas relevantes ao problema da vida: a teoria celular, o vitalismo, o mecanicismo, a máquina, o organismo, o pensamento, o vivente, o meio, o normal, o patológico, a monstruosidade, o monstruoso, a experimentação em biologia animal.
É certo que esses escritos foram elaborados antes da descoberta do DNA (cf. Watson & Crick, 1953) e poderiam até sugerir preocupações retrógradas por parte dos biólogos. Porém a controvérsia entre raça, inteligência e genética permanece ativa (cf. Milmo, 2007; Charlton, 2008; Malloy, 2008) e levanta discussões sobre a relação entre atividade científica e valores (cf. Lacey, 2008). Para uma leitura atualizada do livro de Canguilhem proponho combinar questões ligadas ao projeto genoma, cuja técnica associada possui desdobramentos para a vida e para a vida profissional de biólogos e geneticistas atuantes em procedimentos médicos – tais como a verificação do grau de risco de desenvolvimento de doenças, os testes genéticos, o aconselhamento genético, a terapia para doenças genéticas, as células-tronco para regenerar tecidos, a terapia celular, a escolha de embriões para reprodução humana –, com questões sobre os fundamentos éticos que garantem o respeito aos direitos humanos na aplicação de teorias biológicas no desenvolvimento biotecnológico de dominação da vida e, particularmente, da vida humana (cf. Garcia, 2006). Não estariam as práticas biotecnológicas dirigidas de tal modo a refletir o eugenismo (cf. Stepan, 1991)? Qual o limite da prática da medicina, aliada às ciências biológicas, que afiança com responsabilidade sobre os perigos do eugenismo de modo a criar um contexto social de bom senso?
Mantendo a posição de que, em alegação atualizada, Canguilhem promove no livro O conhecimento da vida o empenho em fundamentar o campo ético nas ciências da vida atreladas à medicina e à sociedade; sua postura crítica ao antropocentrismo diante da vida e do sentido do conhecimento (em relação à vida humana) revela a originalidade logicamente arranjada em quatro tópicos que estruturam argumentos historiográficos, éticos e filosóficos sobre problemas concernentes às ciências biológicas interligadas à medicina, argumentos que se desdobram em ponderações no campo da produção de conhecimento que incluem a prática científica em geral. A classificação atual das áreas do conhecimento permite interpretar de modo mais objetivo os vínculos entre os ensaios,1 decorrentes de interrogações de fundo sobre a relação entre o conhecimento e a vida, para cujo entendimento pesa o sentido antropológico de alteridade (cf. Canguilhem, 2012b, p. 367), uma relação entre o vivente (uma forma universal de vida material) e o vivido (a experiência singular de um ser vivo):
A vida é formação das formas, o conhecimento é análise das matérias informadas. É normal que uma análise não possa nunca dar conta de uma formação e que se perca de vista a originalidade das formas quando nelas vemos somente resultados cujos componentes buscamos determinar. As formas vivas, sendo totalidades cujo sentido reside em sua tendência a realizarem-se como tais ao longo de sua confrontação com seu meio, podem ser apreendidas em uma visão, jamais em uma divisão (p. 3).
Considerando esse conjunto de problemas de fundamentação da vida, farei a exposição do livro seguindo esta sequência de leitura: “A teoria celular” (1945), “Aspectos do vitalismo” (1946), “Máquina e organismo” (1947), “A experimentação em biologia animal” (1951), “O normal e o patológico” (1951), “A monstruosidade e o monstruoso” (1951), “O pensamento e o vivente” (1952).
1 O MÉTODO HISTORIOGRÁFICO
Dois pontos congruentes destacam-se no artigo “A teoria celular” de 1945: a apresentação do método historiográfico e o raciocínio para o conhecimento da vida. A história da ciência é produzida pelo exame da formação de conceitos, um empreendimento que se assemelha a um laboratório de epistemologia. Especialmente para a história da ciência da vida importa reconstruir os conceitos científicos célula e vida, que aparentemente nada tem em comum com o objeto da ciência da vida. Entretanto, para Canguilhem, há um campo ético que expressa um princípio, oposto ao método e à prática de historiadores, cientistas e filósofos da época que, a exemplo do médico e cientista Claude Bernard, atribuíam à história a inferioridade lógica das teorias passadas (p. 40, nota 2). Canguilhem propõe a epistemologia histórica como fundamento e postura crítica contraposta ao “preconceito científico”, estendido ao método experimental da biologia:
as teorias não nascem dos fatos que coordenam e que são supostos de tê-las suscitado (…) os fatos suscitam as teorias, mas não engendram os conceitos que as unificam interiormente, nem as intenções intelectuais desenvolvidas por elas (p. 82).
Debru (2004) elucidou a posição fortemente holística de Canguilhem, derivada de sua crítica ao dogma nas ciências da vida, com o seguinte destaque nas reflexões sobre o normal e patológico dos Ensaios: “uma norma não é um fato, mesmo estatístico, mas um valor” (Debru, 2004, p. 33), referindo-se ao poder de criação dos valores vitais criados pela fisiologia e patologia, especialmente em comparação à concepção de vida assumida por Claude Bernard ao descobrir a etiologia da diabete como uma patologia, resultado da variação quantitativa do estado normal pela constante da glicemia, modo em que valorizava a crença da técnica médica de domínio sobre a vida em bases científicas. Em oposição a esse cientificismo, Canguilhem afirmaria o conhecimento da diabete partindo do estado de um organismo inteiro, pois “ser doente significa viver uma outra vida, um outro olhar da vida, uma outra relação com o meio” (Debru, 2004, p. 34).
Essas elucidações sobre fato e valor, entre o normal e o patológico, ganham destaque com o problema, vinculado à história da teoria celular, de que não é o microscópio o instrumento que permite, pelos órgãos dos sentidos da visão, constatar, comprovar e identificar a célula, mas “a história da formação do conceito de célula”, carregada de valores afetivos e que atestam a validade da teoria celular (p. 45). Embora essa discussão favoreça o argumento do papel da valorização moderna do controle (Mariconda, 2006), tal ambivalência epistemológica (fato e/ou valor) em Canguilhem aplica-se ao campo científico, mas também, como veremos adiante, à vida mesma.
Para o campo científico das ciências da vida a ambiguidade aparece como coordenada valorativa na história da teoria celular. “Célula” e “vida” são conceitos que se associam à força psicológica e instrumental da noção de indivíduo que motiva a gênese do “vivente elementar, demonstrando assim o valor do termo ‘célula’ na história das teorias sobre a vida”. São 43 páginas (p. 39-82) dedicadas a fazer coincidir o curso da história dos empreendimentos científicos com os interesses de cientistas em meio a descobertas e palavras inventadas, que progressivamente elevam a noção de célula a um estatuto científico. Haeckel, Hooke, Malpigni, Grew trabalharam com plantas, cada qual em seu tempo, e configuraram a anatomia microscópica da célula; a teoria da metempsicose de Lineu; a teoria das moléculas orgânicas e hibridação de Buffon e a teoria fibrilar de Haller, todas essas teorias são marcadores de uma história do conhecimento científico sobre a vida definida no interesse de garantir a questão da individualidade do organismo.
Por outro lado, para Canguilhem, a história das ciências da vida não se distancia de uma história da medicina na medida em que o argumento da passagem da individuação da célula à individualidade do organismo faz eco na prática científica da medicina: Virchow, Robin, Haeckel, Bernard sugerem o uso da teoria celular em explicações para a anatomia, a fisiologia e a histologia na busca da homogeneidade do ser humano enquanto totalidade orgânica. Nesse contexto biomédico, Canguilhem atualiza o problema linguístico do termo “indivíduo” com a controvérsia sobre qual é a classificação dada ao vírus-proteína, uma unidade viva ou não? (p. 72). Tal indagação tem uma resposta adequada à demarcação científica do uso do termo relacional “meio”, com o qual é possível ligar realidades e escalas de observação diferentes (p. 73), de modo que no tempo histórico a individualidade biológica teria sido verificada enquanto princípio de individuação (realidade, ilusão ou ideal).
2 FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS DA VIDA E/OU FILOSOFIA DA VIDA
Remontar aos conceitos de célula e indivíduo para chegar a um entendimento não linear da história das ciências da vida em intersecção com a história da medicina é a estratégia que estrutura a filosofia das ciências da vida atrelada à medicina em um meio vital, mas não exclui o ser humano enredado a um meio social. Como se conjuga o problema da relação entre fato e valor tendo por foco a medicina e o ser humano na sociedade?
A identificação de obstáculos epistemológicos transforma-se em uma ferramenta de análise que auxilia compreender com discernimento o campo científico. Os cinco ensaios de 1946 a 1951 – “Aspectos do vitalismo”; “Máquina e organismo”; “O vivente e seu meio”; “O normal e o patológico”; “A monstruosidade e o monstruoso” – identificam e averiguam os fundamentos do conhecimento da vida de modo concomitante, ora voltado ao progresso científico da ciência físico-química e da biomedicina, ora estendido para a própria vida do vivente.
Inicialmente a força do vitalismo no campo científico pode ser verificada pela vitalidade e fecundidade do discurso vitalista no contexto das refutações teóricas. A comunidade científica pensa o vitalismo por meio de ambivalências: vitalismo/ mecanicismo (problemas de estrutura e função), descontinuidade/continuidade (problemas de sucessão das formas), pré-formação/epigênese (no desenvolvimento do ser), atomicidade/totalidade (problema da individualidade). Para Canguilhem, importa a crítica no interior do campo científico, não se deve excluir do aspecto vigoroso do vitalismo a relação entre os conceitos de vida, de vivente, de ser humano e de consciência da vida.
(…) o vitalismo é a expressão da confiança do vivente na vida, da identidade da vida consigo mesma no vivente humano, consciente de viver (…) um vitalista, proporíamos, é um homem induzido a meditar sobre os problemas da vida (p. 91).
Em reforço ao projeto de fundamentação da vida, Canguilhem examina a formação do conceito de reflexo no campo científico (cf. Canguilhem, 1955a), mostra a decadência da abordagem vitalista identificada como um obstáculo epistemológico primordial deixado de lado na história da medicina. Desde o século xvii a abordagem vitalista, principal obstáculo epistemológico à abordagem mecanicista de Descartes, perde gradualmente valor para as explicações da teoria newtoniana as quais, por sua vez, servem de obstáculo para as conquistas graduais da química positivista que tendem à matematicidade das ciências da vida. Médicos, cientistas e filósofos dedicados à história das ciências da vida e da medicina (Driesch, Goldstein, Van Helmont, Barthez, Blumenbach, Bichat, Lamark, Radl, Bernard) poderiam naquela época oscilar entre a abordagem vitalista de “exigência permanente da vida no vivente” e a abordagem mecanicista, “uma atividade permanente do vivente humano diante da vida (…) tentando unir-se à vida pela ciência” (p. 89).
No confronto entre o vitalismo e o mecanicismo, Canguilhem retorna à teoria cartesiana do homem-máquina em sua defesa do vitalismo, a qual requer uma semântica qualificada, cuja herança reclama dois sentidos, o do engenho (astúcia) e o da máquina (mediação, instrumento), perguntando se
não estaríamos fundamentados em concluir que a teoria do vivente-máquina (de Descartes) é uma astúcia humana que, tomada literalmente, anularia o vivente? Se o animal nada mais é do que uma máquina, e assim também a natureza inteira, por que tantos esforços humanos para reduzi-los a ela? (p. 90).
Sua intenção é de inverter o sentido da relação máquina-organismo para compreender “o sentido de assimilação do organismo a uma máquina” (p. 108), no qual salienta a auto-organização do organismo, inaplicável à máquina (p. 124-5). No caso da medicina, como a técnica pode ser aplicada à ideia do ser humano como um todo orgânico? Canguilhem põe frente a frente o vitalismo e o mecanicismo diante do mais alto valor humano, a importância da consciência humana da vida, criadora e fecunda, ou seja,
se o vitalismo traduz uma exigência permanente da vida no vivente, o mecanicismo traduz uma atitude permanente do vivente diante da vida. O homem é o vivente separado da vida pela ciência, tentando unir-se à vida através da ciência. Se o vitalismo é vago e não formulado como uma exigência, o mecanicismo é estrito e imperioso como um método (p. 89).
O núcleo de problemas ideológicos do vitalismo sugere que “caberia aos fatos e à história pronunciarem-se quanto ao problema da fecundidade no vitalismo” (p. 95), servindo de contra-argumento que, se o vitalismo é considerado cientificamente retrógrado por seus críticos, como deixar de notar tanto o uso da biologia vitalista pelos nazistas, “a fim de justificar uma eugênica racista, as técnicas de esterilização e de inseminação artificial, quanto o [uso do] darwinismo para a justificação de seu imperialismo, de sua política do Lebensraum”? (p. 103).
Em resposta a essa ambivalência Canguilhem reforça em 1966 o tema da medicina intervencionista no mundo social (cf. Canguilhem, 2012c). Tudo depende do sentido do termo “vida”, ora significando o particípio do presente (vivente), ora o particípio do passado (vivido), em uma relação entre o conceito e a vida mesma, que sugere o acesso à própria vida. Recoloca-se então a questão: “o que é o conhecimento, se a vida é conceito e esse fato nos dá acesso à inteligência?” (cf. Canguilhem, 2012c, p. 399).
Esse tema foi revisto por Canguilhem vinte anos após a publicação dos Ensaios (cf. Canguilhem, 1995b), propondo uma revisão da relação normal/patológico na qual correlaciona os termos “norma”, “normal” e “anormal” para distinguir atribuições à norma vital e à norma social, justificando assim o conceito de normatividade social. Em sua análise do contexto das ciências da vida, Canguilhem afirma:
As normas comparam o real a valores, exprimem discriminações de qualidades de acordo com a oposição polar de um positivo e de um negativo; a polaridade da experiência de normalização, cientificamente antropológica ou cultural, baseia a prioridade normal da infração na relação da norma com seu campo de aplicação. Uma norma na experiência antropológica não pode ser original. A regra só começa a ser regra fazendo regra e essa função de correção surge da própria infração (Canguilhem, 1995b, p. 218).
Nessa mesma revisão, Canguilhem propôs uma análise sobre o erro a qual, embora na patologia o geneticista e o bioquímico atribuam à hereditariedade, associa o erro ao modelo da teoria da informação, “que diz respeito tanto ao próprio conhecimento quanto a seus objetos, a matéria ou a vida” (Canguilhem, 1995b, p. 252). Canguilhem revê a origem dos sentidos do termo “norma” como uma exigência de racionalização da época, da nascente política econômica de industrialização, que se popularizou ora como protótipo escolar (escola normal, normas da reforma pedagógica), ora como modelo de saúde (reforma da medicina, reforma sanitária frente às epidemias). Admite então que a temática da mecanização da vida, originalmente desenvolvida por Augusto Comte no Curso de filosofia positiva, caracterizou as normas da física social, tomando como aspectos do organismo coletivo a regulação, a integração e o funcionamento da vida em sociedade a fim de atingir a humanidade (como parte da cultura) (cf. Canguilhem, 1995b, p. 223-5).
Se para Canguilhem os erros (genéticos) são referências para o interesse da norma vital (anomalias do metabolismo, anomalias de ordem genética etc.), os valores iatrogênicos são os que melhor informam a tendência da normatização de fatos sociais pressuposta em abordagens organicistas da sociedade. No contexto de crítica social do movimento de 1968, Michel Foucault elaborou um programa de pesquisa historiográfica, fundamentando as novas diretrizes para a história crítica da medicina. Frente às tendências iatrogênicas e eugênicas do planejamento de políticas científicas, a crítica de Hermínio Martins adensa a história da medicina com os aspectos orgânicos da prática médica sistemática e inescrupulosa de experimentação biomédica com corpos de seres humanos, datadas as barbaridades da guerra científica de experimentos humanos da biomedicina na Manchúria, Coreia e China como um desvio do conhecimento da vida, fomentado pelo Estado tanatocrático (cf. Martins, 2012, p. 211-50).
Essa história cinzenta da medicina tem servido de parâmetro para o desenvolvimento do discurso da bioética, geralmente valorizado para a proteção de uma corporação profissional mais do que para a apreensão do sentido do princípio de precaução (cf. Lacey, 2006) no contexto da educação médica. Na história da loucura, as atrocidades humanas elaboradas por médicos estiveram atreladas à explicação orgânica das doenças mentais, colaboraram para o estabelecimento de analogias entre a sociedade e o organismo vivo e para a garantia das ideologias higienistas, alienistas e eugenistas no pensamento médico. Nas décadas de 1960 a 1980, a iatrogenia em Ivan Illich (1975), a biopolítica em Michel Foucault (1978), a antipsiquiatria de Thomas Szasz (1961) e David Cooper (1967), o processo de desinstitucionalização de Franco Basaglia (1985), o estigma ou os desvios da consciência no mundo cotidiano de Irving Goffman (2011) desenvolveram argumentos fundamentais para uma alternativa ética no campo da saúde, para além do pensamento médico. Certamente essas discussões aumentam nossos parâmetros para pensar os limites da medicina e da prática científica da saúde na sociedade.
3 FUNDAMENTO PARA A FILOSOFIA E A SOCIOLOGIA DA MEDICINA
Até agora indicamos no livro O conhecimento da vida pontos de leituras que apoiam conceitos e definições para a fundamentação do conceito de vida, estendida às preocupações do campo ético. A genética de populações (cf. Clark & Hartl, 2010) ou a sociobiologia (cf. Wilson, 1975) não seriam candidatas a proporcionar diretrizes para um campo ético da vida e saúde? Hans Jonas aprofundou a linha temática da ética entre a medicina e a tecnologia, mostrando o ser humano como um objeto nos avanços da medicina, o corpo como um artefato para o progresso da biotecnologia (cf. Jonas, 1995; 1997) e propondo, para o contexto ético, o princípio da responsabilidade. Entendo que essa mesma responsabilidade foi colocada por Canguilhem como ajuste ao fenômeno da vida por meio da consciência do cientista.
O conflito não é entre o pensamento e a vida no homem, mas entre o homem e o mundo na consciência humana da vida (…). A inteligência só pode aplicar-se à vida reconhecendo a originalidade da vida. O pensamento do vivente deve manter do vivente a ideia do vivente (p. 2, 5).
É nesse contexto da biotecnologia, repleto de dilemas (cf. Martins, 2012; Garcia, 2003), no qual efetivamente vigoram os comitês de ética, organizados em sistemas de controle cujas normas regulam o desenvolvimento de projetos experimentais com seres humanos, que se verifica, entretanto, que ainda não se instituíram formas de comunicação intersubjetiva entre pesquisadores e pesquisados na prática experimental dos ensaios clínicos. Entendo tratar-se, na verdade, de uma questão atual relativa aos direitos humanos (cf. Declaração, 1948). Diante da singularidade da vida e do vivente, todos nós temos o direito de narrar, com consciência, as disposições da vida e, primordialmente, garantir com isso a própria participação nas decisões de nossos destinos.
A resenha aqui publicada faz parte da pesquisa de pós-doutorado realizada em 2014 no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, sob a supervisão de Pablo Rubén Mariconda.
Notas
1 Tomo aqui por referência a classificação atual das áreas do conhecimento da CAPES (Coordenação Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior), organizada por Colégios de Conhecimentos (Colégio de Ciências da Vida; Colégio de Ciências Exatas; Tecnológicas e Multidisciplinar; Colégio de Humanidades) e respectivas Áreas do conhecimento
Referências
BASAGLIA, F. A instituição negada: relato de um hospital psiquiátrico. Rio de Janeiro: Graal, 1985.
CANGUILHEM, G. La formation du concept de réflexe aux XVII et XVIII siècles. Paris: PUF, 1955a.
_____. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995a.
_____. Novas reflexões referentes ao normal e ao patológico, 1963-1966. In: _____. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995b. p. 203-61.
_____. O conhecimento da vida. Tradução V. L. A. Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012a.
_____. Estudos de história e de filosofia das ciências, concernente aos vivos e à vida. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012b.
_____. O novo conhecimento da vida. In: _____. Estudos de história e de filosofia das ciências, concernentes aos vivos e à vida. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012c. p. 367-400.
CHARLTON, B. G. First a hero of science and now a martyr to science: the James Watson affair: political correctness crushes free scientific communication. Medical Hypotheses, 70, 6, p. 1077-80, 2008.
CLARK, A. G. & Hartl, D. L. Princípios de genética de populações. Porto Alegre: Artmed, 2010.
COOPER, D. Psiquiatria e antipsiquiatria. São Paulo: Perspectiva, 1967.
DEBRU, C. Georges Canguilhem, science et non-science. Paris: Éditions Rue D´Ulm, 2004.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Organização das Nações Unidas. 1948. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423p or.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2015.
FOUCAULT, M. História da loucura. São Paulo: Perspectiva, 1978.
Garcia, J. L. Dilemas da civilização tecnológica. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2003.
_____. Biotecnologia e biocapitalismo global. Análise Social, 41, 181, p. 981-1009, 2006.
GOFFMAN, E. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes, 2011.
ILLICH, I. A expropriação da saúde: nêmesis da medicina. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975.
JONAS, H. El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder, 1995.
_____. Técnica, medicina y ética. Barcelona: Paidós, 1997.
LACEY, H. O princípio de precaução e a autonomia da ciência. Scientiae Stududia, 4, 3, p. 373-92, 2006.
_____. Valores e atividade científica 1. São Paulo: Associação Filosófica Scientiae Studia/Editora 34, 2008.
MALLOY, J. James Watson tells the inconvenient truth: faces the consequences. Medical Hypotheses, 70, 6, p. 1081-91, 2008.
MARICONDA, P. R. O controle da natureza e as origens da dicotomia entre fato e valor. Scientiae Studia, 4, 3, p. 453-72, 2006.
MARTINS, H. Experimetum humanum: civilização tecnológica e condição humana. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012.
MILMO, C. Fury at DNA pioneer’s theory: Africans are less intelligent than Westerners. The Independent. London. 17 Oct. 2007. Disponível em: <http://www.indepen dent.co.uk/news/science/fury-at-dnapioneers-theory-africans-are-less-inteligent-than-westerners-394898.html>. Acesso em: 20 jun. 2015.
STEPAN, N. L. The hour of eugenics: race, gender, and nation in Latin America. New York: Cornell University Press, 1991.
SZASZ, T. The myth of mental illness: foundations of a theory of personal conduct. New York: Harper & Row, 1961.
WATSON, J. & Crick, F. Molecular structure of nucleic acids; a structure for deoxyribose nucleic acid. Nature, 171, 4356, p. 737-8, 1953.
WILSON, E. O. Sociobiology: the new synthesis. Cambridge: Belknap, 1975.
Rodolfo Franco Puttini – Departamento de Saúde Pública. Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual de São Paulo, Brasil. E-mail: puttini@fmb.unesp.br
[DR]
Aprendizagem histórica: fundamentos e paradigmas | Jörn Rüsen
A obra de Jörn Rüsen (1938 –) tem sido bem divulgada entre as ciências humanas no Brasil, sobretudo em função dos esforços concentrados de alguns grupos de pesquisa, em teoria da história e historiografia ou na área de educação histórica, por meio de seus periódicos; entre eles, esta Revista de Teoria da História (UFG). A maneira como o autor tem sido recepcionado entre nós pelo público universitário, isto é outra questão. É fora de dúvida, todavia, que encontram-se entre nós pesquisadores muito bem equipados e habilitados para uma avaliação apurada das contribuições de Rüsen e da aplicabilidade de suas teorias à historiografia ou à didática da história. Para uma análise detida de sua Historik, aprendemos com eles que há que se considerar as discussões da historiografia alemã pós-guerra e, igualmente, os debates teóricos e epistemológicos nas ciências humanas desde o XIX – ou antes, desde a filosofia das luzes – até a atualidade. Além disso, o contexto de europeização e história global, assim como algumas questões políticas, tais quais a alteridade, os direitos do homem e o meio ambiente, próprias do humanismo contemporâneo. Notem-se bem, por fim, a amplitude e a impressionante coerência interna de seu projeto e a filosofia da história subjacente, mantenedora de uma compreensão otimista do mundo. Leia Mais
A Expansão da História – BARROS (TH)
BARROS, José D’Assunção. A Expansão da História. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2013. Resenha de: FAGUNDES, Bruno Flávio Lontra. Será possível fazer de outros modos? Configurações e práticas da disciplina história segundo algumas de suas teorias. Tempos Históricos, v.18, p.404 – 409, 1º Semestre de 2014.
De início, ao leitor poderá parecer que o livro A Expansão da História é mais um livro de textos panorâmicos sobre Teoria da História em aspectos gerais que renovaram a disciplina no século XX, mas seus seis textos fazem mais, verticalizando discussões. Com um pano de fundo diagnosticado como de interdisciplinaridade e risco de hiperespecialização da disciplina História, discutem-se conceitos históricos e fragmentação disciplinar num contexto de multidiversidade temática e de abordagens. O autor propõe analogias e metáforas pouco convencionais para se pensar a História e os historiadores. Conceitos como “dialogismo” e “polifonia” articulados à Teoria dos discursos e à Teoria musical são base para análises originais. Recorrentes nos textos, a polifonia e a música explicam-se: o autor é formado em História, mas também em Música, do que se aproveita bem, fazendo interdisciplinaridade. O livro compila seis conferências feitas entre 2009 e 2012 e, como na está na Apresentação da obra, o “tema comum a todas é a História – mais especificamente nos seus aspectos teórico, metodológico, historiográfico”. (p.7) O capítulo 1, A Expansão da História, é panorâmico mesmo, da “rica diversidade e sobre a crescente complexidade da historiografia contemporânea” (p.15). Se o século XIX foi o “século da História” e constituiu acervos e arquivos que trouxeram a disciplina História para o primeiro plano, foi no século XX que houve “novas revoluções (…) agora direcionadas para uma reconfiguração do próprio campo de saber histórico, de seus métodos, aportes teóricos, temas de estudo” (p.14). O raciocínio sobre a expansão presume a “reconfiguração da História” presidida por “três grandes forças: (…) a tendência à especialização, a chamada ‘crise do paradigma único’ e as aberturas oferecidas pela interdisciplinaridade” (p.18). O autor problematiza a multidiversidade das “inúmeras subdivisões historiográficas” (p.26) surgidas do cruzamento dos fatores “hiperespecializacao”, “multiplicação de paradigmas” e “interdisciplinaridade” que atingiram a História no decorrer do século XX. E desenvolve argumento em torno da ausência de critérios claros e coerentes que justifiquem aquela multidiversidade.
As modalidades infinitas de escrita e de campos de investigação histórica se concretizaram em “grandes coletâneas de ensaios historiográficos que buscavam apresentar uma reflexão dos diversos historiadores sobre seu próprio ofício” (p.26) e sobre sua própria modalidade, sem, no entanto, demonstrar quais critérios agrupavam modalidades tão diversas e tão sem aparente ligação, como mulheres, economia, vida urbana, vida privada, mentalidades, trabalho, família, medo, infância etc. Barros considera que tais coletâneas pareciam agrupar modalidades historiográficas de modo muito mais aleatório e assistemático, aparentemente sem nexos científicos. Sobre os critérios de coerência para os agrupamentos aparentemente sem nexos de modalidades historiográficas tão distintas em coletâneas editoriais, o autor questiona: “dito de outra forma, que sistematização de critérios pode ser pensada para presidir a organização de livros (…) de modo que os capítulos do livro não pareçam (…) estarem unidos por uma ordem aleatória, não científica?” (p.28). Contra essa ausência de critérios para se pensar essa realidade de aleatória multidiversidade historiográfica, Barros pondera se não seria possível uma “Teoria dos campos históricos” ou algo que pudesse ser uma “tábua explicativa” para os sistemas que produzem uma “ordem lógica para a compreensão” (p.29) dos critérios de agrupamento de tão variadas modalidades historiográficas.
Deriva de sua proposição uma indagação ousada sobre “possibilidades novas de escrita da história” nas próximas décadas. O autor, porém, entende essas “possibilidades novas de escrita” sob duas perpectivas: uma, a da proposição de outros campos de pesquisa e novos objetos de estudo que venham a multidiversificar ainda mais a disciplina, o que o autor questiona; depois, ele entende a escrita como “apresentação” da história pelo historiador sob a forma de um texto, mas pondera se não haveria “a possibilidade de teses de História apresentadas em formatos de vídeo ou DVD, ao invés do tradicional formato livro?” (p.37). Não há considerações e juízos de Barros sobre as possibilidades de os textos serem apresentados em forma que não o do formato livro, o que frustra um pouco a expectativa do leitor em ouvir considerações propriamente teóricas. Tais ponderações enriqueceriam, do ponto de vista de sua apreciação teórica, o tratamento de um tema ainda em elaboração pela comunidade de praticantes da disciplina: faz-se necessário aprofundar a análise dos fatores que, na história, fizeram da apresentação do conhecimento histórico escrito para o livro um provável determinante da História conhecimento científico.
Essas possibilidades de escrita mencionadas pelo autor reaparecem no capítulo 2, A Escrita da História a partir de seis aforismos, em análise que aproxima a História das artes visual e literária: “a história da Historiografia (…) é feita das transformações que têm se dado tanto na instância científica da História como na sua instância artística” (p.43). O autor informa o cerne do texto: “Como se dá a tensão entre ciência e arte no interior da História, aqui compreendida como forma específica de conhecimento, e como o ensino voltado para a formação do historiador administra esta tensão. (…)” (p.43). São seis os aforismos – “tudo é História”, “toda história é contemporânea”, “toda história é local”, “a História é arte”, “a História é polifônica” e “a História é multimidiática”. Com eles, Barros discorre sobre o que teria norteado o encaminhamento da concepção da disciplina no século XX e há considerações sobre a formação oferecida por cursos de História e sobre o que entende ser o discurso do historiador: “(…) a um só tempo, cientificamente interdisciplinar, artisticamente literário e experimentalmente multivocal” (p.51). São feitas afirmações surpreendentes acerca de currículos que formam historiadores, advogando que o historiador não poderia deixar de ter “(…) disciplinas que o habilitem a lidar mais artisticamente com a Escrita da História”(p.56). Ou então: “(…) seriam necessários os já mencionados enriquecimentos no currículo das graduações de História, e desta forma o historiador poderia pensar em adquirir conhecimentos mais sólidos de fotografia, programação visual, cinema, ou mesmo música para o caso mais específico da incorporação da sonoridade” (p.75). Nesse capítulo 2, ao tratar da relação entre a História e a Arte, entre instância científica e artística da História, o autor se reporta à formulação de Michel de Certeau em 1977 sobre a representação histórica, publicada em Magazine Littéraire em mesa-redonda com Philippe Ariés, Jacques Le Goff, Le Roy Ladurie e Paul Veyne: que o historiador repensasse “a relação existente entre o trabalho profissional de investigação (também ele modificado) e a representação historiográfica”.
No capítulo 3, Fontes históricas: olhares sobre um caminho percorrido, o autor se estende sobre a constituição de fontes históricas no século XX com o corolário de olhares novos que aquelas ensejam sobre realidades passadas. O autor revê o arco de mutações pelas quais a disciplina passou na questão das fontes desde os metódicos até os contemporâneos. Entende a “expansão documental” com ênfase no conceito de “fontes intensivas”, quais sejam: as fontes dialógicas e polifônicas pressupostas na análise micro-histórica. “Uma vez que deseje (…) uma análise intensiva de suas fontes, o historiador deve estar atento a tudo, sobretudo aos pequenos detalhes (…) ele estará trabalhando ao nível da realidade cotidiana, das trajetórias individuais, das estratégias que circulam sob uma extensa rede de micropoderes (…)” (p.95). Barros é bastante simpático com a análise micro-histórica, propõe metodologia para tratar de fontes dialógicas e Carlo Ginzburg é seu interlocutor primaz no capítulo. Revelando o cotidiano, as fontes dialógicas recolhem as várias vozes de sujeitos que falam ao mesmo tempo numa troca contraditória de enunciados a serem identificados e compreendidos: indivíduos “(…) cada qual mergulhado na sua intersubjetividade e no seu circuito de ambiguidades pessoais (…) uma rede dialógica, polifônica, na qual estarão expressas diversas vozes a serem decifradas” (p.97). Com Bakhtin, os textos estão numa “rede intertextual, em um diálogo com outros textos” (p.104). Uma vez mais, a metáfora da polifonia ressurge: o historiador “ (…) lida com planos polifônicos envolvendo várias épocas. Entre as várias vozes com as quais irá lidar está a sua mesma” (p.125). Várias vozes são uma “música” que o historiador deve reconhecer sem impor sua voz às demais vozes, com as quais – diríamos – canta também, melódica e harmonicamente.
Os capítulos 4, Espaço e História, e 5, O lugar da história local, encadeiam-se. O homem e o tempo são categorias históricas irredutíveis, mas também o espaço físico, e mais ainda: os espaços geográfico, político, social, cultural, imaginário e virtual. A contribuição de Braudel é relevada. O O Mediterrâneo e o mundo mediterrânico no tempo de Felipe II é visto como ensaio sobre a “temporalidade especializada na qual o tempo infiltra-se no solo a ponto de quase desaparecer” (p.147). A polifonia reaparece. Braudel baseia-se no ritmo da duração dos tempos e captou a “longa duração”, da qual se vale para “orquestrar polifonicamente as três durações distintas” (p.149) e simultâneas do tempo. Braudel “havia considerado que o Mediterrâneo possuía, sob certos aspectos, uma unidade que transcendia as unidades nacionais” (p.150), regiões autônomas que convergiam para um “ritmo supralocal” (p.150), vozes que se harmonizavam. O autor distingue história local e regional da micro-história, “que (…) frequentemente vê-se confundida com a história local por trabalhar com realidades ‘micro’ (…)”. Numa guinada interpretativa, Barros figura a academia como um espaço também de poder, onde há um “jogo institucional de poderes e saberes”.
Nesse espaço universitário, haveria uma repartição das tarefas intelectuais entre universidades que seria falaciosa, que hierarquiza o saber e impõe um “modelo de divisão do trabalho intelectual” (p.186). Para o autor, na universidade brasileira o “universo da pós-graduação stricto sensu, a instância maior para a produção da pesquisa no Brasil” (p.186) é o “sistema que se superpõe à rede de poderes e saberes” das universidades, distinguindo-as de maneira perniciosa entre “universidade centrais” – que fariam a pesquisa de “saberes maiores”, de realidades mais amplas e de caráter mais geral – e “universidades periféricas” – que se dedicariam a qualquer modalidade temática de História e/ou a saberes locais, principalmente “a história das localidades nas quais se assentam” (p.186). As instituições se distinguiriam, assim, segundo um sistema de poder cujos praticantes acabam tendo de conceber a universidade como grande território de espaços estratégicos a serem ocupados conforme uma geopolítica que gera desigualdades, provocando mais conflito e hierarquia do que solidariedades, o que pouco colabora no país com o desenvolvimento da pesquisa como um todo em História. O autor ataca o que chama de “esquadrinhamento geográfico” dos saberes acadêmicos e não admite que em um “mundo informatizado e ágil nas comunicações e meios de transporte” (p.186), com muitos arquivos digitalizados e em rede, ainda se pense em dividir a tarefa intelectual da pesquisa entre sujeitos conforme sua localização física e pretensa superioridade, uma vez que “um historiador residente em qualquer lugar do país pode empreender boa parte de uma pesquisa relacionada a qualquer tema” (p.187) mais amplo, esteja onde estiver.
No capítulo 6, Acordes Teóricos, há um convite ao que chama de “pensar acórdico”, onde a Teoria musical fundamenta “um novo modelo para a imaginação teórica” (p.221). Instado a se especializar, o intelectual faz interdisciplinaridade ainda e promove “movimentos e propostas que acenam para uma religação de saberes” (p.189). Contra classificações perfeitas que não captam variações ao longo de trajetórias intelectuais de autores, Barros usa a imagem de um “conjunto de notas musicais que soam juntas”, o acorde, que produz uma “sonoridade compósita” (p.196). O autor sustenta que obras intelectuais são reiteradas, modificadas e revistas ao longo de seus trajetos, e isso não é o caso de desqualificá-las em nome de suspostas incoerências, contradições ou falta de uniformidade. Em todo autor, segundo Barros, há variações, ambiguidades e supostas contradições sim, mas como uma polifonia: são pensamentos “em movimento”, com fases que são como “sucessão de acordes” que se harmonizam polifonicamente. A Teoria musical ensina que a obra intelectual, como uma só voz, pode harmonicamente agrupar várias vozes: a obra como um todo é diversidade de fases de produção vistas como harmonia e não incoerência e a produção intelectual não tem uma unidade originária paradigmática que se conserva sempre. Nesse texto 6, o autor oferece um esquema acórdico de pensamento que favorece o olhar para obras intelectuais sempre em movimento de expansão, retração, empréstimos, momentos, contextos – mas em que tudo se transforma numa melodia. A proposição do autor é original porque põe em metáfora uma compreensão mais orgânica da obra intelectual.
O livro A Expansão da História oferece reflexões originais com proposições importantes sobre História e, mais ainda, sobre seus cursos de graduação e de pós-graduação: conceitos, definição, critérios, modos de ser da disciplina se materializam em cursos segundo interesses num campo de disputas. É assim que o livro de D’Assunção de Barros vale muito pelo que ousa dizer num momento da história da História em que seus cursos começam a ser investigados. O livro de José D’Assunção Barros é obra de Teoria da História e soa com um tom de livro já lido, mas não é absolutamente só isso. É, ainda, uma obra com certa ousadia que oferece textos que relevam pontos para um debate teórico sobre o estatuto da disciplina no século XXI e, como desdobramento, sobre como revisões e revisitações à história da História podem orientar novas formas de o historiador comportar-se com relação à apresentação da História, discussão que só agora começa a ganhar espessura com a reflexão sobre as possibilidades do discurso histórico para além do texto escrito e do público especializado.
Bruno Flávio Lontra Fagundes – E-mail: parabrunos@fecilcam.br .
Homo historicus: réflexions sur l’histoire les historiens et les sciences sociales – CHARLES (EH)
CHARLE, Christophe. Homo historicus: réflexions sur l’histoire, les historiens et les sciences sociales. Paris: Armand Colin, 2013. 319 pp. BORGIGNON, Rodrigo da Rosa. A história como objeto de reflexão. Estudos Históricos, v.27 n.54 Rio de Janeiro July/Dec. 2014.
Derivado de um conjunto de reflexões que estão diretamente conectadas à trajetória do autor e às suas pesquisas sobre temas bastante diversos, o livro de Christophe Charle representa um convite à reflexão sobre as condições e as possibilidades de produção de pesquisas em história e em ciências sociais. Entre outras coisas, as proposições retraçam também a inserção do autor no grupo de colaboradores de Pierre Bourdieu e inclusive se aproximam bastante de algumas das reflexões deste acerca das relações entre a sociologia e a história.
A introdução geral demarca posição frente às obras que buscam elaborar um quadro de reflexão sobre os historiadores e a historiografia. Estas tenderiam a uma separação artificial entre, de um lado, as discussões sobre o métier do historiador e as relações da disciplina com as outras ciências sociais, e, de outro, os esforços em termos de genealogias teóricas com vistas a demonstrar (ou criar) os fundamentos das “questões historiográficas do momento” (p. 15). Em contraposição a isso, a proposta do livro é relacionar “reflexão teórica e modalidades práticas de sua utilização no trabalho histórico concreto” (p. 17).
Assim, o homo historicus aparece como resultante da relação complexa e contraditória do historiador com o mundo social, com a herança disciplinar, com o passado e com a memória. Segundo o autor, atualmente as dificuldades de colocar em questão o universo social ao qual se está vinculado por todo tipo de interesse e constrangimento são aumentadas
pelo conjunto das reformas universitárias em curso e pela adoção de padrões de trabalho imitados das ciências experimentais. Longe de combaterem antigos problemas da prática científica, estes contribuem para uma estandardização das pesquisas e para uma “economia da reflexividade” (p. 20).
O livro está dividido em três partes. A primeira apresenta um quadro bastante significativo das divisões e escolhas temáticas associadas ao exercício da profissão de historiador na França, indicando pistas interessantes para o tratamento dessas questões em outros contextos históricos e sociais. Ao mesmo tempo em que elabora um panorama sobre o processo de especialização e suas consequências para o debate teórico e metodológico na disciplina, o autor pontua as dificuldades de autonomização da história frente às demandas do Estado e do grande público.
A partir desse mapeamento inicial, a proposta se encaminha no sentido de uma reflexão sobre as possibilidades de objetivação e historicização das práticas científicas e das lutas de classificação travadas entre especialistas de diversos domínios e disciplinas. Pontuadas por exemplos concretos de pesquisa, o autor reivindica a combinação e complementaridade entre o método histórico e a análise sociológica, o que permitiria uma apreensão dinâmica e relacional da realidade social e uma vigilância cruzada entre ambos os domínios de conhecimento (p. 61-65). De modo bastante geral, os pontos mais altos dessa primeira parte estão na retomada de seus trabalhos iniciais sobre o campo literário e intelectual francês, e na discussão da perspectiva elaborada por Pierre Bourdieu para a apreensão do campo universitário e dos intelectuais.
A segunda parte do livro é dedicada à discussão de algumas questões metodológicas. Como o autor reitera diversas vezes, as propostas de utilização combinada de diferentes perspectivas analíticas e disciplinares estão diretamente relacionadas aos trabalhos desenvolvidos por ele e às suas preocupações atuais e temas de interesse. Assim, são retomadas discussões sobre o uso da prosopografia, sobre o método literário, sobre a circulação internacional de bens culturais, e sobre os desafios e ganhos na adoção de perspectivas comparativas e transnacionais.
Ao mesmo tempo em que pontua a relativa simplicidade do princípio básico do método prosopográfico, Christophe Charle chama a atenção para a necessidade de elaboração de um questionário exaustivo e que cubra as diferentes dimensões da vida social da população analisada. A não reflexão sobre as escolhas em termos de critérios de classificação e de recorte tende a encaminhar a análise para uma visão parcial e unidimensional da realidade social (p. 97). Portanto, a noção de construção do objeto e de historicização das categorias de classificação torna-se um recurso central para escapar de possíveis anacronismos e para apreender a dinâmica e a multidimensionalidade das relações sociais.
Uma das propostas centrais está no encaminhamento das pesquisas para uma prosopografia comparada, seja ela tanto entre grupos sociais distintos quanto entre países. O objetivo é escapar dos perigos da universalização de determinadas particularidades históricas e sociais e, ao mesmo tempo, apreender os invariantes estruturais que organizam as principais oposições em diferentes campos. A dificuldade no avanço em direção à comparação está nas distintas perspectivas que balizam as pesquisas nos diferentes países e os critérios de classificação que orientam as análises (p. 99).
Na esteira dessas discussões metodológicas, o autor propõe alguns diálogos entre a história e a literatura no sentido de utilizações cruzadas entre o “método histórico” e o “método literário”. Embora de um modo bastante esquemático, Christophe Charle reivindica a fecundidade dos escritos literários para a pesquisa em história e em ciências sociais. No entanto, para que sua utilização seja fecunda, é preciso operar uma verdadeira história e uma sociologia histórica das obras, de seus autores e de seus contextos de produção, emergência e recepção. Assim, a proposta se direciona para a construção de um modelo de análise “sociocultural multivariado” (p. 134) no qual sejam considerados os processos sociais mais gerais em que as produções culturais estão imersas (público, mercado cultural, vida associativa, relações com a política, diferenciações centro/periferia) e, ao mesmo tempo, os graus e condições de objetivação do campo cultural em geral e de seus subcampos em particular.
Essas proposições e cruzamentos metodológicos vão se desdobrar nas discussões sobre circulação internacional de bens simbólicos. Neste ponto, o autor marca posição contra a formulação segundo a qual a abertura das fronteiras amplia proporcionalmente a circulação de bens simbólicos e culturais. Segundo ele, falta colocar a relação entre essa proposição e os diferentes bens em circulação nos mercados culturais e simbólicos, seus contextos de recepção e as condições de mediação. Isso porque, como as várias pesquisas mobilizadas por Charle têm indicado, na medida em que se vai do polo mais lucrativo ao menos lucrativo – em termos econômicos – do campo cultural, mais a circulação internacional de bens culturais está sujeita a fatores propriamente simbólicos (p. 152). Ao fim dessa segunda parte o autor chama a atenção para o fato de que os inúmeros debates e guerras de etiqueta travadas entre especialistas de diferentes domínios e disciplinas podem ser resolvidos na prática concreta de pesquisa, retomando assim suas proposições iniciais.
Na terceira parte do livro, Christophe Charle põe em movimento o conjunto de propostas e discussões teórico-metodológicas que atravessam toda a obra. A partir de análises de trajetórias específicas, o autor faz funcionar os esquemas de interpretação e de análises cruzadas entre a história, a sociologia e o método literário, mostrando uma série de quadros bastante fecundos que podem servir muito bem como exemplos de pesquisa e de modos de fazer. Na “conclusão em forma de diálogo” (p. 243), o autor reivindica uma história social que cruze diferentes níveis de interpretação e escalas de análise, retomando distintas perspectivas e influências teóricas em nome de uma visão multidimensional do mundo social.
Rodrigo da Rosa Bordignon – Doutorando em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente em estágio no Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine – École Normale Supérieure, em Paris, como bolsista CAPES (rrbordignon@hotmail.com).
O conceito de História. | Reinhart Koselleck, Christian Meier, Horst Günther e Odilo Engels
O historiador, filósofo e político italiano, Benedetto Croce (1866- 1952), inspirou-se na filosofia hegeliana para sua concepção teórico-metodológica da história. Aqui nos interessa aquele aspecto do pensamento de Hegel que concebe o conceito como um “universal-concreto”, no sentido de estabelecer “a ligação entre as concretas particularidades do mundo empírico e os princípios gerais do Pensamento” (CONSTANTINO, 2013, p. 286). Assim, temos que o Idealismo croceano perceberia o conhecimento sempre como “conhecimento de conceitos e por meio de conceitos” (CONSTANTINO, 2013, p. 286).
No entanto, este pressuposto não redundaria em uma história dos conceitos. Mais que mera expressão, a Begriffsgeschichte trata-se de uma disciplina que deve determinada parcela da intelectualidade alemã (historiadores, filósofos, linguistas, juristas) seus primeiros empreendimentos de vulto já em meados do século XX. Prevaleceria aqui uma preocupação com “as mutações de termos e significados em sua relação com o invólucro sociocultural” (ASSIS; MATA, 2013, p. 10). Nesse sentido, o “conceito” seria compreendido não propriamente na acepção hegel-croceana, uma vez que o filósofo alemão, assim como Dilthey, era passível de críticas pela “baixa contextualização de ideias e conceitos utilizados no passado, no anacronismo daí derivado e na insistência metafísica da essencialidade das ideias” (JASMIN, 2005, p. 31). O “conceito” seria, antes, compreendido como “resultado de um processo de teorização” na descrição de uma “experiência histórica concreta” (KOSELLECK, 1992, p. 135-136). Desse modo, teríamos um conceito que guardaria em si uma experiência empírica que lhe seria correspondente, da qual decorreria “seu caráter único articulado ao momento de sua utilização” (KOSELLECK, 1992, p. 138). Daí que, para entendermos o conceito de história (ou, precisamente, a história do conceito de história), devemos entender as variações de seus usos e significados ao longo do tempo. Leia Mais
História Comparada – BARROS (RTF)
BARROS, José D’Assunção. História Comparada. Petrópolis: Vozes, 2014. Resenha de: TEIXEIRA, Igor Salomão. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 7, n. 1, jan.-jun., 2014.
José D’Assunção Barros, professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e no Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC), é dono de vasta produção bibliográfica. Graduado em música e Doutor em história, o autor tem atuado intensamente na área de teoria e metodologia da história, como atestam algumas de suas publicações, como O campo da história (2004); O projeto de pesquisa em história (2005) e Teoria da História (2011).
Em 2014 veio a público um ensaio dedicado integralmente à História Com-parada. Primeira publicação do gênero no mercado editorial brasileiro. É, por esse motivo, uma contribuição significativa para a historiografia brasileira. Quando falamos “primeira publicação” estamos considerando-a como o primeiro livro dedicado a apresentar ao público – iniciantes, principalmente – o que significa abordar dois ou mais objetos simultâneos de análise. Essa não é, no entanto, a primeira publicação sobre o assunto no Brasil, pois, além de importantes livros já traduzidos para o português, como Comparar o Incomparável, de Marcel Detienne, temos uma revista dedicada ao à questão, a saber, a Revista de História Comparada, do PPGHC da UFRJ.1 O ensaio, como caracterizado pelo autor, é dividido em 15 itens. Não possui necessariamente uma introdução na qual costumam ser apresentados os objetivos da obra e suas características, pretensões e limitações. Ao final, o autor defende seu posicionamento a partir da conclusão propositiva “Por uma história relacional”. Pela amplitude dos tópicos enunciados, que vão desde a constituição da História Comparada como campo de estudo, sua “pré-história” e suas características atuais, chegando ao breve item sobre a História Comparada no Brasil, o livro de Barros oferece, de fato, uma gama introdutória de questões para o pensar a comparação. Porém, pela complexidade e diversidade de abordagens apontadas no livro, fazê-la em um texto curto é, desde o início, concebê-lo de forma superficial. Neste sentido, o livro peca por não oferecer análises. Apenas apresenta características dos debates.
Na caracterização oferecida pelo autor, a relação entre a comparação e pro-postas de análise no século XIX pode ser definida como a tentativa do estabeleci-mento de diferenças. Nos processos constitutivos de diferenciação, havia uma espécie de modelo e o objeto comparado era definido na medida em que se distanciava ou se aproximava desse modelo. No geral, essas propostas embasaram perspectivas evolucionistas e etnocêntricas. No século XX, no entanto, Barros apresenta a im-portância que as consequências dos nacionalismos exacerbados na Europa, principalmente, tiveram em relação às defesas pela comparação nas ciências humanas. Segundo o autor, a possibilidade de comparar sociedades distintas e/ou separadas no tempo e no espaço remetia a “estabelecer uma comunicação possível entre vá-rias histórias que até então pareciam fundar-se no isolamento…”.2 Sobre a história comparada no início do século XX o autor também apresenta que as abordagens eram realizadas considerando escalas de análise amplas, como as “civilizações”. O autor cita obras de Oswald Spengler (1879-935) e Arnold Toynbee (1889-1975). O primeiro buscava nas diferenças entre as civilizações as especificidades de cada uma. O segundo buscava nas possibilidades de estabelecer analogias a explicação sobre processos históricos mais amplos.3 Trabalhos da sociologia e da antropologia também foram fundamentais para essas reflexões. Barros cita contribuições de Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim.
Um dos pontos altos da obra é o lugar de destaque dado por Barros à obra Os Reis Taumaturgos, de 1924, escrita por Marc Bloch (1886-1944). Segundo o texto, Bloch identificou dois caminhos para a comparação em história: a) a análise com-parada de sociedades sem contiguidade temporal e espacial e b) a análise compara-da de sociedades com contiguidade temporal e espacial. Na primeira situação, Bar-ros cita a possibilidade de se comparar o “feudalismo europeu” com o “feudalismo no Japão”. A principal característica seria a busca por analogias. Neste caso, o au-tor alerta que o principal risco que corre um historiador ao se dispor a tal empreita-da é o anacronismo e a leitura forçada levando a “uma ficção estabelecida pelo próprio historiador”.4 Na segunda situação, abordagem mais eficaz para Bloch, a proximidade temporal/espacial entre as sociedades proporciona ao historiador a possibilidade de analisar as influências múltiplas que essas sociedades podem exercer umas sobre as outras. E, nesse caso, não apenas as semelhanças são identificáveis. As diferenças na vivência de um fenômeno ajudariam a colocar o foco sobre uma sociedade a partir das especificidades de outra sociedade, como fez Bloch em Os Reis Taumaturgos. Segundo o autor: O material histórico adequa-se, portanto, ao caminho proposto pe-lo modelo preconizado por Bloch: duas sociedades sincrônicas que guardam entre si relações interativas, e que juntas oferecem uma visão clara de um problema comum que as atravessa. Sem uma ou outra, no mero âmbito de uma história nacional, não poderia ser compreendida a questão da apropriação política do imaginário taumatúrgico que se desenvolve nas monarquias europeias, das origens em comum deste mesmo imaginário, das intertextualidades que se estabelecem, do confronto do modelo taumatúrgico com outros modelos de realeza.5 Nessa longa citação podemos também perceber, além da importância da sin-cronia e contiguidade entre as sociedades analisadas por Bloch, a necessidade de um problema que possibilite o trânsito do historiador entre uma sociedade e outra. A partir desta leitura Barros apresenta a importância dos Annales na constituição de uma história comparada problematizada a partir do presente para propor explicações sobre o passado.
O autor também evidencia a “ausência de cercas” na história comparada re-velando que, em geral, para se realizar uma empreitada de comparação é preciso conectar a análise com outros campos do conhecimento histórico. No item 7 do livro, totalmente dedicado a essa questão6, Barros identifica a demografia e a eco-nomia como terrenos propícios à comparação. A possibilidade de analisar grupos sociais distintos em uma mesma sociedade também pode proporcionar análises comparadas. Outros objetos, como as cidades, também foram trabalhados em perspectivas comparadas.7 Para além das diversidades de objetos, e daquela visão geral que o autor apresenta das perspectivas evolucionistas e etnocêntricas do século XIX, às propos-tas de rompimento das barreiras nacionais do mundo ocidental pós-guerra no século XX, de um modo geral, Barros define, no início do livro, a História Comparada – em maiúsculo, com pretensões de um campo constituído – como um método: Trata-se de iluminar um objeto ou situação a partir de outro, mais conhecido, de modo que o espírito que aprofunda essa prática comparativa dispõe-se a fazer analogias, a identificar semelhanças e diferenças entre duas realidades, a perceber variações de um mesmo modelo. Por vezes, será possível ainda a prática da iluminação recíproca, um pouco mais sofisticada, que se dispõe a confrontar dois objetos ou realidades ainda não conhecidos de modo a que os traços fundamentais de um ponham em relevo os aspectos do outro…8 As diferenças na iluminação recíproca pretendida é que possibilitam o entendimento mais contemporâneo da História Comparada. De um modo geral, Bar-ros situa a produção historiográfica até a primeira metade do século XX como abordagens que não entrelaçavam e/ou cruzavam as sociedades estudadas. A com-paração resultava na caracterização separada de cada sociedade a partir de um de-terminado fenômeno “problematizado”. Para os últimos anos daquele século e início do século XXI, no entanto, o autor identificou diferentes propostas: as de história global; a história interconectada; a transnacional e a história cruzada. No primeiro caso, a principal questão é não trabalhar com uma relação centro-periferia na qual o centro já está pré-definido. No segundo, a proposta é fazer com que o historiador deixe-se conduzir “criativamente por seu tema, o qual … pode deslocar-se através de diferentes grupos sociais, identidades étnicas, definições de gênero, minorias, classes ou categorias profissionais.9 Na perspectiva da história transnacio-nal, diferentemente da história global (que se definiria mais pelo recorte), a aborda-gem se caracteriza pelo desafio de enfrentar “a noção arraigada de que o nacional” é uma categoria emoldurante. Nessa perspectiva a nação é algo a ser estudado, e não o espaço que enquadra o estudo.10 A última das propostas elencadas por Barros, a história cruzada, é caracterizada como uma abordagem que não ilumina uma sociedade a partir de outra, e sim, como uma abordagem que analisa uma sociedade através de outra. Nessa proposta, Barros utiliza amplamente as “defesas” apresentadas por Bénédicte Zimmermann e Micahel Werner, Eliga H. Gould e Jürgen Kocka. Os principais elementos dessa proposta são as aberturas geradas tanto para as possibilidades de análises compara-das de escalas (um historiador pode observar um fenômeno numa perspectiva ma-cro e micro), as possibilidades narrativas propriamente ditas (que o autor chama de “historiografias cruzadas”) e o diálogo “com as possibilidades polifônicas” em dife-rentes abordagens.11 Barros também dedica o item 9 às abordagens baseadas na comparação de sociedades sem contiguidade temporal e espacial. O principal elemento observado pelo autor é a possibilidade para o delineamento de diferenças.12 Porém, assim co-mo item 13 sobre trabalhos realizados no Brasil sobre História Comparada, Barros não oferece muitas informações e análises ao leitor. Neste item e pela vinculação do autor ao PPGHC o livro poderia ser mais propositivo.13 Os três últimos itens do livro, a saber, “Delineamentos para estabelecer a História Comparada em sua especificidade”, “A História Comparada e sua instância coletiva” e “Considerações Finais – Por uma História Relacional” tendem a sintetizar o que autor apresenta anteriormente. Vale destacar o alerta que o autor reforça sobre as propostas de grandes sínteses econômicas e sociais. Segundo o texto, esses projetos não são de história comparada, pois oferecem panoramas descritivos. A característica marcante é “examinar sistematicamente como um mesmo problema atravessa duas ou mais realidades histórico-sociais distintas…Faz-se por mútua iluminação de dois focos distintos de luz, e não por mera superposição de peças”.14 A partir dessa característica a história comparada pode ser aplicada tanto na narrativa quanto na escala de observação. Esses elementos levam à reflexão sobre como realizar o trabalho. Para Barros, a realização de projetos coletivos “atravessados por um ‘problema’” é defendida por pesquisadores, como Marcel Detienne, que tem consciência da dificuldade de analisar duas sociedades (contíguas ou não) simultaneamente. Outra perspectiva presente no livro é a de Jürgen Kocka, que destaca que o historiador deve dispor de uma erudição e disposição disciplinar e interdisciplinar. A diferença entre Detienne e Kocka, sobre este aspecto, está na defesa que este último faz da possibilidade de realização de trabalhos individuais. Porém, nessa concepção, o historiador dependerá cada vez mais dos trabalhos rea-lizados pelos seus pares.15 Ao final do livro o autor retorna aos tópicos anteriores sobre as reflexões recentes que dão nomes como “história transnacional”, “global”, “cruzada”, “inter-conectada”. Para Barros, o que está em questão não é uma disputa para saber qual termo sairá “vencedor”. O desafio aos historiadores contemporâneos é se está nascendo uma “família historiográfica” de “História Relacional”.16 A obra História Comparada, tema desta resenha, é um instrumento válido para os que estão iniciando nas leituras sobre diferentes perspectivas teórico-metodológicas. Como ponto de partida, oferece uma espécie de guia historiográfico de diferentes abordagens sobre a comparação. Mesmo sem muitas análises permite ao leitor seguir adiante e, com isso, cumpre um importante serviço à iniciação científica.
1 http://www.hcomparada.historia.ufrj.br/revistahc/revistahc.htm. Acesso em maio de 2014.
2 BARROS, José D’Assunção. História Comparada.Petrópolis: Vozes, 2014. p. 47.
3 Ibidem, p. 33-38.
4 Ibidem, p. 49. 8 Ibidem, p. 17.
9 Ibidem, p. 90.
10 Ibidem, p. 92 11 Ibidem, p. 135.
12 Ibidem, p. 82-84.
13 Ibidem. p. 136-141.
14 Ibidem. p. 143.
15 Ibidem. p. 157-162.
16 Ibidem. p. 163-166.
Igor Salomão Teixeira – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Correspondência: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Departamento de História – Av. Bento Gonçalves, 9500. Prédio 43311, Sala 116. E-mail: teixeira.igor@gmail.com.
Novos Domínios da História | Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas
Este texto procura apontar algumas discussões do livro “Novos Domínios da História”, organizado pelos historiadores Ciro Flamarion e Ronaldo Vainfas. A coletânea foi lançada em 2012 e procura oferecer ao leitor as tendências contemporâneas do campo epistemológico da História e de como os historiadores estão enveredando por caminhos, às vezes, divergentes, outras vezes de encontros. Na verdade a obra é uma complementação de “Domínios da História”, publicado em 1997 que se tornou referência nas discussões sobre Teoria e Metodologia da História e nas Áreas de Ciências Humanas e Sociais.
A coletânea apresenta um conjunto de 16 capítulos que podem ser lidos separadamente ou não, o fato é que se complementam e são temas em que o leitor pode exercitar uma interpretação transversal e interdisciplinar. Com isso, os autores levam-nos a examinar as dimensões conceituais da Área de História e os campos movediços que alguns títulos apresentam incitam-nos a refletir sobre a pesquisa e a forma que interpretamos as fontes e os sujeitos que selecionamos a perscrutar. Leia Mais
A reinvenção da classe trabalhadora (1953-1964) – LEAL (PH)
LEAL, Murilo. A reinvenção da classe trabalhadora (1953-1964). Campinas/SP: Editora da Unicamp, 2011, 517 p. Resenha de SANTOS, Antonio Carlos dos. Vivendo no fim dos tempos de classe trabalhadora e o populismo. Projeto História, São Paulo, n. 48, Dez. 2013.
É público e notório que, diferentemente dos demais historiadores marxistas britânicos – como passaram a ser conhecidos os autores oriundos do Grupo de Historiadores do Partido Comunista da Grã-Bretanha (PCGB) –, Edward Palmer Thompson (1924-1993) foi o único capaz de desenvolver uma verdadeira “escola historiográfica”, ou seja, reunir um número extenso de admiradores e seguidores em todo o mundo, dedicados a aplicar em suas pesquisas os mesmos métodos e concepções presentes em A formação da classe operária inglesa (1963), Projeto História, São Paulo, n. 48, Dez. 2013 Senhores e caçadores (1975), Costumes em comum (1991) e nas demais obras thompsonianas.
No Brasil, como é de praxe em relação à circulação das ideias, o pensamento de Thompson chegou tardiamente, mais precisamente no final dos anos 1970 e início da década seguinte; no entanto, coincidiu de forma precisa com as greves operárias capitaneadas pelos metalúrgicos do ABC paulista, que marcaram o surgimento do chamado “novo sindicalismo”. Desde então sua influência na historiografia brasileira foi cada vez mais sentida nas várias linhas de pesquisa e, de modo especial, entre os historiadores sociais do trabalho.
Foram publicados em nosso país, nos últimos quase quarenta anos, inúmeros livros nitidamente inspirados em Thompson, sendo que a grande maioria deles apresentaram relevantes contribuições para uma melhor compreensão do mundo do trabalho no Brasil. Entre eles, podemos destacar os pioneiros Trabalho urbano e conflito industrial (1977), de Boris Fausto; História da indústria e do trabalho no Brasil (1982), de Francisco Foot Hardman e Victor Leonardi; e Cultura e identidade operária (1987), organizado por José Sergio Leite Lopes.
A reinvenção da classe trabalhadora de Murilo Leal é uma das mais recentes obras que trilham estes mesmos caminhos, após terem sofrido um breve refluxo no início dos anos 1990 e alcançarem plena recuperação a partir da segunda metade daquele decênio até os dias atuais; fenômeno este apontado por seu prefaciador Marcelo Badaró Mattos, um dos principais estudiosos dos meandros do pensamento thompsoniano e de sua influência no Brasil.
Murilo Leal Pereira Neto fez licenciatura, mestrado e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) e é atualmente professor de História do Brasil na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Este é seu segundo livro, pois já havia publicado, em 2002, A Projeto História, São Paulo, n. 48, Dez. 2013 esquerda da esquerda: Trotskistas, comunistas e populistas no Brasil contemporâneo (1952-1966).
Em A reinvenção da classe trabalhadora, Murilo Leal analisa as lutas operárias ocorridas na cidade de São Paulo entre o segundo governo Vargas e o golpe militar de 1964, dando ênfase às grandes mobilizações daquele período – a Greve dos 300 Mil em 1953, a dos 400 Mil em 1957 e a dos 700 Mil em 1963 – e às mais importantes categorias profissionais da época: os trabalhadores metalúrgicos, que passavam pelo aumento do seu peso na economia brasileira, e os têxteis, que conheciam o declínio de um predomínio conquistado desde a eclosão da Primeira Guerra Mundial.
Entre os aspectos positivos presentes neste estudo está a superação de uma “lacuna” apontada por muitos na própria obra-prima de Thompson, A formação da classe operária inglesa, ou seja, a não abordagem de dados objetivos mais palpáveis da classe trabalhadora no contexto socioeconômico da Grã-Bretanha entre 1790 e 1830. Diferentemente disto, Murilo Leal nos oferece um quadro bem preciso das grandes transformações vivenciadas pela sociedade paulistana em meados do século XX, frutos de um novo ciclo de industrialização, marcado pela implantação de empresas multinacionais e a ocorrência de um novo fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste brasileiro.
Outra observação digna de nota diz respeito à visão articulada entre a realidade das fábricas, enquanto espaços de produção, e os locais de moradia dos trabalhadores nos bairros periféricos da cidade, onde se dava a reprodução da força-de-trabalho. O autor consegue estabelecer um vínculo interessante entre as lutas sindicais – com destaque para a organização dos trabalhadores no interior da fábrica – por melhores condições de trabalho e aumentos salariais e as mobilizações populares em torno das reivindicações por moradia, transporte e contra a carestia. Projeto História, São Paulo, n. 48, Dez. 2013 Lançando mão das mais variadas e ricas fontes historiográficas, Murilo Leal parte da leitura atenta de uma vasta bibliografia e de jornais – tanto os de ampla circulação quanto os produzidos pela própria imprensa operária –, e se embrenha também na pesquisa de documentos oficiais da Câmara Municipal de São Paulo, de atas de reuniões e assembleias sindicais, de entrevistas com lideranças e militantes daquele período, e até mesmo de anotações dos agentes infiltrados do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS).
Mesmo tendo como referência privilegiada a aplicação de conceitos caros à concepção thompsoniana, tais como a valorização da “experiência” na construção da classe e da consciência de classe dos trabalhadores, ou mesmo da existência de uma “economia moral da plebe” motivando e orientando suas revoltas; Murilo Leal também recorre às contribuições de outros expoentes da chamada História Social Inglesa. É o caso de suas análises a respeito das comemorações do Primeiro de Maio, das realizações de piqueniques e concursos, da organização de campeonatos de futebol e de outras programações frequentes no “calendário operário” – Páscoa, Dia das Mães, festas juninas, dia da categoria etc. –; momentos em que se apoia nos estudos feitos por Eric Hobsbawm sobre as atividades culturais operárias. Utiliza-se também dos conhecimentos produzidos por George Rudé, acerca dos “motins da fome” nas sociedades pré-industriais europeias, para investigar os piquetes grevistas e demais revoltas populares contra os aumentos nos preços das passagens de ônibus, trens e de alimentos ocorridos nas décadas de 1950 e 1960 na capital paulista.
Outro exemplo digno de nota é a utilização das noções de “circularidade das culturas de classe”, “incorporação e repressão” e “estruturas de sentimento” de Raymond Williams; ou mesmo da interpretação dada por este pensador britânico ao termo “hegemonia” de Antonio Gramsci. Trata-se das reflexões de Murilo Leal sobre a “crise de Projeto História, São Paulo, n. 48, Dez. 2013 representação” que se abateu sobre a classe trabalhadora brasileira, em suas relações com o Estado, os comunistas e trabalhistas, o que, na opinião do nosso autor, determinaram a não fundação de um partido independente de trabalhadores naquela conjuntura política específica.
Talvez, uma das poucas críticas que se possa fazer a este livro é o fato de que, provavelmente diante de um imperativo de exposição didática, as três partes em que foi dividido – “Determinações”, “Práticas: lutas, reivindicações, organizações” e “Representações: cultura e política” – ficaram um tanto estanques, embora complementares. Tal observação poderia ser feita especialmente quanto à última parte, quando os conceitos de Thompson, Hobsbawm e Williams são mais efetivamente trabalhados e poderiam, a nosso ver, se relacionarem mais estreitamente no próprio momento em que as ricas informações constantes nas duas primeiras partes fossem formuladas.
O aspecto polêmico do trabalho está intimamente ligado à abordagem que o autor dá à questão do assim chamado “populismo”; tema complexo e controverso que dificilmente poderia ser ignorado por ele diante da época estudada. É sabido que muitos pensadores brasileiros intitulam de República Populista o período 1950-1964, e que a grande maioria dos políticos que nela atuaram – Getúlio Vargas, Jânio Quadros, Adhemar de Barros, Juscelino Kubitschek e João Goulart entre outros – foram classificados de populistas.
Nascido no interior dos debates de sociólogos em busca de um melhor entendimento dos fenômenos sociopolíticos que ocorriam em sociedades que viviam um franco processo de urbanização e industrialização antes, durante e após a Segunda Guerra Mundial – com destaque para Brasil, Argentina e México entre os demais países latino-americanos –, o conceito populismo se expandiu para as áreas das ciências políticas e dos estudos históricos, criando fortes raízes em todas elas. Em linhas gerais, se referia às práticas políticas de líderes que Projeto História, São Paulo, n. 48, Dez. 2013 manipulavam as classes populares, de modo especial os trabalhadores urbanos que haviam acabado de chegar do campo, pouco organizados e portadores de novas demandas, tais como os direitos trabalhistas e melhores condições de vida e de trabalho nas grandes cidades e nas fábricas. Desta forma, o populismo sofreu e ainda sofre ferrenhas críticas tanto da direita, que o acusa de mobilizar e utilizar as reivindicações populares para angariar mais poder político, quanto da esquerda, que o enxerga como uma forma de menosprezar a capacidade da classe trabalhadora em se auto-organizar e desenvolver uma consciência política própria.
É necessário, pois, contextualizar A reinvenção da classe trabalhadora em um debate mais amplo que se instaurou a partir do final da década de 1980, quando a questão do populismo transformou-se em uma das principais polêmicas da historiografia brasileira do trabalho, mais precisamente com a publicação de A invenção do trabalhismo (1988) por Angela de Castro Gomes. Muitos dos seguidores de Thompson no Brasil começaram a buscar um paralelo entre a noção de “paternalismo” utilizado por ele e o populismo; ou mesmo a tentar interpretar o que Thompson queria realmente dizer quando utilizou várias vezes, em A formação da classe operária inglesa, o termo populismo. Concluíram então que a perspectiva thompsoniana dos trabalhadores enquanto agentes históricos não era totalmente incompatível com o conceito de populismo.1 Neste sentido, a presente obra de Murilo Leal fornece uma valiosa contribuição a este debate, quer concordamos ou não com seus argumentos e conclusões. Em primeiro lugar, quando aponta os inúmeros erros cometidos pelos comunistas e trabalhistas brasileiros naquele momento, o que inviabilizou a organização independente da classe trabalhadora; assim como a impediu de se constituir enquanto direção política e social de um novo “bloco histórico” que implementasse um profundo processo de reformas com perspectivas socialistas, capaz inclusive de evitar o Golpe Militar de 1964. Em segundo lugar, quando, após estabelecer um diálogo crítico com a chamada Escola Sociológica Paulista – representada pelas reflexões de Florestãn Fernandes, Francisco Weffort e José Álvaro Moisés –, nos propõe uma interpretação do populismo enquanto uma aliança classista entre os trabalhadores e outros setores sociais; aliança esta com forte potencial para estabelecer um projeto sociopolítico contra-hegemônico; mas que, no período estudado, acabou contribuindo para a incorporação da classe trabalhadora ao projeto industrializante da burguesia brasileira.
Professor de História na rede municipal de ensino, mestre em História Social pela PUC-SP.
1 Para uma melhor compreensão deste debate, muito sumariamente descrito neste parágrafo, recomendo a leitura dos seguintes artigos: FORTES, Alexandre. Formação de classe e participação política: E. P. Thompson e o populismo. In: Anos 90. Porto Alegre, v. 17, n. 31, pp. 173-195, jul. 2010 [Disponível em: www.seer.ufrgs.br/index.php/anos90/article/view/18941/11035. Acesso em: 10 abr. 2014]; PESTANA, Marco M. A centralidade da obra de Thompson na rediscussão do populismo. In: Caminhos da História. Vassouras, v.7, edição especial, pp. 131-140, 2011 [Disponível em: www.uss.br/pages/revistas/ revistacaminhosdahistoria/v7EdicaoEsp2011/pdf/014_-_A_Centralidade_da_ Obra_de_Thompson.pdf. Acesso em: 13 abr. 2014].
Antonio Carlos dos Reis Santos – Professor de História na rede municipal de ensino, mestre em História Social pela PUC-SP.
História Oral, desigualdades e diferenças – LAVERDI et. al (TH)
LAVERDI, Robson; FROTSCHER, Méri; DUARTE, Geni; MONTYSUMA, Marcos e MONTENEGRO, Antonio (Orgs.). História Oral, desigualdades e diferenças. Recife: Ed. Universitária da UFPE; Florianópolis, SC: Editora da UFSC, 2012, 333p. Resenha de: GILL, Lorena Almeida. Tempos Históricos, v.17, p. 384 – 388, 2º Semestre de 2013.
Quando penso sobre a razão que me motiva a trabalhar durante tantos anos com a metodologia de História Oral, a resposta que encontro é, certamente, pela possibilidade de conhecer tantas pessoas com suas memórias comovedoras. Memórias como as reveladas por Roseli Boschilia (2012, p. 107), que entrevistou imigrantes portugueses, dentre eles, Maria Helena, a qual contou sobre a sua partida de Portugal e do sofrimento advindo deste fato, quando ainda era uma menina pequena: Fui arrancada dos braços de minha avó, eternamente enlutada e cega; arrancada do chão de minha terra, dos sons, das cores e dos cheiros de minha aldeia para ser ‘plantada’ em São Paulo […] Vivi com minha mãe durante 12 anos na casa da família onde ela trabalhava como doméstica. Minha mãe fugira dos ‘trabalhos sem fim dos campos’ para acabar por definhar no ‘trabalho sem fim como empregada’, numa casa alheia, numa pátria alheia, longe dos seus.
História Oral, desigualdades e diferenças, livro organizado por Robson Laverdi, Méri Frotscher, Geni Rosa Duarte, Marcos Freire Montysuma e Antonio Torres Montenegro nos apresenta narrativas como a de Maria Helena e de tantos outros depoentes, que fazem com que paremos para refletir, a cada parte de sua leitura, sobre a necessidade de se construir memórias infames, no dizer de Michel Foucault (2003), e dos seus sentimentos, sofridos, alegres, banais, cotidianos.
O livro, publicado em parceria pelas Editoras da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal de Santa Catarina, foi gestado durante o V Encontro Regional Sul de História Oral, realizado no ano de 2009, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon, tendo como eixo de organização as mesas que ocorreram durante a programação do evento e as discussões realizadas.
O livro é tão diverso quanto foi a proposta do encontro, refletindo sobre Teoria, prática do historiador, questões vinculadas à memória e à subjetividade, as cidades, os movimentos sociais, os processos migratórios, o ensino e a história oral como ferramenta de reflexão na ação. Há, no entanto, um fio condutor que organiza o material, ou seja, uma necessidade de trocar experiências tão ricas, como aquelas produzidas em diferentes universidades do Brasil e do exterior, especialmente da Argentina e do Canadá.
Na primeira parte do material, Regina Beatriz Guimarães Neto, Antonio Torres Montenegro, Marcos Fábio Freire Montysuma e Pablo Alejandro Pozzi analisam as fontes orais e o ofício do historiador. Ainda que discutam sobre práticas de pesquisa, constituição de fontes, autorização de cessão de uso de relatos, utilização de testemunhos, o que chama a atenção é a trajetória de cada um dos autores relacionada à história oral. Seus textos revelam experiência e cuidado ao tratar da metodologia, ao mesmo tempo em que há certo militantismo, no que diz respeito às suas escolhas profissionais. Seus textos e seus percursos lembram muito um dos escritos de Portelli (1997, p. 15), no qual reflete sobre ética e assim diz: […] compromisso com a honestidade significa, para mim, respeito pessoal por aqueles com que trabalhamos, bem como respeito intelectual com o material que conseguimos; compromisso com a verdade, uma busca utópica e a vontade de saber ‘como as coisas realmente são’, equilibradas por uma atitude aberta às muitas variáveis de ‘como as coisas podem ser’.
Na segunda parte, Benito Bisso Schmidt e Roseli Boschilia transitam com maestria pelos temas da história oral, da memória e das subjetividades. Benito se propõe a realizar uma discussão mais teórica, ao reforçar a necessidade de se utilizar a noção de subjetividade de forma profunda no momento da análise da narrativa; Roseli, ao apresentar um trabalho realizado com imigrantes portugueses, nos brinda com entrevistas plenas de sentimentos. Três homens e uma mulher portugueses, que vivem em Curitiba atualmente, falam de suas origens, da nostalgia, da saudade, em relatos onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam.
Na terceira parte, os temas da cidade e da diferença aparecem com ênfase. Marcos Alvito conta sobre seus primeiros trabalhos com história oral, em Acari, para chegar a uma pesquisa mais recente, construída em 2009, com descendentes de escravos do quilombo São José da Serra, município de Valença, Rio de Janeiro. Relata o autor algumas narrativas, dentre elas a de Nathanael, que compara uma árvore, o jequitibá, à comunidade de ex-escravos. Alvito usa as falas de narrador e de outros depoentes para observar a complexidade de um relato, o qual necessita de profunda análise e interpretação por parte do historiador. Já Luiz Felipe Falcão toma como estudo de caso a capital de Santa Catarina, Florianópolis, buscando revelar que ainda que existisse um discurso construído de que a cidade fosse uniforme culturalmente, os outros (moradores de bairros populares, negros, pessoas vindas de fora) estavam sempre lá para mostrar o quanto havia a diversidade e a desigualdade. Por fim, Robson Laverdi aborda a alteridade gay, a partir da maneira como eles lidam com o preconceito e a homofobia. O discurso de um deles, denominado Márcio, um jovem nascido na zona rural que passa a viver na cidade de Assis Chateaubriand, ao trabalhar em um frigorífico, revela uma forma de se forjar em espaços absolutamente discriminatórios. Não se trata, no entanto, de uma narrativa lacrimosa ou algo que o valha, mas da constituição de uma identidade. No dizer de Candau (2011, p. 76): Quando um indivíduo constrói sua história, ele se engaja em uma tarefa arriscada consistindo em percorrer de novo aquilo que acredita ser a totalidade de seu passado para dele se apropriar e, ao mesmo tempo, recompô-lo em uma rapsódia sempre original. O trabalho da memória é, então, uma maiêutica da identidade, renovada a cada vez que se narra algo.
No quarto tópico, o qual versa sobre os movimentos sociais, Davi Félix Schreiner observa que, por muito tempo, os trabalhadores rurais não tiverem espaço na historiografia, situação que foi sendo alterada com o uso da metodologia de história oral. Utilizando o conceito de liminaridade e a categoria de subjetividade, revela um amplo espectro para o que pode ser chamado de trabalhadores sem-terra, analisando narrativas, sobretudo, vinculadas à vida em acampamentos. Mônica Gatica, por seu turno, procura compreender a dinâmica dos movimentos sociais e dos “novos movimentos”, que surgem na América Latina, a partir dos anos de 1980 e para isso se utiliza de vários teóricos imprescindíveis para a História Oral; ainda há Pablo Ariel Vommaro, o qual discute a organização do Movimento dos Trabalhadores Desempregados de São Francisco Solano, que se constituiu a partir de 1997, em Quilmes, sul da grande Buenos Aires. O foco são os trabalhadores urbanos e os processos de constituição de redes sociais. Nessa conjuntura, a História Oral, para o autor, é mais do que uma metodologia, mas uma maneira de aproximação da realidade.
A quinta parte, versando sobre migração, memória e identidade, traz textos de Alexander Freund e Méri Frotscher. Alexander reflete sobre os imigrantes, afirmando que, muitas vezes, se sentem perdidos entre dois mundos. O fato de não compartilharem uma memória coletiva (conceito que reverencia como fundamental para a análise dos processos de deslocamento) no novo país em que estão, faz com que se vejam em uma espécie de meio do caminho. Para o autor, no entanto, não se trata de uma história apenas de perdas, mas também de possibilidades, ao se construir ricos intercâmbios culturais. Méri Frotscher, por sua vez, observa as possibilidades de se relacionar as fotografias de migrantes e as fontes orais. Tendo em vista dois estudos de casos, de jovens do Paraná que foram trabalhar, de forma temporária, na Áustria e na Suíça, a partir dos anos de 1970, a autora analisa os “olhares sobre a alteridade”, presentes nas narrativas orais e visuais dos depoentes, percebendo que o uso das duas fontes permite compreender, de forma mais significativa, as experiências e os sentimentos dos migrantes.
Na última parte, Geni Rosa Duarte e Bibiana Andrea Pivetta analisam as experiências no campo do ensino. Geni, ao trabalhar com as migrações, advoga o direito ao conhecimento do passado de forma plural. Não basta para a autora dar voz aos antigos moradores, sem que se aceite os novos personagens, que se colocam no presente. A escola deve se abrir para o que não é homogêneo, para o que traz o antagonismo, para o que faz pensar sobre a realidade social. Por sua vez, Bibiana apresenta o projeto Aborígine para a Integração, o qual utiliza a história oral como ferramenta didática para um maior conhecimento de saberes tradicionais. Segundo a autora, através da metodologia, é possível conhecer melhor a sociedade pluricultural em que a comunidade está inserida, fazendo com que as crianças reflitam sobre suas origens e vivências.
Na apresentação do livro é revelado que seu eixo argumentativo principal foi a construção de um diálogo, nos campos interinstitucionais e internacionais. A dialogicidade é construída pelo fato de que vários desses autores convivem em encontros de área, os quais buscam estabelecer um bom debate sobre as pesquisas em andamento e as já realizadas. Igualmente, participam de programas de pós-graduação, que possuem forte interlocução com a metodologia. Há ainda aqueles que se organizam a partir de redes, como a Rede Latinoamericana de Historia Oral, que tem como pretensão difundir as produções existentes.
O livro, mesmo com abordagens tão diversas, e este é o seu fundamento, consegue proporcionar uma visão ampla sobre como se articula o trabalho com a metodologia atualmente, ao mesmo tempo em que debate ferramentas vinculadas à práxis histórica e incita discussões sobre novos temas a serem pesquisados. Torna-se, dessa maneira, uma bibliografia fundamental, tanto para graduandos quanto para pesquisadores mais experimentados.
Referências
CANDAU, Joël. Memória e Identidade. São Paulo: Contexto, 2011.
FOUCAULT, M. A vida dos homens infames. In: Estratégia, poder-saber. Ditos e escritos IV. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p.203-222.
PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: Algumas reflexões sobre a ética na História oral. Projeto História. São Paulo (15), abril de 1997, p. 13- 49.
Lorena Almeida Gill – Professora Associada do Departamento de História da Universidade Federal de Pelotas. E-mail: lorenaalmeidagill@gmail.com.
Varnhagen no caleidoscópio – GUIMARÃES; GLEZER (H-Unesp)
GUIMARÃES, Lúcia Maria Paschoal; GLEZER, Raquel (orgs.). Varnhagen no caleidoscópio. Rio de Janeiro: Fundação Miguel de Cervantes, 2013, 451 p. Resenha de: FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. História [Unesp] v.32 no.2 Franca July/Dec. 2013.
O crítico Sílvio Romero, na sua idiossincrática História da Literatura Brasileira, destaca, reiterada vezes, o quão variado eram os talentos e o quão empenhado era o patriotismo daqueles homens de letras que iniciaram suas atividades intelectuais no Brasil durante a primeira metade do século XIX. Romero salienta, sem dúvida com o propósito torto de fustigar os seus contemporâneos “demasiado cosmopolitas”, que eram homens cientes das imensas carências intelectuais do Brasil e orgulhosos de serem patriotas, homens que atuaram como romancistas, dramaturgos, pedagogos, administradores, políticos, médicos higienistas, historiadores, em suma, que atuaram onde sentiam que o país independente, ainda em processo de construção, deles necessitava para galgar um lugar entre as nações “civilizadas” do mundo, como então se dizia.
Exageros à parte, é por certo característico da atuação de grande parte dos homens de cultura brasileiros do Oitocentos o marcado espírito patriótico — “tudo para o Brasil e pelo Brasil”, como vinha estampado na capa da renomada revista Niterói — e uma produção intelectual extensa e variada — que ia do romance histórico aos relatórios provinciais —, da qual, não raro, mesmo os pesquisadores conhecem somente a parcela mais luminosa. Daí a importância e o interesse do lançamento de Varnhagen no caleidoscópio, obra coletiva, coordenada pelas pesquisadoras Lúcia Maria Paschoal Guimarães e Raquel Glezer, que traz para o leitor um panorama amplo e extremamente instrutivo da variada produção escrita de um dos mais importantes homens de cultura do Brasil oitocentista, Francisco A. Varnhagen.
Varnhagen… não é uma coletânea de artigos — formato que arrebata poucos leitores ultimamente — sobre a obra do renomado historiador; trata-se antes de uma obra coletiva, estruturada com esmero, que intercala ensaios analíticos e escritos do próprio Visconde de Porto Seguro, tudo precedido por uma introdução das coordenadoras, dando a conhecer as linhas gerais da obra e o percurso de vida do analisado. O eixo ou eixos do livro são, sem dúvida, aquilo que poderíamos denominar núcleos documentais: os escritos do próprio Varnhagen, uns menos outros mais conhecidos, todos, no entanto, ofuscados por seus trabalhos históricos e literários de grande vulto.
O primeiro eixo documental, composto por registros epistolares, nomeadamente por Oito cartas de Francisco Adolfo de Varnhagen a Diego Barros Arana (1864-1865), é precedido por dois ensaios analíticos, que preparam o leitor para a devida exploração das potencialidades interpretativas dos documentos que vai encontrar. No primeiro deles, a pesquisadora Raquel Glezer analisa uma outra correspondência do Visconde de Porto Seguro, aquela mantida, entre 1839 e 1849, com o português Joaquim Heliodoro Cunha Rivara, dando especial atenção às profundas relações de amizade que uniam os dois intelectuais, mas também, e sobretudo, ao circuito intelectual a que ambos pertenciam.
Em seguida, Lucia Maria Bastos Pereira das Neves e Guilherme Pereira das Neves descortinam para o leitor uma outra faceta de Varnhagen, a de diplomata. Explorando, em larga medida, a sua correspondência oficial, os pesquisadores traçam um quadro de seu périplo, entre 1860 e 1867, por diversos países da América Latina — Paraguai, Cuba, Colômbia, Equador, Venezuela, Chile e Peru —, onde cumpriu a delicada missão de defender os interesses de uma monarquia num mundo de repúblicas. A sua movimentada passagem pelo Chile e pelo Peru merece uma atenção mais detida dos autores. Aí, o representante monarquista da única monarquia das Américas, coerente com os princípios liberais que cultivava, posicionou-se, a despeito das diretrizes do seu governo, contra as ações da coroa espanhola, numa querela que esta manteve com as repúblicas do Pacífico ao longo dos anos de 1864 e 1865.
O segundo eixo é constituído pelo interessante Grande jornada a vapor, um relato de viagem no qual Varnhagen nos conta a rápida visita — 14 dias somente — que fez, em 1867, acompanhado da esposa e do filho, a 15 estados dos Estados Unidos da América. O relato da “escapadela” do Visconde ao vizinho do norte, logo depois de intempestivamente deixar as suas ocupações diplomáticas nas repúblicas do sul da América, é precedido por um ensaio da pesquisadora Lúcia Paschoal Guimarães, onde aprendemos um pouco sobre os antecedentes e as condições da viagem, compartilhamos de alguns detalhes pitorescos nela ocorridos e, acima de tudo, encontramos uma síntese dos comentários do viajante acerca da progressista, ordenada e próspera sociedade norte-americana, uma sociedade em que as mulheres gozavam de uma liberdade excessiva para os seus olhos, politicamente liberais mas moralmente conservadores.
O terceiro eixo traz o peculiar Memorial orgânico, um pequeno livro publicado inicialmente em 1849, que traça um “diagnóstico das deficiências da formação brasileira”, de um ponto de vista geopolítico e econômico, e apresenta uma ampla gama de propostas destinadas a superar os problemas do país e conduzi-lo para o rol das nações civilizadas. O ensaio que o precede, assinado pelo pesquisador Arno Wehling, trata de esmiuçar os diagnósticos e soluções propostos por Varnhagen, avaliando os seus impactos na política local, situando-os no ambiente político-cultural do Império e identificando os princípios gerais que os orientam.
Arremata este instigante Varnhagen no caleidoscópio um quarto eixo documental, no qual o leitor encontra o curioso A origem turaniana dos americanos tupis-caraíbas e dos antigos egípcios indicado pela filologia comparada, um minucioso escrito interessado em demonstrar, sobretudo através do estudo de variantes linguísticas, que os nossos tupis eram originários de um velho continente. De autoria do pesquisador Temístocles Cézar, o ensaio que o antecede, abrindo para o leitor possibilidades de interpretação do escrito, dedica-se a situar os esforços de Varnhagen no sentido de encontrar uma origem egípcia para os selvagens do Brasil numa discussão mais abrangente: aquela, tradicional na cultura do Ocidente, relativa ao binômio antigo/moderno.
Ao término da visualização do caleidoscópio Varnhagen, o leitor, de certo modo, reencontra, com muito mais nuances e detalhes, aquele tipo social, característico do Oitocentos brasileiro, instintivamente construído por Silvio Romero: o intelectual com múltiplos interesses culturais, dedicado a um sem número de atividades e movido por um saliente patriotismo, um patriotismo que, como tão bem demonstra a vida e a obra de Varnhagen, retórico ou não, passível ou não de críticas no tocante às direções que propunha para a pátria, movia e dava coerência aos escritos e ações dos homens de letras de então.
Jean Marcel Carvalho França – Professor Livre-docente de História do Brasil Colonial do Departamento de História da UNESP e autor, entre outros livros, de Literatura e sociedade no Rio de Janeiro Oitocentista (Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1999), Visões do Rio de Janeiro Colonial (José Olympio Editora, 2000), Mulheres Viajantes no Brasil (José Olympio Editora, 2008) e A construção do Brasil na literatura de viagem dos séculos XVI, XVII e XVIII (José Olympio Editora, Editora UNESP, 2012).
Teoria da História (v.1) Princípios e conceitos | José D’Assunção Barros
Iniciamos esta resenha nos remetendo a algumas questões feitas por José Carlos Reis, em um instigante e provocante artigo. Diz o autor: “Pode um historiador ser considerado culto e competente sem nenhuma preparação teórico-metodológica?”, ou então, “Pode um professor, mesmo do ensino fundamental e médio, ensinar história sem nenhuma bagagem teórico-metodológica?”.2
Reis está entre os historiadores mais dedicados especialistas a abordar as questões teórico-metodológicas da disciplina da História no Brasil e, a seu lado, outro proeminente historiador, José D’Assunção Barros igualmente tem feito sua parte. Este último, escritor de tantos artigos e livros, vem igualmente despertando a atenção do público leitor especializado em História, com uma trajetória consagrada ao estudo de Teoria, Metodologia e Historiografia, propondo que debatamos e discutamos tais esferas do nosso ofício desde o início da graduação nas diversas licenciaturas em História espalhadas pelo país.
Barros, tal como José C. Reis, avalia que é essencial para qualquer profissional da História, ter denso conhecimento teórico sobre sua área de atuação. Conforme ressalta o autor,
A Teoria da História constitui um campo de estudos fundamental para a formação do historiador. Não é possível desenvolver uma adequada consciência historiográfica, nos atuais quadros de expectativas relacionadas ao nosso ofício, sem saber se utilizar de conceitos e hipóteses, sem compreender as relações da História com o Tempo, com a Memória ou com o Espaço, ou sem conhecer as grandes correntes e paradigmas teóricos disponibilizados aos historiadores da própria história da historiografia.3 Não por acaso o livro aqui resenhado, “Teoria da História, Vol. I. Princípios e conceitos”, foi lançado originalmente em 2011 e, já no ano de 2013, encontra-se em mais uma edição, a terceira. Tal obra faz parte de um ambicioso projeto, que contará com seis volumes, cinco dos quais já foram publicados.
Ainda que negue ser do tipo “especialista” que se dedica a um único tema, conforme relatou em recente entrevista,4 José D’Assunção Barros tem ocupado lugar de destaque na área de Teoria, produzindo uma respeitada bibliografia acerca do tema, tanto em formato de artigos, ou em seus livros, tais como, “O campo da História”5 e “O projeto de pesquisa em História”6. Isso não significa que o referido autor esteja limitado à “Teoria e Metodologia”, pois como se sabe, pesquisou temas medievais em seu mestrado e doutorado, além de ter estudado a música, lançando há pouco tempo o livro “Raízes da música brasileira”,7 dentre outros, confirmando sua transitoriedade em diversos assuntos.
Trata-se, neste sentido, de um projeto que vem de longa data, amadurecida no decorrer dos anos em que o autor tem publicado dezenas de textos sobre Teoria e Metodologia. Segundo Barros, sua principal intenção foi pensar a coleção “Teoria da História”, “como um livro que buscasse suprir as demandas, nos cursos de graduação, para a disciplina que recebe este mesmo nome”.8
Desse modo, no primeiro volume de sua coleção, o autor pretenderá situar seus leitores sobre questões pertinentes ao “Campo Disciplinar”, “Teoria”, “Metodologia”, “Escola histórica”, “Paradigmas Historiográficos”, dentre outros temas. Sua preocupação em ser didático está presente, e esta é uma de suas características, isto é, fazer da “Teoria da História” um tema que possa ser atrativo e, ao mesmo tempo, indispensável para o estudante de graduação.
No capítulo inicial, de suma importância para toda a coleção, Barros pretenderá mostrar essencialmente o que são Teoria e Metodologia, quais as suas diferenças, e em que momento elas se aproximam e mantém o que ele chama de “confronto interativo”. Segundo o autor, tal cuidado é pertinente e necessário, pois “não são raras, por exemplo, a confusão entre ‘Teoria’ e ‘Método’ e, mais particularmente, entre Teoria da História e Metodologia da História”.9
Para tanto, inicialmente o autor tem a louvável preocupação de apresentar para o seu leitor o que é exatamente uma “disciplina”, ou um “campo disciplinar”, pois uma vez que ele está a falar de História enquanto disciplina, é bastante produtiva sua preocupação em esmiuçar tal questão, evidenciando como todo “campo disciplinar”, seja da Química, Física, Astronomia, Geologia, Medicina, etc., possui uma história e se modifica com o tempo, conjuntamente com suas práticas e objetos. Neste sentido, Barros – apoiado em Bourdieu -, entende que as regras de um campo disciplinar se transformam e podem ser redefinidas a partir de seus embates internos.
Assim, o autor é bastante instrutivo na sua tentativa de reflexão sobre quais elementos são necessários para que exista uma disciplina, ou um “campo disciplinar”. Desse modo, ele nos apresenta um quadro, com dez características, apresentadas da seguinte maneira. Toda a disciplina é constituída, antes de tudo, por, 1) “campo de interesses” (por exemplo, a História e o estudo daquilo que é humano e nas mudanças dos níveis no tempo e no espaço que ocorrem na história); 2) “singularidades” (isto é, conjunto de parâmetros definidores que justificam sua existência. No caso da História, a consideração do tempo, o uso de fontes, etc.); 3) “campos intradisciplinares” (os desdobramentos dentro da própria disciplina em “microdisciplinas”, tais como “História Cultural, “Micro-história”, “História Política”, etc.); 4) “aspectos expressivos”; 5) “aspectos metodológicos”; 6) “aspectos teóricos” (estes três tópicos se referem ao fato de que nenhuma disciplina se desenvolve sem que sejam construídas certas práticas discursivas, metodologias e teorias); 7) “oposições e diálogos interdisciplinares” (ainda que tenha sua singularidade, todo campo de saber está inserido em uma constante luta disciplinar, desde o seu surgimento, e o diálogo entre várias disciplinas é inevitável); 8) “interditos” (aquilo que se coloca como “proibido” ou “interditado” para os praticantes de uma determinada disciplina, mas que pode se alterar com o tempo); 9) “rede humana” (trata-se do próprio ato de fazer, isto é, os próprios indivíduos de um determinado campo o modificam, com maior ou menor grau de impacto, no exercício de seu ofício); 10) “olhar sobre si” (seria a reflexão sobre o campo, no caso da História, isso se dá por meio de disciplinas como a Historiografia, que é uma tentativa de compreender e analisar historicamente o desenvolvimento dos trabalhos históricos).10 Serão mais de vinte páginas dedicadas a explicar os aspectos inerentes a um “campo disciplinar” e que são bastante úteis para a compreensão de todo o texto, pois situa o leitor, a compreender melhor o funcionamento das disciplinas como um todo e, especialmente a História. Após esse tópico, José D’ Assunção Barros irá se debruçar na tentativa de deixar claro o que é “Teoria” e “Metodologia”, suas aproximações e peculiaridades. Segundo o autor, a teoria seria um “modo de ver” e a metodologia, um “modo de fazer”. Nas suas palavras,
A “teoria” remete (…) a uma maneira específica de ver o mundo ou de compreender o campo de fenômenos que estão sendo examinados (…) Por outro lado, a Teoria remete ainda aos conceitos e categorias que serão empregados para encaminhar uma determinada leitura da realidade (…)
Já a “Metodologia” remete sempre a uma determinada maneira de trabalhar algo, de eleger ou constituir materiais, de extrair algo específico desses materiais (…) A metodologia vincula-se a ações concretas (…) mais do que o pensamento, remete à ação e a prática.11
No entanto, conforme já foi mencionado, o autor enfatiza que há um “confronto interativo” entre ambas, nos mostrando como isso se dá, pois como informa, é frequente que uma decisão teórica possa encaminhar um tipo de escolha metodológica ou vice-versa. O “Materialismo Histórico” foi utilizado como exemplo pelo autor,
(…) não é raro que o Materialismo Histórico – um dos paradigmas historiográficos contemporâneos – seja referido como um campo teórico-metodológico, uma vez que enxergar a realidade histórica a partir de certos conceitos como a “luta de classes” ou como os “modos de produção” também implica necessariamente uma determinada metodologia direcionada à percepção dos conflitos, das relações entre condições concretas imediatas e desenvolvimentos históricos e sociais. [Deste modo] Uma certa maneira de ver as coisas (uma teoria) repercute de alguma maneira numa determinada maneira de fazer as coisas em termos de operações historiográficas (uma metodologia).12
Desta maneira, teoria e metodologia são, nas suas palavras, “irmãs siamesas” e que “vivem” inseparáveis na prática da pesquisa científica e, evidentemente, da operação historiográfica.
No capítulo seguinte, intitulado de “Teoria da História e Filosofia da História”, dividido em três subcapítulos -, Barros mostra o encontro entre a historiografia e a ciência a partir da Teoria, e o papel desta última na formação do historiador, “ontem e hoje”, além de explicar as diferenças entre teoria e filosofia da História.
O autor faz um percurso acerca da teorização da História enquanto conhecimento científico, nos mostrando que se antes do século XVIII havia uma Historiografia, entretanto, não se pode falar que existia uma “Teoria da História”. Para ele, tanto as filosofias da História quanto as teorias da História são enunciadas em uma nova era historiográfica que data da passagem do século XVIII para o XIX e que existira entre ambas, cumplicidades e diferenças.
No campo da História, institucionalmente profissionalizada a partir do século XIX, pode-se falar que emergem os primeiros paradigmas historiográficos, que eram o Positivismo, o Historicismo e o Materialismo Histórico. Segundo Barros, uma “Teoria da História, ou um paradigma historiográfico, corresponderá a uma certa visão histórica do mundo, ou mesmo a uma a uma determinada visão sobre o que vem a ser História”.13
Além disso, faz uma observação bastante importante nos mostrando que dependendo de sua filiação teórica, o historiador poderá “ver” o mundo e “pensar” a historiografia de um modo ou de outro, o que não anula, evidentemente, que o mesmo transite por diversas correntes teóricas. Neste sentido, diz ele, com certeira observação:
Diante do amplo conjunto de teorias que se disponibilizam ao historiador, será sempre preciso escolher, pois não existem fórmulas consensuais com vistas a entender ou praticar a história. Em termos de Teoria, cada historiador está condenado a ser livre.14
Para finalizar, Barros apresenta efetivamente as diferenças entre as teorias da história e as filosofias da história. Para ele, as primeiras preocupam-se com a escrita e o ofício da História-Disciplina, enquanto as segundas procuram decifrar o sentido da história-processo. Em termos bastante didáticos, dirá o autor que as “filosofias da história” “podem ser entendidas como um gênero filosófico que produz uma reflexão ou especulação sobre a história”,15 ou, em outras palavras, sobre seu fim. O autor, no entanto, pondera que ainda que as especulações sejam bem mais limitadas nas teorias, elas existem num “certo nível”. Basta ver os casos do Positivismo de Comte, que pensava em um “fim da história” com a “sociedade positiva”, ou então o Marxismo e sua “sociedade sem classes”.
Para simplificar, o autor nos apresenta um ilustrativo quadro mostrando as principais características das filosofias da história e das teorias da história. Em tal ilustração, as primeiras teriam
maior carga de especulação filosófica, preocupação primordial com o sentido da história, produzidas predominantemente por filósofos, que seriam muito mais realizações pessoais dos filósofos, enquanto as segundas carregariam consigo uma menor carga de especulação filosófica, preocupação primordial com a realidade histórica percebida através das fontes, produzidas predominantemente por historiadores e cientistas sociais, espaços de discussão coletiva de setores da historiografia.16
Assim, será a partir do século XIX, com o afastamento das filosofias da história e a partir da formação da comunidade científica dos historiadores e sua institucionalização, que esse profissional passará a teorizar e pensar incessantemente no seu ofício. Isso significa dizer que com a Teoria da História, o “campo disciplinar” História passou a “olhar sobre si”. Desde então, a “Teoria da História estabeleceu-se como um horizonte obrigatório para todo historiador que aprende e desenvolve seu ofício”.17
O terceiro e último capítulo é mais extenso e aborda uma porção de questões que são divididas em cinco subcapítulos. Barros apresentará essencialmente os principais conceitos para o estudo de Teoria da História. Primeiramente o autor divide a Teoria da História em três direções: a primeira seria aquela mais geral, ou seja, o “campo de estudos que examina todos os aspectos teóricos envolvidos na produção do conhecimento histórico”; a segunda, Teoria da História II, mais voltadas às “grandes correntes de concepção da História no interior de cada paradigma (ex: variações do Positivismo […] do Materialismo Histórico), ou mesmo ‘entre’ os paradigmas e até independente deles”; e a terceira, Teoria da História III tem ligação aos problemas mais particulares, ou seja, “sistemas coerentes para a compreensão de processos históricos específicos (a Revolução Francesa, o Nazismo, etc.) desenvolvidos por um ou mais historiadores”.18
Além dessas três, o autor nos mostra alguns outros importantes conceitos, tais como Matriz disciplinar, “Conjunto de preceitos e atributos da História (forma de conhecimento) que é aceito pela ampla maioria dos historiadores”; Paradigma Historiográfico, isto é, “Grandes linhas dentro da historiografia (…) que apresentam uma forma específica de conceber e lidar com a História”, como por exemplo, o Positivismo, Historicismo e Materialismo Histórico; Escola Histórica, “grandes conjuntos coerentes de historiadores, unidos por um programa de ação em comum”; e Campo Histórico, que se divide em dois, pois seria tanto “Modalidades no interior da História, que estabelecem conexão umas com as outras” e, “subespecializações da História”.19 Devemos lembrar, claro, que Barros dedica todo restante de sua obra para esmiuçar tais conceitos. Trata de mostrar as especificidades das Ciências Humanas em relação às Ciências Naturais e Exatas, enfatizando, por exemplo, a ideia de que o historiador, desde a sua graduação, deve ter consciência de que não existe apenas um paradigma historiográfico “verdadeiro”. Por esta razão, pode exercer a liberdade para transitar em vários deles, ou, pelo menos, respeitá-los e aceitá-los como plausíveis dentro do grande campo disciplinar que é a História, para não cair naquilo que José Carlos Reis chama de “pirronismo histórico”.20
Para citarmos um exemplo, no tópico quarto do terceiro capítulo, o autor indica que devemos nos afastar de alguns vícios que, segundo ele, são nocivos ao historiador. Para citar alguns, o péssimo costume de atacarmos autores pessoalmente, em vez de fazermos uma discussão eminentemente teórica, ou então, o “fetiche do autor”, isto é, o endeusamento de determinados teóricos como se fossem os únicos corretos, ou até mesmo a fé cega em um único paradigma ou teoria, como se todos os outros fossem errados. Nas suas palavras, não podemos incorrer no erro de transformarmos determinadas correntes teóricas em dogmas, uma vez que tal atitude “pode transformar uma boa ciência em má religião” (p. 256).
Nesse sentido, o texto de José D’Assunção Barros tem diversas qualidades, desde sua notória erudição, quanto sua disposição em auxiliar (jovens) pesquisadores, pois nessa obra, a principal característica ali encontrada, reside nas suas cirúrgicas explicações dadas ao pesquisador da Ciência da História. Com uma boa quantidade de exemplos, diversos quadros explicativos, e uma narrativa bastante suave, acreditamos que o autor foi bem-sucedido em seu objetivo, uma vez que tal obra merece atenção dos professores de Teoria da História da graduação. No entanto, não se trata de ser apenas uma obra de apresentação da Teoria da História, trata-se de uma demonstração de que não é possível escrever uma história problematizada, sem que haja um exercício teórico-metodológico na orientação das nossas pesquisas e do nosso ensino de História.
Notas
- REIS, José Carlos. O lugar da teoria-metodologia na cultura histórica. Revista de Teoria da História, ano 3, n. 6, dezembro de 2011, p. 5.
- BARROS, José D’Assunção. Teoria da História Vol. I. Princípios e conceitos. 2013, p. 11. Os grifos são nossos.
- ROIZ, Diogo da Silva. Teoria e Metodologia da História no Brasil: entrevista com José D Assunção Barros. Historiae: revista de história da Universidade Federal do Rio Grande, v. 3(1), p. 249-258, 2012.
- BARROS, José D’Assunção. O Campo da História – especialidades e abordagens. Petrópolis: Editora Vozes, 2004. v. 1. 222p.
- BARROS, José D’Assunção. O Projeto de Pesquisa em História. Petrópolis: Editora Vozes, 2005. v. 1. 236p.
- BARROS, José D’Assunção. Raízes da música brasileira. Ed. Hucitec, 2011.
- ROIZ, Diogo. Op. Cit., p. 256.
- BARROS, José D’Assunção. Op. Cit., 2013, p. 12.
- Id., p. 19-40.
- BARROS, José D’Assunção. Op. Cit., 2013, p. 65-67. Os grifos são nossos.
- Ibid., p. 73.
- BARROS, José D’Assunção. Op. Cit., 2013, p. 87.
- Id., Ibid., p. 91-92. Os grifos são nossos.
- Id., Ibid., p. 117.
- Fizemos um resumo de tais características, que são apresentadas mais detalhadamente em BARROS, José D’Assunção. Op. Cit., 2013, p. 126.
- Id., Ibid., p. 147.
- Id., Ibid., p. 163.
- BARROS, José D’Assunção. Op. Cit., 2013, p. 163.
- REIS, José Carlos. O desafio historiográfico. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2010.
Eduardo de Melo Salgueiro – Doutorando em História – PPGH/UFGD. Universidade Federal da Grande Dourados. Bolsista CAPES. Dourados / Mato Grosso do Sul, Brasil. E-mail: eduardomsalgueiro@gmail.com.
BARROS, José D’Assunção. Teoria da História Vol. I. Princípios e conceitos. Petrópolis/RJ. Editora Vozes, 3ª Ed., 2013, 319 p. Resenha de: SALGUEIRO, Eduardo de Melo. Teoria e Metodologia em debate: maneiras de “ver” e “fazer” história. Outros Tempos, São Luís, v.10, n.16, p.316-322, 2013. Acessar publicação original. [IF].
Le Présent dans le Passé. Autour de quelques Périclès du XX e siècle et de la possibilite d’une vérité en Histoire | José Antônio Dabdab Trabulsi
O professor José Antônio Dabdab Trabulsi, da UFMG, já nos acostumou a saborear, com frequência, seus livros publicados em Besançon, todos bem argumentados e escritos, uma satisfação tanto para especialistas, como para o público culto mais amplo. Dabdab presenteia-nos, agora, com um volume que recolhe suas reflexões sobre leituras dos séculos XX e XXI de um dos mais reverenciados personagens históricos de todos os tempos, Péricles, o líder ateniense do século V a. C., retomado, tantas vezes, ao longo dos séculos, por literatos, intelectuais e governantes. A primeira e principal premissa do autor está enunciada nas palavras introdutórias:
Para o historiador, um horizonte de verdade é necessário, ou então a profissão se tornaria impossível ou sem sentido. Mas a confiança de poder chegar a ela é ingênua, segundo me parece. A História, como o diz, de forma sublime de De Sanctis, como comentarei no livro, antes que mestra da vida, é sua discípula; a História é uma estranha mistura de conhecimento e opinião, motivo pelo qual nunca será possível extirpar a parte relativa à opinião; e, em não podendo, não será jamais possível chegar à verdade (p. 15).
O volume congrega alguns dos principais historiadores que se debruçaram sobre a figura singular de Péricles, como Gaetano de Sanctis (com dois capítulos), Mario-Attilio Levi, Léon Homo, Marie Delcourt, Donald Kagan, A. Burn, assim como uma série deles que contribuíram para um número recente do Nouvel Observateur. Predominam latinos (francófonos e italianos), mas não falta o mundo anglo-saxão. Dabdab lamenta não dominar o idioma alemão (“a língua de Goethe me é inacessível”, p. 11) e não considera a hipótese de obras relevantes em outros idiomas – como o castelhano, o português ou o grego moderno. Quantos de nós não faríamos escolhas semelhantes? Nada desmerece tais eleições, mas, de toda maneira, são reveladoras de um viés generalizado e que não está muito atento à produção que poderíamos chamar de periférica, oriunda de centros de estudos menos centrais e tradicionais. Mais do que um defeito, esta é uma manifestação da centralidade que ocupa na reflexão historiográfica, mesmo em autores de fora daqueles ambientes, das grandes narrativas e dos cânones. Não riamos, para parafrasear Horário (Sátiras 1,1, 69: Quid rides? De te fabula narratur), pois se trata do nosso discurso sobre o passado, que mesmo quando almeja a liberdade nem sempre consegue desvencilhar-se de escolhas fundadas na autoridade e na tradição.
Dabdab elogia, assim, de forma inspiradora os lampejos da única autora estudada, assim como condena, de forma peremptória e reiterada tudo que cheire e apoio ao imperialismo e apoia toda manifestação mais simpática à democracia grega antiga, assim como reitera as críticas à democracia representativa moderna, simulacro frágil da ateniense. Dabdab não hesita em julgar e condenar, de forma cabal, os autores: “visão inaceitável” (p. 169, 177), a respeito de Paul Veyne, “opiniões anti-povo” (p. 75), “preconceito bem francês contra os comerciantes” (p. 83), “um erro fundamental” (p. 124), “uma ingenuidade – ou cegueira – do historiador” (p. 125), “como tantos outros, Burn se recusa a ver as realidades frente a frente” (p. 155). Tais afirmações ex auctoritate, condenações peremptórias, não combinam bem com os objetivos gerais de Dabdab, que, como ele explicita tantas vezes, consiste em valorizar o povo, a democracia e a criticar os usos do passado para os fins mais nefastos e destruidores, como no fascismo, para citar um caso paradigmático e muito bem explorado no volume.
Tais observações, de modo algum, diminuem os méritos da obra, que são muitos, a começar pela obstinada intenção do autor de mostrar como o presente, como as circunstâncias dos autores analisados e os contextos históricos e sociais, foram determinantes em suas análises do passado. Em outras palavras, como Péricles serviu, ao longo do tempo, para políticas mais ou menos libertárias ou opressivas. Para uns e em determinadas circunstâncias, o dirigente grego foi um ditador, um limitador do povo inculto, como se tivesse sido um Mussolini – ou, poderíamos dizer, um Perón ou um Vargas. Para outros, Péricles representou parte de um sistema no qual as pessoas comuns, os cidadãos (não a maioria, que era escrava) podiam se expressar e no qual parte da elite podia ter uma atuação que favorecia essa mesma massa e certa liberdade, em geral. Autores de nossa época, como Veyne, seriam menos otimistas com relação ao plethos (muitos), e mais atentos à parrhesía (franqueza) e ao tema da diversidade, palavra pouco presente no volume de Dabdab.
O volume de Dabdab, tão logo esteja disponível em vernáculo, poderá contribuir, de forma significativa, para uma discussão tão necessária sobre a relação entre passado e presente. Sua relevância ultrapassa, em muito, os âmbitos estreitos da academia, dos estudiosos da Antiguidade, poucos que somos, mas atinge o cerne dos temas de nosso tempo: democracia, verdade, imperialismo (temas presentes no volume), mas também, mesmo na ausência, diversidade, liberdade e franqueza. Sua leitura não deixará de enriquecer e sua discussão só tende a contribuir para uma sociedade menos fundada na hierarquia.
Pedro Paulo Abreu Funari – Universidade Estadual de Campinas.
TRABULSI, José Antônio Dabdab. Le Présent dans le Passé. Autour de quelques Périclès du XX e siècle et de la possibilite d’une vérité en Histoire. Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, 2011. Resenha de: FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, v.9, n.9, p.179-181, 2013. Acessar publicação original [DR]
Novos Domínios da História – CARDOSO; VAINFAS (CTP)
CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Novos Domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Resenha de: MOURA, Luyse Moraes. Novos Domínios da História, de Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão, n. 10 – 10 de dezembro de 2012.
Publicado pela primeira vez em 1997, Domínios da História tornou-se uma obra de referência para os profissionais da área de história e das demais ciências humanas e sociais. O livro foi organizado por Ciro Flamarion Cardoso – Professor Titular de História Antiga e Medieval da Universidade Federal Fluminense (UFF) – e Ronaldo Vainfas – Professor Titular de História Moderna da Universidade Federal Fluminense (UFF) –, e contou com a colaboração de numerosos autores, resultando na compilação de diversos ensaios sobre teoria e metodologia da História.
Porém, mesmo com a contribuição de vários autores, o livro não contemplou alguns temas e aspectos da disciplina histórica e, em razão disso, os mesmos organizadores decidiram preparar um novo volume com características semelhantes às do primeiro. Novos Domínios da História foi lançado em 2012, pela Editora Elsevier, com o propósito de complementar a obra publicada em 1997.
Neste novo livro, que também contou com a participação de diversos autores, novos campos da História foram explorados a exemplo da “História do Tempo Presente”, tema de Márcia Menendes Motta. Em seu texto, Motta discute as relações entre História, memória e tempo presente; e comenta sobre o surgimento e consolidação da História do Tempo Presente. Entretanto, ao mencionar os trabalhos desenvolvidos no Brasil inseridos neste novo campo disciplinar, a autora restringe as produções do Laboratório do Tempo Presente (UFRJ) à temáticas relacionadas apenas à América do Sul. Além disso, sua exposição exclui a possibilidade de pesquisas sobre a HTP desenvolvidas em outras regiões do país, que não o Sudeste. Nesse sentido, Motta não menciona, por exemplo, os trabalhos do Grupo de Estudos do Tempo presente (UFS).
Assim como a “História do Tempo Presente”, a “Nova História Militar”, apresentada por Luiz Carlos Soares e Ronaldo Vainfas; e a “Micro-história”, tema de Henrique Espada Lima, também são abordadas nesta obra. Tais autores analisaram as proposições dessas novas áreas de conhecimento e apontaram os principais desafios que a elas se impõem.
Além dos novos territórios explorados, o livro também apresenta algumas exposições sobre domínios da história bastante tradicionais que, nas últimas décadas, passaram por um processo de renovação. São os casos da “Nova História Política”, tema de Sônia Mendonça, Virginia Fontes e Ciro F. Cardoso; da “Biografia Histórica”, tema de Benito Shmidt; e da “História das Relações Internacionais”, abordada por Estevão R. Martins. Nestes capítulos, foram avaliados os avanços que cada um desses campos pôde alcançar ao longo dos últimos anos.
Algumas temáticas apresentadas no livro anterior foram atualizadas, passando a compor, também, o presente volume. Dentre as quais, podemos citar as relações entre “História e Antropologia”, tema de Maria Regina C. de Almeida; e a “História dos Movimentos Sociais”, campo que vem despertando nos últimos anos um crescente interesse entre os pesquisadores, e que foi abordado no livro por Hebe Matos. Uma outra temática também foi retomada nesta obra: os usos da informática no ofício do historiador. No capítulo “História e Informática”, Célia Tavares reflete sobre o impacto das novas tecnologias para a produção e divulgação do conhecimento científico.
Diferindo da edição de 1997, Novos Domínios da História apresenta abordagens mais profundas sobre certos campos da história, como “História e Cultura Material”, tema da contribuição de Marcelo Rede; “História e Imagem”, temática de Ulpiano de Menezes; “História e Fotografia”, abordada por Ana Mauad e Marcos Brum Lopes; “História e Cinema”, tema de Alexandre Valim; e “História e Textualidade”, tema de Ciro F. Cardoso. De acordo com os organizadores, esses domínios ganharam uma maior notoriedade no livro devido aos avanços e à especialização que vêm alcançando nas últimas décadas.
A “História Oral”, tema que não esteve presente no livro anterior, também ganhou espaço neste novo volume. Em seu ensaio, Marieta de Moraes Ferreira evidencia que a história oral, apesar de ter sido alvo de críticas de muitos historiadores nos anos 1960 e 1970, tornou-se no século XXI uma metodologia fundamental nas pesquisas realizadas no Brasil, sobretudo, nas relacionadas a temáticas contemporâneas.
Em Novos Domínios da História a introdução e a conclusão desempenham a função de equilibrar as discussões apresentadas ao longo dos capítulos. A introdução, escrita por Ciro F. Cardoso, apresenta os problemas específicos da epistemologia das ciências sociais e humanas, e discorre sobre as três modalidades básicas do conhecimento histórico: o reconstrucionismo, o construcionismo e o desconstrucionismo. A conclusão, elaborada por Ronaldo Vainfas, dialoga com a introdução, analisando os “novos domínios” da história apresentados no livro a partir da tipologia epistemológica desenvolvida por Ciro F. Cardoso na parte inicial da obra.
Como bem indicam os organizadores no prefácio do livro, nos dias atuais a história apresenta uma grande diversidade de abordagens, temas e conceitos. Sendo assim, Novos Domínios da História, ao oferecer um panorama amplo e atualizado dos domínios da história – novos e antigos –, torna-se extremamente útil aos estudiosos e profissionais da história, podendo interessar também aos que atuam nas demais ciências humanas e sociais.
Referências
CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Novos Domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
Luyse Moraes Moura – Graduanda em História/UFS. Bolsista PIBIC/CNP sob orientação do Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard. Integrante do Grupo de Estudos do Tempo Presente. E-mail: luyse@getempo.org.
Capítulos de História: o trabalho com fontes / Marcela L. Guimarães
Verificamos, nos últimos anos, um notável crescimento da produção acadêmica brasileira que se dedica ao estudo da teoria da história, a saber, como devemos pensar e escrever sobre os acontecimentos do passado. De fato, nossa disciplina possui a qualidade da renovação: teorias, metodologias e técnicas diferentes estão sempre surgindo, tendo em vista que cada novo momento histórico ocasiona uma nova dinâmica no campo intelectual. No entanto, notamos que grande parte desses trabalhos apresentam uma narrativa densa e uma linguagem excessivamente técnica, o que acaba restringindo o público leitor de tais obras. Dessa forma, muitos estudantes e professores, que não sejam propriamente dito “especialistas” na área, veem-se privados de grande parte desse importante conhecimento à disciplina histórica. Porém, interessantes inovações no campo da escrita estão surgindo e alterando gradualmente esse panorama. Uma obra que, nesse sentido, contribui para alargar o campo de recepção da teoria da historiografia, mantendo o nível de excelência da escrita e pensamento acadêmicos, é Capítulos de História: o trabalho com fontes (2012), de Marcella Lopes Guimarães. Graduada e Mestre em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Doutora em História pela Universidade Federal do Paraná, a autora apresenta, ao longo dos cinco capítulos de sua obra, uma série de orientações, do ponto de vista teórico e metodológico, para aqueles que desejam analisar fontes e iniciar uma pesquisa histórica.
O capítulo inicial da obra intitula-se Do Livro de cozinha da infanta D. Maria de Portugal às receitas eletrônicas: o sabor e saber no tempo, momento em que a autora ressalta o fato da cultura alimentar de uma época ser um importante objeto de investigação para os historiadores, pois é um indicio revelador dos costumes, práticas e preferências dos homens e mulheres do passado. No sentido de exemplificar tal questão, Guimarães recorre a uma documentação do século XVI, o Livro de cozinha da infanta D. Maria de Portugal, apontando que os ingredientes e temperos de tais receitas podem ser considerados indicativos dos sabores buscados pela sociedade daquela época. Como um dos seus exemplos, a autora aponta que, na receita da “Galinha Mourisca”, presente no livro da referida infanta “(…) sobressaem os temperos, em especial a hortelã, bastante apreciada entre os muçulmanos” (GUIMARÃES, 2012, p.28). Paralelamente à sua observação do passado, a autora provoca o leitor a avaliar os gostos e as sensações do seu próprio presente, o qual se faz marcar de modo intenso pela cultura alimentar do fast /slow food.
O capítulo seguinte, O que revelam nossos álbuns de família?, instiga o leitor a observar atentamente as fotografias que possui em casa, as quais devem ser consideradas também reveladoras fontes históricas. Para Guimarães, os registros fotográficos (e as artes visuais) imprimem a passagem do tempo e podem assinalar o fluxo de mudanças nos comportamentos e ações das pessoas; pois, para a autora, “Os primeiros fotógrafos tiveram de confrontar desafios científicos dos quais hoje estamos libertos” (GUIMARÃES, 2012, p.49). Como exemplo, a autora apresenta uma série de fotos, dentre as quais está o registro da neve em Curitiba, em 1975 – um acontecimento singular.
No terceiro capítulo da obra, Crônicas de jornal e crônicas régias: a transformação de um gênero histórico, Guimarães coloca em seu foco de análise o modelo narrativo cronístico. Em sua reflexão, a autora volta-se para a Idade Média com o intuito de apontar a transformação que as crônicas literárias atuais demonstram em relação às crônicas históricas medievais. Como exemplo do passado, Guimarães apresenta uma crônica composta no século XIV intitulada Crónica del rey D. Pedro y del rey D. Henrique su hermano hijos del rey D. Alfonso onceno, escrita por Pero Lopez de Ayala (1332-1407). Uma obra como essa, cuja característica principal era a narrativa organizada por datas, deve ser vista, segundo a autora, como um importante resquício para se analisar as atitudes mentais do passado. Ora, para Guimarães, o homem é o espectador das transformações históricas: “É irresistível muitas vezes apontar para o que nos aproxima, para as continuidades e para as analogias que provariam que o homem é o mesmo, no caso da crônica, o narrador como espectador do mundo” (GUIMARÃES, 2012, p.85).
O caráter interdisciplinar atribuído pela autora a sua obra está claramente presente no quarto capítulo, História e Literatura: um debate desde Aristóteles, no qual se faz indicar como a História e a Literatura travam um embate entre o verdadeiro e o verossímil (possível). Para essa discussão, Guimarães tem por apoio a obra Arte Poética, de Aristóteles, autor que atribui uma perspectiva universal para a Literatura e particular à História. Guimarães demonstra que a escrita historiográfica modificou-se sensivelmente ao longo do tempo – de Heródoto até os dias de hoje -, e que nela podemos perceber uma vinculação direta para com a Literatura. Conforme suas próprias palavras, “A Literatura exercita possibilidades, como previra o estagirita” (GUIMARÃES, 2012, p.119). Como exemplo para a discussão dessa questão, a autora apresenta uma reflexão tendo por base o livro do escritor português José Saramago, História do cerco de Lisboa, de 1989, o qual possui duas partes definidas: a histórica e a fictícia. Com relação a essa obra de Saramago, Guimarães ressalta justamente a contribuição da ação literária no sentido de estimular a problematização da História.
No quinto e último capítulo da obra, Notas sobre possibilidades de trabalho com fontes não escritas, Guimarães ressalta que a investigação histórica, em sua escolha documental, deve continuar cada vez mais se utilizando da cultura material na busca de informações sobre o passado. De fato, Guimarães chama a nossa atenção para a grande quantidade de fontes materiais que temos à nossa volta, espalhadas por nossos centros urbanos. Museus, praças, monumentos, prédios históricos são locais que, por sua historicidade, devem ser frequentados e analisados pelo historiador. Como exemplos nesse sentido, Guimarães traz imagens do Alcácer de Sevilha e da Mesquita Catedral de Córdoba (arquiteturas situadas na atual Espanha), monumentos que, por sua beleza, suscitam nosso interesse e estimulam nosso desejo pelo conhecimento do passado. Portanto, para a autora, “Inúmeras são hoje as possibilidades de trabalho histórico quando convocamos a cultura material, ou seja, quando convocamos os vestígios materiais, concretos, com os quais os grupos humanos fizeram sua vida” (GUIMARÃES, 2012, p.143).
A leitura de Capítulos de História: o trabalho com fontes, competente trabalho da historiadora Marcella Lopes Guimarães, é uma experiência que instiga o público leitor a querer investigar sobre o passado, uma tarefa que se torna possível graças ao recurso às diversas categorias de fontes históricas que dispomos perto de nós: seja dentro de casa (utensílios/livros antigos e álbuns de fotografia da família) ou no espaço público de nossa cidade (museus e monumentos). Guimarães realiza o paralelo passado/presente ao longo de toda sua obra, demonstrando que a fonte motivadora para o estudo do historiador são as questões de seu próprio tempo, seguindo, dessa forma, a importante perspectiva de Marc Bloch. Todas as ideias da autora são apresentadas em uma narrativa muito agradável; ademais, no canto lateral das páginas, foram colocados pequenos textos explanativos sobre determinados termos ou acontecimentos/pessoas que foram mencionados. Nesse sentido, a obra ganha em valor didático. E é provavelmente pensando nisso que a autora apresenta, ao final de cada capítulo, sugestões de atividades a serem desenvolvidas pelos professores de História junto aos seus alunos. Portanto, para todos aqueles que demonstram interesse pela investigação e conhecimento do presente e do passado, acadêmicos ou não, a obra de Marcella Lopes Guimarães é uma considerável recomendação, pois ela cumpre muito bem com seu papel de estimular a crítica e a reflexão no público leitor da atualidade.
Elaine Cristina Senko – Doutoranda PPGH-PR. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, Paraná, Brasil. E-mail: elainesenko@hotmail.com.
GUIMARÃES, Marcella Lopes. Capítulos de História: o trabalho com fontes. Curitiba: Aymará Educação, 2012. p.175. Resenha de: SENKO, Elaine Cristina. Reflexões sobre a Escrita, Metodologia e Teoria da História. Outros Tempos, São Luís, v.9, n.14, p.240-243, 2012. Acessar publicação original. [IF].
Qual o valor da história hoje? | Márcia A. Gonçalves, Helenice Rocha, Luís reznik e Ana Maria Monteiro
Coletânea resultante de um seminário ocorrido em 2010, intitulado o valor da história hoje, o livro organizado pelos historiadores Márcia de Almeida Gonçalves, Helenice Rocha, Luís Reznik e Ana Maria Monteiro, lança uma interrogação que desloca a certeza presente no título original para um ponto ignoto, ao qual concorrem os mais diversos juízos, e que como a própria apresentação da obra sugere, tem a intenção de indicar o caráter movediço do dilema.
Qual o valor da história hoje? revisita a problemática relação constituída entre a teoria da história e a didática da história, só que com a singularidade de uma argumentação tecida com base em objetos pouco habituais neste tipo de tema: é a tensão resultante da inter-relação entre memória e história, e a necessidade do ingresso de debates sobre questões do tempo presente – ou ao menos que estabeleçam ligações com ele – na sala de aula, que orientam as discussões.
A obra reúne as reflexões de um significativo contingente de pesquisadores com estudos voltados principalmente para questões de teoria e método. O desafio do livro reside na conciliação entre as abordagens mais atinentes à epistemologia da disciplina histórica e aquelas que partem de elementos vinculados aos aspectos cognitivos da pedagogia. O primeiro ponto de convergência é a temática que atravessa as divisões do livro: as permissões e interdições impostas pelos sentidos atados à experiência – a vivência e a sua correlata memória –, ao estabelecimento do discurso histórico. Um segundo ponto, este inferido por um menor número de textos, está no entendimento de que um dos lugares onde essa questão se apresenta com maior riqueza é a sala de aula.
O efeito das aproximações e distanciamentos entre os textos se nota na ordem instituída pela organização dos capítulos. Como as rubricas, memória, tempo, e ensino de história, perpassam a maioria dos textos, de fato, parece impossível que se imputasse classificações fechadas que satisfizessem indubitavelmente alocações conjuntas ou separações dos textos. Ainda assim, o resultado é bastante inteligível.
A coletânea se divide em três partes: Formas de escrever e ensinar história, Memória e identidade e Tempo e alteridade. Apesar de atenderem a designação dos subcapítulos, a organização dos textos indica o estabelecimento de uma gradação que ultrapassa os aspectos mais visíveis. Tempo e alteridade relaciona os artigos que melhor trataram da relação entre os formatos e tipos de transmissão da narrativa e a sala de aula; Memória e identidade se apresenta como uma miscelânea de textos que guardam significativa distância entre si, aproximadas em grande parte por discussões que circundam a bandeira do nacionalismo e os sentidos de identidade; e Formas de escrever e ensinar história ensaia uma discussão relativa à variação de tropos, problemas, e parâmetros de subjetividade na escrita da história.
Uma característica que fica clara é que enquanto alguns textos, como os de José Ricardo Oriá Fernandes e Margarida de Souza Neves, acerca da literatura de Viriato Correa, e da relação entre cartografia e memória, respectivamente, buscam suas respostas em elementos pertinentes à pesquisa no âmbito acadêmico, salientando um determinado valor da cultura histórica que se prolonga até o espaço escolar, outros se baseiam em manifestações contíguas à sala de aula, atentando para aspectos que vão das interpretações e entonações presentes no discurso do professor ao desdém dos alunos quanto à possibilidade de futuro, como é o caso dos textos Alteridade e ensino de história: valores, espaços-tempos e discursos de Cecília M. A. Goulart e Aprender e ensinar o tempo histórico em tempos de incerteza: reflexões e desafios para o professor de história, de Sônia Regina dos Santos.
Apesar da existência de dois vieses de análise, a prevalência dos questionamentos acerca das vicissitudes de uma pedagogia da história, para o entendimento do valor da história hoje, fica clara mesmo quando olhamos os artigos em separado. Embora a Parte I seja, dentre as três divisões, a única a trazer no título uma referência direta ao ensino, a temática predomina nos títulos ou conteúdos dos textos. As exceções ficam por conta dos artigos: O valor da vida dos outros… de Márcia de Almeida Gonçalves, Uma província em disputa: como os fluminenses lidaram com a memória imperial na década de 1920, de Rui Aniceto Nascimento Fernandes, e Memória e reconhecimento: notas sobre disputas contemporâneas pela gestão da memória na França e no Brasil, um trabalho conjunto de Lucianna Heymann e José Maurício Arruti.
Apresentando, respectivamente, a singularidade dos valores cognitivos dos relatos vivenciais, os usos políticos da construção memorialista, e as disposições e disponibilidades da gestão da história quanto às reivindicações e anseios reparatórios, os citados artigos procuram a atualidade da disciplina na reavaliação de velhos tópicos. A vinculação destes textos com os demais artigos se dá, principalmente, pelas opções de abordagem e teóricos mobilizados. É nítida a preocupação em estabelecer as diferentes modalidades de apreensão de passagem do tempo, e as subjetividades que derivam de cada definição.
Da fenomenologia de Husserl à crítica moral nietzschiana, vemos uma variedade de formas de inquirição das bases teóricas das principais acepções e conceitos de tempo histórico, e de suas inclinações meta-históricas, trabalhadas por um copioso número de perspectivas, tanto em função dos objetivos dos autores dos artigos, quanto pela diversidade de pensadores evocados. Apesar disto, no conjunto da obra, as preferências são claras: Wilhelm Dilthey, François Hartog, Reinhart Kosseleck, Jörn Husen, e Paul Ricouer recebem um tratamento mais aprofundado.
A pluralidade dos usos da história é uma premissa fundamental na organização da obra. Dado que, inclusive, engendra interessantes antíteses. Se na narrativa sobre as transformações das percepções do conceito de história, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, mergulhamos na história da história e somos apresentados às dissoluções e afirmações de sentido desta maneira de explicar o mundo, mais adiante recebemos a interdição de Valdei Lopes de Araújo à imputação de sentido, e somos recomendados a também mostrarmos aquilo que, do ponto de vista de uma tradicional ética presente nas análises historiográficas, não encontram amparo. Em que pese o fato de que mostrar: “a tragédia, a injustiça, o, o horror como parte integrantes de nossa condição”, nem sempre fez parte do discurso historiográfico, a asserção nos remonta a uma perspectiva contemporânea de história.
Este é um ponto fundamental. A condição humana como o valor premente da história hoje, surge como um discurso comum, e dá a uniformidade à coletânea para apresentar experiências e olhares distintos sobre a história, sobre a educação, ou sobre ambos. Se as definições, e conceitos sobre temporalidade ocupam uma parte considerável do livro, remetendo a uma maior proximidade com a academia, o reconhecimento de como esses conceitos podem ser instrumentalizados para produzir uma ética – vincada ao presente e a partir da sala de aula – nos dá a conhecer uma série de pesquisas e propostas que instigam a construção de um ensino de história diferente, abrangendo desde as séries mais elementares. Indo além, podemos dizer que os artigos colocam em xeque o próprio modelo de ensino de história.
O panorama que os textos descortinam reflete a preocupação em levar para o ambiente escolar a perspectiva de uma necessária orientação em relação a cultura histórica ampla, oferecendo alternativas à dominante narrativa canônica, muitas vezes derivadas do livro didático, e às concepções que parecem atemporais. É nessa chave que podemos interpretar as investigações encetadas pelas supracitadas Cecilia M. A. Goulart e Sônia Regina Fernandez, e por Luis Fernando Cerri e Helenice Rocha.
Esses textos ilustram a diversidades de interpretações que atualmente suscitam os relatos ou as conformações históricas. Tomando como referência apenas os dois últimos: em Nação, nacionalismo e identidade do estudante de história, de Cerri, se destacam as tonalidades e margens de discordância sobre os aspectos tradicionais e as novas questões em relação à nação e ao sentimento nacional entre os alunos. Já em A leitura da aula de história como experiência de alteridade, de Helenice Rocha, é reveladora a discussão que apresenta a maneira como os comentários e leituras com base no livro didático são modeladas pelas representações construídas pelo docente, não somente acerca dos conteúdos, como também da capacidade de entendimento do corpo discente.
Está claro que a publicação indica a ideia de que a história hoje é móvel, e essa mobilidade confronta tabus e abre novas perspectivas. Prova disso são as reiteradas citações sobre as possibilidades de produção de saberes pela incorporação de um viés anacrônico na aula de história. Perpassa-se o juízo de que os embates em torno do tempo, em torno da história, estão presentes de diversas formas a todo tempo, e em todo lugar; o que de maneira implícita reforça a sua contraparte: a experimentação da história está para além dos formatos que procura imprimir o historiador. Por isso, o livro também ilustra uma imposição de um fazer específico e profissional sobre um campo aberto.
A concepção da vigência de uma atualidade permeada de referências históricas, presente com clareza em Ana Maria Monteiro, com Tempo presente no ensino de história: o anacronismo em questão e Carmem Teresa Gabriel, e seu Que passados e futuros circulam nas escolas de nosso presente?, por exemplo, também circunda os outros textos. Eles sinalizam para o ensejo de uma reelaboração da figura do historiador/ educador diante deste quadro, em que a apreciação das narrativas põe em evidência um caráter valorativo da história concernente tanto à sua faculdade de orientação, quanto à sua capacidade em reafirmar e desqualificar memórias no jogo de legitimação de legados e realidades, que se sobrepõe, excluem-se e se complementam.
Apesar da miríade de possibilidades sugeridas e defendidas, e questões postas, a sintonia entre os artigos, e o objetivo claro da realização de uma problematização do campo, arrefecem, no leitor, o típico afã da obtenção de respostas definitivas. Todavia, os encaminhamentos são muito sugestivos. Na verdade, a sensação é de que a vertigem causada pelo profundo abismo, derivado do afastamento entre a sala de aula e a academia, já nos deixa menos mareados. Como ‘orientação’ desponta como a insígnia de Qual o valor da história hoje?, reafirmando a incerteza e a condição humana do fazer histórico, pode-se atribuir está qualidade à publicação, em termos de mapeamento das dificuldades a serem enfrentadas e de propostas que precisam ser evidenciadas.
O que se vê não é uma contraposição, e nem mesmo de complementaridade entre teoria da história e didática da história, mas a idéia de um prolongamento não-hierárquico entre os dois fatores. Se durante muito tempo, o precipício forjado entre ensinar e pesquisar se afigurou como virtualmente intransponível, hoje os esforços de superá-lo são explícitos, sendo Qual o valor da história hoje? parte integrante desse movimento. Fincando estacas nos dois lados do dilema, os artigos reunidos na coletânea procuram estender uma ponte obre a falha, possibilitando que a interpenetração de conceitos e a circulação de saberes gere para a disciplina histórica algo maior que a soma das partes.
Welinton Serafim da Silva.
GONÇALVES, Márcia de Almeida; ROCHA, Helenice; REZNIK, Luís; MONTEIRO, Ana Maria Orgs). Qual o valor da história hoje? Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. Resenha de: SILVA, Welinton Serafim da. Construindo pontes, superando abismos: o valor da conciliação entre o ensino e a pesquisa em história. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, v.8, n.8, p.345-350, 2012. Acessar publicação original [DR]
El Hilo y las Huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio | Carlo Ginzburg
El libro de Carlo Ginzburg debe ser considerado un referente para los investigadores y estudiosos de la historia. Su grandeza reside en una valiosa teoría interpretativa para el oficio del historiador y una manera de pensar la vida cotidiana. Sus 492 páginas representan un compendio de ensayos con temas muy diversos unidos por el relato (hilo) y la búsqueda permanente de las zonas opacas de documentos (huellas). Su importancia está en exponer las múltiples relaciones entre la verdad histórica, lo falso; lo real y lo ficticio como categorías que se entrelazan y retroalimentan. Porque “lo verdadero es un punto de llegada, no un punto de partida” (p.18). Enfrentando de manera categórica el escepticismo y relativismo posmoderno. En la presentación del libro, Ginzburg, se define como un seguidor de Bloch. En cuanto le interesan los relatos escritos (memorias) de personajes “santos” de la Edad Media, que dejan dilucidar la mentalidad o subjetividad de quien registra la información. Asimismo, su pasión por leer a contrapelo (W. Benjamin) los textos. Es decir, aquellas voces no controladas o que están fuera de la intención del autor (p.13:14). Esto sería lo opaco, las huellas de los textos y pequeños fragmentos que se van uniendo durante el proceso de la investigación. Leia Mais
Dicionário dos Historiadores Portugueses – Da Academia Real das Ciências até ao final do Estado Novo – MATOS (LH)
MATOS, Sérgio Campos de (Coord). Dicionário dos Historiadores Portugueses – Da Academia Real das Ciências até ao final do Estado Novo. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2015. Resenha de: PEREIRA, Miriam Halpern. Ler História, v. 62, p. 193-197, 2012.
1 Excelente ideia a de produzir um dicionário deste teor. Já existem noutros países europeus, Espanha, França ou noutros países mais distantes como o Brasil. Mas o dicionário português apresenta numerosas singularidades. Ser on-line, até agora este tipo de obras tem sido editado em papel. Também é novidade ser lançado no site da Biblioteca Nacional de Portugal uma obra em construção, os e-books costumam editar-se completos, este produto virtual assemelha-se às antigas edições em fascículos. Por enquanto tem só 30 entradas e listas das futuras entradas agrupadas por historiadores, temáticas, instituições e revistas. São essas listas que permitem compreender um pouco melhor o sentido da construção da obra, que anuncia como ponto de partida a Academia Real das Ciências e como ponto final o dia 25 de abril de 1974. As fronteiras são discutíveis. Na minha opinião ou se começava em Fernão Lopes ou em Alexandre Herculano, tal como têm sido as escolhas de outros países: em França, Christian Amalvi (2004) optou por principiar em Grégoire de Tours, em Espanha (2002) optou-se por 1840.
2 Mas intrigante e pouco claro é o ponto final: 25 de abril de 1974, data do final do Estado Novo. O que se entende por isso? Incluem-se os historiadores já existentes nessa data, ou seja que tinham obra publicada até então? Uma rápida leitura da lista dos nomes on-line mostra que não. Será em função da carreira universitária? Ou o doutoramento? Também não se acerta. Continuam a ser evidentes as ausências, além de tal não se coadunar com o critério anunciado de incluir autodidatas e personalidades de diferentes formações e não só académicos, o que, sendo sempre adequado, ainda o é mais quando se conhece o poderoso filtro ideológico e político que foram as instituições universitárias durante o Estado Novo. Mas tendo incluído Álvaro Cunhal, dever-se-ia incluir também Mário Soares, autor de As Ideias Políticas e Sociais de Teófilo Braga, com prefácio de Vitorino Magalhães Godinho (Centro Bibliográfico, Lisboa, 1950). Aliás a obra de Álvaro Cunhal, As lutas de classes em Portugal nos fins da Idade Média, só consta como editada em 1975, no Catálogo da BNP e é pena que a edição clandestina anterior não esteja depositada na BNP. O interesse de homens políticos pela escrita histórica, que explica a inclusão de vários outros nomes, é uma tradição portuguesa, que se deve valorizar hoje, face à «transmutação» atual de gestores tecnocratas em políticos, com demasiada frequência falhos de cultura histórica.
3 A grande notoriedade posterior a 1974 parece explicar a presença de autores que não tinham quase nada publicado no domínio da historiografia até o dia 25 de abril de 1974 e só depois daquela data, às vezes vários anos mais tarde, é que vieram a publicar obras de vulto de natureza histórica. O crivo não foi pois a relevância científica das obras publicadas antes de 1974, critério que é evidente não ter sido aplicado. O critério da morte terá sido o que explica uma dessas presenças, a de João Bénard da Costa, segundo me foi explicado pelo coordenador. Mas mesmo seguindo esse critério, continuam as ausências. Não constam Rómulo de Carvalho, Ana Maria Alves, César de Oliveira, Sacuntala de Miranda, Maria Ioannis Baganha, Jill Dias, António Candeias, entre outros. O critério da morte, adotado no caso francês, para evitar a tendência hagiográfica, podia até ter a vantagem de rejuvenescer o dicionário português. Estando prevista a sua conclusão em 2015, estarão excluídos desta obra 41 anos de produção historiográfica portuguesa! Por acaso trata-se, como é geralmente sabido, de um período de intensa renovação da historiografia e das ciências sociais em Portugal. Mas mesmo entre os autores clássicos encontrei uma lacuna inexplicável: como se pode omitir José Acúrsio das Neves autor da História das Invasões Francesas?
4 Uma boa ideia foi incluir os historiadores estrangeiros que escreveram sobre a história de Portugal, aliás bem poucos, mas também houve aqui esquecimentos importantes, recordo apenas H. E. S. Fisher, Rebecca Catz ou ainda Lucia Perrone que não constam, mantendo-se aqui a falta de um critério de escolha compreensível. E eis que se descobre nova indefinição: será que não se inclui a historiografia sobre as antigas colónias?
5 Autores estrangeiros prestigiados que estudaram a história colonial portuguesa em África, como Herman Bauman, Beatrix Heintze, David Birmingham, Allen Isaacman, Douglas Wheeler, René Pélissier, Basil Davidson não constam, embora várias das suas obras tenham sido editadas nos anos 50, 60 e início de 70. Foram fundamentais nesta área, numa época em que entre os portugueses quase só funcionários do Estado Novo escreviam sobre a África dita «portuguesa», sobretudo no que se refere aos séculos XIX-XX.
6 E como explicar também a reduzida presença de brasileiros, cuja produção sobre a história colonial portuguesa no Brasil é enorme? Consta Novais, cujo primeiro livro data de 1975 (portanto fora do período demarcado), mas não se avistam vários autores, alguns bem anteriores, como Tarquínio de Sousa, Alice Canabrava, E. Viotti da Costa, Carlos Guilherme Mota, entre tantos outros. Infelizmente o francês Abade Raynal escreveu o célebre livro O estabelecimento dos portugueses no Brasil (1770) antes de 1779, data da criação da Real Academia das Ciências.
7 Em relação à Asia, como se pode omitir Donald F. Lach, autor do notável livro Asia in the making of Europe (1.ª edição1965, reeditado 1971), em que se dedica a Portugal diferentes capítulos em cada um dos 4 volumes desta grande obra? Como ainda não se traduziu este livro magistral? Pannikar, autor de Asia and western dominance – a survey of Vasco da Gama epoch of Asian History (1959), também não está previsto. Só me tenho referido a autores com obra dentro das balizas atuais deste dicionário, ainda que as considere questionáveis. Talvez Gaston Perera, historiador do Sri Lanka, que estudou a ocupação portuguesa no seu país, em obras recentes, tendo falecido subitamente em 2011, pudesse também ser incluído…
8 A dificuldade em excluir a produção de 38 anos de intensa vida científica ou intelectual torna-se evidente quando se consultam as duas únicas entradas temáticas já existentes, História de Arte e História Cultural, a bibliografia referida é num caso posterior a 1979 e no outro a 1990. E naturalmente que a baliza temporal também ultrapassa largamente 1974 nas biografias e bibliografias ativas e passivas de algumas das principais entradas já existentes.
9 Consultando a lista das instituições, encontram-se as Faculdades de Letras e de Direito, mas aqui também as ausências surpreendem, não constam nem o ISCEF (predecessor do ISEG), nem sequer o GIS, predecessor do ICS, nem a Faculdade de Economia de Coimbra, nem o ISCTE (a comemorar este ano os 40 anos de existência). Quanto às revistas, só constam revistas fundadas antes de 1974, mas está indicado como termo limite do âmbito em consideração a data de 2011-2012, quando elas ainda existem. Porém, nenhuma das novas revistas que surgiram nesse período estão incluídas: a Revista da História das Ideias, a Revista de História Económica, a Ler História, entre outras. Ainda mais estranha é ausência da Revista de Economia, que antes de 1974 publicou estudos importantes de história.
10 Face às balizas temporais adotadas surpreende menos que ao mencionar as fronteiras da história com outras ciências humanas, se não refira nem a sociologia, nem a ciência política, embora já existissem com nome camuflado. O regime estado-novista tinha os seus gostos (des-gostos) linguísticos e semânticos. É mais um lapso.
11 Na apresentação on-line conclui-se que o dicionário será acrescentado regularmente com novas entradas e poderá beneficiar com sugestões críticas dos seus leitores. Aqui ficam as minhas. No que me diz respeito, embora o meu primeiro livro, que é o texto também da tese de doutoramento, tenha sido publicado em 1971, e tenha tido grande impacto e embora tenha vários artigos publicados em revistas estrangeiras e portuguesas prestigiadas antes do 25 de abril, e já então fosse professora universitária, espero e prefiro estar viva em 2015 e continuar a escrever e a publicar a meu gosto, a estar morta para ser incluída no dicionário, o que mesmo assim seria incerto… Desejo também nessa altura festejar os longos anos de José Manuel Tengarrinha, alguns bem menos de José Sasportes, de Maria Beatriz Nizza da Silva, e meus também. Todos nós com obra publicada antes de 1974 somos ainda demasiado jovens para este dicionário desatualizado de 41 anos. O dicionário espanhol, publicado em 2002, avançava até 1980, e mesmo assim foi criticado por não se prolongar mais. Bem equilibrada e transparente foi a opção do Dicionário Histórico de Economistas Portugueses, organizado por José Luís Cardoso, incluindo na sua seleção dos economistas aqueles que tivessem completado 70 anos à data da publicação. Útil também salientar que o critério de relevância científica, em detrimento de funções universitárias, administrativas, políticas ou outras, presidiu a essa escolha, assim como a prioridade dada à análise da obra científica, reduzindo a parte biográfica, em geral já retratada em outras obras de referência. O que também não constituiu norma comum nas entradas já disponíveis neste dicionário.
12 Não há nenhuma referência a um motor de busca por nomes ou temas, de forma a cruzar informação. Seria desde já útil. Quem se interessasse por António Sérgio poderia encontrar a referência à polémica com Mário de Albuquerque, referida por Ana Leal Faria, mas que não mereceu a atenção de Romero de Magalhães, com ou sem razão, essa não é a questão. Esperemos que, no que parece ser o primeiro dicionário virtual do mundo neste domínio, esta funcionalidade seja introduzida rapidamente. Não o fazer seria um desperdício dos novos meios tecnológicos. Um contrassenso. Mais um.
13 Sem qualquer sombra de dúvida, este dicionário merece ser revisto, remodelado com base em critérios transparentes e naturalmente atualizado – prolongando-o até o final do século XX, para não constituir uma ocasião perdida de prestar um excelente serviço à comunidade científica, evitando um considerável desperdício de meios humanos e financeiros, e podendo vir a contribuir para uma boa imagem nacional e internacional das instituições envolvidas, a Biblioteca Nacional de Portugal e o Centro de História da FLL-UL.
Miriam Halpern Pereira – Professora catedrática emérita do ISCTE-IUL e investigadora do CEHC, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. E-mail: miriam.pereira@iscte.pt
O Cinema em Portugal: Os Documentários Industriais de 1933 a 1985 – MARTINS (LH)
MARTINS, Paulo Miguel, O Cinema em Portugal: Os Documentários Industriais de 1933 a 1985. [Lisboa]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2011. 318 pp. Resenha de: SAMPAIO, Sofia. Ler História, n.62, p. 199-206, 2012.
1 O documentário industrial tem suscitado pouco interesse como objeto de estudo académico. É conhecida a tendência, nos estudos de cinema, para privilegiar o filme de ficção – e, consequentemente, a longa-metragem – a par de modelos de análise autorais assentes na ideia do realizador como génio criador e do filme como obra de arte. Os resultados dessa tendência têm sido, por um lado, a constituição de um cânone de filmes e autores e, por outro, a bifurcação disciplinar (que, no mundo anglo-saxónico, se traduz na divisão entre film studies e film history) entre abordagens textuais, que sob a influência dos estudos literários sublinham as propriedades internas dos filmes, e abordagens contextuais, que procuram produzir uma história do cinema entendida quer como história das tecnologias e das técnicas cinematográficas quer como história dos autores e dos movimentos artísticos. De fora ou nas margens, ficam os filmes de não ficção, de curta e média metragem que, paradoxalmente, representam a maior fatia da produção cinematográfica mundial.
2 A partir de finais da década de 80, este cenário começou a mudar. A problematização do conceito de cânone e das conceções exclusivamente autorais do cinema (em parte, sob o impulso dos estudos culturais), veio permitir que uma série de filmes de «utilidade» – entre os quais os filmes industriais – fossem resgatados ao esquecimento. Igualmente importante foi o trabalho de preservação de filmes e organização de arquivos, que encontrou em tecnologias como a digitalização e a internet um renovado impulso. Na década de 90, cresceu o interesse pelos filmes «efémeros» (publicitários, educativos, industriais e amadores) e «órfãos» (i.e. filmes de arquivo não identificados ou negligenciados), dando origem a uma área de investigação que começou por ser marginal, mas que hoje é amplamente reconhecida: a título de exemplo, o congresso de 2012 da revista Screen foi dedicado aos «outros filmes» (um termo que não deixa de evocar a importância que o cânone continua a ter). Entre nós, a Cinemateca Portuguesa tem incluído na sua programação documentários não-ficcionais de curta e média duração, nomeadamente na rubrica regular «Abrir os Cofres».
3 É neste contexto que o livro de Paulo Miguel Martins deve ser lido. De cariz essencialmente informativo, o volume reúne, pela primeira vez, alguns dos dados mais importantes sobre os filmes industriais produzidos em Portugal entre o período de 1933 a 1985 – i.e. entre o início do Estado Novo (que coincidiu com a criação da Tobis Portuguesa) e a assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. Como fontes primárias, Martins recorreu ao Arquivo Nacional da Imagem em Movimento (ANIM), aos arquivos da Torre do Tombo e da Biblioteca Nacional, bem como ao testemunho oral de realizadores e técnicos envolvidos na produção de alguns destes filmes.
4 O estudo divide-se em cinco secções ou capítulos, não numerados, mas que passo a enumerar por motivos de clareza. São eles: (1) «o filme como fonte histórica», em que o autor defende a importância dos filmes industriais como documentos históricos; (2) «traços gerais da história do cinema português», cujo propósito é «situar e contextualizar em traços gerais os documentários realizados em Portugal no conjunto da produção cinematográfica do País» (p. 47); (3) «o cinema documentário em Portugal», que faz uma introdução geral à história do documentário (não apenas em Portugal, como o título indica, mas no contexto internacional), terminando com uma subsecção sobre o documentário industrial; (4) «o documentário industrial português nas palavras dos próprios autores», em que o filme industrial português é analisado a partir dos dados compilados (alguns já referidos) e das entrevistas que o autor realizou a técnicos e realizadores; (5) por fim, «os filmes em análise», onde são discutidos cinco filmes industriais, nomeadamente: Bodas de Ouro da Empresa Fabril do Norte (1957); O Pão (1959/ 1964); Trabalho de um Povo (1959-1960); As Palavras e os Fios (1962); e Um Homem – Uma Obra (1971).
5 O ponto de partida desta investigação é uma conceção do cinema como «fonte de conhecimento» da realidade social (p. 9) e, consequentemente, «fonte de acesso ao passado» (pp. 14, 32, 34). Martins afirma em vários momentos que este acesso é sempre um acesso mediado (pp. 20, 30, 33, 186), mas isso não o impede de descrever o documentário, em geral, como um «retrato da realidade» (pp. 14, 17) e o documentário industrial, em particular, como um «retrato económico, sociológico e cultural das empresas» (p. 15) e, por extensão, da realidade socioeconómica do país numa determinada época (p. 9). Do mesmo modo, apesar de reconhecer que o passado é sempre apreendido através do presente (p. 21), o autor atribui aos filmes (e aos documentários industriais em particular) um valor histórico intrínseco, que os coloca ao nível de outros documentos históricos e que lhes confere um papel central no processo de formação de uma memória coletiva.
6 Na segunda secção, Martins elabora um panorama geral da história do cinema em Portugal, década a década, desde as suas origens até 1985. Num registo predominantemente descritivo, são-nos oferecidos elementos sobre a formação e evolução do campo cinematográfico português: a rápida ascensão e falência de empresas de produção e distribuição (o que revela a extrema volatilidade do meio); a natureza e o número das salas de exibição; as revistas de divulgação especializadas; os jornais de atualidades; os principais realizadores e os seus filmes; a criação de legislação e de instituições de apoio (estatais e privadas); os prémios e os festivais de cinema. São muitas e preciosas as informações recolhidas e apresentadas; no entanto, o pendor generalista e a proliferação de pormenores (que não distingue entre o que é e o que não é diretamente pertinente para o tema) impedem o aprofundamento das questões relativas ao documentário industrial, que aparecem dispersas, sem o destaque e o tratamento que merecem. A título de exemplo, a análise comparativa do número de salas em Lisboa, Porto, Madrid e Milão, nas décadas de 1910, 1920 e 1930 (pp. 62-64) apresenta dados que são interessantes por si só, mas cujo contributo para o tópico da investigação não é claro. Por outro lado, temas como a relação do documentário com a Campanha Nacional de Educação de Adultos, a organização de festivais temáticos (pp. 95-96), os dois Planos de Fomento e o II Congresso dos Economistas e da Indústria Portuguesa (pp. 81-82) justificariam maior desenvolvimento. Dizer que os dois últimos se mostraram favoráveis ao documentário industrial, sem uma análise mais detalhada, parece-me simultaneamente óbvio e pouco elucidativo. No geral, a secção cumpre a função de contextualização; no entanto, a síntese que apresenta acaba por reproduzir uma série de ideias feitas que carecem de adequada fundamentação empírica, bibliográfica e/ou teórica (é o caso da ideia de «divórcio» entre o cinema português e o público, ou da noção de que os fundos europeus para o cinema «nem sempre foram aproveitados», p. 104).
7 O capítulo seguinte prossegue no mesmo registo, repetindo muito do que foi dito, agora a propósito do género documentário, que o autor insiste ser uma «fonte de conhecimento e informação» (pp. 107, 119). Na última parte, a subsecção intitulada «documentários industriais», é finalmente definido o âmbito da investigação, nomeadamente: os documentários industriais do período sonoro (entre 1933 e 1985) com uma duração de 6 a 20 minutos, incluindo filmes sobre artesanato, mas excluindo filmes sobre o contexto colonial, tendo sido identificados um total de trezentos e dez filmes (pp. 120-121). Munindo-se de elementos predominantemente quantitativos, Martins discute os anos de maior produção de filmes industriais, as empresas cinematográficas e os realizadores mais prolíferos, assim como as indústrias mais retratadas (classificadas por atividade económica). A quantidade de informação reunida e disponibilizada impressiona pela positiva. A análise, porém, fica aquém das expectativas, sendo notória a inclinação para se estabelecerem correspondências diretas entre tendências económicas e os filmes produzidos – como quando se conclui que «há uma forte relação entre as empresas mais representadas em determinada década e o género de atividade económica sobre a qual mais se investia nessa altura» (p. 140). Um dos exemplos que o autor dá – a incidência de documentários sobre as indústrias vidreiras e cimenteiras na década de 40, uma época de grandes obras públicas (p. 134) – não convence. Este número corresponde apenas a cinco filmes em dez anos, tendo sido largamente ultrapassado na década de 60. Para além do desenvolvimento económico setorial, haveria que considerar outros fatores, tais como a dinâmica das próprias empresas e desenvolvimentos ao nível do campo cinematográfico.
8 Estes aspetos acabam por emergir nas duas últimas secções que constituem (juntamente com a subsecção que as precede) a parte mais importante e original deste estudo. Com a entrevista a doze realizadores e técnicos e a análise de cinco filmes, o autor acede a um nível de análise que lhe permite, por exemplo, corrigir afirmações generalizantes (p. 179). Entramos no domínio das relações entre cineastas (produtores e realizadores), as entidades estatais e privadas que encomendavam os filmes e os organismos supervisores, e eventualmente controladores, como o SNI. Baseando-se nas entrevistas que realizou (cujo guião nos é fornecido, em anexo), Martins caracteriza os diferentes processos de encomenda, os objetivos das empresas/instituições contratantes, os modos de produção (duração do processo, margem de manobra criativa, seleção da equipa e acesso ao equipamento) e algumas questões de foro laboral (contratação, orçamentos, carreiras profissionais). O último capítulo retoma e, nalguns casos aprofunda, esta caracterização. Com o auxílio de uma grelha de análise (que consta do anexo) e recorrendo pontualmente às entrevistas para ilustrar um ou outro pormenor, o autor discute cinco documentários industriais em relação a cada um dos seguintes parâmetros: recursos estéticos e técnicos mobilizados; contexto; objetivos; significado e impacto causado (p. 188). Este nível de análise consegue colocar em evidência a variedade que caracteriza o documentário industrial (designadamente, no que diz respeito a objetivos, estética, circuitos de distribuição e exibição). Um dos estudos de casos – o documentário Trabalho de um Povo (1959-60), uma encomenda do SNI e da Inspeção Superior do Plano de Fomento que visava a divulgação do II Plano de Fomento Nacional – vem demonstrar a importância de fazer acompanhar as análises de conteúdo dos filmes com outros documentos históricos. Através do material consultado (disponibilizado nos anexos) – que inclui o contrato firmado entre o SNI e o produtor, a correspondência oficial entre os principais intervenientes, o guião anotado por um dos inspetores do Plano de Fomento, e o registo do percurso de exibição do filme – o autor consegue retirar conclusões mais sustentadas e, consequentemente, mais convincentes. A análise comparativa entre o guião do filme e os comentários do responsável pela encomenda revela-se particularmente útil na difícil tarefa que é compreender de que forma fatores como a entidade contratante e os constrangimentos orçamentais interferem na composição final de um filme.
9 O Cinema em Portugal é um estudo de cariz essencialmente informativo que tem o mérito de reunir, pela primeira vez e num único volume, dados sobre o documentário industrial que, para além de escassos, têm estado dispersos e fora do alcance dos investigadores. É de louvar o esforço, inédito no nosso país, de levantamento e inventariação do filme industrial, que faz desta obra uma referência obrigatória para investigações futuras. Porém, a tendência para pormenores irrelevantes, para a repetição (frequentemente sinalizada pelo autor – cf. p. 114, p. 115) e, em menor grau, para a duplicação de dados (o quadro nº 17 é repetido no anexo B.1. – pp. 148 e 250), sugere que o texto teria beneficiado de uma revisão mais atenta. Do ponto de vista analítico, teria sido mais frutífero (para a investigação) e estimulante (para a leitura) um envolvimento mais direto, desde as primeiras páginas, com o tópico de análise. É dececionante verificar que as partes mais importantes do livro – a subsecção sobre o documentário industrial e as duas últimas secções – representam apenas um terço (pp. 120-221) da totalidade das páginas. Do mesmo modo, o nivelamento de diferentes camadas de informação faz com que alguns dos contributos mais valiosos não tenham a força e o destaque que mereciam.
10 Se o livro é forte em conteúdo informativo, é consideravelmente mais fraco em termos teóricos e analíticos. A escolha dos cinco documentários a analisar reflete problemas deste tipo. O corpus de análise, que inclui filmes posteriores a 1957 e anteriores a 1971, deixa de fora grande parte do período em estudo. A justificação do autor – que os autores destes filmes eram vivos à data, podendo ser entrevistados – é pouco convincente, até porque, não obstante o título da penúltima secção, são poucas «as palavras dos próprios autores» a que temos acesso (e quando temos, pouco acrescentam ao que vem sendo dito). Não há dúvida que o critério decisivo foi um critério artístico, e não histórico: todos os filmes foram escolhidos por serem «documentários indicados pelos próprios cineastas e críticos do cinema como os mais representativos de diferentes décadas e de diferentes realizadores» (p. 185). Daí a exclusão do trabalho de Maria Luísa Bívar, a realizadora que mais documentários industriais produziu, mas que Martins não considera um caso paradigmático (p. 149). Daí, também, outros enfoques analíticos: o papel que os documentários industriais desempenharam como terreno de experimentação para os cineastas do «novo cinema»; a importância atribuída (sobretudo na primeira parte) às salas de cinema convencionais, em detrimento de outros públicos e circuitos de exibição (ex. Casas do Povo, cineclubes, escolas, sanatórios, igrejas, as próprias empresas, que Martins, de resto, refere, mas não desenvolve – pp. 89-90, 126, 206); e a sobrevalorização de dois dos muitos usos a que o filme industrial se prestava, nomeadamente, o prestígio e a construção de uma memória coletiva, cujas ramificações e implicações sociais não são suficientemente exploradas.
11 Apesar de proclamar o filme industrial como uma fonte histórica e de acesso à realidade, Martins acaba por abraçar uma visão estetizante do filme industrial, que radica na noção (tendencialmente a-histórica) do cinema como arte. Esta é, aliás, a surpreendente conclusão que o autor retira no final da quarta secção – que «o cinema é uma arte» (p. 183) – uma secção que, pelo contrário, colocara em evidência as densas relações sociais – pessoais e profissionais; materiais e simbólicas; formais e informais – que tornaram possível a produção destes filmes. Contrariando a tendência teórica dos estudos mais recentes sobre o filme industrial, o autor acaba por convergir com perspetivas autorais que tendem a valorizar o documentário industrial pelo seu contributo, sobretudo ao nível formal, para o cânone ficcional, ou a ver em alguns destes filmes os contornos de um novo cânone (em ambos os casos, a grande referência de Martins é, sem dúvida, o «novo cinema» dos anos 50 e 60).
12 Na base destas opções e confusões teóricas está também um entendimento pouco sofisticado da relação entre cinema e história, arte e realidade – um tema complexo que tem feito correr rios de tinta. A defesa do valor histórico dos filmes não é nenhuma novidade (esteve, por exemplo, na base da formação de instituições como as cinematecas e os arquivos de imagem), e é relativamente consensual. Mais difícil é aferir como é que este valor histórico se manifesta nos filmes: leituras simplistas, que procuram estabelecer correspondências diretas ou relações de causa-efeito entre os filmes e a realidade/ história, têm hoje pouca credibilidade. No entanto, Martins facilmente resvala para este tipo de leitura, por exemplo, quando pretende ver nos filmes analisados reflexos das políticas económicas vigentes (p. 192) ou, de forma mais geral, retratos de uma época. Não podemos esquecer que, para além de submetidos a uma ordem ficcional e narrativa (como qualquer filme), os documentários industriais são moldados por fins, se não abertamente publicitários, pelo menos manifestamente promocionais (daí o descrédito a que gerações de historiadores os tinham votado). Uma das formas mais interessantes de contornar este problema é através da atenção ao que não é incluído – as ausências e lacunas do filme, que Martins, a dada altura, também refere (p. 221), mas às quais não dá a devida importância nas suas análises.
13 Por fim, ao fazer coincidir «realidade» e «passado» (incorrendo num certo essencialismo), Martins tende para uma conceção do documentário industrial como um «lugar de memória» (p. 30). O que o documentário industrial foi, na sua época, confunde-se com o que o documentário industrial é, na nossa – segundo o autor, um garante de acesso, a cada visionamento, a um passado que ficou preservado em filme (p. 19). De um ponto de vista teórico, teria sido útil separar estes dois momentos de receção, a fim de preservar uma das características mais importantes do filme industrial: o seu profundo enraizamento no «presente». Como vários autores têm vindo a demonstrar (veja-se o trabalho de Vinzenz Hediger, Patrick Vonderau e Thomas Elsaesser), os filmes industriais foram produzidos para responder a necessidades específicas e imediatas, encontrando-se presos a determinada ocasião, objetivo e destinatário – a tríade Auftrag–Anlass–Addressat1, que se sobrepõe ao autor, e que cabe ao investigador recuperar, identificar e teorizar. O Cinema em Portugal toca em muitos destes aspetos (o livro de Hediger e Vonderau é citado), mas não de forma aprofundada, sistemática e teoricamente consequente.
14 A questão do que estes filmes representam hoje, para nós, fica igualmente por equacionar. Martins concentra os seus esforços numa discussão relativamente longa (pp. 22- 30) sobre o cinema e a memória coletiva (estranhamente explicada à luz da memória individual), deixando de fora um problema, a meu ver, mais interessante: como compreender que, numa época como a nossa, descrita como pós-industrial, o filme industrial venha a despertar a atenção de críticos e espectadores? Ou seja, como compreender que, no contexto atual de pós-industrialização, a memória coletiva se venha a congregar em torno de uma memória industrial? Ao lançar as bases para a cartografia do que tem sido, até agora, um vasto «território não cartografado»2, não há dúvida de que o livro de Paulo Miguel Martins representa um bom ponto de partida para a resolução destas e de outras questões, sendo a sua leitura, também por esta razão, de recomendar
Notas
1 O termo é de Thomas Elsaesser, em ‘Archives and Archeologies: The Place of Non-Fiction Film in Cont (…)
2 A expressão é de Vinzenz Hediger e Patrick Vonderau, na introdução a Films that Work, p. 10.
Sofia Sampaio – Investigadora de pós doutoramento do CRIA, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. Pesquisa sobre a indústria cultural, o cinema, com enfoque nas questões do turismo. E-mail: psrss@iscte.pt
Ensaios de História Oral – PORTELLI (HP)
PORTELLI, Alessandro. Ensaios de História Oral. São Paulo: Letra e Voz, 2010. 258 p. Resenha de: CARDOSO, Heloísa Helena Pacheco. História oral: questões e indicações para o debate. História & Perspectivas, Uberlândia, v. 24, n. 45, 14 dez. 2011.
Clio and the crown: the politics of history in Medieval and Early- Modern Spain – KAGAN (HH)
KAGAN, Richard K. Clio and the crown: the politics of history in Medieval and Early- Modern Spain. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2009, 376 p. Resenha de: SILVEIRA, Pedro Telles da. Qual o lugar da história oficial na história da historiografia? História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7, p. 338-344, nov./dez. 2011.
Sublinhar que o panorama da produção historiográfica na Idade Moderna é mais variegado do que durante muito tempo se tendeu a imaginar não deixa de ser uma espécie de lugar-comum nas obras – não tão recentes assim – dedicadas ao tema. De fato, já nos ensaios e conferências de Arnaldo Momigliano1 tal apelo era feito, e ele se repete e se complexifica nos livros de Donald R. Kelley (KELLEY 1991, p. 14-15) e Anthony Grafton (2007), para ficarmos apenas com alguns dos mais conhecidos nomes associados ao estudo desse tipo de historiografia. As obras destes e de outros autores procuram todas resgatar a vivacidade, a diversidade e a pertinência dos debates historiográficos anteriores à formação da historiografia enquanto disciplina científica, processo que ocorre, grosso modo, no decorrer do século XIX. E, mesmo assim, aspectos importantes dessa produção continuam negligenciados, como é o caso da história oficial. É tendo em vista esta situação que se insere Clio and the crown, de autoria do historiador norte-americano Richard L. Kagan.
Afiliado ao influente grupo da atlantic history, tendo editado junto com Geoffrey Parker, um volume em honra a John H. Elliott,2 Richard L. Kagan fez sua carreira estudando a Espanha dos séculos XVI e XVII e a administração de seu então poderoso império. As marcas dessa atuação aparecem logo no início do primeiro capítulo, onde afirma que apesar de muito da historiografia produzida nos reinos espanhóis nos séculos que lhe interessam terem sido objeto de estudos recentes, estes têm como foco as características estilísticas e retóricas destes textos, e não suas funções e seus usos (KAGAN 2009, p. 18). Também a filiação institucional de Kagan, professor na universidade Johns Hopkins, permite compreender o amplo recorte temporal que o livro abarca. Partindo das primeiras crônicas escritas em vernáculo em Castela no século XIII, o livro se fecha na passagem do século XVIII para o XIX, quando a falência da Real Academia de la Historia em cumprir seus objetivos indica que a era da história oficial chegara ao fim. Com esse recorte em mente, Richard L. Kagan paga tributo a dois de seus colegas de departamento, Gabrielle Spiegel e Orest Ranum, que já atacaram questões semelhantes a respeito, respectivamente, da historiografia francesa medieval e da historiografia seiscentista deste mesmo reino.3 Para Kagan, história oficial é a historiografia produzida visando a defesa dos interesses tanto de um governante quanto de uma autoridade religiosa, de uma corporação urbana etc. Para o autor, esse tipo de historiografia é um instrumento que visa divulgar uma imagem positiva daqueles nela interessados – do mesmo modo, ela também pode ser escrita para contradizer uma narrativa previamente formada (KAGAN 2009, p. 3). Seu caráter agonístico, portanto, tornou o número de narrativas e contra-narrativas produzidas por cronistas, historiógrafos e outras personagens protegidas por um ou outro mecenas extremamente alto; como o próprio autor indica, adaptando a expressão de um dos autores debatidos, trata-se de um “mar de histórias” (KAGAN 2009, p.42). Essas mesmas características, argumenta o autor, frequentemente impediram uma consideração mais atenta a esta historiografia, facilmente rotulada como derivativa, pouco inspirada ou outras qualificações menos lisonjeiras (KAGAN 2009, p. 4-6). Trata-se de um dos méritos do trabalho que Richard L. Kagan consiga desfazer estes estereótipos com uma obra ao mesmo tempo sintética e informativa, que analisa a fundo seu objeto sem perder de vista os processos mais amplos nos quais ele se insere.
Esta mirada simultaneamente ampla e detalhada marca o primeiro capítulo, no qual o autor traça um quadro da historiografia hispânica entre o final da Reconquista e o reinado de Isabel e Fernando, os reis católicos. Destaca- -se, no texto, a estreita relação entre os projetos imperiais acalentados pelos mais diversos governantes castelhanos e a as características da historiografia por eles patrocinada. Serve particularmente a estes propósitos o trabalho do taller historiografico organizado por Afonso X, responsável pelas crônicas produzidas durante seu reinado, em especial a “General estoria”, uma crônica da história universal até o século XVIII, a qual apresenta a narrativa da criação de um imperium hispânico através da inserção dos feitos ocorridos na Península Ibérica numa história mundial. A visão de um império que reina sobre a Espanha mas também se alastra pelos territórios dominados pelos mouros direciona também muito das crônicas produzidas sob o reinado de Sancho IV, demonstrando a imbricação entre historiografia e projeto político.
Richard L. Kagan direciona, portanto, ainda que de maneira um tanto quanto breve, sua argumentação em direção ao debate acerca da importância da própria historiografia em período tão recuado quanto o da Reconquista.
Para o autor, ao contrário do que uma de suas interlocutoras – Gabrielle Spiegel – argumenta, o nascimento de uma historiografia em vernáculo na Espanha teve menos relação com a criação de narrativas que legitimassem as pretensões da nobreza do que “com a determinação de Afonso X de aumentar sua autoridade real e [com] seus esforços de fazer o castelhano (i.e., espanhol) a língua oficial tanto da administração quanto da lei”. O rei sábio, dessa forma, antecipou em cerca de dois séculos a preocupação de Antonio de Nebrija de que língua e império deveriam andar lado a lado (KAGAN 2009, p. 24).
O segundo capítulo, por sua vez, trata justamente de um desses governantes influenciados pela visão de império cuja semente foi plantada no século XIII, Carlos V. A historiografia oficial elaborada sob a proteção deste monarca indica um caso bastante acentuado da dinâmica que, para o autor, é uma das características da historiografia oficial hispânica: a tensão entre uma historia pro persona, centrada nos feitos do rei, e uma historia pro patria, cujo foco está nas conquistas realizadas pelo reino como um todo. O capítulo também desenvolve uma outra tensão que atravessa a história oficial, e não apenas a de matriz hispânica, qual seja, a entre as demandas de um governante, as funções de um cargo – o de cronista, no caso espanhol – e as características da formação dos letrados, personagens recrutadas para escrever essas mesmas histórias. No caso de Carlos V, a pretensão de glorificar o próprio nome choca- -se com a ojeriza de humanistas como Juan Ginés de Sepúlveda e Paolo Giovo ante os projetos imperiais e dinásticos do governante, atravancando e, no fim, impossibilitando a escrita de uma crônica de seu reinado enquanto o próprio governante vivia. A tensão entre os governantes e aqueles que compunham suas histórias indica também as transformações por que passa a historiografia, que se aproximava cada vez mais da política e da concepção de Quintiliano segundo a qual à história interessava mais a persuasão que a instrução (KAGAN 2009, p. 88).
O autor, dessa forma, insere-se diretamente no debate acerca da escrita da história na passagem do século XVI para o XVII, colocando em questão a conotação muitas vezes negativa dessa mesma passagem.4 Richard L. Kagan faz questão de frisar a impossibilidade de se separar as razões pelas quais a história é escrita das formas que ela irá assumir e, por conseguinte, também a indistinção entre forma e conteúdo da narrativa da historiográfica. Como afirma, “as negociações do imperador com Giovio tratavam tanto da substância […] quanto do estilo, ou seja, da maneira particular na qual os fatos eram apresentados” (KAGAN 2009, p. 89).
A tensão entre a historia pro patria e a pro persona e a difícil relação os monarcas e seus escribas enquadra a discussão dos três capítulos seguintes, não por acaso dedicados à historiografia durante o reinado de Filipe II. No terceiro capítulo, o autor aborda a recusa do monarca de patrocinar uma obra de história com os contornos de uma historia pro persona, laudatória de sua figura; a atitude, muitas vezes interpretada como sinal de modéstia, na verdade indica que frente ao “mar de histórias”, Filipe II procurava escapar à natureza agonística da história oficial. Para isso, segundo Kagan, o rei espanhol apoiava a escrita de uma história que celebrasse os feitos antigos dos espanhóis e, ao mesmo tempo, defendesse a unidade de seu reino resultando dos acontecimentos passados.
Não deixa, portanto, de se situar no âmbito dos projetos imperiais, como já abordara anteriormente. A recusa de Filipe II, entretanto, não pôde se estender à totalidade de seu reinado, já que frente aos ataques à sua monarquia, ele passou a se inclinar em direção ao apoio de uma história de sua própria época. Essa transformação no pensamento de Filipe II, objeto do quarto capítulo, é enquadrada, no quinto capítulo, no debate relativo às possessões hispânicas na América e na Ásia.
Richard L. Kagan estuda a criação do cargo de cronista das Índias tendo em vista justamente o pano de fundo dos ataques à monarquia universal de Filipe II, argumentando mais uma vez pela ligação entre as políticas relacionadas à história e a própria produção historiográfica. Significativamente, tendo em vista as preocupações do monarca espanhol em sustentar uma historiografia que não fosse mera rival de suas contemporâneas, o próprio cargo de cronista das Índias demonstra a união entre preceitos políticos e os princípios elaborados pelos historiadores para certificarem e justificarem suas histórias. Segundo o autor, o ocupante do cargo não se dedicava apenas ao registro das ações que tomassem lugar no Novo Mundo, pelo contrário, pois
seguindo os trabalhos de de historiadores tão influentes como Francesco Guicciardini e os ditados do gênero da ars historicae, ele [o cronista] também tinha de refletir sobre as causas dos eventos e sobre os motivos por trás das ações individuais e incluir, por motivos didáticos, exemplae de vários tipos (KAGAN 2009, p. 151).
A conjunção de todas estas preocupações – à maneira peculiar que lhe era possível de realizar tendo em vista ocupar um cargo oficial – está presente no trabalho do primeiro cronista das Índias, Antonio de Herrera y Tordesillas, personagem central deste quinto capítulo.
É neste momento que a proposta do autor rende mais frutos, pois Kagan consegue tecer de modo mais detido a trama entre todos os fios de sua obra: o imperativo dos monarcas, as necessidades de um gênero e as capacidades – tanto intelectuais quanto políticas – daqueles dele encarregados. Se na introdução de seu livro o autor afirma que, no cenário intelectual da época, era o historiógrafo a pessoa mais autorizada para escrever sobre o passado, pois apenas ele tinha acesso aos documentos necessários para tal (KAGAN 2009, p. 6), a análise que faz da obra de Antonio de Herrera, cronista das Índias entre 1596 e sua morte, em 1626, permite justamente compreender como trabalhava esse mesmo historiógrafo. Taxado muitas vezes de plagiário (KAGAN 2009, p. 172- 173), a fina análise de Kagan permite reconstruir a imagem do autor como um leitor judicioso das obras que utilizava para compor sua própria história – mais do que como um investigador em busca de informações novas; simultaneamente, permite compreender que a tarefa à qual se dedicava enquanto cronista não era tanto a escrita de uma nova história quanto a reelaboração das narrativas já existentes, de modo a adequá-las à defesa daquele para quem escreve. Se se tornou um tanto quanto comum fazer o paralelo da figura do historiador com aquela do juiz, Richard L. Kagan, através do exame do trabalho de Herrera, faz um sonoro argumento a favor da comparação – que já aparece na introdução de seu livro (KAGAN 2009, p. 6) – entre o historiógrafo e o advogado. Para ambos não se trata nem de garimpar informações novas nem de inventar fontes, isto é, de revolver os materiais da história imbuído de má fé; pelo contrário, o que está em questão é utilizar as possibilidades do trabalho histórico para manipular seus enunciados a favor ou contra aqueles a quem a narrativa se endereça (KAGAN 2009, p. 5). Tarefa que, mostra Kagan, depende tanto das regras de verificação do discurso histórico, então objeto de um intenso debate, quanto qualquer outra narrativa pertencente ao mesmo gênero. Ressalta, também, a compreensão da obra do historiador oficial como uma empresa coletiva mais do que resultado da iniciativa individual, algo que também a historiadora francesa Chantal Grell destaca em obra recente (GRELL 2006, p. 13).
A trama dessas tensões constitui, sem dúvida, o aspecto mais importante do livro, e é apenas de lamentar que, por vezes, tentando costurar entre os mais diversos autores e contextos, Richard L. Kagan aborde demasiado rapidamente estes temas, sem reproduzir análise como a que faz a respeito de Antonio de Herrera. Mesmo assim, ele é feliz ao tratar, no sexto capítulo, a incapacidade de Filipe IV e de seu ministro, o conde de Olivares, de controlarem a circulação de obras históricas no interior da fronteira de seu próprio reino como indício da existência, já no século XVII, de uma opinião pública capaz de contradizer a propaganda oficial (KAGAN 2009, p. 204). A intersecção entre a legitimação perante o público e a atividade do historiógrafo adiciona outra camada de significação ao trabalho do autor no livro.
Também no sétimo e último capítulo o autor aborda parcela dessa dinâmica, ao demonstrar que a proposta de uma renovação intelectual feita pelos novatores e pela Real Academia de la Historia acaba por sucumbir às pressões e às intrigas da vida cortesã. A assimilação das pretensões críticas desta última instituição ao funcionamento da máquina administrativa da qual a história oficial faz parte resultou na própria perda de sua importância. Ao cabo, a Real Academia de la historia foi ultrapassada – assim como a história oficial (GRELL 2006, p. 16) – pela evolução da própria historiografia.
A dinâmica entre a história oficial e as demais províncias da história é o aspecto que garante a relevância da obra de Richard L. Kagan. Para além da preocupação com o estudo da historiografia do período – uma área particularmente forte no meio historiográfico de língua inglesa –, Clio and the crown também se insere, como se tentou demonstrar aqui, num debate que começa a ganhar corpo a respeito das relações entre a história dos historiógrafos e a narrativa de constituição da própria historiografia. Para Kagan, autores como Grafton e Kelley acabam por definir de forma demasiado rígida a linha divisória entre a historiografia oficial e a daqueles autores não ligados a qualquer cargo.
Em passagem carregada de ironia, na qual faz um inventário dos celebrados historiadores que foram também historiógrafos – uma lista que vai de Fernão Lopes a Voltaire –, Kagan destaca a dificuldade de situar a fronteira entre a historiografia “acadêmica” – isto é, motivada pela comunidade de historiadores e destinada a ela – e a historiografia “polêmica”, ou seja, a história oficial, direcionada a leigos e submetida a inúmeras flutuações políticas (KAGAN 2009, p. 4). Da mesma forma, ser um historiador oficial não significava necessariamente ser um mau historiador.
Conforme a historiografia avança para a era dos cronistas e historiógrafos, a obra de Richard L. Kagan lembra que para analisá-la não é o bastante reproduzir os limites disciplinares modernos como conceitos analíticos da historiografia passada. Se a necessidade de situar os discursos em seus contextos é cada vez mais premente, perguntar-se pelo que há de oficial ou patrocinado em muitas das obras historiográficas do período moderno pode ser maneira de historicizar o próprio trabalho do historiador. À medida que a historiografia brasileira avança, por sua vez, rumo ao século XVIII, é interessante perguntar como conectar uma história do método histórico a uma história social da historiografia, preocupações por vezes tão distantes. Seja qual for a pergunta, considerar o lugar da história oficial na história da própria historiografia passa pela resposta que Richard L. Kagan acabou de dar.
Referências
GRAFTON, Anthony. What was history? The art of history in early modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
GRELL, Chantal. Les historiographes en Europe de la fin du Moyan Âge à la Revolution. Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2006.
KAGAN, Richard L. Clio and the Crown: Writing History in Habsburg Spain. In: KAGAN, Richard L.; PARKER, Geoffrey. Spain, Europe, and the atlantic world: essays in honor of John H. Elliot. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 73-99.
KELLEY, Donald R. Versions of history from Antiquity to the enlightenment. New Haven: Yale University Press, 1991.
MOMIGLIANO, Arnaldo. As raízes clássicas da historiografia moderna. Bauru: EDUSC, 2004.
SPIEGEL, Gabrielle. Romancing the past: the rise of vernacular prose historiography in thirteenth-century France. Berkeley: University of California Press, 1993.
RANUM, Orest. Artisans of glory: writers and historical thought in seventeenthcentury France. Chappell Hill: University of North Carolina Press, 1980.
Notas
1 Para ficar numa obra de fácil acesso pelo leitor brasileiro, ver MOMIGLIANO 2004.
2 A contribuição de Kagan ao volume compartilha o título com o livro aqui analisado, demonstrando a permanência das preocupações do autor ao longo de sua atuação, muito embora a ênfase e a extensão temporal do capítulo – restrito ao reinado de Filipe II – sejam muito mais limitadas que no livro que publica cerca de quinze anos depois; ver KAGAN; PARKER 1995, p. 73-79.
3 Refiro-me a SPIEGEL 1993 e também a RANUM 1980.
4 Como transparece, por exemplo, no trabalho já referenciado de Anthony Grafton, para quem, no século XVII, a história era uma narrativa política escrita por estadistas ou funcionários – historiógrafos profissionais –, dos quais muitos poucos preocupavam-se com as maneiras a partir das quais escolher, justificar e examinar as evidência (GRAFTON 2007, p. 230-231).
Pedro Telles da Silveira – Mestrando da Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: doca.silveira@gmail.com Rua Novo Hamburgo, 238 – Passo d’Areia 90520-160 – Porto Alegre – RS.
Relações de força: história, retórica, prova | Carlo Ginzburg
Fazer História (de qualquer tipo, e especialmente a história cultural) nos idos atuais sem se render às incertezas, fraquezas e ambiguidades do paradigma dito pós-moderno é uma façanha que poucos conseguem levar adiante. Optar por este caminho e, para além disto, avançar no debate e na construção de uma história com procedimentos realistas (para não dizer científicos), ancorada solidamente na pesquisa documental e na busca da verdade, é tarefa ainda mais ingrata, a qual se impôs Carlo Ginzburg, com esmero e galhardia. São poucos os que fazem esta opção, e muitíssimo poucos os que a realizam a contento, como este italiano, autor – entre outros clássicos da historiografia contemporânea –, de Os andarilhos do bem, O queijo e os vermes, História Noturna, além de importantes ensaios para se discutir um novo paradigma para a história, ciência do homem. Leia Mais
Teoria da História – 4 volumes | José D’Assunção Barros
BARROS, José D’Assunção. Teoria da História – 4 volumes. Petrópolis: Editora Vozes, 2011.319 p.; 246 p.; 328 p.; 447 p. Resenha de RIBEIRO, Monike. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, a. 172 (451) p.361-365, abr./jun. 2011.
Teoria da História, em quatro volumes, é o título da coleção que acaba de ser publicada por José D’Assunção Barros, autor que já é conhecido na área de Teoria e Metodologia da História por alguns artigos e, sobretudo, por dois livros anteriormente publicados pela Editora Vozes: O Campo da História (7ª edição) e O Projeto de Pesquisa em História (7ª edição).
Assim como os livros anteriores, a nova coleção de livros pretende responder a demandas importantes do ensino de graduação e pós-graduação, no que concerne à área de Teoria e Metodologia da História. Trata-se de oferecer ao público, e particularmente ao leitor especializado ao qual se dirige, textos que primem por uma linguagem clara e acessível, mas sem sacrificar a complexidade exigida pelos objetos da historiografia. A obra se organiza em quatro volumes. Pode-se dizer que os três primeiros volumes apresentam conteúdos já clássicos de Teoria da História – tais como a discussão dos conceitos pertinentes à área ou à apresentação dos grandes paradigmas historiográficos – enquanto o último volume surpreende pela proposta de uma nova abordagem, ainda experimental, que traz a novidade de buscar enxergar a complexidade da historiografia através de uma imaginação musical.
O primeiro volume da coleção – intitulado Teoria da História: Princípios e Conceitos Fundamentais – parte da ideia de que a Teoria da História e a Metodologia da História são as duas dimensões fundamentais para a formação do Historiador, bem como para a sustentação de qualquer pesquisa histórica dentro dos quadros atuais de exigências deste âmbito profissional e do campo disciplinar da historiografia. Neste sentido, o contraste entre Teoria e Metodologia, buscando esclarecer o que pertence a um âmbito e a outro, é um dos pontos importantes do volume, que busca também discutir o que é Teoria da História, em que aspectos as ‘teorias da história’ se diferenciam das ‘filosofias da história’, e de que elementos se constitui a ‘matriz disciplinar da História’ nos dias de hoje. Conceitos como o de ‘paradigma’, ‘escola histórica’, ‘campo histórico’ são discutidos em profundidade, preparando o estudo que se desdobra nos demais volumes da coleção. Ao mesmo tempo, o autor discorre sobre algumas questões fundamentais para se pensar a Teoria da História, nos dias de hoje. Quais são limites entre a ‘liberdade teórica’ e as imposições da ‘coerência teórica’, nos atuais quadros do desenvolvimento historiográfico? Como se pode aplicar o princípio da historicidade à própria Teoria da História? Será a História uma Ciência, e exclusivamente uma Ciência, ou o conhecimento historiográfico também deve ser pensado nos termos de uma dimensão estética, discursiva, ou mesmo artística? Os volumes II e III da coleção avançam para a discussão de questões mais específicas, algumas das quais envolvendo também a própria história da historiografia. Quais os grandes paradigmas historiográficos que, ontem e hoje, se colocam à disposição dos historiadores? Quais as características essenciais do Positivismo, do Historicismo, do Materialismo Histórico, dos modelos historiográficos relativistas? Uma classificação das produções historiográficas em termos de paradigmas será suficiente para compreender em toda a complexidade um pensamento historiográfico? Estas são algumas das questões que o autor percorre nestes dois volumes.
Trazer uma discussão atualizada acerca dos paradigmas Positivista e Historicista é a proposta do volume II – Teoria da História – os primeiros paradigmas: Positivismo e Historicismo. Trata-se não apenas de examinar estes paradigmas do ponto de vista de uma história da historio grafia, como também de dar a perceber quais podem ser as contribuições desses paradigmas para a historiografia contemporânea. Para além desta discussão historiográfica, que estabelece um contraste entre os paradigmas Positivista e Historicista, a grande questão que atravessa o volume é a da relação entre Objetividade e Subjetividade na construção do conhecimento histórico, de modo que também são examinadas algumas correntes relativistas da historiografia que aprofundam a reflexão sobre a relatividade historiográfica encaminhada por alguns setores do Historicismo. Além disso, o volume se abre com uma discussão sobre a refundação da História como conhecimento científico, na passagem do século XVIII ao século XIX, e, para tal, o autor optou por desenvolver também uma digressão inicial sobre os modos como se pensava a História antes de que a historiografia ocidental passasse a se revestir de uma intenção bastante clara de cientificidade.
O terceiro volume – Paradigmas Revolucionários – dedica-se a discorrer sobre os outros dois paradigmas que surgem ainda no século XIX. Em um primeiro capítulo o autor apresenta o Materialismo Histórico, discutindo nas suas várias nuanças, e através de diversos autores, questões como a dialética, o conceito de modo de produção, os posicionamentos diante da noção de determinismo histórico, as definições de ‘classe social’ e sua articulação com a ‘luta de classes’. Trata-se de mostrar como o Materialismo Histórico se desenvolveu em múltiplas direções, desde o século XIX, e sobretudo no decorrer do século XX. A segunda parte do volume aborda o que o autor denominou “Paradigma da Descontinuidade”, partindo das críticas de Nietzsche às noções de progresso e finalismo, e chegando às propostas de Michel Foucault.
Se os três primeiros volumes da coleção Teoria da História oferecem um conteúdo já tradicional no estudo da Teoria e Metodologia da História, já o quarto volume da série – que foi chamado de Acordes Historiográficos: uma nova proposta para a Teoria da História – é francamente inovador. A experiência proposta por José D’Assunção Barros é a de entender a complexidade da historiografia e da teoria da história a partir de uma imaginação musical, trabalhando mais especificamente com a metáfora do “Acorde Teórico”. Partindo desta nova proposta de análise que é a de conceber a complexidade de um pensamento autoral através da metáfora do acorde, o livro examina, sucessivamente, o pensamento de alguns historiadores e filósofos da história, tais como: Walter Benjamin, Ranke, Droysen, Max Weber, Paul Ricoeur, Koselleck e Karl Marx. A proposta de operacionalização do conceito de “acorde teórico” (que, segundo o autor, pode ser utilizado também para a análise de pensamentos filosóficos, sociológicos, antropológicos, ou autorais de modo geral) ou de “acorde historiográfico” (mais especificamente referente aos pensamentos sobre a História) é introduzida por um capítulo no qual é discutida a abordagem, e que precede as diversas análises específicas que são desenvolvidas com esta nova perspectiva.
Conforme ressalta Barros, um acorde, na Música, é um som formado por diversos outros sons (as notas musicais), que, interagindo mutuamente, terminam por produzir um novo resultado sonoro. A ideia básica do livro de José D’Assunção Barros é comparar a complexidade autoral de historiadores e filósofos da história a acordes musicais complexos. Um autor, mesmo que apresente uma base de pensamento bem identificada com um dos paradigmas tradicionais ou com as diversas correntes do pensamento historiográfico, pode apresentar em sua identidade teórica diversas outras influências autorais (que o autor chama de ‘notas de influência’), ou características diversas que se tornam tão importantes para a sua singularidade teórica como o pertencimento a determinado paradigma. Assim, na identidade teórica de um pensador como Karl Marx existiriam muitas notas para além daquelas que poderiam ser caracterizadas como inerentes ao paradigma do Materialismo Histórico – que ele mesmo, aliás, ajudou a fundar com Engels. Isso ajudaria a perceber o que, no pensamento de Marx, é desdobramento de sua inserção no campo paradigmático do Materialismo Histórico, e o que seria já específico de Marx. A utilização da metáfora do acorde para compreender pensamentos autorais também possibilita entender pensamentos autorais em movimento, através das diversas obras ou fases de um mesmo autor.
A inovação teórica proposta por José D’Assunção Barros neste último volume de sua série – certamente produto da dupla formação do autor, que além de historiador é também músico – deve ser saudada como uma tentativa de enxergar os tradicionais objetos da historiografia de uma nova maneira, de modo a resolver impasses que aparecem quando simplesmente nos limitamos a situar um autor dentro deste ou daquele paradigma. A coleção, a entender pela apresentação do próprio autor, ainda não está concluída. No prefácio da série, registra-se o plano de completar a coleção com mais dois volumes, discutindo a historiografia contemporânea, inclusive a mais recente, através dos conceitos de “escolas históricas” e “campos históricos”. O sexto volume, conforme a planificação do autor, retornará ao âmbito dos conceitos operacionais para a historiografia, discutindo temas como o Tempo, o Espaço, a Memória, bem como o uso de hipóteses na História-Problema.
Monike Garcia Ribeiro – Doutoranda e bolstista (CAPES) do Programa de Pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A história escrita. Teoria e história da historiografia | Jurandir Malerba
A teoria da história é mais do que apenas um pensamento sistemático sobre a História e sua escrita; a narrativa história se mostra, cada vez mais, complexa, por suas tensões entre fatos e ficções, verdade e imaginação, objetividade e subjetividade, fontes documentais e as retóricas do discurso; a historiografia não é apenas o discurso circunstanciado sobre as obras históricas, mas fixa-se, cada vez mais, em todo discurso sobre o passado. O que a coletânea de textos organizados por Jurandir Malerba nos mostra, em resumo, é um ‘fazer história’ mais denso e articulado, com as questões de nosso tempo.
Ao reunir as contribuições de Horst Walter Blanke, Massimo Mastrogregori, Frank Ankersmit, Jörn Rüsen, Angelika Epple, Masayuki Sato, Arno Wehling, Hayden White e Carlo Ginzburg, nos oferece uma mostra do resultado dos debates das últimas décadas a respeito da história da historiografia, da teoria da história, da epistemologia histórica, quanto ao princípio de realidade, ao gênero, a comparação e a narrativa. Para ele:
O critério principal para a seleção dos textos que constituem a presente obra foi a intenção de compor um painel, o mais amplo possível, dos campos problemáticos presentes na construção de uma teoria da historiografia, com vistas ao aprimoramento prático de uma revigorada história da historiografia. Nesse sentido, os textos […] reunidos oscilam da reflexão teórica acerca do conceito de historiografia para a reflexão crítica de uma epistemologia da história, passando necessariamente pelas potencialidades e limites metodológicos que cada caminho apresenta. Tratam-se, como é notório, de autores consagrados do pensamento histórico contemporâneo, provenientes das mais distintas tradições nacionais e simpatias teóricas.[1]
Para articular tais textos, o autor os posicionou em quatro blocos, a saber: a) os de que “o foco recai primordialmente sobre o conceito de historiografia e o estatuto teórico do texto historiográfico”, como se vê no texto de Blanke, Mastrogregori e de Arkersmit; b) “por ensaios com propostas mais teórico-metodológicas para o campo da história da historiografia propriamente dita”, como nos casos de Rüsen, Sato e de Epple; c) “discussão teórica da prática historiográfica para o campo da epistemologia”, em que se apresentam Wehling; d) e, no último “seria quase um exemplo das implicações políticas do exercício historiográfico, que tomamos propositadamente no exemplo-limite da história do Holocausto”, por meio do debate entre os textos de White e Ginzburg.
Além dos textos ora indicados, a coletânea ainda é enriquecida com o capitulo de Malerba, que indica os principais eixos das discussões sobre teoria e história da historiografia ocorridas no século passado. Para ele, haveria, sem dúvida, uma tensão entre, de um lado, o “anti-realismo epistemológico, que sustenta que o passado não pode ser objeto do conhecimento histórico ou, mais especificamente, que o passado não é e não pode ser o referente das afirmações e representações históricas”[2] , e, de outro, o “narrativismo, que confere aos imperativos da linguagem e aos tropos ou figuras do discurso, inerentes a seu estatuto linguístico, a prioridade na criação das narrativas históricas.”[3] Em ambos os casos, a pesquisa histórica esteve ancorada em matrizes, senão frágeis, ao menos em constante pressão, e com necessidade de justificação perante as outras áreas do saber. Mas, o “caráter auto-reflexivo do conhecimento histórico talvez seja o maior diferenciador da História no conjunto das ciências humanas.”[4]
Para Blanke, a “história da historiografia é uma atividade nova”, que esteve ao lado “do desenvolvimento da história como disciplina independente e com pretensões científicas”, com início “na época do iluminismo.”[5] Suas características estariam balanceadas entre tipos (história dos historiadores, história das obras, balanços gerais, história da disciplina, história das idéias históricas, história dos métodos, história dos problemas, história das funções do pensamento histórico, história social dos historiadores, história da historiografia teoricamente orientada) e funções (afirmativa e crítica). Não por acaso, Mastrogregori ressaltará que as “possibilidades de contato são certamente inúmeras”[6], visto a complexidade da tarefa de se efetuar adequadamente uma história da historiografia. Para Ankermist, tal tensão “nos confronta diretamente com o problema do relativismo resultante da historicização do sujeito histórico.”[7] Como nos indica Rüsen, a “historiografia é uma maneira específica de manifestar a consciência história”, porque “apresenta o passado na forma de uma ordem cronológica de eventos apresentados como ‘factuais’, ou seja, com uma qualidade especial de experiência.”[8] Por isso:
Não há cultura humana sem um elemento constitutivo de memória comum. Ao relembrar, interpretar e representar o passado, as pessoas compreendem sua vida cotidiana e desenvolvem uma perspectiva futura delas próprias e de seu mundo. História, nesse sentido fundamental e antropologicamente universal, é uma reminiscência interpretativa do passado de uma cultura, que serve como um meio de orientar o grupo no presente. Uma teoria que explica esse procedimento fundamental e elementar de dar sentido ao passado consoante à orientação cultural no presente é um ponto de partida para a comparação intercultural. Tal teoria tematiza a memória cultural ou a consciência histórica que define o objeto de comparação em geral. Ela serve como definição categórica do campo cultural no qual a historiografia toma forma. […] [e] a historiografia aparece, na sua estrutura geral da consciência histórica ou memória cultural, como uma forma específica de uma prática cultural básica e universal da vida humana.[9]
Ao levarem a cabo uma intensa discussão sobre o caso do Holocausto, White e Ginzburg promovem uma verdadeira investigação a respeito do lugar do enredo na narrativa histórica e de que maneira se configura o princípio de realidade, que dá forma e modela o discurso histórico.
Em todos esses aspectos, a coletânea em pauta, traz mostras de um panorama rico e denso dos intensos debates que circunstanciaram a produção da história da historiografia no século passado, cujas marcas e implicações ainda vemos nos resultados apresentados pela pesquisa histórica.
Notas
1. MALERBA, op. cit., 2006, p. 8.
2. MALERBA, op. cit., 2006, p. 13.
3. MALERBA, op. cit., 2006, p. 14.
4. MALERBA, op. cit., 2006, p. 15.
5. MALERBA, op. cit., 2006, p. 27.
6. MALERBA, op. cit., 2006, p. 87.
7. MALERBA, op. cit., 2006, p. 98.
8. MALERBA, op. cit., 2006, p. 125.
9. MALERBA, op. cit., 2006, p. 118
Diogo da Silva Roiz – Doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), bolsista do CNPq. Mestre em História pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).
MALERBA, Jurandir. (Org.) A história escrita. Teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Teoria da história e historiografia. Cordis – Revista Eletrônica de História Social da Cidade. São Paulo, n.6, p.367-371, jan./jun. 2011. Acessar publicação original [DR]
A História pensada: teoria e método na historiografia europeia do século XIX – MARTINS (PH)
MARTINS, Estevão de Rezende (org.) A História pensada: teoria e método na historiografia europeia do século XIX. São Paulo: Contexto, 2010. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Escrita da história no século XIX. Projeto História n. 41. 662 Dezembro de 2010.
A escrita da história no século XIX, já foi tema de diversas interpretações. Mas, no Brasil ainda carecemos de traduções de textos fundamentais sobre teoria, metodologia e história da historiografia. A iniciativa de Estevão de Rezende Martins, junto a outros historiadores (preocupados com essas questões), apenas por essa razão já deve ser saudada. Contudo, o livro não se limita a tradução de textos de Thomas Carlyle (1795-1881), Johann Gustav Droysen (1808-1884), Ernst Bernheim (1850-1942), Wilhelm von Humboldt (1767-1835), Theodor Mommsen (1817-1903), Karl Lamprecht (1856-1915), George Macaulay Trevelyan (1876-1962), Jacob Burckhardt (1818-1897), Leopold von Ranke (1795- 886) e de Henry Thomas Buckle (1822-1862), agrupados, respectivamente, em três partes: a História faz sentido (os três primeiros), o sentido produzido pela História (os outros quatro), e a História e seus campos (os últimos três).
Há também apresentações didáticas sobre o pensamento e a escolha do texto traduzido, que auxiliam na compreensão. E numa sugestiva introdução ao conjunto, Estevão Martins discorre ainda sobre o renascimento da história como ciência, nas últimas décadas, o que teria favorecido mais o empreendimento, visto que o século XIX foi o momento crucial para sua institucionalização, definição metodológica, organização de fronteiras, corpus documentais, funções na sociedade e, em resumo, o que fez da história também uma ciência, ainda que peculiar.
A perscrutar essas questões, nota que a polissemia do termo ‘história’ permitiria pelo menos quatro usos correntes naquele período: a) “o conjunto (mesmo desconhecido) da existência humana no tempo, ainda que não se saiba quando começou ou quando há de terminar (…) [pois] recobre qualquer ação humana e é nesse contexto que se fala, mais comumente, do ‘curso da história’”; b) “diz respeito à memória consciente daqueles agentes e daquelas ações que qualificam a identidade pessoal e social dos integrantes de uma dada comunidade (…) essa história continua sendo, contudo, um registro amplo do agir no tempo, restrito dessa feita a uma sociedade particular”; c) “enquanto conhecimento controlável e demonstrável, chamada de científica, ou ciência da história”; d) e “para designar as narrativas (de todos os tipos) com que se relata o agir passado dos homens no tempo” (p. 8-9). Nesse sentido, igualmente ao renascimento, senão da ‘história ciência’ tal como pensada no XIX, ao menos nas reflexões recentes sobre História e Literatura, numa redemarcação de fronteiras, funções e procedimentos, pois: A História cujo renascimento se organiza e estrutura na passagem do Iluminismo para o Renascimento e se consolida ao longo do século XIX nos cenários do positivismo, do historicismo, das escolas metódicas – e que orienta a organização deste livro –, é a História como ciência. História como ciência, cujos resultados historiográficos são expressos em narrativas que encerram argumentos demonstrativos articuladores da base empírica da pesquisa e da interpretação do historiador em seu contexto. A historiografia, assim, encerra em si as História, Historiadores, Historiografia. 663 características de ser empiricamente pertinente, argumentativamente plausível e demonstrativamente convincente (p. 10).
Assim, eles procedem a uma reflexão instigante sobre como os letrados do XIX pensaram a História como ciência, e os historiadores contemporâneos, organizadores da coletânea, a interpretam, utilizam e pensam-na nos anos iniciais do século XXI. De início, abordam questões que circunscrevem o questionamento/afirmação de se a História faz sentido. Para isso, Renato Lopes apresenta as principais ideias e o contexto em que surgiria a obra de Carlyle, para dar ensejo a seus textos: ‘Sobre a História’, de 1830, no qual argumentaria que “toda ação é estendida em três direções, e a soma geral da ação humana é todo um universo, com todos os seus limites desconhecidos, somente assim a História se mantém seguindo caminho após caminho, através do instransponível, em diversas direções e intersecções, para nos assegurar uma visão parcial do todo” (p. 25); e ‘Sobre a História, outra vez’, de 1833, em que indica que a “História (…) antes de tornar-se a História universal, necessita primeiramente ser comprimida”, pois, se “não houvesse a glorificação da História, ninguém conseguiria lembrar-se de fatos ocorridos após uma semana” (p. 28).
No mesmo caminho estará à apresentação de Arthur Assis a obra de Droysen, e o texto ‘Arte e método’, de 1868, expressaria um momento singular do debate na Alemanha, onde “enquanto alguns dos grandes poetas e pensadores de nossa nação mergulhavam nas questões teóricas do conhecimento histórico, desenvolvia-se no escopo dos trabalhos históricos a precisão e a solidez da crítica que, qualquer que fosse a área da História em que se a aplicasse, trazia resultados inteiramente novos e surpreendentes” (p.
39), donde sintetizá-los “em pensamentos comuns, desenvolver seu sistema e sua teoria e assim determinar as leis da pesquisa histórica, e não as leis da história: essa é de fato a tarefa da teoria da história” (p. 46), a que Droysen se propunha elaborar, e que este texto demarcaria um de seus esboços.
Igualmente fará ao apresentar Ernst Bernheim, e seu texto ‘Metodologia da ciência histórica’, de 1908, onde entenderá que o método “é o procedimento utilizado por uma ciência para obter resultados cognitivos de um dado material empírico”, mas o “material com que trabalham os historiadores é peculiar”, por isso, o método histórico encontraria dificuldades para agrupar e proceder à análise dos dados sobre o passado, de modo a lhes dar sistematicidade expositiva e lhes tornar confiáveis, uma vez que na “pesquisa histórica, designamos ‘prováveis’ aqueles fatos que consideramos como tendo acontecido porque dispomos de relatos e razões que são mais fiáveis ou plausíveis do que os relatos e razões em contrário, ainda que reconheçamos a possibilidade de que estejamos errados” (p. 66).
Num segundo momento, são apresentados textos que discorrem sobre o sentido produzido pela História. Abre a seção o texto de Humboldt, ‘Sobre a tarefa do historiador’, de 1821, apresentado por Pedro Caldas, no qual discorre que “o historiador será passivo caso se limite a reproduzir os fatos, e, o que seria ainda pior, acredite que nisso consiste sua tarefa”, tendo em vista que o “sentido não está previamente dado, mas é uma construção do historiador” e “tal construção (…) também está longe de se restringir a um arroubo romântico vulgar” (p. 71-2), como notará Caldas. Para Humboldt a “tarefa do historiador consiste na exposição do acontecimento”, mas para fazê-lo adequadamente “o historiador não pode largar o seu domínio sobre a sua exposição ao se limitar a procurar tudo na matéria objetiva; ele precisa, ao menos, deixar espaço para a ação da ideia; mais adiante, ele precisa, com o tempo, deixar a alma receptiva para a ideia e mantê-la viva, intuí-la e reconhecê-la; precisa, acima de tudo, se precaver em não atribuir à realidade suas próprias ideias, ou ainda, em não sacrificar ao longo da pesquisa a riqueza viva das individualidades em prol do contexto totalizante” (p. 100).
Na sequência, o texto de Mommsen, ‘O ofício do historiador’, que foi seu discurso de posse na reitoria da universidade de Berlim, em 15 de outubro de 1874, com apresentação de Estevão Martins, e onde o autor indica que a “História nada mais é do que o conhecimento nítido de acontecimentos efetivos, estabelecidos parte pela descoberta e análise dos testemunhos sobre eles disponíveis, parte pela conexão entre eles, a partir do conhecimento das personalidades atuantes e das circunstâncias existentes, numa narrativa que articule causa e efeito” (p. 117). Por sua vez, Luiz Sérgio Duarte nos História, Historiadores, Historiografia. 665 apresenta Lamprecht, e seu texto ‘História da cultura e História’, de 1910, em que argumenta que para “nós, historiadores, o que resta é o conjunto dos eventos históricos, e se nós queremos compreendê-los e organizá-los procedemos cronologicamente” (p. 129). Encerrando a seção, Estevão Martins apresenta Trevelyan, e seu texto ‘Viés na História’, de 1947, no qual aborda as circunstâncias que definem as escolhas que fazem os historiadores ao elegerem seus objetos de pesquisa, assim como a dos agentes envolvidos nos acontecimentos narrados, visto que a “História não seja uma ciência exata, mas uma interpretação de circunstâncias humanas, a opinião e variedades de opiniões se imiscuem como fatores inevitáveis”, da mesma forma como o “viés interpretativo de um homem sobre um problema histórico pode coincidir com a verdade, mas é bem mais provável que esteja parcialmente correto e parcialmente errado” (p. 138-39).
Na última seção, são reunidos textos que discorrem a História e seus campos. Nos dois primeiros de Burckhardt, ‘História da cultura grega: Introdução’, de 1872, e ‘Sobre a história da arte como objeto de uma cátedra acadêmica’, de 1874, como também sugere a apresentação de Cássio da Silva Fernandes, ele se preocuparia em apresentar um programa de pesquisa, para se proceder ao estudo da história da cultura, com ênfase na história da arte. Mas não apenas isso, também elenca certas vantagens da história da cultura, como a de “proceder por reagrupamentos, e pode dar relevo aos fatos segundo a sua importância proporcional, e não é obrigada a desprezar todo sentido de proporção, como costuma ocorrer nos tratamentos antiquários e histórico-críticos [das abordagens tradicionais da pesquisa histórica]” (p. 170). E demonstra ainda como a história da arte seria promissora para estudar vanguardas, movimentos, transformações socioculturais, e ainda permitir ao pesquisador “não se abandonar cegamente ao mundo das intenções, mas permanecer aberto ao conhecimento objetivo das coisas, quer dizer, não ser um sujeito comum” (p. 184). Já Sérgio da Mata nos apresenta Ranke, e seu texto ‘O conceito de história universal’, de 1831, que de certo modo anteciparia certas constatações de Burckhardt, apesar das diferenças óbvias entre ambos, ao ressaltar que a “História se diferencia das demais ciências porque ela é, simultaneamente, uma arte”, ou seja, ela é “ciência na medida em que recolhe, descobre, analisa em profundidade; e arte na medida em que representa e torna a dar forma ao que é descoberto, ao que é apreendido” (p. 202). Por fim, Valdei Araujo nos apresenta Buckle, e seu texto ‘Introdução geral à História da Civilização na Inglaterra’, de 1857, no qual abordaria outros campos propícios a pesquisa histórica, apesar de uma “grande atenção te[r] sido aplicada à história da legislação, bem como a da religião”, também haveria um “considerável trabalho, embora inferior, [que] tem sido empregado em traçar o progresso da ciência, das literaturas e belas artes, das invenções úteis e, ultimamente, dos costumes e comodidades dos povos” (p. 226).
Vistos em conjunto, portanto, os textos aqui agrupados, traduzidos e apresentados nos revelam um rico painel sobre as várias formas de se escrever a História no século XIX. Ao contrário do que comumente é pensado, os textos nos revelam autores mais complexos, com debates que não se limitaram a circunstanciar a história como ‘ciência’, mas em apresentar também as peculiaridades que a tornam tão híbrida, a ponto de ser um canteiro aberto tanto para a ‘ciência’, quanto para a ‘arte’, e coexistindo entre ambas, não deixar de informar, apresentar e interpretar o processo histórico e o agir humano no tempo.
Diogo da Silva Roiz – Doutor em História. E-mail: diogosr@yahoo.com.br.
Teoria da História (v.2) Reconstrução do passado: os princípios da pesquisa histórica | Jörn Rüsen
RÜSEN, Jörn. Reconstrução do passado. Teoria da história II: os princípios da pesquisa histórica. Tradução de Asta-Rose Alcaide. Brasília: UnB, 2007, 188 p. Resenha de: ARRAIS, Cristiano de Alencar. Métodos e perspectivas na teoria da história de Jörn Rüsen. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 05, p.218-222, setembro 2010.
Fruto de um projeto de pesquisa que demandou aproximadamente uma década de reflexões sobre os fundamentos, limites e possibilidades do conhecimento histórico, Reconstrução do passado é parte constituinte da trilogia de Jorn Rüsen sobre teoria da história que teve sua publicação original iniciada em 1983 com Razão histórica e finalizada em 1989, com a publicação de História viva. O conjunto desses três livros constitui-se numa das mais importantes contribuições desse historiador e filósofo da história que, desde a década de 1960, com a publicação de sua tese de doutoramento sobre J. G. Droysen, vem militando no campo da teoria da história e da história da historiografia.
Como observou Rocha (2008), a relação sistêmica entre os volumes faz com que a importância de cada um deles deva ser pensada, num primeiro momento, de maneira mais ampla. Essa relação está explícita na tentativa do autor de cobrir os principais elementos constituidores da história como ciência, tomando como referência a estrutura experimental desenvolvida por Droysen (2009) – uma autojustificativa sobre o significado da teoria da história e sua função para a constituição do saber histórico, uma reflexão sobre os fundamentos do método histórico, desenvolvidos a partir dos conceitos de metódica e sistemática, e um exame da função tópica do saber histórico.
Evidentemente que essa referência sintética não dá conta do vigoroso empreendimento de apropriação desenvolvido pela trilogia. A utilização do termo apropriação não é injustificada, na medida em que, para além dessa dívida intelectual com a obra de Droysen, pode-se perceber também a utilização de um dispositivo heurístico que comanda as reflexões produzidas nos três volumes.
Se como nos próprios termos de J. Rüsen, a teoria da história é uma metateoria (um pensar sobre o pensamento histórico), nada mais coerente que esse tipo de reflexão nortear também o seu próprio projeto filosófico. Nesse sentido, o primeiro volume é dedicado a questões relativas aos interesses (as carências de orientação na mudança temporal), o segundo volume, aos métodos (as regras da pesquisa empírica) e às perspectivas de interpretação (modos de explicação, perspectivas e categorias de análise) e o terceiro e último volume às formas (de representação do passado, associado à historiografia) e às funções (a didática como instrumento capaz de direcionar o agir humano).
Essa retomada das reflexões produzidas ainda no século XIX também pode ser em parte percebida, por exemplo, em Memória, história e esquecimento, de Paul Ricoeur, na medida em que este autor estrutura seu projeto filosófico segundo uma tríade sustentada por uma proposta fenomenológica para a relação entre história e memória (a história como herdeira erudita da memória), epistemológica (a metódica, sistemática e tópica, identificadas, respectivamente, com a fase documental, explicativa e de representância) e hermenêutica (uma crítica à pretensão da história como saber absoluto, uma ontologia da condição histórica e uma fusão de horizontes, no sentido gadameriano) (RICOEUR 2008). Mas no caso da trilogia de Rüsen, existe uma dimensão pragmática que procura associar o produto da pesquisa em sua forma expositiva – a historiografia – às necessidades de socialização humana, visto que a mesma se torna instrumento formador da identidade histórica.
Dentro desse grande projeto de análise é que se situa, portanto, Reconstrução do passado. Em que pese a mudança de tradutor, que acarretou uma sensível modificação na forma do texto e afetou a inteligibilidade de algumas passagens – demandando ao leitor uma atenção redobrada às suas torções e à linguagem adotada neste volume – considero importante destacar três temas que demonstram a vitalidade dessa obra específica.
Primeiro, a inversão da relação entre metódica e sistemática, visto que nos tradicionais manuais dedicados à teoria e metodologia da história, a parte dedicada à “teoria” tem apenas valor provisório e acessório. Na proposta do autor, a regulação metódica depende das determinações prévias sobre o que deve ser elaborado como “história”, ou seja, existe uma dependência explícita entre os métodos empregados na pesquisa e os pontos de vista que o pesquisador aplica à matéria. Assim, “O conhecimento histórico não é construído apenas com informações das fontes, mas as informações das fontes só são incorporadas nas conexões que dão o sentido à história com a ajuda do modelo de interpretação, que por sua vez não é encontrado nas fontes” (RÜSEN 2007, p. 25).
Daí porque, partindo da crítica ao uso análogo que certas filosofias da história fazem de suas teorias, com as ciências da natureza – uma aproximação que parte, por um lado, de uma suposição equivocada de que só é racional uma explicação que recorra a leis, e que trata um determinado tipo de racionalidade como o único existente, como percebeu Perelman (2004), e por outro, de uma preocupação de tornar a história tecnicamente útil, sem levar em consideração que essa pragmática no interior das ciências humanas não deve ser julgada a partir de critérios técnicos, mas existenciais – o autor analisa duas formas de explicação na história: a nomológica e a intencional, apontando suas limitações. O intuito, neste caso, seria determinar uma forma mediana do procedimento explicativo na ciência da história. A superação desses dois modelos seria encontrada na explicação narrativa associada às considerações desenvolvidas por Danto (1965). Entretanto, há que se ressaltar que elas pouco avançam sobre as teses de Ricoeur (1994) ou White (1995), denotando, portanto, uma necessidade de atualização dessa discussão, tão importante à época da publicação de Reconstrução do passado.
Um segundo importante elemento a ser destacado na obra está associado ao tratamento dado às filosofias da história, no âmbito de uma teoria da história, ou seja, a solução encontrada pelo autor para o problema da possibilidade de uma teoria da história que incorpore a noção de totalidade para a ciência da história. Neste caso, a primeira tarefa empreendida é a de destruir o edifício teleológico das filosofias da história de tipo especulativo, seja com um argumento formal (a história “não pode deixar de ser concebida como universal sem deixar de ser história, isto é, estruturada narrativamente” [RÜSEN 2007, p. 58]), seja sob o ponto de vista material (a crítica de uma concepção de humanidade derivada de uma dimensão biológica, sem levar em consideração suas implicações para o mundo histórico). Tais questões, segundo o juízo do autor, implicam a inviabilidade de um tipo de teoria da história que possa ser considerada sob o ponto de vista absoluto, total e fora do próprio processo que narra.
Isso não implica, entretanto, um alinhamento a um ponto de vista que imponha uma concepção de experiência histórica marcada pela diversidade e pela diferença. Como opção a essas duas alternativas, Rüsen propõe uma antropologia histórica teórica que, formalmente, apresente a mudança como cognoscível por meio de seus conceitos elementares. Nesse sistema de categorias históricas, o tempo seria caracterizado como história, de maneira a ser apreendido pela pesquisa. É importante notar que se trata aqui de uma distensão da concepção kantiana de tempo como categoria a priori, na medida em que o tempo da natureza torna-se humano. Além disso, materialmente, uma antropologia histórica teórica explicaria os fatores que são determinantes nesse processo, dimensionando um “sistema de suposições quanto às razões da mudança temporal do homem e do mundo” (RÜSEN 2007, p. 67) e construindo um quadro de referências das interpretações históricas, além de funcionar como instrumento de reconhecimento de uma identidade coletiva.
Dessa forma a noção de totalidade poderia ser recuperada por meio do conceito de humanidade (agora uma concepção normativa que procura responder às perguntas sobre como o homem realiza sua historicidade), cujo sentido seria gerado pela própria mobilidade temporal do agir e sofrer humanos. A proposta do autor, entretanto, carece de um desenvolvimento maior, na medida em que não analisa a forma como essa proposta se realizaria historiograficamente, assim como suas consequências para interpretações da experiência temporal baseadas em sistemas de categorias que tematizam a própria mudança.
Por último, o autor efetua um reposicionamento do conceito de heurística no âmbito da metodologia histórica nesse momento de redefinição das fronteiras da ciência da história. A julgar pela forma como a heurística é geralmente tratada na maioria das obras dedicadas a este tema, este parece ser um aspecto menor, meramente técnico, de catalogação e tipologização das fontes. Na direção contrária dessa perspectiva, Rüsen entende a heurística como o momento em que o saber teórico toma a forma de questionamentos claros e abertos à experiência, ao mesmo tempo em que produz uma estimativa metodologicamente regulada do que as fontes podem dizer (de modo a superar a limitação dos campos de experiência já apreendidos e direcioná-las ao historicamente estranho). É, além disso, o momento de exame e classificação das informações das fontes relevantes para responder às questões levantadas (visto que a relevância de uma fonte depende das perguntas históricas elaboradas) e da ampliação do conteúdo informativo das mesmas. Nesse sentido, o autor proporciona à heurística um status até então esquecido, afinal “uma hipótese é heuristicamente fecunda se corresponder às carências de orientação das quais, em última análise, se originou” (RÜSEN 2007, p. 119).
Há que se ressaltar também o esforço do autor em abordar as operações substanciais da pesquisa, ou seja, a forma como o conteúdo experiencial do passado, projetado nas fontes, pode ser apreendido. Entre a abordagem analítica e a abordagem hermenêutica existiria a abordagem dialética, com uma função análoga ao modelo narrativo de explicação histórica, desenvolvido no primeiro capítulo da obra. Muito embora a pretensão dialética esteja explícita, a tentativa de aproximação dos dois modelos denota uma clara submissão da analítica à hermenêutica. Nesse sentido, não se realiza exatamente um movimento dialético, mas uma incorporação de contextos de causalidade e de processos estruturais e sistêmicas do agir humano aos processos reconstrutivos de sentido desse agir. Assim, embora mascarado, o privilégio dado por Rüsen continua associado pela tradição hermenêutica da qual é um legítimo representante.
Finalmente, a ênfase dada pelo autor aos problemas lógicos e conceituais que envolvem os princípios da pesquisa histórica revela uma marca própria e inovadora que permeia todos os três livros que compõem suas reflexões para o campo da teoria da história. Ao invés de um conhecimento enciclopédico e de catalogação, típico dos mais populares manuais, Reconstrução do passado é um convite ao aprofundamento sobre os fundamentos da ciência da história e dos fatores que articulam o pensamento histórico com vistas à sua racionalização. Nesse sentido e na medida em que supera uma concepção eunuca do exercício teórico na pesquisa histórica, Rüsen denota a face mediadora da teoria da história, expondo sua capacidade de articular a abstração conceitual com as determinações empíricas do processo de constituição do saber históricocientífico.
Referências
DANTO, A. Analytical philosophy of history. London: Cambridge University Press, 1965.
DROYSEN, J. G. Manual de teoria da história. São Paulo: Vozes, 2009.
PERELMAN, C. Retóricas. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
RICOEUR, P. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Unicamp, 2008.
_______. Tempo e narrativa – V. 1. Campinas: Papirus, 1994.
ROCHA, S. M. Resenha do livro História viva. In História da historiografia, n° 1. 2008. Disponível em http://www.ichs.ufop.br/rhh/index.php/revista/ article/view/29/26. Acesso em 25 de julho de 2010.
WHITE, H. Meta-história: a imaginação histórica no século XIX. São Paulo: Edusp, 1995.
Cristiano Alencar Arrais Professor Adjunto Universidade Federal de Goiás (UFG) alencar_arrais@yahoo.com.br Rua 1044, 129/903, Ed. Imperial – Setor Pedro Ludovico Goiânia – GO 74825-110 Brasil Palavras-chave Teoria da história; Sistemática; Metodologia.
Ensaios de história oral – PORTELLI (HO)
PORTELLI, Alessandro. Ensaios de história oral. São Paulo: Letra e Voz, 2010. 258p. Resenha de: RIBERTI, Larissa Jjacheta. História Oral, v. 13, n. 2, p. 193-195, jul.-dez. 2010.
Prática reconhecidamente significativa como metodologia de investigação social, a história oral tem ganhado cada vez mais espaço nos meios acadêmicos devido ao seu papel de instrumento de luta política, capaz de revelar sujeitos e discursos geralmente ocultados nas análises históricas e de outras disciplinas. Diante de processos recentes de fragmentação e desenraizamento de modos culturais, a história oral vem se constituindo como uma boa alternativa metodológica para a compreensão das problemáticas dos sujeitos, das memórias, culturas e identidades. Esta prática é, portanto, uma alternativa crítica à análise das novas questões históricas e sociais que se colocam no século XXI.
É nesse contexto que Alessandro Portelli, atualmente professor de literatura norte-americana na Universitá di Roma “La Sapienza” e também fundador do Circolo Gianni Bosio, que incentiva e promove pesquisas sobre músicas e culturas populares, organiza uma seleção de textos – nos quais a metodologia da história oral é a via principal de investigação histórica e social – e publica-os com o nome de Ensaios de história oral. Diante dessas novas questões em debate, em que é necessário considerar discursos individuais e compartilhados como instrumentos do processo de formação das identidades, Portelli fornece refl exões sobre as implicações metodológicas e políticas do conhecimento que produzimos.
A importância da obra aqui considerada se dá justamente porque os ensaios nela contidos procuram discutir, separadamente, as formas de se utilizar o discurso oral como instrumento de pesquisa e análise histórica. Para além disso, Alessandro Portelli propõe um olhar crítico em relação às entrevistas que realizou, desmistificando discursos e abrindo novas possibilidades interpretativas.
Sobre a importância do trabalho metodológico a partir da história oral, Marieta de Moraes Ferreira e Janaína Amado ressaltam que “na história oral, existe a geração de documentos (entrevistas) que possuem uma característica singular: são resultado do diálogo entre entrevistador e entrevistado, entre sujeito e objeto de estudo; isso leva o historiador a afastar-se de interpretações fundadas numa rígida separação entre sujeito/objeto de pesquisa, e a buscar caminhos alternativos de interpretação” (Ferreira; Amado, 2006, p. xiv).
A obra é iniciada com uma apresentação de Yara Aun Khoury e segue com a compilação de dez textos inéditos em língua portuguesa. Esses ensaios são o resultado de uma obra autoral que vem sendo construída desde 1970 e que revelam o olhar de Portelli sobre as relações entre memória e história. O autor também dá demonstrações de como os discursos pessoais, coletivos e ofi ciais constroem, de maneiras singulares, interpretações sobre determinada memória.
Logo no primeiro ensaio, “Sempre existe uma barreira: a arte multivocal da história oral”, o autor analisa como a relação entre história e memória toma forma na narração oral. Diz ele: “A ‘entre/vista’, afinal, é uma troca de olhares. E bem mais do que outras formas de arte verbal, a história oral é um gênero multivocal, resultado do trabalho comum de uma pluralidade de autores em diálogo” (p. 20). É dessa maneira que o autor recorre à história oral para entender como acontece a combinação entre narrativa em primeira pessoa com referentes espaciais e sociais coletivos que dão o suporte para que entendamos a construção de uma determinada memória cultural.
Sobre a formação de uma identidade coletiva, o autor escreve, por exemplo, o ensaio de número quatro, “Éramos pobres, mas… Narrar a pobreza na cultura apalachiana”, no qual examina os discursos de moradores das montanhas apalachianas do Tennessee. Neste texto, ele procura compreender como, na visão dos próprios moradores, a pobreza era uma situação que provocava um misto de raiva/vergonha e autonomia/orgulho. Encarada dentro de uma comunidade relativamente igualada pela subsistência e autonomia provocadas por uma economia não monetária, a pobreza era vista pelos moradores como um meio para a sobrevivência, já que era o motor dessas relações. Por outro lado, fora desse convívio supostamente igualitário, os moradores se sentiam ofendidos quando eram levados, por exemplo, a participar de uma economia monetária da qual não podiam fazer parte. Ao ouvir os discursos, o autor consegue entender por que, para essas pessoas, e dentro dessa comunidade, as relações de afeto eram mais importantes que as relações monetárias.
A questão das relações entre documentos individuais e realidades transindividuais é tratada no ensaio “O melhor limpa-latas da cidade: A vida e os tempos de Valtero Peppoloni, trabalhador”, no qual Portelli considera a trajetória de vida de um trabalhador de fábrica e de serviços em geral da cidade industrial do Terni, na Itália. Para o historiador, é necessário entender que a narrativa de Valtero Peppoloni recai em padrões, estruturas e motivos discursivos arcados em conjunto: “Há elementos coletivos e compartilhados nessa história que são sufi cientes para justifi car que a descrevamos como documento representativo da cultura da classe trabalhadora local” (p. 182).
Dessa forma, a obra de Alessandro Portelli tem significativa importância para os estudos de história oral. Analisando narrativas e interpretando diferentes discursos, Ensaios de história oral é uma referência importante para se compreender a memória, a oralidade, a cultura popular e os relatos de vida. É também crucial para aqueles que pretendem investigar, a partir da história oral, com um olhar crítico e preocupado com as questões metodológicas dessa prática.
Referências
FERREIRA, M. de M.; AMADO, J. (Org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006.
Larissa Jacheta Riberti – Mestranda em História Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
A história nos filmes, os filmes na história – ROSENSTONE (RBH)
ROSENSTONE, Robert. A história nos filmes, os filmes na história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. 262p. Resenha de: SANTIAGO JÚNIOR, Francisco das Chagas Fernandes. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30, no.60, 2010.
Há pouco mais de dez anos, quando comecei a pesquisar sobre a relação história e cinema, havia pouca coisa publicada no Brasil: pouquíssimas obras traduzidas, alguns textos introdutórios teórico-metodológicos e uns poucos artigos. Lembro que, mesmo para um pesquisador iniciante, as considerações dos historiadores sobre o cinema e os filmes pareciam travadas, até “medrosas”, quando não hostis à reflexão histórica contida na imagem fílmica. Considerei, na época, que devia ser um “mal brasileiro”, que nos Estados Unidos e na França os historiadores já haviam resolvido algumas das questões referentes à existência da visão cinematográfica da história. A falta de traduções e a qualidade das reflexões seriam reflexos de nosso provincianismo.1 Estava enganado.
O novo livro do historiador canadense Robert Rosenstone, A história nos filmes, os filmes na história, lançado no Brasil em 2010, trouxe velhas questões sobre a visão cinematográfica da história para o primeiro plano. O texto oferece um painel das dificuldades que os historiadores criam quando lidam com cinema. Esta resenha pretende expor a importância do livro e, ao mesmo tempo, apontar a “hesitação” que ainda acompanha a reflexão sobre as relações entre história e cinema.
Rosenstone era um historiador das revoluções sociais quando, desenvolvendo um trabalho sobre o jornalista John Reed,2 tornou-se “consultor histórico” (numa época em que essa expressão não tinha significado firmado) na realização da cinebiografia Reds (1981), sobre a vida do autor de Os dez dias que abalaram o mundo. Foi quando o canadense começou a se inteirar das discussões sobre cinema e história. Seus trabalhos posteriores tornaram-se conhecidos no Brasil por meio de algumas poucas traduções em periódicos como Olho da História,3 e pelos comentários de estudiosos como Mônica Almeida Kornis, Cristiane Nova e Jorge Nóvoa.4 A história nos filmes, os filmes na história é a primeira tradução brasileira de uma obra completa desse importante e polêmico autor.5
Embora o livro chegue com atraso, como quase sempre ocorre com publicações sobre o tema no Brasil, o que surpreende é perceber que em 2006, quando History on Film/Film on History foi publicado nos Estados Unidos, Rosenstone ainda se via obrigado a defender a legitimidade das interpretações cinematográficas da história. Hoje, em dissertações, teses, artigos e capítulos de livros, o filme é tido como importante temática do campo historiográfico, mas a leitura cinematográfica da história parece ter sido tragada, segundo o autor, pela associação do filme com o que os historiadores escreviam em seus escritos. A tese subjacente do canadense é que a “correspondência” à fidelidade histórica viciou a reflexão historiográfica sobre cinema.
Incorporando contribuições de Hayden White, Rosenstone se apresenta como historiador pós-moderno interessado na renovação da narrativa e das perspectivas teóricas da historiografia por meio da incorporação de novos estilos de argumentação e escrita. Porém, em vez de qualquer defesa do relativismo sua ideia é demonstrar como a existência de diferentes discursos sobre o passado (como os presentes nas películas), mais do que dinamitar verdades, criam versões alternativas da história.
O livro visa compreender se é possível um filme oferecer uma reflexão histórica comparável à da historiografia, se um cineasta pode ser considerado um historiador e se o cinema é uma forma alternativa de articular o passado. Na sua perspectiva, assim como o conhecimento histórico possui regras, estilos e investigação específicos, a mídia visual também tem seus próprios critérios e circunstâncias de produção da história – ao historiador cabe reconhecer a existência, legitimidade, diferença e influência das representações da história produzidas pelas fitas.
O volume é composto de nove ensaios dedicados a vários tópicos. Após um capítulo breve de introdução, o segundo texto realiza preciosa revisão bibliográfica sobre como, na comunidade histórica norte-americana (e um pouco na francesa), a representação cinematográfica da histórica começou a ser pensada pelos historiadores. O início do livro é dedicado a evidenciar a formação de um campo de investigação que teria surgido comprometido com a preocupação dos historiadores em relação à fidelidade histórica nos filmes. A maioria dos textos resenhados tende a recusar às fitas a possibilidade de articular reflexões históricas (exceção principalmente de Marc Ferro e Natalie Zemon Davis). Rosenstone aponta que é preciso reconhecer que o filme, diferente da historiografia, não possui a fidelidade entre suas regras de produção, mas isso não prejudica a capacidade fílmica de condensar, nas suas formas plásticas, a história. O autor defende o entendimento das “regras de interação do longa-metragem dramático com os vestígios do passado – e começar a vislumbrar o que isso acrescenta ao nosso entendimento histórico”.6
O canadense lembra que a película trabalha por invenções, condensações, compressões, alterações e deslocamentos de elementos do passado para montar a própria interpretação do passado. Esse raciocínio conduz todas as reflexões do livro nos capítulos seguintes, explorando a construção de interpretações cinematográficas do passado nos dramas comerciais, dramas inovadores, cinebiografias, documentários etc. Talvez o capítulo mais instigante seja o sétimo, com o tema do cineasta como historiador. Refletindo sobre realizadores como Oliver Stone, o historiador ressalta que alguns cineastas obcecados e oprimidos pela pressão do passado “continuam voltando a tratar do assunto fazendo filmes históricos, não como fonte simples de escapismo ou entretenimento, mas como uma maneira de entender como as questões e os problemas levantados continuam vivos para nós no presente” (p.172-174). Não seria difícil encontrar tal qualidade de realizador no Brasil, de Silvio Tendler a Carlos Diegues, demonstrando que a memória e a história envolvem questionamentos sociais atuantes no cinema também.
Para defender sua tese, Rosenstone opera dois deslocamentos: primeiro distingue o filme histórico do filme cuja trama se ambienta em um período histórico qualquer (os dramas de época), afirmando que aquele constrói interpretações sobre a história que rivalizam com a da historiografia. Segundo, evidencia que as películas, de fato, lidam com os vestígios do passado de maneira singular. A representação cinematográfica da história não é uma questão de fidelidade ao passado, mas de uma forma midiática que cria com aquele sua própria relação.
A história nos filmes, os filmes na história, porém, não conclui a reflexão iniciada. Preocupado com a construção da legitimidade do objeto, deixa seu discurso num nível superficial, executando um livro importante, mas que rejeita o passo seguinte a ser tomado. Para defender que a questão da “história nos filmes” diz respeito à forma como a linguagem visual lida com o passado, Rosenstone acaba reduzindo a relação com o passado e seus vestígios à construção de interpretações articuláveis num enredo – aqui se vê seu débito com
o conceito de “historiofotia” de Hayden White, grosso modo a representação da história no discurso imagético e fílmico (p.44). Entretanto, o que fica evidente em seu texto é que compreender como o cinema se relaciona com o passado e o constrói é passível de se tornar um tópico da própria teoria da história, envolvendo além das interpretações enredadas, a configuração de orientações na experiência do tempo.
Se o objetivo da teoria da história é refletir sobre o que os historiadores fazem quando fazem história,7 o livro de Rosenstone hesita ao não explorar a relação do campo historiográfico com o campo cinematográfico no que se refere à construção de relações com os vestígios do passado e com a concepção de passado e de tempo. Esse tema tem sido explorado por teóricos do cinema, mas ignorado pela maioria dos historiadores.8 O canadense até menciona a questão rapidamente, mas logo abandona o assunto (p.233).
Obviamente, não era o objetivo do autor aprofundar os quesitos aqui levantados. Ao final da leitura de A história nos filmes, os filmes na história fica o desejo pela constituição de um tópico de investigação que contemple as relações do campo historiográfico com as formas visuais de experimentações, orientações e interpretações socialmente atuantes do passado, principalmente quando alimentadas pela energia investigativa de espíritos como Oliver Stone, Sergei Eisenstein ou Silvio Tendler. Elas apontam relações diretas com a indagação do tempo histórico numa perspectiva visual, a maneira pela qual ocorre a distinção entre passado e futuro em sua relação com o presente, dos quais nos falam teóricos como Reinhart Koselleck.9
Hoje há uma considerável reflexão sobre os filmes como fonte e meio de pesquisa, no entanto, a proeza maior de Rosenstone é apontar a inclusão, entre os tópicos da teoria da história (e não apenas da metodologia) de uma sistematização da relação história-cinema-passado. Essa importante reflexão, que já gerou excelentes frutos na problematização literatura-história, ainda aguarda desenvolvimento para o cinema. Estaria essa lacuna relacionada com a dificuldade dos historiadores em enfrentar o que significa ter concorrentes nas construções da memória e da história sociais, quando estes são poderosos como as mídias visuais das quais o cinema é apenas um exemplo? A questão fica em aberto.
Notas
1 FERRO, Marc. Cinema e história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993, [ Links ] era praticamente a única tradução significativa, embora houvesse textos nacionais. Outras obras importantes permanecem longe do mercado editorial, desde textos de Rosenstone e Ferro até Michel Lagny, Pierre Sorlin, Natalie Zemon Davis, Tom Gunning, Andre Gaudreault, Richard Allen, Thomas Elsaesser etc.
2 ROSENSTONE, Robert. Romantic revolutionary: a biography of John Reed. New York: Alfred A. Knopf, 1975. [ Links ]
3 ROSENSTONE, Robert. História em imagens, história em palavras: reflexões sobre as possibilidades de plasmar a história em imagens. O olho da história, Salvador, v.1, n.5, p.105-116, 1997. [ Links ]
4 Ver KORNIS, Mônica Almeida. História e cinema: um debate metodológico. Estudos históricos, Rio de Janeiro, v.5, n.10, p.237-250, 1992; [ Links ] NOVA, Cristiane. O cinema e o conhecimento da história. O olho da história, Salvador, v.2, n.3, p.217-234, 1996; [ Links ] NOVA, Cristiane. A história diante dos desafios imagéticos. Projeto história, São Paulo: PUC/SP, v.21, p.141-162, 2000. [ Links ]
5 Em 2009 foi traduzido mais um artigo: ROSENSTONE, Robert. Oliver Stone: historiador da América recente. In: FEIGELSON, Kristian; FRESSATO, Soleni Biscouto; NOVOA, Jorge (Org.). Cinematógrafo: um olhar sobre a história. São Paulo: Ed. Unesp; Salvador: Ed. UFBA, 2009, p.393-408. [ Links ]
6 ROSENSTONE, Robert. A história nos filmes, os filmes na história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010, p.54. [ Links ]
7 Alusão ao título da dissertação: ASSIS, Arthur O. A. O que fazem os historiadores quando fazem história? A teoria da história de Jörn Rüsen e Do Império à República, de Sérgio Buarque de Holanda. Dissertação (Mestrado) – UnB. Brasília, 2004. [ Links ] Ver, ainda, RÜSEN, Jörn. A razão histórica: teoria da história, os fundamentos da ciência histórica. Brasília: Ed. UnB, 2001. [ Links ]
8 Exemplar nesse sentido é a reflexão algo pessimista de JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1997. O autor cita Jameson rapidamente na página 23. [ Links ]
9 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-RIO, 2006. [ Links ]
Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Departamento de História. BR 101, Km 01, Lagoa Nova. 59078-970 Natal – RN. santiago.jr@gmail.com.
Exercícios de micro-história | Carla M. C. Almeida e Mônica R. Oliveira
Não há dúvidas de que atualmente a micro-história desfruta de grande ressonância no âmbito historiográfico brasileiro. Contudo, o sucesso desta perspectiva metodológica carrega consigo uma considerável dose de incompreensão. Para grande parte dos acadêmicos brasileiros o termo “micro-história” esteve (ou ainda está) se tornando sinônimo da figura de Carlo Ginzburg, ou da figura de Menocchio, moleiro do século XVI estudado pelo proeminente historiador italiano em seu livro O queijo e os vermes. No Brasil, muitas vezes tomada como teoria, a micro-história também é freqüentemente confundida com a história das mentalidades praticada, sobretudo, pelos franceses dos Annales.
Todas estas confusões são, em grande medida, frutos do percurso trilhado pela historiografia brasileira nos últimos trinta anos. Com a crescente ampliação do público acadêmico consumidor, durante a década de 1980 um amplo conjunto de leituras historiográficas estrangeiras foram traduzidas quase que simultaneamente para o português. Entre as principais traduções podemos citar: a historiografia produzida pelo grupo dos Annales, especialmente autores como Jacques Le Goff, Georges Duby e Michel Vovelle; os historiadores ingleses e anglo-americanos, como Edward P. Thompson, Natalie Zemon Davis e Eugene Genovese; discussões que surgiam do âmbito filosófico e sociológico francês, como Michel Foucault e Pierre Bourdieu; além dos frutos da micro-história italiana, quase que exclusivamente com Carlo Ginzburg. Portanto, a recepção desta massa de textos, idéias e sugestões de pesquisa (que não raramente caminham em direções divergentes, claro sintoma do desmoronamento dos paradigmas estruturalista e marxista) foi mediada – como talvez não pudesse deixar de ser – por leituras parciais e apressadas. Leia Mais
História: a arte de inventar o passado | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
O livro História: a arte de inventar o passado, do Doutor em História Social Durval Muniz de Albuquerque Júnior, professor Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, reúne em dezesseis capítulos artigos anteriormente publicados em periódicos. Os textos, que discutem as mudanças dos paradigmas na ciência histórica, estão divididos em três partes: a primeira aborda a relação entre história e literatura; a segunda apresenta as contribuições de Foucault para a história e a última traz alguns aspectos sobre o trabalho do historiador.
Uma ideia que perpassa todo o livro é a da “invenção”. Segundo o autor, a própria utilização desta palavra já indica mudanças no campo histórico, simbolizando que o historiador não trabalha com verdades e que, quando lida com as suas fontes, não se desvencilha de sua subjetividade. Se pensarmos a história do prisma da invenção, nos afastaremos das categorias homogeneizantes e universais, pensando a ciência como uma construção. Leia Mais
Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX – REIS (RBH)
REIS, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 461 p. Resenha de: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 29 no. 57, JUN. 2009.
João José Reis é merecidamente um figurão da historiografia brasileira. Seus livros, desde o pioneiro Rebelião escrava no Brasil, modificaram o estado da arte dos estudos sobre escravidão, sobre rebelião escrava e movimentos sociais, não só no país, mas internacionalmente. Esse pesquisador meticuloso e apaixonado, esse amante dos arquivos, das bibliotecas, dos documentos e dos livros acaba de lançar mais uma obra, um livro já saudado efusivamente em várias resenhas de especialistas no campo dos estudos sobre escravidão, no campo da chamada História Social: Domingos Sodré, um sacerdote africano. O livro se propõe a fazer um exercício de micro-história, pois toma como fio condutor da análise a vida de um africano liberto que viveu na Bahia do século XIX, e a partir da biografia desse ex-escravo que se tornou uma importante figura entre a população africana da cidade, desse sacerdote preso por ser acusado de práticas religiosas heréticas e diabólicas, o autor traça um amplo panorama das intrincadas relações sociais, das relações de poder, das atividades econômicas e culturais vivenciadas pelos libertos, por essa parte da população que, vivendo nas fímbrias do sistema escravista, sendo resultado dele, mas em muitos aspectos a ele se opondo, é pouco levada em conta quando se trata de contar a história da escravidão brasileira. A trajetória do liberto, do papai Domingos Sodré, que provavelmente nasceu em Onim ou Lagos, na atual Nigéria, por volta do ano de 1797, que morreu em 1887, com estimados noventa anos de idade, que deve ter desembarcado na Bahia, como escravo, entre os anos de 1815 e 1820, até por sua longevidade, por ter atravessado quase todo o século e por ter transitado entre as condições de escravo e de homem livre, permite pensá-lo como um sujeito encruzilhada, sujeito que foi se constituindo e se transformando à medida que transitava por distintos territórios sociais e culturais, que elaborou e vestiu distintas máscaras identitárias, que encarnou distintos lugares de sujeito, que entrou em conflito e teve de negociar com distintas forças e personagens sociais, que conviveu, fez parte e recorreu a distintas instituições sociais, tanto formais como informais, que fez parte tanto do mundo dos pretos, da cidade negra, quanto dos brancos, da cidade oficialmente dita branca e aristocrática. Através de sua vida, João Reis tentou acompanhar as pistas que levam àpresença e àprática do candomblé, na Bahia do século XIX, bem como dar conta da dura repressão que ele sofria, em dados momentos, por parte das autoridades policiais e judiciais, e como, ao mesmo tempo, essas práticas conseguiam resistir e sobreviver por terem, muitas vezes, o apoio de membros das elites e até mesmo das próprias autoridades que deviam combatê-las.
No que tange à contribuição deste livro para o estudo da escravidão, da liberdade e do candomblé, outros autores já se manifestaram e não sou eu o mais habilitado para avaliá-la, já que não sou especialista no tema, nem milito no campo da História Social. Os motivos que me levam a resenhar esta obra, a indicá-la, portanto, como leitura obrigatória para todos os historiadores, independentemente do tema com que se ocupem, do campo da disciplina em que militem, é que a considero uma obra exemplar do que seriam, hoje, as regras que presidem a operação historiográfica; considero-a uma obra exemplar na observância dos procedimentos que dariam estatuto científico ao nosso ofício, mas também a considero exemplar no que tange aos impasses, aos dilemas, aos debates acalorados que dividem, nestes dias que correm, a comunidade dos historiadores. Assim como aborda um sujeito encruzilhada, ela é, também, uma obra onde as encruzilhadas em que está colocado nosso ofício emergem com nitidez. Ela é uma obra exemplar do caráter narrativo da historiografia, do papel que a narrativa desempenha na elaboração e inscrição da história; é obra exemplar das artes e artimanhas que são requeridas de todo historiador, na hora que tem de transformar a pilha de documentos compulsados, as inúmeras pistas e rastros encontrados, num enredo que faça toda essa poalha, essa dispersão, fazer sentido; ela é exemplar do uso do que alguns preferem chamar de imaginação histórica, para não dizer o uso da ficção na escrita da história, ficção entendida não como o oposto da verdade ou da realidade, mas como a capacidade poética humana de dotar as coisas de sentido, de imaginar significados para todas as coisas, sentidos que são sempre, em última instância, uma invenção humana, já que as coisas não trazem em si mesmas um único significado, nem gritam ou dizem o que significam. As evidências nem falam, nem são evidentes; elas são levadas a dizer algo por quem as diz, elas são levadas a serem vistas por quem as põe em evidência.
Em várias passagens do livro, o caráter lacunar das fontes, a falta de documentos sobre a vida de Domingos Sodré e o silêncio dos arquivos sobre a vida dos de baixo obrigam João Reis a imaginar, a ficcionar, a tentar adivinhar como poderia ter sido, o que poderia ter acontecido com o papai Sodré e seus companheiros de condição na cidade da Bahia, em tal ano e em tal situação. Ele não se contém em imaginar que papai Domingos poderia ter estado em dado lugar, conhecido alguns de seus vizinhos, participado de dadas cerimônias, conhecido algumas autoridades, tivesse tomado algumas medidas, sabido de dados eventos e notícias, sempre fazendo questão de deixar claro, nesses momentos, como pesquisador sério e honesto que é, que se tratava de viagens ou visagens de sua própria lavra. Imaginação, ficção que na historiografia é limitada pelas próprias informações que se tem, pelo conhecimento que o historiador tem do período que estuda, por aquilo que sabe sobre o funcionamento da sociedade e da cultura que está estudando. Imagina-se o provável, ficciona-se o possível de ocorrer naquele tempo e lugar, com as pessoas que vivem em dada situação social e segundo dados códigos culturais. No entanto, sem essa capacidade de imaginar, sem a habilidade de criar, de inventar sentidos e significados para os restos do passado que chegam até o presente, a historiografia seria impossível. O próprio João Reis admite o parentesco existente entre o historiador e o adivinho. O historiador, às vezes, também tem que ser um papai, tem que jogar os coloridos búzios das significações que acha possível serem dadas a um evento, tem que exercer suas artes divinatórias, deixar a intuição trabalhar, estabelecer ligações entre os eventos que não estão explicitadas na documentação. Afinal, faz certo tempo que os historiadores sabem que os documentos não dizem tudo e que eles são capazes de provar as teses mais díspares, dependendo dos significados que a eles se atribuem, da leitura que deles se faz.
No epílogo do livro, João Reis vai fazer uma afirmação que é muito reveladora da própria consciência que o autor tem da importância da narrativa, da construção do texto para a versão da história que constrói. Estamos muito longe, aqui, de certa visão ingênua de que é possível estabelecer uma versão definitiva dos eventos e que essa seria a verdadeira versão do passado. O autor vai afirmar que se as informações que se tinha sobre um figurão popular como Domingos Sodré eram poucas e esparsas, o que se sabia sobre a vida de Maria Delfina da Conceição, que foi sua esposa por cerca de dezenove anos, era ainda menos expressivo. Essa mulher que acompanhou os passos, que dividiu a vida, a casa e possivelmente a crença com o papai, deixou pouquíssimos rastros de sua passagem pela história. Se soubéssemos mais sobre ela, diz Reis, o enredo dessa história poderia ser diferente. Nessa passagem, o autor admite, explicitamente, que a história que acabou de contar tinha um enredo: ela foi enredada, tramada, os eventos foram interligados por uma atividade narrativa, por uma arte de contar história. Ao contrário do que alguns historiadores ainda supõem, o enredo da história de Domingos não foi descoberto, encontrado pronto nos arquivos pelo historiador baiano. Ele não está no próprio passado, embora este seja uma referência para criá-lo, embora pequenos pedaços de enredos, pequenas tramas, também narrativas, também escritas tenham chegado até nosso pesquisador. O que Reis está afirmando é que o enredo foi feito no presente, por ele, com as informações que encontrou. Se ele afirma que o enredo poderia ser outro, não é que a história em si mesma pudesse ser outra. Sabemos que o passado não pode mais ser alterado pelo simples fato de que passou, mas o enredo poderia ser outro, pois, de posse de outras informações, de informações sobre a vida da companheira de Domingos, ele poderia escrever a história que escreveu de outro modo, o livro poderia ser diferente do que este que está publicado. A estratégia narrativa podia ser outra, outras as personagens, outras as ligações entre os eventos, outras as tramas, outras as explicações e significações.
O livro Domingos Sodré, um sacerdote africano é uma obra modelar no uso das artes, artimanhas e mandingas de nosso ofício, por isso deve ser bibliografia obrigatória nos cursos de metodologia da pesquisa histórica. Nele estão presentes todas as regras que presidem a operação historiográfica e que permitem que nosso ofício reivindique o estatuto científico: a narrativa mediante documentos; a pesquisa ampla e meticulosa de arquivo, onde o autor expõe nosso parentesco com os detetives; a crítica rigorosa das fontes; o concurso de uma ampla bibliografia na área de estudos a que pertence, incluindo desde obras clássicas, até obras mais recentes, trabalhos sequer publicados; um domínio fino da teoria e da metodologia faz com que ela sustente a análise, esteja presente na carpintaria, na estruturação do texto e de todos os passos da pesquisa, sem que precise aparecer atravancando o texto, em digressões que costumam ser xaroposas e pedantes. Essa leveza, essa fluência, essa beleza do texto, que já fez de Reis um autor premiado, é parte desta outra dimensão inseparável da operação historiográfica, aquilo que Certeau nomeou de escrita, a dimensão artística de nosso ofício, a dimensão ficcional que a narrativa histórica convoca. O bom livro de história, o clássico em nossa área não se faz apenas às custas do tema que se escolhe e da pesquisa documental que se faz, pois a história só existe quando escrita, é no texto que ela se realiza, bem ou mal. Afirmo, e talvez ele nem considere isso um elogio, que grande parte do sucesso dos livros de João Reis se deve à forma como são escritos, à sua habilidade narrativa, a despeito de serem todos fruto de exaustiva pesquisa e do estudo metódico e rigoroso de temas inovadores, muitos deles pouco tratados ainda.
João José Reis possui uma consciência da centralidade da narrativa em nosso ofício, como poucos. Seus livros explicitam as estratégias narrativas que escolheu. Domingos Sodré é um livro que, se fôssemos adotar as sugestões de Hayden White, diríamos vazado no enredo romanesco. É uma trama em que embora Domingos opere como uma metonímia de seu tempo, bem a gosto da micro-história italiana, que inspira teoricamente e metodologicamente o livro, ele é descentrado e disperso por uma dezena de outros personagens que vêm ocupar o seu lugar na trama sempre que as informações sobre ele escasseiam. João Reis deixa explícito que irá adotar na narrativa esse procedimento analógico. Como num romance, o livro de Reis não é um livro de teses, embora defenda algumas ideias, aliás faça algumas conclusões, mas estas não aparecem explicitadas, e sim implícitas, imanentes à trama que ele arma. Ele convoca a nós, leitores, a que cheguemos às conclusões antes que ele as exponha, a partir do enredo que ele elabora. Ele homenageia a inteligência dos leitores, jogando no tabuleiro os seus Fás para que a gente os decifre, para que leiamos a mensagem que quer nos fazer chegar. Em vários momentos da obra, a metonímia Domingos é substituída por outros personagens que atuam como se fossem metáforas do velho sacerdote, outros personagens ocupam o lugar desse sujeito e o dispersam, fazendo-o aparecer com diferentes rostos, em diferentes corpos, em diferentes situações, para em seguida, em outro movimento, tal como ocorre com o Menocchio de Carlo Ginzburg, em quem parece se inspirar, deixar de ser um ser singular, único, para ser um sujeito exemplar, um sujeito resumo de seu tempo, de sua sociedade e de sua cultura. Sua figura, que se dispersa num primeiro momento, no segundo momento unifica, homogeneíza, encarna a situação do liberto na Bahia, no século XIX. Em ambas as situações o caráter ficcional do procedimento é notório, para o mau humor do historiador italiano, que não cessa de fazer diatribes azedas contra a presença da ficção no ofício do historiador. Mas sem a ficção não haveria trama, não haveria enredo, não haveria compreensão, não haveria saber histórico. Tanto no momento em que outros libertos vêm agir, se comportar, falar, como Domingos, tanto no momento em que o autor supõe que se um liberto realizava tais práticas, o papai como um liberto que era também possivelmente fazia a mesma coisa, passava pela mesma situação, quanto no momento em que o sacerdote singular, excepcional, tão único que chegou a merecer biografia escrita por outro figurão da cidade, torna-se um representante de todos os libertos, que sua vida se torna similar à de todos de sua condição, que suas práticas de crença se tornam análogas às de outros praticantes desses rituais, é a imaginação, é a ficção, é a capacidade de dar sentido, de raciocinar por imagens, por figuras, de estabelecer configurações, por parte do historiador, que está agindo. É o historiador João Reis que está produzindo esse enredo, essa versão para o passado, a partir de seu olhar: um olhar formado pela disciplina histórica, pelas regras da disciplina, um olhar informado por dados pressupostos teóricos, um olhar informado por dadas posturas políticas, éticas e morais, e, por que não admiti-lo, um olhar constituído por dados códigos estéticos, por uma dada maneira de figurar o mundo, de vê-lo e de dizê-lo, um olhar tropológico, além de ideológico. A história é um saber de encruzilhada entre o fato e a ficção, entre o feito e o contado, entre a ação e a narração, entre o que se vê e o que se imagina, entre o rastro e o sonho, entre o resto e o desejo, entre o que se lembra e o que se esquece, entre o achado e o perdido, entre a fala e o silêncio, entre o signo e a significação, entre o material e o etéreo, entre os homens e todos os deuses.
Portanto, Domingos Sodré, um sacerdote africano é um bom exemplo de como a “história vista de baixo” é uma impossibilidade, já que ela, como todas aquelas escritas por historiadores, é fruto do olhar do historiador e não do personagem que nela é tratado. No livro de João Reis não lemos a história contada do ponto de vista de Domingos, até porque este está morto e quase nada pode nos dizer para além do pouco que ficou registrado, sempre por outras pessoas, pois, como é comum entre os de baixo, na época tratada por Reis, ele era iletrado, e até os documentos que registram sua presença são escritos e assinados por outros. A história é vista por Reis, não por Domingos, embora caiba ao historiador, esta é uma das mandingas do ofício, tentar adivinhar, imaginar, fabular, idear, intuir o que pensava e sentia o papai. Talvez, quem sabe, João Reis até gostaria de ser um cavalo em que viesse se encarnar o papai Domingos, o mandingueiro famoso, mas, nas artes divinatórias da história, quem frequenta essa encruzilhada costuma fazer seus próprios despachos, encomendar seus próprios feitos e contados. João Reis faz, como todas, uma “história vista de cima”, já que, pelo menos até hoje, em nossa sociedade, os historiadores costumam ocupar os estratos considerados superiores da sociedade. É ele quem olha para Domingos do alto de sua sabedoria, de sua posição social, de seu lugar institucional, de seu lugar de classe, de seu lugar de letrado e doutor, de seu lugar de branco, né meu rei! Sobre a vida do velho sacerdote joga sua rede discursiva, o aprisiona em dados sentidos que estão agora à disposição da comunidade de historiadores para que sejam discutidos, debatidos, repensados, refeitos, reabertos a novas interpretações, a novas invenções. Mas, por isso mesmo, o velho mandingueiro baiano virou de vez figurão, passou a fazer parte da história do país, da história desta ignomínia, desta chaga que não pode deixar de ser reaberta para que continue doendo na consciência dos homens que foram capazes e ainda são capazes de perpetrá-la: a escravidão. Só por isso a invocação e a evocação do preto velho, a sua reencarnação narrativa nas páginas deste livro magistral, escrito por um mestre do ofício de historiar, que pode botar banca como seu personagem negro fazia na cidade da Bahia, já é merecedora de elogios e de leitura atenta. E quando tal intenção política e tal postura ética dão origem a uma narrativa primorosa como o deste Domingos Sodré, deve ser motivo de recomendação, não apenas para todos os santos, não apenas para todos os iniciados nas artes e ofícios da historiografia, mas principalmente para os neófitos, os que ainda estão realizando os atos preparatórios para entrar na nossa seita, os que ainda não estão de cabeça feita, que precisam passar pelos rituais de introdução a este fascinante mundo do sacerdócio, por isso mal remunerado, em nome do passado. Aceitem o sorriso convidativo do autor em sua rede e se enredem no fascínio deste livro escrito com competência científica e sensibilidade artística.
Durval Muniz de Albuquerque Júnior – Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Pesquisador CNPq. Departamento de História – Campus Universitário, BR-101, Lagoa Nova. 59078-970 Natal – RN – Brasil. E-mail: durvalal@pesquisador.cnpq.br.
História, metodologia, memória – MONTENEGRO (HO)
MONTENEGRO, Antonio Torres. História, metodologia, memória. São Paulo: Contexto, 2010. Resenha de: BRITO, Fátima Saionara Leadro. História Oral, v. 12, n. 1-2, p. 285-288, jan.-dez. 2009.
Em seu recente livro intitulado História, metodologia, memória, Antonio Torres Montenegro articula uma escrita que rompe com as formas meramente descritivas, por meio das quais o que menos interessa é a construção de significados instaurados na fabricação histórica. Com um amplo conhecimento nos estudos de relatos orais de memória, o autor articula a fala dos sujeitos históricos que vivenciaram o momento estudado – os períodos anterior e posterior ao golpe de 1964 e sua relação com o comunismo – com questões teórico-metodológicas presentes no campo da história, possibilitando, assim, a abordagem do tema, como uma elaboração construída por uma teia risomática, onde as forças são múltiplas e o poder descentrado e destituído de autoria.
Com uma escrita tecida por fios metodológicos presentes nas questões em torno do tema, e preocupado em desnaturalizar os significados postos por meio dos enunciados, sua análise afasta-se dos grandes temas da história e das narrativas historiográficas subordinadas a uma linearidade temporal, na qual o que importa é a apresentação exaustiva de fatos que se sobrepõem um após o outro através de um tipo de abordagem em que está presente a dupla causa-consequência. Desse modo, por meio de sua abordagem, o autor nos apresenta um fazer histórico (não) natural e (não) teleológico, possibilitando ao leitor ter acesso às histórias de vida que, de maneira diversificada, imprimiram suas marcas na construção do comunismo na sociedade brasileira e, em especial, no estado de Pernambuco.
As fontes trabalhadas na obra não estão alheias ao movimento da história. Desse modo, cordéis, prontuários médicos, registros de batismos, a literatura, a fotografia, os relatos orais, entre outras fontes que vêm sendo abordadas pelos historiadores nas últimas décadas, não se fizeram presentes na produção historiográfica do século XIX. A concepção de verdade presente naquele período era outra e estava, sobretudo, atrelada aos domínios de uma visão científica: o historiador articulava sua escrita por meio dos registros oficiais, nos quais a Verdade saltava aos olhos do pesquisador e, como tal, não necessitava ser questionada, pois esses registros significavam a prova do acontecimento e o historiador, aquele que tinha legitimidade de revelar a verdade neles contida.
Nesse sentido, é apenas no momento em que a história se distancia das ciências ditas positivistas, que se criam condições para a produção de um território teórico-metodológico, no qual os documentos não são mais considerados apenas pelas informações que fornecem, mas, principalmente, pela sua articulação discursiva e pelas suas condições de produção.
É nesse território que as fontes trabalhadas por Montenegro se situam, pois elas não existem em si, tampouco revelam uma verdade sobre os acontecimentos, mas são, sobretudo, resultado de uma elaboração produzida pelo próprio autor, possuindo um caráter provisório e mutável, sempre abertas às novas questões.
Esse trajeto de elaboração das fontes históricas está presente na discussão que perpassa o capítulo intitulado “Rachar as palavras: uma história a contrapelo”. Nele, o autor faz uma análise da física a partir de pensadores como Einstein, Newton e Descartes, para em seguida observar como se situa o campo da história e das demais ciências, pensando a relação da história com seu objeto e problematizando a forte ligação que esta possui com a ideia de verdade. Reconstrói, portanto, o percurso metodológico pelo qual passou a história em meio às ciências do século XVIII e XIX, abordando a construção do lugar do saber histórico. Sua análise caminha no sentido de desconstruir as verdades em torno dos fatos e dos objetos, num contínuo exercício de fazer “rachar as palavras”, desconstruindo a naturalidade de significados existente entre o signo e a coisa.
Montenegro estabelece em seguida uma discussão sobre memória. Para ele a memória está em constante movimento, pois ao mesmo tempo que os sujeitos históricos rememoram, também analisam e reelaboram suas percepções. Nesse sentido, as lembranças não são mimeses, ou seja, não constroem a realidade passada, trazendo-a para o presente tal qual aconteceu, mas como pensava – Marcel Proust – representam um meio de aprendizado. O autor alerta para que jamais se pense a memória ou a percepção como reflexo ou cópia do mundo, mas como atividade e como trabalho ininterrupto de ressignificação do presente ou, ainda, como leitura a partir de um passado que se atualiza.
É por meio dos fios da lembrança que a obra desse autor nos possibilita o acesso às vidas errantes de personagens que ajudaram a construir a imagem, o medo, os anseios e as lutas em torno do comunismo em Pernambuco. Trata-se de um combate, por meio das palavras, que se instaura, a princípio no encontro entre dois sujeitos, o entrevistador e o entrevistado, e é do choque desse encontro que flui uma história singular, uma história entre tantas outras possíveis, pois, como pensava Marc Bloch a história “é feita de combates” e de encontros.
Os narradores produzem uma maquinaria discursiva, na qual as dobras, as fugas, as piruetas, os silêncios contornam as histórias narradas. Desse modo, os relatos orais de memória, postos por meio de histórias de vida, são diluídos pelo autor, que de maneira minuciosa tal qual um artesão, busca juntamente com outras fontes, dar cores e sentidos a essa maquinaria oral. Esse exercício de artesão em muito se distancia do trabalho do psicólogo, que busca encontrar a verdade do sujeito presente de forma oculta em seu relato. Distante disso, o trabalho do artesão-historiador procura dar movimento e fluidez ao relato, não tendo como propósito a busca de uma verdade que se revelaria por meio de sua arguição, mas da elaboração de sentidos de verdades e dos desejos e afetos que são resultados das experiências de vida e do encontro do entrevistador com o entrevistado.
A partir da construção dessas lembranças, muitas delas elaboradas por personagens religiosos oriundos de alguns países da Europa e dos Estados Unidos vindos para o Brasil com a missão de combater o comunismo, o espiritismo e o protestantismo, podemos ter acesso a experiências de vida fortemente ligadas às lutas sociais e políticas no Nordeste. São relatos que possibilitam enriquecer a abordagem feita ao longo do livro, tendo em vista que algumas dessas experiências não deixaram registros escritos, portanto estão situadas nas práticas ordinárias e cotidianas às quais apenas os relatos orais possibilitam o acesso.
No capítulo “Labirintos do medo (1950–1964)”, Montenegro faz um apanhado historiográfico sobre o comunismo, principalmente a discussão sobre 1964 publicada em 2004, 40 anos após o golpe. Analisa ainda ideias, imagens e discursos acerca do medo com base em autores franceses clássicos como Georges Lefebvre e Jean Delemeau, os quais, mesmo situados em outro lugar e em outro tempo, ajudaram a pensar sobre a experiência do medo do comunismo. Nesse momento, o autor mostra como se produziu a ideia do medo. Segundo ele, este se processou através de uma elaboração feita por diversas instituições da sociedade, como alguns setores da Igreja Católica e a imprensa. Trata-se de uma abordagem teórico-metodológica que privilegia a arquitetura discursiva na qual se elabora sentidos de verdade sobre um determinado tema, neste caso o medo do comunismo.
Desse modo, atravessam toda a obra relevantes discussões sobre memória, sobre o tempo – presente/passado –, sobre relatos orais, fontes, a importância da memória para o estudo da vida ordinária, entre outras, que permitem aos pesquisadores dos relatos orais de memória o contato com um trabalho minucioso de elaboração das fontes para a construção do trabalho historiográfico e, sobretudo, o contato com uma importante discussão metodológica a respeito dessas e de outras fontes.
Fátima Saionara Leandro Brito – Mestranda em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
História: a arte de inventar o passado | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
Durval Muniz Albuquerque Jr. Foto: TV Afiada /
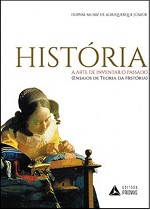 O livro História: A arte de inventar o passado, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, é a reunião de 16 artigos do autor sobre a escrita da história, ou mais precisamente, sobre o ofício do historiador na contemporaneidade.
O livro História: A arte de inventar o passado, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, é a reunião de 16 artigos do autor sobre a escrita da história, ou mais precisamente, sobre o ofício do historiador na contemporaneidade.
O livro foi dividido em três partes: na primeira parte, o autor estabelece as relações da história com a literatura e o lugar (ou lugares) que os mesmos ocupam; na segunda parte, dedica-se a refletir sobre as idéias de Michel Foucault e sua pertinência para o trabalho historiográfico e na terceira parte, Durval agrupou seis ensaios, que embora tenham temas diferentes, têm como eixo a reflexão sobre a escrita (ou escritas) da história.
O autor abre o livro com uma belíssima introdução na qual primeiramente fala da recorrência cada vez maior da palavra invenção em várias áreas do saber e de como essa assinala uma mudança paradigmática. A partir daí, o autor estabelece uma analogia entre o ofício do historiador e “a terceira margem do rio”1 do conto de Guimarães Rosa. Segundo Durval, entre as celeumas criadas em torno da História Social versus História Cultural, localizando a História Social ao lado da materialidade, da objetividade, da realidade do fato histórico e a História Cultural ao lado do simulacro e do discurso, o historiador, com a ajuda da literatura, deveria se posicionar em uma terceira via, uma terceira margem. Leia Mais
O fio e os rastros. Verdadeiro, falso, fictício – GINZBURG (VH)
GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros. Verdadeiro, falso, fictício. Tradução de Rosa Freire d’Aguiar e Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, 454 p. ROIZ, Diogo da Silva. O labirinto da realidade, os princípios da História e as regras da historiografia. Varia História. Belo Horizonte, v. 25, no. 41, Jan. /Jun. 2009.
Do labirinto de que nos fala o mito (em que Teseu recebe de Ariadne um fio que o orienta pelo labirinto, onde encontrou e matou o minotauro) aos labirintos da realidade, que nos conduz a História e a sua escrita (em função da condição sempre fragmentária dos documentos e dos relatos), as distâncias (a)parecem, até certo ponto, intransponíveis para se determinar o princípio de realidade que deu base e originou cada uma daquelas diferentes narrativas (míticas e históricas). Mas essa condição de distanciamento entre o mito e a história talvez seja apenas aparente. É o que indicou Georges Balandier, em seu livro O dédalo, ao avaliar o processo de elaboração e manutenção de um mito no tempo e interpretar as mudanças drásticas, rápidas e sutis das sociedades (em especial, as contemporâneas), que lhe foi ensejada por meio da análise do mito do labirinto, não deixando de demonstrar as relações e as trocas complexas que se estabeleceriam entre o mito e a história ao longo do tempo. Sem ser indiferente a essa questão, Carlo Ginzburg se pautou no discurso do mito do labirinto, ao apreender a rica metáfora do “fio do relato, que ajuda a nos orientarmos no labirinto da realidade” (p.7), e sua relação com os infindáveis rastros, que as sociedades do passado nos legam em formas (definidas como) documentais. Nessa relação, entre os fios do relato e os rastros do passado, que os historiadores procurariam, de acordo com o autor, contar histórias verdadeiras (ainda que estas possam manter ligações estreitas com o falso), ao construir seu objeto de pesquisa e expor seus resultados sob a forma de uma narrativa, mesmo que peculiar. Para ele, hoje as relações entre verdadeiro, falso e fictício parecem muito mais tênues do que o foram para os historiadores oitocentistas.
Por isso argumenta, entre os quinze ensaios reunidos neste livro (e que foram produzidos entre 1984 e 2005), que há poucos decênios os historiadores passaram a dar maior atenção ao caráter construtivo e dinâmico de sua escrita, componente básico de seu ofício profissional. Alguns rastros dessa história recente do ofício de historiador formam o enredo principal deste livro, que se entrelaçam com a trajetória do autor, porque “a mistura de realidade e ficção, de verdade e possibilidade, est[iveram] no cerne das elaborações artísticas deste século” (p.334) e contra “a tendência do ceticismo pós-moderno de eliminar os limites entre narrações (…) ficcionais e narrações históricas, em nome do elemento construtivo que é comum a ambas, eu propunha considerar a relação entre umas e outras como uma contenda pela representação da realidade”, que seria matizada por “um conflito feito de desafios, empréstimos recíprocos, hibridismos”. Mas para enfrentar tal desafio não era possível se enclausurar em “velhas certezas”, era sim “preciso aprender com o inimigo para combatê-lo de modo mais eficaz” (p.9). Para o autor desse O fio e os rastros, a contenda apontada acima estaria no cerne dos debates desencadeados, desde os anos de 1950, sobre o ofício de historiador, no qual verdadeiro, falso e fictício ganhariam contornos mais híbridos, ao se desfazerem as distinções até então aceitas entre elas, e que se tornaram totalmente enfadonhas para a compreensão do passado, de acordo com a interpretação ‘cética’, dita pós-moderna.
Desde que publicou Olhos de madeira, Relações de força e Nenhuma ilha é uma ilha,1 que Carlo Ginzburg vem, cada vez mais, avançando em sua crítica ao desafio cético sobre o aspecto construtivo do texto histórico, que ao ser apresentado como um discurso narrativo, a crítica pós-moderna o assemelhou ao texto literário, desfazendo, com isso, as distinções até então em voga e que calcavam no primeiro a pretensão à verdade (em função da utilização de fontes documentais, com os quais os historiadores presumiriam reconstituir o passado) e ao segundo a liberdade de criação imaginativa. Neste novo livro, o autor acrescenta os seguintes pontos: a) contar e narrar, servindo-se dos rastros do passado, para escrever histórias verdadeiras continua a ser um dos princípios do ofício dos historiadores; b) as relações entre as narrações históricas e as narrações ficcionais, ora se aproximando, ora se distanciando, é uma contenda que constitui, ao longo do tempo, uma disputa pela representação da realidade, na qual historiadores e romancistas mais se distanciaram do que aproximaram suas narrativas; c) a imposição da tese que descarta a possibilidade de as narrativas históricas apresentarem (ou falarem de) uma realidade, mas sim de quem deixou os indícios que são utilizados como fontes, desaperceberia o caráter profundo mantido nos documentos (mesmo os não autênticos) sobre “a mentalidade de quem escreveu esses textos” (p. 10); d) por isso, ler os testemunhos do passado a contrapelo, como sugeria Walter Benjamin, até para levar em consideração aquilo que não intencionavam expor quem os redigiu “significa supor que todo texto inclui elementos incontrolados” (p.11); e) e, diante das relações entre ficção e realidade, se estabeleceria um espaço representado pelo falso, “o não-autêntico – o fictício que se faz passar por verdadeiro” (p.13), que, de fato, confirmaria-se à existência de uma realidade exterior ao próprio texto; f) nesse sentido, “destrinchar o entrelaçamento de verdadeiro, falso e fictício que é a trama do nosso estar no mundo” (p.14), não deixaria de ser uma das pretensões do ofício dos historiadores (quanto ainda de outros profissionais, mesmo que o façam de formas análogas). E foi seguindo as pistas deixadas pela obra póstuma de Marc Bloch, Apologia da história ou ofício de historiador, que o autor destes ensaios procurou entrelaçar seus textos numa nova defesa da História e de sua escrita. De Lucien Febvre (1878-1956), que figura constantemente em sua obra Relações de força (que é um debate aberto contra a crítica pós-moderna ao ofício de historiador), a Marc Bloch (1886-1944), que aparece neste texto como figura chave, os elos que se estabeleceram durante a trajetória do autor se apresentam de uma forma mais direta com a historiografia francesa. Mas não só com ela, pois, em função de suas origens familiares e educacionais, o autor manterá um débito direto com Arsenio Frugoni (1914-1970), Eric Auerbach (1892-1957), Walter Benjamin (1892-1940) e Arnaldo Momigliano (1908-1987). Além de uma exposição minuciosa sobre o desenvolvimento do ofício dos historiadores e suas contendas, este livro apresenta também o entrelaçamento e os débitos de Ginzburg para com os autores arrolados acima.
Já nos comentários feitos (no apêndice deste livro) à obra O retorno de Martin Guerre, de Natalie Zemon Davis, o autor aproveita para fazer de modo sutil, e até inesperado, uma revisão crítica aos apontamentos expostos por Hayden White, a partir de seu ensaio O fardo da história (publicado em 1966), ao ofício dos historiadores. Mas ao invés de refazer simplesmente o caminho pelo qual White sugeriu os contornos da divergência entre cientistas sociais e críticos literários aos historiadores, quando estes propunham que sua narrativa estaria em um nível médio, epistemologicamente neutro, de a história que escreviam estar entre a ciência e a arte, Ginzburg propôs seu ajuste de contas, demonstrando as relações instáveis que mediariam as trocas recíprocas, nas estratégias narrativas utilizadas tanto por historiadores, quanto por romancistas (e filósofos), a partir do século XV. E ainda, como sugeriu o autor, o leitor poderá ver nestes ensaios produzidos a partir da década de 1980, a gênese do projeto intelectual que deu origem aos textos reunidos neste livro. Por isso, não será por acaso, que se encontre desenvolvida entre os ensaios a proposta de mostrar “como resumos de fatos de crônica mais ou menos extraordinários e livros de viagem a países distantes contribuíram para o nascimento do romance e – através desse intermediário decisivo – da historiografia moderna” (p.319). Um intento justificado ainda pelo fato de o século XX vislumbrar de modo exemplar “a mistura de realidade e ficção, de verdade e possibilidade”, e que esteve “no cerne das elaborações artísticas deste século” (p.334).
Por outro lado, a divergência apontada por White não era recente. Ginzburg demonstra que desde que o gênero histórico surgiu há pouco mais de dois milênios, que as divergências entre o discurso histórico, o literário e o filosófico são recorrentes. Por implicarem, cada qual a seu modo, representações da realidade, filósofos e romancistas acabaram dando pouca atenção ao trabalho preparatório da pesquisa elaborada pelos historiadores, e estes, por sua vez, dedicaram pouca atenção ao caráter construtivo de seu ofício, ao qual é demarcado por uma escrita, que é mediada por uma forma narrativa (ainda que peculiar). De acordo com ele, nas “últimas décadas, os historiadores discutiram muito sobre os ritmos da história [tendo a obra de Fernand Braudel (1902-1985) como base]; [mas] pouco ou nada, o que é significativo, sobre os ritmos da narração histórica” (p.321), com a qual se avolumaram críticas internas (dos próprios historiadores, hávidos por responderem aos céticos) e externas (vindas de críticos literários e filósofos). Por isso, a “crescente predileção dos historiadores por temas (e, em parte, por formas expositivas) antes reservados aos romancistas (…) nada mais é que um capítulo de um longo desafio no terreno do conhecimento da realidade” (p.326). Nesse sentido, Ginzburg responderá a indagação de White (e de François Hartog) se apoiando em Arnaldo Momigliano, ao dizer que:
A recusa, essencialmente relativista, de descer a esse terreno faz da categoria ‘realismo’, usada por White, uma fórmula carente de conteúdo. Uma verificação das pretensões de verdade inerente às narrações historiográficas como tais implicaria a discussão dos problemas concretos, ligados às fontes e às técnicas da pesquisa, a que os historiadores tinham se proposto em seu trabalho. Se esses elementos são desdenhados, como faz White, a historiografia se configura como puro e simples documento ideológico (p.327).
O que ressaltará Ginzburg, lembrando Momigliano, de que os historiadores trabalham com fontes, “descobertas ou a serem descobertas”, e as ideologias contribuem “para impulsionar a pesquisa, mas (…) depois deve ser mantida à distância” (p.328), para que seja mantido o princípio de exposição da realidade, que está na encruzilhada entre a busca da verdade e a criação imaginativa, a que os historiadores estariam, de certo modo, ‘enclausurados’. Esse princípio condicionaria a interligação de todos os momentos do trabalho historiográfico (“da identificação do objeto à seleção dos documentos, aos métodos de pesquisa, aos critérios de prova, à apresentação literária”), aos quais, a redução “unilateral desse entrelaçamento tão complexo à ação imune a atritos do imaginário historiográfico, proposta por White [em Meta-história, de 1973] e por Hartog [em O espelho de Heródoto, de 1980], parece redutiva e, no fim das contas, improdutiva”. Foi precisamente graças aos atritos suscitados pelo princípio de realidade “que os historiadores, de Heródoto em diante, acabaram apesar de tudo se apropriando amplamente do ‘outro’, ora em forma domesticada, ora, ao contrário, modificando de forma profunda os esquemas cognoscitivos de que haviam partido” (p.328). Em resumo, este seria o ponto que uniria os outros quinze ensaios reunidos pelo autor neste livro, e demonstrariam como ao longo do desenvolvimento do ofício de historiador ocorreriam trocas recíprocas no campo estilístico (e, em menor proporção, expositivo dos dados) utilizados pela história, pela literatura e pela filosofia. Embora haja uma interligação entre os textos, verificável facilmente pela maneira como o autor os organizou, tendo em vista uma ordem cronológica crescente de apresentação dos dados do passado e do presente, esta não é totalmente linear como se verá. Ainda assim, dois princípios expositivos seriam plenamente visíveis: a) a do desenvolvimento do método histórico e suas trocas recíprocas com a literatura e a filosofia; b) e, neste movimento complexo, estabeleceria o lugar específico de sua obra nesta contenda, e como se posicionou durante essas últimas décadas. Para ele, a “questão da prova permanece mais que nunca no cerne da pesquisa histórica, mas seu estatuto é inevitavelmente modificado no momento em que são enfrentados temas diferentes em relação ao passado, com a ajuda de uma documentação que também é diferente” (p.334).
Ao evidenciar, no primeiro ensaio, que constatamos como reais os fatos contados num livro de história, como resultado do uso de elementos contextuais e textuais, o autor voltou-se com maior atenção para os textuais, com os quais historiadores antigos e modernos se utilizaram, e por estarem ligados a certos procedimentos literários, que por convenção presumiam estabelecer um ‘efeito de verdade’, em sua narrativa tida como parte essencial de seu ofício. Na Antiguidade Clássica esse componente textual (que daria um ‘efeito de verdade’ no relato escrito), relacionava-se a estratégia então usada de descrever ‘com vividez’ os acontecimentos. Os elos que se estabeleciam neste exercício (narração histórica – descrição – vividez – verdade) constituíam a base da escrita da história na época. Contudo, enquanto neste período, para gregos e para romanos, a verdade histórica se fundava na ‘vividez’ com que os eventos eram narrados, para nós, modernos, o autor dirá que esse efeito é encontrado por meio da utilização e interpretação dos documentos. Para ele, a historiografia moderna nasceria da convergência entre duas tradições intelectuais diferentes, a história filosófica e a pesquisa sobre a Antiguidade. Segundo ele, Momigliano teria notado o início desta mudança, no relato e na prática de pesquisa, no século XVII. Mas Ginzburg a verá no século anterior, por meio da interpretação da obra do italiano Francesco Robortello (1516-1567), que teve, de acordo com o autor, a sensibilidade de descrever parte daquelas alterações. Ao estabelecer o diálogo de Robortello com seus contemporâneos e com os autores da Antiguidade, Ginzburg acredita que demonstrou as raízes de um complexo problema, no qual surgiria à historiografia moderna, ao se distanciar das evidências puramente estilísticas e retóricas, que dariam maior vividez aos acontecimentos narrados, e dar maior atenção às “citações, notas e sinais lingüístico-tipográficos que as acompanham podem ser considerados – como procedimentos destinados a comunicar um efeito de verdade – os equivalentes” (p.37) da ‘vividez’ (a enargeia) na Antiguidade. E que estava ligada a uma cultura baseada na oralidade e na gestualidade, na qual a vividez do relato comunicaria a ‘ilusão’ da presença do passado. Já as citações e as remissões ao texto estarão ligadas a uma cultura dominada pelos gráficos e centrada na escrita, e o passado seria, portanto, “acessível apenas de modo indireto, mediado” pelos documentos. Para o autor foi graças “sobretudo à história eclesiástica e antiquária, [que] a prova documental (…) impôs-se sobre a” (p.38) mera evidência narrativa alcançada pela ‘vividez’ do relato.
A maneira como o francês Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) recolheu de suas experiências de viagem e de suas leituras os ingredientes fundamentais para a elaboração de seus ensaios é, para o autor, um caso exemplar, por que: a) demonstra como nos séculos XV e XVI eram construídas as relações entre ‘brancos’ europeus e ‘índios’ americanos, e, sobre isso, como o autor d’Os ensaios (cuja primeira edição é de 1580) a refez; b) e este transitou entre a ‘vividez’ do relato e a remissão a textos, para a comprovação de seus argumentos (no terceiro ensaio).
O diálogo entre ficção e história (exposto no quarto ensaio) ganhará mais envergadura no século XVII, quando em 1647 na cidade de Paris, Jean Chapelain (1595-1674) passou a avaliá-la em seu texto Sobre a leitura de velhos romances (cuja primeira edição póstuma foi publicada em 1728), ao ter como base o romance Lancelot. A maneira como François de La Mothe Le Vayer (1588-1672), a partir de 1646, tomará partido nesta questão dará ao ensaio um tom detetivesco, principalmente, ao destacar que “uma das tarefas da história é a exposição daquilo que é falso” (p. 90). Para Ginzburg:
Nesse caso, portanto, a distância crítica com respeito à matéria tratada não é obra de Diodoro mas dos seus leitores, sendo o primeiro de todos La Mothe Le Vayer. Para ele a história se nutria não só do falso mas da história falsa – para usar mais uma vez as categorias dos gramáticos alexandrinos retomadas polemicamente por Sexto Empírico. As ficções (…) referidas, e partilhadas, por Diodoro podiam tornar-se matéria de história. Chapelain, que dava um desconto à veracidade de Lívio, entendeu a argumentação do Jugement às ficções (…) de Homero e de Lancelot: ambas poderiam tornar-se matéria de história (p.91).
Mais ainda:
A fé histórica funcionava (e funciona) de modo totalmente diferente. Ela nos permite superar a incredulidade, alimentada pelas objeções recorrentes de ceticismo, referindo-se a um passado invisível, graças a uma série de oportunas operações, sinais traçados no papel ou no pergaminho, moedas, fragmentos de estátuas erodidas pelo tempo, etc. Não só. Permite-nos, como mostrou Chapelain, construir a verdade a partir das ficções (…) a história verdadeira a partir da falsa (p.93).
A partir da análise do milanês Girolamo Benzoni (1519-1570) em A história do novo mundo (de 1565), e suas implicações perante a compreensão do xamanismo e do uso de produtos entorpecedores na Europa, Ginzburg procurou demonstrar, ao relacioná-la a História geral e natural das Índias de Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), cuja primeira edição foi publicada em 1535, e aos débitos comuns destes autores para com Pomponio Mela e Solino sobre os trácios e Máximo de Tiro sobre os cita, que estão, por sua vez, relacionados a Heródoto, não deixa de ser tão surpreendente, quando se visualiza as possíveis raízes mongólicas e orientais dos rituais xamânicos dos citas, cujos autores do século XVI os aproximaram do xamanismo americano. Com isso, o autor observa que o “episódio interpretativo que reconstruí com minúcia talvez excessiva pode ser considerado quase banal: não a exceção, mas a regra” (p.111) para a construção e compreensão de qualquer processo histórico, que é matizado por testemunhos e esquecimentos, trocas recíprocas e inovações (algumas vezes até inesperadas).
A leitura de Eric Auerbach empreendida em Mímesis (obra pioneira, cuja primeira edição foi publicada em 1946) sobre Voltaire, é refeita por Ginzburg (no sexto ensaio) para demonstrar os contextos de ambos os autores e seus respectivos textos, suas leituras e seus débitos, com vistas a indicar como o estranhamento era uma estratégia estilística que Voltaire, inspirando-se em Swift, utilizava-se para propor uma representação sobre a realidade de sua época, na qual a diversidade cultural e religiosa, começava a ser homogeneizada, em função da ação da economia e do mercado mundial. Tal questão demonstraria as metamorfoses sobre a maneira com que Voltaire compreendeu a tolerância, e a forma como Auerbach a despercebeu em sua época.
O texto de Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795) sobre a Viagem do jovem Anacársis à Grécia (de 1788) foi utilizado pelo autor (no seu sétimo ensaio) para demonstrar a inatualidade de sua estratégia narrativa, que não foi “nem um tratado sistemático de antiquariato, nem uma narrativa histórica” (p.146), mas teve uma inspiração direta nos antiquários, verdadeiros e falsos, e não nos historiadores que começavam a falar da realeza e de sua autoridade. Mesmo procurando documentar as indicações de seu texto (com mais de 20 mil notas, como lembrará Ginzburg), o trabalho de Barthélemy, em sua “híbrida mescla de autenticidade e ficção” procuraria superar os limites da historiografia existente. Mas durante seu processo de elaboração surgiria um outro texto, Declínio e queda do Império Romano, de Edward Gibbon (1737-1794), que se utilizaria da mesma cultura antiquária que inspirou Barthélemy, e a complementaria com outros elementos, como as idéias filosóficas de sua época, e que o tornariam o fundador da historiografia moderna “por ter sabido fundir antiquariato e história filosófica” (p.153). Nesse sentido, o caminho tomado por Barthélemy, que “propunha a fusão entre antiquariato e romance”, foi uma estratégia, em longo prazo, perdedora, e hoje, para o autor, inatual, mas que nem por isso deixaria de ser “um antepassado involuntário [da etnografia histórica, prática] de antropólogos ou pesquisadores, mais próximos de nós” (p.153).
Para contornar as críticas pós-modernas “de abolir a distinção entre história e ficção” (p.157) ele partiu (no oitavo ensaio) de um caso analisado em escala microscópica, para “decifrar a identificação de Julien Sorel com Israël Bertuccio à luz dessa leitura verossímil” (p.159), da obra, Marino Faliero, de George Gordon Byron (1788-1824), escrita em 1820, para chegar a conclusões análogas. O que na época Lord Byron (forma como era mais conhecido) via como a análise de ‘fatos reais’, para nós pertenceriam ao mundo da ficção literária, mas “justamente porque é importante distinguir entre realidade e ficção, devemos aprender a reconhecer quando uma se emaranha na outra” (p.169). Nesse caso, o exemplo de Marino Faliero permitiria que se observassem os contornos entre realidade e ficção, e as mudanças que se operaram nessa relação, nas primeiras décadas do século XIX, quando a historiografia moderna passará a circunscrever e circunstanciar as regras do método histórico, e a delinear as restrições e diferenças da escrita da história sobre a criação ficcional dos romances.
Ainda seguindo por esses rastros, o autor verá o desafio lançado por Henri-Marie Beyle (1783-1842), mais conhecido como Stendhal, aos historiadores em seu ‘romance’ O vermelho e o negro, que era “uma representação pontual da sociedade francesa sob a restauração” (p.178), e que será, depois, visto como uma construção (puramente) literária, não deixa de ser também um caso exemplar (quando cotejou seu processo de elaboração e a possível data de sua conclusão e publicação). Em especial, porque mostra como o ‘discurso direto livre’ foi descartado pela pesquisa histórica, por não deixar, por definição, traços documentais. Por isso, “um procedimento como o discurso direto livre, nascido para responder, no terreno da ficção, a uma série de perguntas postas pela história, pode ser considerado um desafio indireto lançado aos historiadores” e ao qual o autor acrescenta: “Um dia eles poderão aceitá-lo de uma maneira que hoje nem conseguimos imaginar” (p.188).
No rastro da interpretação de Eric Hobsbawm, em sua autobiografia Tempos interessantes (publicada em 2002), na qual indica uma transição subterrânea em processo, tal qual a que ocorreu durante o período de 1890 a 1970, entre os procedimentos da história dos eventos políticos para a história social, em função das críticas efetuadas pelos historiadores ‘modernizadores’ sobre os ‘tradicionais’ que se deu àquela mudança epistemológica, que Ginzburg se voltará para a gênese da micro-história italiana (no décimo terceiro ensaio). Por Hobsbawm o ter inserido dentro da análise pós-moderna, crítica quanto aos procedimentos da história, que este irá reconstituir o desenvolvimento da micro-história italiana, com vistas a demonstrar que mesmo inserido neste campo de estudo (e não na macro-história econômica e social, defendida por Hobsbawm) não deixou de refutar as críticas dos céticos, pós-modernos. Por isso refez o caminho trilhado pela micro-história, desde os anos de 1970, quando com Giovanni Levi passaram a discutir a questão. Ao mesmo tempo indicou a gênese do termo ‘micro-história’ no campo das ciências humanas. De George R. Stewart (que primeiro se utilizou da noção em 1959) a Luis González y González (que a usou em sua obra Uma aldeia em tumulto em 1968), perpassando pelas obras de Raymond Queneau, Primo Levi, Ítalo Calvino, Andréa Zanzotto, Richard Cobb, Emmanoel Le Roy Ladurie, François Furet e Jacques Le Goff, as reviravoltas das discussões sobre a compreensão do termo foram diversas. E a maneira pela qual a micro-história italiana se desenvolveu foi diversa e independente da maneira como ocorreram as discussões na Inglaterra e na França.
Dito isto, convém destacar que ao lado desta reconstituição da história do ofício de historiador, o autor insere um conjunto significativo de exemplos, para discutir as bases da pesquisa histórica, e responder e refutar as críticas pós-modernas à escrita da história (ao rever os conceitos de verdade, autenticidade, testemunho, provas, documento, narrativa, cientificidade e realidade). Da conversão dos judeus (cap.2) de Minorca em 417-8, que se seguiu à chegada das relíquias de santo Estêvão, descritas por Peter Brown em O culto aos santos (de 1981); as relações (apresentadas no cap.10) entre o Diálogo no inferno entre Maquiavel e Montesquieu de Maurice Joly (lançado anonimamente em Bruxelas em 1864) e os Protocolos dos sábios de Sião, de 1903, em que uma “refinada parábola política se transformou numa tosca falsificação” (p.209); aos testemunhos individuais que expressavam a única versão sobre acontecimentos traumáticos emitida pelo sobrevivente, o princípio de realidade é o centro da discussão (no cap.11); a maneira como Siegfried Kracauer, em sua obra póstuma História: as últimas coisas antes das últimas, lançada em 1995, na qual o autor estabelece uma reconstrução dinâmica e recíproca entre história e fotografia (e cinema) (no cap.12); até as discussões sobre as proximidades e diferenças entre o inquisidor e o antropólogo na coleta e organização dos testemunhos (cap.14), e as relações entre a feitiçaria e o xamanismo (cap.15), o que se verá será uma discussão que, no rastro da obra póstuma de Bloch, demonstrará, na contramão da crítica pós-moderna, que o princípio de realidade ainda constitui um campo legítimo da pesquisa histórica, e em seu processo construtivo, continua a manter uma ligação estreita entre verdade e provas.
Naturalmente, que pelo que até aqui foi dito, muitos poderão acusar Carlo Ginzburg de ser um (mero) atualizador dos antiquários dos séculos XVII e XVIII. Que seu método expositivo é impreciso, às vezes exagerado, ao apontar continuidades e descontinuidades milenares entre diferentes posturas teóricas, ou entre certos costumes, formas de agir e pensar, dos homens e das mulheres de outrora, como já indicou Perry Anderson,2 ressaltando que a “explicação que ele oferece é convencional e descuidada – pouco mais do que referências genéricas” (p.88). Ao empreender sua resposta ao desafio ‘cético’, dito ‘pós-moderno’, Carlo Ginzburg alerta para a necessidade de maior precisão do método e das pesquisas documentais, as quais favoreceriam a elaboração das ‘provas’, quando expostas em uma narrativa. Talvez seja o que indica, ao dizer que sabendo “menos, estreitando o escopo de nossa investigação, nós esperamos compreender mais”3 Contudo, seu método não passou ileso, mesmo entre os historiadores profissionais,4 o que não quer dizer que sua contribuição tenha sido irrelevante,5 tanto para a renovação dos estudos históricos, quanto para o desafio lançado pela ‘virada lingüística’, nos anos de 1960 e 1970, e que ele avança ainda mais neste livro.
1 GINZBURG, C. Olhos de madeira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. [ Links ] 2 ANDERSON, P. Investigação noturna: Carlo Ginzburg. In:. Zona de compromisso. Tradução Raul Fiker. São Paulo: Edunesp, 1996, p.67-98. [ Links ] 3 GINZBURG, C. Latitudes, escravos e a Bíblia: um experimento em micro-história. Revista Artcultura, UFU, v.9, n.15, p.86, 2007. [ Links ] 4 ANDERSON, P. Investigação noturna: Carlo Ginzburg, p.67-98. [ Links ] 5 LIMA, H. E. A micro-história italiana: escalas, indícios e singularidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. [ Links ]
Diogo da Silva Roiz– Doutorando em História da Universidade Federal do Paraná. Rua Tibagi, n. 404, Edifcio Aruanã, ap. 100, Centro, Cep. 80060-110. Curitiba/PR. diogosr@yahoo.com.br.
Entre a tinta e o papel. Memórias de leituras e escritas femininas na Bahia (1870-1920) – BARREIROS LEITE (CP)
BARREIROS LEITE, Márcia Maria da Silva. Entre a tinta e o papel. Memórias de leituras e escritas femininas na Bahia (1870-1920). Salvador, Quarteto, 2005. Resenha de: COSTA, Suely Gomes. Um encontro com Hans-Georg Gadamer e com muitas mulheres. Cadernos Pagu, Campinas, n. 32, Jan./Jun 2009.
O livro em pauta, originalmente tese de doutorado em História (PUC-São Paulo), sob orientação da historiadora Maria Odila Leite da Silva Dias, situa, oportunamente, revisões historiográficas abertas pelos debates contemporâneos sobre o tempo histórico, o discurso e a representação do e sobre o passado, a narrativa e a linguagem do historiador; enfim, sobre tudo aquilo que tem agitado os métodos da história. De especial interesse para a história das mulheres e das relações de gênero, o texto move-se “entre certezas e inquietude”, como observa Chartier (2002), quanto às tentativas intelectuais que “colocam no centro de seu método as relações que mantêm os discursos e as práticas sociais”. Ao trazer experiências femininas na cultura letrada da Bahia, entre 1870 e 1920, o livro associa a inquietude sobre a produção do conhecimento no âmbito das ciências humanas a certezas sobre a oportunidade de perseverar na crítica aos grandes modelos explicativos, que ainda rondam a produção da história das mulheres. A autora enfrenta, sem temor, os conhecidos desafios do ofício do historiador, por entender que “o passado sempre é o olhar do presente”; para desocultá-lo, apóia-se no senso histórico, modo de refinar sua sensibilidade de pesquisadora, tomando o passado “a partir do próprio contexto em que ele emerge”, como lhe sugere Gadamer (1998:18).
Voltada, em particular, para questões relativas à história das mulheres e aos estudos de gênero, a autora se afasta das construções genéricas, da noção de sujeito universal e, assim, localiza singularidades históricas pouco conhecidas. Isso porque escolhe um método de análise que, tanto é “capaz de pensar a complexidade do problema da consciência histórica, quanto também de desenvolver e instigar um pensamento mais plural, com vista à interpretação de passados múltiplos” (18) – grifo da autora. O livro prova, à farta, o quanto determinados canônes, ainda presentes numa certa história das mulheres, insistem numa presumida “condição feminina”, assentada em sistemáticas oposições de homens e mulheres e no forte legado da noção universal e abstrata de patriarcalismo (Piscitelli, 2004; Costa, 2004). Desmonta, pois, imagens correntes sobre mulheres brasileiras de todos os tempos, representadas como figuras esmaecidas e fugidias, submissas, de imprecisos contornos intelectuais, predestinadas a prendas domésticas, a habilidades para “artes menores” e para o trato da intimidade pensada sem qualquer sinal político, ou quando, diante de algumas outras, portadoras de idéias próprias, “pessoas de opinião” ou, transgressoras de certas “regras sociais”, as pensa como mitos. Como parte dos mesmos cânones ou reforçando-os, acumulam-se representações em relação ao inexorável poder dos homens sobre as mulheres. Em perspectivas como essas, é comum que veleidades intelectuais femininas sejam vistas como inexoravelmente submetidas a impedimentos ou desencorajamentos postos pelos homens. Ao contrário disso, o livro sugere, nas situações estudadas, relações de cumplicidade de homens e mulheres, que também favorecem uma considerável circulação de livros, periódicos e cartas, redes de bibliotecas privadas e públicas. Tais referências sobre acessos das mulheres à leitura e à vida intelectual ampliam as dimensões políticas do cotidiano familiar e expõem complexidades culturais pouco pensadas; a abordagem desse cotidiano se reconstrói e confirma a relevância de pesquisas voltadas para a história regional, recorte espacial que dá visibilidade a configurações singulares da presença de mulheres intelectuais na vida social. Lidando com maestria com uma enorme quantidade de fontes, a autora faz emergir a leitura e a escrita de mulheres intelectuais de Salvador, das cidades do recôncavo e do sertão baiano, e oferece ao seu leitor muito das sensibilidades, matéria plural ainda tão invisível, com que se tecem sociabilidades de cada tempo e lugar.
Na “Introdução” do livro, a autora faz uma cuidadosa exposição de caminhos percorridos de pesquisa: para as questões historiográficas enfrentadas, releva seu encontro com Gadamer e com mulheres baianas intelectuais, das quais se ocupa. Distingue o perfil dessas mulheres: “senhoras e senhorinhas da elite, educadas e instruídas dentro de modelos de letramento e socialização de códigos de cultura vigentes”. Não só: apresenta-nos mulheres, cujas experiências intelectuais “produziram e registraram uma memória coletiva acerca das relações entre os sexos no contexto em estudo”. Cuida bem para afastá-las do risco de serem enquadradas como mitos ou exceções, e as exibe em carne e osso, através de uma infinidade de registros – biografias, memórias, escritos literários, cartas, fotografias e periódicos.
Seguem-se quatro capítulos. A autora os agrupa em duas partes. Na primeira (Capítulo 1 – “História da leitura e leitoras baianas: práticas culturais e perfis femininos”; Capítulo 2 – “Os espaços e as experiências de leitura feminina: a aventura do livro”), os “atos de ler” estão nos espaços da casa, tomados como lugares de sociabilidades intelectuais, nem sempre visíveis nos estudos sobre brasileiras letradas. Além de recorrer às memórias de Anna Ribeiro de Góes Bittencourt, autora de Longos Serões do Campo, numa narrativa familiar, o texto examina escritos literários de cunho autobiográfico de Anna Teófila Autran, desvendando muito das relações da vida íntima com a pública, quando associa as práticas de leituras à circulação de livros, disponíveis em academias, institutos, grêmios, gabinetes, associações, bibliotecas, livrarias e escolas. Localiza a intensificação da vida literária da Bahia que, numa conjuntura de auge, entre 1850 e 1870, conta com o aparecimento de aproximadamente cinqüenta revistas e periódicos literários e científicos. Romances, artigos de jornais, livros de memórias, poesias, escritos por mulheres – fontes vistas em sua dimensão pública, marcam a presença feminina no mundo das letras, um lugar, em geral, pensado como estritamente masculino. Nessa parte, ao apoiar-se ainda nas experiências de cultura letrada de outras mulheres, traz à baila muito das sociabilidades intelectuais. Remete, assim, a algo destacado por R. Gontijo (2005:260) sobre a existência de uma sociabilidade peculiar a esse meio, “reconhecido como polimórfico e polifônico”, indagando “de que modo o meio intelectual produz sua especificidade?” (251), com base em preocupações de Trebitsch (1992). Imagens emblemáticas de auto-representações como intelectuais estão nas fotografias de mulheres, em posição de leitura ou com um livro nas mãos. Essas mesmas imagens se associadas a reproduções de algumas capas de livros e de textos publicados, estimulam a pensar as sociabilidades intelectuais femininas, naquela dupla acepção referida por Sirinelli (2003): “a de rede organizacional e a de microclima” de tantas surpresas. Isso está presente, também, na segunda parte do livro (Capítulo 3 – “O fazer literário das baianas: práticas de escrita” e Capítulo 4 – “A imprensa e as mulheres baianas: periodismo e redes de solidariedade”). Aqui, memórias, escritos biográficos, correspondência de mulheres, preservados, em grande parte, em arquivos privados, além de produções literárias e jornais e revistas, ajudam a ampliar o cenário dessas sociabilidades intelectuais; discursos e práticas sociais de homens e mulheres sugerem a dinâmica social em que se move o processo de tomada de consciência de gênero na segunda metade do século XIX e que deixa, ainda, como marca, caminhos específicos de lutas femininas por educação e cidadania. Trata-se de uma leitura que estimula e faz pensar novas iniciativas de pesquisa em direção a áreas ainda tão encobertas da história das mulheres.
Referências
CHARTIER, R. À beira da falésia. A história entre certezas e inquietude. Porto Alegre, Ed. Universidade/UFRGS, 2002 [Trad.: Patrícia. C. Ramos] [ Links ].
COSTA, Suely G. Movimentos feministas, feminismos. Estudos Feministas, vol 12 /Especial, Florianópolis, CFH/CCE/UFSC, 2004, pp.23-36. [ Links ]
GADAMER, Hans-Georg. Problemas Epistemológicos das Ciências Humanas. In FRUCHON, Pierre. (org.) O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro, Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1998. [ Links ]
GONTIJO, R. História, cultura, política e sociabilidade intelectual. In: SOIHET, R., BICALHO, Maria Fernanda B., GOUVÊA, Maria de Fátima S. Culturas políticas: ensaios de história cultural, história política e ensino de história. Rio de Janeiro, Mauad, 2005. [ Links ]
PISCITELLI, Adriana. Reflexões em torno do gênero e feminismo. In: COSTA, Claudia Lima e SCHMIDT, Simone Pereira. (orgs.) Poéticas e políticas feministas. Florianópolis, 2004. [ Links ]
RAMOS, Alcides Freire; PATRIOTA, Rosangela e PESAVENTO, Sandra Jatahy. Imagens da História: objetos da História Cultural. São Paulo, Editora Hucitec, 2008. [ Links ]
SIRINELLI, Jean-François. Os intelectuais. In: RÉMOND, R. Por uma história política. 2ª ed. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2003 [Trad.: Dora Rocha] [ Links ].
TREBITSCH, Michel. Avant-propos: la chapelle, le clan et le microcosme. Les Cahiers de l’Instintut d’Histoire du Temps Présent – Sociabilités intellectuelle, nº 20, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, mars, 1992. [ Links ]
COSTA, Suely Gomes.- Doutora em História, Professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e de História da Universidade Federal Fluminense, Campus do Gragoatá. suelygom@oi.com.br.
[MLPDB]
Crônica, memória e história: formação historiográfica dos sertões da Bahia – NEVES (RHR)
NEVES, Erivaldo Fagundes. Crônica, memória e história: formação historiográfica dos sertões da Bahia. Feira de Santana: UEFS Editora, 2016. Resenha de: MARTINS, Flavio Dantas. Revista de História Regional, v.24, n.1, p.213-221, 2019.
O livro Crônica, memória e história: formação historiográfica dos sertões da Bahia1, do professor da Universidade Estadual de Feira de Santana Erivaldo Fagundes Neves, a principal referência para pesquisa em história dos sertões da Bahia, é um livro esperado para aqueles que acompanham a produção do autor. Erivaldo Neves já havia abordado o tema de teoria e metodologia da história regional2, que complementava e desenvolvia argumentos apresentados em texto sobre corografia e historia regional.3 Crônica, memória e história abrange estes estudos e contempla as incursões do autor aos temas da escravidão4, história regional e local7 desde o período colonial, passando pelo império e república, até a produção contemporânea. Além de um exaustivo levantamento bibliográfico, o trabalho é um comentário desenvolvido para o longo percurso de textos históricos apresentados.
A obra tem um prefácio do professor Paulo Santos Silva da UNEB, uma introdução, considerações finais e se divide em três partes, i) leituras sobre a colonização dos sertões baianos, ii) as crônicas, memórias e histórias sobre os mesmos no império e primeira república e iii) as perspectivas historiográficas posteriores a 1930, todas subdivididas em seções. Crônica, memória e história se justificaria por várias razões, mas julgamos duas de vulto: a tipologia apresentada para um extensivo levantamento de textos sobre os sertões baianos que abrange cinco séculos e a história do pensamento histórico sobre um tema que se desenvolve desde crônicas e memórias até uma historiografia técnica e disciplinar produzida em programas de pós-graduação em história de universidades. A polissemia do livro revela a paciência com a qual o mesmo foi gestado: o livro é resultado de um projeto de 25 anos que se desdobrou em outros trabalhos do autor, cuja obra é referência para uma geração de historiadores dos sertões baianos que lhe seguiram e que retornaram ao livro como exemplares de novas perspectivas historiográficas.
Vamos às partes. A primeira delas recua para crônicas, registros históricos e memórias coloniais sobre os sertões baianos. Aqui a produção textual que versa sobre o tema se confunde com a escrita da história no período colonial e são comentados Gabriel Soares de Souza, frei Martinho de Nantes, André Antonio Antonil, Miguel Pereira da Costa, Joaquim Quaresma Delgado, Sebastião da Rocha Pita, Luiz dos Santos Vilhena, entre outros. Além da exegese dos trabalhos destes autores no tocante ao que escreveram sobre os sertões baianos, Erivaldo Neves embasa seus comentários na historiografia contemporânea que investiga temas correlatos.
A segunda seção aborda os trabalhos escritos no Império sobre a colonização, se detém especialmente em estudo das memórias históricas e políticas da Província da Bahia de Ignácio Accioli de Cerqueira da Silva. Para Erivaldo Neves, faltam obras abrangentes com a pretensão do trabalho de Ignácio Accioli e a já datada e importante reedição comentada de Braz do Amaral demandaria uma nova edição crítica desse texto fundamental para a história da Bahia e dos seus sertões, bem como de sua importância como empreendimento historiográfico.
A seguir, Neves trata das obras históricas sobre a colonização dos sertões produzidas na primeira república. É uma seção que inicia com a análise da obra de João Capistrano de Abreu, e Basílio de Magalhães. O autor destaca a importância do discurso histórico do bandeirante teve na historiografia sobre os sertões baianos devido a centralidade paulista na primeira república. O historiador Pedro Calmon é abordado como alguém que dialogará com o pensamento histórico paulista, sobretudo a partir dos anos 1920, no tema do bandeirantismo, entre outros de sua vasta obra. Neves também analisa a obra de Urbino Viana. É desse período, destaca o autor, que começa uma repetição de “informações sem origem conhecida” retiradas das obras de Francisco Borges de Barros12.
Na seção posterior Erivaldo Neves apresenta as leituras históricas sobre a colonização entre as décadas de 1930 e 1960, levando em conta o contexto de produção, a recepção que fazem dos trabalhos que lhes precederam, sua inovação, sobretudo conceitual e metodológica e dialogando com a bibliografia contemporânea sobre o tema. Nesse período surge um gênero novo de escrita, chamada pelo autor de memória histórico-descritiva de municípios baianos. São analisadas mais detidamente as obras de Pedro Celestino da Silva sobre Caetité, Lycurgo de Castro Santos Filho sobre a fazenda Campo Seco em Rio de Contas. Nesse período, em decorrência da profusão, Erivaldo Neves analisa com mais atenção obras que representaram inovação teórica e metodológica, caso do estudo de Santos Filho que é uma história do cotidiano de uma fazenda no sertão riquíssima em dados empíricos graças à excepcionalidade dos registros particulares que teve acesso. É desse período em que pautas como a questão Nordeste e a questão hidráulica de aproveitamento do rio São Francisco ganham importância, e o pensamento histórico regional floresce.
São testemunhos dessa época de busca por definições regionais, embora sejam produções às vezes demasiado frágeis em termos metodológicos e empíricos, alguns estudos apresentados no Congresso de História da Bahia13 ou dos trechos sobre história dos municípios nos verbetes da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros do IBGE14
No última seção da primeira parte, Erivaldo Neves trata das elaborações historiográficas sobre a colonização posteriores a 1970. Nesse período marcado pela profissionalização da historiografia, pelo aumento quantitativo da produção, pelas modificações dos enfoques temáticos que deixam de lado a prioridade sobre a nação, a região e o município, surgem novas abordagens teóricas e metodológicas e uma profícua historiografia sobre os sertões baianos do período colonial, embora ainda relativamente limitada se comparados com outros períodos. Nesse capítulo, Erivaldo Neves resenha uma profusão de dissertações e teses que revelam os enfoque plurais que as inovações da pesquisa historiográfica permitiram no tratamento do passado colonial dos sertões.
A segunda parte do livro do livro trata da produção de pensamento histórico sobre o império e a primeira república. Erivaldo Neves inicia com uma seção sobre as crônicas e memórias históricas produzidas durante o período. Aborda autores como Tranquilino Leovigildo Torres, Gonçalo de Athayde Pereira, João Paulo da Silva Carneiro, Francisco Borges de Barros e mesmo a inusitada memória de Anísio Teixeira sobre o sertão. A análise de Francisco Borges de Barros é importante porque Erivaldo Neves identifique nele a fonte para vários autores posteriores que tomaram suas metáforas como fatos – por exemplo, Antonio Guedes de Brito ter sido o regente do São Francisco – ou mesmo reproduzirem suas afirmações sem embasamento documental. O autor desenvolve uma discussão sobre os desenvolvimentos teóricos e metodológicos da ciência histórica no império e na primeira república, o desenvolvimento institucional e as influências dos autores que trabalharam nesse período sobre o sertão baiano, destacando o IHGB e o IGHB.
Na seção seguinte, Neves trabalha com as crônicas e memórias produzidas após 1930 sobre os sertões baianos do período imperial e da primeira república. Ele destaca a influência da retórica euclidiana nas construções narrativas. Aí são analisados Wilson Lins, Marieta Lobão Gumes,
Flávio Neves, Helena Lima Santos, Mozart Tanajura e Pedro Pereira e seus escritos sobre o médio São Francisco, Caetité, Brumado e Livramento. Depois, Neves trata da historiografia posterior a 1930 e destaca a importância inicial, de Caio Prado Júnior. São analisados os trabalhos de Walfrido de Moraes, Américo Chagas, Fernando Machado Leal, todos sobre a Chapada Diamantina, e destaca o estudo de Eul-Soo Pang sobre o coronelismo baiano15. A seguir, uma profusão de artigos, teses e dissertações é comentada pelo autor – a seção tem o total de 76 páginas – agrupando-as em textos sobre coronelismo e poder local, economia, ocupação, desenvolvimento de comunidades rurais e municípios, conflitos sociais, entre outros temas. A novidade é o desenvolvimento de programas de pós-graduação em história, inicialmente em Salvador, mas não só já que muitos trabalhos foram desenvolvidos em outras universidades, e posteriormente nos programas de pós-graduação nas universidades estaduais sediadas em Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus, além de cursos universitários de história em Vitória da Conquista, Alagoinhas, Itabuna, Conceição do Coité, Jacobina, Eunapólis, alguns deles com mestrados interdisciplinares que abrangem pesquisa histórica ou mestrado em história. Neves destaca a importância da interiorização do ensino universitário para a pesquisa histórica.
A terceira parte do livro trata das perspectivas historiográficas posteriores a 1930 sobre os sertões da Bahia. A primeira seção aborda as crônicas, memórias históricas sobre o período posterior a 1930 e inicia com algumas páginas sobre da questão do rio São Francisco a partir das memórias de Manoel Novaes, recuperando outros estudos sobre o rio desde o século XIX – como Orvile Derby, Teodoro Sampaio – passando pelos contemporâneos de Novaes como Geraldo Rocha e Wilson Lins. Em outra seção, Neves analisa os estudos técnicos sobre o período posterior a 1930 com destaque para pesquisadores oriundos dos Estados Unidos, como Rollie Poppino, Charles Wagley, Donald Pierson em colaboração com pesquisadores brasileiros como Thales de Azevedo, Eduardo Galvão e Luiz Antônio da Costa Pinto. Também são abordados estudos técnicos da Comissão de Planejamento Econômico da Bahia e pesquisas acadêmicas sobre o período.
As duas últimas seções abordam os fundamentos historiográficos entre o período 1930 e 1970 e as perspectivas historiográficas desde 1970, destacando a profissionalização da pesquisa histórica, o desenvolvimento de programas de pós-graduação e a diversificação e sofisticação conceitual e metodológica ocorridas no campo. Mais uma vez, Neves analisa livros, artigos, dissertações, teses e outros tipos de trabalho, especialmente as crônicas e memórias que não cessam de aparecer, mas se desenvolvem em paralelo à pesquisa acadêmica, sobre temas diversos como independência, escravidão, ocupação, modernização, família escrava, negros no pós-abolição, redes familiares, religião, cotidiano, vida material, relações de gênero, poder local, secas, mineração, identidades nos sertões baianos, entre outros temas.
Percebemos algumas questões importantes que podem ser levantadas pelo livro de Erivaldo Neves. Primeiro, a problemática do sertão, investigada não só pelos historiadores, mas também pela literatura e antropologia. Percebemos no exaustivo levantamento do autor, considerado “introdutório” pelo mesmo16 a crescente mudança que há entre o sertão pelo olhar estrangeiro, especialmente na colonização e no império, quando os produtores de textos são estranhos aos espaços objeto do discurso, e o sertão que fala de si, sobretudo no século XX, com destaque para a crescente lavra feita por historiadores oriundos dos sertões, caso do próprio Erivaldo Neves. Embora seja um dos temas fundamentais do pensamento nacional e há muita gente que ainda o aborda numa perspectiva exógena, inclusive autores que nasceram nas áreas consideradas sertanejas, a pesquisa de Erivaldo Neves parece indicar uma transição de uma identidade atribuída para uma identidade reivindicada. Quando a identificação de sertão e sertanejo é exógena, os sertanejos são simplórios, violentos, incivilizados – incivilizáveis para alguns autores -, exóticos, folclorizados e romantizados. Com a proliferação dessa identidade reivindicada, a fala de dentro do sertão aos poucos vai abandonando os estereótipos herdados dessa literatura anterior, sobretudo os euclidianos, e vai ganhando complexidade, sofisticação, contradição e conflito. O final da linha é o desaparecimento do sertão e a multiplicação dos sertões cada vez menos sertanejos e mais barranqueiros, catingueiros, brejeiros, alto-sertanejos, geraizeiros, quilombolas, serranos, chapadenses entre outros. O trabalho particular, sobre o pensamento histórico acerca dos sertões baianos, permite uma formulação de uma hipótese geral, a transição entre a identidade atribuída ao outro pelo olhar estrangeiro para uma identidade reivindicada – que reconstrói-se numa diversidade de formas a partir das atualizações dos conflitos – pelos olhares de dentro do sertão.
Essa transição ocorre, na hipótese aqui levantada a partir da análise de Crônica, memória e história de Erivaldo Fagundes Neves, pela apropriação por parte dos sujeitos internos aos sertões, inicialmente das classes médias e abastadas, posteriormente das classes subalternas, daquilo que Johann Michel chama de tecnologias discursivas de si17.
A partir de uma síntese das contribuições de Michel Foucault e Paul Ricoeur, Michel define a tecnologia discursiva de si como a capacidade de formulação de uma identidade narrativa individual ou coletiva a partir de uma configuração poética que inova ao mesmo tempo em que se utiliza do acervo cultural disponível para o autor enquanto leitor e agente do mundo. Daí a importância decrescente de Euclides da Cunha para as identidades narrativas reivindicadas que em algum momento, em alguns textos e autores, reproduzem estereótipos, mas devido a influências externas, terminam por criticá-los e expurgá-los das definições de sertão. Erivaldo Neves destaca que as primeiras elaborações do século XX eram influenciadas pela retórica euclidiana, mas ela perde relevo à medida em que as novas produções, sobretudo as acadêmica, se ancoram em conceitos, teorias e metodologias produzidas na disciplina da história e em outros campos do conhecimento, o que contribui para a complexificação e sofisticação dos sertões como objeto de estudo histórico. Com isso não pretendemos que a produção historiográfica seja apenas entendida como uma expressão identitária. Ao contrário, é a história que é demandada pela identidade narrativa de modo que aquela lhe fundamente, isso ocorre tanto no sentido de demandar um modo de escrita, quanto na própria interpretação realizada na leitura da obra. Quando poucos podiam escrever e dispunham de poder de representar os outros que não podiam ser representados, aí tínhamos uma identidade atribuída no sentido de estabelecimento de características homogêneas a grande grupo humano. Com o desenvolvimentismo da historiografia e com a democratização da escrita, as novas produções historiográficas implodiram a identidade do sertão e do sertanejo. No lugar do idêntico, estabeleceram o diverso e substituíram o local pelo universal, o singular pela pluralidade. Ao mesmo tempo, negar a existência de vínculos entre essa produção historiográfica interna dos sertões e processos de luta e resistência que passam pela reivindicação de identidades e busca por reconhecimento – não mais representadas por outros, mas capazes de se representar – seria ocultar uma das forças motrizes da demanda por novas histórias que são as transformações do presente que exigem novas narrativas.
É possível, graças à tipologia da pesquisa de Neves, perceber como mesmo os primeiros sertanejos que produzem isso que chamamos de identidade reivindicada, já no século XX, como Geraldo Rocha, Anísio Teixeira ou Wilson Lins, eram oriundos dos grupos dominantes daquilo que em outro estudo Neves chamou de “oligarquia fardada”18
Com o passar dos anos, acessam ao universo da produção escrita da história novos sujeitos, de classe média rural e urbana, mas também das classes populares. A sofisticação e diversificação da escrita sobre o passado dos sertões vem também da mudança dos sujeitos que a escrevem, agora destacando-se mulheres, mas também filhos e netos dos vaqueiros, remeiros, quilombolas, trabalhadores rurais e das pequenas cidades e vilas.
O livro também instiga uma reflexão conceitual importante. Neves define a crônica como “registro de fatos em ordem cronológica”, recurso muito utilizada no período colonial para a produção de conhecimentos sobre os sertões para fins políticos e administrativos da Coroa19
Ao contrário, memória já é um conceito mais problemático. Neves a define como “capacidade intelectual fundamentada em um conhecimento que permite sistematizar informações, através das quais se podem atualizar impressões ou saberes do passado, tanto individuais quanto coletivos”.20
A dificuldade reside em utilizar o termo que define uma faculdade mental para designar um gênero de escrita da história distinto da história ou historiografia – mais técnicas e institucionalizadas, digamos assim – e da crônica. O uso do termo memorialista, para designar um escritor que produz textos que não são nem história, nem crônica, dá uma definição mais precisa que a utilização de memória para o gênero, mas não exclui a problemática de encaixar textos individuais na tipologia. Para textos distanciados no tempo, podemos perceber principalmente um registro escrito do passado a partir de uma memória individual e/ou coletiva, sem esmero técnico ou metodológico com pretensões objetivas para além da verdade do testemunho, mas o mesmo não pode ser dito para textos produzidos mais recentemente. Com o surgimento de um campo disciplinar da história e um mercado editorial de nicho, muitos escritores que preocupam-se em registrar suas histórias municipais a partir de uma memória individual e coletiva terminam por ler de forma assistemática obras históricas e realizarem pesquisas documentais. Se esses textos não podem ser considerados historiografia devido à ausência do crivo dos pares – geralmente os memorialistas lançam obras com edição do autor – por meio de bancas, congressos ou avaliação em periódicos ou por pareceristas anônimos, não é possível dizer que estes alguns desses textos não obedecem a certa “operação historiográfica”, já que há pesquisa de documentos, confronto de testemunhos e uso de metodologias ou conceitos explicativos. Daí, talvez, tratarem-se de memórias híbridas com a história acadêmica, para além de testemunhos ou registros de memórias comunitárias compartilhadas – ainda que selecionadas às conveniências dos interesses e da visão de mundo do autor. Todavia, isso trata-se apenas de um levantamento de hipótese a partir da leitura do livro de Neves e não da identificação de uma lacuna. Apenas pesquisas mais pormenorizadas desse gênero poderiam confirmar essa afirmação. Outra dificuldade adicional é que o termo memória, utilizado para gênero de escrita, tem o problema de não distinguir um registro de testemunho pessoal ou familiar de uma pretensa história municipal.
Memória, crônica e história local de Erivaldo Fagundes Neves é uma contribuição relevante para a história da historiografia e obra que deve se tornar referência para pesquisadores dos mais diversos campos que tenham os sertões baianos – ou fronteiriços – como objeto de estudo.
Notas
2 NEVES, Erivaldo Fagundes. História regional e local: fragmentação e recomposição da história na crise da modernidade. Feira de Santana: UEFS; Salvador: Arcádia, 2002.
3 NEVES, Erivaldo Fagundes. Narrativa e interpretação: da corografia à história regional e local. In ARAÚJO, Delmar Alves de; NEVES, Erivaldo Fagundes; SENNA, Ronaldo de Salles. Bambúrrios e quimeras (olhares sobre Lençóis: narrativa de garimpos e interpretações da cultura. Feira de Santana: UEFS, 2002.
4 NEVES, Erivaldo Fagundes. Escravidão, pecuária e policultura: Alto Sertão da Bahia, século XIX. Feira de Santana: UEFS Editora, 2012 , ocupação territorial5 5 NEVES, Erivaldo Fagundes. Estrutura fundiária e dinâmica mercantil: Alto Sertão da Bahia, séculos XVIII e XIX. Salvador: EDUFBA, 2005. , caminhos coloniais6 6 NEVES, Erivaldo Fagundes; MIGUEL, Antonieta (org.). Caminhos do sertão: ocupação territorial, sistema viário e intercâmbios coloniais nos sertões da Bahia. Salvador: Arcádia, 2007.
7 NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio (um estudo de história regional e local). 2 ed. Revista e ampliada. Salvador: EDUFBA; Feira de Santana: UEFS Editora, 2008. , cultura8
8 NEVES, Erivaldo Fagundes. O Barroco: substrato cultural da colonização. Politeia: História e sociedade. Vitória da Conquista, 2007, vol. 7, n. 1. , sertão9
9 NEVES, Erivaldo Fagundes. Sertão recôndito, polissêmico e controvertido. KURRY, Lorelai Brilhante (org.). Sertões adentro: viagens nas caatingas séculos XVI a XIX. Rio de Janeiro: Andrea Jakobson, 2012 , história da família, pecuária10
10 NEVES, Erivaldo Fagundes (org.). Sertões da Bahia: formação social, desenvolvimento econômico, evolução política e diversidade cultural. Salvador: Arcádia, 2011. e historiografia11
11 NEVES, Erivaldo Fagundes. Perspectivas historiográficas baianas: esboço preliminar de elaborações recentes e tendências hodiernas de escrita da História da Bahia. In: OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos (org.); REIS, Isabel Cristina Ferreira dos (org.). História regional e local: discussões e práticas. Salvador: Quarteto, 2010.
12 NEVES, Crônica, memória e história, op. cit. p. 100.
13 IGHB – Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Anais do Primeiro Congresso de História da Bahia. Salvador: Tipografia Manú Editora Ltda, 1955. 5 volumes.
14 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Rio de Janeiro: Edição do IBGE, 1957. 36 volumes.
15 NEVES, op. cit. p. 211.
16 NEVES, op. cit. p. 15,
17 MICHEL, Johann. Sociologie du soi – essais d’herméneutique appliquée. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2012. p. 60.
18 NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio (um estudo de história regional e local). op. cit. .
19 NEVES, Crônica, memória e história, op. cit. p. 18 .
20 NEVES, Crônica, memória e história, op. cit. p. 16.
Flavio Dantas Martins – Doutorando em História pela Universidade Federal de Goiás. Professor do Centro das Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E-mail: flaviusdantas@gmail.com.
Reconstrução do Passado – Teoria da História II: os princípios da pesquisa histórica | Jörn Rüsen
É inconteste que o grosso calibre do arsenal historiográfico estrangeiro importado pelo mercado editorial brasileiro é constituído por pesquisas oriundas da historiografia francesa, nossa maior referência em se tratando de estudos históricos. Entretanto, as reflexões historiográficas originárias na atmosfera intelectual alemã também encontram grande receptividade dentre os historiadores brasileiros, prova disso é a retumbante proliferação dos trabalhos de Jörn Rüsen no Brasil. Nos últimos anos, a editora da Universidade de Brasília, através do professor Estevão de Rezende Martins, propiciou à nossa comunidade acadêmica a tradução, para a língua portuguesa, da vigorosa trilogia de Jörn Rüsen, denominada de Grundzüge einer Historik (Esboço de uma teoria da história), composta pelas obras: Historische Vernunft (Razão Histórica)1 , publicada no Brasil em 2001; além de Rekonstruktion der Vergangenheit (Reconstrução do Passado)2 e Lebendige Geschichte (História Viva)3 , estas derradeiras oferecidas ao público brasileiro em 2007.
Tencionando atualizar a tradição intelectual da Historik e desenvolvendo profundos estudos sobre os trabalhos teóricos de Droysen, Rüsen vem dedicando-se à reflexão sobre os princípios que fundamentam o pensamento histórico, dando ênfase aos processos históricos de formação da moderna ciência da história e à apropriação do conhecimento histórico no contexto da vida social, naquilo que cunhou como “função didática da história”. Por intermédio do construto teórico denominado de “matriz disciplinar”, Rüsen apresenta um sistema de teoria da história, cuja amplitude reside na análise dos complexos problemas que envolvem a prática profissional dos historiadores: desde o polêmico vínculo entre conhecimento histórico e vida humana prática, até a complexa relação entre pesquisa e escrita da história. Leia Mais
Um historiador fala de teoria e metodologia: ensaios | Ciro Flamarion Cardoso
Produzida pelo professor/pesquisador Ciro Flamarion Cardoso, Um historiador fala de teoria e metodologia: ensaios, nos fornece uma ampla discussão no que se refere à teoria da História. Ao dialogar com diferentes tendências historiográficas, o autor promove uma série de debates em torno da questão de como se “fazer História”.
Com sua postura marxista, acredita que a História só possa ser interpretada através das condições materiais que compõem cada sociedade e não pela consciência, linguagem ou religião que cada uma possui. Apóia as primeiras gerações dos Annalles por privilegiarem as estruturas e a longa duração, refutando veementemente o positivismo por restringir-se apenas à história factual e a curta duração. Leia Mais
Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción – FRANCO; LEVÍN (IA)
FRANCO, Marina; LEVÍN, Florencia (Compiladoras). Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós, 2006. 352p. Resenha de: RÚA, Santiago Cueto. Intersecciones en Antropología, Olavarría, n.9, ene./dic., 2008.
Historia Reciente, libro compilado por Marina Franco y Florencia Levín, tiene en principio dos objetivos: por un lado, intervenir en el campo historiográfico con la voluntad de que la historia cercana se legitime como disciplina; y por el otro, reflexionar en torno al pasado reciente y a las distintas formas en que se lo ha abordado en nuestro país.
El libro se propone como parte de un escenario de dos escalas distintas: a nivel global, refiere a la novedad de los estudios de historia reciente, cuyos orígenes datan de mediados del siglo pasado, y están ligados a las experiencias traumáticas europeas; a nivel nacional, esa particularidad se suma a ciertas dificultades que la historiografía ha tenido para estudiar nuestro pasado cercano, a diferencia del recorrido que ya tienen otros desarrollos académicos como por ejemplo la sociología o las ciencias políticas.
Las compiladoras proponen trabajar a través del diálogo con otras disciplinas y con otros actores/ protagonistas extra académicos de ese pasado. Esta intención se materializa en el libro, dado que está compuesto por una serie de artículos que comparten una orientación temática, pero no más que eso. Es decir, su riqueza está precisamente en que su objeto, la historia reciente, es analizado desde distintas miradas: historia, educación, sociología, antropología y ciencias políticas. El conjunto de textos plantea problemas sumamente dispares, y los analiza con enfoques diversos.
Dada esta particularidad, la reseña se ve obligada a distinguir ciertos temas que recorren el texto, aún a riesgo de ocultar otros, cuando no de omitir el mismo tratamiento para todos los trabajos. Por ese motivo se resaltan tres ejes: 1. el vínculo entre historia y memoria;2. la tensión entre compromiso y distanciamiento por parte de los investigadores; 3. el tratamiento de las fuentes.
Historia y memoria
Varios de los autores (Franco y Levín; Traverso; Sábato) coinciden en que el vínculo entre historia y memoria suele ser pensado desde dos polos que no ayudan a comprender bien la cuestión. El primero, asociado a perspectivas “positivistas”, rechaza la memoria por subjetiva y poco confiable. El segundo, coloca a la memoria en un lugar de privilegio tal, que pretende borrar sus diferencias con la historia.
En el capítulo escrito por las compiladoras “El pasado cercano en clave historiográfica” se señala que la articulación correcta permite vincular la historia y la memoria como dos discursos sobre el pasado con regímenes distintos de legitimación; la primera está asociada a la veracidad, y la segunda a la fidelidad. Desde la historia se puede corregir la memoria, pero no se la debe invalidar, porque allí aflora la subjetividad. El historiador debe servirse de la memoria sin rendirse ante ella. Ese riesgo se corre, señalan las autoras, cuando se sobrelegitima la voz de los testigos. El relato debe por un lado, ponerse en diálogo con otras fuentes, y por otro, historizarse para reconocer lo decible y lo indecible de determinados momentos históricos. Se evita de este modo fetichizar el testimonio.
Enzo Traverso, cuyo trabajo se titula “Historia y memoria. Notas sobre un debate”, señala que otra de las vinculaciones entre estas formas de acercamientoal pasado surge a partir de mediados del siglo XX, a través de la presencia social permanente de la memoria “como religión civil” y la obligación de los historiadores de hacerse cargo de ello. Este autor marca diferencias entre ambas, pero no para distanciarlas sino para ponerlas en interacción. La memoria es subjetiva, no necesita pruebas para quien la porta; se modifica con el tiempo; es una visión del pasado siempre mediada por el presente. La historia, que surge de la memoria, también se escribe desde el presente, pero pasa por otras mediaciones. Para constituirse como campo del saber debe emanciparse de la memoria, aunque no rechazarla; comprenderla, pero no someterse a ella. El historiador debe pasar la memoria por un tamiz objetivo, empírico, documental y fáctico.
Hilda Sábato por su parte, en “Saberes y pasiones del historiador”, agrega otro matiz a este vínculo. Según esta autora la memoria se asocia a la búsqueda y construcción de identidades, mientras que la historia se desembaraza de ese trabajo. Sin embargo, esto no supone que sus tareas sean opuestas sino complementarias. De este modo puede llevarse a cabo una puesta en cuestión mutua que favorezca el mejor acercamiento al pasado. Algo semejante señala Kaufman (“Los desaparecidos, lo indecible y la crisis”) para quien el trabajo del historiador no sólo no se opone al del testigo, portador de memoria, sino que ambos se retroalimentan.
Sergio Visacovsky muestra, en “Historias próximas, historias lejanas”, de qué forma entre la historia y la memoria puede entrometerse la etnografía, como una manera de acercarse al pasado que parte de las perspectivas de los actores, y del modo en que estos elaboran la linealidad temporal. Como se ha dicho, la memoria es una mirada del presente que construye y reconstruye el pasado. El autor muestra que el pasado no es lineal y es reestructurado de acuerdo a los problemas del presente
En el trabajo de Elizabeth Jelin, “La conflictiva y nunca acabada mirada sobre el pasado”, se encuentra un modo distinto de articular las dos formas de abordar el pasado que se vienen analizando. La autora hace una historia de la memoria. Su objeto es el Cono Sur, sobre todo las posdictaduras argentinas, chilenas y uruguayas, y su marco de referencia es al igual que en varios de los trabajos, el caso alemán. Allí se analiza cómo las distintas sociedades van variando las formas de interpretar el pasado traumático, y cómo esos cambios no necesariamente deben terminar enclausura, justamente porque cambian los actores que los reconstruyen, y con ello las preguntas e inquietudes. Puesto que, además, la intensidad del dolor impide el cierre del recuerdo y porque la memoria no es lineal, y ello impide que haya garantías de que a medida que pasa el tiempo ese pasado quede cada día más lejos. Para terminar, la autora valora esta dimensión abierta y permanentemente revisitada de la memoria, y se pregunta si esa no será su forma “normal”.
or último, en el capítulo “Historia reciente de pasados traumáticos. De los fascismos y colaboracionismos europeos a la historia de la última dictadura argentina”, Daniel Lvovich incorpora una lectura diferente acerca del vínculo entre historia y memoria. Lo hace a través de la mención de dos autores argentinos, Tulio Halperín Donghi y Luis Alberto Romero, quienes a diferencia de las miradas hasta aquí citadas advierten sobre la necesidad de establecer una ruptura entre memoria e historia. El primero de estos historiadores señala que para analizar el caso de la última dictadura argentina es imprescindible mantener una memoria del horror, y ligada a eso marca la incapacidad de la historiografía de captar los sentidos fundamentales de lo vivido. Por su parte Romero, en un sentido opuesto, considera que la memoria fue útil en la faz cívica, pero obtura el saber histórico. De ese modo el saber académico historiográfico es el único modo de comprender el proceso dictatorial.
La posición de Lvovich, por su parte, sostenida en un análisis de las dictaduras europeas, señala que el rechazo a esos gobiernos se ha articulado con estudios históricamente valiosos. En ese sentido se espera, de acuerdo con este autor, que del equilibrio entre distancia y compromiso puedan salir aportes historiográficos sustanciales. Ese es el segundo eje de este libro.
Compromiso y distanciamiento
Este eje parte de una idea que las compiladoras ponen en juego en la introducción, según la cual a los historiadores del pasado cercano se les exige mucho, no sólo académica, sino también política, civil y moralmente. Allí se encuentra el problema de combinar el distanciamiento crítico, propio de las lógicas académicas de producción de conocimiento científico, con el compromiso que puede sentirse en relación a sujetos cuyos valores políticos y/o principios morales se comparten.
sto se puede vincular a un proceso que describe Traverso, a partir del cual la idea de la memoria como “religión civil” está estrechamente asociada al testigo como “víctima” (y no, por ejemplo, como “vencido”). Así, la “empatía” con la víctima puede jugar en contra de esa distancia que el discurso académico supone. Además de esta tensión que incluye un problema de orden político, hay otra más estrictamente académica señalada por Franco y Levín. Se trata de la dificultad de construir un discurso propio de las ciencias sociales cuando algunas de las categorías utilizadas son a su vez del uso común de los actores estudiados. Los ejemplos de “genocidio” o “guerra” sirven para explicar la dificultad que supone el tratamiento de esos conceptos. Se pretende evitar la repetición sin mediaciones de lo que la antropología llamaría “categorías nativas”, tanto como el aislamiento positivista de esos conceptos.
La cercanía del uso de los conceptos está asociada claramente a la proximidad temporal entre el objeto y el investigador. La historia, señalan las autoras, suele hablar de procesos que suceden más lejos en el tiempo. Para hacer justicia con la voluntad interdisciplinaria que anima a las compiladoras, se puede agregar que el mismo problema tiene la antropología del presente. Ya no en el tiempo, sino en el espacio, este conflicto aparece en momento en que deja de ser sólo antropología de lugares lejanos.
Silvia Finocchio, en su trabajo titulado “Entradas educativas en los lugares de la memoria”, plantea que la historia reciente no fue abordada durante muchos años en la escuela porque no cumplía con la condición de lejanía, pensada como garantía de neutralidad. Así, muchos docentes además de no tener demasiados materiales para su tratamiento, se encuentran con el rechazo de parte de algunos alumnos y/o padres para estudiar la Dictadura, porque su lectura impugnatoria estaría sesgando su análisis. Vale decir, se espera neutralidad por parte de la historia y también de la escuela.
Roberto Pittaluga, en “Miradas sobre el pasado reciente argentino. Las escrituras en torno a la militancia setentista” advierte acerca de otros inconvenientes que el tratamiento del pasado reciente tuvo en la academia argentina de la posdictadura. Estas dificultades también pueden leerse desde la tensión entre distancia y compromiso. Hay varios elementos que explican porqué no hubo acercamientos historiográficos sustantivos en esa época. Por un lado, el perfil académico profesional se constituye por esos años en oposición al del intelectual comprometido de las décadas anteriores. Con esa transformación pierde la pasión política a manos de una neutralidad que la proximidad temporal aún no garantizaba. Por otro lado, esa misma profesionalización académica se enfrentaba con las experiencias anticapitalistas que (no) se constituían como su objeto de estudio. En tercer término, la revaloración de lo democrático (guiada por un sentido de la democracia) buscó su tradición en otras épocas más “democráticas” de nuestra historia. Por último, en muchos casos había un componente autobiográfico, puesto que varios académicos habían sido ellos mismos protagonistas de esa historia que no lograba constituirse como objeto de estudio.
Recién en los noventa, dice este autor, comienzan a realizarse estudios valiosos sobre aquellas experiencias. Para eso fue necesario escapar a una lectura de aquel período que ponía en el centro de la escena víctimas despolitizadas. Sin embargo, ese campo de estudios recién está en formación, y si bien logró al menos en parte incorporar la perspectiva de los protagonistas de las militancias setentistas, otro riesgo que debe evitarse es construir relatos demasiados cercanos a aquellas prácticas, porque así se pierde el valor del análisis.
Uso de las fuentes
Como se indicaba al comienzo, Franco y Levín pretenden que la historia reciente se construya como campo legítimo. Para ello es indispensable disputar el sentido de la historiografía con aquellas miradas más positivistas. Se trata de un enfrentamiento con quienes creen en el valor absoluto del documento escrito y subestiman la capacidad heurística de la historia oral. Como se observó antes, tampoco esto supone creer que el relato oral conlleva una verdad indiscutible. En todo caso, cada una de las fuentes tiene sus elementos a favor y otros que juegan en contra. Es necesario destacar que por un lado, su valor depende del tipo de preguntas que se quieran responder, y por el otro, la cercanía con el objeto no implica un problema sin resolución.
Ludmila da Silva Catela, en “Etnografía de los archivos de la represión en Argentina” advierte sobre la equivocación que supone tratar los archivos como la verdad. Los documentos escritos no dicen la verdad en mayor medida que lo hace la historia oral. Por eso el valor de los archivos de la represión no está en ellos mismos, sino en la apropiación que los distintos actores realizan de ellos. Así, diferentes actores los constituyen en territorios de la memoria donde disputan sentidos de la verdad en un proceso dinámico y no exento de conflictos. La autora plantea entonces la necesidad de una utilización no positivista de las fuentes, teniendo en cuenta que tanto en su producción (para este caso los distintos servicios de inteligencia que construyeron los archivos de la represión) como en su posterior uso, lo relevante es la presencia de actores que a través de su utilización disputan sentidos sobre lo social, el pasado y el presente.
El trabajo de Vera Carnovale, “Aportes y problemas de los testimonios en la reconstrucción del pasado reciente”, comparte con el de da Silva Catela la necesidad de evitar el uso positivista de las fuentes. La autora reflexiona en torno a cómo debe utilizarse la historia oral para dar cuenta del pasado. En primer lugar, señala que los relatos orales muchas veces resultan más útiles para comprender el sentido de las prácticas y las subjetividades que para conocer “los hechos”. En segundo lugar, la historia oral, al igual que cualquier otra fuente, requiere de la puesta en diálogo con otros registros a fin de realizar un control sobre su veracidad. En tercer lugar, la autora señala el valor de los relatos orales para dar cuenta de aquello que en el pasado fue reprimido. Lo indecible claramente varía con el paso del tiempo, de allí que en el presente pueda hablarse de cuestiones que en el pasadoresultaba imposible. En el mismo sentido, la historia oral permite desnaturalizar aquello que otrora se les presentaba como natural a los sujetos. Para finalizar, Carnovale no pretende reemplazar lo oral por lo escrito sino hacer un aporte para la mejor utilización de ambos tipos de fuentes, por eso señala que el testimonio a pesar de no ser estadísticamente representativo, sí lo es de determinados procesos y dinámicas que de otro modo son difíciles de conocer por el investigador. Para cerrar este último eje, en línea con lo que dicen las autoras anteriores, aparece el trabajo de Kaufman quien por un lado, pone en cuestión la veracidad de los archivos de la represión; y por el otro, señala que el historiador, quien tiene habitualmente al paso del tiempo como enemigo de sus tareas, carga a su vez con el problema de que esos documentos fueron hechos de modo clandestino y pensados no para trascender sino para pasar al olvido.
El valor de este libro se encuentra en su carácter programático. La posibilidad de desarrollo de esta nueva disciplina se efectivizará en la medida que pueda ir dando cuenta de algunos de los problemas aquí planteados. Lejos de brindar reglas a seguir, los trabajos aquí compilados complejizan la cuestión al tiempo que brindan su aporte para estos nuevos desarrollos. En la medida que la historia reciente vuelva fecundo su vínculo con otras disciplinas y articule de un modo crítico su relación con los actores protagonistas de ese pasado, podrá realizar aportes académicos acordes con el camino señalado por estos trabajos.
Santiago Cueto Rúa – CONICET, CISH-UNLP. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Calle 48 entre 6 y 7, 8vo Piso, Oficina 813. E-mail:santiagocuetorua@yahoo.com.ar
[IF]
Um historiador fala de teoria e metodologia, ensaios | Ciro Flamarion Cardoso
São poucos os historiadores brasileiros que podem apresentar uma produção tão rica e diversificada quanto o professor Ciro Flamarion Cardoso. Parte de sua vida foi vivida fora do Brasil, à época da ditadura militar e, contudo a sua presença foi marcante na formação de uma geração que leu e refletiu o Métodos da História, seus escritos sobre o trabalho escravo na antiguidade e Uma Teoria da História. Em suas obras nota-se uma constante critica à pequena importância que o estudo da filosofia tem recebido na formação dos historiadores no Brasil. Essa preocupação teórica o levou a refletir, com outros autores, em Caminhos da História.
Após os eventos do final dos anos oitenta, ocorreu a debandada dos historiadores para fora dos caminhos da interpretação marxista da história. Ciro Flamarion é um dos raros que mantém a sua adesão àquele método de estudo, àquela filosofia explicativa da história. Assim, não surpreende a edição desses ensaios, produzido ao longo de doze anos, resultado de suas reflexões e perplexidades, advindas de sua prática docente.
Pouco avesso aos salameques e ao culto das novidades por serem novidades, o autor de Um Historiador fala de teoria e metodologia, continua fiel ao viés fundamental de sua obra. Ciro nos mostra como ele continua capaz de dialogar com o mundo e apresenta o marxismo como ainda capaz de dar conta da complexidade que estudos setoriais não conseguem, segundo ele, enfrentar plenamente.
Dividido em quatro partes, o livro organiza didaticamente os grandes temas que estudos históricos enfrentam atualmente. Na primeira parte, composta por dois capítulos, o Autor dedica-se a debater as novas perspectivas e compreensão do Tempo e do Espaço para a História, dedicando um capítulo para o debate sobre a construção do espaço, nesses novos tempos em que as realidades parecem estar cada vez compressas e em que os limites geográficos, definidos matemática e geometricamente no final do século XIX, mostram-se ineficazes para a compreensão das políticas atuais dos países e estados.
A segunda parte é dedicada ao acompanhamento do debate epistemológico atual, com destaque especial ao anti-realismo do pensamento histórico contemporâneo e sobre a influência negativa que o Autor entende que as teorias do conhecimento exercem na atual produção histórica no Brasil. Talvez seja a sua adesão incondicional ao marxismo que o impeça de olhar com maior simpatia a atual produção vinda dos programas de pós-graduação das universidades, talvez muito ávidas por aceitar as novidades conseqüentes das contradições européias, aceitas sem o respaldo de um estudo filosófico que seja capaz de assumir as novas tendências sem superar simples macaqueação própria do novidadeirismo.
A terceira parte é dedicada à reflexão do pensamento histórico e ao debate historiográfico contemporâneo. Embora instigante, essa parte pode ser apontada como frustrante por limitar esse debate apenas até os anos trinta. Esperava-se mais, na reflexão sobre a atual produção, essa que vem desde a segunda metade do século. Mas, talvez, com esse enorme hiato, o autor queira nos dizer que não ocorreu ainda uma real e nova interpretação da história brasileira, nem universal, além daquelas que foram apresentadas nas primeiras décadas do século XX, pouco importando que seja uma história produzida nos limites do Brasil ou além deles. Seria isso produzido pela quebra dos paradigmas, pela queda física, antes da metáfora, do muro que separavam as duas maiores experiências políticas ideológicas do século findo há quase uma década, ou a duas décadas, como quer um outro historiador marxista, Eric Hobsbawm. Interessante capítulo, desta parte, é quando nosso Autor quase se transforma em perscrutador do futuro ao discorrer sobre “que história convirá ao século 21” e reflete sobre como a crise dos paradigmas, o cultivo quase niilista da dúvida permanente e da certeza de que só a dúvida existe pode levar os historiadores a perder a perspectiva, atolando-se nos mais diversos solipsismos.
A parte quarta desse livro é dedicada a debater questões mais setorizadas tanto quanto à teoria quanto ao método histórico. No nono capítulo estão abordadas questões atuais no debate sociológico, político e histórico, referindo-se mais diretamente às questões étnicas, tão pungentes e atraentes numa globalização na qual para não se tornarem massas liquidas, voltam-se a paradigmas pré-modernos vestidos em vistosas roupagens pós-modernosas, escondendo nas colorações cintilantes, ranços de racismos que podem fazer retornar com mais tragicidade situações aparentemente vencidas em meados do século XIX. Capítulo muito interessante é o dedicado à chamada História das Religiões, uma quase ciência e uma quase teologia, ou uma teologia que não quer dizer-se como tal. Para ele muitos dos que se dizem historiadores das religiões, deixaram-se seduzir pelos mistérios que atraem os crentes, esquecendo-se dos problemas que são os verdadeiros interesses do historiador, do cientista. Ao crente basta a admiração e contemplação da verdade religiosa, ao historiador a admiração serve apenas de pretexto para iniciar a busca do entendimento de porque homens e mulheres, em determinados tempos e lugares, criaram sistemas e necessitaram afirmar que esses sistemas foram doados gratuitamente por alguma entidade não humana, mas superior aos homens e mulheres Tais adesões à pseudociência História das religiões só é possível pela negativa em abordar os problemas humanos a partir de sua materialidade.
A leitura dos Ensaios contidos em Um historiador fala de teoria e metodologia é interessante àquele que já se encontra na militância da história, seja como professor apenas, seja como professor, pesquisador e historiador. Para os que estão iniciando-se nos afazeres do historiador, essa é uma leitura obrigatória. Nela ocorrerá o encontro com um permanente estudioso da história, e um constante enamorado pelas criações dos homens que vivem as contradições das sociedades que criam e na qual vivem.
Severino Vicente da Silva – Professor adjunto, atuante no programa de pós-graduação do Departamento de História da UFPE.
CARDOSO, Ciro Flamario. Um historiador fala de teoria e metodologia, Ensaios. Bauru, SP: Edusp, 2005. Resenha de: SILVA, Severino Vicente da. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.26, n.1, p. 262-265, jan./jun. 2008. Acessar publicação original [DR]
Método Histórico – FREITAS (BC)
BIBLIOGRAFIA Comentada explora problemas de método da pesquisa histórica e divergentes concepções de crítica historiográfica, sobretudo, entre os historiadores por formação. Foram 20 os livros de Teoria da História e de Metodologia da História publicados nos últimos 10 anos. Livros autorais, como os de Jörn RÜSEN e Keith JENKINS, avaliação de teses autorais, por exemplo, de Walter BENJAMIN e Alun MUNSLOV e coletâneas individuais ou coletivas, produzidas por Jurandir MALERBA e Julio BENTIVOGLIO. O inventário reúne resenhas publicadas em periódicos de História ou veiculadas pelos domínios da Antropologia, Política, Relações Internacionais e os domínios interdisciplinares da Arquitetura e dos Estudos Feministas.
A história escrita: teoria e história da historiografia – MALERBA (VH)
MALERBA, Jurandir (org.) A história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto. 2006. Resenha de: MACHADO, Paulo Pinheiro. Varia História, Belo Horizonte, v.22, n.36, p. 572-573, jul./dez., 2006.
Do texto viemos, ao texto iremos. Sem querer simplificar o atual debate acerca das diferentes abordagens teóricas sobre a história — seja a história do acontecido ou a escrita sobre o acontecido — é difícil encontrar, em língua portuguesa, livro com um balanço equilibrado e atualizado sobre este debate. A publicação de “A história escrita”, obra de um diversificado grupo de historiadores coordenada por Jurandir Malerba chega para preencher este espaço importante para o debate e a reflexão historiográfica, sendo útil a profissionais, pesquisadores e estudantes. Além da atualidade dos temas e abordagens, os autores não deixam de fazer um abrangente balanço dos impasses, crises e contribuições de importantes historiadores do século XX. As trajetórias intelectuais de Benedetto Croce, Marc Bloch, Lucien Febvre, Le Goff, Arnaldo Momgliano e outros importantes historiadores, são analisadas em diferentes textos, o que dá uma interessante unidade ao conjunto do livro.1
Um dos pontos centrais da discussão é o balanço da contribuição do vendaval pós-estruturalista (ou pós-moderno) sobre a forma de se trabalhar a história. As intervenções dos herdeiros intelectuais de Nietzche, sem dúvida, advertiram a nova geração para as precariedades da ciência e deram sério golpe em noções de finalidade e de progresso da história. A contribuição de Hayden White adverte para a importância das formas narrativas, dos tropos e da grande dose de subjetividade presente na historiografia. No entanto, estas contribuições foram muito pouco férteis no sentido de enfrentar os problemas quotidianos dos historiadores. O debate final da obra, entre White e Ginzburg, sobre uma questão-limite, a “veracidade” do holocausto dos judeus na segunda guerra mundial, acaba por levantar importantes considerações políticas e morais das concepções mais analíticas dos textos e menos inquiridoras de “indícios” e “provas” do que pode ser considerado como “realidade”.
O ponto mais inovador da coletânea é a necessidade de avaliação, comparação e crítica historiográfica. Estamos acostumados a fazer balanços historiográficos sem critérios muito precisos do que deva ser considerado. Além de considerações aleatórias do “gostar” e do “não gostar” de determinados textos, os autores nos chamam a atenção para a avaliação da excelência de nosso ofício. Deverá o historiador, como Heródoto, ser um hábil escritor para cativar seus leitores com a beleza de sua narrativa? Ou devemos, como Tucídides, despreocuparmos com a beleza e atentarmos para a precisão e utilidade de nosso labor? A eleição de critérios para a avaliação e debate historiográfico depende de escolhas teóricas dos autores. Jurandir Malerba, recuperando Benedetto Croce, lembra que, como a crítica poética critica a “poeticidade”, na crítica historiográfica se avalia a “historicidade”, o que abre caminho para considerar a crítica historiográfica como parte integrante da pesquisa histórica. Uma boa discussão sobre termos comparativos na relação entre historiografia ocidental e oriental encontramos no texto do professor Masayuki Sato, da Universidade de Yamanashi, no Japão. Com ele aprendemos que além de considerações teórico-metodológicas este debate precisa incorporar diferenças culturais, já que a história tem especificidades como ofício em diferentes culturas, além de distintos estatutos públicos. Importante discussão neste sentido é levantada por Jörn Rüsen, da Universidade de Bielefeld, Alemanha, no entanto, seu quadro de periodização do pensamento histórico parece algo excessivamente esquemático e contraditório com a proposta original. Angelika Epple, da Universidade de Hamburgo, em texto muito inteligente, propõe um alargamento das fontes para considerar uma história e historiografia das mulheres, além dos limites acadêmicos, ou seja, abrir para admissão de narrativa histórica textos literários, onde sempre houve forte presença feminina.
Enfim, temos a disposição do público uma coletânea com diferentes aspectos das teorias, das metodologias e das fontes historiográficas que procuram criar pontes de discussão e interlocução entre diferentes tradições historiográficas nacionais.
Nota
1 Além de Jurandir Malerba, publicam nesta obra Angelika Epple, Arno Wehling, Carlo Ginzburg, Frank Ankersmit, Hayden White, Horst Walter Blanke, Jörn Rüsen, Masayuki Sato e Massimo Mastrogregori.
Paulo Pinheiro Machado – Doutor em História pela UNICAMP e professor do Departamento de História UFSC. E-mail: pmachado@mbox1.ufsc.br
[DR]
História e Teoria. Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade – REIS (VH)
REIS, José Carlos. História e Teoria. Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade. 3ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. Resenha de: DILMANN, Mauro. Varia História, Belo Horizonte, v.22, n.36, p. 567-571, jul./dez., 2006.
Nesta obra, José Carlos Reis transparece, com erudição, a importância da filosofia e de suas construções teóricas. Nas páginas finais do último artigo, ele ressalta: “Filosofia e história são atitudes complementares – toda pesquisa filosófica é inseparável da história da filosofia e da história dos homens e toda pesquisa histórica implica uma filosofia, porque o homem interroga o passado para nele encontrar respostas para as questões atuais” (p. 240). O livro é uma junção de ensaios do próprio autor, cada um com uma especificidade singular e, ao mesmo tempo, contínua, linear: todos tratam de “teoria da história”. Valendo-se de uma abordagem dos principais parâmetros contemporâneos do contexto historiográfico, Reis interroga, instiga, mostra caminhos, posicionamentos. Seu poder de síntese é invejável: diz muito em tão pouco. Para quem já estava cansado ou mesmo entediado com as discussões sobre verdade, modelos epistemológicos, historicismo, além das que envolvem concepções de tempo histórico e das oposições entre modernidade e pós-modernidade, o autor demonstra que ainda é possível um pensamento crítico e um esforço reflexivo.
No primeiro capítulo, o autor traz a “história da história”, analisando desde a metafísica até a pós-modernidade. A preocupação dos historiadores com a “humanidade universal” e o “sentido histórico” pautam sua análise. Ele quer discutir a passagem modernidade/pós-modernidade e suas possíveis repercussões na historiografia. Começa com os gregos, que não teriam construído a idéia de “humanidade universal”, tendo sido formulada com os romanos. Com o Cristianismo, a história esteve dominada pela Providência Divina e o futuro dependia da fé. A partir do século XIII ele perde sua força e surge uma outra representação da história: a “modernidade” e sua busca da racionalização.
A modernidade trouxe uma nova consciência do sentido histórico, uma nova representação da temporalidade histórica e, com ela, o mundo se fragmentou em valores distintos. O espírito capitalista (entenda-se burguês) é moderno, desencantado, secularizado, racional, tenso.
No século XVIII retorna a idéia de história universal. Pensa-se em direitos universais. Nesse momento, a modernidade através das filosofias da história recolocaria à história a questão do sentido histórico: é o desenvolvimento do processo de progresso, revolução, utopia; a idéia de história está dominada pelos conceitos de razão, consciência, sujeito, verdade e universal.
No século XIX , a história-conhecimento torna-se científica, o conhecimento histórico aspira a objetividade científica, a verdade. A eficácia da história está em servir ao Estado e às instituições da sociedade burguesa. Nietzsche seria o primeiro a romper com o conhecimento histórico científico e, a partir do século XX, aprofundariam-se as críticas, passando-se a recusar o determinismo, o reducionismo e o destino inescapável. A pós-modernidade concretizou-se no pós-1945, não acreditando na razão, pois os sentidos são multiplicados – o universal se pulveriza, fragmenta-se – e a história global é descartada. Os interesses voltam-se ao pequenos dados, aos indivíduos, o olhar em migalhas opera por fatos, biografias, múltiplas narrações: é a desaceleração da história. O estruturalismo aprofundou a revolução cultural pós-moderna, desconfiando do sujeito, da consciência, da revolução, da razão. Para Reis, estamos vivendo a pós-modernidade. O novo ambiente cultural é complexo e ambíguo: os historiadores pensam em rupturas, fragmentação, individualismos em plena globalização. O conhecimento histórico prioriza a esfera cultural, as idéias, os valores, as representações, linguagens, e a história torna-se ramo da estética, aproximando-se da arte, da literatura, do cinema, da fotografia, da música.
No segundo capítulo, Reis procura fazer um balanço das possíveis perdas e/ou dos possíveis ganhos do percurso da história do “global” às “migalhas”. Para tal, segue os pressupostos de François Dosse, o crítico francês dos Annales que destacou a descontinuidade presente nos “seguidores” dos “pais fundadores”. Para conseguir um balanço entre perdas e ganhos, Reis conceitua história global e história em migalhas. História global teria dois sentidos: “história de tudo” e “história do todo”. O primeiro sentido seria entendido por “tudo é história”, o segundo seria a intenção de apreender o “todo” de uma época. Este último sentido não teve espaço na terceira geração dos Annales. Já as migalhas, podem significar a multiplicação dos interesses e das curiosidades históricas; a fragmentação, a especialização extrema, a desarticulação dos tempos históricos. Ou, no sentido otimista, as migalhas significaram o amadurecimento do projeto inicial; a história escrita no plural, múltipla, que analisa partes da realidade global. Por fim, nosso autor faz uma enumeração riquíssima em termos de prós e contras dessa passagem do global às migalhas, colocando-se no lugar de quem avalia uma perda ou um ganho.
O terceiro capítulo, intitulado A especificidade lógica da história, levanta questões que colocariam em dúvida a possibilidade do conhecimento histórico, entre elas: “A história é um conhecimento possível?”. Salienta a importância da reflexão teórica problematizante, alertando sobre a impossibilidade de ser historiador sem tomar o conhecimento histórico como problema. A questão a ser pensada seria a existência de um conhecimento histórico reconhecível. Esse conhecimento talvez estivesse na recusa da ficção. Nessa luta contra a ficção, a história aproxima-se da ciência. Quanto a possibilidade de história científica, José Reis apresenta quatro modelos: nomológico, compreensivo, conceitual e narrativo. O modelo nomológico, centrado em Hempel, defende a unidade da ciência, as explicações causais; é um modelo neopositivista, que busca encontrar leis gerais, da mesma forma que as ciências naturais. O modelo compreensivo tem dois expoentes: Dilthey e seu método da compreensão e interpretação das ciências do espírito, e Weber com uma visão racionalista da compreensão. A sociologia compreensiva busca interpretação da conduta humana; para compreender, pode-se construir o “tipo ideal” de uma ação racional. Para Reis, Weber ainda sustenta uma visão racional da história. O modelo conceitual está baseado na história científica weberiana: ela é racionalmente conduzida, fundamentada na compreensão e em conceitos. A compreensão e subjetividade incluídas na história não abdicariam a abordagem científica da mesma, presentes através de tipos e conceitos. Paul Veyne, com influência weberiana também defendeu a história conceitual, que para ele estaria entre a ciência e a filosofia. Para o Veyne de O Inventário das diferenças, a história conceitual seria científica porque oferece uma inteligibilidade comparativa. Já o Veyne de “Como se escreve a história”, tem a história como “narrativa verdadeira”, mas não científica. François Furet, também influenciado por Weber – e Reis salienta que os Annales “parecem dever mais a Weber do que querem admitir” – percebe a história como oscilação entre arte da narração, inteligência do conceito e rigor das provas, mas não como ciência. Por fim, no modelo narrativo e atual (alguns autores sustentam que o discurso histórico sempre foi narrativa), espera-se uma relação mais estreita com o vivido, o tempo, os homens. A história-problema entrou em crise por afastar-se dos homens e negar a temporalidade. Para Veyne, a história é uma narrativa que explica enquanto narra, é compreensão, é atividade intelectual. Paul Ricoeur esclarece a estrutura de uma nova narrativa histórica, lógica e temporal, ou seja, temporalidade e a narratividade se reforçam. Ricoeur defende o primado da compreensão narrativa em relação à explicação, sendo a narrativa histórica uma representação construída pelo sujeito, que se aproxima da ficção e retorna ao vivido. A história, em última análise é a narrativa do tempo vivido.
No quarto capítulo, Reis discute as posições da verdade sobre o conhecimento histórico. Os céticos em relação à história fazem várias objeções à possibilidade da objetividade e verdade em história, entre elas estaria o fato desse conhecimento estar ligado ao presente (que sempre reinterpreta o passado), à subjetividade, à compreensão e à intuição; ainda ao fato de não produzir explicações causais, de ser conhecimento indireto do passado, de utilizar a mesma linguagem da ficção, de utilizar fontes lacunares, de ser interpretação e construção de um sujeito e ter o conhecimento pós-evento. O conhecimento objetivo seria aquele válido para todos, universal, analítico, problematizante, necessário. Para Reis não há razão para o ceticismo. Ele cita Koselleck, para quem a história precisa sustentar duas exigências: produzir enunciados verdadeiros e admitir a relatividade. Na tentativa de indicar posições para o alcance da verdade histórica, Reis busca as teses de alguns autores. Divide-os em realistas metafísicos e nominalistas. Começando pelos primeiros, tem-se que para Ranke a história produziria verdade através do método crítico. Nesse sentido o sujeito não se anula, apenas se esconde, se autocontrola. Weber não vê a possibilidade de abordar o real em si, apenas aspectos, partes. O sujeito divide-se em esferas lógicas autônomas. Duas subjetividades buscam a verdade, que é conhecimento empírico. Em Marx, o sujeito deve assumir sua subjetividade. A verdade não é universal, mas de um grupo social. O conhecimento histórico produzido é objetivo, mas parcial, relativo, pois o historiador precisa tomar partido. Para Ricoeur, a verdade é traduzida pelo sujeito de forma comunicável a partir de uma objetividade que exige a presença da subjetividade. Na mesma direção, Marrou declara ser a objetividade histórica, específica, subjetiva, através de valores éticos universais. Todos procuram critérios universais para a verdade, todos são construções totalizantes da verdade histórica. Nos nominalistas, a subjetividade é plena, o universal é impensável. Em Foucault a verdade é construção de um sujeito particular e expressa relações de poder: essas relações criam linguagens e saberes para se legitimarem. Michel de Certeau tem a história como fabricação do historiador, um discurso que emerge de uma prática e de um lugar institucional e social. Duby assume a história subjetiva, que estaria próxima da literatura e do cinema, onde a imaginação e o sonho não são proibidos. Por fim, Koselleck sustenta a verdade histórica caleidoscópica, se relaciona com a história da história, examina a historiografia anterior. O passado é selecionado, reconstruído em cada presente. Reis conclui esse capítulo ressaltando que a verdade histórica é obtida com exame exaustivo do objeto, com todas as leituras possíveis.
O quinto capítulo traz a discussão sobre o tempo histórico em Ricoeur, Koselleck e nos Annales. O historiador tem interesse no temporal, na alteridade humana, não deseja conhecer o que está fora do tempo, o que não muda, deseja sim, conhecer a mudança, logo o tempo da história seria um terceiro tempo. Para Ricoeur, o tempo histórico refere-se à vida humana e o calendário é indispensável, pois é ele que numera e em cada marca dessa numeração existiu um homem individual (social). Outro conceito é o de geração, trata-se de vida compartilhada. O tempo histórico representa permanência de gerações e seqüência de gerações. A terceira conexão são os vestígios, os arquivos, pois as gerações deixam sinais, marcas, que são buscadas pelo historiador. Koselleck critica o conceito de tempo calendário, mas não o descarta, advertindo para o conhecimento interior do mundo humano, a idade interna de uma sociedade, ou seja, a relação estabelecida entre seu passado e seu futuro. Na perspectiva dos Annales, o tempo histórico é estrutural – influência das Ciências Sociais que compreendiam o tempo como “estrutura social” – existindo a recusa da mudança, em favor do modelo, da quantidade, da permanência. A influência foi o aparecimento na história do mundo mais durável, mais estrutural (estruturas econômicas, sociais, mentais), de movimentos lentos, com desaceleração das mudanças, e é justamente o conceito de “longa duração” que permitiu maior consistência ao terceiro tempo do historiador.
O sexto e último capítulo é dedicado à contribuição de Dilthey para a história, que, aliás, é considerado como o pensador que “redescobriu a história”. Dilthey é associado ao historicismo, embora seja difícil enquadrá-lo em algum rótulo. Ele estaria entre um historicismo romântico e um epistemológico por buscar compreender o homem enquanto ser histórico, compreender a alteridade e todos os aspectos da vida de um povo; a história em Dilthey é mudança e o que permanece é compreensão, comunicação entre homens diferentes, sendo o homem “experiência vivida” e a verdade, o processo histórico.
No contexto do século XIX, Dilthey apontou o caminho da história, da vida, tendo por missão da história “apreender o mundo dos homens através do estudo das suas experiências no passado” (p. 241). Reis diz que em Dilthey filosofia e história estão unidas. Talvez esse fato tenha cativado nosso autor a ponto de despertar tanto seu interesse por Dilthey.
De fato, Reis cativa o leitor com sua narrativa, sua exposição, sua paixão pela teoria. Este livro é mais uma referência obrigatória a todos que se preocupam em pensar o papel da teoria na contemporaneidade; ele incita os historiadores ao conhecimento dos paradigmas atuais das ciências sociais. Se José Reis pretendia com este livro, “fazer circular, renovar, estimular e transmitir cultura” (p. 13), parece-nos que ele conseguiu!
Nota
1 Resenha publicada originalmente na revista eletrônica CANTAREIRAS, da Universidade Federal Fluminense.
Mauro Dilmann 1 – Mestrando em História UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS. E-mail: maurodillmann@terra.com.br
[DR]
Paisagens da História – Como os historiadores mapeiam o passado | John Lewis Gaddis
A historiografia é abordada como tema nessa obra de John Lewis Gaddis, que consiste em um conjunto de conferências proferidas por ele na Examination Schools em High Street. Influenciado por Marc Bloch e E. H. Carr, o autor discute o papel do historiador e seus métodos, visando a uma complementação e reflexão embasada no pensamento desses autores. Isso é feito de modo interessante e original, com o levantamento de questões – como o objeto de estudo desses profissionais, seu modo de pensar e analisar a realidade – cuja discussão é permeada por exemplos advindos desde a história, até as artes – como a pintura, a literatura e o cinema –, e pelo uso de metáforas; recursos, esses, que facilitam o entendimento e entretêm a leitura.
A discussão se inicia com a análise da pintura O viajante sobre o Mar de Névoa, de Casper David Friedrich, que desencadeia uma reflexão sobre a posição do historiador em relação ao seu objeto. Ele, assim como o personagem do quadro, observa os acontecimentos com o distanciamento que o tempo exige, uma vez que o passado chega até nós inacessível, sendo somente possível sua representação pelos artefatos sobreviventes. Esta pode ser feita sob um prisma mais amplo, quando comparado ao daqueles que viveram a experiência, já que o historiador pode variar entre o geral e o particular, fazendo uso também das diferentes escalas de tempo e espaço, conforme for necessário. Dessa forma, para o autor, o que deve ser buscado é uma abstração, não uma descrição literal dos eventos ocorridos. A história deve ser como um mapa: que simplifica a realidade, destacando aspectos de acordo com o que se pretende compreender e explicar. Leia Mais
Razão histórica: teoria da história- os fundamentos da ciência histórica | Jörn Rüsen
Resenhista
Arthur O. Alfaix Assis – Doutorando em história pela Universidade Witten-Hcrdeckc (Alemanha); bolsista da Fundação Capes.
Referências desta Resenha
RÜSEN, Jörn. Razão histórica: teoria da história- os fundamentos da ciência histórica. Trad. Estevão de Rezende Martins. Brasília: Editora UnB, 2001. Resenha de: ASSIS, Arthur O. Alfaix. A ciência da história como resposta racional a carências de orientação. História Revista. Goiânia, v.9, n.2, p. 331-339, jul./dez.2004. Acesso apenas pelo link original [DR]
Os protagonistas anônimos da História: micro-história – VAINFAS (RBH)
VAINFAS, Ronaldo. Os protagonistas anônimos da História: micro-história. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 115pp. Resenha de: GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.23, n.45, july 2003.
No Brasil, o ensino universitário de história ainda carece de boa bibliografia teórica produzida por autores nacionais, em que pese o número crescente de traduções de especialistas estrangeiros. A boa repercussão alcançada pelo livro Domínios da História (org. Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas, Campus, 1997), certamente deve ter estimulado o professor Ronaldo Vainfas a fazer uma nova incursão na área de teoria e metodologia da história. Melhor dizendo, a aprofundar algumas reflexões que deixara encaminhadas ao concluir aquela obra, que nos últimos anos tornou-se referência no ensino da disciplina. Refiro-me ao recém-lançado Os protagonistas anônimos da História: micro-história, onde Vainfas examina esse gênero historiográfico surgido na Itália, a propósito da coleção dirigida por Carlo Ginzburg e Giovanni Levi, denominada Microstorie, publicada pela editora Einaudi, entre 1981 e 1988. Vale lembrar que a micro-história opera com escala de observação reduzida, exploração exaustiva de fontes, descrição etnográfica e preocupação com a narrativa literária. Neste sentido, contempla, sobretudo, temáticas ligadas ao cotidiano de comunidades específicas — referidas geográfica ou sociologicamente —, às situações-limite e às biografias ligadas à reconstituição de microcontextos ou dedicadas a personagens extremos, geralmente vultos anônimos, figuras que por certo passariam despercebidas na multidão. O certo é que essa corrente historiográfica foi muito mal compreendida, ora tomada como história cultural, ora confundida com a história das mentalidades e com a história do cotidiano. Ou, então, percebida como expressão típica de uma história descritiva, de viés marcadamente antropológico, que renunciou ao estatuto científico da disciplina, invadiu o território da literatura, rompendo de vez as fronteiras da narrativa histórica com o ficcional. Não seria exagero afirmar que ainda hoje a micro-história carrega o estigma de história menor, atacada principalmente pelos defensores dos modelos macrossociais de análise. Mas, como afirma Hans Medick, rebatendo tais críticas, se small is beautiful isto não significa banalizar a história, nem desconectá-la de contextos mais amplos.
Ronaldo Vainfas dispõe-se a desfazer essa intrincada teia de equívocos. E, de fato, alcança seu intento. Assim, no primeiro capítulo, apresenta um panorama da trajetória dos estudos históricos no século XX, detendo-se especialmente na historiografia francesa tributária do movimento de Annales. Dialoga com este quadro conceitual para demonstrar o que a micro-história não é, evidenciando as razões pelas quais a prática microanalítica não pode ser definida apenas em função dos temas de pesquisa, mas sim em relação a seus objetos e às metodologias por ela utilizadas. Desfeito didaticamente o imbroglio, o autor parte para identificar O berço da micro-história (capítulo 2), mostrando as linhagens dessa vertente historiográfica praticada por historiadores italianos, franceses, ingleses e norte-americanos, com ênfase no papel desempenhado pelos italianos e na importância da revista Quaderni Storici e da mencionada coleção Microstorie. Resgatadas as origens teóricas, o autor parte para exemplos concretos. No capítulo terceiro — A micro-história em cena, resume alguns enredos de livros emblemáticos do gênero, a começar pelo clássico O queijo e os vermes, de Carlo Ginzburg, seguindo-se de O retorno de Martin Guerre, de Natalie Zenon Davis; Atos impuros, de Judith Brown, e A herança imaterial, de Geovannni Levi. Essas breves sínteses servem de mote para o exame do modo como se opera a narrativa microanalítica e a discussão das fronteiras que a separam da narrativa ficcional. Em seguida, no capítulo quarto, sugestivamente denominado A micro-história nos bastidores, privilegia o estudo do aparato conceitual empregado pela micro-história, a escolha de temas, a problemática da redução de escala na descrição densa, bem como a delimitação dos objetos de estudo em termos de espaço e de temporalidade. Finalmente, à guisa de conclusão, o professor Vainfas aponta os contrastes entre as abordagens macrossociais e as microanalíticas, discute as possibilidades e os limites de compatibilização entre ambas, oferecendo ainda uma extensa bibliografia comentada, com tudo já que se publicou no País a respeito da microanálise, inclusive trabalhos de historiadores brasileiros que fizeram incursões no gênero.
Longe de fazer proselitismo em defesa do gênero, Vainfas aproxima-se dos encaminhamentos propostos pela historiadora norte-americana Natalie Zenon Davis, um dos ícones da micro-história. Segundo Davis, é inquestionável a natureza complementar dos dois tipos de análise. A tarefa que se impõe aos estudiosos consiste, pois, em investigar métodos de interpretação e de narrativa que possam dar conta no texto escrito do entrecruzamento e das tensões entre o pequeno e o grande, entre o social e o cultural. Ou, que venham a explorar as conexões possíveis entre esses dois níveis de experiência historiográfica, conforme sugere Georg Iggers na sua mais recente contribuição, Historiography in the twentieth century: from scientific objectivity to the postmodern challenge. Seja como for, estudantes e pesquisadores, sem dúvida, irão se beneficiar da leitura dessa obra assentada em sólida argumentação teórica, mas de exposição agradável, repleta de exemplos e de comentários bem-humorados.
Lucia Maria Paschoal Guimarães – Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
[IF]Fragmentos da História Intelectual: entre questionamentos e perspectivas – SILVA (VH)
SILVA, Helenice Rodrigues da. Fragmentos da História Intelectual: entre questionamentos e perspectivas. Campinas: Papirus, 2002. Resenha de: LOPES, Marcos Antônio. O mapa de um labirinto: a História Intelectual, seus problemas, seus métodos e incertezas. Varia História, Belo Horizonte, v.18, n.28, p. 225-229, dez., 2002.
Em Fragmentos da História Intelectual Helenice Rodrigues da Silva apresenta ao leitor brasileiro campos temáticos e domínios teóricos em relação aos quais ainda não há “fronteiras” bem definidas. Como campo de pesquisa relativamente recente na França, as temáticas e os métodos de abordagem da História Intelectual ainda estão por ser fixadas. Segundo a autora, isto faz da História Intelectual um campo de estudos marcado pela indeterminação dos objetos e à procura de uma verdadeira identidade.
Gênero historiográfico forte na Inglaterra e nos Estados Unidos, países nos quais a expressão História Intelectual possui sentidos muitos diferentes, a variante francesa apresenta diferenciais que a particularizam, tornando-a um “desvio” fecundo e revelador de aspectos novos que as obras de pensamento podem propiciar. Mesmo que aguarde por uma definição de seus estatutos e pela conquista de seus direitos de cidade, a História Intelectual francesa, a julgar por este livro, não se afigura como um passo em falso, como uma disciplina que se desloca em terreno movediço.
Os oito textos densos e instigantes reunidos sob a marca despretensiosa de “fragmentos” demonstram que o gênero pode não possuir as suas cartas de nobreza, principalmente quando comparado à grande tradição de outros ramos da pesquisa histórica no país de Michelet. Mas esses “fragmentos” de Helenice Rodrigues demonstram, com um excesso espantoso de evidências, que a História Intelectual francesa já conseguiu definir traços bem pronunciados de identidade. Neste sentido, ela não pode ser confundida com a Intelectual History norte-americana de Martin Jay e de Dominique LaCapra como também não pode ser aproximada, sem reservas, da História Intelectual inglesa praticada pelo círculo de Cambridge, apesar de alguns elementos compartilhados com esta última vertente.
Certamente, ao fazer alianças teóricas ou ao recusá-las, nota-se que a História Intelectual francesa já entrou em seus anos de maioridade. Sem dúvida, os temas, os problemas e os métodos da História intelectual aparecem, neste livro, formulados com muito vigor e sofisticação. Não há nada que lembre uma narrativa empírica ao acaso das evidências. Pelo contrário, a autora vai tecendo a sua complexa tapeçaria matizando-a com um aparato teórico que impressiona. Assim é que, por “fragmentos da história intelectual” devemos compreender, muito antes, um conjunto multifacetado de nuanças do que um agrupamento de objetos dispersos.
Entretanto, riqueza temática e sofisticação teórica podem apresentar um peso excessivo, cobrando preço elevado ao leitor. Curto mas denso, rápido porém complexo, o livro de Helenice Rodrigues é uma panorâmica na qual se justapõem, por uma opção autoral lúcida e muito apropriada, o movimento das idéias e a dinâmica da história efetiva francesa em cinco décadas de embates dos intelectuais entre si e em meio às lutas de seu tempo. À diversificação temática do livro, que devemos compreender por riqueza de nuanças, alia-se a simplicidade e a elegância da escrita da autora. Certamente que a sua editora poderia ter se esmerado um pouco mais na revisão dos originais, pois as sucessões de gralhas ao longo do texto hão de provocar algum desconforto nos leitores que apreciam conteúdo e forma. A ausência de hifenização, as grafias incorretas dos nomes de autores e uma série de pequenos problemas de tradução, como é o caso do livro do filósofo francês Julien Benda — A traição dos clérigos, quando o mais razoável seria A traição dos letrados ou mesmo A traição dos intelectuais — poderiam ter merecido uma maior atenção.
Em seu texto, a autora dá mostras de se esforçar em não elidir a trajetória dos intelectuais do mundo histórico e das circunstâncias sobre as quais viveram e atuaram. Ao destacar a importância da produção, da recepção dos textos e das intervenções públicas dos intelectuais franceses, ela revela toda a sua preocupação em distinguir a História Intelectual de uma história de sistemas formais de pensamento, esta última desenraizada da vida social e sem conexões com a realidade às vezes cruel e selvagem da história efetiva do mundo contemporâneo. Este é particularmente o caso dos capítulos sobre Hannah Arendt e Jean-Paul Sartre, em que a barbárie do nazismo e a opressão do colonialismo revelam a face negra da civilizada Europa.
Esta orientação teórica, ou antes, esta opção de foco, definida com ênfase no ensaio de abertura “História Intelectual: condições de possibilidades e espaços possíveis” pode parecer um esforço preventivo elementar, mas na prática não o é. Ora, quando movimentadas pelos historiadores, muitas vezes, as idéias tendem a ganhar uma força centrífuga que, em geral, guiam-nas para áreas de escape sem base consistente de apoio. São as derrapagens comuns dos historiadores que acabam centrando suas abordagens em circuitos analíticos que se esgotam no próprio sistema de idéias e na arte pedregosa de sua interpretação. É o que se tem denominado por internalismo, com um fraco impulso para a integração do texto ao mundo histórico que o gerou e uma quase total carência de indagações pertinentes à pesquisa histórica.
Creio que a autora tenciona deixar uma mensagem não completamente explicitada: o mundo da pesquisa histórica está cheio de boas intenções para estabelecer a perfeita síntese entre teoria e objeto. Isto pode significar que as tais boas intenções criteriosamente expostas em páginas e páginas em que o plano teórico certo e seguro é celebrado como instrumento eficaz de conexão das idéias com a realidade histórica que as gerou, nem sempre é seguido à risca por aqueles que as costumam enunciar. Desse modo, a História Intelectual pode fazer com que as idéias desfilem nuas por um longo tempo, quando despidas de sua armadura natural, ou seja, quando separadas de seu contexto. E por contexto não devemos compreender apenas o chamado circuito da tradição interpretativa dos textos, mas preocuparmos com os problemas reais do mundo histórico do autor. Além disso, é preciso cercar as análises dos textos de uma teoria da ação.
Sem dúvida, este esforço de enraizamento, de contextualização, pode ser uma virtude real da História Intelectual francesa. E tanto mais ainda se a compararmos às tendências pós-estruturalistas, em que o apego à análise textual é a nota forte. Tudo é texto, ou melhor, discurso, parece ser o principal argumento dessa história de extração internalista. Ora, hoje há consenso de que a História é um tipo específico de discurso. Mas um tipo específico de discurso sobre o quê? Ora, sempre houve ou existirá uma realidade fora do texto que requer a parcela mais substancial da atenção dos historiadores. Cabe distinguir, então, que se um documento histórico, de qualquer natureza, deve ser apreendido pelo historiador como algo que nunca representa a verdade — é apenas uma representação de realidades contingentes e, portanto, um “monumento” da capacidade de representação humana — o discurso define algo como a “alma” do texto: uma matéria opaca que apenas tornar-se-á legível pelo esforço da operação interpretativa. Como afirma Ricoeur, o estruturalismo tende a estudar a linguagem poupando o sujeito, a ação, os eventos. A História Intelectual, segundo a defesa de Helenice Rodrigues, investe na capacidade do locutor, na força ilocucionária dos discursos, na capacidade do sujeito em situar-se como ator no mundo, como um agente ativo que se opõe a interlocutores reais, como um coeficiente de força que quer atingir um alvo em sua existência histórica concreta.
Outro mérito destes Fragmentos… é que, além de retratar a complexidade do universo de relações dos intelectuais em meio aos escombros do pós-guerra e dos dilemas das três décadas gloriosas da retomada econômica da França (1945-75), o livro é também uma bem fundamentada exposição de teoria e metodologia da história. Nesse sentido, constitui-se num elenco de abordagens de autores que, apesar de não serem historiadores de ofício, prestaram um grande contributo ao desenvolvimento da história-disciplina: Bourdieu, Elias, Cassirer, etc.
Surpreendente pelas tramas e tensões que revela ao leitor, e, sobretudo, pela novidade e originalidade das análises, é preciso confessar a sensação de perplexidade diante de um conjunto temático tão rico e, consequentemente, tão difícil de devassar. Sempre explorando temas candentes da história francesa contemporânea, questões geradoras de intensos debates e grandes mobilizações sociais (reflexos do nazismo, a revolta de 68, a independência da Argélia, a divisão identitária da Revolução Francesa), Helenice Rodrigues se aproxima bastante de uma história social das idéias, ao destacar as correntes intelectuais que influenciaram e contribuíram para dar “forma” às representações coletivas dos franceses na segunda metade do século XX.
Inegavelmente, há um grande esforço em levar a bom termo uma História Intelectual empenhada em demonstrar a gênese e a difusão das idéias e da influência exercida por alguns intelectuais em determinadas conjunturas. A autora demonstra como os acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais foram influenciados pelo movimento das idéias (e vice-versa), por certos “climas” intelectuais que lhes antecedem no tempo e que, em certa medida, lhes preparam o terreno. Mas, não tendo a intenção de enfocar as idéias sob o ângulo de uma história dos intelectuais, a autora não explora qual foi a real força transformadora do intelectual interventor (caso de Sartre) que brande a pena como uma espada afiada. E não demonstra, por exemplo, como as idéias de Sartre agiram como uma espécie de “doutrina preparatória” (caso da guerra de independência da Argélia) que, combinadas à linhagem de marxismo adotada pelo intelectual engajado, atuaram como uma força desagregadora do autoritarismo e da opressão colonial.
Em a Traição dos intelectuais, o filósofo francês Julien Benda demonstrou como estas doutrinas preparatórias atingem um potencial de transformação a partir do momento em que os vulgarizadores de idéias entram em cena. É o que Benda chamou por “expressão derivada” da obra intelectual, que os intelectuais engajados “digerem”, reformulam e difundem. A título de ilustração, trata-se, por exemplo, do uso pragmático que o leninismo e mais tarde o stalinismo fizeram da obra de Marx, deformando algumas de suas idéias originais para melhor empregá-las no processo de convencimento de seus adeptos. As idéias, assim reapropriadas, e, em certa medida, transformadas em sua natureza original por uma confraria de discípulos, se difundem entre as massas, podendo levar a transformações. Mas aqui vale a regra de que não se pode esperar do autor o que ele não prometeu levar a cabo. Identificar todos os nós de uma rede, para usarmos um termo tomado de empréstimo a Foucault, talvez seja mesmo extrapolar os limites impostos à problemática da obra: “questionamentos e perspectivas”.
Em síntese, os problemas formulados por esta História Intelectual, da forma como a pratica Helenice Rodrigues, são todos legítimos e pertinentes de pesquisa e de reflexão. O único equívoco será mesmo o de continuar dissertando sobre o livro, de cuja energia galvanizadora extraímos estas tortas linhas. Insistir nisto é algo assim como fazer a autêntica obra do “escavador de precipícios”, para recordarmos a irônica expressão que Voltaire gostava de empregar ao caracterizar os personagens mais equivocados de seus textos históricos e de seus contos filosóficos.
Marcos Antônio Lopes – Departamento de Ciências Sociais/Universidade Estadual de Londrina.
[DR]
Il gênio dello storico: le considerazioni sulla storia di Marc Bloch e Lucien Febvre e Ia tradizione metodológica francese | Massimo Mastrogregori
Resenhista
Raimundo Barroso Cordeiro Junior – Professor da Universidade Federal da Paraíba.
Referências desta Resenha
MASTROGREGORI, Massimo. Il gênio dello storico: le considerazioni sulla storia di Marc Bloch e Lucien Febvre e Ia tradizione metodológica francese. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1987. Resenha de: CORDEIRO JUNIOR, Raimundo Barroso. História Revista. Goiânia, v.7, 1-2, p.157-167, jan./dez.2002. Acesso apenas pelo link original [DR]
Metahistory. The Histórica, Imagination in Nineteenth-Century Europe / Hayden White
O papel da historiografia na construção social da cultura e, por conseguinte, na conformação da identidade dos integrantes dos respectivos grupos é um tema relevante na reflexão histórica contemporânea.
O ponto fulcral para a contribuição historiográfica ao processo de construção das identidades está no pensamento histórico e nas formas culturais de fixação deste pensamento. Esse tema tem ocupado debates e colóquios pelo mundo afora, além de conduzir a um grande número de publicações, desde a década de 1980.
Destacar e explicar o caráter multifacetado e mutante dos modos de expressão histórica do pensamento identificador da individualidade e da sociedade foi um dos objetivos principais do modelo narrativista inaugurado pelo livro de Hayden White, Metahistory. The Histórica/ Imagination in Nineteenth- Century Europe} Rapidamente essa obra veio a ser considerada como o sinal de uma mudança de paradigma na historiografia contemporânea, com a pretensão de ter superado ingenuidades passadas quanto à isenção metódica da história. A idéia é a de que o pensamento histórico de cada geração (mesmo dentro de uma “mesma” cultura) elabora seu modo próprio de ler e reler seu tempo e seus textos, a exemplo das teorias literárias estruturalistas, semióticas, desconstrutivistas, formalistas, intertextualistas, analíticas do discurso, enfim pós- e até mesmo pós-pós-modernas. O “choque” provocado pela teoria narrativista, ao pôr em evidência os limites da ciência histórica — questão que o paradigma “libertário” do modelo positivista e do seu culto às fontes, em sua influência sobre os modos de fazer história desde meados do século 19, havia amplamente ignorado. Um exagero parece ter acarretado o outro. As reações à teoria de Hayden White foram muitas. Aqui não se busca examinar este debate, mas registrar um de seus efeitos benéficos. A conside ração da diversidade historiográfica como um ganho para a produção do pensamento histórico e de sua inserção cultural em um mundo cada vez mais interativo e interdependente decorre, ao menos em sua valorização recente, deste debate, prevalente nos últimos vinte anos. Não há nisso apenas a (re)descoberta do outro como identidade própria (e não sempre reduzido à do observador ou a ela submetido), mas igualmente uma revalorização do recurso à teoria da história como sistema de equacionamento dos inúmeros fatores que constituem o “objeto” da análise social, inclusive no caso da história.
A coletânea editada por Jôrn Rüsen e Sebastian Manhart, Geschichtsdenken der Kulturen — Eine kommentierte Dokumentation (O pensamento histórico nas culturas — uma documentação comentada, Frankfurt/Main, Alemanha: Humanities On Line, 2002) tem por objetivo imediato abrir acesso, a todos os interessados, aos espaços culturais em que a memória e a narrativa, como constituintes do pensamento histórico, contribuem para a construção das identidades. Os dois primeiros volumes dessa colerânea trazem textos e comentários do espaço sul-asiático: Südasien — Von den A.nfàngen bis %ur Gegenwart (Ásia do Sul — dos primórdios ao presente). Stephan Conermann edita, introduz e comenta a visão muçulmana do século 13 ao século 18 (Die muslimische Sicht, 2002, ISBN 3- 934157-22-X, 350 p.), e Michael Gottíob faz o mesmo com o pensamento moderno da Ásia do Sul, de 1786 até os dias de hoje {Historisches Denken im modernen Südasien, 2002, ISBN 3-934157-23-8, 474 p.). Um terceiro volume encontra-se em preparação, versando sobre poética histórica indiana, a cargo de Georg Berkemer (Vom Rigveda %ur historischen Versdichtung — Hinduismus, Jinismus, Buddhismus und orale Traditionen, 2003, ISBN 3-934157-30-0, 344 p.).
A inspiração culturalista e historiográfica dessa coletânea deve seu impulso principal à teoria crítica da história elaborada por Rüsen,2 desde seu tempo como professor na Universidade de Bochum, mas fundamentalmente nos projetos que dirigiu no Centro de Pesquisa Interdisciplinar da Universidade de Bielefeld (ZiF, Bielefeld, Alemanha) e nos que dirige há quase dez anos no Instituto de Ciências da Cultura (Kulturwissenschaftliches Instituí), em Essen. Rüsen é certamente um dos principais autores contemporâneos de teoria e metodologia da história. Seu diálogo internacional é amplo e sua preocupação com a tarefa esclarecedora do pensamento histórico como fator de resgate da autonomia crítica dos indivíduos e como fator de entendimento multicultural são mundialmente reconhecidos Um dos desafios enfrentados por Rüsen está na forte pressão que o paradigma ocidental da ciência história vem sofrendo, nos últimos anos. Exige- se desse paradigma e de seus praticantes a revisão de seus fundamentos, não apenas por causa dos avanços significativos e da inovações de sua especialidade, mas igualmente pela consciência crescente de que o sistema ocidental de interpretações, predominante até o presente, está sendo cada vez mais posto em cheque pelas tradições historiográficas não-ocidentais, amplamente ignoradas, subestimadas ou menosprezadas. Apesar de o conhecimento das culturas não-européias ter progredido gradualmente — o que se deve também ao fato de que o circuito de influências da globalização produz efeitos reversos sobre os centros de irradiação da pressão econômica, comercial ou culrural — o conhecimento das múltiplas formas não-ocidentais de lidar com o passado ainda continua sendo absorvido de modo apenas superficial, tanto na ciência histórica como no senso comum. A perspectiva da historiografia ocidental continua claramente hegemônica, e até a história da historiografia permanece concentrada na historiografia ocidental desde os gregos (uma espécie de eurocentrismo expandido). Uma provável causa desse déficit cognitivo não se reduzia à mera falta de interesse pelas formas de pensar e de exprimir-se não-ocidentais, mas pode estar nas grandes dificuldades em se ter acesso aos textos básicos dessas culturas. As dificuldades mais freqüentes são duas: a barreira da língua e a inexistência de corpora sistematizados.
A falta de conhecimento acerca da relevância de determinados textos e das relações entre os diferentes gêneros textuais dificulta igualmente a compreensão de seus discursos quando não se está por dentro das respectivas ciências especializadas (por exemplo: sinologia, arabologia, indologia e assim por diante). A diversidade das tradições historiográficas, cujo significado somente se alcança no contexto da respectiva história social, religiosa e discursiva, tampouco vem a ser apreendida e avaliada adequadamente sem a intermediação de especialistas.
A edição comentada de textos “O pensamento histórico das culturas” contribui para diminuir os obstáculos referidos ao estudo dos discursos historiográficos não-ocidentais e para criar um acesso às formas mais representativas do modo de lidar com o tempo, com a lembrança e com a história, fora do âmbito eurocêntrico. A coletânea procura fornecer ao leitor um primeiro panorama de diversos textos de diferentes feituras, de modo a permitir construir uma representação adequada das respectivas tradições historiográficas. O período coberto vai dos primeiros inícios das tradições orais e escritas na forma de lendas religiosas, anais tribais, crônicas da corte ou do Estado, até os textos cada vez mais marcados pelo modelo da historiografia ocidental (ou a ela opostos, a partir de um passado recente).
Os critérios adotados pelo procedimento de seleção têm, obviamente, uma conseqüência inevitável: de um corpus sempre cada vez maior só se pode apresentar uma parte relativamente pequena. Ademais, quase sempre é preciso fazer a primeira tradução na história desses textos em uma outra língua, além de os ordenar e comentar cientificamente. A escolha e o comentário dos textos vão, pois, bem além do âmbito de uma única ciência especializada.
A edição destina-se tanto ao especialista em história ou outras ciências sociais da cultura como aos demais interessados, abrindo-lhes o acesso à história e à cultura das regiões em questão. Até os dias de hoje, não há, em inglês, francês ou alemão, nenhuma coletânea de fontes históricas dessas culturas. Para o público de língua neo-latina, como o leitor do português, a barreira da língua continua, mesmo se forma relativa, na medida em que o alemão não é um idioma correntemente praticado. Mas a barreira diminui, certamente, pois é ainda mais difícil encontrar quem possa ler e comentar textos em mandarim, hindu ou japonês.
O conceito diretor da coletânea, “pensamento histórico”, tem por intenção dar conta do amplo espectro das mais diversas maneiras e práticas de refletir sobre a experiência do tempo, o relacionamento com o tempo e as atribuições de sentido ao passado. A antologia reúne, por conseguinte, além de excertos da historiografia dinástica chinesa e dos discursos mais recentes sobre a especificidade científica da concepção indiana de história desde a independência, inscrições chinesas em ossos de oráculo ou em tablitas indianas, lendas de templos budistas, epopéias persas ou ainda trechos de romances populares árabes. A grande quantidade de gêneros literários, assim como sua classificação e seu comentário permitem apreender a amplitude dos modos de lidar com o passado, fora das tradições que nos são familiares. Pode-se desvelar, assim, a evolução constante de determinados gêneros literários, por vezes ao longo de séculos, e sua diferenciação, influência recíproca e mescla.
Ter colocado lado a lado conteúdos e linhas de tradição diversas permite também elaborar uma primeira representação da complexidade das respectivas culturas e relações sociais, determinantes dos processos de intercâmbio intercultural contemporâneo, no plano regional como global.
O plano geral da obra inclui ainda duas outras coletâneas já em andamento: sobre a China e sobre os países centrais do islamismo. Nas três coletâneas fica claro que a periodização estabelecida pelos autores foge do eurocentrismo, que colocaria o domínio colonial e a independência com marcos delimitadores. As obras procuram inserir-se em referências cronológicas internas aos textos e às culturas em que foram concebidos — embora, obviamente, as datas obedeçam ao calendário gregoriano hoje universalmente praticado na vida civil. Uma vantagem está em que as obras estão disponíveis também em formato eletrônico (www.humanities-online.de). E de se recomendar a todo interessado em abrir seus horizontes e conscientizar-se da diversidade social e cultural do mundo — mais importante talvez do que sua pasteurização “globalizada” — que faça uso dessa(s) coletânea(s), enriquecendo sua própria cultura com o aprendizado dos idiomas que lhes dão acesso — que seja começando pelo alemão.
Notas
1 O edição original, em inglês, foi publicada em 1973 pelajohns Hopkins University Press (Baltimore e Londres). Como em diversos outros países, o livro de H. White só veio a ser traduzido no Brasil em 1992 (EDUSP), omitindo-se no título em português de que se trata da imaginação histórica na Europa do século 19. A polêmica suscitada pela obra talvez explique a opção os editores. Com efeito, Metabistory tornou-se um clássico do assim chamado pensamento pós-moderno acerca da historiografia, a ponto de duas das mais importantes revistas dedicarem números especiais ao tema: History and Tbeory (vol, 19,1980) e Storia delia Storiografta (vols. 24 e 25,1993 e 1994).
2 A Editora da Universidade de Brasília já publicou o primeiro volume da teoria da história de J. Rüsen: Razão Histórica, 2000). Os dois volumes que completam o tríptico deverão ser publicados em 2003.
Estevão C. de Rezende MARTINS – Universidade de Brasília.
WHITE, Hayden. Metahistory. The Histórica/ Imagination in Nineteenth-Century Europe. Johns Hopkins University, 1973; RÜSEN, Jörn; MANHART, Sebastian (Ed.). Geschichtsdenken der Kulturen — Eine kommentierte Dokumentation (O pensamento histórico nas culturas — uma documentação comentada). Frankfurt/Main: Humanities On Line, 2002. Resenha de: MARTINS, Estevão C. de Rezende. Pensamento histórico, cultura e identidade. Textos de História, Brasília, v.10, n.1/2, p.214-219, 2002. Acessar publicação original. [IF]
Representações. Contribuições a um debate transdisciplinar – CARDOSO; MALERBA (RBH)
CARDOSO, Ciro Flamarion; MALERBA, Jurandir (orgs.). Representações. Contribuições a um debate transdisciplinar. Campinas: Papirus, 2000. 288p. Resenha de: PELEGRINI, Sandra C. A. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.22, n.43, 2002.
A organização de uma coletânea voltada para o debate acerca das representações configura um projeto ambicioso, dada a complexidade que o próprio tema encerra. A obra, além de contemplar o necessário equacionamento do conceito, indica diferenciadas tendências teóricas e contribui para o aprofundamento da reflexão no âmbito da pesquisa histórica, sua natureza epistemológica e hermenêutica. Se uma ressalva pudesse ser feita, apontar-se-ia a ausência de uma detida análise sobre as relações entre a história das artes e as representações ¾ um terreno fértil, mas pouco explorado pela historiografia, especialmente no campo das produções pictóricas e da plasticidade.
No seu conjunto, o volume reúne ensaios que, mediante distintas interpretações, apresenta abordagens que enfocam desde as implicações da representação como objeto histórico até a constatação de sua dimensão lingüística na produção historiográfica. Embora aponte os riscos da utilização indiscriminada da noção supracitada e de determinados paradigmas teóricos sem as devidas precauções metodológicas, o trabalho parte do reconhecimento de que a representação tornou-se uma das pedras angulares do discurso histórico contemporâneo e, como tal, procura caracterizar sua índole e função cognitiva.
Entre as contribuições do volume, chama especial atenção a análise do conceito de representação política na esfera da produção historiográfica brasileira, efetuada por Maria Helena Rolim Capelato e Eliana Regina de Freitas Dutra. As autoras reconhecem a multiplicidade das abordagens, objetos e referenciais metodológicos que têm sido alvo das investigações no âmbito do político, todavia advertem que tal fato não deve ser atribuído aos modismos historiográficos passageiros que tendem a privilegiar os estudos voltados para as representações do poder e do exercício político e sua articulação com a vida social brasileira. Muito pelo contrário, esse deslocamento, do ponto de vista das historiadoras, resulta das aberturas epistemológicas e da operacionalidade proposta pelo estruturalismo e pós-estruturalismo. Nesse contexto, a análise proposta volta-se inicialmente para a identificação dos caminhos percorridos pelo conceito de representações, sua dimensão epistemológica e prática no campo das investigações históricas. E, num segundo momento, procura verificar o impacto do mesmo em cerca de uma centena de dissertações de mestrado e teses de doutorado concluídas nos anos 90, no Brasil.
Com o intento de promover um balanço historiográfico dessa produção, a reflexão abarca desde a análise do elenco dos temas abordados1 até o cômputo das fontes utilizadas nos referidos trabalhos2. A incidência de um confronto entre as posturas adotadas nesses trabalhos e os pressupostos teóricos que informaram as produções dos períodos anteriores às analisadas revelou a tentativa desses pesquisadores estabelecerem um exercício de interlocução com as tendências historiográficas internacionais. Se, por um lado, como salientam as autoras, percebe-se que o resultado de tais iniciativas parecem ter-se reduzido a um tratamento descritivo e pouco analítico, que em última instância revelou significativa dificuldade de compreensão do espaço da política. Por outro, a referida pesquisa possibilitou constatar a importância desse novo campo para a historiografia nacional, além da incorporação de novas fontes e objetos.
Não obstante a constatação do esforço dos profissionais brasileiros, torna-se imperioso admitir, segundo Capelato e Dutra, que mesmo os estudos portadores de maior eficácia empírica e metodológica, não conseguem superar as armadilhas inerentes às simplificações e demonstram uma efetiva dificuldade de aprofundamento teórico pertinente aos conceitos formadores da explanação do conhecimento histórico. Tal assertiva fundamenta-se no rastreamento da noção de representação e na instrumentalização do termo associada às teorias semiolingüísticas consolidadas nos anos 60 e vinculadas à lógica das articulações entre linguagem, símbolo, imaginário e representação. Na trilha dos suportes que embasaram teórica e metodologicamente as pesquisas no campo das humanidades, as autoras pontificam os encaminhamentos propostos por destacados pensadores como Marin, Castoriadis, Lefort, entre outros expoentes.
Nessa direção, a proposta de Capelato e Dutra termina intercruzando-se com as inferências implícitas no texto de Francisco J. C. Falcon, que se ocupa prioritariamente da discussão das matrizes teóricas que informam a construção do conceito de representações. Este, por sua vez, apropriadamente, antes de investigar as acepções das representações, propõe-se a pontuar a concepção do discurso histórico mediante a análise de distintas correntes historiográficas, mais precisamente, na perspectiva dos modernos e na dos pós-modernos. De um extremo ao outro, tende a sublinhar o trânsito do conceito: para esses últimos a representação figuraria como negação do conhecimento histórico, enquanto para os primeiros seria reconhecida como parte integrante do próprio discurso da disciplina. Enveredando pelo circunstanciamento dessa problemática no campo da história cultural, Falcon recupera usos e interpretações do conceito na historiografia atual. Assim, termina resgatando etimológica e cognitivamente acepções do termo e do conceito, ocupando-se das articulações entre representações, ideologia e imaginário, e também do mapeamento de algumas das principais obras dedicadas ao tema em questão.
Assim como Falcon, Helenice Rodrigues da Silva empenha-se na recuperação genealógica das representações e seus sentidos na disciplina histórica, debatendo a operacionalidade da noção de representação na esfera da historiografia francesa. Ao procurar acompanhar a trajetória na qual os estudiosos da história cultural e da história política foram atribuindo primazia ao conceito, ao longo da década de 1970, a autora alerta para a necessidade de se relativizar a importância da noção de representação na prática histórica. Nesse horizonte, ressalta que no universo das renovações teóricas e metodológicas processadas nessa área, a história das representações tendeu a firmar-se como complemento e nova orientação da história cultural, uma vez que significou, para os herdeiros da tradição dos Annales, a possibilidade de integração dos atores individuais ao social e histórico. Desse modo, como propõe Roger Chartier, o conceito permitiria a associação entre antigas categorias que a história social, a história das mentalidades e a história política mantinham separadas3. Em síntese, Silva procura evidenciar como a noção de representação, largamente utilizada em disciplinas como a sociologia e a psicologia (entre outras), tendeu a substituir o conceito de mentalidades na pesquisa histórica e de que forma viria a contribuir para a integração dos distintos domínios da disciplina.
Reportando-se às múltiplas facetas que o conceito implica, Ciro Flamarion Cardoso principia sua análise por intermédio de uma tentativa de perceber as motivações que informaram a denominada “virada cultural” na produção histórica da atualidade. Nesse sentido, detecta as implicações de três dos seus desdobramentos na esfera da nova história cultural4. Do seu ponto de vista, essas tendências tenderiam a inverter as premissas estruturais e explicativas do marxismo e dos Annales, terminando por promover a confecção de uma história cultural do social, em detrimento de uma história social da cultura.
Apesar de entender que as representações contribuem para a edificação de uma dada inteligibilidade do passado, Cardoso mostra-se temeroso em relação à crescente negação do realismo epistemológico, identificado em um número significativo de estudos na área das ciências humanas. Nessa direção, desnuda uma série de vícios que tem informado as pesquisas nessa área do conhecimento, analisa os pressupostos teóricos que fundamentam a obra de Roger Chartier e, posteriormente, debruça-se sobre um minucioso acompanhamento dos usos das representações nos horizontes da psicologia social.
Numa trilha similar, mas apresentando o tema do ponto de vista do sociólogo Norbert Elias, Jurandir Malerba analisa a apropriação que a história vem realizando da noção de representação. Considerando que essa questão deva ser deslocada para o campo da narratividade, o autor busca problematizar os procedimentos mais comuns nessa área. Assim, debate os ditames que orientam a indiscriminada utilização do conceito na historiografia contemporânea, reconduzindo a temática para uma síntese distinta das proposições mais recorrentes. Esse encaminhamento privilegia as articulações entre a teoria simbólica de Elias e a definição de habitus proposta por Pierre Bourdier.
Para Malerba, a teoria simbólica de Elias sugere uma leitura de representações que supera os limites circunstanciais da oposição maniqueísta entre o mundo real e o mundo representado. Nessa linha de argumentação, tal enfoque possibilita a incorporação do homem à natureza escapando de falsos dilemas, processados na edificação da teoria processual do conhecimento e da linguagem, de modo a permitir uma compreensão diferenciada do hábito social. Este, por sua vez, contempla a recuperação de visões da experiência de vida dos indivíduos em sociedade5.
Não menos relevantes são as assertivas de Lúcia Helena C. Z Pulino, Graciela Chamorro e Gustavo Blázquez. Enquanto Pulino equaciona o problema das representações em filosofia a partir da obra de Richard Rorty, Chamorro estabelece as possíveis articulações entre o referido conceito e a teologia, rastreando as representações de Deus na história, apontando as relações da teologia feminista com múltiplas formas do simbolismo (paterno e materno). Por seu turno, Blázquez aborda a maneira como a antropologia social tem-se relacionado com a noção de representação.
À guisa de conclusão, Jurandir Malerba reporta-se, por um lado, à proposta de alinhar possíveis conexões entre os textos que compõem a coletânea, respeitando as particularidades das análises propostas em cada um deles, e por outro, ao desconforto cunhado nas abordagens que tendem a limitar os efeitos das representações em toda e qualquer problemática. Oportunamente, acaba apontando os paradoxos de uma história que se propõe nova, mas enfrenta uma crise de “consciência” da própria disciplina. Para tanto, enfoca tantos os impasses teóricos enfrentados pela história como os problemas inerentes ao estatuto epistemológico da história cultural.
Curiosamente, as evidências ilustram o fato de que a abertura do diálogo da história com outras áreas do conhecimento, a conseqüente ampliação de seus objetos, o corpus documental e as estratégias metodológicas deflagraram aquela que poderíamos nomear como crise de identidade da disciplina e um intenso processo de fragmentação da mesma em múltiplas histórias, tomadas como eixo norteador da explicação sobre as contínuas transformações da sociedade moderna.
Por certo, as razões que motivaram o surgimento desse impasse teórico diante das constantes mutações do objeto histórico passam pela questão do narrativismo histórico. Mas, no contexto de tais transformações, a reflexão acerca das representações tornou-se providencial e seus aportes ganharam, cada vez mais, relevância e interesse por parte dos profissionais da área. Contudo, os excessos unilaterais detectados nas formas de interpretação histórica têm se circunscrito a modismos transitórios e efêmeros.
Sem dúvida, tais contingências explicitam a necessidade de se buscar soluções intermediárias para a abordagem das demandas mais urgentes da sociedade humana, suscitando paradigmas explicativos alternativos. Numa visão de conjunto, torna-se forçoso admitir que as restrições ao conceito de mentalidade propiciaram aos historiadores da cultura a busca de premissas alternativas àquelas assentadas na ambigüidade e na imprecisão, observadas nas articulações entre o mental e o social.
A nova história cultural, longe de tomar como objeto preponderante as interpretações dos expoentes filosóficos e as manifestações formais de cultura (como a arte e a literatura), demonstrou sua “estima” pelas práticas populares ou pelas manifestações das massas inominadas expressas nos rituais religiosos, crenças, festas e resistências cotidianas ao poder instituído.
No terreno da história social e política, o descontentamento com os modelos tradicionais impulsionou também a revisão de axiomas pautados por obnubilantes explicações globais. Desse modo, talvez a conjugação entre o poder e as representações venham a assinalar novos dispositivos de apreensão do saber histórico, sejam eles centrados no estudo do imaginário ou da simbologia política.
Por fim, não se deve furtar de proclamar que os resultados dessa coletânea foram plenamente satisfatórios. Ao superar os propósitos iniciais do projeto, com certeza esse volume se tornará uma obra de referência na esfera da produção historiográfica contemporânea.
Notas
1 Identidade nacional, imagens do poder, representações da política, espetáculos políticos, imagens e símbolos do progresso/modernidade/modernização/desenvolvimento capitalista, produção artística, veículos de propaganda política; instrumentos pedagógicos e meios de comunicação e imagens da cidades, são os temas diagnosticados pelo levantamento efetuado. CARDOSO, Ciro Flamarion e MALERBA, Jurandir (orgs.). Representações. Contribuições a um debate transdisciplinar. Campinas: Papirus, 2000, p. 247.
2 Entre as fontes mais citadas destacaram-se: jornais/revistas/pasquins/relatos jornalísticos; obras literárias/narrativas/crônicas/dramaturgia; memórias/diários/biografias/autobiografias/relatos de viagens; discursos/mensagens/manifestos/escritos políticos; depoimentos; iconografia; fotografia; correspondência; música; estátuas/monumentos/obras arquitetônicas/planos urbanísticos; filmes; álbuns; almanaques; objetos simbólicos/moedas, bandeiras, escudos, emblemas, cartazes; rádio/TV; publicidade; mapas e plantas. Idem, p.249.
3 Idem, pp. 82-83.
4 O autor as nomeia como “virada lingüística”, “virada para o interior” e “virada para exterior”, indicando os respectivos representantes de cada uma delas. Idem, p.11.
5 Idem, p. 218.
Sandra C. A. Pelegrini – Universidade Estadual de Maringá.
[IF]
A escola dos Annales (1929-1989): A Revolução Francesa da historiografia – BURKE (VH)
BURKE, Peter. A escola dos Annales (1929-1989): A Revolução Francesa da historiografia. São Paulo: Editora da UNESP, 1992. REIS, José Carlos. Annales: a renovação da história. Ouro Preto: Editora da UFOP, 1996. Resenha de: LOPES, Marcos Antonio. Varia História, Belo Horizonte, v.14, n.19, p. 209-212, nov., 1998.
Dois livros tematicamente aparentados, e que quase se confundem pelo conteúdo de seus títulos. E as semelhanças não se esgotam nisso. A concepção geral das duas obras converge numa distribuição quase idêntica das matérias em análise. O período abordado e praticamente o mesmo. Os autores tencionam traçar um quadro amplo do desenvolvimento da chamada Escola dos Annales, desde os tempos de seus heréticos pais fundadores – pela explosão inovadora de suas idéias em meio a um ambiente intelectual conservador — Lucien Febvre e Marc Bloch, até o final da década de 80.
Na verdade, esta é a intenção maior de Burke e de Reis, que acabam por estender o que seria o projeto de uma história circunscrita dos Annales. Escrever uma história dos Annales partindo somente de seus fundadores seria fazer uma “história de pernas curtas”, como diria o próprio Lucien Febvre. Ao tentarem compreender o conteúdo “revolucionário” da história proposta por Febvre e Bloch, alargam o foco da pesquisa, descendo ao leito complexo do pensamento filosófico, da sociologia e da história, da forma corno eram concebidas estas disciplinas no século 19, o que Peter Burke chama – para esta última área – de “o Antigo Regime da historiografia”. Nesse percurso, Burke e Reis estabelecem as “genealogias”, febvriana e blochiana, identificando as raízes mais profundas das filiações teóricas e metodológicas dos fundadores, para explicar de que forma foram absorvidas e de que modo atuaram as influências recebidas em meio aos primeiros “debates e combates” travados na luta pela elaboração de uma história renovada.
Outra convergência dos textos: analisam as obras mais importantes, os maiores “monumentos” erguidos pelos Annales, como Os Reis Taumaturgos de Bloch, o problema da descrença (…) de Febvre, 0 Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo (…) de Braudel, Camponeses do Languedoc de Le Roy Ladurie, entre outros. Ambos percorrem as “três gerações” dos Annales, sendo que Reis pretende avançar este quadro, levando a pensar numa “Quarta geração” surgida do tournant critique de 1988.
Entretanto, apesar de algumas semelhanças de superfície, trata-se de textos acentuadamente distantes um do outro. Com efeito, as obras de Burke e Reis são ótimos exemplos de como pesquisadores que se debruçam sobre um mesmo objeto podem obter resultados desiguais, podem chegar a respostas convergentes ou divergentes, sem que necessariamente uma delas esteja incorreta ou deva ser refutada. Abandonadas as exageradas pretensões cientificistas na história, o que conta para um bom resultado da pesquisa é o seu “questionário”, ou seja, o programa do pesquisador, o grau de complexidade de suas perguntas, o amadurecirnento intelectual de seu projeto, como, a propósito, enfatiza Reis. Não que os dois trabalhos destoem quanto a qualidade e rigor, antes pelo contrário.
A diferença está em outra parte, isto é, no calibre da discussão, no fôlego e na disposição em discutir amplamente as matérias. Se os autores seguem um roteiro semelhante, corno foi ressaltado, existem sensíveis disparidades na estratégia de seu desenvolvimento. Não há dúvida de que o livro de Burke é mais leve, de leitura mais fácil, muito mais dinâmico e povoado de personagens que fizeram e ainda fazem a história da historiografia de nosso tempo. Por outro lado, o livro do professor Reis e mais te6rico, mais “sisudo”, e bem mais compacto. Acerca desse aspecto, vale ressaltar que aquilo que Burke discute em dois ou três parágrafos, de maneira quase alusiva, Reis desenvolve em diversas páginas. Para ficar em alguns poucos exemplos, basta comparar o tratamento que recebem as influências fecundas de Max Weber, Ernile Durkheirn, Frangois Simiand e Henri Berr. Em média, sete ou oito páginas de análise profunda de cada um!
Desse modo, seria o caso de indagar: em dois livros que têm propósito comum de informar sobre urna mesma questão, de onde vem o descompasso? A resposta para isso talvez possa ser encontrada no “espirito” de cada obra, na intenção de cada autor, naquilo que se refere ao público-alvo que eles tinham em mente corno destinatário de seus textos.
Ora, o livro de Peter Burke é quase urna obra de circunstancia, no sentido de se voltar claramente para o grande mercado editorial – no que, aliás, teve bastante êxito numa área em que, apesar da presença de alguns títulos consagrados, ainda há um considerável vazio de textos dessa natureza. Poder-se-ia objetar que o livro em questão foi publicado por urna editora universitária, preocupada em destinar obras de grande valor acadêmico para um público restrito. Contudo, a Editora da Unesp há anos já está inserida no circuito comercial das grandes editoras nacionais, desempenhando, diga-se de passagem, um papel brilhante.
Já o livro de Reis e extrato de tese, escrita para atender a uma rigorosa banca examinadora europeia, visto que seu trabalho foi defendido na Universidade Católica de Louvain, sem querer dizer com isto que as bancas nacionais sejam pouco rigorosas. E sobre este aspecto, o autor não se preocupou nem um pouco em “aliviar” o seu texto das necessárias mas sempre pouco agradáveis arestas acadêmicas, em destitui-lo de suas feições de tese, em esvazia-lo de pelo menos uma parte de sua densidade doutoral, premeditando atingir um público mais amplo, muito provavelmente desamparado de suficientes dados para digerir informações transmitidas num nível tão elevado. Limitou-se em nos conceder urna versão em português, incorporando as indigestas citações e refer8ncias bibliográficas no corpo do texto. Mas, pensando melhor, esta pode ser uma opção legitima do autor, que não faz concessões a certas “profanações”, igualmente legitimas, do grande mercado editorial. Se não conhecesse a história da obra, seus percalços e peripécias, teria sérias dúvidas de que editoras comerciais aceitassem publica-la, no formato corno se encontra pela Editora Universitária da UFOP.
Nesse ponto, a obra de Burke é mais feliz. Seu texto, sem a menor pretensão de desmerecer o livro, é material paradidático – com direito até a Glossário para aqueles que passaram por Francois Dosse, H. Coutau-Bergarie, Guy Bordé e Hervé Martin, sem esquecer o livro-dicionário organizado por Jacques Le Goff, Roger Chartier e Jacque Revel. Apesar de seu desenvolvimento quase telegráfico, ou melhor, o seu tratamento bastante ligeiro dos temas enfocados, o autor atinge seu principal objetivo: dar a conhecer o “regime” historiográfico que havia antes dos Annales, o impacto e a influência da obra de Febvre e de Bloch, a recepção internacional dos Annales, até fins dos anos 80, passando pelas “gerações” intermediarias em trajetórias breves mas muito bem tecidas, com destaque para a atuação e o lugar de Fernand Braudel.
E o que nos oferece o livro de Reis? o mesmo que a obra de Burke. Mas com analises mais extensas, o que não deixa de ser um importante diferencial. Um bom exemplo disso e o quadro que o autor traça sobre a “contaminação” da história pelas ciências sociais, e com vantagens sobre Burke, pois não se limita a estabelecer influencias e filiações te6ricas: explicita metódica e pormenorizadamente cada sistema teórico, para, ato continuo, identificar os seus pontos de enraizamento junto a história. Aí está com certeza, o seu maior mérito. Além de uma erudita exposição do desenvolvimento da historiografia francesa, o livro de Reis constitui-se ainda numa competente e bem informada aula de metodologia da história, posto que orienta sobre as especificidades da pesquisa histórica, suas dificuldades e riscos.
Apesar da identidade temática, de uma certa coincidência no desenvolvimento do texto, ‘bem como pela presença dos mesmos personagens e algumas referências bibliográficas cruzadas, as duas obras têm poucos traços em comum. Trata-se de pesquisas que chegam a resultados bem diferentes, porque desde seu ponto de partida perseguiram fins muito diversos. Acentua-se a disparidade principalmente porque são textos de níveis teóricos claramente distintos, o que para o leitor interessado nessa matéria e muito favorável: terá acesso a duas visões, a duas formas personalizadas de tratamento de um só problema. Mas, fora de qualquer dúvida, ao transformarem uma área importante da historiografia contemporânea em objeto de análise, tarefa sumamente espinhosa, cada trabalho desempenha com valor a sua meta: colaborar para a ampliação do conhecimento de um terna mais que relevante. Em síntese, dois livros inteligentes sobre uma questão a um só tempo complexa e fascinante.
Marcos Antonio Lopes – Departamento de História/ UNIOESTE-Pr.
[DR]
Memorias del Mediterráneo – BRAUDEL (PR)
BRAUDEL, Fernand. Memorias del Mediterráneo. Madrid: S.n, 1998. 381p. Resenha de: NÚÑEZ, Ana M. Panta Rei – Revista de Ciencia Y Didáctica de la Historia, Murcia, n.4, p. 1998.
Tal vez lo primero que cabe advertir sobre el libro es que no se trata de una obra escrita recientemente, sino que es un encargo al autor en 1968 como parte de una colección sobre el passado del Mediterráneo. Sin embargo, el autor de El Mediterráneo en tiempos de Felipe II, no llegó apublicar lo en su día y ahora lo encontramos recuperado por Jean Guilaine y Pierre Rouillard, quienes, debido al lapsus temporal entre autoría y edición, se han ocupado de revisarlo y anotarlo debidamente sin alterar el manuscrito. Coincide la publicación de este libro con la nueva edición completa hecha sobre manuscritos hasta ahora inéditos de la obra clásica de Marc Bloch, Apología para la historia o el oficio de historiador, escrito en 1943, quizá no sea un hecho casual la revisiónde estos dos autores.
Supone, pues, el libro que reseñamos un viaje por el Mediterráneo desde su génesis geológica hastala fundación de Constantinopla y la irrupción del cristianismo, en navegación de cabotaje p
Geschichte sehen / Jörn Rüsen
Ver a história é o título de uma obra coletiva, organizada por Jõrn Rüsen, Wolfgang Ernst e Heinrich Theodor Grütter (Geschichte sehen. Beitràge zur Àsthetik historischer Museen. Pfaffenweiler: Centaurus, 1988, 171+XXV pp.), que debate as questões referentes à apresentação de conteúdos históricos em museus e sua função social-pedagógica. A representação mental da memória e da consciência históricas é analisada desde a perspectiva do ideário presente nas mentalidades e nas organizações sociais que se pensam e expõem, mediante critérios de escolha de temas, objetos, textos e espaços.
Encenar a história como um espetáculo, como um espelho, torna-se um problema teórico e metodológico que ultrapassa o âmbito do gosto, da afetividade, da emoção. A conjuntura da construção da identidade e da especificidade dos grupos sociais mediante a elaboração da consciência histórica toma, na decisão de fazer museus e de preservar indícios [como no conservacionismo arqueológico], uma dimensão que mescla critérios político-administrativos e posições teórico- metodológicas. O mesmo vale para as exposições temporárias, da qual é exemplo a organizada em Munique, de 22 de outubro de 1993 a 27 de março de 1994, sobre München – Hauptstadt der Bewegung (Munique —A capital do movimento), cujo catálogo (485 pp.) não é uma mera descrição de peças expostas e logradouros da cidade, mas um livro de reflexão sobre a realidade social e econômica da Alemanha e sobre a consciência alemã na primeira metade do século XX, que levou (ou tornou possível que se levasse) ao surgimento do nazismo e à consagração da capital da Baviera como a capital do “movimento”. Numa e noutra obra reflete-se de modo esclarecedor sobre as três dimensões da cultura histórica: a política, a científica e a estética, ou seja: o poder, a verdade e a beleza, indispensáveis à qualificação social de histórias que tencionam ter efeito sobre a realidade concreta dos homens.
Ver a história exprimiria, assim, a sintonia suposta (e esperada) entre o mostrado (ou escrito) e o observador (ou leitor), na medida em que as três dimensões encontrariam, na exposição e na compreensão, inteligência comum.
A preocupação com a enunciação e a exposição do pensamento histórico enquanto formador e formulador de identidade social é uma constante na segunda metade do século XX. Os historiadores de língua inglesa e alemã sempre manifestaram interesse especial pelas questões teóricas e metodológicas.
Desde os anos 1960 vem sendo intensa a dedicação a essas questões, em particular ao desenvolvimento da história social e das idéias. A renovação também da história política a que os Anna/es e seus descendentes decerto não são estranhos — reforçou essa tendência. A constituição da história como ciência social e a garantia de sua cientificidade foram objeto de textos que marcaram de forma indelével a prática da ciência histórica no espaço de língua alemã (e mesmo inglesa), como Geschichte ais Sozialwissenschaft, editada pelo historiador social alemão Hans-Ulrich Wehler, em 1973. O crescimento da reflexão teórica sobre os fundamentos da história acelerou-se nos anos 1970 com a formação de amplo grupo de trabalho reunindo filósofos, historiadores, sociólogos, literatos, antropólogos, politólogos e outros (não apenas alemães, mas também ingleses e americanos). Do trabalho desses especialistas resultou uma série de seis volumes de excepcional qualidade, sob o título geral de Theorie der Geschichte, publicado pela dtv wissenschaft, de Munique, entre 1974 e 1990, com os seguintes temas: “Objetividade e partidarismo na ciência histórica”, “Processos históricos”, “Teoria e narrativa na história”, “Formas da historiografia”, “Método histórico” e “Todo e parte”. A tônica desses trabalhos está na pluralidade de abordagens e na interdisciplinaridade, em torno do eixo sistematizador da história social. Jõrn Rüsen, um dos principais formuladores da teoria contemporânea da história, publicou — entre 1983 e 1989 — a mais completa síntese em teoria e metodologia da ciência histórica, sob o título geral de Elementos de uma teoria da história e em três partes: Fundamentos da ciência histórica, Reconstrução do passado: os princípios da pesquisa histórica e Fíistória viva: formas e funções do saber histórico (Gõttingen: Vandenhoek & Ruprecht).
Rüsen concentra-se no caráter racional e seletivo, valorativo e orientador que a elaboração do conhecimento histórico, sob o rigor do método e da pesquisa empírica controlada, possui.
O principal foro de repercussão e valorização das opções teóricas e metodológicas da ciência histórica vem sendo, desde 1962, a revista History and Theory (Wesleyan University, Middletown, Conn., EUA), que tem hoje, entre seus editores, I. Berlin, R. Koselleck, J. Rüsen, A. Danto, J. Passmore, P. Veyne, W. Dray, H. White e J. Topolski. A contribuição da revista para a libertação da ciência histórica de sua fase empirista, descritiva, foi decisiva. Inúmeros equívocos clássicos, como o da confusão entre estilo narrativo e desqualificação da história como ficção pararomanesca, puderam ser desmascarados e superados nas páginas de Hayden White, por exemplo.
Conexo com a questão teórica e com a perspectiva social- pedagógica da exposição do juízo histórico descritivo e explicativo, há um importante aspecto adicional que se destacou, nos últimos quinze anos. Também ele tem a ver com o produto historiográfico constituído e com seu efeito social na comunidade. Trata-se do caráter didático-pedagógico do saber histórico. Com o Manual da didática da história (Handbuch der Geschichtsdidaktik. Düsseldorf: Schwann, 1a edição: 1979; 3a edição: 1985), organizado por K. Bergmann, A. Kuhn, J. Rüsen e G. Schneider, busca-se ultrapassar a freqüente torre de marfim em que a história se encastela, para dar à historiografia uma dimensão a que não pode ficar alheia: a de co-autora da identidade e do processo de constituição dos grupos sociais. Assim, o Manual abre com a apresentação da história como meio ambiente mental dos homens em sociedade, passa por sua consolidação como ciência de rigor, debate longamente o papel e a função da história no ensino escolar e na preparação de seus docentes e conclui pela análise da presença da história no espaço público fora das trincheiras formais das escolas e das universidades. Esse tipo de reflexão potencializa o papel social do conhecimento histórico na perspectiva de sua relevância para a definição mesma do agente racional humano no contexto de seu mundo (de seu espaço de vida, de pensamento, de ação): pensar-se a si próprio e a seu mundo, historicamente, é constituir-se e a ele. A realidade (re)construída pelo saber histórico revela, assim, o caráter antropológico do mundo pensado, descrito e explicado. Sentir a história dessa forma, tomar-lhe o pulso, é — para um número crescente de historiadores — uma tarefa que vai além da pesquisa e da elaboração de uma monografia.
A queda do muro de Berlim e a súbita necessidade de (re)encontrar-se o sentido e a direção dos alemães em sua vertiginosa história contemporânea ofereceram ocasião para um sem-número de estudos e publicações. Muitos relevam análise política e das relações internacionais. Um, contudo, da registra o quanto essa circunstância da vida da Alemanha fez recrudescer o interesse pela história, já que o passado e o presente da sociedade alemã e de seu contexto social, político e econômico são tão carregados de episódios complexos e de repercussão mundial. Interesse an der Geschichte (Interesse pela história. Org. por Frank Niess. Frankfurt—Nova York: Campus, 1989, 144 pp.) acolhe posições de historiadores alemães de renome, que se dedicam a esmiuçar a complicada relação, para os alemães, entre consciência, explicação histórica e responsabilidade social coletiva. A “catástrofe alemã” do nazismo e da ruptura social subseqüente à “organização” da guerra fria, cuja fronteira cortava a Alemanha em duas, constituíra-se em um ponto nevrálgico da consciência histórica que, após inúmeras polêmicas, desembocou na maior delas, em 1986. Esta ficou conhecida como o Historikerstreit (a polêmica dos historiadores), cujo teor foi a superação de um tipo de ser alemão e de fazer-lhe a história que rompesse com o período 1933-1945. A “catástrofe alemã” (W.Schulze), o “aprendizado da história” (K.-E. Jeismann), a história como “objeto de exposição” (G. Korff), a mulher na história e a história das mulheres (G. Bock), o esclarecimento [no sentido do fluminismo] e a instituição do sentido (H.-U. Wehler), a continuidade e a ruptura da identidade (J. Rüsen) e outros temas candentes fizeram da história, para o dia-a-dia dos alemães, algo de interesse prático e imediato, conquanto ainda não ao ponto de tornar os livros de história tão lidos “popularmente” (não confundir com vulgarização ou pseudohistória) como na França. O componente histórico, como elo de coesão e estruturação da consciência de si, aparece, assim, como o interesse mesmo de sua constituição racional, individual e social: “Uma ciência histórica orientada por idéias da Aufklárung, formuladas em sintoma com a atualidade, pode contribuir para enunciar um saber orientador racional, fundado historicamente” (H.-U. Wehler).
Ficam referidas aqui, pois, algumas leituras que trazem contribuição renovadora e inovadora para o campo da ciência histórica e de seus desdobramentos, para bem além do espaço lingüístico alemão. Há certa dificuldade, para nosso público, em ponderá-las, justamente por se tratar de livros publicados em alemão, língua de uso pouco freqüente entre os historiadores no Brasil. Alguma coisa das contribuições desses autores tem versão inglesa (traduções integrais e, no mais das vezes, artigos publicados na History and Theory), o que pode ajudar no acesso aos textos.
Nota
1. A produção historiográfica contemporânea é tributária da revolução metodológica original e originária da escola dos Annales; como aqui não se dá notícia específica dela, remete- se, para um balanço sucinto e sob as categorias derivadas da investigação da superação do Antigo Regime, a Peter Burke: A Escola dos Annales 1929-1989. A Revolução Francesa da historiografia. São Paulo, Editora UNESP, 1991 (orig. francês: 1990).
Estevão C. de Rezende Martins – Universidade de Brasília.
RÜSEN, Jörn; WOLFGANG, Ernst; GRÜTTER, Heinrich Theodor (Org.). Geschichte sehen. Beitràge zur Àsthetik historischer Museen. Pfaffenweiler: Centaurus, 1988, 171p. Resenha de: MARTINS, Estevão C. de Rezende. Ver, sentir, fazer a história. Textos de História, Brasília, v.2, n.4, p.175-180, 1994. Acessar publicação original. [IF]
A Pesquisa em História / Maria P. Vieira, Maria R. Peixoto e Yara A. Khoury
VIEIRA, Maria do Pilar; PEIXOTO, Maria do Rosário; KHOURY, Yara Aun. A pesquisa em História. São Paulo: Ática, 1987. Resenha de: SILVA, Marcos Antônio da. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.9, n.19, n.15, p.259-263, set.1989/fev.1990.
[IF]