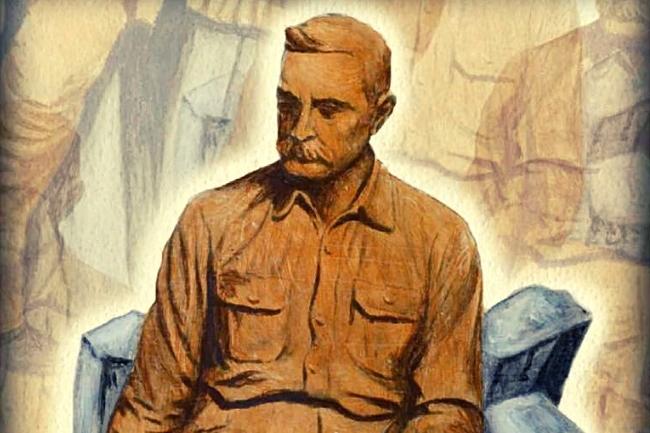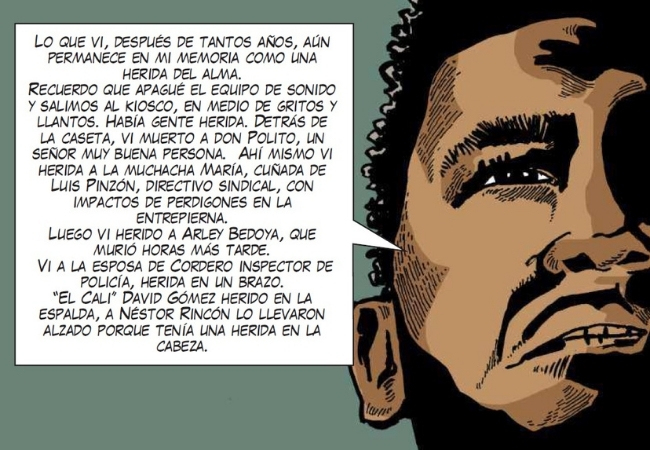Posts com a Tag ‘Memória’
Sobre o objeto memória
Mulher cuidando de cães | Aquarela/IA/IF/Canva
Uma lembrança do dia que meu bem se descobriu 52 anos mais velha.
Introdução
Colegas, bem-vindos à “Unidade 1” do nosso curso de “Educação, Cultura e Memória”. Espero que todos estejam com saúde e assim permaneçam durante as nossas atividades.
Nesta aula introdutória, vamos explorar o conceito de memória em várias perspectivas. O objetivo é oferecer um panorama de possibilidades de concepção e uso do termo, com vistas à orientação das pesquisas em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras da Universidade do Estado da Bahia (PPGEAFIN-UNEB).
Lembrem-se de que este texto registra a preleção do professor. É um trabalho de síntese que abre a discussão sobre o assunto e não substitui a leitura dos originais.
Os filmes não necessariamente tem a função de traduzir subtítulos ou categorias. Eles são também janelas para a leitura da bibliografia do curso.
Na primeira tarde do módulo, vamos explorar quatro ideias de memória disseminadas por muitos profissionais que explicam a nossa vida cotidiana.
Na segunda, vamos proceder de modo idêntico com os profissionais da Filosofia, História e Sociologia, explorando o termo em três dimensões: memória como universal antropológico, memória como substância de si, dos outros e dos próximos e memória como valor.
Ambas as possibilidades de uso podem muito auxiliar as escolhas de referencial teórico orientador da leitura de fontes, fatos e processos constituidores das suas dissertações.
Um modo inicial de definir memória é considerando a natureza da sua função. Assim, em quaisquer desses casos, podemos pensá-la instrumentalmente como: o conjunto de informações obtidas processos neurobiológicos que tem por finalidades: ligar o presente ao passado (reter o útil), ligar o passado ao presente (lembrar o útil), ligar passado, presente e futuro (agir), situar o presente (contextualizar), identificar o passado repetido e ligá-lo ao futuro (prever) e remediar o esquecimento do passado (rememorar).
Entre investigadores das ciências humanas e sociais, contudo, expressão “memória humana” é consumida dominantemente a partir da sua substância, o que gera quatro núcleos de definição: (1) habilidades mentais universais de reter e recuperar informação; (2) é o processo responsável pelo armazenamento e recuperação da informação; (3) é a própria substância armazenada e/ou recuperada; e (4) o equipamento ou suporte da informação que estimula o seu armazenamento (ou remedia o esquecimento).
As habilidades de reter e recuperar
O primeiro uso de memória é demandado por iniciativas clássicas de caracterização de entes designados seres humanos. Dentro do pensamento moderno, humanos são seres dotados de faculdades, dentre as quais está o poder (a capacidade ou a habilidade) de reter e recuperar informações para uso na vida cotidiana.
Esse atributo vale para o pensamento especulativo de filósofos, nos séculos XVIII e XIX. Ali, humanos eram detentores das capacidades de memória, vontade e razão (Locke, 1986) ou das capacidades de sentir (traduzida por memória, previsão e designação e entendimento) relacionar, conhecer e julgar, entre outras (Kant, 2006), ou ainda, por capacidades da memória, imaginação, inteligência e juízo estético (Herbart, sd).
O atributo vale também para pesquisa experimental dos séculos XX e XX, realizado no âmbito da Psicologia Cognitiva e das Neurociências. Longe dos métodos introspectivos e centradas em estratégias experimentais (empíricas), psicólogos, neurobiólogos e neurocientistas, por exemplo, mantém a “memória humana” como objeto privilegiado da pesquisa sobre cognição e aprendizagem, junto às funções da linguagem e da atenção, por exemplo. (Mas, et. al, 2007).
Assim, salvo mutilação cerebral, continuamos reconhecendo que os seres humanos são dotados de memória que lhes permitem viver em sociedade, retendo e lembrando o útil, contextualizando o que acontece no seu entorno, prevendo, posicionando-se e agindo.
A capacidade de retenção e de rememoração possibilita aos humanos a própria melhoria dessas capacidades de retenção e de rememoração. Humanos criam técnicas (modos de fazer) e tecnologias (ferramentas e conhecimentos) que viabilizam a retenção de coisas na forma de escrita, o desenho, a pintura, a gravação, a moldagem em pedra, madeira, barro, registro em impulsos elétricos, pixels etc. que podem ser recuperadas adiante. Em outros termos, memória ajuda a criar instrumentos de consolidação, reprodução e aumento de si própria.
Processos de reter e lembrar
Consideradas em modo dinâmico, essas habilidades de reter e lembrar dão origem ao segundo uso do nosso termo chave: a memória como processo.
Processos mobilizam habilidades ordenadas. A primeira é a codificação. Ela depende da percepção do acontecimento (um som ou uma imagem, por exemplo) que pode durar de milissegundos a segundos (traço de memória).
A segunda habilidade é a de armazenar parte desses traços de memória, que são “estabilizados fisiologicamente” durante algumas horas (síntese de proteínas).
A terceira é a recuperação, também limitada a segundos/milissegundos, que consiste em “trazer de volta as informações” situadas metaforicamente em algum canto do cérebro (lembrança). (Lane; Houston, 2021, p.15-25; Baddeley et al, 2020, p.10-16).[i]
A memória-processo é talvez a realização mais conhecida no âmbito do trabalho docente. Muitas vezes condenado de modo injusto, o aprender de cor ou memorizar preenche o cotidiano escolar do aluno e do professor.
Nos últimos três séculos, independentemente das singularidades teóricas, processos de reter e recuperar designavam o aprender e o ensinar, refletindo as etapas creditadas ao processamento de informação capturada no entorno do aluno.
Estas etapas, não raro, configuravam um método de ensino e de aprendizagem: percepção pelos olhos e os ouvidos, armazenamento em algum lugar do cérebro, recuperação da informação e expressão da informação de modo oral, escrito ou imagético, conservando a sua quantidade e em sua sequência original, apresentada pelo professor.
Hoje, considerada a partir da sua “arquitetura da memória”, os três movimentos listados acima podem ser concebidos na forma de dominantes e interagentes sistemas de armazenamento que interferem na aprendizagem, embora não sejam conversíveis, automaticamente, em passos ou sequências de uma aula. Eles são: memória trabalho, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo.
A memória trabalho é empregável na retenção ou recuperação das memórias de curto e de longo prazo: “enquanto escrevia, a memória da terceira palavra da frase anterior (que já perdi!) foi parte da minha memória trabalho. O mesmo aconteceu com você, leitor, ao ler essa frase: você compreendeu a terceira palavra de minha frase, há poucos segundos, mas já não a recorda mais.” (Izquierdo, 2010 p.23).
A memória de curto prazo (ou a memorização em curto lapso de tempo) é “um sistema para a manutenção temporária e a manipulação de informações […] úteis na execução de tarefas complexas” (Baddeley, 2020, p.x).
A memória de longo prazo, como o nome indica, “é um sistema ou sistemas que supostamente sustentam a capacidade de armazenar informações por longos períodos de tempo” (Baddeley, 2020, p.x). Ela pode ocorrer conscientemente de modo declarativo (memória semântica e memória episódica) ou de modo implícito, como a que é ativada quando andamos de bicicleta (memória implícita ou de recuperação involuntária).
A memória declarativa se ocupa de informações gerais sobre específicos (o significado de palavras e alguns “atributos sensoriais como sabor e cor”) e de informações também gerais sobre o funcionamento da sociedade (regras de comportamento em uma igreja ou na escola).
A memória de longo prazo do tipo declarativa também se ocupa de informações experimentadas em situações inéditas (o nascimento de uma filha, a morte de uma aluna). Neste caso, recebe o significativo nome de memória episódica.
De modo hiper-realista, tanto a capacidade sistêmica de armazenamento de curto prazo, como a capacidade sistêmica de armazenamento de longo prazo são realizados por um frenético vai e vem de neurônios de tipo vário, convertendo informação (estímulos etc.) e transportando informação entre as áreas de percepção (olhos, ouvidos, pontas dos dedos etc.) e as áreas de armazenamento e de consolidação (diferentes lóbulos do cérebro).
Outro importante registro a guardar é a relação entre os dois sistemas. Como alerta Baddeley, trânsito de informações não ocorre apenas da memória de curto prazo à memória de longo prazo: “nosso conhecimento do mundo, armazenado na memória de longo prazo, pode influenciar no foco de atenção, que determinará tanto a natureza do que é alimentado nos sistemas de memória sensorial (objetos familiares ou sem sentido) como a qualidade do que é recuperado (Baddeley et al, 2020, p.10).
A substância armazenada ou recuperada
O resultado da ação de memorizar, ou seja, a realização simultânea dos fins da memória-capacidade, memória-ato e memória-equipamento é a memória-coisa. Este nome não é dos melhores, mas expressa a natureza da memória ou um modo de encará-la positivisticamente.
Ela se realiza de forma estática, na figura e uma imagem de lugar, o rosto de uma pessoa ou cheiro de um arbusto. Ela também se realiza de forma dinâmica, na figura de uma proposição ou uma longa narrativa expressa em um arranjo lógico sequencial de acontecimentos. A depender da escala de observação, porém, a memória-coisa pode estar ou não disponível à imaginação das pessoas.
Quando o professor nos apresenta uma edificação do século XVIII (imagens físicas), em São Cristóvão-SE, como uma Igreja cristã e o faz repetidas vezes, ao longo de um ano letivo, mobilizando sistema de representação visual, fonológico, gramatical e conceitual (Pinker, 1998, p.96-102), uma rede neuronal é estabelecida em nossa mente, envolvendo substâncias inimagináveis aos leigos em bioquímica. Neste caso, memória é realizada, entre outras coisas, por impulsos elétricos e proteínas que constituem o que chamamos de retenção.
Quando alguém nos interroga sobre edificações similares situadas em Coité-Ba, ou Goiás Velho-GO e somos tomados por representações (imagens mentais) da mesma igreja de São Cristóvão, a rede neuronal (igreja cristã do século XVIII) é ativada e reforçada em nossa mente, envolvendo também substâncias inimagináveis aos leigos em bioquímica. Neste caso, memória é realizada, entre outras coisas, por impulsos elétricos e proteínas que constituem o que chamamos de lembrança.
O suporte que encarna e estimula a retenção e a recuperação
Durante a manipulação das ideias de memória-habilidade, memória-processo e memória-substância (também como condição epistemológica), os pesquisadores lançam mão de categorias realizadoras de espaço físico. Dizendo de outro modo, a capacidade abstrata de reter/recuperar e o consequente ato de memória (a realização dessa capacidade) exigem esquematicamente um local para a manipulação dos estímulos e informações e a guarda desse material manipulado.
Esse local pode ser examinado a partir do interior do indivíduo e do seu exterior. Examinando a questão pelo primeiro aspecto, constatamos que, durante séculos, ele foi realizado como um órgão metaforizado de várias maneiras. Dois exemplos conhecidos são: a forma de loja, onde se deposita qualquer espécie de objeto (Rollin, 1764), e a forma de músculo, que amplia a sua capacidade de retenção mediante exercícios disciplinados (Locke, 1986).
Nos últimos 60 anos, esse local onde se processa a memória corresponde, na verdade, a meia dezena de espaços dispersamente situados no cérebro e nas demais partes do corpo onde atuam neurônios receptores e transportadores de estímulos provenientes do entorno de um indivíduo. Esses espaços são ativados à medida que o entorno nos estimula ou à medida que nós dirigimos a atenção para determinado acontecimento.
Assim, ao invés de loja ou músculo, pesquisadores o designam esse local como “arquitetura da memória” (descrito no tópico anterior). Com ele, podemos por exemplo falar em mobilização de lóbulos cerebrais, durante o processo de memória trabalho e o processamento da memória de longo prazo.
Examinando a questão do local como disposto no exterior do indivíduo, nos deparamos com a ideia de que certos artefatos podem ser metaforizados como local de memória. Não é qualquer artefato. É, simplesmente, aquele objeto de valor afetivo ou repulsivo que, ao ser manuseado ou observado, provoca emoções e abre um canal entre o presente e o passado de quem o manipula. É também um objeto de valor neutro para o observador comum, mas que fornece direta ou indiretamente informações sobre determinada questão, quando examinado por um identificador de historicidades.
Esse último tipo é o que designamos como fonte histórica. Toda fonte é potencialmente memória, ou seja, algo que remete ao passado ausente (ou ao acontecido presentificado). Neste sentido, são designados memória os artefatos resultantes das técnicas referidas acima, a exemplo dos registros em pedra, argila, papel, HDD, SSD, pen drive que viabilizam a retenção e a recuperação conjuntos de informações, a exemplo de uma lista de reis, cenas de caçada gravadas em pedra, um livro didático de história ou um trecho de vídeo sobre os atos do oito de janeiro de 2023 em Brasília.
Conclusão
Neste texto introdutório, tentamos convencê-los de que a palavra memória é categorizada por profissionais de diferentes domínios em quatro significados: habilidades de reter e recuperar, equipamento/processo, substância e suporte da substância retida e/ou recuperada.
Também reiteramos que profissionais da memória exploram seu objeto em diferentes escalas, contemplando desde redes neuronais até a imagens, sons e textos inscritos na paisagem (um livro, um edifício, um oceano).
Ao fim e ao cabo, profissionais da memória exploram-na em sua substância e função para a sobrevivência humana, ou seja, na retenção do útil, na recuperação do útil para compreender a ação do outro, no registro e na recuperação do útil para desejar, planejar, inventar, manter ou contestar identidades e dominações.
Na próxima aula, vamos explorar os tipos e os usos que filósofos sociólogos e historiadores prescrevem para categoria “memória” no trabalho do historiador.
Referências
BRADDELEY, Alan; WYSENCK, Michael W.; ANDERSON, Michael C. Memory. 3ed. London: Routledge, 2020.
CATROGA, Fernando. Memória, História e Historiografia. Lisboa: Quarteto, 2001.
FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. 7ed. Forense Universitária, 2008. [1968]
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. [1968]
HERBART, Johann Friedrich. Pedagogia Geral. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.
IZQUIERDO, Iván. A arte de esquecer: cérebro e memória. Rio de Janeiro: Vieira & Lenk, 2010.
KANT, I. Antropologia de um ponto de vista pragmático. São Paulo: Iluminuras, 2006.
LANE, Sean M.; HOUSTON, Kate A. Understanding eyewitness memory. Theory and Applications. New York: New York University Press, 2021.
LOCKE, John. Pensamientos sobre la educación. Madrid: Akal, 1986.
MAS, Carles Soriano (Coord.). Fundamentos de Neurociencia. Barcelona: UOC, 2007.
NORA, Pierre. Les lieux de la mémoire. Montevideo: Trilce, 2008. [1984]
PINKER, Steven. Como a mente funciona. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
PORTELLI, Alessandro. História oral como arte da escuta. São Paulo: Letra e Voz, 2016. [2016]
RICCEUR, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2004. [2000]
ROLLIN, Charles. De la maniere d’enseigner et d’’étudier les belles-lettres para rapport à l’’esprit & au coeur. T. 1. Paris: Etienne & Fils, 1764. p.230-243.
Nota
[i] Para uma completa, esquemática e didática exposição desses processos, consultar Lane e Houston (2021) e Braddeley et al (2020), aqui empregados como principais referências.
Para citar este texto
FREITAS, Itamar. Sobre o objeto memória. Resenha Crítica. Aracaju/Crato, 24 abr. 2023. Disponível em <https://www.resenhacritica.com.br/a-cursos/sobre-o-objeto-memoria/>.
Fortín Yunka (1919) Historia y memoria del pueblo pilagá | Alejandra Vidal e Ignacio Telesca
En Fortín Yunka (1919) Historia y memoria del pueblo Pilagá Alejandra Vidal e Ignacio Telesca editan la historia silenciada detrás de la llamada tragedia que vivió el fortín que estaba situado en la actual localidad de Sargento Leyes en Formosa. La obra se construye como un rompecabezas en la que diversas investigaciones reponen diferentes lecturas sobre las represalias contra familias pilagá, quienes fueron responsabilizadas de la tragedia, y sus efectos a largo plazo sobre la población indígena. El libro es producto del diálogo entre los/as autoras/es que se dio en las “Primeras jornadas de reflexión sobre la masacre de Fortín Yunka (1919): políticas de estado, archivos, narraciones literarias y memorias”. Estas fueron organizadas debido al Centenario por el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio (INILSyT) de la Universidad Nacional de Formosa.
En marzo de 1919 una masacre fue ejecutada contra los soldados y familias del fortín que estaba situado en la zona del estero Patiño, cercano a la frontera con el Paraguay. El fortín se configuró desde principios del siglo XX con el fin de continuar el proceso de sometimiento y control de los territorios del norte en el marco de la prolongada “conquista del desierto verde”. Sin mediar investigación profunda y con pruebas dudosas la comunidad pilagá vecina fue responsabilizada por la tragedia. Pocas semanas después una división del ejército argentino, comandada por el capitán Enrique Gil Boy, ejecutó una segunda masacre como represalia contra el “cacique Garcete” (Nasoki’, en su lengua) y su gente. La primera masacre es recordada hasta el presente con monumentos, textos escolares, homenajes y relatos históricos. La segunda fue erradicada del relato hegemónico y mantenida sensiblemente en la memoria social pilagá. Leia Mais
Colonial cataclysms: climate/landscape/and memory in Mexico’s Little Ice Age | Bradley Skopyk
Difícilmente podríamos decir que el clima es una novedad para las ciencias históricas, en especial cuando los estudios abarcan el mundo agrario. En el caso de la literatura sobre el espacio que hoy conforma el territorio mexicano, desde fines del siglo pasado podemos encontrar historiadores y arqueólogos realizando análisis que involucran eventos de sequías, heladas, sedimentación e inundaciones. Aunque estos antecedentes no han desembocado en una historia del clima con la misma expresión que tienen otros tipos de abordajes y narrativas, lo cierto es que en los últimos años aquellos especialistas atentos a las variables y variabilidades climáticas han logrado identificar y/o replantear problemáticas que antes eran vistas desde un mareante antropocentrismo. Asimismo, sus estudios producen cada vez más metodologías nuevas para sacar e interpretar datos climáticos (proxy data) presentes en los archivos o producidos por otras ciencias. Es justo en este presente historiográfico, y en diálogo con él, que vino a luz el libro Colonial Cataclysms: climate, landscape, and memory in Mexico’s Little Ice Age, escrito por el historiador Bradley Skopyk.
Colonial Cataclysms es un estudio con la mirada puesta sobre México central durante el dominio ibérico y constituye una aportación mayúscula a la historia de la región analizada y un acercamiento novedoso a los procesos ocurridos en el marco de la Pequeña Era del Hielo (PEH en adelante). Con base en una serie de variaciones climáticas elaborada por el autor mediante la correlación entre las dinámicas del clima, los conocimientos morfodinámicos, estudios dendrocronológicos y el archivo, este trabajo se desarrolla a partir del argumento de que entre principios del siglo XVI y fines del siglo XVIII, México central vivió una etapa de flujo ambiental, social y político directamente vinculada a la existencia de dos cataclismos. Según el autor, estos cambios abruptos tuvieron orígenes diferentes y sus rasgos quedaron incrustados en el paisaje físico y documentado. Mientras el primero, de carácter más climático, se conformó a partir de una fase de la PEH que se prolongó hasta fines del siglo XVII y se caracterizó por picos de humedad y bajas temperaturas, el segundo tuvo una manifestación más geomórfica, distinguiéndose por una rápida transformación del campo, donde los paisajes palustres fueron sucedidos por otros de laderas áridas y valles sedimentados y disecados. Leia Mais
Joãosinho da Goméia | Inês Gouveia, Andrea Mendes, Nielson Bezerra e Marlúcia Santos de Souza
Joãosinho da Goméia | Imagem: Brasil de Fato
O livro Joãosinho da Goméia é obra organizada sob o olhar de quatro pesquisadoras/es. Trata-se de uma coletânea voltada à memória, à palavra e à honra de um dos mais importantes nomes do Candomblé brasileiro: Joãosinho da Goméia. Babalorixá baiano do século XX, João Alves Torres Filho (seu nome de batismo) deixou um legado de conhecimentos afrodiaspóricos e lutas em prol do povo negro e para os saberes de uma religião que extrapola os limites impostos pelo pensamento opressor da colonialidade. Os quatro organizadores da obra – Inês Gouveia, Andrea Mendes, Nielson Bezerra e Marlúcia Santos de Souza –, especialistas nas áreas de Museologia, Patrimônio e História, se dedicam aos estudos sobre a África e suas influências no Brasil, observando como as implicações da africanidade são vistas, ressignificadas e vividas por nós brasileiros no cotidiano.
 O livro é organizado em doze capítulos na forma de artigos escritos por pesquisadoras e pesquisadores que se debruçaram sobre a vida de Joãosinho da Goméia, observando a densa atmosfera cultural e religiosa negra que esta figura impôs à visibilidade do Candomblé no Brasil. Estes capítulos são divididos em duas partes. A primeira, intitulada “Memória e Representatividade”, abarca os seis primeiros capítulos e atrai o leitor para um plano imersivo na vida e na pessoa de Joãosinho da Goméia, evidenciando um homem negro envolvido com a causa cultural de seu povo e de seu tempo, conquistador dos espaços de luta e poder em prol de uma visão positiva de sua crença e suas práticas sociais e religiosas. Autoras e autores evidenciam um sacerdote que atuava nas múltiplas representatividades: homem negro, homoafetivo, artista e Babalorixá. É possível observar que qualquer tentativa de compreender Joãosinho da Goméia sem se atentar a estes marcadores será em vão, pois em todas as suas ações de vida enaltecia os valores e as lutas que a ideologia dominante cristã e heteronormativa ao seu redor repudiava, e por isso se tornara um ícone da luta e resistência subalterna de sua época. Leia Mais
O livro é organizado em doze capítulos na forma de artigos escritos por pesquisadoras e pesquisadores que se debruçaram sobre a vida de Joãosinho da Goméia, observando a densa atmosfera cultural e religiosa negra que esta figura impôs à visibilidade do Candomblé no Brasil. Estes capítulos são divididos em duas partes. A primeira, intitulada “Memória e Representatividade”, abarca os seis primeiros capítulos e atrai o leitor para um plano imersivo na vida e na pessoa de Joãosinho da Goméia, evidenciando um homem negro envolvido com a causa cultural de seu povo e de seu tempo, conquistador dos espaços de luta e poder em prol de uma visão positiva de sua crença e suas práticas sociais e religiosas. Autoras e autores evidenciam um sacerdote que atuava nas múltiplas representatividades: homem negro, homoafetivo, artista e Babalorixá. É possível observar que qualquer tentativa de compreender Joãosinho da Goméia sem se atentar a estes marcadores será em vão, pois em todas as suas ações de vida enaltecia os valores e as lutas que a ideologia dominante cristã e heteronormativa ao seu redor repudiava, e por isso se tornara um ícone da luta e resistência subalterna de sua época. Leia Mais
Em Busca da Liberdade: Memória do Movimento Feminino pela Anistia em Sergipe (1975-1979) | Maria Aline Matos de Oliveira
Maria Aline Matos de Oliveira com os seus pais | Foto: Davi Villa / Segrase
“… por cima do medo, a coragem”.
Zelita Correia (In: OLIVEIRA, 2021: p. 210).
A pesquisadora e professora Maria Aline Matos de Oliveira oferece, ao público leitor, com a transformação da dissertação de mestrado em História em livro, um dos capítulos mais importantes da resistência democrática contra o autoritarismo da ditadura empresarial-militar no Brasil (1964-1985), ao reconstruir o protagonismo das mulheres na organização a trajetória da luta pela anistia em Sergipe, que galvanizou amplos setores da sociedade civil.
Como produto do processo de consolidação do curso de pós-graduação em História, da Universidade Federal de Sergipe, sua pesquisa busca reconstruir, a partir da metodologia da história oral, histórias e versões de segmentos populacionais antes silenciados pela historiografia brasileira, como é caso da luta das mulheres na resistência às ditaduras no Cone Sul. Além das entrevistas realizadas, a pesquisadora utilizou fontes jornalísticas, relatos memorialistas e a documentação dos acervos do Memorial da Anistia, do Brasil Nunca Mais e da Comissão Estadual da Verdade “Paulo Barbosa de Araújo” (Sergipe). Leia Mais
Memória, patrimônio cultural e processos educativos: diálogos e reflexões históricas | SÆCULUM – Revista de História | 2022
Inteligência artificial será usada para descobrir sítios arqueológicos ocultos | Imagem: Canaltech
O patrimônio histórico-cultural caracteriza-se por suas múltiplas dimensões pedagógicas: educar pelo patrimônio, com o patrimônio, nas práticas educativas, na gestão formativa do uso público do patrimônio, nas concepções interdisciplinares e multidisciplinares, entre outras. Nesse sentido, esse dossiê dedica-se a organizar e aglutinar estudos e pesquisas sobre as interfaces entre história, patrimônio cultural e as práticas educativas na história ensinada.
São dimensões analíticas e metodológicas que apresentam o complexo enredo de narrar, lembrar, esquecer, difundir, preservar e questionar historicamente os percursos do patrimônio. Perpassam espaços educativos, caminham pelas praças, trilham ruas, adentram museus, sensibilizando-se pelas edificações de outrora, permitindo que as memórias e histórias, imiscuídas entre o material e a cultura intangível que também habita esses lugares, possam se tornar fontes históricas para/no Ensino de História. São reflexões críticas que têm diferentes basilares epistemológicos para dialogar sobre a natureza documental, imagética, oral, estética, formativa, educativa do patrimônio histórico-cultural que conforma relações de pertencimento entre os grupos e destes com as sociedades e as nações. Essa relação, sistêmica por essência, possibilita projetar meios/motivação/concepções para a educação para e com o patrimônio. Leia Mais
Historia/memoria y olvido del 12 de febrero de 1818. Los pueblos y su declaración de la independencia de Chile | Lucrecia Enríquez
A propósito de su bicentenario, Historia, memoria y olvido del 12 de febrero de 1818. Los pueblos y su declaración de la independencia de Chile es un libro que pretende visibilizar el 12 de febrero de 1818 como el punto de llegada de un proceso que es posible datar de 1808 con la acefalía monárquica, hecho que convirtió a los pueblos en protagonistas del nuevo escenario político. La declaración de la independencia, acompañada de un lenguaje ritual en cada ciudad y villa, selló la sustitución de soberanía monárquica en el pueblo soberano el 12 de febrero de 1818. A partir de la ceremonia llevada a cabo aquel día se declaró Chile como un Estado soberano y, a partir de este hecho, se enfrentó a los españoles con una nueva identidad política. La proclamación y jura común de los pueblos, ciudades y villas chilenas otorgaron significancia a esta fecha que, dado su olvido en la memoria nacional, es necesario volver a estudiarla. Aquel manto de olvido se encuentra en dos momentos clave que corresponden al siglo XIX durante la república conservadora y al siglo XX a partir de la tesis de Luis Valencia Avaria. Ambos hechos afectaron la memoria histórica nacional al no tener claridad hoy de lo que ocurrió ese día. Leia Mais
El Liceo. Relato/memoria/política | Sol Serrano Pérez
Los movimientos sociales en Chile de las últimas dos décadas, liderados por agrupaciones estudiantiles de educación secundaria, han reflejado lo más palpable de las crisis políticas y económicas vividas en el país. Así, múltiples trabajos sociológicos han tratado de dar respuesta a los problemas contemporáneos. Los trabajos más importantes han sido realizados precisamente por Sol Serrano, junto con Macarena Ponce de León y Francisca Rengifo, que con su Historia de la Educación en Chile de tres volúmenes, buscaron dar respuesta a las incógnitas o “lagunas” de un ámbito poco estudiado en la historia nacional. De esta manera, el ensayo El Liceo. Relato, memoria, política se desprende de la magna empresa de Serrano, Ponce de León y Rengifo, en donde invitan a reflexionar sobre aspectos presentes en el establecimiento educacional de la primera mitad del siglo XX. Antes que todo, cabe señalar un aspecto esencial de la configuración social del Liceo, para la primera mitad del siglo pasado, casi la totalidad de los matriculados fueron hombres provenientes de la incipiente clase media y, en consecuencia, gran parte de aquellos luego de su egreso tendrían una gran importancia en el escenario político chileno. Leia Mais
Memoria y disciplinas: aproximaciones a la historia de las ciencias | Rafael Guevara Fefer e Miguel García Murcia
Detalhe de capa de Memoria y disciplinas: aproximaciones a la historia de las ciencias (2021).
Los estudios en historia de la ciencia se encuentran cada vez más consolidados mundialmente, aunque son escasas las reflexiones en torno a los problemas insertos en el binomio ciencia-historia, tanto en las disciplinas que estudiamos como en las narrativas que construimos al abordar el análisis del devenir científico. Ello, a pesar de que las memorias e historias de las comunidades científicas se encuentran entrelazadas con la construcción de sus saberes, plasmadas tanto en los órganos de publicación como en los nombres de las calles y los monumentos que embellecen los edificios públicos, así como en las salas de los museos y los libros especializados de toda índole. Los seis capítulos que integran el libro Memoria y disciplinas: aproximaciones a la historia de las ciencias (Guevara Fefer, García Murcia, 2021) develan y analizan estos procesos de construcción, su expresión en piedra, exhibición o papel, y sus variopintos usos y destinatarios.
Son procesos de larga data, porque la historiografía de las ciencias surge entre los siglos XVIII y XIX, y acompaña los procesos de institucionalización de estos nuevos saberes en ambos lados del océano, expresando la axiología e identidad epistémica que construyen y sostienen los científicos para erigir disciplinas universales que, al mismo tiempo, se encuentran arraigadas en la localidad. Bajo estos planteamientos iniciales, los coordinadores de este libro, Rafael Guevara Fefer y Miguel García Murcia, plantean en el estudio introductorio los principales ejes de análisis que guían los trabajos expuestos en la obra colectiva para mostrar cómo los científicos mexicanos, al tiempo que construían sus disciplinas y espacios de saber especializado, imaginaron e impusieron “un pasado al servicio de sus agendas políticas y epistémicas” (p.12), en un proceso constante de reiteración que se alimentó del olvido y la memoria (la personal y la colectiva) y, con ello, construyeron un patrimonio e identidad colectivos que dio sentido a su práctica presente y futura. Porque el control sobre la memoria – proponen – es un acto político, una herramienta de poder y un instrumento de legitimización de las ciencias. Leia Mais
Entre vozes femininas: História Oral e memória no Amazonas contemporâneo | Patrícia Rodrigues da Silva
Entre vozes femininas | Detalhe de capa
Lançada em 2020, a obra Entre vozes femininas: História Oral e memória no Amazonas contemporâneo é organizada por Patrícia Rodrigues da Silva e faz parte da Coleção PPGH, que tem como objetivo divulgar pesquisas do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas (PPGH-UFAM).
Precedido por outros três títulos também lançados em 2020 pela Editora CRV, este volume 4 é o primeiro a se debruçar especificamente sobre o contexto amazonense, o fazendo, sobretudo, por meio dos relatos e das escritas femininas – dos oito artigos que compõem o livro, seis deles são escritos por mulheres. Leia Mais
E foi a assim que eu e a escuridão ficamos amigas | Emicida
Emicida (Leandro Roque de Oliveira) | Imagem: Divulgação
E se um livro pudesse acalantar o coração de uma criança que tem medo do escuro? E se esse livro contasse uma história em formato de poema e não só convencesse os pequenos que o receio é comum e que até os adultos o sentem em certos momentos, mas também os encantasse com os versos rimados a cada virar de página? É dessa forma que Leandro Roque de Oliveira, o Emicida, rapper, cantor, letrista, compositor e autor da obra “E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas” brinca com a imaginação e conta uma bela história em forma de poesia.
Emicida é muito assertivo com a escolha do tema do seu livro: o medo e este, relacionado ao escuro, é uma vivência muito comum na infância. Debater este assunto em um livro infantil em formato de poesia é uma sacada muito positiva do autor. Para deixar a história ainda mais convincente, o livro de Emicida conta com belíssimas ilustrações de Aldo Fabrini que fogem do comum e trazem traços bastante originais dando ainda mais vivacidade aos momentos que se intercalam entre o medo e a coragem. Leia Mais
Écrire ses memóires: astuces et conseils pour transformer ses souvenirs en un livre | Marie -Gaëlle Le Perff || Aspectos teóricos de la autobiografia | Edgar Velásquez Rivera
Marie-Gaëlle Le Perff e Edgar Velásquez Rivera | Imagens: Narrovita e Proclama
Dois manuais recentes sobre a elaboração de autobiografias foram lançados em línguas francesa e espanhola com abordagens e destinatários diferenciados. Não apresentam inovações na área, mas vale a pena submetê-los à crítica como indicador da bibliografia circulante para o interessado na temática. Eles são: Écrire ses memóires: astuces et conseils pour transformer ses souvenirs en un livre, de Marie-Gaëlle Le Perff, e Aspectos teóricos de la autobiografia, de Edgar Velásquez Rivera.
Écrire ses mémoires é um singelo manual introdutório às artes dos escritos de vida (biografias, autobiografias e memórias). Foi publicado em 2020 com a meta de auxiliar pessoas comuns a escreverem suas lembranças, por si mesmas, dando a conhecer questões e conceitos típicos da investigação do gênero e da publicação independente. Sua autora, Marie-Gaëlle Le Perff, é formada em Jornalismo (Paris 7) e Biologia (Poitiers) e se apresenta como redatora da revista Vie Chrétienne, biógrafa familiar e especialista na cobertura de assuntos da saúde. Leia Mais
Historia de la educación argentina reciente: memoria/ enseñanzas e investigaciones | S. Riveros
Historia de la educación argentina reciente: memoria, enseñanzas e investigaciones es el título que lleva el libro compilado por Sonia Elizabeth Riveros en el cual se reúnen textos que fueron parte de las III Jornadas de Historia de la Educación Argentina Reciente (HEAR), las que tuvieron lugar en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis durante el mes de noviembre del año 2019. El evento fue organizado por el Proyecto de Investigación Hacer la Historia, construir la memoria. Su impacto en las Ciencias Humanas de la misma Facultad; el Programa de Historia y Memoria, y el Archivo Histórico y Documental de la UNSL, como así también por el Centro de Estudios e Investigación en Historia de la Educación Argentina Reciente (HEAR), que en ese momento tenía sede en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Leia Mais
Un otoño que perduró en la memoria. La pandemia de influenza de 1918 en la ciudad de Puebla | Miguel Ángel Cuenya Mateos, José Ramón Eguibar Cuenca
La pandemia de SARS-COV-2 de 2020 fue inesperada a nivel global, pues no se había visto una enfermedad de esta magnitud en más de una centuria, después de la llamada “gripe española” de 1918, pues si bien hubo otras pandemias en el siglo XX, ninguna de estas llegó a tener el impacto social, cultural y económico que tuvo esta última. Después del 2020, la pandemia de influenza H1N1 de 2009, quedó muy lejos de ser una preocupación como la que se vivió a partir de ese año. Amén de lo anterior, la comunidad científica de diversas áreas ha estudiado el comportamiento de las pandemias desde diversos enfoques. En el área de la investigación histórica la mayoría de estos trabajos se enfocaron en enfermedades epidémicas y pandémicas de los siglos XVI al XIX. Respecto a la pandemia de 1918, Leticia Gamboa Ojeda abordó su estudio para el caso de la ciudad de Puebla en 1991, estas indagatorias continuaron en los siguientes años de la mano de otros autores incluido Miguel Ángel Cuenya, pero a partir del contexto de la presente pandemia el propio Cuenya y Ramón Eguibar le han dado una nueva interpretación y enfoque, relacionando lo médico con lo histórico en el panorama de la primera mitad del siglo XX. Leia Mais
Jorge Edwards. Custodio de la memoria | María del Pilar Vila
“El libro gira en torno al valor que Edwards le da a la memoria” dice María del Pilar Vila y sintetiza para el lector el espíritu de este ensayo al que Roberto Hozven define en su presentación como “un buen texto crítico” que “se va solo en la lectura”. Leia Mais
Memoria y Olvido: usos públicos del pasado desde la Academia Colombiana de Historia (1930-1960) | Sandra Patricia Rodríguez Ávila
Repensar el pasado trae consigo cuestionarse el cómo y porqué de su implementación para determinados fines; en este caso, el libro de Sandra Rodríguez invita a adentrarse y reflexionar en torno a esas estrategias, esos usos públicos que puso en práctica la Academia Colombiana de Historia entre 1930 y 1960 para la construcción de la memoria oficial mediante el fomento de las festividades patrias, la enseñanza de la historia en los diversos planos de la escolaridad y la ordenación del patrimonio histórico y cultural de la nación. Lo que expone Rodríguez en su libro puede tomarse como un proceso que inició con mayor ahínco con la conmemoración del primer Centenario en 1910, donde se buscó exaltar los valores de los próceres de la Independencia, tales como su patriotismo capaz de llevarlos al sacrificio en el cadalso, su valentía y su audacia, bien fuese en el campo de batalla o en el ejercicio político o científico. Junto con esto se puso a España como la madre patria, a la Iglesia como agente principal de la civilización y a los valores hispanistas como aglutinadores de una nación fragmentada por razón de las guerras civiles del siglo XIX y la Guerra de los Mil Días1 .
El libro de Rodríguez, resultante de la investigación para su tesis doctoral del año 2013, se divide en 4 capítulos: en el primero, titulado “El culto y cultivo de la historia como uso público del pasado”, la autora se dispone a mostrar la conformación de la Academia a partir de historiadores aficionados integrantes de la élite política de la capital, considerados a sí mismos como los descendientes de los próceres de la Independencia nacional y portadores de la tradición y valores hispánicos, que se identificaban bajo el modelo intelectual y moral adoptado por las élites desde el periodo de la Regeneración2. Además, este apartado deja ver la publicación del Boletín de Historia y Antigüedades de la Academia como su principal propuesta de difusión, junto con otros lanzamientos y propuestas editoriales, donde se destacan la Historia Extensa de Colombia y la producción de textos escolares para la enseñanza de la historia como Historia de Colombia para la enseñanza secundaria y el Compendio de la historia de Colombia para la enseñanza en las escuelas primarias de la República de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, a partir de los cuales se basaron la mayoría de libros de texto escolares hasta los años 50. Finalmente, el capítulo culmina destacando la creación y consolidación de los centros y academias de historia a nivel regional, impulsados por la Academia, permitiendo de esta manera una multiplicidad de “brazos” que articulaban la labor de la entidad en la capital al resto del país. Leia Mais
Literatura/História e Memória em Gabriel García Márquez | Michelle Márcia Cobra Torre
O Caribe Colombiano é um território mágico e singular, com múltiplas influências culturais e uma vasta produção artística. Na literatura, citando apenas alguns nomes, autores como Álvaro Cepeda Samudio, Roberto Burgos, Clinton Ramirez, Teobaldo Noriega expressam essa riqueza e diversidade. Nascido em Aracataca, pequeno povoado do Departamento de Magdalena, um ambiente rodeado por trens, telégrafos e fazendas bananeiras – sob a exploração da legendária United Fruit Company –, Gabriel García Márquez se tornou um escritor universal e consagrado, laureado com o prêmio Nobel de Literatura em 1982. Leia Mais
Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past | Ana Lucia Araujo
Em fevereiro de 2020, perto da capital dos Estados Unidos da América, visitando a plantation Mount Vernon – que pertenceu a George Washington -, a historiadora Ana Lucia Araujo encontrou à venda um ímã de geladeira que reproduzia uma dentadura do ex-presidente feita com dentes de escravizados. Fez disso um elemento da análise sobre como a plantation apresenta seu passado escravista; contrapôs o prosaico objeto ao fato de a propriedade realçar a face de “senhor benevolente” de George Washington ao mostrar como ele deixou manifesta no testamento a vontade de libertar seus escravos. O esdrúxulo da dentadura num íma de geladeira – que consiste em grave ofensa aos cativos e seus descendentes – e a libertação dos escravos em testamento poderiam render muita reflexão sobre as práticas escravistas; aqui, no entanto, são amostra das minúcias da análise de Ana Lucia Araujo no livro Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past, publicado meses depois de esta professora da Howard University ter se espantado com aquele artefato à venda.
É crescente a velocidade com que se sucedem episódios de conflito e de memorialização em torno da escravidão e do tráfico de africanos, mas Ana Lucia Araujo é ágil. A atualidade dos acontecimentos mobilizados no livro admira o leitor. A lojinha em Mount Vernon foi visitada em fevereiro de 2020, mas a autora examina muitos outros fatos recentes, como a discussão da troca de nome de um mercado construído no século XVIII em Boston (p.91-93) e as iniciativas oficiais de memorialização da escravidão na França (p.66). Leia Mais
September 11, 2001 as a Cultural Trauma | Christine Muller || How Nations Remember: a narrative approac | James V. Wertsch
Os livros September 11, 2001 as a Cultural Trauma (2017), de Christine Muller, e How Nations Remember: a narrative approach (2021), de James V. Wertsch, são obras desenvolvidas a partir duma sólida base interdisciplinar (com contribuições vindas da Psicologia, Sociologia, Antropologia, História, Ciência Política, entre outras) que abordam os temas da memória das nações e a importância de eventos traumáticos na respetiva memória. A presente resenha aos dois livros surge num momento oportuno da História Contemporânea, em que várias nações do mundo usam a memória para revisitar o seu passado, impulsionadas por derivas nacionalistas identitárias, por tentações revisionistas, ou por movimentos de contestação como o Black Lives Matter.
Passados vinte anos sobre o atentado terrorista do 11 de setembro, e depois de inúmeros artigos e livros sobre o trauma cultural associado à infame data, foi com muito interesse que analisei a obra de Christine Muller, que aborda o ataque terrorista como um case study de trauma cultural. O livro lançado em 2017 apresenta exemplos de produções culturais populares norte-americanas, em que a típica narrativa otimista e recompensadora do “sonho americano” é substituída por narrativas dominadas por crises existenciais, ambivalência moral e fins trágicos inevitáveis. Leia Mais
Historia, memoria y olvido del 12 de febrero de 1818. Los pueblos y su declaración de la independencia de Chile
Reexaminar la historia de la Independencia implica un enorme desafío. La historiografía sobre este periodo ha quedado presa en tradiciones y convenciones impuestas por historiadores del siglo XIX; a ello se puede atribuir que por décadas este tema no despertó gran interés en generaciones posteriores. La emancipación americana fue revisitada con mayor atención en los años del centenario y sesquicentenario, aunque buena parte de los textos producidos en esas fechas poseían un tono conmemorativo y pocos de ellos aportaron nuevas interpretaciones, por lo que ayudaron a reforzar los hechos distintivos del periodo y a exaltar la heroicidad de sus protagonistas.
La historia de la Independencia ha tenido una utilización política al considerarse que dicho proceso demarca el nacimiento de las naciones americanas. Muestra de ello es que, desde mediados del siglo XIX, los textos escolares se usaron como instrumentos para conformar la identidad de los ciudadanos, al inculcar valores patrióticos emanados por los padres de la patria en sus actos políticos y bélicos. Dichas enseñanzas raras veces fueron objetadas. En ese tipo de lecciones podría rastrearse la apatía que muchos sienten por estudiar la historia, pues gracias a esa narrativa caló la idea errónea de que esta consiste en memorizar biografías y batallas. Leia Mais
Alegoria do património | Françoise Choay
As argumentações desenvolvidas por Françoise Choay em Alegoria do património se ancoram, reiteradamente, em demonstrações etimológicas cujo pressuposto fundamental é assinalar as transfigurações das relações estabelecidas entre os seres humanos e as suas edificações ocorridas nos últimos séculos no Ocidente e em países como o Japão e a China. Deste modo, à designação “patrimônio”, cujo abarcamento restringia-se originalmente às propriedades hereditárias, foram acrescentadas categorias mais abrangentes, tal como o complemento “histórico” (CHOAY, 2014, p. 11). Enquanto o monumento é uma obra espontânea, seja auxiliar da rememoração ou da magnificência das localidades, o monumento histórico é produto de uma distinção artificial (CHOAY, 2014, p. 17-25). A destruição de um monumento pode se dar por diversos fatores, humanos ou naturais, mas ao monumento histórico é pressuposta uma irrestrita proteção (CHOAY, 2014, p. 25-26).
O acondicionamento destas construções como projeto nacional provém de um lugar específico e de um tempo também específico: o Ocidente oitocentista (CHOAY, 2014, p. 25-26). Pontualmente, o delineamento de um tal empreendimento é evidente em França ainda no século XVIII, marcado pela circunstância revolucionária, mesmo que propalado somente no XIX (CHOAY, 2014, p. 26-27). Por detrás destas constatações está a introdução do monumento histórico ao repertório linguístico francês, cuja autoria poderia ser atribuída precipitadamente a Guizot, porém trata-se de uma realização de Millin (CHOAY, 2014, p. 26-27). Neste sentido, é notória a relevância das ações de Françoise Choay pertinentes ao exame pormenorizado do referido léxico, visto que conduzem a oportunas reflexões acerca do delineamento da conservação patrimonial e de seus princípios. Leia Mais
Melancolia de esquerda: marxismo, história e memória | Enzo Traverso
Na história oficial do marxismo, tornou-se comum a celebração dos triunfos conquistados das revoluções socialistas. Ressaltar a dimensão redentora dos seus êxitos, seja de personagens “heroicos” e ou de movimentos “gloriosos”, parecia assegurar a concretização de uma “etapa” previsível, objetiva e petrificada na locomotiva linear do “progresso”.
Uma contrapartida dessa odisseia de vitórias repousa justamente no outro lado da moeda: o prisma das derrotas e seus efeitos políticos e epistemológicos na história do socialismo e do marxismo. Eis aqui a proposta da coletânea de ensaios Melancolia de esquerda: marxismo, história e memória, de Enzo Traverso (2018), originalmente publicado em francês, em 2016, com edições em inglês, alemão, espanhol e, finalmente, uma cuidadosa edição em português, organizada pela editora ítalo-brasileira Âyiné. Embora seja seu primeiro livro traduzido no Brasil, o autor construiu uma sólida agenda de pesquisa nas últimas três décadas e é considerado um dos maiores especialistas em história política e intelectual contemporânea. Leia Mais
Y a la vida por fin daremos todo… Memorias de las y los trabajadores y extrabajadores de la agroindustria de la palma de aceite en el Cesar, 1959-2018 | Centro Nacional de Memoria Histórica
SMNH. Y a la vida por fin daremos todo… | Detalhe |
 Este libro es una reconstruccion colectiva de la memoria de las y los trabajadores y extrabajadores de la palma en el departamento del Cesar (Colombia) entre 1950 y 2018, donde hubo al menos 249 victimas que tuvieron relacion directa con la organizacion sindical. Las organizaciones que participan del informe son la Fundacion de Apoyo y Consolidacion Social para los desplazados por la Violencia en Colombia —fundesvic—, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Cultivo y Procesamiento de Aceites y Vegetales —sintraproaceites— y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria —sintrainagro—.
Este libro es una reconstruccion colectiva de la memoria de las y los trabajadores y extrabajadores de la palma en el departamento del Cesar (Colombia) entre 1950 y 2018, donde hubo al menos 249 victimas que tuvieron relacion directa con la organizacion sindical. Las organizaciones que participan del informe son la Fundacion de Apoyo y Consolidacion Social para los desplazados por la Violencia en Colombia —fundesvic—, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Cultivo y Procesamiento de Aceites y Vegetales —sintraproaceites— y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria —sintrainagro—.
Este ejercicio de memoria se llevo a cabo entre el 2017 y el 2018 y abarca seis decadas. Tuvo como trasfondo un conjunto de informacion proveniente de distintas tecnicas y fuentes: entrevistas, documentos personales de los afiliados a los sindicatos, talleres de memoria, prensa escrita, archivos institucionales, material secundario. Aunque es el primero que, desde el Centro Nacional de Memoria Historica (cnmh), tiene como eje central al sector palmero, la violencia antisindical ha sido abordada, a nivel de registro e investigacion, tanto por organizaciones no gubernamentales, como por entidades sindicales y academicos, desde hace ya al menos tres decadas en el pais.[1] Si bien el informe fue publicado por el cnmh en 2018, su lanzamiento publico no estuvo exento de polemica con la actual direccion del cnmh, en cabeza del historiador Ruben Dario Acevedo Carmona, teniendo lugar finalmente en la Universidad de los Andes, el 29 de mayo de 2019. En su momento, el portal La Silla Academica titulo el episodio como “la lucha de poder detras de la memoria”.[2] El capitulo introductorio del informe lleva por nombre “Siembra y ampliacion del cultivo de palma, conflictos laborales e inicios de la organizacion sindical”. Alli se describen los antecedentes de la llegada de la palma y el proceso social y politico de formacion de la organizacion sindical. El capitulo narra que antes de la llegada de la palma, en el Copey (norte del Cesar), habia cultivos de algodon, arroz, tabaco y sorgo, donde empresas como El Labrador s.a. y empresarios que vinieron de menos a mas en la region —tal es el caso de Alfonso Lozano Pinzon o Misael Carreno— jugaban un papel importante. A partir de relatos de exfuncionarios de una de las empresas formada en 1971, Palmeras de la Costa s.a., y de extrabajadores de Indupalma, se reconoce que el cultivo de palma comienza a entrar en San Alberto (sur del Cesar) entre 1958 y 1961 a traves de Agraria La Palma o Indupalma, y que su llegada, ademas de traer consigo “gentes de todas las regiones, facilita las primeras formas de organizacion de los trabajadores […] y la creacion del primer sindicato de Indupalma en 1963” (p. 39). Estos relatos dan cuenta del rol de los sindicatos en las huelgas de 1971 y 1977 y las distintas “acciones de presion” a Indupalma. Ademas, describen la institucionalidad comunitaria local impulsada por el activismo sindical, especialmente en San Alberto, a traves de la creacion de juntas comunales, comites de mujeres, comite de presos politicos, fondo de solidaridad, comite deportivo y creacion de barrios obreros como El Primero de Mayo (pp. 80-84). Leia Mais
El Liceo. Relato, memoria, política | Sol Serrano
En su obra “El liceo. Relato, memoria, política” Sol Serrano elabora un ensayo en el que aborda el tema del liceo chileno entre los años 1930 y 1960, desde la perspectiva de su carácter público y de la conciencia histórica que formó en toda una generación de alumnos que se sintieron protagonistas de la historia de Chile. A partir de la voz de liceos concretos y los actores que lo compusieron, la autora desarrolla el aura con que se ha rodeado su historia. La obra dialoga con los mitos de una época dorada de la educación chilena en el siglo XX: por una parte, rechaza la idea de que el liceo fue un espacio de construcción de igualdad social y, por otra, valida con firmes sustentos históricos que el liceo fue un eje fundamental en la construcción de la nación durante las décadas de 1930- 1960.
La obra se estructura de manera sencilla, con una introducción en la que se recogen los temas y objetivos principales a tratar y dos capítulos en los que se desarrollan los conceptos de relato, memoria e identidad de uno de los actores más relevantes de la historia de la educación chilena. Para la autora, además de centros educacionales, los liceos en Chile constituyeron un espacio sociabilidad; de tradición y a la vez de transformación, donde se gestó un proyecto de sociedad y se construyó la conciencia histórica de la nación. Leia Mais
Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past | Ana Lucia Araujo
Na última década, a abordagem da historiadora Ana Lucia Araujo sobre a escravidão atlântica e seu legado de memória no mundo contemporâneo consolidou-se como uma das mais originais e abrangentes. Slavery in the Age of Memory, seu mais recente livro, vem na esteira dessa trajetória, original em sua ênfase no problema das representações do passado escravista ao longo do tempo e especialmente abrangente na perspectiva transnacional e comparativa. Como todo bom livro, pode ser lido sem qualquer informação prévia, mas conhecer a trajetória e a produção anterior da autora permite ao leitor um diálogo mais rico e denso com os novos aportes trazidos por esta obra. Leia Mais
Lutas pela memória em África | Cláudio Alves Furtado, Lívio Sansone
Durante o ano de 2015, eclodiu na Cidade do Cabo, na África do Sul, uma onda de protestos estudantis que procurou denunciar os resquícios de colonialismo que percorriam o currículo da Universidade da Cidade do Cabo e, o que ganhou mais visibilidade, atacou diretamente a estátua de Cecil Rhodes situada nas dependências da instituição.1 O personagem, que esteve inegavelmente envolvido na colonização de diversas regiões da África e foi autor de várias declarações acerca do direito inglês ao governo e exploração de povos e territórios africanos, era representado nesse monumento de maneira imponente. A estátua lá estava porque Rhodes fora um dos financiadores da universidade, em tempos outros, com uma fortuna, muitos disseram, obtida graças à espoliação colonial. Leia Mais
Cuerpos de la memoria. Sobre los monumentos a Schneider y Allende | Luis Montes
El presente libro, surgido del trabajo del Núcleo de Investigación Escultura y Contemporaneidad de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, aborda problemas que trascienden los procesos de gestación y construcción de los monumentos a Schneider y Allende, de hecho -me parece- esos procesos, y sus problemas asociados, se pueden despejar, con una aceptable claridad, con el método historiográfico convencional: buscando documentos y testimonios, reconstruyendo discusiones, tenciones, lucha de intereses y, en fin, restituyendo hasta donde nos sea posible el sentido del pasado. En efecto, el problema más vasto que cruza este libro es el de la distancia que media entre esos dos momentos -que son en verdad dos mundos distintos- en que fueron erigidos uno y otro monumento. Es como si cada uno de ellos fuera una hebra, aparentemente la menos importante, de la que tirando emergen dimensiones completas de dos visiones de mundo casi inconmensurables: el Chile de la Unidad Popular y el país neoliberal de la transición, que en este libro quedan caracterizados como un mundo de significación histórica y política, el primero, y de despolitización, espectáculo y temporalidad dislocada, el segundo. Tanto en el texto de Luis Montes, como en el de Verónica Figueroa, se abordan preferentemente los procesos de construcción de los dos monumentos, no obstante sus hallazgos y observaciones no se quedan aquí y dan paso a la interpretación. A partir del estudio del contexto político, de los documentos que sirvieron como bases de los concursos y de las discusiones asociadas, quedan claras y fundadas las distancias entre uno y otro caso, pero acá la interpretación se basa en los monumentos mismos, que es lo que hace interesante al libro completo, sobre todo para quienes no provenimos del campo de las artes visuales sino de la historiografía en su versión más clásica. Un aspecto altamente interpretable, y desarrollado aquí, es el del carácter abstracto del monumento al General Schneider frente al carácter figurativo del monumento a Salvador Allende, lo que lejos de ser anecdótico, o fruto de cierto azar, a partir de los antecedentes recopilados se puede concluir que fue un interés perseguido y reafirmado en múltiples ocasiones por los agentes que los promovieron. ¿Qué puede dar a pensar esto? Puede que no esté así formulado en los planteamientos del libro, pero llevado a los códigos de la teoría historiográfica contemporánea se podría decir que mientras el monumento a Schneider pertenece a un régimen de historicidad futurista, el de Allende está anclado a uno presentista. El primero fue concebido como pura proyección hacia un tiempo “otro”, y de aquí su carácter abstracto (“el monumento a Schneider dirige un mensaje hacia el futuro” señala Sergio Rojas en su capítulo) (p.33), mientras que el segundo se encuentra cerrado en su literalidad, es decir, en sus limitadas posibilidades de interpretación, más aún en el normado espacio en donde se encuentra emplazado (la Plaza de la Constitución). Al monumento a Allende la gente suele dejarle flores como se hace con las tumbas. Por su parte los capítulos a cargo de Sergio Rojas, Mauricio Bravo y Claudia Páez indagan preferentemente en esos problemas más vastos indicado al inicio, el de la distancia que media entre esos dos momentos para preguntarse por ese “ahora” en que todos habitamos. En el texto de Sergio Rojas la cuestión da cuerpo a una hipótesis: “Mi hipótesis en este escrito es que en esta diferencia temporal encontramos una clave para reflexionar el sentido de aquello que, desde el presente, se denomina la historia contemporánea de Chile”. (p. 26), en efecto, sostiene, en el tiempo que media entre los dos monumentos “el sentido de qué sea un monumento cambió” (p. 26), el de antes era el tiempo de la historia, el de hoy no puede siquiera ser designado como tiempo, se podría decir que es más bien un estado: “aparentemente al individualismo neoliberal, combinando escepticismo y emprendimiento, le resultaría del todo ajena la idea de un juicio de la historia y hasta de pasado histórico”, sostiene (p. 27). En este sentido creo que resulta interesante intercalar dos citas que pueden explicitar mejor esa distancia entre los sentidos (moderno y posmoderno) de los que es un monumento y el patrimonio en general. Heródoto describe, en el Libro I, de este modo el motivo por el cual erigir un monumento, cuando describe el diálogo entre Solón y Creso. Ante la pregunta de este último acerca de quién es el hombre más feliz, Solón responde: “… fue Telo. Telo tuvo, en una polís próspera, hijos que eran hermosos y buenos, y llegó a ver que a todos les nacían hijos y que en su totalidad llegaban a mayores; además, después de haber gozado, en la medida de nuestras posibilidades, de una vida afortunada, tuvo para ella el fin más brillante. En efecto, prestó su concurso en una batalla librada en Eleusis entre los atenienses y sus vecinos, puso en fuga a sus enemigos y murió gloriosamente; los atenienses, por su parte, le dieron pública sepultura en el lugar en que había caído, le tributaron grandes honores y levantaron un monumento”.1 Esa función clásica del monumento descrita en Heródoto, como se sabe, fue recuperada por los modernos: es el monumento “en” la historia, es decir en donde la memoria se presenta como garantía de un futuro, mas bien del sentido deseado, el modo de asegurar que en el futuro se guardarán los altos valores del presente. Pero el destino de los monumentos hoy sería otro. De hecho, hoy se extinguen los monumentos para dar paso al patrimonio: “El mapa del turismo mundial hace malabarismos tanto con el tiempo como con el espacio, y de Luxor a Palenque, de Angkor a Tikal, o de la Acrópolis a la Isla de Pascua, la idea de un patrimonio cultural de la humanidad va tomando cuerpo, pese a que este patrimonio, al relativizar el tiempo y el espacio, se presente antes que nada como un objeto de vista intelectual”.2 Por su parte lo descrito por Augé es el destino de los monumentos sin la historia. Pero ¿dónde están estos hoy entonces? En la globalización. Se podría formular del siguiente modo: la historia tiene monumentos, la globalización patrimonio (pasado mercancía), y los monumentos duran hoy en la medida que puedan devenir patrimonio, que es la forma que adquiere el pasado en un régimen de historicidad presentista. Pero ¿Cómo es posible que en un mismo país se constituyan momentos tan distintos sin una distancia cronológica tan significativa? La respuesta parece automática: porque hubo un Golpe de Estado, porque el terrorismo de Estado funcionó como una aplanadora social para instalar el neoliberalismo. El asunto, a nuestro juicio, es que -como todo automatismo- estas verdades ya no dejan lugar al pensamiento, se asumen como un dato cerrado para seguir sacando cuentas. Otro tanto lo hace el cierre identitario de quienes, de buena fe incluso, quieren seguir siendo de izquierda, es decir, la negativa a admitir elementos de novedad en el análisis por el riesgo de dejar de ser quien se es orgullosamente, a salvo del extravío y, por sobre todo, “con esperanza” (o utopía), elemento sin el que no sabemos soportar el dolor (Nietzsche). De hecho esa esperanza necesita también de la fe de que no todo se perdió, requiere de la evidencia de una cierta dosis de continuidad para que algo de lo bueno del pasado retorne: el pueblo por ejemplo. Es cierto, como sostiene LaCapra que “sin memoria no hay inteligibilidad”, pero acá no se trataría de memoria, sino de un aferrarse a lo conocido del pasado por miedo a que lo inédito haga estallar el sentido, incluida nuestra identidad. Este libro, gestado mucho antes de la reciente destrucción (global) de monumentos, ayuda a salir de los juicios fáciles y autoevidentes, de esa ya tan difundida lectura que hace de la iconoclasia el síntoma que confirma que vivimos una verdadera revolución, que de esa forma nos deshacemos del pasado para abrir el futuro. Pero no. Porque la sociedad del espectáculo se ha deshecho ya del pasado, y de la historia, volviéndolos mercancía. No, porque el sentido de los monumentos ya no es el sentido que tenían en el pasado, extraído de la historia o de una memoria pública, leído en los códigos de la actualidad aquel monumento abstracto (Schneider) agota su sentido en la ideología neoliberal y el figurativo (Allende) en lo meramente literal. Mauricio Bravo, sobre el monumento a Schneider, sostiene: “Este monumento tiende a perder su significación original de lealtad y rectitud moral para reflejar, en su carácter ascendente, vertical, el deseo neoliberal de un crecimiento económico sin fin. Paradójicamente, esta lectura es reforzada por el carácter no figurativo de una escultura que anteayer recurrió a la abstracción para enaltecer, más que a la persona en sí, la trascendencia valórica de su gesto”. (p. 54) Mientras tanto el monumento a Allende, de clara voluntad figurativa, es lo que parece ser y nada más: un presidente del pasado, que pertenece al pasado, pues incluso el futuro que anunciaba ya ha sido archivado. Con suerte “inspira” o alimenta la melancolía, esa “felicidad de estar triste”. Leia Mais
Literatura e interartes, desdobramentos estéticos e culturais: entrelaçamentos e reverberações da memória, da história, da sociedade e as identidades | Literatura, História e Memória | 2020
As poéticas interartes oferecem profícuo terreno para evidenciar o encontro entre as diversas linguagens e expressões a partir de uma abordagem atenta aos diálogos até mesmo por meio dos possíveis conflitos oriundos dos entrelaçamentos que perpassam as fronteiras entre as expressões artísticas. Ainda assim, essas aproximações atrelam-se a questões universais que elevam a arte a potencialidades que se referem ao seu caráter, tanto criador quanto resistente às forças que se levantam contra os discursos conciliadores diante dos encontros paradoxais da própria existência.
Foram muitos os teóricos que se debruçaram sobre o dialogismo entre as manifestações artísticas que parecem sempre dispostas a propor métodos de ultrapassar as próprias fronteiras de expressão. Para citar alguns casos emblemáticos, podem ser retomadas, por exemplo, as contribuições de Paulo Emilio Salles Gomes. Entre suas incursões pelas veredas cinematográficas, sempre em consonância com a Literatura, erigiram-se muitas pontes a conduzir e corporificar caminhos de análise e leitura. Em Decio de Almeida Prado e Anatol Roselfeld, no Teatro, é possível perceber os olhares atentos para a formação de uma crítica realizada no país em diálogo com tendências originais de diversas culturas. Já Antonio Candido traz à tona as relações entre a Literatura, a História e a Sociologia, elevando os gêneros literários a suas possibilidades comparativas às demais expressões artísticas como manifestações da sociedade na dialética que permeia o local e o universal. Leia Mais
Memória ferroviária e cultura do trabalho: Balanços teóricos e metodológicos de registros de bens ferroviários numa perspectiva multidisciplinar | Eduardo Romero Oliveira
A obra aqui analisada é fruto de um trabalho coletivo na qual encontramos uma pluralidade de temas, profissionais, enquadramentos metodológicos e pesquisas concluídas e em curso. Seu organizador é Doutor em Filosofia pela USP (2003). Atualmente é Professor Assistente da Universidade Estadual Júlio Mesquita Filho, onde nos últimos anos tem se dedicado ao estudo do patrimônio, da história e da cultura dos transportes, especialmente do ferroviário. Vale ressaltar de antemão que esse é um livro multidisciplinar, especialmente pelas filiações de seus colaboradores; bem como um trabalho genuinamente interdisciplinar pelos diversos enquadramentos adotados ao longo de suas exposições.
Como salientado pelo Dr. José Manuel Lopes Cordeiro, autor do prefácio, esse empreendimento é o resultado da segunda edição do projeto PMF (Projeto Memória Ferroviária) cuja primeira obra foi publicada em 2017 (Balanço 2012-2015). O novo livro reúne resultados referentes ao triênio 2017-2019, beneficiado pelo apoio da FAPESP, CAPES e CNPq. Ainda de acordo com o investigador “[…] estamos perante um livro que amplia substancialmente a produção científica e, consequentemente, o conhecimento sobre os sistemas de transporte ferroviário do Estado de São Paulo, nas suas múltiplas vertentes” (Oliveira 2019, 19). Na apresentação, intitulada Memória Ferroviária: Esforço de revisão crítica da memória histórica sobre ferrovia e seu valor patrimonial, o organizador da obra reafirma a importância do empreendimento e atesta a longevidade desse projeto iniciado oficialmente em 2009, mas que remonta suas primeiras atividades ao ano de 2007. Leia Mais
Cuerpos al límite: tortura, subjetividad y memoria en Colombia (1977-1982) | Juan Pablo Aranguren Romero
La tortura pretende desdibujar al sujeto, anhela escindirle de su cuerpo y reducirle a un objeto de represión que muestre su implacabilidad. Sin embargo, aun en condiciones de sufrimiento, el lazo social que conforma su identidad corporal, muchas veces, le permite resistir e incluso vencer. Este es el principal postulado que expone el psicólogo e historiador Juan Pablo Aranguren en Cuerpos al límite, un libro sobre la disposición de los cuerpos ante las prácticas de tortura en Colombia a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Para su estudio el autor utiliza diversas fuentes entre las cuales incluye leyes, decretos, periódicos, revistas militares, manuales de contrainsurgencia, informes de Amnistía Internacional y entrevistas con personas que fueron torturadas. La publicación no se concentra únicamente en el cuerpo torturado y doliente, pues Aranguren profundiza en la experiencia corporal y subjetiva. Por tanto, analiza de forma paralela el cuerpo social y político, el cuerpo militante y el cuerpo militar. Así, Cuerpos al límite muestra cómo el gobierno de la época concibió a la sociedad a partir de una lógica inmunológica que pretendía defender al país del virus del comunismo, lo cual provocó la criminalización de la protesta, la represión de los movimientos sociales y la militarización de la vida cotidiana.
Aranguren se plantea tres objetivos principales por desarrollar en su trabajo. El primero, y más evidente, es indagar por la relación entre cuerpo, subjetividad y memoria, estableciendo una conexión entre estos conceptos. El segundo, es analizar la constitución del marco en el que se inscribió la práctica de la tortura, estudiando cómo se conformó un aparato que propendía por la escisión entre cuerpo y sujeto. El tercero, y quizá el más importante, es rescatar al sujeto, pues para el autor la separación entre análisis de tipo macro y micro, en los estudios sobre violencia política, ha llevado a que este sea desdibujado y borrado de las investigaciones. De esta forma, el autor, siguiendo la línea investigativa propuesta por Michel de Certeau en La invención de cotidiano1, considera que no solo basta con analizar el marco o el aparato en el que se inscribe el sujeto, sino que también es necesario rescatar sus prácticas cotidianas, pues la estructura no siempre ha sido exitosa; es decir, los sujetos han escapado a los marcos en que estaban inscritos a partir de formas particulares de actuar. Por ende, los “modos de hacer” presentados por Aranguren en Cuerpos al límite, bien sea desde la resistencia o desde la duda y el desamparo, son la evidencia de “un sujeto que no se narra aquí como cuerpo sufriente ni se reduce a los actos infligidos contra su ser”2. En ese sentido, el autor analiza la constitución de un sujeto que se enuncia más allá de la lógica determinada por la maquinaria y emprende un recorrido por los cuerpos en el que pretende revelar la forma en que la tortura se inscribió en ellos. Leia Mais
Teatro y Memoria en Concepción: Prácticas Teatrales en Dictadura. Concepción | Marcia M. Carvajal, Nora F. Rivas e Pamela V. Neira
El libro Teatro y Memoria en Concepción: Prácticas Teatrales en Dictadura, escrito por las investigadoras Marcia Martínez Carvajal, Nora Fuentealba Rivas y Pamela Vergara Neira, fue publicado en octubre de 2019. Escribo esta reseña a partir de la presentación que hice en Valparaíso el 26 noviembre de 2019, a un mes y una semana de comenzado el levantamiento popular en Chile. Recordar ahora estas fechas alberga un sentido particular, pues conlleva el peso de aquel presente y la certeza de que a futuro se observará este periodo histórico en busca de la memoria de un país. Ese día la conversación sobre el libro nos remitió una y otra vez a reconocer el pasado en aquel presente. La realidad olía a lacrimógena y nos golpeaba la cara, la salida de la presentación debió ser por la puerta trasera del edificio que nos reunía, en carreras y postas de agua con bicarbonato.
En la introducción del libro las autoras plantean que el devenir de su trabajo fue “una metodología de la incertidumbre, que nos invitó a transitar por el rigor de lo académico, lo subjetivo de las experiencias y nuestras propias dudas, reflexiones, cambios de ruta y nuevos convencimientos” (10), creo que aquella incertidumbre se expandió más allá del proceso de investigación y escritura, pues dado el contexto, también estuvo en los envíos de copias, en las presentaciones, e imagino que seguirá presente en las preguntas que surjan de la lectura de esta obra. Leia Mais
Resignificando la historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. AJUTP: Memorias que no se jubilan | Ramírez Correa, Jhon Jaime, Anderson Paul Gil Pérez, Natalia Agudelo Castañeda
Parece pretencioso el título que los autores Correa, Gil y Agudelo han definido para la publicación de su trabajo, que es producto de un proceso de investigación de largo aliento con la Asociación de Jubilados de la Universidad Tecnológica de Pereira. Al propósito de resignificar la historia de la institución, en efecto, subyacen varios intereses de gran calado, entre los que se encuentran la superación de la fundación como matriz explicativa del desarrollo de la Universidad, el carácter teleológico que acompaña las revisiones documentales realizadas en función de las proyecciones estratégicas y la reivindicación de un grupo —los jubilados— que reclama participación en la conducción de la alma mater. Leia Mais
As últimas testemunhas: crianças na Segunda Guerra Mundial | Svetlana Aleksiévitch
Introdução
A obra intitulada “As Últimas Testemunhas: crianças na Segunda Guerra Mundial” trata-se de um livro traduzido do russo em sua 1° edição no ano de 2018, pela editora Schwarcz S.A, São Paulo e publicado pela Companhia das Letras. A autora, Svetla Aleksivitch, jornalista, nasceu em 1948, na Ucrânia, dedicando a sua vida literária/profissional de forma única à observação, escuta e transcrição de relatos a respeito de momentos factuais da história. Momentos dos quais teve forte vínculo afetivo: após a desmobilização de seu pai do exército, a família retornou à sua cidade natal, na Bielorrússia. Aleksievich, estudou na Universidade de Minsk, entre 1967 e 1972. Por causa de sua crítica ao regime, viveu periodicamente no exterior. Em 2015, recebeu o prêmio Nobel de literatura, mesmo escrevendo originalmente em língua russa. Desde então, algumas de suas obras emblemáticas: “Vozes de Tchernóbil (2016)”, “A Guerra Não Tem Rosto de Mulher (2016)”, “Fim do Homem Soviético (2016)” e o mais atual “Meninos de Zinco (2020)” passaram a ser traduzidas para diversas línguas, dentre elas o português (THE NOBEL PRIZE, 2015).
A obra em questão é o resultado de um trabalho com cerca de cem entrevistas realizadas entre os anos de 1978 e 2004. O que esses adultos tinham em comum? Sobreviventes, com memórias do horror da Segunda Guerra Mundial, afinal, eram “apenas crianças”. Particularmente, crianças são afetadas de maneiras diferentes na Guerra. Fisicamente: quando há falta de comida ou água. Psicologicamente: quando expostas a grandes cenas de horror da guerra, como bombardeios, brigas e deixar suas próprias casas. Emocionalmente: quando pode estar diretamente na guerra, como membro servindo, ou tendo outra ocupação nas forças (MOCHMANN, 2008). Leia Mais
A construção da memória da Revolução Cubana: a legitimação do poder nas tribunas políticas e nos tribunais revolucionários | Giliard da Silva Prado
“Vá pra Cuba! Vá estudar História!”, assim que o Prof. Dr. Jaime de Almeida inicia seu Prefácio para a obra do historiador Giliard da Silva Prado, A construção da memória da Revolução Cubana: a legitimação do poder nas tribunas políticas e nos tribunais revolucionários. Tal comentário e o tema do trabalho de Prado são profundamente atuais no contexto político em que vivemos. Numa intensa e fixa polarização da esquerda e da direita políticas os brasileiros estão cada vez mais sujeitos a optarem por um desses parâmetros. Uma das funções da historiografia, nesse debate, é apresentar que necessitamos avaliar cuidadosamente os elementos históricos que estão a nossa frente, construindo nosso pensamento crítico. A Revolução Cubana é um caso emblemático nesse debate, primeiro por conta do que sugere o comentário de Almeida no início, muito utilizado pelos que se reconhecem à direita ao clamarem o imperativo a qualquer indivíduo identificado como de “esquerda”. Segundo, pelo fato de que alguns historiadores julgarem que não podemos olhar criticamente os feitos da Revolução e do regime socialista que se implementou posteriormente a 1961, defendendo a ferro e fogo o governo e fazendo vista grossa para seus erros e tensões. Leia Mais
Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália – ROLLEMBERG (HU)
ROLLEMBERG, D. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Alameda Editorial, 2016. 376 p. Resenha de: CODARIN, Higor. “Resistencialismo” e resistência: as tensões entre história e memória. História Unisinos 24(2):334-337, Maio/Agosto 2020.
A trajetória intelectual da historiadora Denise Rollemberg, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense (UFF), é indissociável das temáticas, das tensões e dos dilemas envolvendo o passado recente, em específico relacionado às experiências autoritárias ao redor do globo, ao longo do século XX. Em um primeiro momento, sua produção acadêmica edificou-se através de análises consistentes a respeito dos caminhos e descaminhos das esquerdas brasileiras diante da ditadura civil-militar, seja a partir da construção analítica a respeito da perspectiva de revolução difundida por essas esquerdas, ou pela vigorosa análise a respeito do exílio experimentado por esses militantes ao longo da ditadura.2 Contudo, a partir de então, a historiadora, influenciada por parte da historiografia francesa empenhada em renovar as análises a respeito da resistência à ocupação nazista e/ou em relação à construção social do regime instaurado em Vichy, das quais falaremos adiante, passa a centrar seus esforços em outros aspectos dos regimes autoritários, buscando iluminar sua compreensão através de duas linhas centrais: por um lado, de que modo esses regimes foram construídos socialmente e se mantiveram por longos anos? Por outro, e de modo mais importante para o objetivo desta resenha, como se relacionam memória e história na construção do conhecimento a respeito dessas experiências? Mais especificamente: de que modo a construção da memória coletiva sobre esses regimes buscou criar oposições binárias entre Estado e Sociedade, sedimentando a perspectiva de sociedades oprimidas, manipuladas e, sobretudo, resistentes a esses regimes? Confirmação dessa nova vereda analítica são as obras organizadas em conjunto com a também historiadora da UFF Samantha Quadrat – A construção social dos regimes autoritários (2010); História e memória das ditaduras do século XX (2015) – e Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália (2016).
Neste que é seu mais recente livro, Rollemberg busca, como objetivo central, analisar o movimento de constante construção e desconstrução dos discursos memoriais a respeito das experiências de resistência francesa e italiana às ocupações nazistas que ocorreram durante a II Guerra Mundial. Dividido em cinco capítulos, Resistência parte de um consistente balanço historiográfico indicativo dos esforços e das dificuldades em conceituar o termo “resistência” (capítulo 1), para, em seguida, passar ao exercício analítico de sua ampla gama de fontes: os museus e memoriais franceses (capítulo 2), as cartas de despedida dos resistentes e reféns fuzilados (capítulo 3), que constroem a primeira parte do livro, dedicada à França, e, por fim, os museus e memoriais italianos (capítulo 4), com especial destaque à construção da memória e historiografia a respeito da trajetória da família Cervi, e do fuzilamento dos sete irmãos – os Sette Fratelli – integrantes da Resistência3 italiana (capítulo 5).
De modo inicial, é importante ressaltar, Rollemberg indica que as populações dos países ocupados “experimentaram comportamentos que variaram de país para país, ao longo do tempo, num amplo campo de possibilidades desde a colaboração mais aguerrida com os vencedores até a resistência mais combativa” (Rollemberg, 2016, p. 17). Nessa perspectiva, a autora, como cerne da argumentação que permeia todo o livro, busca desconstruir não apenas a visão maniqueísta entre Estado e Sociedade, conforme citamos anteriormente, mas também a visão que opõe, drasticamente, resistentes e colaboradores, como se resistir ou colaborar fossem as únicas possibilidades de atuação dentro desses contextos históricos. Para isso, inspira-se, essencialmente, no historiador Pierre Laborie, mais especificamente em seus conceitos de zona cinzenta e pensar-duplo, que realçam o amplo espaço de atuação entre os dois polos, marcado por contradições e ambivalências.4 Enveredando pela discussão conceitual, a autora busca explicitar que as experiências variadas de país para país deram origem, também, a conceituações diferentes. Assim, distingue as discussões historiográficas realizadas na França, Itália e Alemanha.
Sobre a França, campo com que Rollemberg tem maior familiaridade, a discussão é robusta. Demonstra, como prelúdio, que logo após o fim da ocupação, 1944, o termo resistência iniciou um processo de naturalização no seio da sociedade francesa, por intermédio da memória oficial que ia sendo desenvolvida pelo governo surgido do processo de libertação, comandado por Charles de Gaulle.
Criava-se, então, o mito da resistência, ou “resistencialismo”, no neologismo de Henry Rousso (2012). Ou seja, o mito de que a sociedade francesa havia, em sua totalidade, resistido aos alemães e ao governo instaurado em Vichy, sob o comando de Philippe Petain. Por muitos anos, o termo ficou sob o domínio dessa memória, estando fora dos objetivos e anseios dos historiadores. Realizando uma genealogia do conceito, a historiadora demonstra que a historiografia francesa se voltou à “resistência” apenas em 1962, com a tese de Henri Michel, que abre os debates acadêmicos a respeito do termo, ainda sob forte influência do processo de mitificação. Contudo, é com o livro de Robert Paxton, Vichy France (1972), que há uma guinada no debate. A revolução paxtoniana, como ficou conhecido o impacto da tese de Paxton, abriu novas temáticas e interpretações, pois deu início a uma corrente historiográfica indicativa de que o Estado de Vichy era produto da própria sociedade francesa e não uma marionete da Alemanha de Hitler. Iniciava-se, portanto, o processo historiográfico de problematização do mito da resistência.
Passeando com propriedade pelas contribuições de François Bédarida, Pierre Azéma, Pierre Laborie, Jacques Sémelin, François Marcot, Henry Rousso e Denis Peschanski, a historiadora apresenta, de forma nítida, reflexões a respeito da criação do mito de resistência como “necessidade social” (Rollemberg, 2016, p. 33) e, sobretudo, tentativas de conceituar o termo. Em uma diversidade de propostas de conceituação que, conforme diz a própria autora, engolfam-se, por vezes, em “excessivas filigranas e retórica” (Rollemberg, 2016, p. 37), vemos emergir a problemática fundamental do debate: resistência é apenas expressão coletiva, consciente, organizada e clandestina contra um invasor estrangeiro, como propõem alguns autores, ou também podem ser considerados resistentes as expressões individuais, cotidianas e anônimas, seja contra o regime alemão instaurado na zona ocupada ou contra o regime de Vichy? Cria-se, assim, um dilema, bem sintetizado por Jacques Sémelin: “ou bem se mergulha nas profundezas do social, mas sua especificidade [da resistência] tende a se diluir; ou bem se define exclusivamente através de suas [da resistência] estruturas e ações e ele se reduz à sua dimensão organizada” (Rollemberg, 2016, p. 32). Apesar de parecer intransponível, a historiadora apresenta um caminho possível para sua resolução, demonstrando a importância das propostas teóricas de Laborie para sua análise: A zona cinzenta, o pensar duplo, o homem duplo, segundo a perspectiva de Pierre Laborie que considera comportamentos ambivalentes nuançados entre resistir e colaborar, por outro lado, talvez seja a solução para o impasse levantado por Sémelin (Rollemberg, 2016, p. 148).
Seja como for, adotando-se ou não as posições de Laborie para resolver o impasse sintetizado por Sémelin, o exercício reflexivo que o desencadeou, segundo Rollemberg, demonstra, per se, a importância e a necessidade de reflexão a respeito do conceito de resistência, pois concei tuá-la “é mais lidar com as possibilidades e os limites das próprias definições, aproveitando as tensões e riquezas que são intrínsecas ao dilema observado por Sémelin, do que buscar resolvê-lo” (Rollemberg, 2016, p. 37).
Para o caso italiano, a discussão é menos densa. Segundo a autora, isso se deve ao fato de que para a historiografia italiana importa menos definir “o que foi e o que não foi resistir”, centrando os esforços, em contrapartida, no “papel de seus atores, principalmente das lideranças ou de militantes destacados” (Rollemberg, 2016, p. 47). Apesar da não importância da conceituação, a historiadora alerta que as contribuições historiográficas têm buscado desconstruir, também, o mito da resistência.
Por fim, finalizando o primeiro capítulo, está a reflexão a respeito do conceito de resistência proposto pela historiografia alemã. Rollemberg oferece destaque à definição proposta por Martin Broszat. Esta, ao contrário de utilizar o termo resistência (Widerstand), prefere utilizar Resistenz, cuja tradução é imunidade, termo devedor da biologia, que diz respeito a “reações espontâneas e naturais dos organismos vivos a micro-organismos como vírus e bactérias” (Rollemberg, 2016, p. 52). Assim, com essa nova definição, procurou-se jogar luz sobre a “resistência a partir de baixo”, como bem sintetizou Klaus-Jürgen Müller a respeito da definição proposta por Broszat.
Nos capítulos seguintes, sejam relacionados ao contexto francês ou italiano, notamos, com clareza, dois aspectos predominantes: por um lado, o esforço analítico da autora, buscando demonstrar e desenvolver as relações tensas e mutáveis entre história e memória, por intermédio, essencialmente, dos museus e memoriais como corpus documentais de análise. Por outro, o realce e a recorrência, ao longo de todo o texto, na importância de compreender as ações dos sujeitos que fizeram parte desse processo histórico a partir de suas ambivalências e contradições, buscando problematizar as visões romantizadas e heroicizadas construídas sobre esses indivíduos. Assim, a historiadora reforça a necessidade de compreendê-los sem operar distinções binárias e estéreis. Nas palavras da própria Rollemberg a respeito da criação de museus e homenagens aos resistentes:
A homenagem precisa incorporar a complexidade, as contradições, as ambivalências da realidade. A produção do conhecimento, resultado da incorporação das múltiplas dimensões dos acontecimentos e dos homens e mulheres neles envolvidos, submetidas à interpretação crítica, é a melhor homenagem que se possa fazer. A sacralização da memória afasta o herói de todos nós, condena-o ao desconhecimento, mesmo que inúmeros museus e memoriais sejam erguidos em seu nome (Rollemberg, 2016, p. 97).
Portanto, perseguindo essa trilha, Rollemberg empreende uma análise ampla acerca de 15 museus/memoriais ao redor da França, 130 cartas de resistentes ou reféns5 prestes a serem fuzilados e, por fim, analisa oito museus/memoriais italianos. É digno de nota demonstrar a metodologia empregada pela historiadora na construção dos museus/memoriais como corpus documentais para discussão das questões propostas na obra. Seguindo a senda proposta por Jacques Le Goff, a respeito do conceito documento/monumento6, a historiadora compreende a criação e, consequentemente, os próprios museus/memoriais através dessa dinâmica. Assim, a disposição dos museus/memoriais, os locais onde foram construídos, seus acervos, suas narrativas, dinâmicas e relações com o poder público são importantes ao olhar analítico da autora.
Todos os aspectos, constituintes da criação e perpetuação dos museus/memoriais, são vistos como esforços “das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si própria” (Rollemberg, 2016, p. 90). Outrossim, constatando que os museus/memoriais são criados com uma dupla-função, informativa e comemorativa, a historiadora compreende- os como espaços privilegiados de manifestação das tensões entre história e memória, analisando, assim, de que modo esses espaços incorporam ou recusam os avanços e novos temas propostos pela historiografia (Rollemberg, 2016, p. 90).
Sobre a França, vale ressaltar que a autora deslinda de que modo foi construído o “resistencialismo”. Apresenta a importância da memória nesse processo, a memória como construção social, como maneira de “lidar com a história, reconstruindo-a” (p. 84), formulada no período pós-ocupação, “comportando a lembrança, o esquecimento, o silêncio” (Rollemberg, 2016, p. 84), como aponta Beatriz Sarlo (2007), a memória como captura do passado pelo presente; o mito da resistência, o mito que explica a ausência, ao menos na grande maioria dos museus, de informações a respeito da colaboração dos franceses com os nazistas e com o regime de Vichy; o “resistencialismo” tornando ausente das narrativas dos museus “a zona cinzenta, o pensar duplo, a ambivalência” (Rollemberg, 2016, p. 142).
Com relação à Itália, deve-se atentar para a valiosa trilha percorrida pela historiadora ao confrontar a história e a memória do caso dos Sette Fratelli. Realizando uma genealogia da criação do mito, que remonta a dois textos de Italo Calvino publicados em 1953 (Rollemberg, 2016, p. 335), Rollemberg expõe as relações de legitimação dos mais diversos setores da sociedade italiana com a criação e manutenção de uma narrativa romantizada acerca dos sete irmãos fuzilados em 1943. Aponta não apenas para a necessidade do Partido Comunista Italiano (PCI) em vincular- se à história dos irmãos, mas, também, a necessidade do próprio governo italiano, simbolizado na recepção de Alcide Cervi, pai dos sete irmãos, pelo primeiro presidente eleito pós-ocupação, Luigi Enaudi, em 1954, no Palácio Quirinale, em Roma, além de diversas medalhas de honra que Alcide recebeu como representante dos filhos (Rollemberg, 2016, p. 318). A história dos irmãos resistentes e, consequentemente, da superação do sofrimento de um pai que teve a família devastada como símbolos da história italiana recriada pela memória, a Itália resistente, a exemplo dos sete irmãos, livre do nazifascismo, que buscava superar o sofrimento, como Aldo Cervi buscava superar a perda dos filhos.
Resistência, portanto, cumpre os objetivos a que se propõe, descortinando as relações problemáticas e, ao mesmo tempo, férteis entre história e memória em meio à construção da memória coletiva na França e na Itália a respeito das ocupações nazistas ao longo da II Guerra Mundial. Mais do que isso, o livro da historiadora é um interessante ponto de vista metodológico para os interessados em compreender as complicadas questões vinculadas à História do Tempo Presente.7 Se vivemos, como aponta o historiador François Hartog (2017), um regime de historicidade presentista, em que a Memória busca destronar a História de seu lugar privilegiado como intérprete hegemônica do passado, Resistência é uma contribuição fundamental à historiografia brasileira para aqueles que buscam fugir às armadilhas da Memória, que opera, na maioria das vezes, por intermédio de uma cultura binária de demonização ou sacralização de indivíduos e/ ou períodos históricos. Rollemberg, portanto, em seu novo caminho analítico, do qual Resistência é a reflexão mais profunda até o presente momento, apresenta os desafios dos historiadores que trilham as temáticas envolvendo experiências sociais traumáticas do passado recente. Ao buscar recolocar os personagens em seus respectivos contextos históricos, questionando as construções memoriais e realçando a importância de lançarmos luz às zonas cinzentas, contradições e ambivalências dos sujeitos históricos, a autora deixa-nos – aos historiadores – um sinal de alerta: o dever do historiador é compreender o passado, não o mitificar.
Referências
HARTOG, F. 2017. Crer em História. Belo Horizonte, Autêntica, 252 p.
LABORIE, P. 2010. 1940-1944: Os franceses do pensar-duplo. In: S.
QUADRAT; D. ROLLEMBERG (org.), A construção social dos regimes autoritários: vol. I, Europa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, p. 31-44.
LE GOFF, J. 2013. História e Memória. 7ª ed. Campinas, Editora da Unicamp, 504 p.
PAXTON, R. 1973. La France de Vichy. Paris, Seuil, 475 p.
QUADRAT, S.; ROLLEMBERG, D. (org.) 2010. A construção social dos regimes autoritários. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 3 vols.
QUADRAT, S.; ROLLEMBERG, D. (org.) 2015. História e memória das ditaduras do século XX. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2 vols.
ROLLEMBERG, D. 2000. Exílio: entre raízes e radares. Rio de Janeiro, Record, 375 p.
ROLLEMBERG, D. 2016. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo, Alameda Editorial, 376 p.
ROUSSO, H. 2012. Le Régime de Vichy. 2ª ed. Paris, PUF, 128 p.
ROUSSO, H. 2016. A última catástrofe: a história, o presente, o contemporâneo. Rio de Janeiro, Editora FGV, 341 p.
SARLO. B. 2007. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo, Companhia das Letras / Belo Horizonte, Editora da UFMG, 129 p.
2 Referimo-nos aqui, respectivamente, à sua dissertação de mestrado (A ideia de revolução: da luta armada ao fim do exílio (1961-1979)) e à tese de doutorado (Exílio. Entre raízes e radares), esta última publicada pela Editora Record (1999).
3 O termo Resistência, com letra maiúscula, consolidou-se na historiografia como modo de referir-se a posições e ações ligadas a organizações, partidos e movimentos (p. 175).
4 Para maior aprofundamento a respeito dos conceitos, cf. Laborie (2010).
5 “Reféns” denominam-se os indivíduos presos, seja na França ocupada ou na França de Vichy, em represália às ações da Resistência.
6 Para maiores detalhes, cf. Le Goff (2013).
Higor Codarin – Universidade Federal Fluminense. Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n. 24210-201 Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Número do processo: E-26/201.860/2019. E-mail: higor.codarin@gmail.com.
Costa Rica después del café. La era cooperativa en la historia y la memoria | Lowell Gudmundson
Es importante indicar que el trabajo que aquí se comenta guarda relación con otro publicado en 1990 por el mismo autor bajo el título Costa Rica antes del café. Sociedad y economía en vísperas del boom exportador. En esa primera obra analizó las desigualdades que caracterizaban a la sociedad precafetalera, mientras que en esta se centra en las particularidades de la segunda mitad del siglo XX, la que el autor reconoce como la “era del cooperativismo costarricense” vinculado al sector cafetalero.
Desde el punto de vista metodológico es un libro de síntesis, ya que reúne las experiencias y las pesquisas de más de tres décadas, lo cual la convierte en una obra sin par en la historiografía cafetalera de Costa Rica. En este proceso se trabajó en la digitalización y análisis de censos, así como en el Archivo Nacional con alrededor de mil expedientes de mortuales (proceso sucesorio) que se cruzaron con los datos de censos para reconstruir un perfil del cafetalero costarricense de la segunda mitad del siglo XX. Este trabajo de indagación fue acompañado por una extensa cantidad de entrevistas con productores de café desde la década de 1980. Finalmente, y no menos importante, el autor realizó un análisis detenido de las investigaciones que sobre el tema se fueron publicando hasta el presente. Leia Mais
Mandarin Brazil: race, representation, and memory. | Ana Paulina Lee
A obra Mandarin Brazil , premiada como melhor livro em humanidades na seção Brasil pela Latin American Studies Association, é uma leitura importante para a compreensão das representações dos chineses na cultura popular brasileira. O livro remonta a construção e ressignificação dos estereótipos raciais associados ao imigrante chinês na literatura, na música e no teatro nos séculos XIX e XX. A obra extrapola o enfoque da historiografia nacional sobre os debates e as construções raciais em torno da imigração chinesa entre 1850 e 1890. Ana Paulina Lee (2018) priorizou a elaboração, reprodução e apropriação da chinesness , expressões culturais que elaboram conceitos e estigmas raciais referentes à China e aos seus habitantes. Essas imagens foram concebidas e apropriadas em meio a um intenso diálogo global fortalecido após a abolição do tráfico negreiro. Tais representações circulam dentro de uma memória circum-oceânica, um processo criativo por meio do qual a cultura da modernidade se inventa ao transmitir um passado que pode ser esquecido, recriado ou transformado em uma memória coletiva. Leia Mais
Educational memory of Chinese Female Intellectuals in Early Twentieth Century – JIANG (SEH)
Lijing Jiang /
 JIANG, L. Educational memory of Chinese Female Intellectuals in Early Twentieth Century. Singapore: Springer, 2018. Resenha de: GUO, Mengna. Social and Education History, v.9, n.2, p.224-226, feb., 2020.
JIANG, L. Educational memory of Chinese Female Intellectuals in Early Twentieth Century. Singapore: Springer, 2018. Resenha de: GUO, Mengna. Social and Education History, v.9, n.2, p.224-226, feb., 2020.
Educational Memory of Chinese Female Intellectuals in Early Twentieth Century describes the campus life, teacher-student interaction, academic career, and ideological change of the first generation of female intellectuals trained in higher education in China as the Chinese society changed in the early 20th century.
Using the research methods of life history, oral history, and history of mentalities, the author reveals the special experiences and ideological journeys of Chinese female intellectuals by the literature works of three firstgeneration Chinese female intellectuals and other people’s interpretations and commentary on their works. It also analyzes the relationship between many factors such as society, academia and education, especially higher education, and female intellectuals.
Chapter 1 is the introduction of the whole book. It explains the emergence of Chinese intellectuals, in particular, Chinese female intellectuals. The author also illustrates two essential factors that promote the transformation of traditional Chinese intellectuals into contemporary intellectuals, and states research methods.
Chapter 2 Flexible Borderline: Beijing Female Normal School in 1917 describes the architectural structure design of Beijing Female Normal School and the relationship between its design and traditional Chinese culture. After that, the author introduces the educational life of the students of Special Training Major of Chinese Literature and Language in Beijing Female Higher Normal College and compares the traditions of female education in feudal China with the educational situation of Peking University that only recruit male. The process and obstacles of Beijing Female Normal School transformed to Beijing Female Higher Normal University are also mentioned, as well as the role played by key men during this process. All of the above indicate the variability of the external environment and the reconstruction of social order in China, providing possibilities for social and educational changes.
Chapter 3 Diversified Traditions: Early Education Life of Female Individuals describes the early life and educational experience of three firstgeneration female intellectuals in China– Cheng Junying, Feng Shulan and Lu Yin. Their early experience reveals their reasons for giving up traditional female identities and lifestyles, as well as their motivation to study. It is a very unique growth experience and life story different from the male intellectual.
In the 19th century, there were three schools of thought in the mainstream of Chinese literature academia in the 1990—Tongcheng Style, Wenxuan Style, Jiangxi Style inherited from Song Dynasty. In chapter 4 Education Situation Plagued by Academic Conflicts: Beijing Female Higher Normal College During May Fourth Movement, since Hu Shi proposed literary reform, the concept of orthodox literature ideas began to be criticized at the end of 1916, and two Chinese literature masters coming to the Special Training Major of Chinese Literature and Language of Beijing Female Normal School in August 1918 proposed to “carry on extinct studies and support marginal studies”. But this cannot stop the rejection of the new trend of thought. The reform of Chen Zhongfan and the emerging of intellectuals such as Hu Shi and Li Dazhao not only contributed to the establishment of a modern academic education system, but also provided indispensable conditions for the generation of Chinese female intellectuals.
In Beijing Female Higher Normal College, the three female intellectuals underwent the impact of traditional Chinese learning and new culture, revolutionists and reformists. Their obedience and stubborn abidance to traditions and authority were replaced by independent choice-making rights.
Chapter 5 Seeking for and Recognizing the New Identity: Female Individual’s Transmutation and Rebirth deeply describes the transformation of three females, Cheng Junying, Feng Yuanjun (Feng Shulan), and Lu Yin, in Beijing Female Higher Normal College and their academic interaction with the teacher. Meanwhile, the three female intellectuals also gradually found their true vocation and the “irreplaceable” inner aspiration and interest through constant attempts and exploration under the intricacies of influences.
Although the three Chinese female intellectuals’ early experiences and specific careers are different, they all “had the responsible sense of ‘mission in life’ inherited from Chinese traditional culture or inspired by the society behind their personal interest and pursue”. Chapter 6 Scholars and Academia: Female Individuals’ Long Journeys for Gentry introduces the educational life, academic life and family life of the three female intellectuals after they left the campus. In this period, they have encountered harsh life and challenges, but the spirit which transcends personal interest and considers culture inheritance as personal responsibility has driven them to move forward.
This book shows the changes in thoughts and interests experienced by three Chinese female intellectuals with the changes of the broad social context. At the same time, it also tries to show the special role played by higher education in promoting academic transformation and establishing a modern academic education system.
Mengna Guo – Universidad de Barcelona. E-mail: guomengna19940511@gmail.co.
[IF]Identidad. Educar en la memoria – Claudio Altamirano
Victor Hugo Morales (esquerda) entrevista a Claudio Altamirano (direita) / Radio Continental AM 590 / 2017.
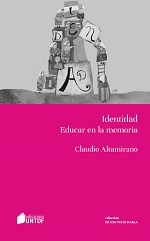 ALTAMIRANO, Claudio (2018). Identidad. Educar en la memoria. Ushuaia: UNTDF, 2018. 462 p. Resenha de: ZUBILLAGA, Paula. Clío & Asociados. La historia enseñada. La Plata, n.30, p. 172-174 Enero-Junio 2020.
ALTAMIRANO, Claudio (2018). Identidad. Educar en la memoria. Ushuaia: UNTDF, 2018. 462 p. Resenha de: ZUBILLAGA, Paula. Clío & Asociados. La historia enseñada. La Plata, n.30, p. 172-174 Enero-Junio 2020.
¿Para qué sirve el conocimiento de las experiencias relacionadas a la represión estatal durante la última dictadura argentina? ¿Existe una relación directa entre la construcción de un futuro democrático, la posibilidad de un “Nunca Más” y la transmisión de memorias del pasado reciente argentino vinculadas a la represión y la violencia? Existe una creencia bastante extendida entre los integrantes de diferentes programas educativos que ligan el deber de memoria – ese imperativo categórico, ese deber y respuesta ética y moral – con la construcción de una sociedad y un futuro más democrático, sin violencias. Aquella exigencia de que no se repita, de la que nos hablaba Adorno en 1966 -aunque respecto a Auschwitz-, inunda diversos espacios formativos de nuestro país. De esta forma, hay una preocupación central por la transmisión de memorias a las nuevas generaciones, aquellas que no vivieron ese pasado, lo que otros han llamado la dimensión o función “pedagógica” de la memoria.
Es en ese contexto que debemos entender la edición de Identidad. Educar en la memoria, producto del trabajo de los integrantes del Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho Programa fue creado en el año 2008, atendiendo a lo establecido por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 sancionada en el año 2006, y enmarca su trabajo, a su vez, en lo dispuesto por las leyes 25.633 y 26.001 -promulgadas en los años 2002 y 2005 respectivamente- que establecen la conmemoración en todos los niveles del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el Día Nacional del Derecho a la Identidad. De esta forma, el Programa que coordina Claudio Altamirano desde su creación, tiene entre sus propósitos promover el debate y la reflexión acerca del pasado reciente argentino y fortalecer el respeto de los derechos humanos. El mismo organiza entrevistas y charlas con diferentes referentes del movimiento de derechos humanos en distintas instituciones educativas de nivel primario, secundario y terciario, por lo que los testimonios compilados en el libro aquí reseñado son fruto de esas actividades, dando como resultado una obra polifónica, en la que se incluye la voz de distintas generaciones.
El volumen es una actualización, revisión y ampliación de Relatos. Educar en la memoria, libro publicado en el año 2012 por la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Ambas ediciones fueron pensadas como material de difusión de los testimonios que incluyen, y como material de formación tanto para docentes como para estudiantes. Aquel primer estudio era más breve, incluía menos testimonios y contenía imágenes de las actividades en las cuales se desarrollaron las entrevistas y relatos testimoniales. Desde esa edición, fueron restituidas 25 nuevas identidades biológicas ocultadas desde la última dictadura -incluida la del nieto de la presidenta de Abuelas-, lo cual, sumado a nuevas actividades y proyectos pedagógicos en el ámbito de la capital federal, explica la necesidad de un nuevo libro que contenga esas historias y esas experiencias.
Identidad. Educar en la memoria contiene dos Prólogos, el primero está a cargo de la hace más de 30 años presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, y el segundo, a cargo de la docente Carmen Nebreda, miembro de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y ex diputada nacional, quien fuera la promotora de la versión preliminar del libro. La introducción y los distintos capítulos no tienen autoría, pero se entiende que fueron escritos en colaboración por distintos trabajadores del Programa, sobre la base de una investigación realizada 173 Altamirano, C… – Zubillaga por Sol Peralta y las propias preguntas que diversos estudiantes han realizado en las actividades desarrolladas desde el año 2008 hasta la actualidad.
El apartado “Las Abuelas van a la escuela”, luego de una breve reseña de la historia de Abuelas de Plaza de Mayo, incluye el testimonio de cuatro mujeres que integran la asociación y que han sido referentes de la misma: Estela Barnes de Carlotto, Delia Cecilia Giovanola, Buscarita Ímperi Navarro Roa y Rosa Tarlovsy de Roisinblit. El apartado se va construyendo entre el testimonio de cada una, narraciones complementarias del equipo del Programa y preguntas realizadas por estudiantes de distintos niveles del sistema educativo a las mismas. En los cuatro subapartados -uno por testimonio- se relata la vida de estas mujeres antes y después de la detención-desaparición de su hija o su nuera embarazada o de su nieta recién nacida -en tanto punto de inflexión-, las primeras acciones realizadas y el reencuentro con su nieto o nieta años después gracias a la lucha emprendida desde Abuelas de Plaza de Mayo. En los cuatro testimonios se advierte una naturalización del rol maternal femenino, una idea de haber hecho “lo que había que hacer” porque “cualquier mamá haría lo mismo”, cuando en verdad no todas las mujeres que tenían un familiar desaparecido -en este caso en particular el hijo, la hija, el nieto o la nieta- se organizaron y salieron a buscarlos públicamente. Asimismo, llama la atención que todavía se esquive hablar directamente de las organizaciones y de los proyectos políticos a los que adscribían los detenidos-desaparecidos y se utilicen fórmulas generales como “compromiso político” o “interés por lo social”.
“Las Madres van a la escuela” es el segundo apartado del libro, e incluye relatos sólo de mujeres que integran la organización Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora. Recordemos que la misma surgió en 1986 como desprendimiento de la Asociación liderada desde 1979 por Hebe Pastor de Bonafini, tras debates y tensiones iniciados al menos desde el cambio de contexto político en 1983. El libro contiene así el testimonio de 16 integrantes del organismo, algunas de las cuales forman parte del pequeño grupo que se reunió por primera vez en Plaza de Mayo en abril de 1977, hecho que en la memoria oficial de la agrupación ha quedado como el momento fundacional, en el contexto de la última dictadura argentina. Estos testimonios destacan y reivindican la figura de Azucena Villaflor De Vincenti y mencionan algunos hitos y símbolos que las caracterizan a nivel nacional e internacional como organización de mujeres vinculada a la defensa de los derechos humanos. Además de los relatos sobre la organización, cada subapartado narra la historia de la detención-desaparición de su hijo o hija, las primeras búsquedas, los miedos iniciales y la fuerza que les dio unirse a partir de una pérdida particular y unas relaciones previas.
El tercer apartado, “Los nietos van a la escuela”, luego de una breve reseña de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, está integrado por 17 relatos de identidades restituidas gracias a la labor emprendida por sus familiares y por Abuelas de Plaza de Mayo a nivel nacional e internacional. La selección del universo de 130 casos resueltos por la organización es muy variada y va desde los primeros casos en dictadura, como el de las hermanas Ruarte Britos y Jotar Britos a figuras públicas conocidas, como el actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación. De esta forma, compila la historia de hombres y mujeres a los cuales les fue restituida su identidad biológica en distintos momentos de su vida: en la niñez, durante la adolescencia o ya siendo adultos, con las complejidades que dicho proceso conlleva en cada etapa en particular. A la vez, muestra las características del plan sistemático de apropiación de menores y las complicidades civiles -médicos, enfermeras, parteras, trabajadores de la Casa Cuna y jueces- que permitieron que se implementara, aunque por supuesto la sustracción de menores durante la última dictadura no está ajena a ciertas prácticas y tradiciones de nuestro país. Los testimonios tienen en general dos momentos: la vida con los apropiadores -experiencia que supone la destitución de la identidad biológica, la familia de origen, la historia- y la restitución de la identidad falseada, entendida como sinónimo de libertad, reparación y verdad. No hay en general una visión romántica en los testimonios sobre el proceso de restitución y revelan las complejidades, miedos, culpas, rechazos iniciales, procesos internos y quiebres que debieron hacer, llegando a algunos a costarles más de una década sentirse “hijo de” y salirse del discurso del apropiador. Es que es evidente que este delito continuado tiene consecuencias que persisten en el tiempo y que debe atenderse y comprenderse en sus distintas dimensiones: psicológica, jurídica, genética y familiarmente, todas imbricadas entre sí.
A diferencia de los relatos previos del libro, en los testimonios de la generación de los hijos, se encuentra una mayor predisposición a señalar los espacios de militancia social y política de sus padres detenidos-desaparecidos: la Unión de Estudiantes Secundarios, la Juventud Peronista, la Juventud Universitaria Peronista, Montoneros, Agrupación Eva Perón, el Frente Argentino de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Revolucionario del Pueblo y el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Algunos la mencionan reivindicándola y otros simplemente respetándola, sin adherir necesariamente a la misma ideología. En algunos casos, también se señalan los propios espacios de participación y pertenencia, dado que muchos de los narradores son o han sido legisladores, diputados o funcionarios del Estado nacional durante gestiones actuales y pasadas del peronismo.
El último apartado es el más breve y, bajo la denominación “Los referentes van a la escuela”, está destinado al testimonio de Adolfo Pérez Esquivel -presidente del Servicio de Paz y Justicia y Premio Nobel de la Paz- y de Cecilia de Vincenti, hija de Azucena Villaflor, reconocida como una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, detenida-desaparecida en diciembre de 1977. El primero es el único que logra apartarse de la experiencia de la última dictadura para hablar de derechos humanos en un sentido más amplio, incorporando a su relato fundamentalmente los derechos de los pueblos originarios, la nacionalización de los recursos energéticos y otras experiencias en América Latina. Dado que el título del apartado refiere a “referentes” llama la atención que no se incorporen otras figuras pertenecientes a otras organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre o el Centro de Estudios Legales y Sociales, por mencionar sólo algunos de los que tienen actuación en la ciudad de Buenos Aires.
Lamentablemente el libro no incluye las fechas ni establecimientos donde se realizaron las entrevistas y relatos testimoniales. Tampoco puede saber el lector con qué preparación llegaron los estudiantes de los distintos niveles a las mismas, o qué sucedió después de la visita de esas personalidades del movimiento de derechos humanos argentino. De esta forma, es imposible saber cuál era el objetivo, el sentido pedagógico que se le quiso dar al interior de cada aula: ¿Formación cívica? ¿Conocimiento del pasado? ¿Reflexión crítica? Vale decir que transmitir información sobre lo ocurrido, en este caso en forma de testimonio vivo, no significa necesaria, lineal o directamente una formación cívica y democrática. Cuando el lector se encuentra con preguntas del estilo “¿Cuál era su comida favorita?” o “¿Puede contar una anécdota?”, es casi imposible no pensar que en muchos casos no se dimensionó la oportunidad de tener a un protagonista de la historia reciente de nuestro país en el aula para llevar adelante una reflexión crítica y comprensiva sobre nuestro pasado. Así, se dispersa u ocluye en algunas respuestas brindadas, la complejidad de la realidad socio-política en la que estuvieron inmersos los narradores. No obstante, consideramos que debe celebrarse que al menos existan estos programas educativos estatales que intentan acercar el pasado reciente argentino a distintas instituciones a través de algunos de sus protagonistas. Sería deseable que en futuras reediciones, además de incorporar nuevas experiencias de apropiación/restitución, y las referencias a las fechas y lugares donde tuvieron lugar los testimonios, se incorporen voces de otras organizaciones del movimiento de derechos humanos así como de integrantes de sus filiales en otras localidades, a fin de obtener un panorama más amplio de las luchas por la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina.
Paula Zubillaga – IDH – UNGS/ CONICET. E-mail: paulazubillaga@gmail.com.
Latencias y sobresaltos de la memoria inconclusa (Chile: 1900-2015) | Nelly Richard
Latencias y sobresaltos de la memoria inconclusa (Chile: 1900-2015) es el libro que Nelly Richard lanzó en agosto de 2017. Este trabajo se encuentra constituido por diez ensayos más un prólogo, todos ellos atravesados por la temática de la memoria social y política de Chile durante los veinticinco años que transcurren entre 1990-2015, considerando el fin de la Dictadura y los periodos de transición y post-transición.
Los términos latencias y sobresaltos hacen alusión a procesos que vive la memoria, a un cierto aplanamiento que sufre en determinados momentos de la historia para luego ser revitalizada o reactualizada como resultado de las operatorias de asociación que realiza. En otro de sus libros Richard dice entender a la memoria como aquella “[…] zona de asociaciones voluntarias e involuntarias” (2010, p. 16), por tanto, es un lugar por definición dinámico, en que su fuerza expresiva quedaría de manifiesto en el momento en que el recuerdo del pasado entra en diálogo con los sucesos del presente. Es justamente este ejercicio asociativo el que intenta poner de relieve la autora, en mayor o menor medida en cada uno de los diez artículos que componen el libro. Leia Mais
Survivor Memorials: Remembering Trauma and Loss in Contemporary Australia – ATKINSON-PHILLIPS (PHR)
ATKINSON-PHILLIPS, Alison. Survivor Memorials: Remembering Trauma and Loss in Contemporary Australia. Crawley: University of Western Australia Publishing, 2019. 338p. Resenha de: SWAIN, Shurlee. Public History Review, v.27, 2020.
As debate rages about memorials from the past Alison Atkinson-Phillips’ monograph, Survivor Memorials, is particularly timely. However, its focus is not on the past, but on a recent shift in memorial making, the commemoration of trauma amongst the living rather than a focus on the dead. She dates this shift to the 1980s and documents eighty memorials constructed across Australia over the following thirty years. The first half of the book situates these memorials within the wider context of griefwork, memory making and public art. The second explores these theoretical considerations through six case studies. These range from the celebratory memory trail at the site of the Enterprise Migrant Hostel in Springvale, Victoria, through several memorials for Forgotten Australians and bushfire survivors and one remembering a homophobic rape.
These new memorials, Atkinson-Phillips argues, are both personal and political. They offer the opportunity for public performances of mourning, but also bring ‘difficult knowledge’ into public view in the hope that it will be inscribed into community memory. Initially they arose as a result of collaboration between survivor groups and individual artists. But in the wake of inquiries into various categories of historical institutional abuse they have become an integral part of government reparation packages.
This shift, the author suggests, has not been without its complications. Survivors find local site-based memorials more meaningful than the national ones. In part this is because local memorials provide a space for more effective ‘memory work’, creating opportunities for gathering and sharing of stories both in official commemorations and more casual visits. Survivors are only one voice amongst many in the planning of national memorials and often harbour suspicions that the money being directed to commemoration could be being diverted from more practical reparation measures and financial redress that continues to be subject to debate.
Atkinson-Phillips is also concerned with memorials as art, looking at the processes by which they are created, and the toll this sometimes takes on the artist. Collaboration and consultation are key. But consensus is not always possible. The artists who undertake this work often come with experience of similar projects and invest them with additional meaning. Those interviewed for this study all reported spending much more on the project than they were paid. Many also talked of the psychological toll and the need to seek help to avoid secondary trauma.
In the short term, the effectiveness of a memorial depends on its acceptance by the group whose trauma it commemorates. In the long term, however, it needs to be embraced by the wider community amongst which it sits. Controversy as to the experience being commemorated can see the memorial neglected or even attacked. The diminution in the survivor group over time can see the significance of the memorial lost, unless there is a public commitment to keeping the uncomfortable story alive.
Survivor Memorials will be of interest to scholars across a range of disciplines from art through to memory studies. It will also be invaluable for people involved in commemoration projects. Atkinson-Phillips’ study ends in 2015, a point at which she suggested that this trend may have reached its peak. However, in the years since there have been more of the inquiries and natural disasters to which these memorials respond. Those involved in developing commemorative projects will learn much from this study.
[IF]
Transterradas. El exilio infantil y juvenil como lugar de memoria | Marisa Gonzáles de Oleaga
Desde mediados del siglo XX en adelante, tanto en el campo occidental de los estudios filosóficos como historiográficos, los procesos que comprenden los exilios masivos han sido abordados para su análisis académico desde distintas aristas; incluso, algunas de ellas, opuestas. Por una parte, en la tradición heredera del modelo de pensamiento clásico griego, el desarraigo opera en tanto sinónimo de ostracismo político: la expulsión del lugar de pertenencia constituye la consecuencia irreversible para quienes incumplen con los ‘códigos ciudadanos’. Por otra parte, en la tradición moderna que resignifica la figura marginal del exilio y de sus protagonistas, el acto negativo y violento de expulsar de su sitio a una persona como radical modalidad de exterminio supone una síntesis positiva. Así, la existencia exiliada abandona su condición marginal y adopta, en palabras del filósofo Jean-Luc Nancy, un carácter dialéctico, de orden transitorio y protector.
Desde este marco teórico-filosófico, la historiadora Marisa González de Oleaga, la filósofa Carolina Meloni González y la filóloga Carola Saiegh Dorín dialogan con sus memorias de los exilios que, como integrantes menores y dependientes del núcleo familiar madre-padre, emprendieron desde la República Argentina hacia la ciudad española de Madrid con quince, cinco y ocho años de edad, respectivamente. El recuerdo de lo vivido en la década de 1970 las reúne, en primer término, para convocar con sus testimonios de infancias y adolescencias desterradas cierto lugar de cobijo. Es decir, para resignificar la experiencia política del exilio en términos de asilo y transterramiento en lugar de castigo. Y, en segundo término, para contribuir a la protección y resguardo de esa memoria exiliar compartida por quienes vivieron –o viven– procesos de desplazamientos forzados en su niñez y adolescencia. Todo ello, sin buscar generalizaciones, universales ni clausuras. Leia Mais
¿Fue (in)evitable el golpe? Derechos Humanos: Memoria/Museo y Contexto | Mauro Basaure, Francisco Javier Estévez
El libro “¿Fue (in)evitable el golpe?” editado por Basaure y Estévez, se origina a partir de un seminario del mismo nombre celebrado en abril de 2017 en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Está compuesto de dos partes relacionadas entre sí, en donde la primera de ellas -desde la perspectiva de actores claves en tanto testigos y participantes del gobierno de la Unidad Popular (UP) y, por ende, poseedores de una memoria viva– aborda un análisis político extenso de los hechos y procesos sociales, tanto externos como internos, que articularon un momento tal que hiciera propicio un Golpe de Estado, y, al mismo tiempo, reflexionar sobre qué se pudo haber hecho distinto para evitar aquello. Por otra parte, la segunda sección del libro hace eco de las reflexiones y visiones propuestas en la primera parte para abordar de manera crítica la llamada controversia sobre si el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos debiese o no contextualizar su muestra permanente. Controversia que nace de la crítica que demanda por una explicación de por qué terminó sucediendo el golpe, y no mostrar, así “solo una parte de la historia”. Demanda que emana de la derecha con fines justificatorios. En efecto, los siete artículos que componen la primera parte titulada ¿Fue (in)evitable el golpe? Respuestas de actores clave de la época de la UP (en donde también escriben los editores), conforman una especie de dialogo entre posturas que, aun perteneciendo a la izquierda política que le diera forma al gobierno, identifican y confrontan responsabilidades y autocríticas distintas entre sí. Andrés Pascal Allende, por ejemplo, en su aporte titulado No quisieron evitar el golpe, aparte de comenzar reafirmando que la responsabilidad directa del golpe es de quienes lo acometieron, identifica responsabilidades del gobierno en la medida en que no supo articular las demandas de un sujeto popular que exigía más radicalización en las propuestas que el mismo Allende consideraba debían ser graduales. Esto sumado a la no intervención de las fuerzas armadas, que necesitaban ser democratizadas ante las muestras que daban de estar cada vez más cómodas con la idea de un golpe, y del mismo modo, la ausencia de una voluntad política del gobierno por organizar la autodefensa e instrucción de las masas civiles para afrontar un eventual golpe que, así vistas las cosas, era predecible, pero totalmente contestable. Sergio Bitar (El gobierno de Allende era viable. ¿Por qué se tornó inviable?), en cambio, identifica que hubo condiciones propicias para un Golpe aceleradas por una pérdida de la capacidad de la conducción del proceso en marcha evidenciable en cinco factores: 1) la radicalización que proponían ciertos grupos y que los tornaban difíciles de manejar para Allende; 2) un manejo económico equivocado; 3) el quiebre entre partidos de izquierda y la DC; 4) una mala comprensión de los intereses internacionales, específicamente los intereses político estadounidenses y 5) subestimar la capacidad golpista de la derecha chilena. En el artículo titulado Los contextos del golpe y la consecuencia de Allende, de Ricardo Núñez, se enfatiza un tratamiento y estudio deficiente del contexto político global, donde no se asumieron con entereza ni las consecuencias de la guerra fría y de las pautas que aquello marcaba en las relaciones internacionales y dentro de la política nacional, ni las recomendaciones y observaciones que se hacían, preocupados, desde China o la URSS en cuanto al manejo de la revolución y la estrategia pacífica adoptada. Finalmente, Mariano Ruiz-Esquide (Cuando lo previsible se hizo realidad) argumenta que el escenario de un golpe se orquestaba desde antes de lo que se piensa, remontándose incluso al gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que a los ojos de la derecha capitalista de la época y de las Fuerzas Armadas, era un serio problema. Lo mismo con el gobierno de Jorge Alessandri y los inicios de la reforma agraria, que se vio frenada y Alessandri obligado a transar con los Radicales para amortiguar el descontento de la derecha. Lo planteado por Ruiz-Esquide invita a un tratamiento más exhaustivo, y le imprime un valor histórico crítico más completo al diagnóstico de causas y responsabilidades de la izquierda. Una lectura equivocada de esta primera parte del texto, podría llevar a argumentar que se cae en una relativización de las responsabilidades directas del golpismo al intentar encontrar causas y responsabilidades en el actuar del gobierno, en tanto nada justifica una dictadura y sus horrores. Dicha lectura, a pesar de ser cierta sustancialmente (nada justifica realmente la dictadura que se vivió), es equivocada en este marco, pues la estructura que adquiere el libro no solo hace que sea una apreciación errada, sino que torna casi imposible asumir dicho objetivo. Queda claro, en todo momento, que no se trata de abrirse a la absurda posibilidad de la inevitabilidad del golpe, sino que, por el contrario, se trata de abordar de modo contrafactual la historia y “reflexionar sobre lo que no ocurrió para comprender lo que ocurrió efectivamente” (p.31), es una invitación a examinar los futuros posibles del pasado y no a alejar el foco de la discusión del hecho sabido de que “los golpes y cuasi golpes nacen de acciones deliberadas y completamente evitables” (p. 26). En la segunda parte del texto llamada Museo de la Memoria en controversia y el derecho a la memoria, en donde solo escriben Basaure y Estévez, se genera un fluido diálogo entre las reflexiones de la primera parte y los desafíos del Museo expuestos en la segunda. Dichos ‘desafíos’ responden a la crítica –bien extendida por los medios- de que el MMDH falla en su misión al no contextualizar su muestra permanente, es decir, al no referirse al proceso político que desencadenó el golpe. Esta crítica, que emana de los sectores de derecha, debe ser, sin embargo, asumida con cautela. Tal como indica Basaure en su intervención, el desafío es encontrar la manera de añadir museográficamente el contexto para que ello sea un aporte a la disputa por la memoria. Esta crítica de la derecha –aunque justificatoria, éticamente reprochable y pobre epistemológicamentese puede desarticular en dos vertientes, una ligada a la derecha pinochetista (crítica dura), que sitúa al contexto previo como indispensable para hacer entender que el golpe era necesario en tanto salvación de una guerra civil y, por ende, mucho de la dictadura estaría justificado; y por otra parte una crítica blanda, ligada a la derecha más liberal, que no desconoce las violaciones de DDHH, pero que si exige una mayor contextualización para entender el porqué de la polarización que se vivía en Chile. Asumir cualquiera de las dos críticas sería un error y atentaría contra el objetivo del Museo, pues, tal como dijo Estévez, el único contexto de la violación de los DDHH es la dictadura y eso no es justificable bajo ningún marco. De allí que dialogar con esas críticas deba ser tomado con cautela. Sin embargo, Basaure defiende la idea de que el MMDH puede y debe incorporar museográficamente una dimensión contextual sin necesariamente traicionar su misión, visión y función; es decir, sin tropezar con la contextualización que busca justificar el golpe como desea la crítica. La clave para aquello, afirma Basaure, es la palabra alemana para contexto: ‘Zusammenhang’, que tiene una doble significación en tanto refiere a lo que está relacionado, en contacto, cohabitando un espacio y/o tiempo, como también refiere a aquella relación causal o de la lógica causa-efecto, en donde dos fenómenos van juntos porque uno explica al otro. Ambas críticas de la derecha, por ende, buscarían establecer un contexto en su significado causalista y así justificar, en mayor o menor medida, el golpe y posterior dictadura. El desafío de la museografía es, precisamente, todo lo contrario: incorporar el contexto desde un sentido no causalista que permita vislumbrar los hechos y fenómenos que coexisten, sin que ellos se ordenen como causa-efecto, e intencionar una curatoría que empuje a la reflexión de que “el golpe es producto de una decisión golpista que resultó ser macabramente exitosa, y no de una crisis política y social, pues quienes acometieron el golpe siempre pudieron optar por no hacerlo” (p. 118). De esta forma no sólo no se traiciona la misión y visión del Museo, sino que también se refuerza, asumiendo los elementos históricos y políticos a favor del objetivo crítico y pedagógico que se propone el Museo, y participando de la disputa de otro terreno de la memoria que la izquierda normalmente ha dejado al sentido común: lo injustificable del golpe. Justamente por ello es que este libro adquiere relevancia. Pues aparece en un momento en donde el negacionismo y las expresiones del neofascismo chileno están cobrando auge. Aparece en un momento de sistemática violación a los DDHH en la Araucanía, de liberación de presos por crímenes de lesa humanidad, de la conformación de movimientos nacionalistas. Es en este contexto donde la pregunta por los errores y omisiones del pasado que se plantea este libro se torna importante y donde se asume el desafío de disputar cada espacio de memoria y desnudar como inmoral todo intento justificatorio del golpe de estado de septiembre de 1973. Leia Mais
Ditadura e Democracia: legados da memória – RAIMUNDO (RTA)
RAIMUNDO, Filipa. Ditadura e Democracia: legados da memória. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2018. Resenha de: SILVA, Paulo Renato da. Os “cravos” da memória: democracia e passado autoritário em Portugal. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.11, n.28, p.546-552. set./dez., 2019.
Ditadura e Democracia: legados da memória, da socióloga Filipa Raimundo, foi publicado em 2018 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O livro é o 87o da coleção “Ensaios da Fundação”, uma das mais importantes coleções portuguesas tendo em vista a publicação de títulos que superem o meio acadêmico.
Escrito em linguagem acessível – mas não simplista –, e bem estruturado, o livro é composto por uma introdução, quatro capítulos e uma conclusão. Na introdução, De que é que trata este livro?, a autora evidencia o propósito do livro, a análise “(…) da relação da democracia portuguesa com o seu passado autoritário e dos elementos que têm contribuído para a construção da memória deste período (…)” (p. 9). No caso de Portugal, o passado autoritário se refere ao Estado Novo (1933-1974), período marcado pelo governo de António de Oliveira Salazar (1889-1970), Presidente do Conselho de Ministros entre 1932 e 1968, quando sofreu um acidente e foi afastado de suas funções. A Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 1974, representou o fim da ditadura do Estado Novo1. Para leitores que não sejam de Portugal, é importante acrescentar que o primeiro governo constitucional eleito depois da ditadura se estabeleceu apenas em julho de 1976, informação que ajudará a compreender alguns elementos tratados no livro e críticas feitas à condução da Revolução dos Cravos por diferentes grupos políticos portugueses.
O capítulo 1, Democracia e passado autoritário, destaca como as democracias de cada país se relacionam de modo diferente com os seus respectivos passados autoritários. “A decisão de punir ou não os responsáveis pelo regime deposto é, em larga medida, um produto das condições políticas existentes durante a mudança de regime. (…). Mais tarde, só conjunturas críticas permitem mudar a relação entre um povo e o seu passado autoritário” (p. 17). No capítulo 2, Ajustar contas com o passado, Raimundo passa a focar no caso português; analisa como alguns nomes ligados ao Estado Novo sofreram sanções institucionais e políticas depois da queda da ditadura e como outros foram processados criminalmente pelos atos cometidos. O capítulo 3, Romper com o passado, mas sem o apagar, analisa as novas narrativas sobre o passado promovidas a partir da Revolução dos Cravos, “(…) acções no plano simbólico e museológico [que] permitiram que a democracia se legitimasse tanto por oposição como por rejeição ao regime anterior, mesmo que ela nem sempre tenha sido tão profunda quanto a narrativa revolucionária faria supor” (p. 55). No capítulo 4, O antifascismo como imagem de marca, a autora investiga o tema das reparações econômicas e simbólicas aos perseguidos pela ditadura até os dias atuais. No início, as associações de perseguidos tinham o principal objetivo de libertar os presos políticos e “(…) sua existência foi relativamente efémera, tendo em conta a relativa rapidez com que os presos políticos foram libertados” (p. 77). Atualmente, poucas associações reuniriam ex-membros da oposição e da resistência e as atuais propostas de reconhecimento estariam muito concentradas nas mãos dos partidos políticos. Enquanto as associações primariam pelo reconhecimento simbólico, dos partidos políticos viriam as principais propostas de compensação financeira aos perseguidos. “(…) os beneficiários desses mecanismos parecem ser, em grande medida, os militares e simpatizantes dos partidos que lideram as propostas legislativas” (p. 78). De acordo com Raimundo, a reunião das iniciativas de sucessivos governos e dos principais partidos, sobretudo de esquerda, “(…) mais do que dar resposta a (…) certos sectores da sociedade, poderá ser encarada (…) como uma forma de cultivar uma imagem de marca através da qual podem reforçar as suas credenciais democráticas e chamar a si a herança da luta pela democracia e contra o autoritarismo” (p. 78). Na Conclusão, a autora faz um balanço do tratado em todo o livro e aponta aquilo que ficou de fora2.
Os méritos do livro começam pela própria temática, pois a memória de um passado autoritário é sempre um tema complexo e controverso. Ao abordar o tema, Raimundo sistematiza e analisa as principais ações quanto a esse passado3, destacando as contribuições, limites e contradições das medidas adotadas por governos, partidos e associações de perseguidos pela ditadura. Além disso, a autora evidencia as relações entre esse passado e a política portuguesa contemporânea, indicando como os usos dessa memória variam entre governos e partidos de diferentes vertentes políticas. Já comentamos que, segundo o livro, os usos desse passado estariam relacionados à construção de “credenciais democráticas” para os partidos e governos e a maioria das propostas de reconhecimento dos perseguidos partiria de governos e partidos de esquerda. Entretanto, ainda que não haja reivindicação do passado autoritário pelos atuais partidos portugueses, a autora demonstra que existem divergências sobre o reconhecimento aos perseguidos e a condução do processo revolucionário, o que aponta para diferentes concepções de democracia em Portugal após a Revolução dos Cravos. Para mencionar apenas um exemplo tratado no livro, além de indicar divergências existentes entre os próprios partidos de esquerda, Ditadura e Democracia mostra como o CDS, partido conservador português, procurou estender uma lei que beneficiava os perseguidos pela ditadura aos que sofreram sanções pelo processo revolucionário iniciado em abril de 1974, o qual teria cometido abusos semelhantes aos da ditadura:
Como mostram os registros da Assembleia da República, duas semanas depois da aprovação da Lei 20/97, aquele partido [CDS] apresentou uma proposta de alteração da lei que se baseava no facto de muitos portugueses terem sido “perseguidos e vítimas de repressão em virtude das suas convicções democráticas e anticomunistas [grifo meu]. Foram deste modo prejudicados no exercício das suas profissões, afastados ou saneados dos cargos e funções que desempenhavam, impedidos de ensinar, obrigados a recorrer à clandestinidade ou ao exílio, tendo em alguns casos sido presos por longos períodos. (p. 91) Se na Assembleia existem tensões sobre o tema, na sociedade portuguesa não poderia ser diferente. Raimundo destaca várias reivindicações de António de Oliveira Salazar em Santa Comba Dão, terra natal do ditador, e na imprensa, como o caso do documentário da RTP – uma das principais redes de televisão de Portugal – que apresentou Salazar como o expoente do século XX português (p. 10-14). “Tendo já superado a longevidade do regime autoritário, a democracia portuguesa dificilmente poderá continuar a ser apelidada de ‘jovem’. Ainda assim, estes temas surgem no debate com relativa frequência (…)” (p. 14). Ao apontar para as divergências existentes na Assembleia e na sociedade portuguesa – ainda que pontuais, esporádicas e minoritárias –, o livro nos leva a considerar que existem elementos que poderiam mudar a relação dos portugueses com seu passado autoritário diante de eventuais “conjunturas críticas”, conforme a autora defende no início de Ditadura e Democracia sem mencionar especificamente o caso português.
Ainda sobre a sistematização das ações e medidas tomadas em relação ao passado autoritário português, o livro se destaca pela comparação com o ocorrido em outros países europeus, africanos e latino-americanos, destacando convergências e divergências em relação a Portugal. A autora defende que “(…) o conhecimento sobre a forma como se ajustou contas com o passado noutros países poderá contribuir para mitigar a avaliação negativa que os portugueses fazem do seu próprio processo de ajuste de contas (…)” (p. 53). Raimundo apresenta dados de uma pesquisa que coordenou, na qual 95% de 131 perseguidos pela ditadura responderam que não teria ocorrido justiça no caso português (p. 51). A autora cita que nos casos de Espanha e Brasil, por exemplo, a opção punitiva não esteve nem sequer à disposição da elite política (p. 53). Além desse esforço de História Comparada, é necessário valorizar, ainda, o diálogo multi e interdisciplinar apresentado pelo livro entre áreas como História, Direito, Ciência Política e Sociologia.
Quanto às polêmicas suscitadas pelo livro, uma delas se refere ao termo “ajuste de contas” para se referir às sanções e processos sofridos por nomes ligados ao Estado Novo depois da Revolução dos Cravos. A polêmica, por exemplo, apareceu em 21 de setembro de 2018 no lançamento do livro no Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, uma das principais referências quanto à memória do Estado Novo português. O lançamento no Museu do Aljube contou com comentários de Fernando Rosas e Riccardo Marchi. Rosas foi enfático na crítica ao termo “ajuste de contas”: “Ajuste de contas ou responsabilização cívica e criminal de responsáveis da ditadura e dos seus crimes? Ajuste de contas tem um subtexto. É o subtexto da vingança. Não se trata bem de um ajuste de contas. Trata-se de justiça.” (2018, 17m30s).
Para leitores da maioria dos países latino-americanos e em particular do Brasil, como é o caso do que aqui escreve, o livro pode soar deveras crítico quanto à forma como a Revolução dos Cravos lidou e como os governos constitucionais têm lidado com a memória do passado autoritário português. Deveras crítico, pois muitos de nós ainda esperamos ansiosamente por um “ajuste de contas”, ainda que limitado e com imperfeições. Assim, para muitos de nós latino-americanos, ler o livro é experimentar um choque entre a nossa temporalidade e a portuguesa no que se refere à relação com o passado autoritário. Só é possível criticar o “ajuste” com o passado quando o processo foi feito ou pelo menos tentaram fazê-lo.
A crítica feita por Ditadura e Democracia é necessária e muito bem-vinda. Serve de experiência e referência àqueles que ainda esperam por um “ajuste” com o passado. Entretanto, faltou ampliar a contextualização das limitações e contradições apresentadas no caso português. Ressaltamos: os excessos cometidos no pós-25 de Abril de 1974 devem ser lembrados e criticados para (des)construir e historicizar os discursos políticos em Portugal desde então. Devem ser lembrados e criticados, pois, em alguns casos, foram muito graves e resultaram em “(…) diversas prisões arbitrárias, uso de tortura e violenta agressão física” (p. 99-100), conforme apontou comissão constituída para averiguar os excessos. Contudo, esses excessos também estão profundamente relacionados a um estrangulamento do espaço público promovido por décadas pelo Estado Novo. O (re)estabelecimento de princípios legais e constitucionais depois de períodos autoritários não é um processo simples. Por sua vez, que os excessos de Abril sejam “esquecidos” ou silenciados por forças políticas que outrora os promoveram ou defenderam (p. 99-101) também deve ser analisado como um sinal de revisão do passado revolucionário por essas forças e de seu alinhamento – ou submissão – a valores presentes na sociedade portuguesa contemporânea ou em setores expressivos dela. Para além dos interesses imediatos, presentes nos usos que os partidos e governos fazem do passado autoritário, caberia apontar como a experiência democrática transformou as forças políticas portuguesas e provocou mudanças na forma de lidar com a memória da ditadura e da Revolução dos Cravos. Em outras palavras, o “esquecimento” ou o silenciamento dos excessos cometidos por Abril talvez indiquem um aprendizado maior com a democracia do que reivindicações de Salazar em sua terra natal ou em programas de televisão de grande alcance. Enfim, faltou ao livro um equilíbrio entre a crítica à memória de Abril e os legados que a Revolução dos Cravos deixou para a democracia portuguesa, o que implica conceber a democracia para além do seu aspecto institucional.
Em tempos nos quais o passado autoritário brasileiro é minimizado ou mesmo negado por expoentes e setores de nossa política e sociedade – o que se verifica com variações em outros países latino-americanos –, a leitura de Ditadura e Democracia nos conecta com experiências históricas vividas pelos portugueses desde a queda da ditadura. Ajuda-nos a pensar nas particularidades de cada processo, mas também nos problemas e dilemas em comum deixados por governos autoritários e ditatoriais. Quanto às críticas que Filipa Raimundo faz aos usos da memória do passado autoritário português e da Revolução dos Cravos, estas nos servem, sobretudo, para que a sociedade civil seja a grande promotora de nosso “ajuste” e, assim, não fiquemos à mercê das instabilidades que marcam a política partidária e institucional. 1 Entre 1968, quando Salazar se acidentou, e 1974, quando ocorreu a Revolução dos Cravos, a presidência do Conselho de Ministros foi exercida por Marcello Caetano. 2 “Este livro não teve a pretensão de apresentar uma análise exaustiva das ferramentas e mecanismos usados para lidar com o passado em Portugal. (…). Ficaram de fora desta análise muitos outros aspectos, tais como: o exílio forçado da cúpula do regime, a punição dos funcionários da Legião Portuguesa, o Tribunal Cívico Humberto Delgado, a mudança na toponímia, a proibição de constituição de partidos fascistas, a amnistia aos desertores e refractários, entre outros temas (…)” (p. 98). 3 No que se refere à sistematização, são dignas de nota as tabelas 1 “Funções abrangidas pela restrição de direitos políticos em 1975-76” (p. 31) e 2 “Temas, conteúdos e principais conclusões dos 25 relatórios publicados pelo Livro Negro” (p. 65). O Livro Negro foi uma proposta iniciada em 1977 pelo primeiro governo constitucional depois da queda da ditadura e teve o objetivo de reunir documentos sobre o autoritarismo e a repressão durante o Estado Novo.
Paulo Renato da Silva – Doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Foz do Iguaçu, PR – BRASIL. E-mail: paulo.silva@unila.edu.br.
Memória da amnésia. Políticas do esquecimento | Giselle Beiguelman
Hoje, nem o tempo é mais o que era. Antigamente, reconhecia-se o passado como algo que dizia respeito ao que havia acontecido, o presente ao que estava acontecendo e o futuro ao que iria acontecer. Como aqui demonstra a artista e pensadora Giselle Beiguelman, a partir de ensaios textuais e visuais, a presumida linearidade do tempo explodiu, e a temporalidade parece estruturar-se numa nuvem de fragmentos com espessuras e velocidades distintas e em direções desencontradas. Sobre esse caráter essencialmente contraditório, a autora lembra que a mesma cidade onde foi inaugurado o Museu do Amanhã, instituição que quer nos fazer crer que o amanhã já é hoje, transformou em cinzas o Museu Histórico Nacional, um patrimônio de 20 milhões de itens. Rasurou irreversivelmente uma parte significativa do passado não só brasileiro e português, mas da humanidade.
Nunca se produziu tantos registros como atualmente, ao mesmo tempo em que nunca foi tão difícil ter acesso ao passado recente. O tsunami de informações tem o esquecimento como efeito colateral. Não é isso o que sentimos quando, na inspeção arqueológica de gavetas e armários, encontramos disquetes obscuros? Leia Mais
Projeto Político de um Território Negro: memória, cultura e identidade quilombola em Retiro, Santa Leopoldina – ES | Osvaldo M. Oliveira
A historiografia brasileira há algum tempo entende a formação do Brasil e a diáspora africana, entre os séculos XVI e XVII, como um mesmo processo histórico que uniu os dois lados do Atlântico Sul em um único sistema de exploração colonial. A colonização portuguesa na América, alicerçada no escravismo, integrou uma zona de produção escravista no litoral brasileiro a uma zona de reprodução de escravos situada em Angola. A especificidade desse processo de formação ainda impacta profundamente o Brasil.
A despeito da importância do negro na formação nacional, a realidade dos afrodescendentes continua marcada por resistência e luta pelo acesso à cidadania. Foram necessários cem anos após a abolição da escravidão, para que a Constituição Federal de 1988 introduzisse o direito de acesso aos bens materiais e imateriais dos remanescentes das comunidades de quilombos, entre os quais, o título definitivo da propriedade de suas terras, fruto da participação ativa das organizações do movimento negro. Leia Mais
Crônica/memória e história: formação historiográfica dos sertões da Bahia | Erivaldo Fagundes Neves
O livro Crônica, memória e história: formação historiográfica dos sertões da Bahia1 do professor da Universidade Estadual de Feira de Santana Erivaldo Fagundes Neves, a principal referência para pesquisa em história dos sertões da Bahia, é um livro esperado para aqueles que acompanham a produção do autor. Erivaldo Neves já havia abordado o tema de teoria e metodologia da história regional2, que complementava e desenvolvia argumentos apresentados em texto sobre corografia e historia regional3. Crônica, memória e história abrange estes estudos e contempla as incursões do autor aos temas da escravidão4, ocupação territorial5, caminhos coloniais6, história regional e local7, cultura8, sertão9, história da família, pecuária10 e historiografia11 desde o período colonial, passando pelo império e república, até a produção contemporânea. Além de um exaustivo levantamento bibliográfico, o trabalho é um comentário desenvolvido para o longo percurso de textos históricos apresentados.
A obra tem um prefácio do professor Paulo Santos Silva da UNEB, uma introdução, considerações finais e se divide em três partes, i) leituras sobre a colonização dos sertões baianos, ii) as crônicas, memórias e histórias sobre os mesmos no império e primeira república e iii) as perspectivas historiográficas posteriores a 1930, todas subdivididas em seções. Crônica, memória e história se justificaria por várias razões, mas julgamos duas de vulto: a tipologia apresentada para um extensivo levantamento de textos sobre os sertões baianos que abrange cinco séculos e a história do pensamento histórico sobre um tema que se desenvolve desde crônicas e memórias até uma historiografia técnica e disciplinar produzida em programas de pós-graduação em história de universidades. A polissemia do livro revela a paciência com a qual o mesmo foi gestado: o livro é resultado de um projeto de 25 anos que se desdobrou em outros trabalhos do autor, cuja obra é referência para uma geração de historiadores dos sertões baianos que lhe seguiram e que retornaram ao livro como exemplares de novas perspectivas historiográficas. Leia Mais
Construções de Gênero, Santidade e Memória no Ocidente Medieval | A. C. L. F. da Silva
O MEDIEVO OCIDENTAL A PARTIR DE CONCEITOS COMO GÊNERO, SANTIDADE E MEMÓRIA E EM DIFERENTES ABORDAGENS TEÓRICAS E METODOLÓGICAS
Introdução
Segundo informa em sua apresentação, o livro Construções de Gênero, Santidade e Memória no Ocidente Medieval, publicado em 2018, foi o resultado do projeto “A construção medieval da memória de santos venerados na cidade do Rio de Janeiro: uma análise a partir da categoria gênero” coordenado pela Profa. Dra. Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva. Tal iniciativa privilegiou a articulação entre atividades de ensino, pesquisa e extensão, com enfoque especial na temática mendicante do século XIII, a partir das categorias gênero, santidade e memória.
Decorrente de tal proposta, a publicação é uma coletânea de resultados de pesquisas de colaborados do referido projeto e vinculados ao Programa de Estudos Medievais (PEM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), totalizando dezessete capítulos. Pelo número de materiais, a apresentação esmiuçadora de cada um dos capítulos tornaria a resenha exaustiva, sem esgotá-los. Nossa proposta é, portanto, sintetizar o tema eleito por cada autor, a documentação utilizada, a abordagem teóricometodológica explícita e/ou implícita em sua redação e suas principais conclusões.
Por fim, como nossas últimas considerações, apresentamos algumas considerações sobre outros pontos de aproximação entre os capítulos, para além dos já anunciados no título e na introdução da obra.
Dezessete abordagens sobre gênero, santidade e memória no medievo ocidental
O primeiro capítulo, escrito por Flora Gusmão Martins, “Considerações sobre o culto aos santos mártires no reino visigodo dos séculos VI e VII” apresenta uma revisão sobre o modelo de santidade martirial da Alta Idade Média, considerando especificamente seu desdobramento no contexto ibérico dos séculos VI e VII.
O texto de F. G. Martins enfatiza a relação entre mártires e heróis da antiguidade e suas possíveis correlações. São priorizados, ainda, três modelos de santidade em tal contexto: o mártir, o bispo e o asceta. Para construir sua argumentação, a autora apresenta as aproximações e os distanciamentos das conceituações realizadas por autores como Andrade, Castillo Maldonado, Souza, Vauchez, Moss, Brown, Bowersock, entre outros, sem desconsiderar as leituras contemporâneas dos eventos, como as apresentadas por Isidoro de Sevilha (século VII).
A diretora e autora do livro, Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva, em seu capítulo “A Ordem Dominicana na Legenda Beati Petri Gundisalvi”, apresentou um estudo sobre o documento que trata da vida do dominicano Pedro González, também conhecido como São Telmo, que teria vivido no século XIII. Como objeto explícito da sua análise, foram destacadas às referências à Ordem Dominicana na Legenda e suas possíveis relações com a forma de patrocínio utilizada na produção do referido texto.
Ao longo de seu estudo, a autora apresenta a tradição manuscrita da Legenda Beati Petri Gundisalvi, sua transmissão, as edições existentes do documento, uma do século XVIII e outra do XXI, e a ausência de análises aprofundadas pela historiografia. Para além das hipóteses levantadas a respeito da datação e da autoria do documento, A. C. L. F. Silva argumenta que a análise sistemática das referências institucionais indica que a obra teve por objetivo enaltecer a figura de Pedro González, e não da Ordem Dominicana, o que implica que esta não estaria envolvida no patrocínio de sua redação.
Analisando a Legenda Áurea, Laís Luz de Carvalho escreve o estudo “„A comemoração das almas‟ da Legenda Áurea: solidariedade entre vivos e os mortos do purgatório”. A autora utiliza o legendário dominicano para analisar todas as referências às relações entre vivos e mortos presentes no capítulo “A Comemoração das Almas”, da Legenda Áurea, com o objetivo de entender a dinâmica de solidariedade que era incentivada pela Igreja de Roma.
A partir do método de Análise da Narrativa, foram enfatizados os pecados e as penas atribuídos aos pecadores em anedotas exemplarizantes. O estudo leva em consideração o contexto do surgimento do Purgatório e das Ordens Mendicantes, os quais perpassam as questões atreladas ao documento. Nesse sentido, L. L. Carvalho sistematiza em categorias desenvolvidas para a pesquisa todas as 16 exempla, a partir da identificação dos personagens e de onde são, das suas penas e seus pecados e dos tipos de vínculos estabelecidos entre os vivos e os mortos. A autora conclui que o Purgatório permite a crença na redenção para laicos e citadinos e que a obra tem por um dos seus objetivos incentivar a solidariedade entre vivos e mortos na comunidade cristã.
Com uma proposta metodológica que privilegia a Análise da Avaliação de Laurance Bardin, o capítulo de André Rocha de Carvalho, “A representação dos imperadores da dinastia Staufen na Vida de São Pelágio da Legenda Áurea: aplicando a Análise de Avaliação”, busca identificar as abordagens apologéticas e depreciativas sobre a representação dos imperadores da dinastia Staufen, atribuindo valores em gradações numéricas para que os discursos sejam considerados positivos ou negativos. Para a categoria de representação, o autor fez usa do conceito estabelecido por Roger Chartier.
R. Carvalho parte do pressuposto que A Vida de São Pelágio transmite uma imagem dos imperadores marcada pelos interesses do autor, da ordem dominicana e da Igreja Romana. Nesse sentido, os governantes são representados como tiranos, traidores e pecadores, com o objetivo de defender a autoridade e superioridade do poder papal frente ao poder imperial. Simultaneamente, serve de ferramenta de propaganda para a Cristandade no contexto reformador.
Retornado aos debates de santidade, mas privilegiando um recorte detido nos séculos XII e XIII, a autora Ana Paula Lopes Pereira apresentou o capítulo “Maria d‟Oignies (1213) e Clara de Assis (1253): dois exemplos de santidade laica nos Prólogos de Jacques de Vitry (1160/80-1240) e Thomas de Celano (1200-1260)”.
Em tal estudo a santidade passa a ser analisada considerando os aspectos urbanos da Idade Média Central. O texto privilegia o exame de duas hagiografias de mulheres em perspectiva comparada, buscando as semelhanças nos processos iniciais do movimento beguinal e franciscano. Em tal estudo, A. P. L Pereira busca compreender o culto e a perseguição a Maria d‟Oignies, bem como o enquadramento das beguinas, contrapondo comparativamente, com o culto e a canonização de Clara de Assis. Como ponto de confluências, os dois movimentos dos quais as hagiografias são decorrentes fazem parte das novas formas de piedade laica, do século XIII. A autora conclui que a mudança de geração entre Maria d‟Oignies e Clara de Assis e dos seus hagiógrafos demonstra o poder de enquadramento e endurecimento da Igreja Romana para o afastamento das novas formas de vida apostólica e mística.
Em uma sequência de análises sobre a santidade feminina, Andréa Reis Ferreira Torres apresenta o ensaio intitulado “Os atributos conferidos à santidade feminina em dois processos produzidos na Península Itálica no século XIII – uma comparação entre Clara de Assis e Guglielma de Milão”. Mais uma vez o comparativismo é privilegiado para traçar as aproximações e os distanciamentos entre os documentos de canonização e de processo inquisitorial, com especial ênfase nos atributos de santidade relacionados às mulheres.
Ambos os documentos, produzidos na Península Itálica do século XIII, são contemporâneos ao processo de fortalecimento papal, determinante para o endurecimento do controle e reconhecimento de santidade. A análise dos atributos de santidade realizado por A. R. F. Torres foi executada tendo como aporte teórico a categoria gênero, na interpretação sistematizada por Scott. Nesse sentido, para a autora do capítulo, a questão do gênero interferiu na construção dos modelos exemplares femininos para tal sociedade, principalmente considerando a questão da mentoria masculina ou a sua ausência nos mencionados documentos.
Pensando o aspecto social da santidade, o texto “A santidade em construção: revolvendo camadas para expor as instituições atuantes na canonização de Domingos de Gusmão (1233-1234), de Thiago de Azevedo Porto, reflete sobre a canonização de Domingos de Gusmão como um processo coletivo e complexo, em que tomam parte interesses de agentes sociais diversos, que incluíam a autoridade pontifícia. Para o autor, a santidade é uma formação post mortem, desconectada das escolhas em vida de Domingo, reconhecido como santo ainda no século XIII.
O processo de reconhecimento de santidade teria sido, portanto, resultado de uma construção coletiva, com rota não linear, com avanços e contradições, que devem ser entendidas levando em consideração processos que antecedem à canonização do dominicano. Dessa forma, torna-se possível compreender como foi organizada uma campanha para viabilizar o sucesso do processo de Domingo junto a Igreja Romana.
A santidade feminina a partir de processos inquisitoriais é abordada em um novo capítulo, intitulado “Considerações sobre as Almas Simples Aniquiladas e a condenação da beguina Marguerite Porete (1250-1310) e escrito por Danielle Mendes da Costa. Em seu texto a autora busca entender como a condenação por heresia de Marguerite Porete pode ter sido motivada pela interpretação da instituição eclesiástica de que as ideias defendidas pela beguina representavam uma ameaça ao poder da Igreja Romana.
M. Costa apresenta a produção documental de Marguerite Porete, sua temática e organização, as tentativas de silenciamento por parte da Igreja Romana, por meio dos inquisidores, e a chegada dos manuscritos até os dias de hoje. Do ponto de vista conjuntural, são apresentados o contexto pontifício do século XIII e o movimento beguinal e de espiritualidade feminina dos séculos XII e XIII. Nesse sentido, a autora conclui que a defesa de um caminho para a salvação que não estava atrelada à instituição eclesiástica foi interpretada como uma ameaça e uma concorrência e, portanto, destinada à repressão por ser considerada um desvio da ortodoxia, culminando na morte de sua propositora.
Em “A influência franciscana na cidade de Pádua: um estudo sobre a narrativa da pregação antoniana na Beati Antonii Vita Prima”, o autor Victor Mariano Camacho estabelece o estudo da pregação de Antônio de Lisboa, também conhecido como de Pádua, no contexto franciscano e urbano. O estudo privilegia os sacramentos e a influência da ordem nos contextos citadinos a partir da obra Beati Antonii Vita Prima, também conhecida como Legenda Assídua, que trata da vida do então conhecido como Fernando Martins de Bulhões.
M. Camacho apresenta brevemente os dados documentais como autoria, destinação da obra e organização textual. A ação pregadora de Antônio no ambiente urbano também é sistematizada, com especial enfoque para o décimo terceiro capítulo da hagiografia, com sua ação de modificação do espaço comunal, desde a prática da usura até a prostituição. A ação antoniana em Pádua foi interpretada pelo autor como uma reprodução da influência pastoral franciscana em alinhamento com as diretrizes centralizadoras de Igreja de Roma daquele período.
Dando sequência aos estudos franciscanos com ênfase na atuação de Antônio de Pádua/Lisboa, Jefferson Eduardo dos Santos Machado, autor do capítulo “Sacramentos da confissão no discurso franciscano do século XIII, a partir dos Sermões Antonianos”, destaca a o processo de institucionalização do movimento, com a aproximação dos Frades Menores do poder pontifício. Tal como o texto de Camacho, o aspecto sacramental é enfatizado, mas neste episódio, principalmente no que diz respeito à Reconciliação e à Confissão.
Segundo J. E. S. Machado, os Sermões Antonianos estavam organizados para serem utilizados de acordo com o calendário litúrgico, o qual não estava alinhado com o da Igreja Romana. A partir da análise dos sermões da Quaresma e a Confissão, o autor afirma que como um sacramento, a confissão tinha grande importância no discurso antoniano, sendo apontada como importante elemento para a salvação da alma. A confissão passou, portanto, a ser um elemento de vigilância para a Igreja Romana, em um contexto de fortalecimento e centralização do poder pontifício.
O século XIII também foi abordado a partir dos regastes neotestamentários, como a Epístola de Tiago, tema abordado por Gabriel Braz de Oliveira em “Uma alternativa de leitura sobre a pobreza medieval no Novo Testamento: a trajetória canônica da Epístola de Tiago”. O documento foi, portanto, retomado no âmbito do debate sobre os fundamentos da pobreza evangélica e mendicante. Mesmo no contexto de formação do cânon neotestamentário, a epístola passou por uma aceitação paulatina e marcada por diversas desconfianças das autoridades eclesiásticas, que foram contrapostas pela aceitação de outros personagens de grande influência, como Eusébio de Cesaréia, Atanásio, Jerônimo e Agostinho.
B. Oliveira dividiu sua investigação sobre o texto em partes, sendo elas: as características do documento, como as temáticas, a autoria e a datação; o conteúdo histórico hermenêutico, reunindo comentários realizados pela carta em diferentes momentos, principalmente pelos autores patrísticos, e; apresentação de uma leitura da pobreza na Epístola de Tiago, como crítica ao apreço pelo materialismo, que busca normalizar a segunda geração de cristãos.
Abordando também as leituras exegéticas realizadas no período medieval, o capítulo de “Espiritualidade e milenarismo na Expositio in Apocalypsim de Joaquim de Fiore (1135-1202)”, de autoria de Valtair Afonso Miranda, analisa os escritos de Joaquim de Fiore, a partir da ideia de que há um rompimento com a tradição agostiniana na História da Igreja, dando lugar a uma nova forma de espiritualidade. Na obra Expositio in Apocalypsim, Joaquim faz um comentário do Apocalipse de João, que foi analisada para este capítulo a partir dos aspectos da espiritualidade e do milenarismo.
Segundo, V. A. Miranda, o abade cisterciense preocupou-se em correlacionar todas os episódios do texto do apocalíptico com eventos históricos atrelados a História Eclesiástica, tanto em perspectiva linear quanto cíclica. Como monge beneditino da Ordem Cisterciense, Joaquim estava inserido nos movimentos reformadores que envolveram a sociedade ocidental dos séculos XII-XIII, e que foi apropriada pelo autor da exegese para ampliar os valores monásticos para a Cristandade. O apocalipticismo de Joaquim de Fiori, portanto, conjugou-se com o milenarismo que buscava a unidade e a transformação da ecclesia.
Analisando uma narrativa produzida em um mosteiro, Alinde Gadelha Kuhner, em “A Fundação de Santa Cruz de Coimbra de acordo com a Vita Tellamos Archidiaconi”, discute a promoção da legitimidade da fundação de Santa Cruz de Coimbra e a natureza tipológica da Vida de D. Telo. Segundo a autora, tal documento não é satisfatoriamente enquadrado como hagiografia e, por este motivo, a natureza do relato é debatida no seu estudo. De autoria conhecida, o documento foi produzido no referido mosteiro.
O questionamento de A. G. Kuhner sobre a classificação da narrativa como hagiográfica esteve baseada na importância atribuída ao protagonista por seu hagiógrafo, pela ausência de dados biográficos do hagiografado, sendo estes obliterados pelos dados referentes à fundação do mosteiro, fato que acontece em momento já avançado de sua vida. Reforçando tal argumento, a autora destaca que mesmo o relato sobra peregrinação de Telo para Terra Santa é fato menor se comparado a importância desta fundação para a narrativa. Em síntese, teria sido o papel do santo na construção do mosteiro e no reconhecimento do espaço pelo poder pontifício que o qualificou à posição de santo.
As análises de narrativas hagiográficas estão presentes também no capítulo “A construção da figura feminina na Vita Sancti Theotonii”, de autoria de Jonathas Ribeiro dos Santos Campos de Oliveira. A partir do estudo sistemático da obra Vita Sancti Theotinii, o autor buscou entender quais escolhas discursivas foram feitas para representar a figura feminina e porque o hagiógrafo optou por tais desígnios. Em um contexto de crescente relevância da castidade, a partir da reforma dos ideais religiosos dos séculos XI e XII, a figura da mulher estava associada, em algumas narrativas, como antítese da castidade e obstáculo para a santidade.
O ensaio de J. R. S. C. Oliveira buscou analisar duas passagens da Vita Sancti Theotonii a partir da construção da imagem da mulher como agente desviante. O modelo a ser seguido era, sem dúvida, a de Teotônio, principalmente para os outros religiosos. A castidade era uma demonstração da pureza corporal transformada em base para a vida religiosa. Por sua vez, as figuras femininas foram representadas de duas formas, segundo o autor do capítulo, como ferramenta de reforço de sua santidade e como agente de desvio e fonte de vigilância para os votos.
Analisando a tradição mariana, Guilherme Antunes Junior, em “A cantiga 26 e o romeiro pecador: gênero nas imagens e nos textos nas Cantigas de Santa Maria de Afonso X”, reflete sobre as implicações políticas e culturais de um milagre que recai sobre um peregrino pecador. O documento em questão foi patrocinado pelo rei Afonso X e produzido como um conjunto de quatro manuscritos, no século XIII. Em representação semelhante à apresentada por J. R. S. C Oliveira, a figura feminina também aparece como elemento de desvio e de ameaça à castidade.
Antunes Junior entende que o texto poético e as imagens contidas na Cantiga constroem discursos sobre homens e mulheres e, portanto, podem ser analisadas a partir das relações de gênero, com seus papéis sociais e relações de poder. O autor utiliza o conceito proposta por Scott para interpretar tal documentação. As conclusões do autor dizem respeito às implicações políticas, que envolvem a cantiga e as tensões entre Afonso X e o clero compostelano, e às questões de gênero, que implicam à figura da mulher má no pecado do romeiro em seu texto, mas não nas ilustrações contidas na mesma obra. Em contrapartida, também é a figura feminina de Maria que garante a salvação do personagem desviado, antagonizando, desta forma, duas representações femininas polarizadas.
As interpretações eclesiásticas sobre o tema do casamento foram analisadas por Mariane Godoy da Costa Leal Ferreira em “Uniões entre Borgonha e Leão – Castela: os casamentos de Urraca e Raimundo (1091) e de Teresa e Henrique (1096)”, considerando o contexto ibérico do final do século XI. Nesse sentido, as alianças matrimoniais entre Borgonha e Leão-Castela já estavam em prática desde o início do século XI, mas a autora tem por objetivo demonstrar que os casamentos das filhas do rei castelhano-leonês Afonso VI, Urraca e Teresa, com Raimundo e Henrique, foram vantajosos politicamente para o reino, mas acabaram por afetar o contexto peninsular na passagem do XI para o XII séculos.
G. C. L. Ferreira analisa a crônica cartulário História Compostelana, escrita em Santiago de Compostela, no século XII, com o objetivo de valorizar a vida de Diego de Gelmírez, colocando o contexto político como um elemento secundário em sua narrativa. Os casamentos de Urraca e Teresa são apenas mencionados enquanto temas do interesse eclesiástico, como adultério e o papel das viúvas. A autora afirma ainda que, do ponto de vista político, tais casamentos e seus herdeiros teriam gerado uma crise sucessória em todo o contexto peninsular, uma vez que o discurso documental culpabiliza o comportamento sexual das rainhas, com o intuito de justificar a existência de tais conflitos.
Analisando as leis suntuárias de Múrcia sobre vestimentas e adornos, Thaiana Gomes Vieira encerra a obra coletiva com o capítulo “Consumo suntuário e a sociedade Murciana dos séculos XIII e XIV”, questionando o papel dado a aparência na sociedade urbana e as necessidades de normalização apresentadas no contexto dos séculos XIII e XIV. Como pressuposto que perpassa a pesquisa, a autora defende ser possível falar em “moda” para o período, sendo as vestimentas e os adornos formas de comunicação e identificação comuns às altas camadas da sociedade. É justamente por este papel social que surge, então, a necessidade de normalização e regulamentação.
G. Vieira chama atenção para as conturbações sócio-políticas de Múrcia no século XIV, bem como a ampliação pecuária, da produção têxtil e do comércio de produtos e materiais. Nesse sentido, tais aspectos não implicaram em uma desvalorização da moda ou da ostentação nas formas de vestir, comer e habitar. As normativas murcianas indicavam o que deveria ser utilizado pelos diferentes grupos sociais, não apenas por motivações econômicas, mas para a manutenção da hierarquia social, a partir de um código de aparência.
Considerações finais
As categorias de análise anunciadas tanto no título quanto na apresentação da obra podem ser observadas individual ou combinadamente nos dezessete capítulos. Em se tratando do tema da santidade, F. G. Martins, A. P. L. Pereira, A. R. F. Torres, T. A. Porto, tornaram o assunto um dos principais eixos de seus estudos. A partir da perspectiva de gênero, A. P. L. Pereira, A. R. F. Torres, D. M. Costa, J. R. S. C. Oliveira e G. Antunes Junior buscaram enfatizar a categoria nas análises documentais realizadas. Por fim, o último tema explicitamente anunciado, a memória, foi trabalhado em maior ou menor medida, nos capítulos de F. G. Martins, A. C. L. F. Silva, A. R. Carvalho, A. R. Oliveira, A. P. L. Pereira, A. R. F. Torres, T. A. Porto, V. M. Camacho, A. G. Kuhner, J. R. S. C. Oliveira, G. Antunes Junior e M. G. C. L. Ferreira.
Porém, estas podem ser consideradas apenas algumas das várias maneiras de perceber as correlações existentes entre os capítulos que compõem o livro. Do ponto de vista metodológico, o comparativismo possui grande destaque, o que pode ser justificado pela inserção e/ou status de egressos de muitos autores com o Programa de Pós-graduação em História Comparada (PPGHC) da UFRJ. Os textos que utilizam implícita ou explicitamente tais aportes, seja na comparação de documentos, regiões, personagens, imagens e seus textos, diferentes interpretações de textos em novos contextos, dentre outras possibilidades, formam escritos por L. L. Carvalho, A. P. L. Pereira, A. R. F. Torres, G. B. Oliveira, V. A. Miranda, G. Antunes Junior e M. G. C. L. Ferreira.
Em uma avaliação de conjunto sobre a metodologia, as análises, em geral, foram exaustivas sobre um ou dois documentos, em contraposição a possibilidade de estudos temáticos generalistas e menos metódicos – que se utilizam, superficialmente ou não, de documentações numerosas e/ou pontuais para suas pesquisas – um dos benefícios que podem ser percebidos nas abordagens aqui apresentadas seria uma análise mais completa e complexa dos textos em conexão com os seus contextos. Tal aspecto, portanto, pode ser considerado mais um pressuposto metodológico do grupo.
O livro Construções de Gênero, Santidade e Memória no Ocidente Medieval é um produto derivado de um nítido esforço coletivo de pesquisadores medievalistas brasileiros, que contribuem para a divulgação científica das ciências humanas e dos projetos de articulação de ensino, pesquisa e extensão realizados na cidade do Rio de Janeiro.
Juliana Salgado Raffaeli – Doutora PEM-PPGHC-UFRJ/ Docente UNIRIO-CEDERJ-UAB. E-mail: julianaraffaeli@hotmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2196-922X
SILVA, A. C. L. F. da (Dir.). Construções de Gênero, Santidade e Memória no Ocidente Medieval. Rio de Janeiro: Programa de Estudos Medievais, 2018. Resenha de: RAFFAELI, Juliana Salgado. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.19, n.2, p. 272- 282, 2019. Acessar publicação original [DR]
A critical introduction to the epistemology of memory – SENOR (C-RF)
SENOR, Thomas. A critical introduction to the epistemology of memory. New York: Bloomsbury Academic, 2019. 192 p. Resenha de: RIBS, Glaupy Fontana; LIED, Úrsula Maria Coelho. Cognitio – Revista de Filosofia, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 456-460, jul./dez. 2019.
Thomas Senor atualmente e professor na Universidade de Arkansas (EUA) e e especialista em Epistemologia e Filosofia da Religiao. Suas linhas de pesquisa em Epistemologia concernem a epistemologia da memoria e teoria da justificacao. Em marco de 2019, Senor publicou A critical introduction to the epistemology of memory, um livro cujo objetivo e analisar quando as crencas oriundas da memoria estao justificadas.
Senor inicia o livro apontando que as teorias da justificacao epistemica se preocupam apenas com o que e necessario para que um sujeito esteja justificado em crer, sem considerar as diferencas entre formar uma crenca e manter uma crenca. A titulo de exemplo ele menciona a teoria evidencialista, segundo a qual um sujeito esta justificado em crer apenas quando tem evidencias para isso. Ela e uma teoria bastante consistente para a justificacao da formacao de crencas; contudo, nao tem a mesma capacidade apelativa sobre a justificacao da manutencao de crencas. Isto indica que a justificacao para passar a crer nao e identica a justificacao para continuar a crer, e Senor destaca que seu livro e focado na epistemologia das crencas previamente formadas.
O autor reconhece que ha um importante debate em Filosofia da Memoria sobre o que e memoria e quando que, de fato, um sujeito lembra, mas ressalta que o objetivo do seu livro e abordar a epistemologia das crencas entendidas como mantidas e evocadas, sem discutir o que caracteriza a manutencao e a evocacao. Assim, faz uma breve distincao entre metafisica da memoria e epistemologia da memoria.
Ha dois tipos de crencas de memoria. A crenca relembrada e aquela crenca formada anteriormente e evocada no momento presente. O outro tipo e a crenca formada a partir de informacoes mantidas pela memoria. As crencas de memoria consideradas no livro sao as crencas relembradas, formadas previamente pelo sujeito.
Uma tese crucial do livro e que uma crenca pode ser justificada em termos de (1) garantia, (2) racionalidade ou (3) responsabilidade (blamelessness). Assim, ter justificacao significa cumprir qualquer um destes requisitos. (1) Para uma crenca ter garantia, entretanto, e necessario que ela satisfaca o criterio de Gettier. Isto e, nao basta que uma crenca seja verdadeira e justificada para que haja conhecimento, ela precisa ter uma boa base objetiva, uma base que geralmente conduz a verdade.
(2) Seguindo Locke, Senor entende que um sujeito tem racionalidade epistemica quando a sua crenca e proporcional as evidencias das quais ele dispoe. Mas e possivel ter crencas racionais que nao sejam garantidas, como e o caso do sujeito que cre na previsao do tempo feita a partir das folhas de cha porque cresceu em uma comunidade defensora deste metodo. Como o sujeito nao esta atento a correspondencia ou nao das previsoes anteriores, confia em sua comunidade e partilha com ela este metodo; as evidencias que ele tem sao favoraveis a formar a crenca de que a previsao funcione. Ha racionalidade epistemica, mas nao ha garantia porque a base da crenca e um metodo nao confiavel. E por fim, (3) como o sujeito nao controla as crencas que forma, deve ser responsavel e buscar evidencias para justifica-las. Crer sem poder ser culpabilizado e cumprir os deveres epistemicos na formacao da crenca. Em relacao a memoria, a ideia de responsabilidade traz a questao de se ha justificacao quando o sujeito nao lembra das evidencias da crenca ou se ele tem o dever de procurar estas evidencias.
A primeira teoria epistemica da memoria analisada por Senor e o conservacionismo. O principal argumento deste tipo de teoria e que o sujeito so pode alterar suas crencas se surgirem boas razoes para isso. Ou seja, as crencas devem ser mantidas e serao contestadas ou mudadas apenas se aparecerem razoes suficientes para tal. Sao entao apresentados dois modelos conservacionistas, da teoria de Harman e da teoria de McGrath.
A teoria proposta por Harman, apresentada no segundo capitulo, esta baseada na ideia de que a memoria humana e limitada, de modo que a justificacao prima facie, ou seja, a justificacao inicial, se da simplesmente porque o sujeito acreditou anteriormente em determinada crenca. Harman aposta no Principio da Solapacao Positiva (Principle of Positive Undermining), segundo o qual o sujeito deve parar de crer que P sempre que acreditar que as suas razoes para crer que P nao sejam boas. Portanto, o sujeito esta justificado a manter a crenca evocada, a menos que aparecam evidencias contrarias a ela. Em sua analise, Senor apresenta tres objecoes a esta teoria: ele argumenta que a memoria nao e limitada; que a memoria nao evita acumular informacoes desnecessarias; e que e preferivel para o sujeito que ele saiba o caminho justificacional de suas crencas.
Como dito anteriormente, a ideia principal do conservacionismo e que se o sujeito forma uma crenca, ele esta prima facie justificado em manter esta crenca.
Uma diferenca inicial entre os conservacionismos de Harman e de McGrath, exibido no terceiro capitulo, e que o primeiro entende justificacao como garantia, enquanto o segundo entende como racionalidade ou responsabilidade em crer. A teoria de McGrath surge como uma alternativa para escapar dos problemas postos ao evidencialismo e ao preservacionismo, teorias apresentadas em capitulos posteriores.
Senor analisa as respostas de McGrath a tres objecoes ao conservacionismo: o problema da parcialidade, o problema da conversao e o epistemic boost problem, e acrescenta, ainda, o problema da paridade.
Senor termina por avaliar que o conservacionismo nao e uma teoria plausivel nem da garantia, nem da racionalidade, nem da responsabilidade. Ela nunca teve pretensao de ser uma teoria da garantia. Quanto a responsabilidade, ela poderia ser uma boa teoria a esse respeito caso nao houvesse condicoes sincronicas problematicas. O conservadorismo seria uma teoria razoavel da racionalidade, mas Senor questiona por que o mero fato de que alguem tem uma crenca deveria, ele mesmo, ser justificacao para essa crenca.
O autor comeca entao a avaliar o evidencialismo, teoria na qual uma crenca e justificada somente se o sujeito esta de posse de boa evidencia, pois a forca da justificacao e proporcional a forca da evidencia. No caso das crencas da memoria, o evidencialismo mantem que uma crenca mnemica e justificada em um tempo t se e somente se ela se enquadra na evidencia que o sujeito possui em t. Alem disso, o evidencialismo e uma teoria sincronica, pois o sujeito somente possui justificacao da crenca da memoria se ele ainda possui as crencas ou lembra-se das experiencias que fornecem a justificacao para essa crenca da memoria. No entanto, no caso das crencas da memoria, o evidencialismo enfrenta um grave problema, o assim chamado Problema da Evidencia Esquecida. Este retrata o caso onde o sujeito formou uma crenca (e no momento de formacao da crenca ele possuia evidencia para essa crenca), mas no momento presente ele somente recorda-se da crenca e esqueceu a evidencia que a suportava. Outro problema do evidencialismo e que, sendo este uma teoria internalista, mesmo em um cenario cetico extremo (tal como o do Genio Maligno) as crencas que estao fundamentadas em boa evidencia ainda seriam justificadas, mesmo que fossem falsas.
O diagnostico do autor e que o evidencialismo e uma boa teoria da crenca racional, mas nao da responsabilidade de crer, pois uma pessoa pode dar o seu melhor e ainda assim nao acreditar de acordo com as evidencias que possui (por faltar-lhe capacidade intelectual para avaliar a evidencia). O evidencialismo nao e uma boa teoria da garantia da crenca mnemica porque a posicao evidencialista nao afirma que E ser boa razao para crer que P torna mais objetivamente provavel que P seja verdadeiro, ou seja, a teoria nao leva em direcao a verdade.
No quinto capitulo, Senor comeca a avaliar o fundacionismo, teoria que afirma que existem dois tipos de crenca: crencas basicas e crencas nao basicas. As primeiras sao justificadas por serem advindas de fontes basicas de conhecimento, tais como a percepcao, e as ultimas retiram sua justificacao de outras crencas. O fundacionismo sobre as crencas da memoria mantem que, assim como crencas da introspeccao ou da percepcao sao justificadas prima facie, as crencas da memoria tambem sao basicas e justificadas prima facie, ou seja, a memoria e uma fonte de justificacao. O fundacionismo apresentado por Senor e o de Pollock e Cruz, no qual uma pessoa esta justificada em crer em uma crenca da memoria em virtude do estado de recordacao que vem junto com essa crenca, sendo que esse estado de recordacao e que fornece justificacao prima facie para S crer que P.
Sao colocadas, entao, cinco objecoes contra o fundacionismo: a objecao de que algumas crencas mnemicas nao possuem estados fenomenais de recordacao para justifica-las, a objecao sobre a relacao de base, a objecao de circularidade, a objecao do problema das crencas armazenadas e a objecao de que a teoria e sincronica. Quanto a avaliacao da teoria, Senor diz que o evidencialismo nao e uma boa teoria da garantia porque ela somente requer um estado de recordacao para que a crenca esteja justificada, mas um mero estado de recordacao nao garante a verdade da recordacao nem da crenca dela derivada. O fundacionismo e, entretanto, uma boa teoria da racionalidade, pois requer o estado fenomenologico de recordacao para fornecer justificacao prima facie; como nao temos razoes que apontem que a memoria e amplamente nao confiavel, essa crenca nao esta minada. Sobre a responsabilidade do agente doxastico, tomando a teoria de uma perspectiva diacronica, o sujeito pode possuir culpa, pois a historia da crenca pode ter sido distorcida, mas o sujeito esqueceu da distorcao e ainda acredita, podendo ser culpabilizado. Senor conclui esse capitulo com o veredicto de que as teorias conservadoras, evidencialistas e fundacionistas sao todas teorias sincronicas que ignoram a relevancia epistemica da historia da crenca e a evidencia para a crenca atraves do tempo.
No sexto capitulo, Senor apresenta entao a teoria que ele defende, o preservacionismo, teoria na qual o status justificatorio de uma crenca mnemica e, pelo menos em parte, determinado pelo status da crenca quando ela inicialmente foi formada. Assim, no caso do Problema da Evidencia Esquecida, o sujeito ainda vai estar justificado em manter a crenca da memoria, e a explicacao dessa justificacao vem da justificacao original que a crenca tinha quando ela foi formada, pois se nenhum suporte vir a ser adicionado a crenca, e se nada que mine a crenca for adicionado, ela continua possuindo seu status original. O preservacionismo esta comprometido com a tese de que simplesmente crer ou lembrar nao fornece justificacao; a memoria nao gera justificacao, somente preserva, assim, a crenca nao pode ser, no momento da recordacao, mais justificada do que era originalmente.
Um processo e epistemicamente gerativo se e somente se pode conferir justificacao original (justificacao recem-adquirida derivada de fontes gerais) prima facie. O problema para o preservacionista e que, se na memoria houvesse somente crencas, ela nao seria epistemicamente gerativa, mas na verdade ela contem tambem memorias de experiencias perceptuais a partir das quais podemos formar crencas, e a justificacao para essas crencas e derivada da memoria. Alem disso, e mais gravemente, existem casos em que a memoria gera justificacao original para uma crenca que antes nao era justificada. Mas isso nao e um problema, sustenta o autor, porque o preservacionismo nao tem nada a dizer sobre o status epistemico de uma crenca que e gerada a partir da memoria ou de uma crenca que era previamente nao justificada e que se torna justificada em virtude de uma percepcao recordada.
A tese preservacionista apenas requer que uma crenca nao tenha um boost epistemico somente por ser mantida na memoria. Senor sustenta que se a memoria fosse epistemicamente gerativa no sentido de que produz justificacao prima facie simplesmente por sustentar uma crenca ao longo do tempo, entao nesse caso o preservacionismo seria falso.
Mas o preservacionismo e mais a assercao da inabilidade da memoria de fornecer justificacao do que uma teoria que exemplifique as condicoes nas quais o sujeito esta justificado. A teoria da justificacao que normalmente o acompanha e o confiabilismo. O confiabilismo e uma teoria externalista da justificacao da memoria, e Senor salienta que, segundo essa teoria, dizer que uma crenca e justificada implica que ela e provavelmente verdadeira.
O confiabilismo diz que a crenca mnemica de S que P e justificada prima facie se e somente se ela era justificada quando foi originalmente formada (ou em algum ponto anterior ao presente) e tem sido mantida por um (ou mais) processo(s) cognitivo confiavel(is). A memoria de crencas (nao geradas pela memoria) e um processo dependente de outras crencas, e nesse sentido, ela sera confiavel se o sujeito guarda crencas verdadeiras e resgata crencas verdadeiras da memoria. Ja nos casos em que a memoria gera crencas a partir da experiencia, as crencas produzidas serao justificadas somente se a memoria e confiavel da seguinte forma: quando o sujeito tenta recordar uma experiencia, ou seja, quando ele chama uma imagem a mente e, entao, forma uma crenca a partir dela (e essa imagem deve ser acurada, o que quer dizer que ela veio da memoria e nao da imaginacao).
Senor afirma que as virtudes do confiabilismo residem na capacidade da teoria de responder ao Problema da Evidencia Esquecida e de negar que uma crenca ganhe suporte justificativo simplesmente por estar na memoria. Ja os problemas da teoria residem no Problema da Generalidade, que diz que nao ha nenhum modo de individualizar processos cognitivos que nao seja arbitrario, e na New Demon World Objection (proposta originalmente por Lehrer e Cohen em 1983, mas cuja formulacao canonica se encontra em Cohen, 1984), que ataca a capacidade do confiabilismo de explicar a justificacao de crencas.
No entanto, o autor avalia que o confiabilismo nao e uma boa teoria da responsabilidade epistemica, pois o sujeito nao tem escolha sobre qual processo usa para formar suas crencas. Tambem nao e uma boa teoria da racionalidade, pois mesmo de posse de evidencias, o processo que forma a crenca pode nao ser confiavel. Mas o confiabilismo e uma boa teoria da garantia epistemica, pois um processo e confiavel se produz mais crencas verdadeiras, e uma crenca garantida e aquela que na maioria das circunstancias sera verdadeira.
Senor conclui o livro dizendo que nao ha uma boa teoria da crenca mnemica justificada, o que ha sao tres teorias que respondem a cada uma das instancias da justificacao, a saber, a garantia, a racionalidade e a responsabilidade. A conclusao do autor e que o preservacionismo e o confiabilismo sao, tomados em conjunto, a teoria mais satisfatoria da garantia epistemica das crencas. Ja a racionalidade epistemica e melhor explicada em termos evidencialistas. A responsabilidade, por sua vez, nao e bem explicada por nenhuma teoria, de onde ele cogita que ela pode ser uma teoria nao redutivel, e portanto, nao poderia ser explicada em termos de nenhuma outra teoria.
Referências
COHEN, Stewart. Justification and truth. Philosophical Studies, v. 46, n. 3, p. 279- 295, 1984.
LEHRER, Keith; COHEN, Stewart. Justification, truth, and coherence. Synthese, v. 55, n. 2, p. 191-207, 1983.
Glaupy Fontana Ribas – Universidade Federal de Santa Maria – UFSM – Brasil. E-mail: fontanagy@hotmail.com
Úrsula Maria Coelho Lied – Universidade Federal de Santa Maria – UFSM – Brasil. E-mail: ursulamclied@gmail.com
Sentidos da Folia de Reis: um estudo da memória e da identidade da celebração popular em Florínea/SP – GOULART (FH)
GOULART, Rafaela Sales. Sentidos da Folia de Reis: um estudo da memória e da identidade da celebração popular em Florínea/SP. São Paulo: Editora Alameda, 2018. 268p. Resenha de: FABRI, Aline. Folia de Reis em Florínea: manifestação popular, memória e patrimônio. Faces da História, Assis, v.6, n.1, p.483-489, jan./jun., 2019.
A partir da década de 1970, devido à efervescência da Nova História Cultural e da Micro-História, surgiram críticas à história das grandes narrações e do tratamento global à cultura. Os sujeitos presentes em todos os espaços, inclusive os marginalizados, passam a ser investigados e vistos por estas vertentes de pesquisa como contribuintes importantes à compreensão acerca da cultura e de diversos aspectos que estão envoltos a ela.
Dentro deste novo modo operante de se investigar a cultura e a história vem o livro Sentidos da Folia de Reis: um estudo da memória e da identidade da celebração popular em Florínea/SP, de autoria de Rafaela Sales Goulart, historiadora formada pela UENP (Universidade do Norte do Paraná), com especialização em História e Humanidades pela UEM (Universidade Estadual de Maringá), e mestrado em História pela UNESP (Universidade Estadual Paulista) câmpus de Assis.
O livro em questão é resultado da dissertação de mestrado da autora e foi publicado em 2018 pela editora Alameda/São Paulo. Possui 268 páginas, contendo introdução, três capítulos e conclusão. O prefácio foi feito pela orientadora de Goulart, a historiadora Fabiana Lopes da Cunha, que sucintamente escreve sobre o tema.
Sua estrutura está pautada em referencial teórico e historiográfico, com citações de pensadores relacionados ao assunto investigado. Alguns deles serão expostos mais adiante. Também usa fontes orais, colhidas de forma técnica, fotografias, além de trechos de músicas e declamações religiosas. Foram obtidos 21 relatos orais do grupo de foliões e 4 entrevistas com demais membros da cidade, como o pároco, por exemplo. Portanto, os documentos foram diversos: envolveram registros produzidos a partir dos foliões, documentos públicos da prefeitura e outros. Goulart fez uso de ideias de alguns autores que tratam de métodos de pesquisa em relação à história oral e à memória, como, por exemplo: Michael Pollak, Jacques Le Goff, Eduardo Romeiro de Oliveira e Verena Alberti.
No que diz respeito às narrativas orais e sua relação com a memória, Goulart apoiou-se em importantes autores. No entanto, ela poderia ter recorrido às indicações de Portelli (1996) quanto a esses métodos no trato e no cuidado para com os documentos. Isso teria reforçado ainda mais sua desenvoltura frente às fontes analisadas no presente trabalho. O autor nos ajuda a pensar que, ao fazer uso da história oral e das memórias, é preciso saber que elas “não nos oferecem um esquema de experiências comuns, mas sim um campo de possibilidades compartilhadas, reais ou imaginárias” (PORTELLI, 1996, p. 71). O cuidado para com as fontes orais e com as memórias é sempre imprescindível, e o aporte em Portelli (1996) seria uma sugestão para o incremento na construção de pesquisas nesse campo de estudos.
O assunto central da obra gira em torno da Festa de Reis, na cidade de Florínea/SP, que acontece há sessenta anos, e que teve reconfigurações de destaque, em 1993, e nos vinte anos seguintes, até 2013. O recorte temporal citado se destaca pela transferência da festa da zona rural para a área urbana. E, também, pela aquisição, com apoio da prefeitura, de um local fixo para a realização da festa bem como da criação da Associação Folclórica de Reis Flor do Vale de Florínea. Nos capítulos iniciais, a autora deixou o leitor a par, de forma descritiva e por meio de memórias, das principais características que constituem a Folia de Reis na cidade de Florínea. Em seguida, nos capítulos finais, ela trouxe à tona reflexões gerais acerca da consciência social construída sobre a Folia de Reis, da identidade formada pelos membros desse ritual e da Folia de Reis de Florínea vista como patrimônio imaterial.
No Capítulo 1, “A cidade da Folia de Reis: um giro pelas memórias e histórias de Florínea (SP)”, o foco é a história da cidade de Florínea construída por meio de relatos orais de moradores foliões da Companhia de Reis e por documentos da Prefeitura. Nesse processo, tem-se a identificação de proximidade da história de fundação da cidade com a história da constituição das duas Companhias de Reis ali formadas ao longo do tempo. Enquanto no Capítulo 2, A Folia de Reis de Florínea (SP) ritual, símbolos e significados, a autora retrata as a organização e as características específicas do festejo, trazendo detalhes sobre as diferentes funções dos membros das Companhias, explicações sobre os símbolos do festejo, da movimentação das Bandeiras e conteúdo das canções e versos entoados.
Valendo-se dos estudos de Jacques Le Goff e de Verena Alberti no que diz respeito a questões metodológicas, Goulart traz para a análise o papel do historiador frente aos documentos encontrados. Ela expõe, pautada nesses autores, que diante de documentos escritos, fotografias ou relatos orais, é preciso uma conduta de desmonte do que se tem em mãos para se conseguir analisar as suas condições de produção. Com essa postura, Goulart analisou as fontes ao longo de sua pesquisa de forma consciente e crítica, demonstrando sempre a preocupação com o explícito, mas além disso, com o implícito, no que tange à imagem que a comunidade de Florínea e os foliões têm de si mesmos ao longo da trajetória histórica das Companhias de Reis, suas vivências e realizações.
As reflexões sobre o assunto prosseguiram no Capítulo 3, Sentidos da Folia de Reis de Florínea (SP): memória, identidade e patrimônio (1993-2013). Neste capítulo, há uma análise sobre a possível formação de uma consciência social acerca da ideia de patrimônio em torno das mudanças ocorridas na festa. E, ainda, os sentidos dos rituais, aprendizagens sociais e estratégias de sustentação da memória coletiva tomadas pelos sujeitos envolvidos na condução do festejo.
A autora apoia-se nas ideias de Paulo Freire para discorrer uma análise sobre consciência social, crítica e histórica no tocante ao festejo estudado.
Goulart, dando continuidade às suas reflexões, analisa a transferência da festa para o Parque de Tradições, na cidade. Também discute os sentidos da criação da Associação Folclórica de Reis Flor do Vale de Florínea por foliões, em 2013, indicando que se trata de ações da comunidade florinense para com a continuidade da Folia de Reis. A partir destes dois atos, Goulart constrói sua análise acerca da possibilidade de existência de uma consciência coletiva dentre esses sujeitos, pois essas mudanças representam ações que aparentemente parecem ir nessa direção. A autora traz dados acerca dessa possível construção de consciência sobre o papel da Folia dentre os participantes do festejo. Verificamos isso em sua fala, por exemplo, sobre a Associação Folclórica de Reis Flor do Vale de Florínea quando ela afirma que tal entidade “[…] é recente e ainda depende de avanços no processo de consciência social dentro e fora do grupo, o que incide nas limitações das políticas culturais da cidade de Florínea.” (GOULART, 2018, p. 241).
Ao trabalhar com a questão da identidade do grupo pesquisado, Goulart se apoia nos estudos de Eric Hobsbawn e de Joseane P. M. Brandão. Ela discorre sobre a construção da identidade do grupo e usa de ideias desse primeiro autor para se referir à ideia de coesão social. Para isso reflete sobre o exemplo de figuras como o festeiro e o mestre que representam peso histórico de tradição forte: as bandeiras chegam a ser reconhecidas pelo nome de seus festeiros ou de seus mestres, e não pelo nome do fundador. No entanto ainda há uma reafirmação do nome daquele que seria o primeiro festeiro e fundador da festa (Sebastião Alves de Oliveira), o que reforça o peso de tradição da festa. Tais pontos de tradição, segunda ela, podem contribuir para a coesão social do grupo e de sua identidade.
Fazendo uso da citação de Joseane P. M. Brandão Goulart faz mais apontamentos sobre a formação da identidade do grupo: “[…] as identidades são sociais e os indivíduos se projetam nelas, ao mesmo tempo em que internalizam seus significados e valores, contribuindo assim para alinhar sentimentos subjetivos com as posições dos indivíduos na estrutura social” (BRANDÃO apud GOULART, 2018, p. 221). A Folia de Reis seria parte da identidade social de Florínea, tendo em vista que exerce representatividade dos sujeitos da cidade, que se veem como parte constituinte do festejo. Para o grupo, os rituais dessa festa popular possuem símbolos que lhes são significativos e dotados de valor e sentidos.
Quanto à ideia de patrimônio, Goulart a desenvolve tendo em vista sua imbricação com a formação da consciência e da identidade do grupo. Ela afirma que a Folia de Reis de Florínea é entendida como um patrimônio da cidade, porque representa uma identidade coletiva e suscita tentativas de conscientização do grupo sobre a […] a conscientização é um compromisso histórico. É também consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exige que os homens criem sua existência com um material que a vida lhe oferece. (FREIRE apud GOULART, 2018, p. 237).
continuidade do festejo. Cita, inclusive, a decretação da lei municipal de 2010 que coloca o dia 6 de janeiro (Dia de Santos Reis) como feriado municipal. O que seria mais uma tentativa de conscientização sobre o caráter de patrimônio da Folia de Reis de Florínea.
A autora discorre também sobre educação patrimonial e aprendizagens sociais. Para isso, recorre as ideias de Carlos R. Brandão e Sônia R. Florêncio. Ela cita a formulação da Coordenação de Educação Patrimonial (CEDUC) sobre o termo “Educação Patrimonial”, fazendo uso das palavras de Sônia R. Florêncio: […] todos os processos educativos formais e não formais que tem como foco o Patrimônio Cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera, ainda, que os processos educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diversas noções de Patrimônio Cultural. (FLORÊNCIO; et al, 2014, p. 19 apud GOULART, 2018, p. 237-238).
O ato de ensinar o outro sujeito a fazer declamações, danças ou demais aspectos da Folia de Reis faz parte de um processo de aprendizagem em Florínea, demonstra Goulart. A rigor, ela discorre sobre o assunto pautada em Carlos R. Brandão relatando que as comunidades detentoras dos patrimônios fazem fluir o saber, o ensinar e o aprender. E com o tempo transformam-se em representações sociais.
Conhecer o trabalho de Goulart com as fontes orais nos remete à categoria de “memória coletiva” desenvolvida por Halbwachs (1990). Embora ela não o tenha usado em sua pesquisa, esse sociólogo, que tem raízes no pensamento de Durkheim, nos traz conceitos, procedimentos e entendimento quanto ao trabalho com memórias. Ele nos alerta que o convívio social é determinante sobre a formação da memória. A lembrança de um indivíduo tem relação com lembranças coletivas dos grupos em que ele esteve ou está inserido. As memórias dos sujeitos da Folia de Reis de Florínea, transcritas por Goulart no livro, podem assim ser classificadas como coletivas. Elas têm pontos em comum, se entrecruzam, pertencem a grupos sociais presentes num mesmo espaço, que no caso é a cidade de Florínea e a área rural da região. Entretanto, a memória individual não pode ser ignorada. Ela é uma das lembranças que compõem a memória coletiva. O indivíduo exerce papéis tanto na memória individual, como na memória coletiva.
[…] a memória coletiva tira sua força e sua duração do fato de ter por suporte um conjunto de homens, não obstante eles são indivíduos que se lembram, enquanto membros do grupo. Dessa massa de lembranças comuns, e que se apoiam uma sobre a outra, não são as mesmas que aparecerão com mais intensidade para cada um deles. Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios. (HALBWACHS, 1990, p. 51).Ainda nessa perspectiva de análise sobre o caráter da memória, sua validade e uso, Goulart se baseia nas ideias de Bosi (1994) e afirma que “[…] memória é trabalho (BOSI, 1994) e de que lembranças são constructos sociais” (GOULART, 2018, p. 181). Ela nos leva a perceber que o mundo do trabalho está envolto à memória dos indivíduos e faz parte da construção de lembranças a serem contadas. Podemos recorrer à obra de Bosi (1994) para trazer mais alguns pontos sobre essa reflexão realizada por Goulart.
Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado, ‘tal como foi’, e que se daria no inconsciente de cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. (BOSI, 1994, p. 55).
Dessa forma, o historiador, ao trabalhar com fontes orais e memórias, precisa investigar as condições contextuais do grupo social onde os sujeitos depoentes estão inseridos e conjecturas atuais de interesse sobre o passado. Em Florínea, a maior parte dos depoimentos orais colhidos por Goulart são de indivíduos que hoje vivem no meio urbano. Ao se direcionarem as memórias sobre o passado, as atividades da Bandeira de Reis exercem um certo saudosismo por outra época: a vida no campo. Esse ponto merece ser tratado com cuidado, à luz de reflexões de estudiosos sobre os métodos de estudos sobre a memória.
Em relação aos sentidos da Folia para os envolvidos, Goulart criou reflexões que alcançam a ideia de identidade, consciência social e patrimônio. O grupo se vê nas práticas e símbolos do ritual e sente necessidade de dar continuidade ao festejo, o que contribui para lhe qualificar como patrimônio cultural imaterial.
Na conclusão do livro, a autora delineia um balanço final da pesquisa, com apontamentos voltados para a importância das construções sociais e da formação de consciência sobre um patrimônio cultural que, no caso das Companhias de Reis da cidade de Florínea, estão em formação.
Portanto, nesse estudo sobre a Folia de Reis em Florínea-SP emergem reflexões sobre identidade e memória, além de ser um trabalho que nos aproxima das análises referentes a fontes orais. O livro pode ser recomendado para estudantes que se interessem por assuntos envolvendo a problemática da memória e das identidades, que se inscrevem no campo da cultura popular e que se expressam nos festejos que envolvem religiosidade e fé que podem ser recuperados nos discursos memorialistas e fontes correlatas.
Referências
BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
GOULART, Rafaela Sales. Sentidos da Folia de Reis: um estudo da memória e da identidade da celebração popular em Florínea/SP. São Paulo: Alameda, 2018.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Laurent Léon Schaffter. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990.
PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e os fatos. Tempo, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, vol. l, n. 2, p. 59-72, 1996.
Aline Fabri – Licenciada em História, Unesp – Assis, São Paulo (SP). Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da UNESP, Assis, SP. Professora do Ensino Médio – Etec – Centro Paula Souza. E-mail: alinefabri1@yahoo.com.br.
[IF]Criminali del campo di concentramento di Bolzano – Di SANTE
DI SANTE, Costantino. Criminali del campo di concentramento di Bolzano. Bolzano: Raetia, 2019. 319p. Resenha de: SESSI, Frediano. Il Bollettino di Clio, n.11/12, p.201-203, giu./nov., 2019.
Il campo di concentramento di Bolzano, nel sobborgo di Gries, denominato ufficialmente Polizeilisches Durchgangslager (Campo di transito), istituito dapprima come campo di lavoro (15 maggio 1944) e successivamente come parte dei campi di smistamento italiani degli ebrei e dei prigionieri politici in Germania (probabilmente dai primi giorni di luglio del 1944), sorse lungo l’attuale via Resia, all’interno di un complesso di capannoni già adibiti a deposito dal Genio militare fin dal 1941. Di forma rettangolare, copriva un’area di circa 17.500 metri quadri, dei quali almeno 13.000 erano coperti da baracche. Circondato da un muro di cinta, venne messo in sicurezza anche con rotoli di filo spinato, atti a impedire eventuali fughe. In ciascuno dei quattro angoli, vennero poste delle torrette di guardia, in legno, all’interno delle quali stazionava in permanenza una guardia SS, munita di mitragliatrice.
La guarnigione SS era composta da uomini di diversa nazionalità arruolati nel corpo: sud-tirolesi, italiani, ucraini e tedeschi. Tra le baracche, un’area piuttosto ampia era riservata ai laboratori: falegnameria, sartoria, tipografia e officina meccanica. Oggi si calcola che i deportati nel Lager di Bolzano siano stati circa 11.000, dei quali, fino a 3.500 furono rilasciati il 3 maggio 1945, giorno della chiusura del campo.
I prigionieri erano costituiti da ebrei e politici, uomini e donne, provenienti a partire dall’estate del 1944, dal campo di Fossoli e dalle carceri maggiori dell’Italia del Nord.
Varcata la soglia del Lager, il prigioniero veniva registrato e classificato, come negli altri campi di concentramento tedeschi, con un numero di serie e un triangolo colorato che indicava lo statuto razziale e sociale del detenuto: politico, asociale ecc. Alcune testimonianze raccontano che per gli ebrei e gli zingari (prigionieri razziali) esisteva una serie di numeri a parte, per questo, ancora oggi risulta difficile ipotizzare quanti fossero i detenuti non politici. La stima più credibile è che non abbiano superato il 10% di tutti i deportati. Quanto alle donne, si calcola che non fossero più di 1.200, mentre i bambini che occupavano gli stessi locali baracca delle donne non erano più di venticinque. Tra le donne, numerose partigiane ma anche famigliari di politici ostaggio delle SS, per costringere i partigiani a consegnarsi. Nell’ottobre del 1944, nonostante la guerra per la Germania sia ormai perduta, il campo subisce degli ampliamenti in vista di un aumento del numero degli internati.
La storia del Lager di Bolzano, così brevemente sintetizzata, che viene ricostruita con precisione di particolari nelle prime 143 pagine del nuovo libro di Costantino di Sante, in apparenza sembra simile a quella di altri campi di transito sparsi nell’Europa occupata.
L’autore la arricchisce di documenti, carte geografiche che spiegano i transiti dei prigionieri deportati verso altri Lager, fotografie e storie individuali di prigionieri, la cui testimonianza rende consapevole il lettore della tragedia rappresentata dalla vita quotidiana in questo «piccolo Lager», in una parte d’Italia incorporata al Reich; vita quotidiana assai poco raccontata dai libri di storia italiana, che raccontano qualcosa del Lager, come se la sua breve durata e il suo essere prevalentemente un luogo di transito, fossero sufficienti a trattare con leggerezza questa parentesi violenta dell’occupazione tedesca e del sostegno alla Germania da parte della neonata Repubblica sociale.
La ricerca di Costantino di Sante, abituato a scoprire negli archivi documenti e storie dimenticati dell’Italia e degli italiani nel corso della Seconda guerra mondiale, ha ridato al Lager di Bolzano il posto che gli spetta nella storia e nella memoria nazionali. A contribuire al suo parziale oblio nella memoria collettiva, lo smantellamento del sito e le poche tracce di quella caserma-prigione hanno giocato un ruolo importante. Ma, prima del lavoro di Costantino di Sante sono stati pochi i saggi storici, e i libri di memorialistica che ne hanno reso possibile lo studio e la conoscenza.
La parte più rilevante del libro è costituita dalla ricostruzione meticolosa e documentata delle biografie e spesso delle azioni dei maggiori responsabili del Lager: gli aguzzini, i carnefici. A cominciare da Rudolf Thyrolf, vicecomandante della polizia di sicurezza tedesca, per proseguire con August Schiffer, direttore della Gestapo e tra gli altri Karl Titho, sottotenente SS e comandante del Lager, Hans Haage, responsabile della disciplina, Joseph König, maresciallo SS e responsabile delle squadre di lavoro. I nomi e le vite ricostruite sono molti di più e per ciascuno di loro, per la prima, volta viene raccontata la carriera militare e politica e i comportamenti in Lager, con fotografie, lettere, testimonianze che fanno entrare il lettore nella loro vita sociale e familiare.
Ne emerge, come è accaduto per il campo di Auschwitz, dopo la scoperta dell’Album fotografico di Karl Friedrich Höcker, un racconto grottesco di uomini e donne che mentre torturano, scherniscono e affamano centinaia di detenuti, vivono momenti di serenità con le loro donne e le loro famiglie, o tra commilitoni.
Il capitolo terzo, «Il tempo libero dei carnefici» è allora centrale alla comprensione della moralità dei nazisti e delle trovate psicologiche utili al sostegno del loro lavoro di assassini: anche così e non solo con il supporto dell’ideologia, i nazisti si convincevano che gli ordini che erano chiamati a eseguire non erano da considerarsi criminali, ma una necessità della storia Europea, per la costruzione di un «nuovo ordine europeo». Si capisce assai bene, leggendo queste pagine, come la nuova e vera moralità tedesca fosse nella «legge del sangue», garanzia di tutela del popolo ariano e conforto di verità contro gli inetti, i razzialmente impuri, gli oppositori: tutti esseri inferiori per i quali il diritto alla vita, nella nuova Europa, non era tutelabile e tollerabile, se non nella condizioni di schiavi del lavoro.
Straordinario il ritrovamento di documenti e di molto materiale a stampa, interpretato e organizzato da Costantino di Sante nelle pagine del libro e reso pubblico per la prima volta.
Un saggio storico, dunque, ricco di nuove scoperte d’archivio, sostenute da un racconto di fatti, di uomini e donne che, in questa storia, hanno vissuto nel bene o nel male (dalla parte giusta o dalla parte sbagliata) da protagonisti.
Un saggio da inserire nei programmi di storia contemporanea nei corsi universitari e nei laboratori delle scuole superiori, e non solo per non dimenticare.
Dal racconto delle vite dei carnefici emerge un monito: i peggiori torturatori erano uomini che avevano storie comuni a quelle di tanti altri e che a causa di un’ideologia totalitaria e razziale si sono trasformati in esecutori dei crimini più efferati del nostro recente passato, cancellando in loro ogni residuo di umanità e dignità.
La strada che hanno percorso per arrivare a compiere un simile Male radicale, sappiamo, che non è ancora chiusa.
Frediano Sessi
[IF]História, memória e violência de Estado: tempo e justiça | Berber Bevernage
“Por que é tão difícil entender o passado assombroso e irrevogável na perspectiva da historiografia acadêmica e do pensamento histórico moderno ocidental em geral?” A pergunta que guia História, Memória e Violência de Estado: tempo e justiça, de Berber Bevernage (2018), pressupõe a angústia da incompletude e do inacabamento (MBEMBE, 2014), da indeterminação e instabilidade do objeto “tempo presente” (DELACROIX, 2018). O autor nos oferece um mergulho na história da crítica à noção de tempo construída pela modernidade para mostrar toda a sua potência e enraizamento enquanto engenhosa forma de “não ver” certos mundos, grandemente incorporada pela disciplina histórica. Por entre as brechas desse olhar pretensamente universal, América Latina e África emergem como que alçadas à categoria de experiências (i)morais – porque marcadas pela violência e injustiça –, da luta política que marca o século XXI periférico: o direito ao tempo.
Entre as referências mais conhecidas pelo universo acadêmico brasileiro dedicado à História do Tempo Presente e que constituem a base da argumentação de Tempo e Justiça estão o crítico literário alemão Hans Gumbrecht e o historiador francês François Hartog. Por caminhos diferentes, ambos chamam atenção para o crescimento ao longo do século XX de uma nova sensibilidade temporal marcada por uma assimétrica concentração na esfera de um presente repleto de simultaneidades (GUMBRECHT, 2014), demarcando a emergência de um novo “regime de historicidade” chamado presentista (HARTOG, 2013). No interior dessa discussão, o livro apresenta os anos de 1980 como período de evidência dos embates entre formas distintas de experienciar o tempo (com suas diferentes articulações entre passado, presente e futuro), expressas pelo desaparecimento da linguagem do esquecimento e da anistia do vocabulário político global. Leia Mais
O palácio da memória – DIMEO (Topoi)
DiMEO, Nate. O palácio da memória. Galindo, Caetano W.. 1. edição. São Paulo: Todavia, 2017. 256 pp. Resenha de: SANTOS. O palácio da memória, ou: da arte de contar histórias. Topoi v.20 n.41 Rio de Janeiro May/Aug. 2019.
O palácio da memória, de Nate DiMeo (Todavia, 2017), pode ser descrito como uma obra de caráter transdisciplinar, no âmbito acadêmico-escolar – como leitura obrigatória em aulas relacionadas à História e/ou ao Ensino de História, bem como à escrita ou processos de escrita, tanto no ensino superior como na educação básica – e para além dele – como uma leitura não obrigatória, selecionada sem uma finalidade pedagógica específica.
O fato de se enquadrar de modo peculiar nesses dois espaços formativos que muitas vezes parecem tão distantes um do outro (o acadêmico-escolar, com suas normas e saberes sistematizados, e o do cotidiano, que não estabelece uma rotina tão rígida e apresenta outra relação com os saberes, na sua transmissão e recepção) possibilita ao livro de DiMeo algo que poucas obras conseguem: articular o saber histórico formal com o saber histórico do dia a dia.
Seja para amantes da História ou de histórias, O palácio da memória traz registros históricos contundentes, utilizando uma narrativa autoral que faz da leitura uma experiência no mínimo singular e recomendável.
Nate DiMeo, natural de Providence, em Rhode Island, nos Estados Unidos, é um ex-músico que trabalhou como repórter de rádio por mais de dez décadas, segundo relata Fernanda Ezabella (2017), que realizou uma entrevista com o autor antes de a obra chegar às livrarias brasileiras.1 Nessa entrevista ele explica seu interesse por temas relacionados ao século XIX, ou, mais especificamente, aos anos entre 1880 e 1920, período em que “a vida moderna estava sendo inventada”, como afirma.
É diante do excesso de informação de nossa cultura contemporânea – descrito desde a primeira metade do século passado por Walter Benjamin,2 salientado por Ítalo Calvino3 na metade da década de 1980 e também por Georges Balandier4 no final daquela época – que DiMeo encontra seus personagens e constrói (ou tenta reconstruir, a partir da perspectiva histórica) suas histórias. Diante desse excesso algo sempre surge lhe chamando a atenção, fazendo-o voltar posteriormente para checar a veracidade e pesquisar em museus e arquivos de jornais, para em seguida pensar sobre a forma de contar mais uma de suas histórias.
O que impressiona em seu trabalho, realizado desde 2008, quando estreou o podcast “The Memory Palace”,5 é a sua capacidade de contar histórias e de demonstrar suas potencialidades, bem como a força dessa prática por vezes tão esquecida em nossa era digital-informativa, em que muitas vezes a multiplicidade midiática retira nosso tempo de reflexão sobre determinado conteúdo, nos privando da “riqueza de significados possíveis”, como expressou Ítalo Calvino, pois a superabundância de imagens e de informações muitas vezes “se dissolve imediatamente como os sonhos que não deixam traços na memória”.6
Mas é da adversidade que conseguimos enxergar e criar alternativas, como analisa Marcelo Yuka.7 Nesse sentido, Nate utiliza desse excesso de informação para pegar aquilo que lhe toca e trabalhar em cima do que foi selecionado com a prudência e o cuidado de um historiador de ofício, dando o seu devido tempo e atenção. Desse modo, ele consegue deixar muitos traços das memórias que narra em nossas mentes-corpos – uma vez que estes são elementos indissociáveis de nossa percepção sensorial do mundo -, nos atingindo física e emocionalmente diante de seus relatos.
Se Georges Balandier (1999) ressaltava sobre o processo de banalização e de sobrecarga do imaginário social por meio da constante repetição de imagens e informações sem uma orientação crítica de seus usos, temos em O palácio da memória uma experiência muito diferente. Experiência, a propósito do ato de narrar, de contar histórias surpreendentes, que Walter Benjamim afirmava, em 1936, ser uma arte em vias de extinção.8 Segundo o filósofo alemão:
São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. É cada vez mais frequente que, quando o desejo de ouvir uma história é manifestado, o embaraço se generalize. É como se estivéssemos sendo privados de uma faculdade que nos parecia totalmente segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências.9
Essa crise no ato de contar histórias, de intercambiar experiências significativas, é justificada por Benjamin ao afirmar que os fatos reportados em sua época, vindos de todas as partes do mundo, não favoreciam a narrativa – a experiência da narrativa -, pois vinham impregnados de explicações sem a necessidade da escuta atenta e sensível, do processo de efetuar relações e de refletir sobre o ocorrido; em contrapartida, isso favorecia o excesso de informação, que ainda hoje é um dos temas mais abordados por pesquisadores em diferentes áreas e campos do saber, como História, Educação, Sociologia, Comunicação, Mídia, Filosofia, Cinema, entre outros.
E por que a leitura de O palácio da memória é uma experiência narrativa diferenciada? Justamente porque Nate DiMeo consegue manifestar nosso desejo de ler/ouvir histórias, servindo como antídoto a todo o excedente informativo que permeia nossos dispositivos móveis e nossas vidas. Não obstante, ele demonstra que a História, deveras considerada um peso sem significado aparente na vida de muitos jovens estudantes, pode sim ser mais atrativa e carregada dos mais diversos significados.
Este é outro grande mérito desse artista estadunidense, de nos instigar -professores/formadores da educação básica ou do ensino superior – a rever nossos métodos e nossas próprias práticas pedagógicas, a ponto de podermos utilizar O palácio da memória em nossas aulas como um ponto de partida, um meio para elaborar novas possibilidades de ensino, de envolver nossos alunos com os conteúdos curriculares prescritos institucionalmente.
Não há outro meio de se conhecer mais a História e seus acontecimentos se não mergulhando naquilo que ela tem a nos oferecer. DiMeo faz isso, ele mergulha nas histórias que nos conta de modo a se aproximar das práticas relativas aos historiadores que atuam no campo da História Oral, contribuindo nesse terreno do “estudo da subjetividade e das representações do passado tomados como dados objetivos, capazes de incidir (de agir, portanto), sobre a realidade e sobre nosso entendimento do passado”, como sintetiza Verena Alberti10 a respeito dessa metodologia e abordagem historiográfica.
Essa aproximação com a História Oral está presente ao longo de toda obra, quando Nate toma como protagonistas de muitas de suas histórias sujeitos/personagens “comuns”, de “carne e osso” como todos nós, que não fazem parte daquela História seletiva e oficial – ou por muito tempo oficializada – que costumamos aprender nos bancos escolares, mas que, de acordo com Lucília Delgado,11 “anônima ou publicamente deixam sua marca, visível ou invisível, no tempo em que vivem, no cotidiano de seus paí ses e também na história da humanidade”.
Há também algumas grandes figuras conhecidas da História, sobretudo da história estadunidense, onde se passam as narrativas; mas nem por isso perdem seu valor, pois, quando contextualizados com a história social e coletiva da humanidade, conseguimos identificar sua importância e até mesmo relacionar a equivalentes de nossa própria esfera sociocultural.
Alguns desses nomes são de indivíduos que se consagraram em seus respectivos campos de atuação. Todavia, não se busca enaltecer e divinizar, nem tampouco condenar e demonizar tais sujeitos. Suas histórias são transcritas a partir de um contexto histórico-cultural maior, no qual o que importa, no fim das contas, não é reconhecer aqueles considerados e tratados como protagonistas, e sim ter consciência de que a história contada, por si só, teve (e, de certa maneira, continua tendo) uma relevância suficientemente expressiva em determinado tempo e espaço onde elas aconteceram – na verdade para além disso, uma vez que muitas delas cruzaram oceanos e continentes, inscrevendo-se na narrativa da história humana.
O palácio da memória está estruturado em 50 breves narrativas que abordam desde as desventuras de Samuel Finley Breese Morse – que, após perder a esposa e sequer conseguir estar presente ao seu funeral, “passou os quarenta e cinco anos seguintes inventando o telégrafo. […] E desenvolvendo o código Morse” (Distância, p. 9-10), na tentativa de que mais ninguém passasse por aquilo que ele viveu -, ao dia em que muitos nova-iorquinos quase enlouqueceram quando em uma manhã de novembro de 1874 uma alarmante notícia – inventada e publicada pelo jornal New York Herald – trouxe à tona muitos “monstros imaginários”, dando uma lição “que vale a pena recordar de vez em quando” (Enlouquecidos, p. 245-248), sobretudo diante de uma época em que as fake news estão ganhando cada vez mais destaque.
Entre as duas histórias, há muitas outras que emocionam, que chocam, que nos atingem de modo peculiar, nos fazendo pensar sobre o ocorrido ou sobre situações semelhantes que aconteceram também em tempos remotos e em outros lugares, distintos daquele que DiMeo descreve, ou que aconteceram recentemente; ou que acontecem ainda hoje, perto de nós, às vezes conosco, nessa sociedade em que muitos governos gostam de se autoproclamar democráticos, ainda que a democracia seja conhecida por poucos e distante de muitos.
Dentre alguns desses casos, que podem se relacionar de uma forma ou de outra, podemos trazer como exemplo o caso dos meninos de 9 anos que morriam simplesmente por serem crianças e por efetuarem um trabalho perigoso demais (Nipper, p. 17-18). De Minik Wallace, um inuíte de 7 anos de idade que vivia em um pequeno vilarejo na Groenlândia e viu o pai e outros conterrâneos morrerem quando saíram pela primeira vez de seu lugar de origem, convencidos por homens brancos a partirem para a cidade de Nova York, onde foram apresentados como artefatos e atração exótica, e que seriam estudados por cientistas do Museu de História Natural. Após a morte do pai, ele quis realizar um enterro conforme as tradições de sua cultura, descobrindo anos depois que fizera uma cerimônia sagrada inuíte para um saco de pedras, pois o corpo do pai havia sido mantido no museu, onde cientistas o dissecaram, fizeram estudos com o cérebro e deixaram os ossos em exposição (Algumas palavras para os responsáveis, p. 44-47). Das cobaias utilizadas durante o período da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (Cobaias, p. 103-105). De James Powell e sua mãe, bem como de Odessa Bradford, de Perfecto Bandalan, de Eugene Williams, de Robert Bandy e de outros afro-americanos ou imigrantes esquecidos (Esquecemos, p. 120-122). Da coragem de amar de Charlie Zulu e Anita Corsini (Zulu Charlie Romeu, p. 150-155). Da trágica história de Lucy Bakewell (Um pintor na paisagem, p. 173-181). Do filhote de leão capturado no deserto da Núbia para ser transformado numa das mais conhecidas imagens do cinema – ainda que a imagem não descreva as situações pelas quais ele teve que passar (Vulgo: Leo, p. 198-202). Do simbolismo para a comunidade LGBT do White Horse, o mais antigo bar gay dos Estados Unidos (Um cavalo branco, p. 206-210). Das 77 pessoas que se tornaram mais de 8 mil, numa jornada de 500 quilômetros, na busca dos trabalhadores do campo pelo direito de se organizarem em sindicatos para que pudessem exigir dignidade humana (Peregrinar, p. 233-237). Entre tantas outras…
São histórias inspiradoras que nos levam a rever o momento presente por outra perspectiva, a repensar certos conceitos e a valorizar as potencialidades contidas nas ações humanas, sejam elas realizadas por grandes nomes ou por desconhecidos/as, pessoas que se inscrevem na e escrevem a História, tanto quanto aqueles a quem os livros oficiais mais costumam demarcar como os nomes a serem lembrados (ou, como muitas vezes acontece, decorados) para a realização de uma prova, para a escrita de uma redação ou para a encenação de uma peça teatral escolar.
Nesse contexto, O palácio da memória insere-se como uma importante e necessária ferramenta educativa, ao desmistificar acontecimentos históricos e ao contribuir, no âmbito historiográfico, a dar “inteligibilidade ao vivido e ao narrado”, como destaca Carla Rodeghero.12
O principal ponto de ligação do trabalho de Nate DiMeo com a História Oral se dá por ele trabalhar com memórias, o que Alessandro Portelli13 destaca – neste trabalho entre a História Oral e a Memória – como um “campo de possibilidades compartilhadas, reais ou imaginárias” (1996, p. 72), ajudando-nos a compreender cada fragmento (cada pessoa, cada ação) desse mosaico que compõe a sociedade humana.
“Dizem que a memória pode ser um parque de diversões estranho e tortuoso, cheio de viagens em montanha-russa e salas de espelhos deformadores”, recorda o cineasta Michael Moore.14 Nesse parque de diversões que ilustra a memória, a força narrativa presente nos casos que DiMeo menciona nos prende na leitura do livro (ou na audição dos podcasts) de modo bastante satisfatório; como se ganhássemos as entradas para uma diversão previamente garantida – diversão que não se traduz somente em entretenimento, mas que faz pensar para além do habitual, promovendo reflexão.
Destarte, esse é o tipo de obra que eu recomendaria para os historiadores de ofício, profissionais, acadêmicos e para aqueles que não são, porém apreciam uma boa narrativa literária e gostam de ler/ouvir histórias. “Tudo que dizemos tem um ‘antes’ e um ‘depois’ – uma ‘margem’ na qual outras pessoas podem escrever”, acentuou Stuart Hall.15 Essa margem é onde Nate se ancora, utilizando-a com esmero.
Gostaria de finalizar este texto destacando duas questões: primeiro, parabenizar a editora Todavia pela publicação. Olhando em perspectiva, do ponto de vista qualitativo e deixando de lado os dados referentes ao número de exemplares vendidos – que no mercado editorial muitas vezes equivale a dizer se a obra foi ou está sendo um sucesso ou um fracasso -, posso afirmar que essa foi uma aposta significativa, pois permite que diferentes indivíduos (historiadores em formação, profissionais e leigos da área) reconheçam o valor contido nas histórias e no ato de narrar, na experiência que ela possibilita, naquele que talvez seja, como descreve Caetano W. Galindo ao final do livro, “o maior de todos os mecanismos de geração de empatia, de interesse, de comunidade e compaixão. Histórias. Narrativas” (p. 252).
Em segundo lugar, e não menos importante, convém destacar o trabalho de Caetano W. Galindo, responsável por traduzir a obra direto do áudio e apresentar o trabalho aos editores da Todavia. Até o momento, ela está em sua primeira edição impressa em nível mundial – nem em seu país de origem ela foi publicada, pois segundo DiMeo, na entrevista a Fernanda Ezabella mencionada no início do texto, os editores que lhe procuram têm interesse em um livro temático, enquanto ele prefere o formato curto de suas histórias, como faz em seu podcast.
Nate DiMeo, esse colecionador de memórias,16 vai encontrando novos fatos e personagens históricos para continuar compondo seu palácio da memória, compartilhando conosco os feitos de pessoas extraordinárias em tempos conturbados. Até o momento, o último podcast, o do episódio 144, foi publicado no dia 21 de junho de 2019. Se considerarmos que Nate continua realizando seu trabalho e que a edição da obra impressa reúne 50 de suas histórias, ainda há um bom número de casos a serem trabalhados e, quem sabe, publicados em edições futuras. Que as portas do palácio se mantenham abertas para nós!
1 EZABELLA, Fernanda. Ex-repórter de rádio, Nate Dimeo cria podcast que vai virar livro no Brasil. Folha, Los Angeles, 30 de julho de 2017. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/serafina/2017/08/1904465-ex-reporter-de-radio-nate-dimeo-cria-podcast-que-vai-virar-livro-no-brasil.shtml. Acesso em: abril 2018.
2 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 2012. (Obras Escolhidas, v. 1)
3 CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio: lições americanas. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
4 BALANDIER, Georges. O dédalo: para finalizar o século XX. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
5Que pode ser conferido em: http://thememorypalace.us/.
6 CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio: lições americanas. op. cit. p. 73.
7 YUKA, Marcelo. Sua relação especial com o corpo. TEDxSudeste, 30 out. 2010. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WLlN_Xf4CFk. Acesso em: abril 2018.
8É importante situar que o contexto histórico em que Benjamin escreve sobre experiência é o do perío do entre guerras (Primeira e Segunda Guerra Mundial), quando os soldados voltavam dos campos de batalhas sem conseguir narrar sobre o que acontecera, afetando-os de modo permanente.
9 BENJAMIN, Walter, Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura, op. cit., p. 213.
10 ALBERTI, Verena. O lugar da história oral: o fascínio do vivido e as possibilidades de pesquisa. In: ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos em história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. p. 13-43. p. 10.
11 DELGADO, Lucília de Almeida Neves. Memória e história: multiplicidade e singularidade na construção do documento oral. Cadernos CERU, série 2, n. 12, p. 23-30, 2001. p. 24. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/ceru/article/view/75083/78649. Acesso em: março 2018.
12 RODEGHERO, Carla Simone. História oral e história recente do Brasil: desafios para a pesquisa e para o ensino. In: RODEGHERO, Carla Simone; GRINBERG, Lúcia; FROTSCHER, Méri (Orgs.). História oral e práticas educacionais. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2016. p. 61-84. p. 80.
13 PORTELLI, Alessandro. A filosofia e os fatos. Narração, interpretação e significado nas memórias e nas fontes orais. Tempo, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 59-72, 1996.
14 MOORE, Michael. Adoro problemas: histórias da minha vida. São Paulo: Lua de Papel, 2011.
15 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. p. 41.
16Como a revista Piauí o retratou na edição 129, de junho de 2017, na seção Vozes da América.
Referências
ALBERTI, Verena. O lugar da história oral: o fascínio do vivido e as possibilidades de pesquisa. In: ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos em história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. p. 13-43. [ Links ]
BALANDIER, Georges. O dédalo: para finalizar o século XX. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. [ Links ]
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 2012. (Obras Escolhidas, v. 1) [ Links ]
CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio: lições americanas. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. [ Links ]
DELGADO, Lucília de Almeida Neves. Memória e história: multiplicidade e singularidade na construção do documento oral. Cadernos CERU, série 2, n. 12, p. 23-30, 2001. p. 24. Disponível em: Disponível em: https://www.revistas.usp.br/ceru/article/view/75083/78649 . Acesso em: março 2018. [ Links ]
DIMEO, Nate. O palácio da memória. Tradução de Caetano W. Galindo. 1. edição. São Paulo: Todavia, 2017. 256 p. [ Links ]
EZABELLA, Fernanda. Ex-repórter de rádio, Nate Dimeo cria podcast que vai virar livro no Brasil. Folha, Los Angeles, 30 de julho de 2017. Disponível em: Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/serafina/2017/08/1904465-exreporter-de-radio-nate-dimeo-cria-podcastque-vai-virar-livro-no-brasil.shtml . Acesso em: abril 2018. [ Links ]
HALL, Stuart. A identidade cultural na pósmodernidade. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. [ Links ]
MOORE, Michael. Adoro problemas: histórias da minha vida. São Paulo: Lua de Papel, 2011. [ Links ]
PORTELLI, Alessandro. A filosofia e os fatos. Narração, interpretação e significado nas memórias e nas fontes orais. Tempo, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 59-72, 1996. [ Links ]
RODEGHERO, Carla Simone. História oral e história recente do Brasil: desafios para a pesquisa e para o ensino. In: RODEGHERO, Carla Simone; GRINBERG, Lúcia; FROTSCHER, Méri (Orgs.). História oral e práticas educacionais. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2016. p. 61-84. p. 80. [ Links ]
YUKA, Marcelo. Sua relação especial com o corpo. TEDxSudeste, 30 out. 2010. Disponível em: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WLlN_Xf4CFk . Acesso em: abril 2018. [ Links ]
José Douglas Alves dos Santos – Doutorando da Universidade Federal de Santa Catarina/Centro de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Florianópolis/SC – Brasil. E-mail: jdneo@hotmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7263-4657.
Democracia, ditadura: memória e justiça política – REZOLA; PIMENTEL (RTA)
REZOLA, Maria Inácia; PIMENTEL, Irene Flunser (Orgs). Democracia, ditadura: memória e justiça política. Lisboa: ed. Tinta da China, 2013. 520 p. Resenha de: NEVES, Hudson Campos; NUNES, Carlos Alberto Lourenço. Justiça política e memória: redemocratização na esfera lusófona. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.11, n.26, p.623-629, jan./abr., 2019.
A coletânea “Democracia, Ditadura: memória e justiça política” reúne trabalhos de pesquisadores que participaram do Colóquio Internacional “Legados do autoritarismo em Portugal em perspectiva comparada”, ocorrido na cidade portuguesa de Lisboa, em abril de 2012. O livro foi coordenado pelas pesquisadoras Irene Flunser Pimentel e Maria Inácia Rezola. As organizadoras observam a construção de uma justiça transicional ou de transição que significa “a concepção de justiça associada a períodos de mudança política, caracterizada por respostas legais para confrontar os crimes de repressão de anteriores regimes” (p. 9). As autoras avançam na questão:
As violações básicas dos direitos humanos não podem ser actos legitimados do Estado e têm de ser vistas como actos cometidos por indivíduos; quem comete este tipo de crimes deve ser perseguido criminalmente; e, finalmente, os acusados também têm direitos e merecem um julgamento justo. (p. 9-10) Está situada aí a diferença entre um julgamento no âmbito dos Direitos Humanos e do que seria um julgamento político. A importância dos Direitos Humanos tem sido reafirmada em diferentes ocasiões ao longo do século XX, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, passando pela criação do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, de 1953, e pela American Convention of Human Rights, de 1978. Um dos fenômenos característicos dos anos 1980 foi a criação de Comissões da Verdade, como por exemplo, na África do Sul, Chile, Argentina, bem como na Europa do leste, procurando responsabilizar os agentes da violência de Estado. Há também a criação de tribunais nacionais, regionais ou internacionais voltados para essas questões como os tribunais organizados na ex-Iugoslávia, em 1993, e em Ruanda, em 1994, bem como o Tribunal Internacional e alguns tribunais híbridos, como o de Kosovo, de 1999, o do Timor Leste, em 2000, além de Serra Leoa e Camboja, ambos de 2003.
A obra está dividida em seis partes, que abordam aspectos ligados aos processos de transição democrática em Portugal e também no Brasil. Na primeira parte, a ênfase é dada ao caso brasileiro. Intitulada de “História da democratização e amnistia no Brasil”, é composta por quatro capítulos, com abordagens de diferentes disciplinas como História, Sociologia e Direito. Maria Celina D’Araújo analisa a questão da anistia no contexto do Cone Sul do continente americano. Por sua vez, Janaína de Almeida Teles estuda o papel dos familiares dos mortos e desaparecidos ao longo da transição democrática. O questionamento sobre até que ponto a Lei de Anistia se constitui em obstáculo para a transição brasileira nos dias atuais é feito por Lauro Swensson Jr. Por fim, Gilberto Calil faz uma releitura a respeito do processo de democratização ocorrido em 1945, salientando a pressão de diferentes organizações e movimentos populares na tomada de decisão do governo Vargas em entrar na luta contra o fascismo, ao lado dos aliados, na Segunda Guerra Mundial.
Intitulada “Justiça política de transição e revolução em Portugal”, a segunda parte traz como destaque no conjunto da obra o capítulo escrito por Irene Flunser Pimentel, “A extinção da polícia política do regime ditatorial português, PIDE/DGS”. No texto, a autora descreve a forma como o Movimento das Forças Armadas (MFA), após a chamada Revolução dos Cravos, em abril de 1974, que derrubou o regime salazarista em Portugal, lidou com a Polícia Internacional de Defesa do Estado/Direção-Geral de Segurança (PIDE/DGS), tanto na metrópole quanto nas colônias do ultramar. Num primeiro momento, algumas frações do MFA cogitaram reaproveitar membros da PIDE no novo governo. Havia pressões internas para que isso ocorresse, o que foi obstado pela mobilização popular. A população pressionou a Junta de Salvação Nacional instalada no poder na sequência da revolução, impedindo a aceitação de membros da PIDE na montagem da nova estrutura governamental portuguesa, além de demandar a punição dos agentes acusados de diferentes atos de violência e repressão durante a ditadura salazarista. Sobre este aspecto, também na segunda parte da obra, o capítulo escrito por Fernando Pereira Marques analisa como o novo poder estabelecido após abril de 1974 se posicionou com relação aos cidadãos que sofreram com a repressão perpetrada pelo Estado Novo e Miguel Cardina, por sua vez, analisa a Associação de Ex-Presos Políticos Antifascistas (AEPPA) e sua luta pelo direito à memória. Já João Madeira estuda a experiência do Tribunal Cívico Humberto Delgado em seu curto período de existência (1977-78).
Ao longo desse processo, que se desdobrou na segunda metade dos anos de 1970, houve avanços e retrocessos. Cabe destacar uma virada à esquerda, ocorrida no MFA, a partir de 11 de março de 1975. Houve uma radicalização para criminalizar a PIDE e seus integrantes. No período que se estendeu até outubro daquele ano, um grande número de processos contra os agentes da polícia política foi apontado por Irene Pimentel. Outra virada no âmbito do MFA ocorreu a partir de 25 de outubro de 1975, quando houve um afrouxamento das ações contra antigos membros da PIDE e “muitos viriam depois a ser absolvidos ou apenas condenados à prisão preventiva já cumprida, sendo libertados de imediato”. No fim das contas, a maioria sofreu condenações com “tempo de prisão já cumprido: em 1982, 98 por cento dos presos já estavam em regime de liberdade plena” (p. 122-126).
Na terceira parte, “As purgas políticas no Portugal revolucionário”, o texto de uma das organizadoras da coletânea, Maria Inácia Rezola, destaca-se pela rica base documental e por apresentar elementos que, como se faz depreender, relativizam uma visão compartilhada por uma parcela expressiva da sociedade portuguesa na qual está presente um ceticismo acerca das reais condições em que se realizaram os afastamentos e punições de membros do regime autoritário na sequência do 25 de abril de 1974. Esse tema também é alvo do capítulo escrito por Pedro Serra, que se debruça especificamente nos assim chamados saneamentos políticos ocorridos na educação. Já Pedro Marques Gomes analisa o processo que deu origem ao afastamento de jornalistas, com destaque para os conflitos internos no “Diário de Notícias”, jornal de grande circulação no país, durante o chamado “verão quente” de 1975, quando aquele órgão tinha dirigentes próximos ao Partido Comunista Português, entre os quais, José Saramago.
Rezola aponta que as chamadas purgas políticas – operacionalizadas no âmbito de um organismo oficial denominado Comissão Interministerial de Saneamento e Reclassificação (CISR) – teriam sido, no olhar de tendências críticas da opinião pública de Portugal, limitadas e temporariamente circunscritas, de forma que seus efeitos pouco teriam contribuído à aplicação da justiça aos colaboradores da ditadura. Segundo a autora, esse descontentamento localiza-se nos poucos resultados concretos apresentados pela CISR, ou seja, dos processos instaurados contra funcionários da ditatura, apenas 2% resultaram em condenações e perdas de cargos públicos. Mas cabe atentar para elementos que são trazidos à tona por Maria Inácia Rezola e que ressaltam a complexidade da matéria. Muitos juízes que haviam colaborado de forma direta ou indireta com a ditadura, tornaram-se alvos das ações da CISR. Essa situação certamente gerou um impasse, afinal, levar a ferro e a fogo as reclassificações e afastamentos levaria à paralisação de diferentes setores do Estado, sobretudo no âmbito do judiciário. Além disso, houve uma série de ações que resultaram na demissão automática de funcionários de extintas agências governamentais, o que ao todo chegou a mais de 12 mil exclusões, mas que não chegaram a ser computadas como parte do processo de saneamento. O texto ainda avança sobre questões que costumam fazer parte de processos de transição, como disputas internas e ambiguidades políticas ao longo da implementação de um regime democrático, dificultando as ações punitivas e reparatórias.
O capítulo “Os dividendos do autoritarismo colonial”, de Augusto Nascimento, abre a quarta parte da coletânea, dedicada ao “legado colonial”. O autor centra suas análises no pós-independência de São Tomé e Príncipe. Demonstra a concomitância da substituição dos símbolos nacionais portugueses por são-tomenses, sugerindo que aspectos das ações dos independentistas pareciam denotar a persistência de métodos e procedimentos do passado colonial. Por sua vez, Roselma Évora examina a transição para formação de uma sociedade independente em Cabo Verde no texto “O peso do legado autoritário na configuração do processo decisório democrático em Cabo Verde”. Segundo sua análise, o legado autoritário afetou o processo decisório do novo regime e interferiu nos níveis de desempenho institucional, fragilizando a atuação dos atores políticos no sistema democrático.
A quinta parte, “Memória da ditadura”, é a que reúne o maior número de capítulos, o que por si só demonstra o quanto este tema continua presente na primeira linha das preocupações de historiadores e historiadoras de tais processos, e ainda destaca como os testemunhos são parte fundamental da escrita de uma história de processos recentes ou mesmo que ainda não se encerraram completamente, ao menos em sociedades recentemente democratizadas. Francesca Blockeel estuda e compara as similaridades entre as ditaduras de Portugal e Espanha. A autora faz um apanhado, em paralelo, do trajeto dos dois países para tratar sobre os sistemas de repressão que ambas as ditaduras construíram e as narrativas predominantes nos dois países acerca da transição para a democracia. As formas repressivas da codificação do crime político e das normas para a punição aos opositores do Estado Novo são a temática de Guya Accornero, enquanto que Jacinto Godinho demonstra a importância da utilização de uma série documental histórica produzida no âmbito das ações da PIDE. João Paulo Nunes analisa como Portugal atual se define e caracteriza tendo em conta as memórias vigentes acerca do Estado Novo. Luciana Soutelo estuda o revisionismo histórico que passou a ter o Estado Novo Português como alvo, as novas interpretações históricas e os desdobramentos do Estado Novo na sociedade portuguesa. O estudo de Flamarion Maués focaliza o “surto” editorial de cunho político a partir do 25 de abril, quando livros que haviam sido proibidos e/ou recolhidos pela ditadura foram publicados e disponibilizados na sociedade lusa pós-ditadura. Por outro lado, o Brasil é o tema dos capítulos escritos por Roberto Vecchi e por Ettore Finazzi-Agrò. No primeiro caso, há uma importante discussão sobre o acobertamento e as dificuldades para acessar documentos relativos à guerrilha do Araguaia, enquanto o segundo trata das obras de Clarice Lispector durante a ditadura militar brasileira, sua militância e o impacto de seus textos.
Por fim, o sexto capítulo nomeado “Memória e revolução”, tem por âmbito o campo da produção cultural e as narrativas em torno de um dos processos políticos mais ricos e ainda indecifrável em grande medida na história recente de um país europeu, qual seja, a revolução portuguesa de 1974. O processo revolucionário e a transição profundamente conflitiva para uma sociedade democrática e integrada ao contexto da Comunidade Europeia ainda hoje suscitam inúmeras controvérsias. A memória social, portanto, segue sob o enquadramento de narrativas que se impuseram ao disputar a produção cultural e as imagens associadas ao novo Portugal, ainda que manejadas por setores que foram alvos da ação revolucionária por serem considerados próximos do regime salazarista. O capítulo de Paula Gomes Ribeiro trata dos padrões de funcionamento do Teatro de São Carlos, principal casa de ópera de Lisboa, no período que sucedeu o 25 de abril, demonstrando as questões relativas à implantação do que se pretendia ser uma democracia cultural, numa tentativa de facilitar o acesso a bens artísticos e culturais ao grande público, o que não deixou de gerar tensões. Por sua vez, o capítulo de Paula Borges Santos, intitulado “A Igreja Católica na transição para a democracia”, estuda o papel da Igreja Católica e suas relações com o Estado Novo e principalmente as estratégias da instituição com vistas a lidar com um passado de colaboração estrita com o regime autoritário, em meio à contestação à hierarquia. Houve uma redefinição do lugar social da Igreja Católica na sociedade portuguesa ao longo do processo de transição para a democracia, inicialmente pelos constrangimentos de justificar o colaboracionismo como o regime deposto e, posteriormente, por “reivindicar a sua participação no exercício das liberdades democráticas reclamadas e apropriadas pelo restante da sociedade” (p. 479). De sua parte, Riccardo Marchi estuda, a partir da imprensa da época, as direitas portuguesas ao longo dos anos de 1976 a 1980, particularmente a influência de tendências de extrema-direita no universo juvenil durante a construção da democracia em Portugal, quando tais posturas e agrupamentos pareciam desafiadores aos partidos e governos de centro-esquerda que então predominavam na composição política daquele país.
Hudson Campos Neves – Doutorando na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis, SC – BRASIL. E-mail: hudsoncn.historia@gmail.
Carlos Alberto Lourenço Nunes – Doutorando na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis, SC – BRASIL. E-mail: betonunes001@gmail.com.
O Peregrino e o Convertido: a religião em movimento | Danièle Hervieu-Léger
A obra o Peregrino e o convertido foi publicada pela primeira vez no ano de 1999, tendo posteriormente traduções para várias línguas, como o português, italiano e alemão. Dentre outras publicações importantes da autora estão: Vers un nouveau christianisme? Introduction à la sociologie du christianisme occidental (1986); De l’émotion en religion (1990); La religion pour mémoire (1993); Sociologies et religion: Aproches classiques en sciences sociales des religions (2001); La religion en miettes ou la question des sectes (2001); Catholicisme français: la fin dun monde (2003); Quest-ce mourir? (2003) (HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 07).
A autora demonstra uma vasta experiência nos estudos da religião desde a década de 70, tornando-se uma referência no estudo da modernidade, memória e tradição religiosa. A socióloga é presidente da École de Hautes Études de Sciences Sociales (Paris) e diretora da revista Archives des Sciences Sociales des Religions. A apresentação da segunda edição da obra é de autoria do professor Faustino Teixeira da PPCIR / UFJF, que realiza uma descrição do currículo da socióloga francesa Danièle Hervieu-Léger. Leia Mais
Sonhos em tempo de guerra: memórias de infância | Ngũgĩ Wa Thiong’o
Internacionalmente reconhecido por seu trabalho literário, dramático e de crítica intelectual, Ngũgĩ wa Thiong’o chegou a ser um dos favoritos indicados ao prêmio Nobel de literatura no ano de 2016. Contudo, sua obra permanece sendo ignorada por grande parte do público brasileiro. Sonhos em tempo de guerra, publicado pela Biblioteca Azul, junto com o premiado romance Grão de trigo, publicado pela Alfaguara, são, por enquanto, as duas únicas obras do autor traduzidas em nosso país. Ambos livros retratam eventos históricos importantes do Quênia, vinculados à emergência da rebelião Mau Mau que levou o país à independência em 1963. Mas, diferentemente de Grão de trigo, o livro Sonhos em tempos de guerra não constitui um romance, mas se apresenta com o subtítulo de memórias de infância. Trata-se, portanto, de um registro de fragmentos da história do Quênia sob a perspectiva intimista das lembranças pessoais do autor.
Profundamente auto-reflexivo e questionador, o próprio relato levanta perguntas sobre o funcionamento da memória que, como o subtítulo anuncia, constitui a base do próprio trabalho. “Mas por que alguém se recorda vividamente de alguns eventos e personagens enquanto outros não? Como a mente é capaz de selecionar aquilo que se sedimenta fundo na memória e aquilo que ela permite flutuar na superfície?” (WA THIONG’O, 2015a, p. 69). Estas incertezas, e outras, sobre a memória e a escrita do próprio passado, tornam o trabalho ainda mais instigante. Assim, é um livro, ao mesmo tempo, forte e delicado, que apresenta os anos iniciais da vida de Ngũgĩ wa Thiong’o, sua educação familiar, religiosa e escolar, focando sobretudo nos espaços primários e de sociabilidade básica que o formaram. Há um provérbio africano que diz “é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”. A obra que temos em mãos revela como a formação inicial deste gigante intelectual teve como base não uma aldeia comum, mas um povoado que vivia sob a rígida ocupação colonial britânica. Quando criança o pequeno Ngũgĩ vivenciou um universo bastante estendido, marcado pela guerra genocida, travada em África e alhures, com a presença de estrangeiros em sua comunidade, um intenso fluxo de ideias novas e a constante referência a personagens e a lugares distantes. O livro trata, portanto, de uma educação sentimental atravessada por circulações ampliadas, na qual as relações de poder e conhecimento transbordaram, e muito, as dinâmicas locais da “aldeia”. Leia Mais
Public history: discussioni e pratiche – FARNETTI et al (BC)
FARNETTI, Paolo Bertella; BERTUCELLI, Lorenzo; BOTTI, Alfonso Botti (A cura di). Public history: discussioni e pratiche. Milano – Udine: Mimesis, 2017. 338p. Resenha de: PERILLO, Ernesto. Il Bollettino di Clio, n.10, p.105-109, gen., 2019.
La Public History? “Un nuovo contenitore trendy che in sostanza indica una storia spiegata a gente che non la sa da parte di altra gente che non la sa nemmeno lei, un po’ l’imparicchia e un po’ l’inventa”, secondo la definizione dello storico F. Cardini, a proposito della Saga dei Medici prodotto da Rai Fiction-Luz Vide.
Il libro di cui si parla in questa recensione può aiutare a capirci qualcosa di più. Diviso in due parti, il volume raccoglie nella prima il dibattito sulle definizioni della PH, ne ripercorre la storia negli Stati Uniti (sul finire degli anni Settanta del secolo scorso) e in Italia (di PH si è cominciato a parlare dal 2000; l’Associazione italiana di Public History (AIPH) nasce nel 2016), esplorando alcuni dei nodi metodologici più significativi, in particolare i rapporti tra PH, storia accademica, uso pubblico della storia, memoria. Leia Mais
La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social – JELÍN (S-RH)
JELÍN, Elizabeth. La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2018. Resenha de: CARNEIRO, Ana Marília Menezes. As lutas pelo passado e a construção de um futuro democrático na América Latina. SÆCULUM – REVISTA DE HISTÓRIA [39]; João Pessoa, jul./dez. 2018.
“Um passado que não passa”2. Há pouco mais de duas décadas, o historiador Henry Rousso se valeu desta célebre sentença para referir-se à presença viva e contundente da memória da ocupação alemã e da II Guerra Mundial na sociedade francesa. A potência da expressão utilizada por Rousso, na qual a concepção de que o passado está sempre presente é central, traz à tona um amplo debate envolvendo as relações entre história, memória e o papel do historiador no espaço público. Essas questões ocuparam um lugar de destaque em grande parte da produção historiográfica recente e uma importante contribuição à esse debate é o recém-publicado La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social, de Elizabeth Jelín.
Um dos eixos centrais que perpassa a perspectiva de análise da autora ao longo da obra é afirmação – apenas aparentemente despretensiosa -, de que falar de memórias significa falar de um presente. A memória não é passado, e sim a maneira pela qual os sujeitos constroem um sentido de passado, que sempre se atualiza no presente, temporalidade que contém e constrói a experiência passada e as expectativas futuras. Em tom autobiográfico, com uma escrita híbrida e ao mesmo tempo harmoniosa, “entre o acadêmico, o compromisso cívico-político e a própria subjetividade”3, a autora transita com competência e rigor metodológico na análise do cenário complexo, ambíguo e conflituoso das lutas pela memória do passado recente. Leia Mais
Uma Estrela Negra no teatro brasileiro. Relações raciais e de gênero nas memórias de Ruth de Souza (1945-1952) | Julio Claudio da Silva (R)
O livro de Julio Claudio da Silva, Uma Estrela Negra no Teatro Brasileiro, é fruto da esmerada pesquisa para a tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF). Se insere nas discussões sobre o papel dos negros, e negras, na sociedade brasileira do pós-Abolição e as tensas relações raciais tão presentes no pensamento intelectual brasileiro das primeiras décadas do século XX.
Tomando como referencial a bem-sucedida carreira da atriz negra Ruth de Souza, o historiador problematiza as relações raciais, de gênero, a construção e reconstrução da memória da atriz, e as tensas dimensões vivenciadas por ela, pelo direito de inserir-se no complexo universo cultural brasileiro.
Esse exercício apurado de análise da memória pública de Ruth de Souza, de sua problemática, e da sua relação com as questões raciais e de gênero é o principal caminho trilhado por ele para dar destaque às lutas sociais e culturais de artistas negros entre as décadas de 1930 e 1950, e as profundas conexões dessas lutas com a vida política brasileira do período.
Professor da Universidade do Estado do Amazonas, Julio Claudio da Silva realizou sua formação como historiador na UFF. E ao longo de sua trajetória como pesquisador, tem se dedicado a investigar a questão racial no Brasil, e os desdobramentos correlatos a temática, como a História África e da Cultura Afrobrasileira, o Movimento Negro, e a memória e trajetória dos/as intelectuais negros/as.
Assim, algumas das inquietações do pesquisador podem ser percebidas no livro Uma Estrela Negra no Teatro Brasileiro, que em seu argumento central tem como proposta refletir sobre as relações raciais e de gênero no Brasil a partir da recuperação de alguns aspectos da memória e trajetória da atriz brasileira Ruth de Souza. Passando ainda pela história de umas das importantes associações negras do século XX, o Teatro Experimental do Negro.
Um dos esforços da narrativa do autor ao longo dos capítulos consiste em historicizar e refletir a temática do racismo no Brasil, visando contribuir com novas formulações e respostas para os estudos das relações raciais e de gênero (p. 21-23).[1] Desse modo, O trabalho insere-se no diálogo com a ampla produção historiográfica que analisa os processos de construção de conceitos como raça, relações raciais e da identidade negra na sociedade brasileira.[2] Especialmente na discussão que considera a identidade não somente como uma ideia, desligada da realidade concreta, mas que, antes de tudo, se manifesta na realidade social.[3]
Preocupado com as formas complexas dos processos ligados à cidadania nas sociedades pós-emancipação, as questões levantadas pelo autor ao longo de sua pesquisa buscaram evidenciar, a partir da trajetória artística da jovem Ruth de Souza, como a racismo se manifestou de forma muito particular para as mulheres negras. [4] Debruçando-se sobre a história da atriz, Silva procura observar “os processos de construção de memórias e os limites estabelecidos pelas relações raciais e de gênero, em uma sociedade pretensamente meritocrata fundada sobre o mito da democracia racial” (p. 25). Para tal, a figura de Ruth de Souza favorece a problematização das temáticas raciais e a generificação nos palcos brasileiros, uma vez que como mulher, afrodescendente, e proveniente das classes subalternas, ela conquistou reconhecimento, conseguindo se profissionalizar como uma das primeiras atrizes com esse perfil a fazer teatro erudito no nosso país.
O autor segue a tradição de estudos ligados à história social, fazendo uso da biografia de Ruth de Souza para compreender as dinâmicas da modernização do teatro brasileiro e como a questão racial e de gênero impactaram nesse processo. Como estratégia, Julio Claudio da Silva utiliza-se de depoimentos concedidos pela atriz em diversas décadas, assim como de relatos fornecidos por seus contemporâneos, e ainda da reunião de reportagens publicadas nos anos 1940 e 1950 selecionadas pela própria Ruth de Souza ao construir seu acervo pessoal.
Na primeira parte do seu livro, composta por dois capítulos, a analise do autor recai sobre os anos iniciais da carreira de Ruth de Souza como atriz no Teatro Experimental do Negro. Silva utiliza-se dos pressupostos metodológicos da História Oral, para problematizar a memória narrada dos entrevistados, demonstrando que a memória faz muito mais referencia ao presente que ao passado.
As tensões diante da recuperação da memória, os silêncios e esquecimentos foram analisadas pelo autor sem perder de vistas a dimensão política, que se mostrava marcadamente nas vivências de Ruth de Souza desde sua infância pobre, ao lado de sua mãe, viúva e empregada doméstica. Mas que, apaixonada pelas artes cênicas, ousou ser atriz.
Ao introduzir o leitor, logo no primeiro capítulo, na discussão dos conceitos memória, gênero e cultura afro-brasileira – os três pilares teóricos fundamentais para o desenvolvimento de sua argumentação nos capítulos seguintes, o autor pretende fundamentar os conceitos de sua pesquisa tendo como ponto de partida os depoimentos cedidos a ele pela própria Ruth de Souza. E com sensibilidade apurada e comprometida, Julio de Souza, além de dar visibilidade para os primeiros anos da trajetória da atriz, insere aos leitores e leitoras na bela história de homens e mulheres do Rio de Janeiro efervescente das décadas de 1930 e 1940.
A luta de Ruth de Souza, e de seus contemporâneos do Teatro Experimental do Negro, por maiores oportunidades na dramaturgia brasileira demonstram o quanto são racializadas as relações sociais no Brasil. Investigando os laços de amizade e as redes de solidariedade utilizadas pela atriz para conquistar seu espaço no cenário artístico brasileiro o autor nos conduz por um amplo universo de personagens engajados no combate às desigualdades e de lutas em meio à intensa exclusão do Rio de Janeiro de inícios do século XX.
Apesar dos entraves impostos pelo racismo cordial brasileiro, e pela suposta democracia racial, o autor realiza um cruzamento entre os depoimentos da atriz e recortes de jornais que apresentam muitas informações sobre o início da sua carreira, destacando a dimensão política de lutas e embates, por vezes “esquecida” nos relatos de Ruth de Souza, mas recuperada nos textos dos seus contemporâneos. Um exemplo disso é o depoimento de Raquel da Trindade sobre os primeiros anos de atuação do Teatro Experimental do Negro e das estratégias utilizadas por aqueles sujeitos na luta contra o racismo, especialmente as formas de racismo tão comuns nos palcos brasileiros daqueles anos.
As preocupações com novas questões que pudessem complexificar as narrativas elaboradas pela atriz Ruth de Souza nas entrevistas dadas ao autor, e a promoção do diálogo entre esses depoimentos com outras falas da atriz em gravações que estão sob guarda do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS RJ), constituem o segundo capítulo do livro. Nele, Julio Claudio da Silva dá particular atenção para as tensões, lacunas e contradições desses relatos, e como novas questões propostas por ele podem ampliar o campo de análise, permitindo compreendermos as estratégias utilizadas pela atriz na elaboração, e reelaboração, da memória sobre a ausência de oportunidades para uma jovem negra e pobre no campo teatral das décadas de 1930 e 1940.
A redação envolvente de Julio Claudio de Silva, e sua apurada análise apontam para ambiguidades nos depoimentos de Ruth de Souza, especialmente quanto a racialização do teatro, e como em alguns momentos a atriz atribui seu sucesso quase que unicamente a seu mérito, “desracializando” obstáculos de sua trajetória, e sublimando sua condição de artista afrodescendente, que viveu intensamente a realidade de exclusão imposta pelas artes cênicas no Brasil.
Na segunda parte do livro, o autor dedica-se a investigar o complexo processo de “arquivamento de si” e do Teatro Experimental Negro realizado pela própria Ruth de Souza. Para tal, Julio Claudio da Silva faz uso dos registros sobre a vida da atriz e da companhia de teatro reunidos no “Acervo Ruth de Souza”, do Laboratório de História Oral, da Universidade Federal Fluminense (LABHOI UFF). A intenção de Silva consiste em compreender os níveis de retroalimentação que os recortes de jornais reunidos pela própria Ruth de Souza tiveram sobre sua memória e, até certo modo, ancoraram o relato que a atriz fez de si.
Ao atentar para os silêncios presentes nos relatos da “Dama Negra do Teatro”, o autor recupera a organização de uma rede de alianças formadas em torno do grupo de artistas ligados ao Teatro Experimental do Negro, bem como a importância do grupo para o processo de modernização do teatro brasileiro, e das iniciativas de combate ao racismo no Rio de Janeiro do período. No capítulo 3, ao cotejar a documentação do Acervo Ruth de Souza, o historiador mergulha na problemática relativa às restrições impostas aos artistas afrodescendentes nos palcos, e como tais práticas, seja nos locais, ou mesmo na forma com que eram mostrados nos espetáculos teatrais, se materializavam frequentemente.
Desse modo, ao recuperar a memória sobre o papel da companhia Teatro Experimental do Negro, a narrativa de Silva nos apresenta “acirradas batalhas de memória entre Paschoal Carlos Magno e Abdias Nascimento” em torno da “paternidade da entidade” (p. 128), e como tais embates foram capazes de complexificar ainda mais a história de uma das mais importantes manifestações culturais do movimento negro brasileiro. Assim, o capítulo nos fornece amplamente uma riqueza considerável de informações sobre o panorama teatral brasileiro do período, especialmente quanto às dificuldades de funcionamento, e estratégias usadas pelos artistas do Teatro Experimental do Negro nas lutas contra “o complexo de inferioridade do negro e contra o preconceito de cor dos brancos”, como parafraseia o próprio autor (p. 134).
É especialmente bem sucedida a escolha de Silva ao investigar o grupo de artistas ligados ao Teatro Experimental do Negro, pois permite aos leitores a compreensão da importância da entidade para os artistas e para a cultura brasileira, justamente por criar e organizar uma “nova modalidade do teatro negro no Brasil” (p. 141). Mostrando o compromisso daqueles sujeitos em constituir espaços igualitários, que permitissem atuar plenamente como artistas, verem representados com justiça o seu universo étnico-racial e, portanto, contribuindo para a elevação cultural e dos valores individuais dos negros (p. 163).
No capítulo quatro, Julio Claudio da Silva busca investigar os limites e possibilidades para a construção de um teatro negro no Brasil da década de 1940 (p. 167). Para isso, o autor utiliza a cobertura dada pela imprensa sobre os espetáculos montados pelo Teatro Experimental do Negro, a partir dos recortes guardados pela atriz Ruth de Souza, tentando compreender como os críticos teatrais viam as adaptações de peças teatrais estrangeiros para o público brasileiro pelos artistas da entidade, e também as percepções racializadas sobre a atuação dos atores e atrizes da companhia de teatro.
Deslocando o foco de análise para os possíveis diálogos entre o palco e a platéia o autor analisa as montagens dos espetáculos estrangeiros O Imperador Jones, Todos os filhos de Deus têm asas e O Moleque sonhador, de autoria de Eugene O’Neill. Assim como os espetáculos escritos por brasileiros especialmente para o Teatro Experimental de Negros, como a peça O filho pródigo, de Lucio Cardoso, ou a Aruanda, escrita por Joaquim Ribeiro; e por fim a peça Filho de Santo, escrita por José Moraes Pinho. Dessa maneira, Silva nos auxilia a compreender como a montagem de espetáculos com temas ligados à realidade afrodescendente se constituiu elemento primordial para o crescimento das artes, e particularmente do teatro, no Brasil.
Montados entre os anos de 1945 e 1949, os textos iluminam “temáticas sócioculturais das populações e culturas afrodescendentes” (p. 168), e tal esforço de destaque da cultura negra é reconhecido pelos críticos como iniciativa fundamental no complexo cenário de lutas contra o racismo tão presente na sociedade brasileira. O olhar multifacetado do autor revelou um esforço de pesquisa que nos indica o quanto racialização cultural não passava somente pelos palcos, mas também pelo espaço destinado aos espectadores, e de como o grupo de artistas reunidos em torno do Teatro Experimental do Negro consolidava-se paulatinamente como uma espécie de oásis artístico em que era possível difundir textos e performances antirracistas, em que os artistas negros pudessem também apresentar sua arte e seu talento.
Por fim, no último capítulo, Silva dedica-se aos anos em que a atriz Ruth de Souza desliga-se do Teatro Experimental do Negro e vai para o exterior, onde tem a oportunidade de estudar artes cênicas nos Estados Unidos da América. O episódio, descrito pelo historiador como “um divisor de águas” na vida profissional da artista, revela o quão fundamental foi o apoio recebido pela atriz e o quanto a rede de solidariedades em que ela estava inserida foi primordial para o seu processo aprimoramento e profissionalização.
Essa temporada de estudos no exterior, de fato, abriu novas portas para a atriz, proporcionando a ela novos contratos, e uma carreira em ascensão nas principais companhias de cinema dos anos 1940 e 1950. Mesmo diante da tensão e do preconceito expressos na oferta de pequenos papeis para a atriz negra, seu talento e esforço foram reconhecidos em prêmios e indicações importantes pro seguimento, seja no Brasil ou ainda internacionalmente.
Ao se deparar com as questões metodológicas em torno da memória e do racismo na sociedade brasileira, o autor enfrenta o desafio de nos apresentar um texto rico teoricamente e que contribui amplamente com as discussões sobre os papéis da mulher negra no Brasil, especialmente no cenário cultural e político do pós Abolição, por meio da trajetória de uma mulher negra, que ousou ser artista, em uma sociedade que negou, e continua negligenciando, os direitos básicos aos afrodescendentes.
Notas
1. Optei em citar ao longo da resenha, entre aspas, palavras do próprio Julio Claudio da Silva, ou citações feitas por ele no livro.
2. Ver os trabalhos de GUIMARÃES, Antonio Sergio Alfredo. Classes, Raça e Democracia. São Paulo: Fapesp; Editora 34, 2002; SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993; SKIDMORE, Thomas E. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
3. NASCIMENTO, Elisa Larkin. O sortilégio da cor: identidade, raça e gênero no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2003.
4. O debate tem sido feito em trabalhos como o de ALMADA, Sandra. Damas Negras: sucesso, lutas e discriminação: Xica Xavier, Lea Garcia, Ruth de Souza, Zezé Motta. Rio de Janeiro: Mauad, 1995; ARAÚJO, Joel Zito Almeida de. A negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira. São Paulo: Editora Senac, 2000.
Vitor Leandro de Souza – Mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é Doutorando em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E-mail: vitorleandro@id.uff.br . ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9869-8907 .
SILVA, Julio Claudio da. Uma Estrela Negra no teatro brasileiro. Relações raciais e de gênero nas memórias de Ruth de Souza (1945-1952). Manaus: UEA Edições, 2017. Resenha de: SOUZA, Vitor Leandro de. Memória, gênero e antirracismo: a trajetória de lutas da atriz Ruth de Souza. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.36, n.2, p.319-324, jul./dez. 2018. Acessar publicação original [DR]
DEP. Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica d studi sulla memoria femminile (BC)
DEP. Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica d studi sulla memoria femminile. Resenha de: ERMACORA, Matteo. Il Bollettino di Clio, n.9, p.61-62, feb., 2018.
Pubblicata online dal luglio 2004, la rivista “DEP. Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile” si è proposta come luogo di analisi scientifica e di riflessione sul tema della memoria femminile nelle situazioni di esilio, deportazione e profuganza, – temi poco indagati dalla storiografia –e darne nel contempo massima visibilitàattraverso ricerche, documenti, scritti inediti etestimonianze orali.
Proprio per favorire la circolazione delle idee, superare la marginalità tematica della questione di genere e raggiungere un pubblico ampio, si è pensato ad una rivista scientifica “leggera”, digitale, indipendente, gratuita (tutti di documenti sono scaricabili e consultabili), aperta alla partecipazione di collaboratori italiani e stranieri mediante meccanismi di peer review. La rivista, inserita nel sito dell’Università degli studi di Venezia Cà Foscari, è strutturata su cinque sezioni: “Ricerche”, “Documenti”, “Interviste”, “Strumenti di ricerca” (bibliografie, sitografie) e “Recensioni”, concepite come “contenitori aperti”, tali da consentire vicendevoli rimandi.
Sin dagli esordi la rivista ha cercato di contraddistinguersi attraverso una marcata dimensione internazionale, l’ampiezza dello spettro geografico e cronologico preso in considerazione, la pluralità degli approcci disciplinari e metodologici, il graduale passaggio da un “tradizionale” orientamento storiografico ad una più ampia riflessione sui nodi teorici della questione femminile nella contemporaneità. In questa direzione la struttura della rivista si è modificata, aggiungendo la rubrica annuale “Una finestra sul presente”, volta ad illustrare una particolare situazione o tematica d’attualità, e le rubriche “donne e terra”, “donne umanitarie”, volte a valorizzare il rapporto delle donne con la natura, la solidarietà e l’attivismo femminile per la giustizia e i diritti umani. Tali rubriche hanno permesso di allargare lo sguardo a tematiche e situazioni extraeuropee e di ospitare studiosi e studiose di altra nazionalità.
Contestualmente anche la periodicità, dapprima basata su due uscite annuali (gennaio/luglio), alternando numeri monografici a miscellanei, si è via via arricchita con la presenza di “numeri speciali” curati da singoli o gruppi di studiosi esterni; la serie è stata inaugurata da Violenza, conflitti e migrazioni in America Latina (n. 11/2009).
L’attività della rivista si è accompagnata ad una serie di presentazioni pubbliche, mostre, seminari, convegni e giornate di studio, i cui materiali sono poi comparsi nella rivista stessa. Tra gli eventi promossi è necessario ricordare la giornata di studio su La lingua della memoria (giugno 2005), la mostra sui disegni dei bambini nei campi di concentramento italiani di Rab e di Arbe, i convegni Donne in esilio. Esperienze, memorie, scritture (ottobre 2006), Genere, nazione, Militarismo (ottobre 2008) e La violenza sugli inermi (maggio 2009), la Giornata della memoria La Shoah in Serbia (gennaio 2010), i seminari dedicati a Lo stato di eccezione (febbraio 2007), Donne e tortura (giugno 2010), lo sradicamento attraverso l’analisi di Hannah Arendt e Simone Weil (2011-2013), Tortura ed infanzia (giugno 2015), i convegni internazionali Vivere la guerra, pensare la pace 1914-1921 (novembre 2014) e Confini: la riflessione femminista (novembre 2017).
Se inizialmente, proprio partendo dal caso paradigmatico della Shoah, la questione posta al centro dell’analisi storiografica era data dalla necessità di ridare una “identità” e una “dignità” alle vittime indistinte della violenza genocidaria, della deportazione, dei sistemi totalitari, dei vari episodi di “infanzia negata” (n.3/2005: I bambini nei conflitti. Traumi, ricordi, immagini), dando valore ai destini individuali di donne e bambini, valorizzando le loro voci, le strategie di sopravvivenza e di reciproco aiuto, nel corso degli anni la rivista, adottando un approccio interdisciplinare, ha progressivamente dilatato i campi di indagine, spostandosi progressivamente su tematiche che riflettevano il rapporto guerra totale e profuganza nelle guerre del Novecento (nn.13-14/2010: La violenza sugli inermi), la privazione dei diritti e la “violenza estrema” dello stupro (n. 10/2009: Genere, nazione, militarismo. Gli stupri di massa), la prostituzione forzata, fino ad arrivare al femminicidio messicano (n. 24/2014). Costante in questo senso è stata l’attenzione alla lingua, alle parole, alla rappresentazione letteraria come strumento per esprimere il trauma ed esorcizzare il dolore (n. 8/2008, Donne in esilio; n. 22/2013, Voci femminili nei lager sovietici; n. 29/2016, Primo Levi e le scritture della salvazione).
Accanto al versante prettamente storiografico l’indagine si è progressivamente estesa all’esplorazione del filone del pensiero femminile e femminista, mettendone in luce complessità, soggettività, aperture critiche e alterità rispetto alle idee dominanti, pubblicando scritti inediti, opuscoli, antologie. Partendo dal tema della cittadinanza, della presenza/assenza delle donne sulla scena pubblica e dei diritti delle donne negati per forza di legge (nn. 5-6/2006), si è articolato il tema dello “sradicamento” – fisico, culturale, territoriale, da “sviluppo” capitalistico – come aspetto cruciale della condizione femminile nel tempo di guerra e di pace e si è cercato di valorizzare la capacità delle donne e del pensiero femminile di cogliere questa condizione e nello stesso tempo di metterla in discussione mediante la proposta di nuovi orizzonti sociali, relazionali, economici. Di qui l’attenzione riservata alla riflessione pacifista e femminista sulla denuncia della natura della guerra (nn. 18-19/2012; n. 31/2016), la ricostruzione di biografie di donne attive sul versante del relief work, l’analisi delle azioni di militanti pacifiste ed ecologiste, la riscoperta del pensiero di attiviste rispetto all’economia, alla pace, all’ambiente e ai diritti umani (Ruth First, n. 26/2014; Rosa Luxemburg, n.28/2015; Rachel Carson, n. 35/2017; lecollaboratrici di Gandhi, n. 37/2018) nonchél’ecofemminismo (n. 20/2012), il femminismo e laquestione animale (n. 23/ 2013). Questetematiche, variamente indagate dal punto vistastorico, filosofico, giuridico e sociologico,consentono di offrire un prisma rappresentativodella ricchezza del pensiero femminista e nelcontempo costituiscono un promettente campo dinuove indagini.
Matteo Ermacora
[IF]L’età del transito e del conflitto. Bambini e adolescenti tra guerre e dopoguerra. 1939-2015 – BACCHI (BC)
BACCHI, Maria; ROVERI, Nella. L’età del transito e del conflitto. Bambini e adolescenti tra guerre e dopoguerra. 1939-2015. Bologna: Il Mulino, 2016. 592p. Resenha de: CITTERIO, Silvana. Il Bollettino di Clio, n.9, p.66-69, feb., 2018.
Il volume: le sue parti e i suoi significati In un ponderoso volume di ben 592 pagine, le curatrici Maria Bacchi e Nella Roveri tengono insieme vicende che hanno come comun denominatore l’esperienza di bambini, bambine, adolescenti in guerra, in fuga dalle stesse e nei vari “dopoguerra”. Dette vicende si collocano nel tempo lungo dalla Seconda guerra mondiale ai giorni nostri e in un contesto globale.
Marcello Flores, nel saggio introduttivo Cartografie del Novecento: luoghi e forme del conflitto, ricostruisce la cornice spazio-temporale del “secolo breve” e ne indica i segni distintivi e contraddittori. Se, infatti, per un verso è il periodo in cui si conclamano i diritti delle persone, nasce l’opinione pubblica e si afferma il valore della libertà e della democrazia, (Flores cita per esempio la campagna di Conan Doyle e Mark Twain contro il dominio personale e feroce di Leopoldo II nel Congo), per l’altro è e sarà ricordato come un secolo di totalitarismi, razzismi e stermini. Flores ricorda: in Africa la distruzione degli Herero in Namibia da parte dell’esercito tedesco, i campi di concentramento inglesi per i boeri e, più recentemente, il Rwanda e il Congo; in Asia la Cambogia di Pol Pot; In America Guatemala e Argentina. In Europa, dopo la Shoah, ex Jugoslavia e Cecenia.
Dopo l’introduzione di Marcello Flores, il volume si articola in tre parti. La prima, Infanzie e guerre del Novecento, raccoglie l’esperienza di solidarietà e salvataggio dei ragazzi di Villa Emma a Nonantola, la testimonianza di intellettuali approdate in Italia dopo la Shoah (Edith Bruck) e dopo il conflitto serbo-bosniaco (Anja Galičić e Elvira Muičić) e la vicenda di Keiji Nakasawa che, sopravvissuto alla bomba di Hiroshima, racconterà la sua storia in un fumetto manga.
La seconda, All’inizio del terzo millennio, tratta dei ‘minori non accompagnati’ in fuga dai loro paesi e in transito o in arrivo in Italia, all’inizio del XXI secolo.
Nella terza, Memorie dell’infanzia in guerra, vengono riesaminate le esperienze dei bambini in guerra narrate nella prima parte e si aggiungono altri racconti, per esempio la vicenda della colonia di Izieu e della sua eroina e testimone, Sabine Zlatin.
Nello spazio temporale coperto dal volume (1939 – 2015), l’esperienza dei ragazzi di Villa Emma a Nonantola (fra il luglio 1942 e l’ottobre 1943) si colloca come esempio positivo di gruppo, che seppe attivare dinamiche di salvezza e di crescita. Nel 2004, la nascita della Fondazione Villa Emma a Nonantola si inserisce come buona pratica di ricostruzione storica e di conservazione dei luoghi della memoria.
Figure e ruoli femminili nel Novecento attraversato dalle guerre Mentre le storie attuali dei minori non accompagnati sono essenzialmente storie al maschile, le vicende della Shoah e quelle relative alla sanguinosa deflagrazione dell’ex Jugoslavia sono popolate da figure femminili. Le donne, si sa, sono “vittime storicamente designate”, ma chi sopravvive assume spesso il ruolo di testimone consapevole. Vediamo di seguito quali storie “al femminile” hanno rilievo nel volume.
Dalle pagine dedicate all’ex-Jugoslavia nell’ultimo decennio del Novecento, possiamo ricavare le testimonianze, analoghe ma differenti, di due scrittrici, Anja Galičić e Elvira Mujčić, preadolescenti al tempo del loro esodo in Italia durante la guerra di Bosnia.
Entrambe provengono da famiglie di intellettuali, musulmane ma profondamente laiche; entrambe trovano rifugio in Italia e vi si laureano con una tesi analoga sul ruolo dei media nella guerra dell’ex Jugoslavia; entrambe useranno l’italiano come lingua della loro produzione letteraria. Tuttavia, mentre Anja arriva 13enne in Italia dalla nativa Sarajevo con l’intera famiglia nell’aprile 1992 e si stabilisce a Gressoney, Elvira vi arriverà nel 1993 a 14 anni, dopo essersi separata dal padre e dallo zio che perderanno la vita e il corpo nel genocidio di Srebrenica, e dopo aver trascorso un anno presso un campo profughi della Caritas in Croazia.
Da queste esperienze emerge, come dato rilevante del vissuto delle bambine e dei bambini in tale contesto, quanto ci ricorda Maria Bacchi “La guerra angoscia i bambini prima e li perseguita dopo, quando gli adulti pensano che i più piccoli non ne siano toccati o ne siano finalmente fuori. Il suo svolgimento li espone a rischi terribili che, sappiamo, genera traumi, ma crea anche, paradossalmente, una sospensione della normalità che offre imprevisti spazi di libertà e di avventura”.1 Dello stesso tono la diretta testimonianza di Elvira Mujčić: “Uno degli aspetti più allucinanti di una guerra è la noia. […] Mentre gli altri bambini in giro per il mondo raccoglievano le figurine, noi raccoglievamo i pezzi di granata e facevamo le nostre collezioni, con tanto di scambi.”2 Si tratta di bambini e bambine che non possono proprio credere all’evidenza della guerra nella multiculturale Sarajevo e nella Bosnia tutta. A conforto si cita anche la testimonianza di Sasa Stanisic, giovane scrittore bosniaco in lingua tedesca.3 Del resto, il nodo della inesplicabilità dell’esplosione nazionalista nell’ex Jugoslavia è il rovello delle vittime (la stessa Mujčić lo tratta nel suo romanzo E se Fuad avesse avuto la dinamite) ed è un tema su cui si va facendo via via maggior chiarezza: con la pubblicizzazione di documenti secretati paiono delinearsi incapacità, incuria e connivenza dell’Occidente.
Un’altra storia d’infanzia in guerra è quella di Edith Bruck. Lo scenario qui è quello della Seconda guerra mondiale. Edith viene deportata a 12 anni dal suo villaggio ungherese nei lager nazisti a cui sopravvive per arrivare, dopo varie peregrinazioni, in Italia, dove comincia, con la sua autobiografia in italiano –Chi ti ama così- un’intensa attività di scrittrice e testimone. Bruck si riconosce nell’ebraismo laico (per lei archetipo di tutte le diversità) e assume la responsabilità di denunciare a quanti non sanno e non conoscono l’orrore indicibile dell’Olocausto. “Dire terrore, orrore, paura, dolore, sofferenza, fame, freddo non esprime quel freddo, quella fame, quel terrore. Anche adesso ho fame e freddo, ma non c’è confronto.”4 Signora Auschwitz verrà rinominata la Bruck da una studentessa che ne ascoltava la testimonianza. E Signora Auschwitz diventerà poi il titolo di una sua opera.
Infine Izieu. La memoria e il luogo di Pierre Jérome Biscarat ricostruisce l’episodio della colonia di Izieu, da cui il 6 aprile 1944 vennero arrestati dalla Gestapo, per ordine di Klaus Barbie, 44 bambini ebrei e 7 educatori. Imprigionati a Lione vennero successivamente internati ad Auschwitz. Sola sopravvissuta Lea Feldblum, un’educatrice di 26 anni. Tra il maggio 1943 e l’aprile 1944 la direzione della colonia era stata affidata a una coppia di ebrei francesi: Sabine e Miron Zlatin. Sabine si salverà perché quel 6 aprile 1944 si trovava a Montpellier e si prodigherà per avere giustizia, salvando la memoria e la storia di Izieu, fino a ottenere l’estradizione dalla Bolivia di Klaus Barbie che, processato nel 1987, sarà condannato all’ergastolo per crimini contro l’umanità.
Nel 1994 il Presidente Mitterand inaugurerà il Museo memoriale dei bambini di Izieu che è oggi accessibile alle scuole e svolge un’importante funzione pedagogica per salvare la memoria e ricostruire la storia della vicenda nell’ambito della Shoah e della Seconda guerra mondiale.
Quali analogie ritroviamo fra le storie di Anja e Elvira, le due adolescenti in fuga dalla guerra di Bosnia che eleggono l’Italia a loro luogo d’asilo, e le vicende di Edith, sopravvissuta al campo di sterminio, o di Sabine che per caso lo evitò? Sicuramente le accomuna una formazione laica, acquisita in ambito familiare – è il caso dichiarato di Anja e Elvira, intellettuali e musulmane – o conquistata successivamente, come Edith Bruck, che si riconosce in un “ebraismo laico”, o Sabine Zatlin, ebrea naturalizzata francese. In secondo luogo la volontà e la necessità di testimoniare sia con i modi della finzione letteraria (Bruck, Mujčić, Galičić) sia attraverso incontri con i giovani (Bruck). Infine l’esigenza profonda di avere giustizia a cui dedicò la sua vita Sabine Zatlin, ricostruendo la memoria di un luogo e la storia di chi altrimenti sarebbe stato cancellato.
Riflessioni e spunti didattici tra storia, memoria, narrazione Il testo offre contributi interessanti per una ricostruzione storiografica che accosta, in una riflessione non convenzionale, le storie della Shoah e il conflitto di fine Novecento nell’ex-Jugoslavia.
Il saggio di Maria Bacchi Elementi essenziali per una cronologia delle guerre jugoslave inquadra sinteticamente la complessità della vicenda. Lo sguardo di lungo periodo coglie, nella battaglia di Kosovo Polije del 1389, uno degli snodi in cui “la storia viene usata come un coltello per smembrare una nazione.”5 Infatti, in tale battaglia, divenuta simbolo della nazione serba, i serbi furono sconfitti dai turchi dell’Impero ottomano. Allo stesso modo, nel conflitto che insanguina i Balcani negli Anni ’90, Seconda guerra mondiale e Resistenza vengono richiamate in modo distorto: “Dove erano i vostri padri, mentre i nostri combattevano i nazisti?” (Detto dai paramilitari serbi ai bosniaci mentre li torturavano). Con tali modalità si sanciva la negazione del principio di Unità e Fraternità su cui si era costruita la Repubblica Jugoslava di Tito fino alla nuova Costituzione del 1974, che, a giudizio di Bacchi, è sintomo e, insieme, fattore di disgregazione.
Il testo di Nella Roveri La memoria e i luoghi. Nonantola, Izieu, Sarajevo. Quadri della memoria Note di lettura6 richiama i concetti fondamentali di memoria individuale e collettiva e il loro ruolo nella ricostruzione storica, avvicinando le vicende della Shoah – Nonantola e Izieu – a quelle del conflitto di Bosnia (Sarajevo). Con l’istituzione dei giorni della memoria e del ricordo, in Italia e in Europa si rende ufficiale la memoria collettiva del gruppo di appartenenza (sia esso l’intera nazione o la comunità religiosa e politica) e se ne rischia, al contempo, la mitizzazione e/o la banalizzazione con pratiche di “uso pubblico della storia”. In proposito Biscarat pone la questione della significatività e dell’efficacia dei “viaggi della memoria”, in particolare ad Auschwitz, in inverno e con studenti fra i 13 e i 15 anni.7 Occorre invece una ricostruzione storiografica che renda ragione dei fatti, onde evitare per le guerre e gli stermini di fine Novecento i silenzi e le negazioni imposti dopo la Seconda guerra mondiale, quando la verità dei vincitori è diventata la storia ufficiale.8 Giulia Levi nella sua intervista del 2011 a Mirsad Tokača, direttore del Centro di Ricerca e Documentazione di Sarajevo – finanziato da enti internazionali e sponsor privati – ne mette in luce la metodologia di ricerca scientifica. Il Centro opera per una ricostruzione storica capace, incrociando fonti d’archivio plurime e di diverso tipo con le testimonianze dei sopravvissuti, sia di informare con dati certi, pur se non definitivi, sia di restituire nome, volto e dignità a ogni vittima. Il lavoro del Centro ha portato alla pubblicazione nel 2013 del volume The Bosnian Book of Death, in cui viene attestato il numero di 97.207 vittime accertato a quella data. Numero che si colloca tra le cifre minime (25/30.000) e massime (300/400.000) utilizzate per una ricostruzione strumentale e di parte dei fatti.
Un altro aspetto interessante del volume dal punto di vista didattico è il rapporto fra Storia e storie personali, in particolare le storie di cui Elvira, Edith e Keiji sono stati protagonisti e vogliono essere testimoni.
Elvira Mujčić e Edith Bruck utilizzano i modi della finzione letteraria e identificano nel romanzo e nella lingua italiana (non materna e, quindi, in grado di offrire più significati e una nuova identità) la forma più adatta a veicolare la propria vicenda, perché è nella trasposizione letteraria e attraverso una lingua acquisita che la propria storia più si avvicina alla verità.
Invece Keiji Nakasawa usa la forza narrativa del manga per raccontare “la sua esperienza di bambino che rimane solo con la madre in un inferno di fuoco, mostri e morte.”9 Il contesto storico e socio-culturale del Giappone nell’estate del 1945 e nel primo dopoguerra è ben descritto nel contributo di Rocco Raspanti, Un sussidiario del dolore. La storia di Gen di Hiroshima.10 Il contributo è completato da alcune strisce del fumetto manga, con traduzione italiana in calce. Strisce, a mio avviso, molto efficaci per una presentazione del tema “Hiroshima e bomba atomica” anche con gli allievi della Scuola Primaria.
In tutti e tre i casi la volontà di narrare si intreccia con il desiderio di collocare la propria storia nella Storia ed è molto evidente l’intento di consegnare alla Storia, con la S maiuscola, dati che le siano utili.
[Notas]1 Cfr. M. Bacchi, Racconti di guerra, di fuga, di esilio.Note di lettura, pag. 187.
2 Cfr. Elvira Mujčić, Scrivere la memoria, p. 227.
3 Cfr. M. Bacchi, cit. pag. 187.
4 Cfr. N. Roveri, L’evento, il silenzio, il racconto.Note di lettura, pag. 254.
5 Cfr. M. Bacchi, cit. pag. 186.
6 Cfr. N. Roveri, pp. 473 – 485.
7 Cfr. P.J. Biscarat, Izieu. La memoria e il luogo, pp. 507-532.
8 Cfr. in N. Roveri, cit., pag. 480; Cfr. Giulia Levi, Intervista a Mirsad Tokača pag. 557 e seg.
9 Cfr. N. Roveri L’evento, il silenzio e il racconto. Note di lettura, pag. 258.
10 Cfr. pp. 287- 322.
Silvana Citterio
[IF]A escola como cultura: experiência, memória e arqueologia – BENITO (RBHE)
BENITO, Augustin Escolano. A escola como cultura: experiência, memória e arqueologia. Campinas: Alínea, 2017. Resenha de: MAGALHÃES, Justino. Revista Brasileira de História da Educação, n.18, 2018.
Este livro é uma tradução do título La escuela como cultura: experiencia, memoria, arqueologia, de Agustín Escolano Benito. A tradução foi feita por Heloísa Helena Pimenta Rocha (UNICAMP) e Vera Lucia Gaspar da Silva (UDESC). No Prefácio, Diana Vidal adverte o leitor que, pelo tema, pela escrita do autor e pelo enlevo da leitura, está perante um livro ‘inescapável’. Na Apresentação, as tradutoras previnem que, na migração entre as duas línguas, a tradução foi por elas pensada como interpretação e adaptação consciente, no esforço de “[…] compreender as reflexões do autor e torná-las compreensíveis” (Escolano Benito, 2017, p. 18).
O livro é composto por Introdução – A escola como cultura– e quatro capítulos: Aprender pela experiência; A práxis escolar como cultura; A escola como memória; Arqueologia da escola. Termina com Coda: cultura da escola, educação patrimonial e cidadania.
Qual é o objecto do livro que Agustín Escolano agora publica? Em face do título enunciado, através da comparação A escola como cultura, o que fica de facto resolvido no livro – o assunto escola ou o objecto cultura? E o que contém o subtítulo Experiência, memória e arqueologia, que relação há entre estes enunciados? Mais: Que relação entre o subtítulo e o título? O subtítulo reporta à escola ou à cultura? Ou aos dois termos, estabelecendo dialéctica através de ‘como’, ou seja, dando curso à comparação? Experiência, memória e arqueologia não são termos de igual natureza, nem de igual grandeza. Reportarão a um mesmo referente? A escola é parte da vida e foi experienciada ou mesmo experimentada pelos sujeitos, individuais ou colectivos. Daqui decorrem marcas que constituem memória – a experiência. A arqueologia reporta à materialidade e simbologia que ganham significado a partir de um olhar externo, deferido no tempo. A operação arqueológica permite a (re)significação de marcas que sejam apenas reminiscências.
A interpretação mais subtil para o título reside porventura na capacidade ardilosa e densa de Agustín Escolano em conciliar educação e história através da escola como cultura. A substância e o sentido da escola residem na cultura. Em cada geração, foi como cultura que a escola se substantivou, e foi como experiência que se tornou significativa. Para as gerações actuais, a escola é cultura e experiência, mas é também memória e arqueologia. Como refere o autor, a escola-instituição foi por diversas vezes questionada, mas a educação precisou (e precisa) da escola, como fica assinalado pela confluência de diferentes variações pedagógicas.
A história e a historiografia acautelaram essencialmente o institucional. Agustín Escolano entende, todavia, que é fundamental e significativo no plano educacionale de cidadania salvaguardar o cultural. A cultura escolar apresenta materialidade e historicidade, constituindo uma fenomenologia do educável e desafiando a uma hermenêutica como currículo e como representação. Dialogando com uma constelação de disciplinas é na etno-história que o autor encontra a ‘episteme’ e a matriz discursiva para o estudo que apresenta.
Pode aventar-se que este livro é um ensaio-manifesto. Agustín Escolano procura dar nota de uma genealogia e de uma evolução da cultura e da forma escolar, compostas por distintas dimensões processuais e orgânicas, e comportando descontinuidades, contextualizações, adaptações que não comprometeram o que frequentemente designa de ‘gramática da escola’ ou de ‘forma escolar’. Refere que esse historial está plasmado nas narrativas sobre experiências e modalidades orgânicas, nos restos materiais e arqueológicos sobre a realização escolar, nas memórias individuais e colectiva, enfim, na arqueologia como substância e método para a reconstituição e a interpretação do passado. Tal como a entende Escolano, a etno-história congrega estas distintas instâncias, devidamente apoiada na arqueologia, na fenomenologia e iluminada por um labor hermenêutico, aberto à complexidade e à interdisciplinaridade.
A escola como cultura: experiência, memória e arqueologia contém uma história da escola, mas é sobretudo uma argumentação sobre a articulação entre escola e cultura e sobre a (re)significação da história-memória da escola como cidadania.
Na Introdução, o autor procura justificar o título do livro focando-se no enunciado ‘a escola como cultura’. Incide fundamentalmente sobre as práticas, posto que são inerentes ao escolar e, em seu entender, não têm sido objecto de um labor apurado por parte da teoria educativa e da história. Tal vazio constata-se no que reporta aos fundamentos, mas torna-se sobretudo notório no que respeita à recepção, seja esse vazio alocado às instituições ou à mediação e adaptação de conteúdos e práticas por parte dos professores, ou seja, por fim, às práticas incorporadas e apropriadas enquanto pragmática da educação. O autor chama a si o ensejo de dar a conhecer como a práxis escolar se constituiu em cultura.Inerente à práxis, sua evolução e sua conceitualização, está uma praxeologia resultante de uma depuração e de uma espécie de darwinismo que intriga o autor. Se em cada momento a pragmática educativa foi um habitus, há que analisar a evolução semântica desta constante.
No primeiro capítulo ‘Aprender pela experiência’, Agustín Escolano coloca a inevitabilidade da inscrição espacial e temporal das práticas, mas admite também a linha de continuidade, sem o que não será possível uma racionalidade inerente à prática. Partindo da figura do professor, reforça a noção de experiência como contraponto à focalização externa. Recorrendo a Michel de Certeau, refere que as circunstâncias não actuam fora de um racional. A constituição da práxis em cultura e da cultura em experiência são inerentes ao escolar – “Como instituição social, a escola abriga entre seus muros situações e ações de copresença, que resultam em interações dinâmicas” (Escolano Benito, 2017, p. 77). A cultura escolar congrega aspectos vários, incluindo a dimensão corporativa e a grande parte das práticas escolares integram um “[…] regime de instituição” (Escolano Benito, 2017, p. 88). A cultura empírica da escola constitui uma ‘coalizão’ nomeadamente entre ideais, reformas educativas, ritos e normas, práticas experiências profissionais.
No segundo capítulo ‘A práxis escolar como cultura’, o autor procura inquirir em que medida a pedagogia como ‘razão prática’ poderá explicar ou governar a esfera empírica da educação, pois que, como disciplina formal e académica, tem permanecido associada aos sectores político-institucional. Nesse sentido, a cultura empírica afigura-se como ingénua e não científica, e o seu valor etnográfico reside no plano descritivo, a que foi sendo contraposta uma racionalidade burocrática. Numa perspectiva sócio-histórica, a escola é uma construção cultural complexa que seleciona, transmite e recria saberes, discursos e práticas assegurando uma estabilidade estrutural e mantendo uma lógica institucional. Mas, para Agustín Escolano, em articulação com a cultura empírica da escola desenvolveram-se duas outras culturas: “[…] uma que ensaiou interpretá-la e modelá-la com base nos saberes (cultura académica) e outra que intentou governá-la e controlá-la por meio dos dispositivos da burocracia (cultura política)” (Escolano Benito, 2017, p. 119). Na sequência, retoma vários contributos que convergem na centralidade da cultura empírica associada ao ofício docente, seja referindo-se-lhe, entre outros aspectos, como arte e ‘tato’/ prhónesis, seja referindo-se à formalidade escolar como gramática e ao recôndito da sala de aula como ‘caixa-negra’. Centra-se, por fim, no binómio hermenêutica/ experiência, associado à narratividade dos sujeitos, para sistematizar o que designa de etno-história da escola, cujas orientações metódicas resume a: estranhamento, intersubjectividade, descrição densa, triangulação, intertextualidade.
O capítulo 3, ‘A escola como memória’, permite ao autor glosar o que designa de hermeneutização das memórias – assim as dos professores, quanto as dos alunos. São diferentes quadros em que o material e o simbólico se cruzam, permitindo sistematizar o que Agustín Escolano designa de ‘padrões da cultura escolar’: atitudes, gestos, formas retóricas, formas de expressão matemática. “A escola foi das instituições culturais de maior impacto no mundo moderno” (Escolano Benito, 2017, p. 202), pelo que a memória escolar é interpretação e pode ser terapia. Hermeneutizar as memórias escolares é retomar as pautas antropológicas de pertença e é valorizar uma fonte de civilização.
Se toda a obra vai remetendo para o CEINCE – Centro Internacional de la Cultura Escolar – do qual Agustín Escolano é fundador-director –, o quarto capítulo, ‘Arqueologia da escola’, é um modo sábio e fecundo de apresentar, justificar e conferir valor patrimonial e significado educativo a um Centro de Cultura e Memória da Escola, na sua materialidade e na profunda razão de ser como lugar de história e antropologização da história, e como fonte de subjectivação. Repegando a arqueologia como desígnio, são ilustradas de modo singular as virtualidades do CEINCE.
Em modo de epílogo, o autor escreve ‘Coda – cultura da escola, educação patrimonial e cidadania’, na qual dialoga com a moderna museologia, buscando lugar, sentido e significado para a preservação do passado. Que fazer com os testemunhos do passado? Agustín Escolano, com legitimidade e com a propriedade que lhe assiste, não hesita em contestar a estreiteza da memória oficiosa da escola, que poderá servir objectivos de governabilidade da educação e até alguns ensejos patrimoniais, mas o Museu investe-se de novo sentido na medida em que combine o racional e o emocional, tornando possível uma educação patrimonial. A memória escolar é pertença de todos e a todos respeita.
Por onde viajam o pensamento e a escrita de Agustín Escolano? Como constrói o discurso, alimenta o texto, fundamenta o argumento? Que unidade no diverso? Que dialéctica? Ensaio, manifesto, narrativa? Originalidade, glosa, réplica?
Este livro é formado por textos que têm um mesmo quadro de fundo. Há referências de assunto e de autores que se repetem, dando a cada capítulo uma unidade. Mas há uma trama, uma unidade de conjunto, uma sequência e uma ordem que consignam o livro. O argumento evolui para a arqueologia como materialidade-testemunho e como ciência-tese. Preservar e hermeneutizar – eis dois verbos-chave para (re)significar a memória escolar. A história da escola é formada por permanência e mudança.
Agustín Escolano dialoga antes de mais consigo próprio, gerando enigmas, esboçando uma trama, fazendo evoluir uma tese. Os autores que revisita (e são muitos – porventura todos os que, domínio a domínio, podem ser tomados como principais) são interlocutores cujos enunciados servem o texto do autor, sem prevalências nem rebates desnecessários. São personagens de uma peça maior, quiçá interdisciplinar, que é a cultura escolar, ou melhor, a escola como cultura. Agustín Escolano escreve sem reservas. Referenciou os principais autores e compendiou os assuntos nucleares. Mas, sobretudo, escreve com a propriedade que lhe advém de uma tão ampla como aprofundada cultura erudita e pedagógica. Escreve com a soberania que lhe assiste enquanto senhor de uma materialidade e de uma cartografia representativas do institucional escolar, tal como foi sendo constituído, concretizado, globalizado desde a Antiguidade Clássica.
A escola como cultura: experiência, memória e arqueologia é fundamental e disso se apercebe o leitor desde a primeira página. Não é necessariamente um livro consensual, mas um bom mestre é-o enquanto senhor de uma verdade que serena e fomenta novas questões. Agustín Escolano é mestre-exímio. Assim o presente livro seja acolhido com as virtualidades que lhe cabem.
Justino Magalhães – Historiador de Educação. Professor Catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Investigador Colaborador do Centro de História da Universidade de Lisboa. E-mail: justinomagalhaes@ie.ulisboa.
Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália | Denise Rollemberg Cruz
É bastante perceptível o fascínio que a experiência nazifascista e a Segunda Guerra Mundial exercem no público – especializado ou não – de história no Brasil. Se os motivos para tal não cabem em uma resenha, vale ao menos mencionar que o amplo alcance tem seus bônus e ônus. Apesar de ser um contexto com ampla e consolidada bibliografia, em muitos espaços parecem persistir análises há muito relativizados pela historiografia acadêmica. Existe um claro embate narrativo que dificulta muito o estabelecimento desses discursos fora das universidades. E mesmo dentro delas.
É no sentido de contribuir para o rompimento dessa barreira que a obra Resistência: memória da ocupação nazista na França e Itália, fruto de pesquisa pós-doutoral de Denise Rollemberg da Cruz, se propõe a atuar. A autora, professora de História Contemporânea do Instituto de História e do programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF), tem a carreira bastante associada aos estudos sobre a ditadura militar brasileira, mas há algum tempo dedica-se também ao contexto europeu, em particular sobre os regimes autoritários da primeira metade do século XX. Existe um diálogo teórico basilar entre os eventos históricos que muito parece ter auxiliado a autora em suas reflexões: tratam-se de experiências traumáticas, que expõem indivíduos a situações-limite e colocam em questionamento projetos políticos que veiculam ideias de harmonia social. Mais do que isso, a historiografia está constantemente empenhada em “mexer no vespeiro” desses eventos, tão embrenhados no debate das relações entre memória e história nos dias atuais. Se a Europa é palco privilegiado do livro, ficam evidentes também as marcas da trajetória pregressa da autora nas linhas que o compõem.
A aposta de Rollemberg está, então, em promover uma discussão conceitual e uma abordagem metodológica que dê conta de exibir, nos casos francês e italiano, uma mostra material dessa tensão mnemônica relativa à ocupação nazista, sobretudo a partir dos discursos museológicos produzidos pelos estados em questão, esmerados em cristalizar determinadas abordagens sobre os eventos históricos que dão nome às instituições. Desde a apresentação, ela já nos apresenta um importante diagnóstico: foi a partir da glorificação da Resistência que começaram a surgir museus e memoriais da mesma (p.12). Importa destacar que a obra não versa apenas sobre o museu: um capítulo é dedicado a escrita epistolar, e o último, ainda que reflita sobre um museu, tem como eixo os usos da memória sobre um evento ocorrido na Itália. Trata-se, portanto, das relações entre história e memória.
O livro é dividido em cinco capítulos. O Capítulo 1 dedica-se ao debate teórico relativo à conceituação de “Resistência”2. Nele, fica evidente a complexidade do problema. Em cada uma das realidades analisadas – França, Itália e Alemanha – há um debate particular, e a mesma dificuldade em encontrar uma definição hegemônica. A fluidez polissêmica é o tom da questão, sempre mediada por interesses políticos e disputas discursivas. Se cada caso é um, parece à autora que as décadas de 1970 e 1980 foram comumente decisivas no sentido de serem o marco das transformações sociais que terminaram por acarretar no pensar sobre as Resistências. Distância temporal, acesso aos arquivos, interesses de geração, enfim, inúmeras circunstâncias propiciaram essa evidente mudança que, ao fim e ao cabo, irá acirrar as tensões memorialísticas sobre os eventos.
Na competente discussão historiográfica trazida pela historiadora, fica evidente uma espécie de fórmula para o desenrolar da reflexão conceitual em cada país: quanto mais autoritário o regime, mais elástico o conceito parece se tornar – e assim abraçar uma variedade ainda maior de comportamentos. Assim, para os franceses resistir é agir diante de um inimigo externo. Com os italianos, o debate se aprofunda, uma vez que uma questão se impõe: a resistência teria se dado em relação a Mussolini (então, desde a década de 1920) ou no contexto da capitulação da Itália, da ocupação alemã e da República de Saló (1943)? E no caso alemão, em que o país não foi invadido? Haveria espaço para resistir? O que seria resistir naquele contexto?
Há ainda outros imperativos que dialogam diretamente com cada realidade nacional. Por exemplo, aquilo que envolve a coletividade ou individualidade da agência. No caso francês, a ação é primariamente coletiva (ainda que algumas atitudes individuais sejam consideradas também atos de resistência), enquanto na Alemanha a individualidade se impõe. O mesmo contraste se observa em relação à legalidade: enquanto na França a ilegalidade é condição mandatória para o ato de resistir, na Alemanha os resistentes são encontrados dentro dos signos das leis de então (funcionários de Estado, generais e outros militares, por exemplo que, em suas atividades, conseguiram de alguma forma apoiar o combate ao nazismo). Aqui a escolha da autora em comparar as distintas experiências se mostra um grande acerto, pois fica evidente essa ocasionalidade que conforma o conceito. No Estado invadido pode haver essa associação com a coletividade porque essa – a princípio – é contrária à barbárie nazista3, enquanto no outro a resistência tem que ser individual porque a coletividade é o inimigo. Na primeira agir ilegalmente é enfrentar o autoritarismo; na segunda, é necessário buscar a partir da legalidade a prátia resistente.
À essa pequena amostra da complexidade do debate somamos as cores locais de cada caso analisado. O que cada autor (e fontes, nos capítulos seguintes) considera ser resistência. Isso também varia, e muito, ao longo do tempo e de acordo com as subjetividades e escolhas políticas. Rollemberg destaca a importância de trabalhos como os de Henri Michel na década de 1960 e de Robert Paxton na seguinte (p. 23-25) para promover o repensar sobre o papel da França e dos franceses na Segunda Guerra Mundial. Ao fim e ao cabo, a variante que torna a conceitualização de “resistência” tão difícil é justamente a vida humana, tão prenhe de inconsistências e desvios que marcam uma trajetória individual. Nas discussões analisadas pela historiadora, é crucial considerar o que Primo Levi chamou de “zona cinzenta”, que escancara a insuficiência da oposição “resistente” versus “colaborador”, como se somente existisse a possibilidade de ser um ou outro. O termo, como disse Levi em Os Afogados e os Sobreviventes (2004), refere-se a uma zona de contornos mal definidos, da qual bem e mal, culpa e inocência fundem-se nos comportamentos do campo, impedindo qualquer tentativa de racionalizar a experiência concentracionária. Extrapolar o uso do termo da experiência dos campos para as vivências em territórios ocupados ou governados pelos fascismos é, para essa historiografia, ser capaz de observar a multiplicidade de comportamentos e a imensa dificuldade em atingir o consenso. Rollemberg, nesse sentido, comenta que mais importante do que encontrar essa definição harmônica é observar justamente as tensões e limites do uso da palavra (p.67).
Importa, por fim, destacar nesse capítulo que a autora comenta também sobre outros conceitos que rodeiam o de resistência, como os de oposição, resiliência, dissensão, entre outros. Os tais múltiplos comportamentos que destacam a vida na zona cinzenta, repetimos, são difíceis de serem aceitos dentro das rédeas de uma definição.
Sem que esse debate se feche, ele ganha novos e intrincados contornos, quando confrontados diante da temporalidade e dos usos políticos do passado. Isso fica gritante ao final do capítulo, quando a historiadora nos atenta para uma importante tensão entre memória e história: há um evidente descolamento narrativo no que envolve a questão étnica e racial e a luta contra a extrema-direita nesse momento analisado. O aspecto racial dos fascismos não importava muito para a ação resistente4. Por outro lado, ele é crucial para o esforço de memória. Não foi o gatilho das resistências, mas é a tônica da lembrança sobre elas.
É com esse olhar que Rollemberg analisa os Museus e memoriais da Resistência no restante do livro. A parte 1, composta pelos capítulos 2 e 3, dedica-se ao caso francês. No capítulo 2, a autora enfoca um rico conjunto de cerca de 60 museus ao longo de todo o território nacional. Ao observar tão ampla gama de lugares de memória (e aqui devemos a Pierre Nora o aparato teórico para a discussão), a historiadora chega a algumas conclusões interessantes. Existem, é claro, especificidades para cada instituição, relativas a questões de acervo, iluminação, uso de som, recursos audiovisuais, a grandiloquência do local, a cenografia, entre outros aspectos. No entanto, também parece claro a ela um certo apego a determinados modelos. Charles de Gaulle e Jean Moulin, lideranças da Resistência (externa e interna) Francesa, são figuras onipresentes, que têm destacadas as suas ações heroicas durante o conflito, enquanto são deixados de lado aspectos que poderiam ser contraditórios (mesmo no Museu Jean Moulin, em Paris)5.
Em termos narrativos, visualiza a repetição daqueles lugares comuns que apostam na cronologia mais simples para tratar da ascensão da extrema direita no período entreguerras até o estopim do conflito mundial e a experiência concentracionária. Há um certo apagamento das regionalidades de cada museu em nome dessa narrativa única e da função pedagógica que lhes cabem (p.125). A autora observa que existem poucos relatos de sobreviventes de campos de trabalho nos museus, e de nenhum relativo aos colaboradores. Ora, isso seria escancarar as inconsistências, a zona cinzenta, e a participação ativa do estado francês no genocídio (p.122). Um desserviço ao esforço de pacificação do passado proposto pelos museus.
Aqui apresenta-se o argumento mais forte desse capítulo, que é justamente a percepção de que há uma sobreposição da memória em relação à história nas narrativas museológicas. Diz a autora:
Sendo os museus históricos – informativos ou comemorativos – lugares de memória, são por natureza do campo da memória, não da história. Em outras palavras, nasceram reféns da memória. A crítica, já existente em muitos museus da Resistência, encontra aí seus limites. Ela se realiza plenamente quando faz dos museus objeto da história. (p.97)
Justifica-se, assim, a relevância do estudo materializado no livro da autora. O museu possui a dupla função comemorativa e informativa. Precisa produzir conhecimento e provocar emoção. Em nome disso, escolhas são feitas, e silenciamentos promovidos sem muito pudor. A vocação maior do museu é a celebração, e não a crítica. Daí a escolha dos temas da perseguição e da deportação, mesmo que não tenham por muitas vezes sido a motivação primeira dos movimentos da Resistência celebrados no espaço museológico. Daí a renovação historiográfica que acompanha os estudos sobre o período desde a década de 1970 ser incorporada timidamente naqueles espaços de memória. Daí a potência de um discurso que valoriza um coletivo imaginado: nós resistentes enfrentamos ele (indivíduo) colaborador.
O terceiro capítulo dedica-se à análise da escrita epistolar numa situação extrema: indivíduos que, resistentes ou reféns, receberam o aviso de que seriam fuzilados. Diante da certeza da morte, dentro de poucas horas, vinha a última missão de resumir uma trajetória e enviar a última mensagem aos entes queridos em algumas linhas. O número de indivíduos que passou por essa experiência não foi desprezível: cerca de 4.020 pessoas (p.172).
Denise Rollemberg esmiúça a morfologia de um conjunto de centenas dessas cartas e observa que, da situação-limite nasce uma escrita-limite (p.182). Os autores, provenientes dos mais distintos grupos sociais, regiões e convicções políticas e religiosas recorrem, muitas vezes, a temáticas e argumentos semelhantes quando estão a se despedir da vida. Em geral, parece que prevalece a ideia do “bem morrer”: uma postura de tranquilidade em relação ao final de suas trajetórias. Claro que a autora leva em consideração que as cartas possuem o objetivo de tranquilizar parentes e companheiros, e por isso imprimir um tom de serenidade pode ser importante para aquelas pessoas. Além disso, não se pode desprezar que essas cartas passaram pela censura (seja alemã, seja francesa) antes de chegar aos destinatários. Outras que contivessem informações consideradas problemáticas jamais conheceriam o seu destino.
Outros apontamentos são dignos de menção. Reforçando a ideia presente no primeiro capítulo sobre a clivagem entre história e memória, ela observa que, no íntimo, o judaísmo não é a força motriz desses indivíduos. São raras as menções à rotina judaica, ainda que o elo com valores cristãos seja bastante presente (p.189). Isso, aliás, é um argumento interessante da autora, que observa a prevalência dos valores da família, religião e tradição nas cartas. Ora, a tríade é bastante próxima do lema da França de Vichy: trabalho, família, pátria (p.199). A ela, parece então que os valores dos condenados são bastante conservadores, ao ponto de se confundirem com aqueles dos colaboracionistas.
Se algo parece revolucionário à autora, é na questão dos condenados com suas esposas. Mesmo diante da pressão de uma sociedade católica e conservadora, quase sempre sugeriam que suas mulheres buscassem a felicidade em novos relacionamentos. Isso, talvez, esteja de acordo com aquilo que subjaz a esse tipo de escrita: as cartas de despedida são, no limite, cartas para si. São expressões da imagem que aquelas pessoas queriam deixar para a posteridade, como gostariam que fossem lembrados. É, de alguma forma, a curadoria de uma memória individual.
A Parte II do livro analisa o caso italiano. No capítulo 4, Rollemberg estuda dezesseis museus e suas construções memorialísticas. Convencionou-se no discurso museológico que a resistência no país teria início em 8 de setembro de 1943, quando do armistício italiano. Esses museus escrevem uma história da Itália até abril de 1945, quando termina a ocupação estrangeira do país. A escolha narrativa, então, fica clara: trata-se do combate contra a Alemanha, e não ao fascismo de Mussolini, que demandaria um recuo temporal maior. Dessa forma, também elencam indivíduos do partido fascista como heróis da Resistência nos museus e memoriais.
Ao mesmo tempo, há um sutil deslocamento temporal do antifascismo na Itália, como se ele fosse dominante desde a década de 1930, e não somente após a crise do regime de Mussolini depois de 1940. O esforço de silenciar o passado fascista é bem claro. É por isso, também, que os museus italianos, diferente dos franceses, apostam mais nas histórias locais em suas representações. É mais um artifício para afastar-se do coletivo, uma vez que o governo italiano era fascista ao início do conflito.
O caso mais curioso destacado pela autora nesse capítulo é o da Piazzale Loreto, em Milão, onde ocorreu a famosa efeméride na qual os corpos de Mussolini, sua amante Clara Petacci e outros fascistas foram pendurados num posto de gasolina e ficaram expostos para a população local. Da cena, restam pouco mais que vestígios. O posto não está lá, o matagal cobre o memorial existente no local… O passado embaraçoso foi sendo recalcado, e tentou-se imprimir, a partir da Resistência, a visão oposta, a do júbilo pela morte gloriosa, diretamente associada ao martírio cristão.
O capítulo final discorre sobre uma das grandes histórias da resistência italiana, a dos Sette Fratelli. Na região da Emilia-Romagna, em 28 de dezembro de 1943, sete irmãos, trabalhadores rurais, foram fuzilados. Faziam parte de uma família que, ali, fazia oposição ferrenha ao regime fascista (o irmão mais velho era do Partido Comunista) e, quando da Ocupação, auxiliava em ações clandestinas para proteger outros membros da oposição ao regime. Centenas de estrangeiros passaram pela fazenda da família e encontraram abrigo e proteção. Não poderia haver narrativa mais conveniente a um esforço de memória sobre a Resistência.
A autora destaca a potência dessa história familiar aos esforços de memória, e mapeia as variações narrativas sofridas pela mesma. O cortejo dos corpos, acompanhado por uma multidão, ganhou status de celebração da liberdade somente quatro anos depois de ocorrido. E foi em 1953, quando Ítalo Calvino escreveu dois textos sobre o acontecido – o que por si só já é uma amostra do alcance da história – ela parece se estabelecer no imaginário social, inspirando outras obras literárias, pinturas e o cinema, através de documentários e um filme. A casa da família, naturalmente, tornou-se um museu. Aqui, não parece haver espaço para a historiografia. Calvino comete um equívoco (intencional ou não), situando a formação do grupo resistente após o armistício e não no contexto anterior, quando de fato ocorreu, e é essa narrativa que se cristaliza. Uma vez mais, como diz Rollemberg, “a memória inventa o passado” (p.345).
Resistência parece cumprir uma dupla função no debate acadêmico brasileiro. Por um lado, é mais um expoente da hoje consolidada discussão acerca das relações entre história e memória, presente em parte relevante de teses e dissertações produzidas nos últimos anos. Traz à cena uma bibliografia mais ampla sobre um debate que nos tem sido tão caro. Ao mesmo tempo, esse panorama conceitual e metodológico propicia novas visões sobre os fascismos e sobre a guerra, que devem ser levadas em conta em novas publicações sobre o tema.
Notas
2. A história dos conceitos, como sabemos, ganhou bastante corpo sobretudo a partir dos estudos de Reinhart Koselleck. Lembremos com o autor (mesmo que não tenha sido citado por Rollemberg) da ideia de que um conceito é também um ato – uma vez que colabora com uma prática ou ação no tempo histórico, e não apenas o nomeia. Isso fica muito claro com o conceito de Resistência.
3. É muito importante destacar que aqui pensamos dentro da perspectiva das narrativas construídas sobre os eventos e que foram centrais nas discussões conceituais sobre a “Resistência”. Dizemos isso por conta da experiência colaboracionista francesa, encarnada na França de Vichy, que a autora também destaca e analisa em seu livro.
4. O antissemitismo, por exemplo, não fazia parte dos discursos e práticas políticas de Mussolini na Itália. Na França, a maioria dos movimentos que compôs a M.U.R. (Movimentos Unidos da Resistência) não tinha a luta racial como pauta.
5. Na própria apresentação do livro a autora destaca a homossexualidade de Jean Moulin, que não aparece em nenhuma narrativa museológica, já que o grande mártir da Resistência não poderia, dentro de uma perspectiva conservadora de sociedade, estar associado a esse aspecto de sua intimidade. Lembremos também da problemática presidência de De Gaulle no contexto pós-guerra, entre 1959 e 1969.
Jougi Guimarães Yamashita – Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense (UFF). Professor do Ensino Fundamental da Escola Municipal Albert Einstein-RJ. E-mail: jougihist@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3686-4500
CRUZ, Denise Rollemberg. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Ed. Alameda, 2016. Resenha de: YAMASHITA, Jougi Guimarães. As resistências à história nas narrativas museológicas francesas e italianas. Caminhos da História. Montes Claros, v. 23, n.1, p.118-124, jan./jun., 2018. Acessar publicação original [DR]
Dando tratos à bola: ensaios sobre futebol – FRANCO JÚNIOR (RBH)
FRANCO JÚNIOR, Hilário. Dando tratos à bola: ensaios sobre futebol. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 464p. Resenha de: HOLLANDA, Bernardo Buarque. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.38, n.77, jan./abr. 2018.
Dez anos após a sua entrada “em campo”, o historiador medievalista Hilário Franco Júnior, professor da Universidade de São Paulo, volta a oferecer ao público brasileiro um livro sobre futebol. Se em 2007 sua estreia no tema foi marcada por um trabalho de cunho sistemático, elaborado depois de longa maturação, Dando tratos à bola colige escritos esparsos do autor no último decênio. Parte deles é constituída de ensaios inéditos, enquanto a outra vem sendo publicada sob a forma de artigos em jornais de grande circulação e em periódicos científicos especializados.
É certo que a obra anterior apresentava um projeto mais ambicioso e completo. A dança dos deuses: futebol, sociedade, cultura propunha-se realizar uma macro e uma micro-História do mundo contemporâneo, com recortes longitudinais capazes de articular um Brasil “agrícola e mestiço, desigual e combinado” a uma Europa “industrial e colonialista, dividida e integrada”. Essas escalas e ordens de grandeza foram desenvolvidas sob uma perspectiva diacrônica, a cobrir um amplo painel histórico, que ia de meados do século XIX a princípios do século XXI. Em paralelo, o livro compreendia o esforço de examinar o futebol como metáfora dessa mesma contemporaneidade, a se valer de uma miríade de exemplos colhidos em cinco áreas de saber: a sociologia, a antropologia, a religião, a psicologia e a linguística.
Se a ambição e a completude do livro inaugural acedem aqui a textos pontuais, motivados por circunstâncias excepcionais, como a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, o resultado atualiza o acompanhamento que Franco Jr. faz de seu tema. A adoção do ensaio como gênero narrativo, que tantos frutos legou à tradição do pensamento social brasileiro e dos estudos histórico-literários, confere ao autor liberdade para transitar pelas temáticas mais díspares e pelas situações mais inusitadas suscitadas pela prática do futebol profissional ao redor do mundo.
A publicação de inéditos em formato ensaístico compõe uma nova totalidade, estruturada no livro em seis partes: “Copa do Mundo”; “Em torno da Copa de 2014”; “Identidade, memória, sociedade”; “Personagens do jogo”; “O jogo”; e “Observando o observador”. Essa disposição dá sentido ao modo como Hilário Franco Junior pensa o Brasil contemporâneo e o fenômeno futebolístico em dimensão global.
A abordagem do autor destaca-se por seu método de pesquisa e por seu processo de levantamento bibliográfico. Residente há muitos anos na França, sua bibliografia e seu material de consulta se diferenciam tanto dos estudos acadêmicos sobre o futebol no Brasil quanto dos escritos jornalísticos da imprensa esportiva local. Característica já presente no livro anterior, o acesso a obras de menor circulação no Brasil demarca um modo próprio de expor seus conhecimentos futebolísticos. O primeiro ponto a notar é a sua erudição, que possibilita trafegar com facilidade da história antiga à moderna, da estrutura à conjuntura, do conceito abstrato ao lance anódino de um jogo. Está-se diante de um historiador equipado de um arsenal de informações, muitas delas factuais e enciclopédicas, é bem verdade, mas que dão outro tipo de historicidade, de inteligibilidade e de concretude ao universo futebolístico.
A marca expositiva do historiador ampara-se em um tema-guia, seguido de um sem-número de casos e de exemplos extraídos de uma bibliografia que procura fugir ao crivo do território nacional. Desse ângulo, Franco Jr. procura enfrentar a tão decantada brasilidade, embora não considere neste caso que boa parte dessa crítica já venha sendo praticada, seja por parte da comunidade científica (Helal; Lovisolo; Soares, 2001), seja por parcela expressiva da crônica especializada (Kfouri, 2017; Tostão, 2016; Giorgetti, 2017).
Os livros, as revistas e os jornais que sustentam sua argumentação são na maioria estrangeiros, e poucos deles chegaram a circular no Brasil. Trata-se de referências que versam não apenas sobre futebol, mas também sobre as ciências humanas e até mesmo as ciências exatas. Consultadas diretamente em línguas alemã, francesa, espanhola, inglesa e italiana, as citações não constituem simples gesto de distinção e repercutem na fatura da obra, a pôr em prática exercícios de deslocamentos “de fora” e “para fora” do Brasil.
Com efeito, o autor confronta os renovados debates acerca da identidade nacional, supostamente encarnada na Seleção brasileira, e elabora uma crítica própria à alcunha “país do futebol”. Se a metáfora se desgastou ainda mais após os polêmicos megaeventos esportivos e a “humilhante” derrota por 7 a 1 para a seleção alemã nas semifinais do Mundial de 2014, a coletânea traz um ensaio originalmente publicado em 2013, em que a imagem era alvo de objeções por parte do autor, somando-se a autores como Helal, Soares e Lovisolo que, em 2001, já se referiam a essa “invenção” (Helal; Lovisolo; Soares, 2001). Longe de ser uma questão de ordem apenas conceitual, o argumento agrega números concretos e estatísticas atualizadas, constituindo-se a seu juízo um critério diferencial decisivo para demonstrar a impropriedade do seu uso nos dias de hoje. Malgrado a utilização desses dados quantitativos possa ser questionada como prova cabal por pesquisadores menos afeitos a tal método, o autor levanta uma série de informações contemporâneas sobre médias de público frequentador de estádios, números de praticantes, equipamentos disponíveis, audiência de canais televisivos e vendagem de periódicos esportivos no Brasil, entre inúmeras outras variáveis, para dar evidências de que o culto ao futebol no país é inferior em cada um desses quesitos quando comparados a outros países.
Outro traço metodológico caro ao presente livro se articula com o anterior pela capacidade de armazenamento de materiais extraídos de jornais e revistas de esporte internacionais. O banco de dados acumulado pelo autor conduz o leitor por tempos e espaços distintos, iluminando, com uma torrente, às vezes excessiva, de exemplos, personagens e competições, clubes e selecionados, eventos e cenários ignotos do mundo do futebol.
Um gosto um tanto exagerado do autor pelo anedótico leva-o a dedicar muitas páginas à identificação de situações pitorescas sobre o goleiro das Índias Orientais Holandesas na Copa de 1938, sobre um jogador islandês que tomou parte na excursão do Arsenal de Londres ao Brasil, em 1949, ou ainda sobre a introdução de traves cilíndricas no Maracanã dos anos 1960. Como já frisado, tais informações só são possíveis porquanto se mobiliza uma profusão de fontes, que vão do periódico francês L’Auto à revista italiana Guerin Sportivo, do jornal britânico The Sunday Mirror ao periódico austríaco Kurier, do diário português A Bola ao semanário inglês World Soccer, entre muitos outros meios informativos a que não se tem acesso costumeiro no Brasil.
O trânsito entre “o interdisciplinar da universidade e o unidirecional do jornalismo” permite a Hilário Franco Júnior enfrentar em igual proporção as questões internas (técnicas e táticas) e externas (sociais, culturais e políticas) do futebol. Se os pesquisadores acadêmicos foram criticados por José Miguel Wisnik em Veneno remédio (Wisnik, 2007), por quase nunca tratarem da dinâmica do jogo propriamente dito, tal reparo não se pode imputar a Dando tratos à bola.
Em pelo menos três instigantes capítulos – “O treinador revolucionário”, “A geometria variável das táticas” e “O tabuleiro do futebol” –, o autor demonstra conhecimento específico de toda a evolução da linguagem futebolística, das regras que a codificaram ao longo do tempo, da racionalidade associada às estratégias de ocupação dos espaços e das infindáveis análises combinatórias, franqueadas pelos sortilégios do acaso no jogo.
Em brevíssimas linhas, eis os traços de um livro dedicado à longa duração das relações entre futebol e cultura, com interesse acadêmico, mas também capaz de satisfazer um curioso e renitente boleiro, cronista ou antiquarista esportivo. Espelho da sociedade, ao mesmo tempo cristalino e dissimulado, o futebol é aqui tomado como vetor de fenômenos estruturais e conjunturais, que permitem ao autor pensar temas transversais como a guerra, a migração, o racismo, a geopolítica, a violência, a decadência e a rivalidade, entre inúmeros outros. Quanto à sociedade brasileira, a obra traz um balanço e um retrato em nada complacentes do Brasil do século XXI, na ressaca do “Mineirazo”, do “Maracanazo social” e de tudo o mais que conturba a intrincada conjuntura política dos últimos anos.
Referências
GIORGETTI, Ugo. Dando tratos à bola. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 nov. 2017. [ Links ]
HELAL, Ronaldo; LOVISOLO, Hugo; SOARES, Antonio Jorge. A invenção do país do futebol: mídia, raça e idolatria. Rio de Janeiro: Mauad, 2001. [ Links ]
KFOURI, Juca. Confesso que perdi: memórias. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. [ Links ]
TOSTÃO. Tempos vividos, sonhados e perdidos: um olhar sobre o futebol. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. [ Links ]
WISNIK, José Miguel. Veneno remédio: o futebol e o Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. [ Links ]
Bernardo Buarque Hollanda – Professor-pesquisador da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV). Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Fundação Getúlio Vargas, Escola de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: bernardobuarque@gmail.com
[IF]
Los pergaminos de la memoria. El genocidio indígena de la Patagonia austral (1880-1920) | Juan Pablo Riveros, Pavel Oyarzún e Christian Formoso Lorena López Torres
¿Qué puede hacer el arte frente a un genocidio? No es documentarlo, porque el arte va más allá de la historia y del periodismo. Es volver los muertos a la vida. El libro de Lorena López, Los pergaminos de la memoria (2017) analiza la literatura magallánica desde ese acto literario de darle vida a los muertos que vivieron en la Patagonia y sus alrededores. Su tesis es que la poesía del extremo sur del mundo dialoga con el genocidio de los pueblos indígenas selk’nam y kawésqar fundamentalmente. Para ello elige un corpus de tres poetas: Juan Pablo Riveros, Pavel Oyarzún y Christian Formoso, que conforman tres promociones de escritores y por ello permiten recorrer la historia desde la década de 1980 al periodo del 2000.
La categoría teórica central del libro es el genocidio, concepto del cual hace una genealogía, siguiendo un estilo foucoultiano de perspectiva que indaga sobre los orígenes del concepto y sus usos disciplinarios en el área de la jurisprudencia. A partir de allí, marca el inicio del concepto en 1933 como una consecuencia de las masacres causadas por la I Guerra Mundial a los sirios, griegos y armenios. El uso de la palabra genocidio lo adjudica al jurista judío polaco Raphael Lenkin, con quien la Dra. López comparte un punto de vista y que la llevará a alejarse del concepto de etnocidio. Las acciones que permitirían hablar de genocidio son cinco: 1)“Matanza de miembros de un grupo; 2) Lesión a la integridad física o mental de los miembros de un grupo; 3) Sometimiento del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; 4) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; 5) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo” (p. 33). Leia Mais
Patrimônios de influência portuguesa: modos de olhar – ROSSA; RIBEIRO (Tempo)
ROSSA, Walter; RIBEIRO, Margarida Calafate. Patrimônios de influência portuguesa: modos de olhar. Rio de Janeiro: EDUFF, 2015. 533p.p. Resenha de: CHUVA, Márcia. Presença portuguesa, patrimônios e influências plurais. Tempo v.23, n.3 Niterói Spt./Dec.2017.
Patrimônios de influência portuguesa: modos de olhar é uma coletânea com edição simultânea no Brasil e em Portugal, organizada por Walter Rossa e Margarida Calafate Ribeiro, que compartilham também a coordenação do Programa de Doutoramento em Patrimônios de Influência Portuguesa. Escrever sobre esse livro é também trazer, ainda que de forma indireta, esse programa interdisciplinar, interinstitucional e transnacional, de complexa engenharia, como já se nota na apresentação do livro, nas palavras de seus organizadores. Sediado na Universidade de Coimbra, o curso tem regime de cotutela com universidades na Europa (Universidade do Algarve; Universidade de Bolonha; Universidade Paris Ouest Nanterre La Défense), no Brasil (Universidade Federal Fluminense) e em Moçambique (Universidade Eduardo Mondlane), além da colaboração de instituições em Angola e Cabo Verde. A obra reúne contribuições de especialistas envolvidos com esse projeto, profissionais que enfrentam as controvérsias teóricas de um campo em construção – o campo do patrimônio -, considerando as singularidades desses percursos em seus países.
A centralidade portuguesa, que parece se esboçar logo no título da obra (e do programa) Patrimônios de influência portuguesa: modos de olhar, acaba por desconstruir-se, atualiza-se e se refaz passo a passo, no decorrer dos capítulos, colocando em evidência os desconfortos dessa posição, remanejando pontos de vista, perspectivas, pontos de fuga. Seus organizadores partem de uma constatação relacional valiosa, que se refere à impossibilidade de falar com autoridade e propriedade sobre o patrimônio do outro, mas também à inutilidade de pensar o meu isoladamente. Entendo que tal constatação é geradora dos desafios dessa obra, ao conduzir as discussões do patrimônio para o eixo dos debates do colonialismo e do pós-colonialismo, motivos suficientes para dar pertinência e relevância a ela. É essa, sem dúvida, sua principal contribuição no Brasil, pois tal abordagem no campo do patrimônio ainda tem caráter de novidade por aqui.
Uma segunda constatação vai delinear as singularidades dessa obra: subsistem desconhecimentos e diferenças sensíveis nas práticas de atuação, na teorização e nas normativas, entre os universos das culturas latinas e anglo-saxônicas, apontando os descompassos em termos internacionais no campo do patrimônio. A obra pretende marcar posição nesse debate, como lugar alternativo, em termos teóricos, à hegemonia anglo-saxônica, que se dá em escala europeia e se impõe inclusive em função de sua capacidade editorial. A ambição dessa publicação é, pois, ampliar e transformar perspectivas e reflexões por meio de um debate que se estabelece não apenas pela ampliação do universo empírico de casos distintos, como também por caminhos teóricos alternativos, focados a partir da América do Sul, Ásia e África. Esses caminhos recuperam, como dizem seus organizadores, a ligação umbilical dos estudos culturais com os estudos pós-coloniais, justamente o ponto no qual se distanciam do universo acadêmico anglo-saxônico. Não por acaso, e curiosamente, a mesma frase de Salman Rushdie aparece citada por dois autores: The empire writes back to the centre. Parece mesmo ser indício da predominância dos estudos culturais na operacionalização de análises tão diversificadas, nas quais os conceitos de discurso (como dispositivo que engloba o dito e o não dito), em Michel Foucault, e de tradução, em Stuart Hall (que descreve identidades em diáspora, as quais intersectam as fronteiras nacionais), ou ainda como Homi Bhabha (que toma o processo de descolonização como tradução), atravessam fartamente as análises aqui presentes, apresentando-se inclusive em alguns títulos de capítulos. Isso não significa, de modo algum, uma abordagem teórica homogênea ao longo dos 18 capítulos do livro. Ao contrário, revela uma orientação teórica compartilhada pela maioria dos autores, que conecta abordagens e evita a fragmentação da obra em uma enxurrada de problemas, objetos e contextos bastante diferentes que caracterizam os estudos do patrimônio. Assim, o patrimônio relativamente circunscrito, tomado como discurso e tradução, é apresentado estrategicamente como um conceito-ação, ancorado fortemente na história para não resvalar em perspectivas estanques ou essencialistas.
Por sua vez, língua e território são conceitos que fazem o chão dessa obra de empreitada. Esses conceitos são tradicionais nos estudos nacionais e foram, a um só tempo, aqui reconcebidos e reconectados como pertencimento e poder. A língua tirana e colonial pode ser, por outra via, apenas rastro, traço, resto; ou ainda permanência, lugar de resistência, mobilidade. O território, de aparência tão concreta, pode tornar-se fluido, desmanchar-se em múltiplos fragmentos. Essas tensões constituintes dos conceitos de língua e território configuram o próprio campo do patrimônio e são o fio condutor nos processos de construção de identidades e de patrimonialização aqui analisados. À medida que se avança na leitura dos capítulos, o patrimônio se revela um conceito bastante largo, como aquilo que agrega comunidades, mas também é fruto de política e de poder: por isso mesmo usado no plural, patrimônios.
A estrutura do livro, com duas partes interseccionadas por uma entrevista, sugere que sua leitura tenha início pelos conceitos contextualizados para, em seguida, avançar sobre dispositivos variados, em uma abordagem histórica e objetivada. Na primeira parte, são trabalhados conceitos tradicionalmente presentes no campo do patrimônio, como memória e identidade, somados em pares ou tríades, a outros inescapáveis, como poder e herança, e seguem configurando o universo de questões para (re)desenhar esse campo no âmbito dos debates pós-coloniais. Questões como transnacionalização da memória – mobilidades, migrações, diásporas e pós-memórias (que seriam o modo com que as segundas gerações lidam com as experiências traumáticas que ocorreram antes do seu nascimento, as quais, no entanto, lhes foram transmitidas de modo tão profundo a ponto de se constituírem em memórias suas) – introduzem o debate sobre uma “pós-memória pública”, sugerida por Antonio Sousa Ribeiro. Seis capítulos circunscrevem um expressivo conjunto de conceitos desfiados, desafiados e enfrentados por seus autores, em contextos para ler e pensar a partir de uma perspectiva pós-colonial. Compreende-se a necessidade de uma parte teórica, não por uma instabilidade conceitual advinda, pura e simplesmente, da jovem/relativamente recente configuração do campo, mas sim pelo desafio que é intrínseco a seu próprio projeto: patrimônios de influência portuguesa. A escolha pelo conceito de influência – entre outras tantas possibilidades, como origem ou matriz – apresenta-se para expressar a orientação teórica e política que intitula a obra (e o doutoramento). O conceito de influência é desenvolvido com desenvoltura por Renata Araújo como o melhor caminho a tomar, até mesmo por sua ambiguidade e fluidez, pois, embora também traga riscos, ficamos convencidos de que o maior deles talvez seja, em suas palavras, o “da sublimação ou branqueamento dos processos, que há que acautelar”. É justamente por causa desse risco que uma pergunta de imediato se apresenta: afinal, quem tem legitimidade e meios para falar disso?
Tentativas de respostas a essa pergunta aparecem na parte 2 – “Discursos e percursos” -, composta por 12 capítulos. Seus autores têm lugares de fala variados, desenham objetos de investigação que são também fontes e sujeitos de narrativas. Tais autores buscam, com mais ou menos familiaridade, aproximar-se de problemas postos em diferentes circunstâncias no campo de ação das políticas, ou de investigação do patrimônio. É nessa parte que as distintas narrativas disciplinares se apresentam com maior clareza, pelas abordagens, temas ou fontes trazidas para a investigação. Ali também estão à mostra processos de pesquisa vivenciados a partir das próprias experiências pessoais de construção de identidade em um mundo adverso, onde, a partir da percepção do pequeno gesto de “olhar para baixo”, descortina-se a possibilidade libertadora do ser e do saber, conjugados, tal como trabalhado por Graça dos Santos.
Cinema, desenho, planta ou cartografia, arquitetura, fotografia e espaço urbano são patrimônios expressos em diferentes linguagens aqui capturadas, ora como fontes, ora como objetos de investigação. Urge a aproximação com os debates da história pública, a fim de abrir para a compreensão do conceito em construção de fotografia pública, lançado por Ana Maria Mauad, ou do já referido pós-memória pública, ambos aqui tangenciados. Ainda que essa obra não tenha se proposto enfrentar tal debate, o leitor pode sentir-se provocado a estabelecer algumas conexões, tendo em vista que a temática dos usos públicos da história, por meio dessas diferentes linguagens, tem levado historiadores e cientistas sociais em geral a se interrogarem sobre suas próprias práticas e os efeitos políticos delas. Assim provocada, senti a ausência, entre os autores dessa obra, de agentes do campo do patrimônio, para promover diálogos entre mundos ainda apartados e intelectuais com lugares de fala distintos. Esses profissionais têm muito a dizer e premem por esse debate.
Na interseção das duas partes, encontra-se uma entrevista com o reconhecido pensador português Eduardo Lourenço, que oferece os indícios das expectativas que o livro pode gerar ao conduzir um claro entendimento, em associação: a creoulização da língua portuguesa foi obra do acaso e da ganância; e “influência”, categoria aparentemente problemática que nomeia o livro, difere de cópia – assunto caro ao campo do patrimônio, pois envolve a desconstrução do mito da autenticidade – e se apresenta de forma promissora para a reflexão sobre patrimônios, no âmbito dos estudos pós-coloniais. Por isso, talvez, essa entrevista seja um bom ponto de partida para a leitura da obra.
Trata-se de uma obra densa, e seus organizadores e autores não parecem ter se preocupado em torná-la de digestão fácil ou rápida; mostram-se autores de um conhecimento produzido na base do desconforto e da inadequação, dos incômodos acerca da “situação colonial”. Nessa condição, estabelecem conexões entre campos de conhecimento e disciplinas diversas, trazendo suas contribuições. Destaco aqui a forte presença dos estudos literários, que são apresentados no capítulo de Margarida Calafate Ribeiro, em excelente panorama de suas conexões com o debate pós-colonial. A autora sublinha que a interculturalidade (interpretação cultural resultante do processo colonial) não pode ser compreendida sem ter em conta as relações de poder inerentes à “situação colonial”, assim pensada por Balandier, em 1951, e à “situação pós-colonial”, como tratado por Elikia M’Bokolo. O mesmo raciocínio vale para compreender os processos de descolonização, não como rejeição ou aceitação do patrimônio atribuído pelo ex-colonizador, mas como um processo de tradução de intensidades e modos diversos.
A intenção de ampliação de universos de conhecimento e ruptura de fronteiras disciplinares rígidas pode ter sido motivo para um afastamento de alguns autores dos debates relativos especificamente às políticas de salvaguarda e proteção de bens culturais que configuram parte expressiva das reflexões no campo do patrimônio na atualidade. Parece tratar-se de um esforço legítimo de integrar essa temática ao escopo de problemas teóricos e historiográficos mais amplos. Contudo, sempre se corre o risco de perder o esforço de algumas décadas de circunscrição de um aparato metodológico no campo das ciências sociais, construído para lidar com os novos objetos teóricos advindos desse foro de ação política – o que poderia vir a diluir as especificidades do campo em temáticas históricas das quais faz parte, mas não se confunde com elas. Os autores são grandes especialistas em suas próprias áreas temáticas, neófitos que buscaram conectar-se com reflexões próprias do campo do patrimônio. Por isso mesmo, alguns capítulos brilhantes ganham maior inteligibilidade se lidos em continuidade, como as lições de história sobre colonialismos e pós-colonialismos, de Miguel Bandeira Jerónimo e Francisco Bethencourt; ou as reflexões sobre o ofício do historiador, posto em cena por meio do debate historiográfico sobre territórios em rede, que reorienta a compreensão sobre eurocentrismo e protagonismo de agentes locais, trabalhado por Maria Fernanda Bicalho, e a reflexão de Luís Filipe Oliveira sobre o lugar dos arquivos como espaço de poder sobre o passado e a memória. Esses e outros diálogos entre autores demonstram a organicidade da obra, ficando a cargo do leitor estabelecer as inúmeras correlações entre eles.
Por fim, um mapeamento institucional e disciplinar dos autores evidencia seu locus de fala/ação: acadêmico, europeu e português. Trata-se de características relevantes a serem consideradas para que se compreenda a obra: são 18 capítulos de especialistas com formações nas áreas de letras, história, arquitetura, história da arte, antropologia, comunicação e teatro. A diversidade institucional dos autores aponta para um predomínio português e europeu, seguido de instituições brasileiras e de uma instituição moçambicana. Um olhar mais detido aponta evidências sobre seu caráter interdisciplinar, com predomínio de uma formação teórica ligada aos estudos literários associados à perspectiva histórica (bem aos moldes dos estudos culturais). Essa especificidade confere o tom geral da obra e a distingue da produção especializada na temática do patrimônio no Brasil, em que predominam estudos nos campos da antropologia e da arquitetura, presentes em minoria nesse livro.
É possível afirmar que os estudos brasileiros encontram-se bastante amadurecidos no que concerne às reflexões sobre políticas institucionais de memória e patrimônio, sustentadas por profissionais com larga experiência, que atuam como agentes ou pesquisadores do campo. Por isso mesmo, para ser compreendida, essa obra nos obriga a deslocamentos, mudanças de ênfases e perspectivas, uma vez que aproxima a temática do patrimônio do lugar de formulação de alternativas emancipadoras à situação pós-colonial, pensada em seu sentido mais amplo, como uma fase a ser superada, e não um modo imutável de estar no mundo. Daí a importância de sua publicação no Brasil.
Márcia Chuva – Departamento de História, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) – Rio de Janeiro – Brasil. E-mail: marciachuva@gmail.com.
Informação, repressão e memória / Marcília Gama Silva
Entre os anos de 2012 e 2014, com a criação de diversas comissões da verdade no Brasil e próximo à passagem dos cinquenta anos do golpe civil-militar de abril de 1964, as discussões a respeito da derrubada do presidente João Goulart e do regime autoritário que se seguiu cresceram de maneira considerável, fomentando a realização de audiências públicas, reportagens especiais, seminários, documentários, filmes e, principalmente, novas e ricas produções bibliográficas. Uma destas produções, por exemplo, foi o livro da historiadora Marcília Gama da Silva, Informação, repressão e memória: a construção do estado de exceção no Brasil na perspectiva do DOPS-PE (1964-1985), de 2014.
Fruto de sua tese de doutorado, defendida, em 2007, no Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal de Pernambuco, o livro, que tem uma agradabilíssima escrita, teve como foco estudar a “rede de informações” instalada, em Pernambuco, durante o regime militar (1964-1985), tomando como base o intercâmbio informacional criado entre o Departamento de Ordem Política e Social de Pernambuco (DOPS-PE) e os demais órgãos de informação em nível regional e nacional.
Ao se dedicar à questão da “espionagem/monitoramento/vigilância”, Marcília Gama se associou a um tema que, dentro da historiografia brasileira, tem crescido, qualitativa e quantitativamente, durante os últimos anos. O interesse por essa temática remonta à metade da década de 1980, quando importantes jornalistas lançaram sólidas obras, desnudando a face vil da comunidade de informações. Na década de 1990, uma nova contribuição ao tema foi dada com o lançamento de uma trilogia pela CPDOC da Fundação Getúlio Vargas (FGV), na qual os próprios militares expunham diretamente opiniões, pontos de vista, críticas ou elogios acerca de sua atuação no exercício do poder. Nos anos 2000, o tema teve uma nova alavancada com a publicação de centenas de artigos em revistas especializadas e a produção de riquíssimos trabalhos acadêmicos.
O estudo de Marcília Gama, portanto, ao tratar da questão do monitoramento feito pela ditadura, não apenas complementa as obras clássicas sobre o tema, mas, principalmente, por seu recorte espacial local e pela vasta documentação apresentada, avança no cerne da questão, trazendo à tona as nefastas atividades de informações produzidas pela ditadura em Pernambuco. Atividades que, além de levianas e fincadas no preconceito e na ignorância, eram conduzidas pela suspeição universalizada, ou seja, sob o lema da “inculpação”, já que partia da pressuposição de que todos poderiam ser subversivos, até que provassem o contrário.
O livro de Marcília é composto por três capítulos, ao longo dos quais se buscou refutar a tese de que as atividades de informação no Brasil eram precárias ou amadoras. Marcília procurou mostrar que longe de um amaradorismo, as atividades de informações faziam parte de uma complexa rede de especialistas que tudo buscava anotar, captar, ouvir, enxergar e arquivar. O grande desejo da comunidade de informações sempre foi, na verdade, o de ser onipresente. Para conseguir a tão sonhada vigilância total da população, a ditadura, por exemplo, contratou e/ou deslocou de outros órgãos centenas de agentes e peritos, utilizou centenas de agentes infiltrados nas organizações clandestinas e nos movimentos sociais, além de instigar, cotidianamente, considerável parcela da população a colaborar com as atrocidades cometidas pelo regime.
Uma das primeiras preocupações de Marcília foi mostrar como a questão das informações passou a ocupar um lugar estratégico dentro da ditadura, ou seja, como a extensa e dinâmica rede de informações serviu de base para a manutenção do próprio regime e de seu aparato repressivo. No primeiro capítulo da obra, ao analisar a conjuntura do pré-golpe de 1964, Marcília demonstrou que não é afeita a modismos historiográficos e ao recente “revisionismo historiográfico” que vem sendo denunciado nos últimos tempos, entre outros, pelos professores Caio Navarro de Toledo e Renato Lemos. E isto é um ponto digno de ser ressaltado, especialmente no atual momento historiográfico que apresenta uma notável relativização de certos eventos e agentes históricos.
Retomando análises clássicas de autores como René Dreifuss, Maria Helena Moreira Alves, José Comblin e Caio Navarro de Toledo (hoje, esquecidas ou descartadas por vários acadêmicos), Marcília apontou a atuação do “complexo IPES-IBAD” na desestabilização do governo João Goulart e, principalmente, o importante papel que a ESG desempenhou, durante os anos 60, como núcleo formador de opiniões, de visão de sociedade e de comportamento, através dos discursos proferidos, das palestras e cursos ministrados por civis e militares sobre a Doutrina de Segurança Nacional.
É de suma importância ressaltar que embora o livro de Marcília possa ajudar a entender a lógica e o modus operandi dos órgãos de segurança em Pernambuco, o foco da autora não foi o estudo da estrutura da repressão tout court, mas sim o desenvolvimento da complexa “rede de informações” montada pela ditadura nesse estado. A sua ideia foi enfatizar as rotinas policiais de investigação, mostrar as estratégias de vigilância e identificar os discursos policiais produzidos a respeito de alguns grupos, tais como os camponeses, estudantes e grupos de luta armada, que eram taxados de “comunistas”, “subversivos” e “perigosos” à ordem política e social do país. E tal escolha se deu justamente porque a autora entendeu que os conceitos “informação” e “repressão”, embora conexos, tinham objetivos e atuações diferentes dentro do regime.
Em outras palavras, apesar de absolutamente relacionadas, as atividades de informações (espionagem) e as de segurança (repressão) eram normatizadas, coordenadas e executadas em esferas próprias. Os órgãos de informação trabalhavam na busca, coleta, análise e “pescagem” da informação para alimentar os Inquéritos Policiais Militares, enquanto os órgãos de segurança atuavam diretamente no “estouro” de aparelhos, na prisão, nos interrogatórios, no combate direto ao inimigo.
A discussão sobre o “auxílio” do governo norte-americano para a montagem, robustecimento, atualização e modernização da polícia política e técnico-científica, em Pernambuco, no início da década de 1960, foi outro grande trunfo trazido por Marcília Gama para o conhecimento da nossa recente história política. Ela mostrou que Pernambuco – visto como um dos principais focos de comunismo e subversão do país – recebeu altas somas de dinheiro, recursos (transportes, equipamentos de escuta e telefonia etc.) e inúmeros cursos, no país e no exterior, destinados ao aperfeiçoamento de agentes públicos às atividades de informação e repressão. Para a autora, esse apoio financeiro e técnico foi completamente minado com a posse do governador Miguel Arraes, em janeiro de 1963, que desmontou o poderoso “programa de auxílio americano” chamado Ponto IV, gerando forte descontentamento por parte dos policiais estaduais e dos EUA. Com a deposição de Arraes em abril de 64, os acordos foram retomados, tendo a USAID fornecido, já no início de 1965, despesas de viagens e estadias para que técnicos americanos ministrassem “cursos de aperfeiçoamento” a policiais e gestores estaduais.
Em diversas passagens da obra, Marcília analisou com riqueza de detalhes, sobretudo por intermédio de excelentes diagramas, tabelas e organogramas, a superestrutura da polícia política em Pernambuco. Convém aqui ressaltar que a polícia política pernambucana não foi montada com o advento do golpe de 1964. Embora aperfeiçoada durante o regime militar, tal polícia foi montada ainda na década de 1930, através da Lei nº 71, de 23 de dezembro de 1935, com a clara finalidade de coibir o avanço do comunismo, cuja atuação era vista como grande ameaça à ordem, sobretudo após o levante comunista de novembro do mesmo ano, ocorrido em Natal, no Recife e no Rio de Janeiro. Seis segmentos passaram então a ser vigiados de perto pela recém-criada Delegacia de Ordem Política e Social de Pernambuco (DOPS): a imprensa, as entidades de assistência social (incluindo os sindicatos), determinadas lideranças; os partidos políticos e associações; a zona urbana (indústria, comércio e empresas) e a zona rural (os camponeses).
Em 1961, a Delegacia foi transformada em “Departamento de Ordem Política e Social (DOPS)”, aumentando a vigilância e a repressão aos trabalhadores urbanos e rurais durante o governo Cid Sampaio (1959-1962). Essa “modernização” da estrutura policial atendeu à necessidade de aperfeiçoar a máquina estatal para o combate das ações consideradas “subversivas” (manifestações, protestos, greves, passeatas, pichações etc). Os corriqueiros abusos cometidos pela polícia estadual só foram contidos, de fato, com a posse de Miguel Arraes no início de 1963.
Contudo, com o advento do golpe de 64, os abusos foram retomados e intensificados pelo DOPS. Com a deflagração do golpe iniciou-se uma fase de puro ódio, uma verdadeira caça às bruxas. Somente nos primeiros dias de abril de 1964, quase duas mil pessoas foram presas em Pernambuco. Em milhares de casos, as prisões políticas não tinham formalidade legal. Entre as prisões, havia centenas de detenções por desavenças pessoais. Naquele contexto, nas águas da perseguição política, tudo era válido.
Nos limites desta resenha, importa valorizar a riqueza do trabalho de Marcília Gama e a sua contribuição para o conhecimento da polícia política pernambucana e das ações (legais e ilegais) da comunidade de informações, suas formas de atuação, a cadeia de comando, sua organização e funcionamento. No entanto, não poderia aqui de deixar de mencionar alguns problemas que permaneceram na obra. O primeiro, a meu ver, é a utilização da expressão “regime civil-militar”. A autora faz uso desse conceito sem problematizá-lo. É importante destacar que há, atualmente, uma rica discussão historiográfica sobre o caráter civil ou não do regime.
O segundo problema é a interpretação do Ato Institucional nº 5 (AI-5) como um “golpe dentro do golpe”. Na verdade, quando usamos essa expressão, muitas vezes, estamos refletindo a própria leitura feita pela “linha dura” a respeito do regime. Entre os anos de 1964 e 1968, o que grande parte dos meios de comunicação e do oficialato então denominava de “linha dura” ou de “força autônoma dentro das Forças Armadas” (autodeclarada a verdadeira guardiã dos princípios da “revolução”) foi se constituindo como um grupo de pressão muito eficaz e conquistando, paulatinamente, consideráveis espaços de poder no interior do governo. A caminhada e a evolução da presença desse grupo são essenciais para entender diversos episódios do regime, pois evidencia que o projeto repressivo baseado numa dura “operação limpeza” estava presente desde os primeiros momentos do golpe de 64. Neste sentido, o AI-5 deve ser entendido como o amadurecimento de um processo que se iniciara muito antes, e não uma decorrência dos episódios de 1968, diferentemente da tese que sustenta a metáfora do “golpe dentro do golpe”, segundo a qual o AI-5 iniciou uma fase completamente distinta da anterior.
O terceiro problema identificado na obra de Marcília é a larga utilização de expressões como “populismo”, “democracia populista”, “colapso do estado populista implantado por Vargas”, sem as devidas ponderações e críticas que esses conceitos certamente requisitam. Não vou aqui entrar no mérito da discussão sobre a utilização ou não do conceito de “populismo”, mas considero que Marcília deveria indicar ao seu leitor o aporte teórico-metodológico que estaria orientando os seus estudos.
Outra crítica que lanço ao trabalho da autora é a falta de discussão sobre a relativa diminuição de poder dos DOPSs após a criação e fortalecimento, no final da década de 1960 e início de 1970, de outros órgãos de informações no país (a exemplo do CIE, CISA e CENIMAR). Apesar da alta complexificação da estrutura do DOPS, o órgão passou a perder espaços de poder, ao longo dos anos 70, nas atividades de investigação e repressão política. A Doutrina de Segurança Nacional estabeleceu como seus órgãos centrais o recém-criado SNI e os órgãos de inteligência militares. Elaborando estratégias, produzindo informações e centralizando os informes estes órgãos eram, indubitavelmente, os agentes mais categorizados da repressão. O processamento e a elaboração das estratégias e “informações” estavam confiados aos órgãos centrais (SNI e agências militares); cabia ao DOPS, na maioria dos casos, municiá-los de “informes”.
Por fim – e talvez seja o mais problema sério da obra –, há o argumento de Marcília de que a ditadura encerrou-se no ano de 1979. Esta concepção, que tem os historiadores Daniel Aarão Reis e Marco Antonio Villa como os seus principais expoentes, é política e historicamente complicada. Já não bastasse a afirmação de que a ditadura brasileira foi uma “ditabranda” – pois teria sido “mais branda” e “menos violenta” do que outras ditaduras latino-americanas –, busca-se difundir nos últimos anos a falácia da “ditacurta”, segundo a qual a ditadura brasileira teria se encerrado em 1979, com a aprovação da anistia e a revogação dos Atos Institucionais draconianos lançados pelos militares.
Rafael Leite Ferreira – Doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Bolsista CAPES. E-mail: rafaleferr@hotmail.com
SILVA, Marcília Gama da. Informação, repressão e memória: a construção do estado de exceção no Brasil na perspectiva do DOPS-PE (1964-1985). Recife: Editora UFPE, 2014. Resenha de: FERREIRA, Rafael Leite. Manduarisawa – Revista Discente do Curso de História da UFAM, Manaus, v.1, n.1, p.151-156, 2017. Acessar publicação original. [IF]
Mutirão em Novo Sol – XAVIER; BOAL (RH-USP)
XAVIER, Nelson; BOAL, Augusto. Mutirão em Novo Sol. São Paulo: Expressão Popular, 2015. Resenha de: BATISTA, Natália. Multirão da História: Teatro, memória e apropriações no presente. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
A disciplina histórica tem observado o campo teatral com relativo distanciamento. Nos últimos anos as pesquisas têm aumentado gradativamente, mas ainda é possível perceber um olhar desconfiado para a temática. Entre as motivações para esta opção, constata-se a dificuldade de apreender a efemeridade do ato teatral, a carência de acervos e a necessidade de construir uma metodologia que contemple este novo objeto da história, mas velho na experiência humana. Entende-se que as problemáticas supracitadas não deveriam ser impeditivas para a análise do ato teatral em perspectiva histórica. Deveriam servir antes como estímulo para a construção de novos olhares para a produção teatral.
A noção do “aqui e agora” do espetáculo, bem como a sua incapacidade de reprodução, poderiam justificar o afastamento dos historiadores dessa abordagem. No entanto é importante questionar: quais objetos da história podem ser reproduzíveis? A inserção de qualquer tema histórico no presente se dá a partir do trabalho do pesquisador que escolhe o tema, delimita o objeto, seleciona fontes e constrói uma metodologia útil para a sua pesquisa. Evidentemente, o estudo do teatro possui peculiaridades, mas sua matéria humana é a mesma de qualquer processo histórico. Ao pesquisar o teatro é preciso agir como o ogro da lenda descrito por Marc Bloch: “Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça”1, mesmo quando o odor humano lhe parece distante.
O ato teatral enquanto encenação se esvai no momento dos aplausos finais. No entanto, de acordo com Batista, o teatro “continua existindo na memória coletiva dos que o fizeram, o assistiram e da sociedade que o cercava. Ele persiste no tempo através de rastros, sinais, documentos e fragmentos de memória”2. Tomando por base essa perspectiva, o resultado obtido com a publicação Mutirão em Novo Sol é consistente, pois articula o texto da peça, escrito por Nelson Xavier, o contexto histórico de sua produção, a pesquisa teórica, a análise das diferentes encenações, a documentação de época, depoimentos dos participantes da montagem, além de suas apropriações no presente. A articulação das diferentes perspectivas contribui para fazer do teatro um objeto plenamente histórico, a partir do momento em que reconstrói aspectos do contexto que o produziu e insere a cultura como elemento facilitador da compreensão de aspectos político-sociais do Brasil dos anos 1960.
O livro Mutirão em Novo Sol foi publicado no ano de 2015, fruto da parceria entre a editora Expressão Popular e do LITS [Laboratório de Investigação em Teatro e Sociedade]. O LITS é um grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Seu objetivo é “conectar trabalhos de pesquisa acadêmica e artística e, assim, gerar reflexões críticas sobre as interações entre formas teatrais, projetos de modernização e situações produtivas da vida cultural3”.
A publicação da obra analisada dialoga efetivamente com os pressupostos sugeridos pelo coletivo.
Trata-se de um trabalho posicionado politicamente e que percebe a importância de desvelar uma obra desconhecida do grande público, contextualizar sua produção e interpretá-la a partir do contexto atual. De acordo com Iná Camargo, autora da orelha do livro, trata-se de um “resgate do outro lado da história” a partir do momento em que coloca em cena um texto que destaca a temática da reforma agrária, fazendo uma adaptação da rebelião conhecida como Arranca Capim, que ocorreu no interior de São Paulo.
A peça se passa na fictícia cidade de Novo Sol e o eixo na narrativa é o julgamento de Roque, um líder camponês. É possível observar um ir e vir no tempo, que perpassa a ação presente [o julgamento] e a reconstrução histórica [passado] da luta dos camponeses desde a sua chegada à Fazenda Cova das Antas e o acordo com Porfírio, dono da fazenda. Ele definia que após arar as terras os camponeses poderiam semeá-las. No entanto, no momento do plantio o latifundiário desfaz o acordo e tenta expulsar os trabalhadores para plantar capim e alimentar o gado. Diante da morosidade do poder judiciário para resolver a questão, os camponeses saqueiam o barracão da fazenda, além de arrancarem o capim plantado. Como forma de vingança, Porfírio manda matar Honório, um farmacêutico que tenta ajudar os camponeses na busca por justiça. Durante a peça vários personagens fingem prestar “solidariedade” aos trabalhadores, mas fica evidente o medo que possuem do latifundiário, uma espécie de coronel da região que controla a justiça, a igreja e a polícia, dentre outras instituições. Tentando encontrar alternativas, os camponeses se organizam para fundar a União [uma espécie de associação], motivação para que Roque seja acusado de subversão e agitação. No final da peça, ocorre um enfrentamento onde o líder camponês é condenado, mas pode ser liberado desde que convença os camponeses a parar o “arranca capim”. Ele não aceita o acordo e explicita que a luta dos trabalhadores é mais forte que a individual e eles continuarão na luta mesmo sem a sua presença.
O texto da peça foi escrito por Nelson Xavier em 1961. Contou ainda com a participação de Augusto Boal, principalmente na elaboração das falas do Coronel Porfírio. Ele foi produzido após uma conversa com Jôfre Corrêa Neto, inspiração para o personagem Roque. O líder camponês havia acabado de ser liberado da prisão e concedeu uma entrevista no Teatro de Arena de São Paulo, contando como se deu a resistência na Fazenda Santa Fé do Sul e os pormenores do que ficou conhecido como o Arranca Capim. A partir desta experiência real e da narrativa de Jôfre, a dramaturgia foi sendo construída. Ela não teve como objetivo fazer uma adaptação do fato histórico, mas se apropriar dele para construir um texto que dialogasse com o contexto político nacional, já que a luta pela terra perpassou e ainda perpassa todos os estados brasileiros.
De acordo com a Nota Introdutória de Sérgio Carvalho o texto tem grande importância na dramaturgia brasileira, tendo em vista que “inaugura uma sequência de peças de temática camponesa produzidas antes do golpe de 1964, influenciando o cinema novo do período; assume o ponto de vista dos explorados de modo radical, utiliza-se de elementos épicos como poucas vezes no teatro político no Brasil”4. Sua circulação enquanto obra teatral encenada permitiu que as perspectivas apresentadas no texto pudessem chegar ao público formal, mas também ao público que inspirou sua dramaturgia: os camponeses. Talvez pela necessidade de compreender o texto a partir da experiência teatral concreta é que o livro buscou analisar estas diferentes perspectivas.
A publicação é composta por alguns eixos centrais: o texto da peça e sua avaliação crítica, além das diferentes propostas de encenação. No primeiro eixo, o texto, é possível perceber a intervenção do coletivo que compara as suas duas edições e o recria a partir de seu cotejamento. São utilizadas muitas notas de rodapé para orientar o leitor sobre as escolhas dos editores do texto. Nesse sentido, trata-se de um trabalho que deixa claro as suas intervenções e propostas de interpretação do texto enquanto documento. Assume-se, nesta reflexão, o texto como documento histórico, pois se considera que sua análise pode descortinar aspectos da sociedade brasileira no que tange à compreensão do teatro [enquanto produto cultural] e da política [enquanto prática social].
No que diz respeito aos artigos complementares da publicação é possível perceber que eles descortinam aspectos que vão do texto à encenação. Alguns são teórico-analíticos e outros memorialísticos, o que lhes confere singularidade ao articular a teoria e a memória. É uma escolha interessante mostrar tanto a produção intelectual em torno do texto quanto as interpretações dos sujeitos sobre eles próprios e a encenação.
A publicação contou com muitas entrevistas. Elas foram utilizadas tanto nos textos de análise, produzidos por pesquisadores, quanto na compreensão da memória dos sujeitos que participaram de alguma etapa do texto ou da montagem de Mutirão do Novo Sol. Por vezes, percebem-se diferentes narrativas para o mesmo evento vindas de sujeitos diversos, o que dá à publicação um caráter polifônico, além da dimensão ambígua de qualquer experiência histórica.
O livro é dividido em três partes: Soma-se a “Depoimentos” e “Imagens e Canções” [blocos que fecham o livro] uma primeira parte não nominada, que contempla o texto teatral e uma de análise teórico-histórica mais densa. Nela está contida a Nota Introdutória de Sérgio Carvalho, que faz uma breve apresentação da história da escrita da peça, assim como sua importância na dramaturgia nacional. A Apresentação, assinada pelo autor Nelson Xavier, narra o processo de construção da peça e a importância do testemunho de Jôfre, que permitiu alcançar minimamente o ideal de um teatro que dialogasse de forma mais efetiva com o povo, como desejava alguns integrantes do Teatro de Arena. Ela é seguida do texto dramatúrgico completo e de uma Avaliação, escrita também por Nelson Xavier quando assistiu a adaptação da peça feita em 2012, no Encontro Unitário dos Trabalhadores, Trabalhadoras e Povos do Campo, das Águas e Florestas. O autor faz um paralelo sobre a sociedade brasileira no contexto da escrita e quando foi reencenada, em 2012. Para ele, a peça expressa a sua geração, ou a forma como ele viveu e pensou as emoções de sua geração.
O artigo Jôfre, Roque e a Guerra do Capim, de Clifford Andrew Welch, apresenta dados históricos oriundos de documentação e entrevistas realizadas a partir da metodologia da história oral. O autor contextualiza a vida de Jôfre, narra a sua trajetória e tece comparações entre a história dita oficial e a narrativa construída na peça. Ele compara o nome dos personagens reais e fictícios, à ascensão de Jôfre e à força devastadora do Estado na mediação da questão. O texto permite compreender a peça e as opções estéticas de seus autores, assim como apontar as possibilidades do estudo do teatro no campo da disciplina histórica. Ao final ele menciona que apesar das diferenças com o caso real, a peça iluminava aspectos da luta pela terra no Brasil, tais como a miséria dos camponeses, o poder latifundiário, a corrupção das instituições do Estado e a única alternativa do campesinato, a auto-organização.
Nos textos que seguem são apresentados três diferentes encenações da peça ainda no período anterior ao golpe civil-militar. São eles Mutirão no CPC Paulista, de Sara Mello Neiva, que analisa a montagem realizada com a direção de Gianfrancesco Guarnieri; Julgamento no MCP do Recife, de Paula Autran, que investiga a inovação instituída pela peça no que tange à imediata recepção pelos camponeses; e Rebelião do CPC da Bahia, de Mariana Soutto Mayor, que narra a relação dos artistas de teatro, cinema e música na produção da montagem baiana.
Além da peça em si e de sua análise, o livro contribui também para descortinar outro aspecto importante da cultura brasileira deste período: a produção do CPC [Centro Popular de Cultura] em pelo menos dois estados: São Paulo e Bahia. Ao se investigar as montagens do CPC fora do Rio de Janeiro é possível observar a força dos CPCs e o seu importante papel na discussão das questões nacionais através da cultura. O mesmo ocorreu com o MCP [Movimento de Cultura Popular], de Recife, que começa a se articular com outros movimentos de base inseridos nesse contexto. A publicação segue o percurso da peça por diferentes estados e permite visualizar as singularidades das encenações. O último tópico da primeira parte é a Cronologia, que faz uma articulação entre a história e a memória, já que foi inserida exatamente entre os textos de análise teórico-histórica e os depoimentos.
A segunda parte, intitulada Depoimentos, consistiu na apresentação de entrevistas editadas, que foram realizadas para o livro ou produzidas em contextos anteriores. Para cada depoimento foi selecionado um título que enunciasse a temática central das narrativas e orientasse o leitor em seu percurso literário. São eles: Peripécias da Montagem, de Chico de Assis; Aprendizado no Arena, de Ricardo Ohtake; Público Camponês, de Juca de Oliveira; Ligas Camponesas e MCP; de Moema Cavalcanti; Trabalho de Cultura Popular, de Luiz Mendonça; Dramaturgia no MCP, de Ilva Niño; e Rebelião em Salvador, de Orlando Senna.
Alguns depoimentos foram coletados especificamente para a publicação e outros produzidos em diferentes contextos. Um ponto alto da utilização dos depoimentos é localizar o leitor, explicitando quando as entrevistas foram produzidas, por quem e com quais objetivos. Tais informações são fundamentais para entender as construções dos sujeitos no tempo e o caráter transitório da própria memória. Para Ulpiano “a memória é uma construção social, é formação de imagem necessária para os processos de constituição e reforço da identidade individual, coletiva e nacional. Não se confunde com a História, que é forma intelectual de conhecimento, operação cognitiva5”. Nesse sentido, a memória, quando não é problematizada, cria tensões com a História e isso é perceptível em alguns momentos do livro. Seria interessante que os depoimentos fossem acompanhados de uma análise histórica ou de uma breve discussão sobre o papel da memória na composição do livro. Em determinados momentos História e memória se confundem e podem causar inquietações em um leitor que desconhece a temática. De qualquer modo, não tira o mérito da iniciativa de colocar na mesmo publicação diferentes pontos de vista sobre a mesma experiência histórica, a peça.
Outra informação perceptível nos textos acadêmicos e depoimentos é a modificação do horizonte de expectativa dos sujeitos após o golpe civilmilitar. Para além dos artistas envolvidos com as manifestações de cunho engajado, foram perseguidos também os camponeses que tinham qualquer tipo de atuação política. Sendo a peça uma tentativa de elo entre artistas e camponeses, quase todos os envolvidos tiveram seus rumos modificados não só na perspectiva artística, mas também na política.
Na terceira parte, intitulada Imagens e Canções, discutiu-se a questão musical em Partituras das Canções, de Paulinho Tó; a análise da documentação de época a partir do texto Imagens de um processo, de Érika Rocha e Paulo Fávari; e o Posfácio, de Rafael Villas Bôas, que descreve o processo de “redescoberta” do texto, o contexto em que as edições foram cedidas pelo autor e sua eficácia simbólica ao ser trabalhado com os integrantes do MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra].
O livro pode ser entendido como um alentado esforço de pesquisa, edição, publicação e divulgação de uma importante obra dramatúrgica. Ele pode ser pensado no sentido de um grande mutirão da história, onde pesquisadores, historiadores, atores e sujeitos se unem para a realização de uma obra coletiva, preocupada em discutir as experiências do passado com vistas a transformar o presente. Se a história caminha com parcimônia na análise do campo teatral, a publicação Mutirão em Novo Sol apresenta interessantes desdobramentos que podem inspirar os historiadores e fomentar novas possibilidades de estudo do teatro no campo da disciplina histórica.
Referências
BATISTA, Natália. Nos palcos da História: “Liberdade, Liberdade”. São Paulo: Editora Letra & Voz, 2017. [ Links ]
BLOCH, Marc. Apologia da história ou O ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. [ Links ]
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A História, cativa da memória: para um mapeamento da memória no campo das Ciências Sociais. In: Rev. Inst. Est. Bras, São Paulo, n. 34, 1992, p. 09-24. [ Links ]
XAVIER, Nelson & BOAL, Augusto. Mutirão em Novo Sol. São Paulo: Expressão Popular, 2015. [ Links ]
1BLOCH, Marc. Apologia da história ou O ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p.54.
2BATISTA, Natália. Nos palcos da História: “Liberdade, Liberdade”. São Paulo: Editora Letra & Voz, 2017, p.77.
3XAVIER, Nelson & BOAL, Augusto. Mutirão em Novo Sol. São Paulo: Expressão Popular, 2015, p.191.
4XAVIER, Nelson & BOAL, Augusto. Mutirão em Novo Sol. São Paulo: Expressão Popular, 2015, p.7.
5MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A História, cativa da memória: para um mapeamento da memória no campo das Ciências Sociais. In: Rev. Inst. Est. Bras, São Paulo, n. 34, 1992, p.22.
Natália Batista – Doutoranda pelo Programa de pós-graduação em História Social do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Mestre em História e Culturas Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do Núcleo de História Oral da mesma instituição. Autora do livro Nos palcos da História: “Liberdade, Liberdade”. São Paulo: Editora Letra & Voz, 2017. E-mail: nataliabatista@usp.br.
Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória – HUYSSEN (AN)
HUYSSEN, Andreas. Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória. Trad. Vera Ribeiro. 1. ed. Rio de Janeiro: Contraponto; Museu de Arte do Rio, 2014. Resenha de: MACHADO, Diego Finder. Imaginar o futuro em um mundo globalizante: paisagens transnacionais dos discursos do modernismo e das políticas da memória. Anos 90, Porto Alegre, v. 23, n. 44, p. 371-379, dez. 2016.
Como imaginar futuros em um mundo cada vez menos confiante em relação às promessas de progresso de uma época anterior? As sociedades contemporâneas do Ocidente, em contraste com outras sociedades, têm manifestado um renovado interesse pelo passado e pelos seus vestígios. Frente ao que podemos considerar uma “crise de futuro”, o presente vem ocupando uma posição dominante em nossas experiências de tempo. Contudo, trata-se de um presente que procura, insistentemente, enraizar-se em um passado apropriado às suas ansiedades, em uma tentativa de barrar a efemeridade dos nossos dias. Neste contexto, ainda é possível imaginar futuros alternativos que não sejam apenas o futuro da memória?
O crítico literário alemão Andreas Huyssen, em seu último livro traduzido para o português, a coletânea de ensaios intitulada Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória, aproxima duas temáticas centrais em suas pesquisas: as consequências do modernismo na obra de alguns artistas contemporâneos e as políticas da memória, do esquecimento e dos direitos humanos. Estabelecendo trânsitos pelas fronteiras que demarcam essas temáticas, a afinidade entre os diferentes capítulos do livro é construída em torno da problematização da memória em contextos transnacionais. Para o autor: A afirmação mais geral deste livro é que tanto o discurso do modernismo quanto a política da memória se globalizaram, mas sem criar um modernismo global único ou uma cultura global da memória e dos direitos humanos (HUYSSEN, 2014, p. 12-13).
Para além das experiências históricas da Alemanha e dos Estados Unidos, que lhes são mais familiares, buscou interpretar conexões transnacionais que ultrapassam as geografias do Atlântico Norte, aproximando-se de geografias alternativas das paisagens de memórias traumáticas e de experimentações estéticas modernistas na América Latina, Ásia e África.
Diante da evidência contemporânea de um declínio do debate sobre o “pós-modernismo”, o autor chama atenção para o retorno dos discursos sobre a modernidade e o modernismo na arquitetura e nos estudos urbanos, assim como na literatura, nas artes plásticas, na música, nos estudos midiáticos, na antropologia e nos estudos pós-coloniais. Para ele, aquele debate foi “uma tentativa norte-americana de reivindicar a liderança cultural”, a partir dos anos de 1920, por isso marcado por um “provincianismo geográfico” (HUYSSEN, 2014, p. 11).
A primeira parte da obra é dedicada a interpretar geografias alternativas do modernismo em um mundo globalizante, colocando em discussão as maneiras como a cultura metropolitana de um modernismo clássico foi traduzida e apropriada criativamente em países colonizados e pós-coloniais na Ásia, África e América Latina, antes e após a Segunda Guerra Mundial. Um diálogo crítico com alguns artistas e seus experimentos estéticos é tramado: o argentino Guillermo Kuitca e seus experimentos cartográficos como um pintor do espaço; o sul-africano William Ketridge e a indiana Nalini Malani e os seus teatros de sombras como arte memorial; o vietnamita Pipo Nguyem-duy e sua série de fotografias de ruínas ecológicas da modernidade; e a colombiana Doris Salcedo com sua instalação artística que convida à reflexão sobre as continuidades entre colonialismo, racismo e imigração. Não deixa de lado outros artistas de diferentes nacionalidades, fazendo-nos compreender que a geografia do debate deve focar como o modernismo, nas artes visuais, é reiterado e reinterpretado.
Inspirado no antropólogo indiano Arjun Appadurai (2004), Huyssen procura analisar como a modernidade e o modernismo foram disseminados por fluxos culturais complexos que aproximaram as ideias de local e global em constante negociação. Para ele, é preciso escapar da crença inocente em uma cultura local autêntica que deveria ser preservada dos encantos homogeneizantes da globalização.
Como afirma, “[…] o binário global-local é tão homogeneizante quanto a suposta homogeneização cultural do global à qual se opõe” (HUYSSEN, 2014, p. 23). Esse olhar dualista, atado ao local, impede a compreensão transnacional das práticas culturais e o reconhecimento dos fluxos desiguais de traduções, transmissões e apropriações locais de um “modernismo sem entraves”.
Outra questão apontada é a necessidade de retomar, sob novos ângulos, o modelo superior e inferior pelo qual o espaço cultural do início do século XX foi hierarquicamente clivado entre cultura de elite e cultura de massa. Segundo o autor, este modelo, prematuramente descartado nos estudos norte-americanos sobre o pós- modernismo, ainda pode servir como paradigma para analisar modernismos alternativos e culturas globalizantes que assumiram formas distintas em diferentes momentos históricos. A reinscrição desta problemática nas discussões da modernidade cultural em contextos transnacionais pode estimular novos tipos de comparação que vão além das dicotomias clichês – tais como global versus local, colonial versus pós-colonial, moderno versus pós-moderno ou centro versus periferia –, recolocando em debate hierarquias e estratificações sociais que atravessam as culturas de acordo com as circunstâncias e as histórias locais. Além disto, repensar a relação superior-inferior hoje nos remete aos debates sobre os novos vínculos entre estética e política, bem como entre experiência e história.
A segunda parte do livro é dedicada à problematização das políticas de memória, de esquecimento e de direitos humanos na contemporaneidade, retomando, sob novos matizes, questões já apresentadas ao público brasileiro em Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia (HUYSSEN, 2000). Antes, como um entremeio que estabelece conexões entre modernismos e culturas de memória, Huyssen lança um debate instigante que se desloca entre a nostalgia contemporâneas das ruínas e as memórias traumáticas dos escombros da modernidade. Esta diferenciação entre ruína e escombro, que faz eco aos escritos do filósofo alemão Walter Benjamin (2012), nos convida a pensar sobre às diferentes maneiras como, em um presente globalizado, olhamos para a decadência dos vestígios do passado. Por um lado, há um olhar nostálgico que se aproxima do encantamento pitoresco dos românticos pelas ruínas, uma utopia às avessas que demonstra a saudade de um outro lugar localizado no passado. Segundo o autor, “[…] essa obsessão contemporânea pelas ruínas esconde a saudade de uma era anterior, que ainda não havia perdido o poder de imaginar outros futuros” (HUYSSEN, 2014, p. 91). Por outro, a nossa contemporaneidade se depara cotidianamente com os escombros de uma modernidade cruel, marcada por atrocidades que soterraram os futuros sonhados pelos vencidos da história. Como lembra, os bombardeios nunca pretenderam produzir ruínas, mas escombros. Porém, em uma época seduzida pelo passado, tais escombros, muitas vezes, acabam estetizados enquanto ruínas, alimentando um mercado da memória como entretenimento que banaliza e envolve em sentimentos nostálgicos as marcas presentes de um passado traumático. Este imaginário das ruínas é, como destaca o autor: Central para qualquer teoria da modernidade que queira ser mais que o triunfalismo do progresso e da democratização, ou a saudade de um poder passado de grandiosidade (HUYSSEN, 2014, p. 99).
Para além de um otimismo cego, podemos nos defrontar com o lado obscuro e destrutivo da modernidade visível nas ruínas, os desastres do passado que continuam a assombrar a nossa imaginação.
Estabelecendo um diálogo crítico com os estudos consagrados sobre a memória, especialmente com a obra dos franceses Maurice Halbwachs (2006) e Pierre Nora (1993), Huyssen destaca que tais estudos inseriram a memória primordialmente em contextos nacionais, bem como procuraram demarcar uma fronteira que colocava em lados opostos a história e a memória. Atualmente, o divisor história/ memória tem sido superado, reconhecendo a interdependência entre as maneiras de narrar o passado. Além do mais, tais estudos se mostram insuficientes em um momento no qual os discursos sobre a memória e a análise das histórias traumáticas tornaram-se transnacionais.
É preciso, segundo o autor, abandonar o conceito de memória coletiva, tal como uma memória mais ou menos estável de um grupo ou uma nação como ideal, em busca de memórias conflituosas. Para ele, “[…] a memória é sempre o passado presente, o passado comemorado e produzido no presente, que inclui, de forma invariável, pontos cegos e de evasão” (HUYSSEN, 2014, p. 181). A memória “nunca é neutra” e “[…] está sempre sujeita a interesses e usos funcionais específicos” (HUYSSEN, 2014, p. 181). Neste sentido, para além do conflito entre memórias coletivas e memórias individuais, ou entre memória e historiografia, seria importante analisar “[…] os conflitos entre campos de memórias rivais que tentam eliminar ou, pelo menos bloquear um ao outro” (HUYSSEN, 2014, p. 182).
Esta virada teórica e metodológica faria com que atentássemos às batalhas entre passados, travadas não apenas em contextos nacionais, como também em contextos transnacionais. Portanto, pensar em políticas da memória em um mundo globalizante está para além da circunscrição do que seria uma “memória cosmopolita”. É preciso compreender as assimetrias e competições travadas nas trajetórias transnacionais da memória.
Em um mundo obcecado pela memória, o esquecimento, o duplo inevitável da memória, é malvisto, considerado uma falha ou uma deficiência que deveríamos combater. Mesmo em excesso, a memória é positivada, visto ser considerada fundamental para a coesão social e como alicerce para identidades. Neste contexto, pouco se refletiu a respeito da importância de uma política do esquecimento que, para além do “dever da memória”, pusesse em pauta uma ética do esquecimento.
Em diálogo com o pensamento do filósofo francês Paul Ricoeur (2007), Huyssen busca interpretar situações em que uma política de esquecimento foi importante na construção de um discurso politicamente desejável e de uma esfera pública democrática: o esquecimento das mortes causadas pela guerrilha urbana na Argentina em prol de um consenso nacional em torno da figura vitimada do desaparecido e o esquecimento dos bombardeios de cidades alemãs durante a Segunda Guerra Mundial para o pleno reconhecimento do horror do Holocausto. Em ambos os exemplos, uma forma de esquecimento foi necessária para atender reivindicações culturais, jurídicas e simbólicas em consonância com as políticas nacionais de memória.
Ao propor a discussão sobre uma ética do esquecimento público, o autor se aventura em um tema difícil que, sem dúvida, consiste no ponto mais audacioso e inovador da obra. No entanto, apesar de insistir no caráter residual de como o tema aparece nos escritos de autores que, como Paul Ricoeur, privilegiaram o estudo da memória, não deixa muito clara uma proposta original para refletir sobre o que considera um “esquecimento voluntário”, um tipo de esquecimento que exigiria esforço e trabalho. Mesmo ao complexificar a questão, situando as estratégias de esquecimento num campo de termos e fenômenos tais como “[…] silêncio, desarticulação, evasão, apagamento, desgaste, repressão” (HUYSSEN, 2014, p. 158), acaba não esclarecendo as diferenças entre estas estratégias.
Afinal, é possível dizer que algo silenciado ou reprimido foi de fato esquecido? Talvez, uma atenção maior às sutilezas de cada um destes termos poderia nos mostrar níveis intermediários entre a memória e o esquecimento, tal como já há alguns anos propôs Michael Pollak (1989) ao problematizar o silêncio não como uma forma de esquecimento, mas como uma “memória subterrânea” que, em disputas de memórias, resiste aos excessos das memórias oficiais.
A emergência à esfera pública de memórias traumáticas em busca pela reparação de injustiças cometidas no passado, coloca em questão as aproximações entre as políticas de memória e as políticas de direitos humanos. Na contemporaneidade, há uma sobredeterminação entre estes discursos. Contudo, como destaca o autor, não é raro que os debates sobre os direitos humanos permaneçam separados dos debates sobre a memória, sendo o discurso da memória dominante nas humanidades e o discurso dos direitos humanos nas ciências sociais. Se faz necessária a ligação dos estudos da memória aos direitos e à justiça, não somente em termos teóricos e discursivos, mas também em termos práticos. Por um lado, as políticas de memória precisam de uma dimensão normativa jurídica, que lhe dê sustentação na reivindicação de direitos de indivíduos e grupos. Por outro, os discursos sobre os direitos humanos, alimentados pelas memórias de violações de direitos, deixariam de pautar-se apenas em princípios abstratos, levando em consideração os contextos históricos, políticos e culturais. Entretanto, como afirma o autor, tal aproximação não é isenta de riscos, pois “[…] tanto o discurso dos direitos quanto o da memória são alvos fáceis de abuso, como véu político para encobrir interesses particulares” (HUYSSEN, 2014, p. 201).
Um campo onde as aproximações entre direitos humanos e memórias têm emergido de maneira mais intensa é o campo das reivindicações pelos direitos culturais de populações indígenas ou descendentes de escravizados na América Latina, no Canadá e na Austrália, bem como os direitos civis e sociais nas novas formas de imigração e diáspora. Essa dimensão dos direitos humanos: Reivindica os direitos de grupos culturais dentro de nações soberanas, mas entra em conflito com a ideia tradicional dos direitos humanos como direitos dos indivíduos, e também com um entendimento homogêneo da nacionalidade (HUYSSEN, 2014, p. 206).
O movimento pelos direitos culturais, movimento que desestabiliza as ideias de identidade nacional, tem dado ênfase na diversidade cultural em um mundo cada vez mais interligado, aderindo, fundamentalmente, à política de identidade grupal. Neste debate, as ideias de global e local entram em conflito, em reações contra a globalização e a temível possibilidade de uma homogeneização cultural. Novamente o autor traz à tona uma crítica a concepções que imaginam uma suposta autenticidade intocada das culturas locais, o que gera conflitos quando grupos culturais diferentes entram em contato. Para além de uma compensação identitária, “[…] os direitos culturais devem preservar a prerrogativa de que o indivíduo nascido numa dada cultura possa deixá-la e escolher outra” (HUYSSEN, 2014, p. 209).
Embora não circunscrita no interior dos limites do campo da História, a obra de Andreas Huyssen tem sido fundamental para pensar a prática historiadora, especialmente em relação à História do Tempo Presente. As análises elaboradas pelo autor nos convidam a pensar, a partir da problematização das políticas da memória e dos modernismos em um mundo globalizante, as imbricações entre temporalidades e espacialidades no presente vivido. Como um crítico da cultura, este autor propõe uma reflexão sobre as maneiras como no presente se articulam passado e futuro, global e local, alertando para a importância da imaginação de futuros alternativos. Não se trata da nostalgia de uma crença inocente nas promessas de progresso atualmente desacreditadas, mas uma incitação a pensarmos sobre as maneiras como futuros possíveis, desamarrados de um peso asfixiante do passado, foram e continuam sendo imaginados.
A experiência histórica brasileira, embora brevemente mencionada em alguns dos seus ensaios, praticamente está ausente da cartografia de geografias alternativas analisada e interpretada pelo autor. O Brasil, ao contrário da Argentina, não é, nesta obra, um território privilegiado na compreensão das políticas de memória e dos modernismos na América Latina. Apesar disso, a historiografia brasileira da última década tem se valido de conceitos e teorias mobilizadas pelo autor em seus trabalhos, especialmente a noção de “cultura da memória”. Em diálogo com autores do campo da História, como Reinhart Koselleck (2006) e François Hartog (2013), a obra de Andreas Huyssen tem sido apropriada pelos historiadores interessados em pensar o tempo não apenas como um instrumento taxionômico, pelo qual os acontecimentos de um passado são medidos e circunscritos, mas o tempo como algo vivido e experimentado em sociedade. Na atualidade de nosso país, experiências diversas de tempo são friccionadas, colocando lado a lado, por exemplo, os traumas do período da nossa ditatura civil-militar e as lutas pelo reconhecimento de direitos culturais negados a minorias.
Neste sentido, a leitura de Culturas do passado-presente pode ser um interessante convite a novos olhares para a nossa própria história, a um olhar crítico para um tempo presente demasiadamente encantado pelo passado e temeroso por um porvir que se mostra pouco promissor.
Referências
APPADURAI, Arjun. Dimensões culturais da globalização: a modernidade sem peias. Lisboa: Teorema, 2004.
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 8. ed. revista. São Paulo: Brasiliense, 2012. (Obras escolhidas v. 1).
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006.
HARTOG, François. Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
HUYSSEN, Andreas. Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória. Rio de Janeiro: Contraponto; Museu de Arte do Rio, 2014. (Coleção ArteFíssil).
Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC-Rio, 2006.
NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, n. 10, p. 7-28, dez. 1993.
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-15, 1989.
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: UNICAMP, 2007.
Diego Finder Machado – Doutorando em História na História da Universidade do Estado de Santa Catarina.
Letra de índios: cultura escrita, comunicação e memória indígena nas Reduções do Paraguai – NEUMANN (RBH)
NEUMANN, Eduardo. Letra de índios: cultura escrita, comunicação e memória indígena nas Reduções do Paraguai. São Bernardo do Campo: Nhanduti, 2015. 240p. Resenha de: FELIPPE, Guilherme Galhegos. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.
Os estudos sobre a experiência missionária vivenciada por indígenas e catequizadores na região da Bacia do Rio da Prata colonial beneficiam-se da profícua produção textual que acompanhou toda a época da empresa missional. A grande quantidade de registros, apesar de marcada pela diversidade e riqueza de informações contidas em relatos, é caracterizada por ser predominantemente uma escrita produzida pelos estrangeiros. A escrita, para os membros da Companhia de Jesus, era prática de obediência às determinações da Ordem – que remontavam às Constituições de Inácio de Loyola – e ratificação da hierarquia que determinava a eficácia da circulação da correspondência e, consequentemente, das informações merecedoras de serem compartilhadas, a fim de estabelecer a união dos seus membros (Arnaut; Ruckstadter, 2002, p.108).
A escrita epistolar jesuítica, essa “laboriosa persistência na missão” (Hansen, 1995, p.99), garantia a contínua construção da retórica da evangelização do selvagem americano por meio do discurso edificante: escrever não era apenas registrar para manter a comunicação; era, também, justificar a conversão. O trabalho catequético, no cotidiano do meio reducional, implicava aos missionários uma aproximação com os indígenas que deveria ir além do ensino diário de bons comportamentos e das genuflexões nas missas. Os membros da Companhia de Jesus destacaram-se dos missionários de outras Ordens pela imersão que realizaram no contato e convívio com os índios reduzidos por meio da linguagem. A conversão, souberam desde o início, só seria uma possibilidade se os obstáculos da língua fossem superados com o desenvolvimento de meios materiais e simbólicos pelos quais os nativos se incorporassem às relações coloniais por seus próprios termos (Montero, 2006, p.41). Em dois movimentos vetoriais aparentemente contraditórios, os jesuítas aprenderam a língua dos índios para depois ensiná-los a escrevê-la (Agnolin, 2007, p.293).
O domínio da escrita foi, pode-se arriscar, o maior legado que os jesuítas deixaram aos Guarani na época das missões platinas. Contudo, isso não quer dizer que houve uma simples transmissão de conhecimento, em que o indígena, receptor passivo, tenha adquirido os manejos de uma tecnologia da qual não dava conta a não ser no âmbito da repetição e da cópia. É o que Eduardo Neumann procura demonstrar em seu livro Letra de Índios: os Guarani não só aprenderam a escrever – em espanhol e em sua língua nativa -, como, também, apropriaram-se dos métodos, técnicas e funcionalidades que a escrita possibilita para adaptarem-na às suas necessidades.
Publicado pela Nhanduti – editora especializada em estudos indígenas -, o livro de Eduardo Neumann apresenta a sua pesquisa realizada no Doutorado em História Social pela UFRJ, defendida em 2005. Em exaustiva pesquisa em arquivos do Brasil, da Argentina, do Paraguai, de Portugal e da Espanha, o autor coletou dados empíricos que lhe forneceram evidências suficientes para compreender “como os guaranis reorganizaram suas atitudes e seus costumes diante das novas demandas e desafios da sociedade colonial” (Neumann, 2015, p.30).
Para isso, o autor desconstruiu duas considerações que por muito tempo foram tomadas como dados irrefutáveis da história das reduções jesuítico-guaranis: que os poucos indígenas que tiveram acesso ao papel e à pena só haviam conseguido exercer a função de copistas, anulando-se, assim, qualquer possibilidade de uma atuação deliberativa por parte dos índios; e, em decorrência disso, que os missionários foram os únicos a produzirem registros que poderiam ser usados como fontes de pesquisa sobre as Missões. A documentação cotejada por Eduardo Neumann comprova não apenas uma intensa e contínua produção textual realizada pelos indígenas durante o período tardio das missões platinas (segunda metade do século XVIII), como, também, uma importante atuação no que competia aos trâmites internos da administração e da burocracia das reduções, principalmente naquilo que cabia às responsabilidades do Cabildo.
A partir disso, o autor ressalta que quase toda a produção escrita pelos indígenas foi produzida, fundamentalmente, por uma elite missioneira composta por membros que ocupavam cargos administrativos. Isto é, o ensino da escrita foi uma atividade restrita àqueles indígenas cuja apreciação, por parte dos missionários, posicionava-os em um grupo seleto, com prestígio e responsabilidades específicas. Escrever possibilitou a essa elite destacar-se dentro das reduções, principalmente para atuar na organização e definições dos expedientes da administração local, mas, também, “adquirindo competências e habilidades que os credenciam como mediadores e protagonistas nesse novo mundo letrado” (Neumann, 2015, p.53).
O acesso à escrita permitiu aos índios a produção de uma variedade de obras, dentre as quais o autor destaca as memórias, as atas administrativas, os vocabulários, as gramáticas e uma importante participação na elaboração de textos devocionais – sem contar os inúmeros bilhetes e cartas, escritos em guarani ou espanhol (algumas vezes, nas duas línguas), que as lideranças indígenas fizeram circular entre si, diminuindo as distâncias entre as reduções e dinamizando a comunicação oficial com as autoridades. Esse intenso trânsito epistolar demonstra “o quanto os guaranis não eram passivos, e como atuavam a partir de dinâmicas emanadas da interação com a sociedade colonial” (Neumann, 2015, p.90).
O livro, dividido em cinco capítulos, inicia apresentando o problema do contato linguístico, em que os jesuítas, que pretendiam fundar as reduções na Bacia do Rio da Prata, buscaram normatizar a língua guarani por meio de uma “redução gramatical” (Neumann, 2015, p.49). Ao definir a escrita como um instrumento a serviço da conversão, os esforços dos missionários voltaram-se para traduzir os signos linguísticos do Guarani a fim de torná-lo o idioma oficial da sociedade missioneira. Como consequência imediata, os índios apropriaram-se da escrita sem, com isso, inferiorizar a importância da oralidade enquanto tradição coletiva. Apesar disso, escrever não foi uma tarefa difundida entre todos os Guarani, restringindo-se apenas à elite que ocupava cargos administrativos nas reduções.
Assim, o Cabildo é descrito como espaço de atuação dos índios que possuíam a habilidade da escrita. A instrução escolar era oferecida a um seleto grupo de meninos e homens nos quais os jesuítas depositavam a expectativa de virem a ser colaboradores no funcionamento e bom andamento da redução. Não demorou muito para que os índios alfabetizados passassem a ter autonomia no envio de correspondências e, por isso, revelassem seu engajamento às causas que lhes eram pertinentes. Exemplo disso foi a época da assinatura do Tratado de Madri, em 1750, e a consequente Guerra Guaranítica. Não só os conflitos armados e as diferenças ideológicas potencializaram a troca de correspondência, como o próprio fato de a aliança entre os jesuítas e as lideranças indígenas ter se enfraquecido em razão das desavenças no que competia à administração das reduções: “a escrita, nesse momento, conferia uma identidade comum no modo de fazer política por parte dos índios rebelados, ao expressarem suas insatisfações com os acontecimentos em curso” (Neumann, 2015, p.125).
Se, por um lado, o uso da escrita esteve reservado a um grupo restrito de índios, por outro, o formato dessa escrita não ficou preso às demandas da burocracia missioneira. Fica evidente que “qualquer novo sistema de escrita constitui-se e é reformulado na dependência de fatores que, além de serem de natureza ‘técnica’ ou ‘científica’, são políticos, ativos ou reativos” (Franchetto, 2008, p.32). Ainda que grande parte dos textos escritos pelos índios fosse de cunho administrativo, os indígenas letrados escreveram memoriais e diários que se tornam fontes para “avaliar os modos pelos quais os índios percebiam os acontecimentos e o seu interesse em estabelecer um registro dos mesmos” (Neumann, 2015, p.144).
Com a expulsão dos jesuítas do território da América espanhola, em 1767, a instalação de uma administração laica nas reduções alterou consideravelmente a forma como a elite indígena passou a se comportar frente à gestão reducional. O novo contexto retirou as reduções e suas lideranças do isolamento político, elevando o grau de relação que os indígenas instruídos passaram a manter com as autoridades coloniais, refletindo-se em um aumento da correspondência trocada – até mesmo em um maior número de cartas bilíngues. Ainda assim, mesmo que a expressão escrita tenha sido fundamental para que as lideranças pudessem deixar registradas as suas opiniões e descontentamentos em relação à nova ordem administrativa, não houve uma disseminação do aprendizado da escrita entre os índios, mantendo-se restrita a uma elite que escrevia entre si, mas assinava por todos.
Referências
AGNOLIN, Adone. Jesuítas e Selvagens: a negociação da fé no encontro catequético-ritual americano-tupi (século XVI-XVII). São Paulo: Humanitas, 2007. [ Links ]
ARNAUT, Cézar; RUCKSTADTER, Flávio M. Martins. Estrutura e organização das Constituições dos jesuítas (1539-1540). Acta Scientiarum, v.24, n.1, p.103-113, 2002. [ Links ]
FRANCHETTO, Bruna. A guerra dos alfabetos: os povos indígenas na fronteira entre o oral e o escrito. Mana, v.14, n.1, p.31-59, 2008. [ Links ]
HANSEN, João Adolfo. O Nu e a Luz: Cartas Jesuíticas do Brasil. Nóbrega – 1549-1558. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, v.38, p.87-119, 1995. [ Links ]
MONTERO, Paula. Índios e missionários no Brasil: para uma teoria da mediação cultural. In: _______. (Org.) Deus na aldeia: missionários, índios e mediação cultural. São Paulo: Globo, 2006. p.31-66. [ Links ]
Guilherme Galhegos Felippe – Doutor em História, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Pós-doutorando, PUC-RS. Professor Colaborador (PNPD/Capes) do Programa de Pós-Graduação em História da PUC-RS.
[IF]
Cena cosplay: comunicação, consumo, memória nas culturas juvenis – NUNES (RTA)
NUNES, Mônica Rebeca Ferrari (Org.). Cena cosplay: comunicação, consumo, memória nas culturas juvenis. Porto Alegre: Sulina, 2015. Resenha de: CUBA, Rosana da Silva. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.8, n.18, p.457-462, maio/abr., 2016.
O último Estado da Arte sobre a temática da(s) juventude(s) na produção da pós-graduação brasileira, nas áreas de Educação, Ciências Sociais e Serviço Social foi publicado em 2009 e coordenado por Marília Sposito. Na época, a autora celebra o aumento das pesquisas sobre as juventudes, mas ressalta a necessidade de abarcar os jovens em suas múltiplas inserções: para além dos seus itinerários formativos escolares é possível empreender investigações numa perspectiva mais transversal e compreender como se dão as sociabilidades juvenis na rua, em suas intersecções e atuações em grupos religiosos e família, enfim, abarcar os diversos aspectos que compõem a vida cotidiana juvenil. Neste sentido, o livro organizado por Mônica Rebecca Ferrari Nunes, intitulado “Cena Cosplay: comunicação, consumo, memórias nas culturas juvenis” contribui para enriquecer o mosaico das pesquisas sobre jovens ao conjugar, em diferentes espaços e tempos, as categorias empíricas para uma compreensão dos jovens e a sua inserção no espaço urbano nas grandes cidades do sudeste do Brasil.
Mônica Rebecca Ferrari Nunes é docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), na cidade de São Paulo. Sua área de atuação envolve as áreas de comunicação, nas interfaces de produção midiática, cultura do consumo, processos de memória e cenas da cultura contemporânea.
O livro, segundo a autora, é uma proposta de cartografia, ainda que incompleta, sobre a prática cosplay entendida na tríade prática comunicativa, cultura e consumo. O livro é resultado de trabalho desenvolvido em grupo de estudos (Grupo de Pesquisa, Comunicação, Consumo e Entretenimento) da ESPM e vinculado ao CNPQ, e é organizado em seis partes: Cosplayers e poetas; Percepção, cognição e pertencimento; Moda e estilo urbano; Matérias sonoras; Games e colecionismo; Flânerie. Os textos que compõem a obra são de pesquisadores vinculados ao Grupo de Pesquisa e situados em diversos percursos acadêmicos, desde mestrandos a pós-doutores, imbuídos de um olhar comum: entender as relações dos jovens do Sudeste do Brasil com o cosplay, suas escolhas pelas representações, a relação com o consumo e a memória que se deseja construir.
A primeira parte é composta por dois trabalhos, de autoria da organizadora – Mônica Rebecca Ferrari Nunes – e de Marco Antônio Bin. Os dois textos versam sobre a compreensão da cena cosplay e da poesia marginal como formas de resistência ao cotidiano, materializadas em performances, sejam elas constituídas pelo prazer de encenar e pela captura dos ídolos para se fazerem ver e ouvir – caso dos cosplayers – ou pela ruptura com as mídias tradicionais e busca de uma visibilidade coletiva – caso dos poetas marginais. Os dois textos denotam para a necessidade de uma compreensão do cosplay juvenil como uma manifestação processual e cultural híbrida, entrelaçando formas de sociabilidades e constituição de identidades e fugindo de um olhar maniqueísta, segundo o qual os jovens cosplayers seriam meros consumidores e/ou reprodutores de ídolos midiáticos.
A segunda parte apresenta dois trabalhos que buscam se debruçar sobre as escolhas dos jovens que desejam e optam por serem cosplayers e a consciência que têm de si mesmos e de seus corpos. Ana Maria Guimarães Jorge e Gabriel Theodoro Soares assinalam o quanto o cosplay deve ser como interpretado não só como prática social, mas também como manifestação social, na medida em que o processo de constituição das identidades na contemporaneidade é marcado pela liquidez (Bauman, 2004). Assim o cosplay é uma possibilidade de constituir grupos para compartilhar vivências e, ainda, escolher representar um personagem que corresponda a determinados valores e significados com os quais há afinidade. Os dois textos constatam a relação entre o cosplay e a busca por um sentido à vida, numa espécie de jogo que propicia um tipo de fuga à vida cotidiana e promove o encontro consigo mesmo e com os seus pares. Essa fuga, contudo, não seria simplesmente fugir à ordem social vivida, mas a construção de outro espaço-tempo com uma ordem própria e condições de pertencimento.
A terceira parte compõe-se de dois textos que tratam sobre moda e sobre como o estilo cosplay influencia e se expande para outros campos. O texto de Tatiana Amendola Sanches aponta vários exemplos de apropriação, por parte de grandes marcas, de estratégias similares aos cosplayers, com modelos vestidos de determinados personagens. Michiko Okano, por sua vez, apresenta as características da “Lolita”, prática que é definida pelos participantes muito mais como um estilo de vida do que como uma subcultura ou cosplayers, seja no Japão ou no Brasil. São analisadas as particularidades e o que há de comum em Lolitas nos dois países e salienta-se que há processos ambíguos que conjugam espetacularização, contestação e a procura de lugar e identificação em uma sociedade que se mostra hostil. As autoras destacam a articulação de consumo e ludicidade que parece constituir-se numa resistência ao mundo adulto e moderno desencantado.
A quarta parte, intitulada Matérias sonoras traz as contribuições de Luiz Fukushiro e Heloísa de Araújo Duarte Valente, em texto que discute a presença da música no universo cosplay: muitos dos cosplayers, ao se apresentarem, adquirem, não apenas as vestimentas, mas, também, as vozes dos seus personagens. Além das vozes, a música constitui-se num elemento chave dos eventos cosplay, e, embora o mercado, de forma geral, não aceite o j-pop (uma apropriação japonesa do pop do Ocidente), ele é abarcado pelos cosplayers. Vera da Cunha Pasqualin, no texto seguinte, destaca o quanto é importante atentar-se para as onomatopéias maciçamente presentes nos mangás e tão importantes quanto as imagens para a compreensão do texto. A autora também analisa as performances de “vocaloides”: pessoas que utilizam um programa para computadores denominado Vocaloid, com vozes gravadas e que podem ser recombinadas, para se apresentarem e cantarem em uma língua que não conseguiriam falar, por exemplo.
A penúltima parte é formada pelos textos de Davi Naraya Basto de Sá e Wagner Alexandre Silva, em torno da temática dos games e do colecionismo. Sá analisa o quanto os games redefinem a memória da mitologia, atualizando estereótipos em um processo constante de reedição. O autor também faz referência à constituição identitária daqueles cosplayers que escolhem determinados personagens: as pessoas são aquilo que desejam consumir. Silva irá mostrar como o colecionismo ligado aos cosplayers difere, em certa medida, da tradição das coleções já estudada pelo filósofo Benjamin. A aquisição dos objetos ocorre também por seus usos e aproximações com determinado personagem, pavimentando a relação de transição de cosplayer a colecionador, relação esta que pode tornar-se mais estreita quando se aumentam os cosplayers que se deseja assumir.
A sexta parte, Flânerie, propõe um passeio por fotografias feitas pelos pesquisadores ao longo de suas pesquisas.
O livro pode ser comparado, imageticamente, a um caleidoscópio que fornece combinações diversificadas à luz do cosplay. Além de proporcionar um aprofundamento ao universo cosplay juvenil presente na região Sudeste do Brasil, contribui para pensar também nas metodologias para se estudar as juventudes. A organizadora cita, por exemplo, a experiência de ter entrevistado duas pessoas que fazem cosplayers via Facebook. Ainda, apresenta uma alternativa à Antropologia, área na qual não tem formação, combinando uma flanêrie e um “engajamento narrativo” com origem em Benjamin e, posteriormente, McLaren.
Por fim, a obra também contribui para debater o consumo na contemporaneidade e o quanto é preciso calibrar o olhar ao debruçar-se sobre a semiosfera cosplay: em tempos modernos – ou pós-modernos – já não é possível compreender as culturas juvenis e a sua relação com o consumo buscando uma motivação linear e unívoca. Temos sujeitos de habitus (Bourdieu) híbridos e, portanto, com identidades que se mesclam e metamorfoseiam, confundindo olhares mais aligeirados.
Referências
NUNES, Mônica Rebecca Ferrari (org.). Cena cosplay: comunicação, consumo, memória nas culturas juvenis. Porto Alegre: Sulina, 2015.
SPOSITO, Marilia Pontes (coord.) Estado da arte sobre juventude na pós-graduação brasileira: educação, ciências sociais e serviço social (1999-2006), volume 1. Belo Horizonte, MG: Argvmentvm, 2009.
Rosana da Silva Cuba – Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Brasil. E-mail: rosana.cuba32@gmail.com
[IF]
Do bispo morto ao padre matador: Dom Expedito e Padre Hosana nas construções da memória (1957-2004) / Igor A. Moreira
No dia primeiro de julho de 1957, por volta das 18 horas e 30 minutos, três sons de disparos de revólver ecoaram no Palácio Episcopal, em Garanhuns, no agreste pernambucano. João, empregado da casa, ao ouvir o barulho, correu à porta e deparou-se com o bispo, Dom Francisco Expedito Lopes, caído ao chão, ensanguentado, moribundo. Imediatamente pediu-lhe que chamassem o Monsenhor José de Anchieta Callou. Soube-se naquele momento, pelo próprio Dom Expedito, o nome daquele que o alvejou: Padre Hosana de Siqueira e Silva, seu subordinado. O motivo seria a denúncia que chegara ao bispo de que Padre Hosana estaria tendo um caso amoroso com Maria José Martins, sua prima e empregada doméstica. Dom Expedito Lopes faleceu depois de oito horas de intensa agonia. Padre Hosana, a princípio, refugiou-se no Mosteiro de São Bento. Como menciona o autor, “o crime, com suas interpretações, deixou marcas”[3]. É a partir dessas (re)interpretações, das marcas do dizer, lembrar e narrar o crime, que ele constrói sua obra.
Igor Alves Moreira é licenciado em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará. Neste livro, fruto de sua dissertação de mestrado defendida em 2008 [4], ele procura explorar e faz isso com maestria, como o crime que sentenciou Dom Expedito à morte e Padre Hosana ao julgamento dos homens, foi lembrado e (re)contado através das construções do lembrar. Apesar de admitir que a história é uma reconstrução da memória, Igor viola as memórias e gesta uma história intrigante [5], possibilitando assim a construção de seu objeto, um acontecimento singular [6].
O interesse do autor é perceber como os fatos relativos ao crime foram contatos e recontados. Para isso, ele sustenta que há múltiplas variantes sobre o crime do Padre Hosana, agenciadas e permeadas de intencionalidades. No decorrer do livro, Igor mostra que existe uma tentativa de produção de um projeto intelectual, centrado na feitura da biografia de Dom Expedito, por parte da Diocese de Garanhuns, para empreender um plano de canonização do bispo. Da mesma forma ocorreu com a figura de Padre Hosana, que também teve sua biografia contada, em forma de livros ou narrativas orais, mas que ambas possuíam uma intenção clara: idealizar e inocentar os respectivos biografados das acusações que lhes foram direcionadas.
Para isso, foi caro ao autor expor os conflitos das várias formas de como o crime foi contado, notadamente nos livros e nos depoimentos orais que coletou durante a pesquisa. Assim, ele admite que seu objeto de estudo encontra-se intimamente ligado a uma problemática da história social da memória, onde “o presente é sempre tocado e afetado pelo passado. E vice-versa. Uma relação pautada por contradições, tensões e reconstruções. Uma relação que abarca a lembrança e o esquecimento”[7]. Assim, seu objeto de pesquisa é um “ausente que age”[8].
O livro encontra-se dividido em três capítulos. O primeiro deles, Um bispo assassinado!, tem por objetivo analisar os discursos que mostraram Dom Expedito Lopes como “santo” e “mártir” da Igreja e, do outro lado, Padre Hosana como vilão e assassino. O autor problematiza aqui como os discursos, textos e falas produziram uma suposta santidade do bispo, onde “são textos dados ao público para convencer, para homogeneizar opiniões e diluí-las sobre o réu e a vítima”[9]. Ainda no primeiro capítulo, ele esclarece como o conceito de perdão foi usado nos discursos, notadamente o perdão oferecido ao Padre Hosana pelo bispo nas horas de dor, com a finalidade de compreender e pontuar o possível martírio de Dom Expedito. Aqui ele mostra como o discurso do martírio foi apresentado à população de Garanhuns pelos “homens e mulheres das letras”, ou seja, por aqueles que institucionalizaram essas práticas discursivas.
O assassinato de Dom Expedito Lopes transformou-se em cartas, matérias de jornais e rádios, em livros, em literatura de cordel, em temas de canções, em conversas dos moradores mais antigos. Para conforto e desconforto de suas personagens, e da Diocese de Garanhuns, nesses registros do passado no presente, verifica-se a existência de discursos e silêncio em disputa. Nesses registros, vários conceitos e situações são abordados. No caso do assassinato de Dom Expedito, verifica-se ainda que ele foi um “exemplo” a ser seguido pela posteridade. O seu “exemplo”, no entanto, também aponta tramas e incoerências. Para outro punhado de pessoas, Padre Hosana foi um “bom exemplo”. Ambos, contudo, foram protagonistas de um crime.[10]
No segundo capítulo, A Diocese de Garanhuns e o tribunal para a causa da beatificação e canonização, o propósito é compreender e verificar os insumos e procedimentos institucionais da Igreja Católica no tocante ao processo de beatificação e canonização de uma pessoa. Há aqui uma preocupação do autor em analisar como a Diocese de Garanhuns produziu e divulgou ao público uma biografia linear e harmoniosa do bispo, bem como a atuação dos jornais em socializar uma narrativa em prol da beatificação e canonização. É discutido também os meios utilizados para sagrar e desenvolver uma memória específica e homogênea de Dom Expedito.
Como fruto de uma seleção, a biografia de Dom Expedito é composta pelo dito e não-dito, o autorizado e não-autorizado, com intenções específicas e claras: dar um santo aos demais diocesanos. Uma vontade e/ou capricho singular do grupo que é estendido aos demais de forma imperativa. Dar a ele a “verdade”: que o Brasil tem um santo, ainda não reconhecido oficialmente pelo Vaticano. É uma biografia apresentada na compreensão de que toda sua vida foi exemplar. É linear e desprovida de provocações e conflitos.[11]
No terceiro e último capítulo, Um padre assassino?, é debatido pelo autor as várias interpretações e narrativas que idealizaram Padre Hosana de Siqueira e Silva. Existe aqui, e é trabalhado através de um dos tópicos do capítulo, literalmente, uma “guerra de livros”, uma disputa de escrita, pela letra e a palavra. O autor traz para a discussão as várias obras específicas, algumas com notadamente uma pretensão biográfica, que tratam sobre o crime, onde se percebe claramente quem está do lado do bispo e do lado do padre. Igor reitera que no trato com as narrativas sobre o crime, orais e escritas, foi possível perceber subversões e contradições, onde a movimentação do dito e não dito regem os sentidos do passado e, consequentemente, o texto do autor.
Assim, a biografia é, tanto para os que defendem o bispo, quanto para os que preservam o padre, um instrumento de acusação e defesa. O passado de ambos explica o presente, justifica o crime. São os usos do passado. O passado de um explica sua santidade, confirma o sentido de sua morte, o passado do outro explica o crime. É uma biografia linear, com causa e consequência. Se não fosse o crime, nenhum precisaria de biografia, aqui posta como prova. O passado vale como argumento para provar a inocência de cada um.[12]
O que conseguimos perceber é que o “mártir” Dom Expedito não permanece sem o seu oposto, o “vilão”, Padre Hosana. Um precisa do outro para existir. Nas palavras do autor, “nesses fragmentos do passado, os dois estão sempre juntos. Um alimenta o outro. Em meio aos dizeres e às contestações sobre ambos, eles se complementam, se necessitam”[13].
A obra em questão foi produzida através de uma grande variedade de fontes e um trabalho primoroso de pesquisa. O autor utilizou-se de um extenso referencial teórico e metodológico para dar conta da natureza de suas fontes: jornais, revistas, livros, biografias, atas de abertura e instalação do tribunal para a beatificação e canonização de Dom Expedito Lopes; livros de cânticos, orações, textos e discursos proferidos nas missas, fotografias, registros de programas de rádio e TV, além dos registros das narrativas orais, totalizando um total de 42 entrevistas.
A obra de Igor Alves Moreira consiste em um trabalho de um historiador notadamente preocupado com os usos e abusos do passado pelos sujeitos no presente, contribuindo para um olhar problematizador na relação entre o aqui (presente) e o ali (passado), dentro de uma perspectiva da história social da memória.
Os que escrevem sobre esse crime se veem como guardiões dessa história, como guarda-costas do passado. Cada um puxa a “verdade” para si, constituída com base em iscas guardadas nas empoeiradas prateleiras de arquivos pessoais e institucionais de Pernambuco e, ainda, nas narrativas orais dos moradores de Garanhuns e Correntes.[14]
Este trabalho deambula na oposição de uma ideia homogênea, uniforme e harmoniosa da relação entre presente e passado, e notadamente da concepção de história enquanto uma procissão de sujeitos comportados e não transgressores frente aos acontecimentos, de uma história enquanto exemplo a ser seguido, como ciência mestra da vida. Pelo contrário, no confronto das fontes, o autor verificou e analisou incoerências e incompletudes, leituras e posicionamentos diversos sobre as formas de dizer o crime, feitios narrativos extremamente divergentes. Porém, ele é enfático em dizer que o foco de seu trabalho não é o crime, e sim a forma como ele foi narrado nas mais diversas fontes em que analisou durante a produção da obra. Em suas palavras, “longe estou de querer saber sobre o desenrolar do crime. Preocupado estou em analisar como ele foi contado e recontado na letra e na fala”[15]. E conseguiu.
Notas
3. MOREIRA, Igor Alves. Do bispo morto ao padre matador: Dom Expedito e Padre Hosana nas construções da memória (1957-2004). Sobral: Edições Ecoa. Sobral. 2015. p. 14.
4. A dissertação foi defendida no Programa de Pós-Graduação em História Social da UFC e possui o mesmo título do livro aqui analisado. O trabalho foi orientado pelo Prof. Dr. Francisco Régis Lopes Ramos.
5. Sobre a relação entre o historiador e o trato com as memórias, ver ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. Violar memórias e gestar a História: Abordagem a uma problemática fecunda que torna a tarefa do historiador um “parto difícil”. Clio-Série História do Nordeste, n. 15. 1994.
6. Paul Veyne entende o acontecimento como próprio do saber histórico, onde a partir dele a história poderia ser constituída. Para Veyne, o acontecimento é singular, uma conjunção de fatos que não se repetirão. Para mais informações ver VEYNE, Paul. Como se escreve a história: Foucault revoluciona a história. 4ª Ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2008.
7. MOREIRA, Igor Alves. Op. cit., p.15.
8. DOSSE, François. História e Ciências Sociais. Tradução de Fernanda Abreu. Bauru:EDUSC. 2004. p. 184.
9. MOREIRA, Igor Alves. Op. cit., p. 21.
10. Ibidem. p. 75.
Referências
ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. Violar memórias e gestar a História: Abordagem a uma problemática fecunda que torna a tarefa do historiador um “parto difícil”. Clio-Série História do Nordeste, n. 15. 1994.
DOSSE, François. História e Ciências Sociais. Tradução de Fernanda Abreu. Bauru: EDUSC, 2004.
MOREIRA, Igor Alves. Do bispo morto ao padre matador: Dom Expedito e Padre Hosana nas construções da memória (1957-2004). Sobral: Edições Ecoa, 2015.
VEYNE, Paul. Como se escreve a história: Foucault revoluciona a história. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2008.
11 Ibidem. p. 119.
12 Ibidem. p.164.
13 Ibidem. p. 172.
14 Ibidem. p. 173.
15 Ibidem. p. 174.
Cid Morais Silveira – Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGH-UFRN). Bolsista CAPES. Editor da Revista Espacialidades e membro do grupo de estudos Cartografias Contemporâneas: história, espaços, produção de subjetividades e práticas institucionais (UFRN). Email: cidmoraissilveira@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5434753825771874.
MOREIRA, Igor Alves. Do bispo morto ao padre matador: Dom Expedito e Padre Hosana nas construções da memória (1957-2004). Sobral: Edições Ecoa, 2015. Resenha de: SILVEIRA, Cid Morais. Os tiros que não saíram pela culatra. Em Perspectiva. Fortaleza, v.2, n.1, p.214-219, 2016. Acessar publicação original [IF].
La venganza de la memoria y las paradojas de la historia – CUESTA (CCS)
CUESTA, Raimundo. La venganza de la memoria y las paradojas de la historia. Lulu.com, 2015.136p. Resenha de: LÓPEZ FACAL, Ramón. La “historia con memoria” como herramienta de futuro. Com-Ciencia Social – Anuario de Didáctica de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, Salamanca, n.20, p.151-155. 2016.
“En un país gana el futuro quien llene el recuerdo, acuñe los conceptos y explique el pasado.” (Michael Stürmer; citado por Reyes Mate en el prólogo del libro de Noufuri, 1999)
La lectura de la reciente obra de Raimundo Cuesta La venganza de la memoria y las paradojas de la historia (2015) me ha traído a la cabeza la cita de Michael Stürmer, formulada durante la conocida disputa de los historiadores alemanes (Historikerstreit) y que Reyes Mate ha reproducido en diversas ocasiones.
Para construir el futuro que se desea es necesario ser capaces de explicar el pasado, de manera que permita acuñar conceptos, construir imágenes mentales, que nos ayuden a interpretar el mundo que nos rodea.
Hace muchos años que conozco y admiro la ácida lucidez de Raimundo Cuesta y sus análisis, poco complacientes, sobre prácticas y colectivos que suelen serlo en exceso.
Sus escritos a veces me han deslumbrado, otras me han hecho dudar y alguna vez me han suscitado incomodidad o desaprobación. Pero nunca me han dejado indiferente.
Entre sus aportaciones más recientes me han interesado especialmente las referidas a memoria e historia.1 Esta perspectiva en la investigación y análisis del uso público del cierta medida, una nueva y fértil línea respecto al camino iniciado hace ya años sobre la genealogía de la historia como disciplina escolar, un campo en el que sus aportaciones han sido y son fundamentales. La facilidad de acceder a la mayor parte de sus publicaciones, que están disponibles en abierto, me exime de detallar aquí la extensa bibliografía de la que es autor.
La venganza de la memoria y las paradojas de la historia se estructura en 14 capítulos breves. En la primera mitad se realiza una genealogía de la memoria (De potencia del alma a facultad psíquica) excelentemente documentada, incluso erudita, que sirve de preámbulo a las complejas relaciones entre historia y memoria a partir del siglo XX.
La segunda parte de la obra es, en mi opinión, la más interesante. Tras resumir, en el capítulo 7, la resistencia a la irrupción de la memoria por parte de historiadores tan prestigiosos como Pierre Nora, Tony Judt y Margaret MacMillan, que “se han erigido en defensores corporativos del territorio y jurisdicción de la memoria para tratar el pasado” (p. 60) y de contraponerlos a un uso público de la historia, que supere la posición gremial de los historiadores (posición de Habermas durante la polémica de los historiadores alemanes), recurre a Burke quien, desde la historia cultural, supera las concepciones gremialistas y abre nuevos caminos para una historia con memoria:
“Tanto la historia como la memoria parecen cada vez más problemáticas. Recordar el pasado y escribir sobre él ya no se consideran actividades inocentes. Ni los recuerdos ni las historias parecen ya objetivos. En ambos casos los historiadores están aprendiendo a tener en cuenta la selección consciente o inconsciente, la interpretación y la deformación. En ambos casos están empezando a ver la selección, la interpretación y la deformación como un proceso condicionado por grupos sociales o, al menos, influidos por ellos. No es obra de individuos únicamente.” (Burke, 2000, p. 66).2
Se realiza un seguimiento esclarecedor de los orígenes de la recuperación de la memoria como instrumento necesario para explicar el pasado, desde Halbwachs a Habermas y Traverso, pasando por Walter Benjamin y Horkheimer y, en España, Reyes Mate o Emilio Lledó.
“Hasta cierto punto se diría que el nuevo imperativo categórico enunciado por Adorno (‘la exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas la que hay que plantear a la educación’) se trasmuta y convierte en una guía para educar contra la barbarie y por la emancipación, lo que conduce a cultivar y propugnar unos determinados deberes de memoria.” (p. 80).
La filosofía de la memoria emerge de, y asume, la solidaridad con las víctimas, con el dolor ajeno, con el rechazo de la razón instrumental: “la razón [que] encuentra en la ciencia y en el beneficio material una ultima ratio por encima del ideal de un justo bienestar humano” (p. 79). La memoria así considerada no es solo, ni fundamentalmente, un instrumento de conocer lo que ha sucedido en el pasado sino que es un proyecto de futuro: la herramienta de liberación para construirlo que necesita comprender cómo se percibieron los sufrimientos y el dolor de las víctimas.
La aportación más relevante de la obra es un nuevo concepto para desarrollar una historia con memoria:
“La combinación de ‘exactitud positivista’ y atención al sufrimiento debe ser motivo principal de nueva alianza de memoria e historia bajo el signo del pensamiento crítico. Rigor ‘científico’ e interés emancipatorio son estrictamente necesarios y quedan soldados a los supuestos de una historia con memoria, tal como la que defendemos en este ensayo. Esto es, se propone una pesquisa genealógica de nuestros problemas sociales de hoy.” (p. 100).
La venganza de la memoria y las paradojas de la historia es un libro necesario que deja al lector, al menos al lector preocupado por construir una didáctica crítica, con ganas de más, porque…
“(…) los acontecimientos más brutales de la civilización moderna (desde el genocidio colonialista hasta la destrucción masiva de los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial) tienen dificultad de enca jar en la estrecha horma perceptiva de la historiografía convencional, porque no cabe concebirlos neutralmente como distantes acontecimientos observables con fría objetividad. El acercamiento a esos fenómenos de violencia extrema hace inevitable un cierto compromiso ético desde el presente hacia el pasado, lo que conlleva una evocación difícilmente neutral o meramente ‘científica’.” (pp. 126-127).
Partiendo de una concepción más amplia del uso público habermasiano “que extienda el concepto, por ejemplo, al mundo de la educación escolar y de las instituciones culturales no formales, en tanto que espacios civiles deliberativos donde se confrontan memorias sociales” (p. 103), hubiera deseado, al menos, un epílogo en esta dirección.
Aunque espero que Raimundo Cuesta aborde esta tarea en el futuro.
El conocimiento histórico, y el uso público que se haga de él, constituyen una preocupación de primer orden para quienes pretendemos promover una educación orientada a la comprensión de los problemas sociales como base o herramienta para construir un futuro mejor. Por ejemplo, María Auxiliadora Schmidt (2015), quien asume las tesis de Jörn Rüsen sobre la didáctica de la historia, explica por qué la preocupación por un conocimiento del pasado que sea de utilidad para construir un futuro, desde el conocimiento informado, ha sido excluida de las reflexiones de los historiadores sobre su propia profesión, siendo sustituida por la metodología de la investigación histórica (Rüsen, 2010, p.27). El resultado ha sido un divorcio entre enseñanza e investigación. La educación histórica se ha considerado una actividad menor, secundaria, sin estatus “científico”, limitada a la mera reproducción del saber académico para contribuir a las finalidades que, desde el poder, se esperaba de la escolarización: fundamentalmente la de formar patriotas.
Esa separación, continúa Schmidt, acabó dejando un vacío en el conocimiento histórico académico, el vacío de su función, pues desde el siglo diecinueve, “cuando los historiadores constituyeron su disciplina, empezaron a perder de vista un principio importante, como es que la historia necesita estar conectada con la necesidad social de orientar para la vida dentro de una estructura temporal” (Rüsen, 2010, p. 31). Se ha justificado la existencia del conocimiento histórico erudito como base para la enseñanza, pero no se justificaba la enseñanza de la historia, porque su función para la vida práctica se había perdido. Esa desconexión de la asignatura de historia y el sentido práctico, si por una parte ofreció a la historia el status de disciplina erudita, por otro generó un vacío sobre su función en la escuela. Este punto de vista llegó al culmen a mediados del siglo XX, momento en el que la historia formal no se orientó directamente a la esencia del conocimiento histórico escolar. Los historiadores consideraron que su disciplina podía legitimarse por su mera existencia. Los estudios históricos y su producción serían como un árbol que produce hojas: “El árbol vive con tal que tenga hojas, es su destino vivir y tener hojas. Se prescindió de dar a la historia cualquier uso práctico o función real en las áreas culturales donde puede servir como un medio para suministrar explícitamente una identidad colectiva y una orientación para la vida” (Rüsen, 2010, p. 34).
En este contexto es en el que, en mi opinión, adquiere especial relevancia la reconceptualización de la memoria para un nuevo uso social de la historia realizada por Raimundo Cuesta. Se trata de una apuesta muy enriquecedora para un debate necesario en el que tan solo echo de menos que no se ocupe explícitamente de la dimensión didáctica en este libro. Es cierto que sobre eso ha escrito ya en numerosas ocasiones (por ejemplo, en esta misma revista: Cuesta, 2011b y Cuesta et al. 2005, entre otros) proponiendo una didáctica crítica basada en la crítica de la didáctica, no solo de aquella asentada en rutinas y tradiciones profesionales sino también de las propuestas alternativas a las que no reconoce su dimensión crítica. Este enfoque es el que más dudas me plantea en las posiciones que viene manteniendo Raimundo Cuesta (y Fedicaria), que, como indico, no están presentes en esta obra al no ocuparse específicamente de la dimensión educativa.
Coincido con Cuesta en que “la didáctica crítica que sugerimos implica una crítica de la didáctica (de la enseñanza escolar en su estado actual) y postula, a modo de principios de procedimiento, ‘problematizar el presente’ y ‘pensar históricamente’, ambos enunciados López Facal consustanciales a esa mirada de tinte genea
Referencia principal
Cuesta, Raimundo (2015). La venganza de la memoria y las paradojas de la historia. Lulu.com. 136 pp.
Referencias
BARTON, K.C. (2009). The denial of desire: How to make history education meaningless. En Symcox, L. y Wilschut, A. (Eds.). National History Standars. The problem of the canon and the future of teaching History. Charlotte, NC: Information Age Publishing, pp. 265-282.
BARTON, K.C.; LEVSTIK, L. (2004). Teaching History for the Common Good. Nueva York-Londres: Routledge.
BURKE. P. (2000). La historia como memoria colectiva.
Cap. 3 de Burke, P. Formas de historia cultural. Madrid: Alianza, pp. 65-85.
CUESTA, R. (2007). Los deberes de la memoria en la educación. Barcelona: Octaedro.
CUESTA, R. (2011a). Memoria historia y educación.
Genealogía de una singular alianza. En Lomas, C. (coord.). Lecciones contra el olvido: memoria de la educación y educación de la memoria. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pp.163-195.
CUESTA, R. (2011b). Historia con memoria y didáctica crítica. Con-Ciencia Social, 15, 85-92.
CUESTA, R. (2014). Genealogía y cambio conceptual: Educación, historia y memoria. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, vol. 22, pdf 23. <htpp://epaa.asu.edu/ojs/article/ download/1527/1226>. (Consultado el 15 de enero de 2016).
CUESTA, R.; MAINER, J.; MATEOS, J.; MERCHÁN. F.J. (2015). Didáctica crítica: allí donde se encuentran la necesidad y el deseo. Con- Ciencia Social, 9, 17-54.
DOMÍNGUEZ ALMANSA, A. y LÓPEZ FACAL, R. (2015). Paisajes invisibles, patrimonios en conflicto: experiencias en la formación del profesorado y la educación primaria. En Hernández Carretero, A.M., García Ruiz, C R., De la Montaña Conchiña, J.L. (Eds.). Una enseñanza de las ciencias sociales para el futuro: Recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temáticas. Cáceres: Universidad de Extremadura-AUPDCS, pp 713-720. <http://didactica-ciencias-sociales.org/ wp-content/uploads/2013/07/2015-caceresR. pdf>. (Consultado el 11 de noviembre de 2015).
LEVSTIK, L.; BARTON, K.C. (2008). Researching History Education: Theory, Method, and Context. Nueva York- Londres: Routledge.
NOUFURI, H. (1999). Tinieblas del crisol de razas. Buenos Aires: Cálamo.
RÜSEN, J. (2004). Historical Consciousness: Narrative Structure, Moral Function and Ontogenetic Development. En Seixas, P. (Ed.). Theorizing historical consciousness. Toronto: University of Toronto Press, pp.63-85.
RÜSEN, J. (2005). History: Narration, Interpretation, Orientation. Nueva York: Berghahn.
RÜSEN, J. (2010): Didática da História: passado, presente e perspectivas a partir do caso alemão. En Schmidt, M.A., Barca, I., Martins, E.R. (org.). Jörn Rüsen e o ensino de História. Curitiba: Editora da UFPR, pp. 23-40.
SCHMIDT, M.A. (2015). Globalización y la política de formación del profesor de historia en Brasil. Revista Perspectiva Educacional, Formación de Profesores, 55 (1), 38-50. <http:// www.perspectivaeducacional.cl/index.php/ peducacional/article/view/357>. (Consultado el 5 de noviembre de 2015).
SEIXAS, P. (2013). The Big Six Historical Thinking Concepts. Boston: Cengange Learning.
[Notas]1 Raimundo Cuesta se ha ocupado de este tema en trabajos anteriores: Cuesta 2007, 2011a, 2011b y 2014.
Merece la pena destacar el último apartado del artículo publicado en 2014, en el que vincula la “memoria con historia” con la didáctica crítica, y que no desarrolla ahora en esta obra.
2 Citado por Cuesta, p. 61.
3 <http://www.proyectos.cchs.csic.es/integracion/es/content/grupo-eleuterio-quintanilla>; o también <http://educacion.gijon.es/page/13152-grupo-eleuterio-quintanilla> (Consultado el 20 de enero de 2016).
Ramón López Facal – Universidad de Santiago de Compost.
[IF]Angola: história, nação e literatura (1975-1985) / Silvio A. Carvalho Filho
Lembro-me que, por volta de 2008, pude assistir a uma comunicação sobre a relação entre a escrita literária de Pepetela e a história de Angola, proferida por Silvio de Almeida Carvalho Filho, no âmbito dos encontros realizados pelo Núcleo de Estudos Africanos, da Universidade Federal Fluminense. Passados oito anos, com o lançamento do livro Angola: história, nação e literatura (1975-1985), Silvio Carvalho Filho consolida-se como um dos mais importantes pesquisadores no que tange à análise da construção identitária do que veio a se tornar a nação angolana independente.
A oralidade foi e continua sendo explorada como um fator importante para diferentes sociedades africanas espalhadas pelo continente. No entanto, Silvio Carvalho Filho consegue demonstrar como, dependendo do contexto, nesse caso o do processo de independência angolana das amarras coloniais portuguesas, existe uma África que vai para além da oralidade. Propondo diferentes demandas políticas por meio de uma literatura escrita, aqueles que conseguiram publicar e publicitar suas obras entre o período de 1975 e 1985 são o destaque no livro.
Dando um enfoque na análise para essa comunidade imaginada existente nas obras literárias selecionadas, mas sem deixar de lado a atuação desses literatos durante a guerra de independência e a ocupação de cargos no novo Estado que emergiu pós-1975, Silvio Carvalho Filho posiciona-se defendendo uma abordagem do “[…] literato como arauto de um imaginário coletivo ou como parcela do mesmo”2. Nesse sentido, com um extenso levantamento de fontes, elegendo 56 livros, dentro de um universo de 129 publicações existentes para o período analisado, cartas, entrevistas, comentários e diversos periódicos, como o jornal Diário de Angola (1975-76) e as revistas Novembro (1976-86) e Lavra & Oficina (1979-83), Silvio Carvalho Filho conseguiu produzir um panorama a respeito da nação angolana imaginada e produzida na e pela literatura/literários. Percebendo-a como fortemente influenciada pelo seu meio social e agindo também como interventora nesse ambiente, o autor demonstra a íntima relação entre as ações pela independência de Angola, a construção de um projeto de nação profundamente ligado ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e as ações dos literários, principalmente por meio de sua escrita, em prol desse projeto específico.
No entanto, o título do livro de Silvio Carvalho Filho pode enganar alguns leitores, especialmente no que diz respeito ao recorte cronológico referenciado. Aqueles que adquirirem o livro em busca de uma análise dos dez anos posteriores à independência de Angola não conseguirão encontrar ali muitas respostas. Os anos entre 1975 e 1985 fazem referência ao período de publicação das fontes analisadas, mas não necessariamente aos assuntos abordados tanto pelos autores da documentação consultada como pelo próprio Silvio Carvalho Filho. Dos dez capítulos existentes, encontramos várias ponderações a respeito desse período anunciado. Porém, em apenas dois o autor aborda de maneira direta a relação entre uma consciência crítica dos literários e de suas obras enquanto ferramentas políticas de atuação, um discurso engrandecedor do projeto socialista defendido pelo MPLA, assim como, posteriormente, do sistema que se tentou implementar em seguida à vitória sobre Portugal e as desilusões e desesperanças com a percepção de um Estado independente marcado pela ascensão de “[…] burocráticos despóticos, corruptos e nepotistas […].”3
Esse descompasso entre anunciação do recorte cronológico do livro e a atenção a um tempo histórico diferente nas análises pode ser explicado pelas características que o próprio Silvio Carvalho Filho elenca ao buscar compreender a construção da identidade nacional angolana a partir das obras de literatos como Manuel Rui, Uanhenga Xitu, Pacavira, Pepetela e tantos outros. Apesar de uma parte significativa da obra desses autores ter sido publicada apenas no pós-independência, muitas foram confeccionadas ainda durante o período colonial, acabando, por inúmeros motivos, tendo como destino o fundo das gavetas. Talvez a principal causa para a incapacidade desses autores de publicarem seus escritos antes de 1975 tenha sido, justamente, a maneira como viam sua literatura como um entrelaçamento entre a ação política e partidária de maneira engajada na formação da nação angolana.
Ao detalhar os diferentes fatores elencados pelos personagens e pelas narrativas das obras literárias analisadas, Silvio Carvalho Filho acaba por retornar para um passado marcado brutalmente pelas ações violentas da repressão colonial portuguesa. Nesse sentido, mais do que falar sobre os dez anos posteriores à independência angolana, no livro Angola: história, nação e literatura (1975-1985) temos contato com processos de elaboração e disseminação de uma memória sobre um passado existente previamente a esse período, com objetivos políticos marcados pelas experiências e pelas referências ideológicas, predominantemente marxistas, dos literários angolanos vinculados ao projeto nacionalista do MPLA. Portanto, um suposto empobrecimento estético existente em determinados trabalhos desses autores é abordado por Silvio Carvalho Filho dentro de um contexto onde existiu um esforço político em direção a tornar a literatura mais como uma ferramenta de transformação por meio de seu posicionamento político ante a sociedade, do que uma valorização de uma possível noção do sublime estético das rimas poéticas e/ou da prosa narrativa.
Aos poucos, ao longo do livro Angola: história, nação e literatura (1975-1985), somos apresentados às bases do projeto nacionalista angolano vitorioso na guerra de independência, sua relação com a literatura e com a atuação dos literários na sua escrita. Nesse sentido, Silvio Carvalho Filho demonstra a existência de um campo literário angolano que se consolida como hegemônico após a independência, que de maneira comum ao longo do período da guerra contra o regime colonial concebeu uma nação que desejavam ver quando livres da opressão portuguesa muito próxima do MPLA e bastante distante dos demais movimentos independentistas. Esse campo não necessariamente condizia com uma realidade ampla das experiências dos futuros cidadãos angolanos. Tendo a cidade de Luanda como cidade-símbolo da nacionalidade imaginada pelo MPLA e “[…] as populações de cultura crioula […]” estabelecendo a “[…] matriz básica da cultura nacional a ser engendrada […]”4, existiu um esforço de, por um lado, aglutinar a pluralidade sociocultural dentro de marcos nacionalistas de uma angolanidade almejada. Por outro lado, essa angolanidade encontrava-se em disputa com essa pluralidade quando a mesma não se coadunasse “[…] com a racionalidade ocidental, da qual o socialismo revolucionário era uma das vertentes […]”5. A nacionalidade angolana que emergiu dos literários analisados era estritamente vinculada ao MPLA. Nas obras literárias, ser angolano, em 1975, era entendido como ser adepto das propostas desse movimento. Com o decorrer dos anos, as desilusões e desesperanças com o socialismo levaram a mudanças que encerram a proposta analítica do livro.
Porém, o que era ser angolano? Talvez essa tenha sido a pergunta primordial que os literários analisados por Silvio Carvalho Filho tentaram responder. Como o autor aponta, esse processo de construção do projeto de nação imaginado pelos literários angolanos em suas obras remeteu constantemente a um passado. Buscar retratar um passado de uma determinada forma, mesmo que sendo através da ficção, era fortalecer premissas políticas do momento presente à produção dessas obras. Foi no embate a uma narrativa sobre o passado produzida nos marcos do colonialismo português que a literatura angolana construiu a si e a nação que almejava. Nesse sentido, ao invés de tentarem buscar no passado que construíam em suas obras uma essência nacionalista angolana atemporal, elaboraram uma identidade angolana baseada numa noção de experiência compartilhada entre a maioria da população. Essa experiência, que funcionaria como uma ferramenta agregadora da diversidade capaz de produzir uma unidade nacional, seria a da resistência contra a exploração e a repressão colonial.
O exercício literário desses escritores na tentativa de elaborar um passado comum, marcado pelas experiências de resistência ao colonialismo português, que buscou produzir um sentido de “nós angolanos”, por vezes parece ter seduzido algumas das abordagens de Silvio Carvalho Filho. O colonialismo foi uma forma de exploração altamente devastadora e violenta. Porém, o tom de denúncia das atrocidades coloniais adotado pelos literários angolanos, por mais importantes que tenham sido no contexto da descolonização, passou ao largo das complexidades dos contextos históricos que os mesmos tentaram recriar. Esse embaralhar entre história, memórias, literatura e os projetos políticos ensejados pelos literários da geração independentista, faz com que em determinados momentos Silvio Carvalho Filho adote uma abordagem que enxerga as narrativas literárias como uma espécie de testemunhos da verdade, sobretudo quando os textos literários dizem respeito às relações estabelecidas entre setores do mundo colonial como grupos estanques divididos entre, de um lado, o colonizador e, do outro diametralmente oposto, o colonizado.
Para concluir, no temeroso cenário acadêmico brasileiro de 2016, o livro Angola: história, nação e literatura (1975-1985), de Silvio de Almeida Correio Filho é um importante contributo para os estudos africanos. Sua expansão no Brasil, acompanhada pela proliferação do ingresso de professores especialistas nas universidades e do crescimento da obrigatoriedade da História da África nos currículos disciplinares acadêmicos, encontra aqui uma importante ferramenta. O capítulo “A Nação, os Escritores e a Literatura” merece destaque especial. A apresentação panorâmica que Silvio Carvalho Filho produz no capítulo fornece aos professores universitários, sempre em busca de produções historiográficas de qualidade e em língua portuguesa, um importante texto para ser trabalhado nas salas de aula de graduação de todo o país. Além disso, a grandeza do livro recai na sua capacidade de realizar análises vastas e ricas, mas, ainda assim, deixar inúmeras outras possibilidades de pesquisa a serem exploradas. Abrindo caminhos para novas gerações, Silvio Carvalho Filho consegue brindar-nos com uma obra que acende pistas para futuras pesquisas e que poderão ampliar de maneira qualitativa os estudos africanos produzidos em solo brasileiro.
Notas
- CARVALHO FILHO, Silvio de Almeida. Angola: história, nação e literatura (1975-1985). Curitiba: Editora Prisma, 2016. p. 24.
- Ibid., p. 346.
- Ibid., p. 236-237.
- Ibid., p. 276.
Matheus Serva Pereira – Doutorando em História Social da África – Unicamp. Bolsista Fapesp. E-mail: matheusservapereira@gmail.com.
CARVALHO FILHO, Silvio de Almeida. Angola: história, nação e literatura (1975-1985). Curitiba: Editora Prisma, 2016. Resenha de: PEREIRA, Matheus Serva. Literatura, memória e a construção de uma perspectiva nacional angolana. Outros Tempos, São Luís, v.13, n.22, p.219-223, 2016. Acessar publicação original. [IF].
Oração e memórias na Academia das Ciências de Lisboa: Introdução e coordenação editorial de José Alberto Silva – ALMEIDA (VH)
ALMEIDA, Teodoro de. Oração e memórias na Academia das Ciências de Lisboa: Introdução e coordenação editorial de José Alberto Silva. Porto: Porto Editora, 2013. 121 p. Resenha de: FERREIRA, Breno Ferraz Leal. Oração e memórias na Academia das Ciências de Lisboa: Introdução e coordenação editorial de José Alberto Silva. Varia História. Belo Horizonte, v.31, no. 55, Jan. /Abr. 2015.
Com a publicação de José Alberto Silva – doutorando em História e Filosofia das Ciências pela Universidade Nova de Lisboa e membro do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia – dos textos referentes à participação do padre Teodoro de Almeida (1722-1804) na Academia das Ciências de Lisboa, temos uma nova oportunidade para buscar acompanhar os passos dados pelo pensamento ilustrado em Portugal, bem como as disputas que lhe foram constitutivas. Como parte da Coleção Ciência e Iluminismo, trata-se de mais uma iniciativa que vem muito a contribuir para diminuir a distância entre o que era produzido no contexto das Luzes e o que o público leitor de hoje tem acesso para conhecer aquele período.
Silva assina as notas e a competente introdução à obra, na qual situa a produção intelectual de Teodoro de Almeida no contexto das Luzes e do movimento acadêmico dos séculos XVII e XVIII. Escolhido por seu prestígio junto a uma parcela da elite intelectual portuguesa do período pós-pombalino para o cargo de orador oficial da Academia das Ciências, e por isso responsável pelo seu discurso inaugural, o padre da Congregação do Oratório foi, sem sombra de dúvidas, uma das figuras mais emblemáticas e eruditas da segunda metade do século XVIII, o que o coloca em pé de igualdade a nomes como Antonio Pereira de Figueiredo (1725-1797) e Manuel do Cenáculo Vilas-Boas (1724-1814). Somente uma personalidade dotada de imenso saber poderia ser responsável pela maior obra de divulgação científica do setecentos português, os dez volumes que compõem a Recreação Filosófica (1751-1800), iniciativa de caráter enciclopédico tipicamente iluminista – para além de outras obras em que transitou entre variados gêneros e temas, que foram da literatura à poesia, da filosofia à religião. Sucesso editorial na segunda metade do século XVIII e início do XIX, com reedições contínuas da maior parte dos seus tomos, a Recreação tinha o propósito de alcançar o público leitor da época com a exposição de variados temas vistos pelo prisma do padre, conteúdos que hoje infelizmente são pouco acessíveis justamente pela falta de edições recentes.
As cartas e memórias agora reunidas em livro dizem respeito, portanto, sobre apenas uma fase da vida do padre, a saber, o momento em que retornou a Portugal após oito anos de exílio no exterior. A perseguição promovida por Sebastião José de Carvalho e Melo aos oratorianos nos anos 1760 levou Almeida a residir a maior parte da década subsequente em Baiona (França). Tendo falecido D. José, abriu-se caminho para o seu retorno, o que ocorreu em 1778. Em Lisboa, passa a compor o grupo liderado por D. João Carlos de Bragança (1719-1806), o 2º Duque de Lafões, responsável pela formação da Academia das Ciências, tendo sido eleito em assembleia como orador oficial e sócio efetivo da classe de cálculo. Porém, ao contrário do que se poderia esperar, a partir daí iniciaram-se contratempos em sua carreira dentro da mesma instituição. É isso que mostra um primeiro conjunto de textos presente na obra editada por Silva.
Incluem-se nesse conjunto a oração de abertura recitada por Teodoro de Almeida a 4 de julho de 1780 e mais sete cartas que fazem referência ou a ela ou ao padre e à Academia. Infelizmente, ainda não foi possível elucidar a autoria da maioria delas, especialmente das que lhe foram críticas. Conforme outros historiadores já haviam defendido, destacadamente Francisco Contente Domingues, a disputa teve como pano de fundo a defesa do legado pombalino, particularmente presente na Carta em crítica à oração do Pe. Teodoro de Almeida e na Sátira. Espalhada contra um religioso de S. Filipe Néri, interpretação essa aceita por José Alberto Silva (p.22). Por sua vez, assumindo uma postura que pode ser compreendida como antipombalina, o padre oratoriano celebrou a fundação da Academia como o grande momento da história cultural portuguesa do século, o momento a partir do qual finalmente os portugueses poderiam se considerar equiparados às nações mais cultas da Europa. Esse posicionamento dava margem à interpretação de que o padre fazia pouco das iniciativas culturais e educacionais instituídas durante o ministério de Pombal (1750-1777), como a reforma estatutária da Universidade de Coimbra (1772). A Resposta à precedente sátira, também de cunho antipombalino, vinha a defender Almeida, argumentando que a intenção do padre não era dizer que a ignorância não havia começado a ser dissipada nos anos precedentes, mas apenas dizer que ela ainda predominava, apesar dos esforços anteriores. Em todas elas, portanto, a discussão sobre o atraso que viria a marcar as gerações futuras e que em Portugal adveio atrelada ao discurso pombalino.
A publicação desta Resposta constitui uma contribuição inédita, dado que as demais cartas já haviam sido publicadas em outras obras. Porém, mesmo no caso destas, a sua reunião vem bem a calhar, pois, além de juntá-las todas num único volume, o que temos agora em mãos é o resultado do cotejamento das diferentes versões de cada um dos manuscritos encontrados por Silva em diferentes arquivos e bibliotecas. Também já publicadas anteriormente são as memórias que compõem um segundo conjunto de textos, transcritos a partir dos manuscritos que constam na Biblioteca da Academia das Ciências. Quatro trabalhos dos apresentados nas assembleias acadêmicas (“Sobre a natureza do sol”, “Sobre a natureza da luz e vácuo celeste”, “Sobre a rotação da lua” e “Sobre uma máquina para conhecer a causa física das marés”), por razões desconhecidas não foram publicados nos volumes de memórias da Academia, mas foram incluídos nos tomos das Cartas físico-matemáticas (1784-1799) – ainda que com algumas alterações, como anotou Silva no texto introdutório. De outras memórias lidas têm-se registro, mas os manuscritos seguem desconhecidos.
Cabe a suspeita de que outros capítulos das Cartas, para além dos citados por Silva, possam também ter sido resultado de memórias apresentadas à Academia. Um deles com certeza o foi, a “Carta XXX – Sobre algumas observações físicas do terremoto de 1755” (Cartas físico-matemáticas, Tomo III, 1798), já que há uma versão ligeiramente modificada do mesmo texto publicada na edição do poema Lisboa destruída, em 1800, em Lisboa, pela Oficina de Antonio Rodrigues Galhardo, sob o título de “Observações sobre as circunstâncias do terremoto”. No prefácio desta obra, Almeida afirma ter resolvido inserir no volume uma “dissertação acerca das circunstâncias físicas do terremoto de Lisboa, que há anos li na Academia Real das Ciências”. (p.VI) A inclusão dessa dissertação numa obra de documentos relativos à participação acadêmica do padre tornaria completa a obra coordenada por José Alberto Silva.
Não há mais reparos possíveis a se fazer a uma edição cujo autor também teve o mérito de discutir satisfatoriamente as razões da não aprovação das memórias nos volumes editados pela Academia. Podem-se conjeturar algumas razões para o fato do padre ter exercido um papel reduzido nas atividades acadêmicas. Teria sido em função da má repercussão de sua oração inaugural? De uma desatualização científica do padre, por supostamente não ter acompanhado os progressos do conhecimento em Portugal nas últimas décadas? A essas e outras possibilidades, Silva acrescenta a derrota de um projeto escolar para a Academia almejado pelo padre, em função de um programa mais propriamente utilitário defendido por sócios como o naturalista Domingos Vandelli (1735-1816), que acabou vencedor (p.19-26).
O que temos, portanto, é uma obra que contribui não só para a compreensão de um fragmento da vida intelectual de um autor de obra tão vasta quanto Teodoro de Almeida, mas também dos caminhos percorridos pelo pensamento iluminista em Portugal. Por meio da exposição de José Alberto Silva e dos textos editados, ganha-se em conhecimento a respeito das escolhas feitas pelos ilustrados entre diferentes projetos acadêmicos, das distintas visões acerca do legado pombalino no final do século e da consciência daqueles homens acerca do papel da ciência em Portugal na modernidade.
Breno Ferraz Leal Ferreira – Doutorando, Programa de Pós-Graduação em História Social Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Universidade de São Paulo Av. Prof. Lineu Prestes 338, São Paulo, SP, 05.508-900, Brasil breferreira@gmail.com.
Las mujeres de X’oyep – DEL CASTILLO TRONCOSO – (HO)
DEL CASTILLO TRONCOSO, Alberto. Las mujeres de X’oyep. México: Conaculta; Cenart; Centro de la Imagen, 2013. (Colección Ensayos sobre Fotografía). 116 p. Resenha de: PORFIRIO, Pablo F. de A. História, imagem e memória: a trajetória de uma fotografia
(México, anos 1990), História Oral, v. 18, n. 1, p. 241-246, jan./jun. 2015.
Alberto del Castillo Troncoso é um historiador mexicano – vinculado ao Instituto Mora – que há alguns anos desenvolve pesquisas que tomam a fotografia como principal fonte documental. Ele investigou as representações fotográficas de crianças no período do governo de Porfírio Diaz; estudou a trajetória do fotógrafo Rodrigo Moya com base nas análises da sua produção nas décadas de 1950 e 1960, na cobertura fotojornalística de guerrilhas e golpes militares em países da América Latina como República Dominicana, Guatemala e Venezuela. Mais recentemente, Alberto del Castillo lançou um livro resultante de anos de estudos sobre as fotografias do movimento estudantil de 1968 no México, marcado pelo Massacre de Tlatelolco, em 2 de outubro daquele ano. No seu último livro, objeto desta resenha, o historiador analisa a fotografia de Pedro Valtierra Las mujeres de X’oyep, que dá nome à publicação.
Essa imagem retrata as mulheres tzotziles da comunidade de X’oyep, localizada no município de Chenalhó, no estado de Chiapas, sul do México.
Registra o momento em que essas mulheres avançam sobre os soldados do exército mexicano que chegavam para ocupar parte do seu território, no dia 3 de janeiro de 1998. Segundo Deborah Dorotinsky (2013), Alberto del Castillo produz uma biografia dessa fotografia. Ou seja, identifica seu surgimento e cartografa sua trajetória do quarto escuro à publicação no jornal mexicano La Jornada. O historiador esmiúça como a imagem ganhou um formato editorial, como foi selecionada para estampar a primeira página do periódico e se tornar um ícone, isto é, uma fotografia emblemática, que forma parte da cultura visual de uma geração (Del Castillo Troncoso, 2013, p. 25).
O trabalho realizado por Alberto del Castillo mapeou as posições sociais e políticas ocupadas pela imagem para assim entender os significados a ela atribuídos, seja na relação construída entre a fotografia e os textos da imprensa, seja no vínculo entre imagem e memória. Desse modo, o autor assevera: as imagens em si não dizem nada. Podemos nos inspirar nas considerações de Pierre Bourdieu, em seu clássico texto sobre a “ilusão biográfica”, no qual afirma que os acontecimentos biográficos se definem como colocações e deslocamentos no espaço social, e não como uma série única de acontecimentos sucessivos (2000, p. 189-190). Claro que aqui não estamos falando da trajetória de um indivíduo, mas da fotografia produzida por um indivíduo. O historiador mexicano analisa de modo instigante as colocações políticas da imagem e seus deslocamentos de sentido, quebrando a “ilusão biográfica” de que a fotografia teria um único significado definido desde o momento do registro. A indicação de Deborah Dorotinsky na apresentação do livro, de que Alberto del Castillo seria um biógrafo de imagens, se confirma no decorrer do texto.
Para tal análise, o historiador mexicano estuda o cenário social e político em que a fotografia foi elaborada. Leva o leitor à parte sul do México, estado de Chiapas, que em janeiro de 1994 viu irromper um destacado movimento social, definido pelo escritor Carlos Fuentes como “a primeira guerrilha do período pós-moderno”. O zapatismo era um movimento que contava com um exército de trabalhadores pobres e que tinha a internet como uma das suas principais armas. Valendo-se ainda de um líder midiático, o Subcomandante Marcos, o zapatismo conseguiu, entre 1994 e 1995, recolocar o debate sobre as comunidades indígenas do México na agenda política nacional e internacional, rompendo as fronteiras do estereótipo turístico-folclórico do exótico.
O município chiapaneco de Chenalhó foi palco, em dezembro de 1997, da atuação de um grupo de paramilitares ligado ao Partido Revolucionario Institucional (PRI) que assassinou 45 indígenas simpatizantes do Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que rezavam em uma pequena igreja na localidade de Acteal.
O episódio ganhou repercussão internacional. Equipes da imprensa televisiva e escrita se dirigiram para a região. Uma ampla cobertura fotográfica também foi produzida. O massacre em Acteal provocou, nos últimos dias de dezembro de 1997, uma presença ainda maior das forças do exército mexicano na localidade. Dirigiu-se também à região, em 1º de janeiro de 1998, o fotógrafo Pedro Valtierra, que passou a coordenar a cobertura dos acontecimentos para o jornal La Jornada.
Alberto del Castillo investigou e apresenta ao leitor a narrativa visual produzida pelo jornal entre o final de dezembro de 1997 e o início do mês seguinte. Analisa as primeiras fotos de Pedro Valtierra na região, feitas em janeiro de 1998, que registravam a tensão existente e os movimentos do exército mexicano e dos nativos. O autor ressalta o protagonismo das mulheres nesse momento, que resistiram à presença militarizada do Estado e, sabiamente, utilizaram a imprensa para fortalecer suas ações.
Em 3 de janeiro de 1998, o fotógrafo Pedro Valtierra e o jornalista Juan Balboa saíram da cidade de San Cristóbal de las Casas e se dirigiram à região de X’oyep. Na localidade de difícil acesso, alcançada por uma caminhada de horas pela montanha, existiam algumas poucas casas pobres e, desde os assassinatos em Acteal, centenas de pessoas em busca de refúgio.
A entrada de Valtierra e Balboa nessa história marca o agenciamento de uma nova fonte por parte do historiador: o relato de memória. Ele entrevistou o fotógrafo e o jornalista buscando informações sobre como foi a chegada deles a X’oyep, o que encontraram no local, como ocorreu a produção das imagens. Mais ainda, interessam a Del Castillo os relatos sobre o período posterior, isto é, quando Pedro Valtierra regressou de X’oyep a San Cristóbal de las Casas, iniciando o processo de revelação das imagens, o envio para os editores do La Jornada, a escolha da fotografia a ser publicada, a mudança no seu enquadramento do horizontal para o vertical e a decisão de publicá-la na primeira página.
O livro tem por objetivo investigar como a fotografia de Pedro Valtierra, Las mujeres de X’oyep, tornou-se um ícone e formou a cultura visual de uma geração. Para isso, as informações obtidas por meio das entrevistas são fundamentais. Mas também interessa a Alberto del Castillo o uso da memória por parte dos seus entrevistados no momento presente, quando a fotografia de Valtierra já se tornou um ícone. Trata-se do que Gilles Deleuze, ao analisar a obra de Marcel Proust, chama de memória voluntária, aquela que vai de um presente atual a um presente que foi, isto é, que foi presente mas não é mais. Assim, pode-se dizer que a memória não se apodera diretamente do passado, mas o recompõe com os presentes (Deleuze, 2006, p. 54).
Alberto del Castillo mapeia parte da produção fotográfica de Pedro Valtierra, como a cobertura jornalística da guerrilha sandinista na Nicarágua e das forças guerrilheiras da Guatemala. Relaciona a fotografia das mulheres de X’oyep aos interesses estéticos e políticos já apresentados por Valtierra em outros trabalhos.
O seu relato de memória é analisado em diálogo com essas produções fotográficas e com os significados que a fotografia das mulheres de X’oyep adquiriu. É interessante notar que, no relato de memória de Valtierra, essa imagem é definida como um marco divisor na sua trajetória: E enviam por fax as primeiras páginas e vejo a foto grande, tal como está publicada, e senti logo, logo que a foto era já outra coisa… No dia seguinte David Brooks, o correspondente do La Jornada, me contou que a foto havia encabeçado uma marcha de apoio aos zapatistas em Nova York… Eu senti que nesse momento algo havia passado com minha vida… Porque devo dizer que não estava muito bem profissionalmente. Quer dizer, era chefe, um privilegiado, porém fotograficamente não me sentia bem… Isso – aqui entre nós – eu não estava dizendo, porém me sentia em crise… Já quando regressei ao México, foi impressionante. Fui a uma marcha e encontrei com Carlos Jurado, com muita gente, e não me deixavam trabalhar. […] E isso se passou por causa da foto de X’oyep. (Del Castillo Troncoso, 2013, p. 68; tradução livre).
Essa memória voluntária de Pedro Valtierra apropria-se do sucesso alcançado pela fotografia sobretudo por ela lhe ter valido o Premio Internacional de Periodismo Rey de España, um ano depois de sua produção, em janeiro de 1999. A distinção oferece um significado a priori para a imagem e, por conseguinte, para quem a produziu; cria uma importância política que dá a impressão de estar na essência da fotografia. Talvez Alberto del Castillo pudesse ter apresentado ao leitor mais trechos do relato de Valtierra. O extrato acima faz parecer que a memória do fotógrafo toma um dos significados políticos associados à fotografia e o institui como algo que estivesse dado desde o presente da sua produção, como uma essência. Cria assim uma trajetória única e teleológica para a imagem, como se ela já tivesse nascido para constituir-se em ícone de uma geração.
Mas o livro de Alberto del Castillo consegue, por meio de outros relatos de memória, pesquisa em jornais e outros documentos, reconstruir a teia de discursos e práticas que fizeram a fotografia das mulheres de X’oyep emergir como um ícone na luta dos povos indígenas na América Latina. Mostra- -nos como a crescente visibilidade conquistada pelo movimento zapatista na década de 1990, com seus destacados apoiadores, como José Saramago, contribuiu para popularizar a imagem e fazê-la ser apropriada por diversos grupos sociais e operacionalizada em suas manifestações políticas.
Por fim, o historiador mexicano nos brinda com uma linda história. No último capítulo do livro, em um relato quase antropológico, conta sobre a viagem que fez anos depois do conflito ao local onde Pedro Valtierra produziu a imagem. Encontrou uma pobre casa, feita de tábuas, em que se identificava numa parede externa uma pintura com traços infantis que reproduzia a fotografia do enfrentamento das mulheres de X’oyep com os militares do exército mexicano. Nessa representação, imagem e memória se confundiam.
A reprodução da fotografia de Valtierra fazia permanecer latente uma memória do conflito, ao mesmo tempo que reforçava o sentido icônico daquela imagem e realçava um sentimento de vitória, já que as mulheres conseguiram resistir e expulsar os militares.
Uma das perguntas que ficam para o leitor é: qual a memória que as mulheres de X’oyep e outros moradores do local construíram sobre o enfrentamento com o exército? Não foi possível encontrar esses relatos, mas sim uma representação imagética deles. A pintura mostra como a fotografia de Valtierra foi apropriada pelos moradores daquela região, ultrapassando o suporte do papel fotográfico, do jornal ou da memória do seu produtor. A imagem tornou-se ícone também por estar na memória do grupo social de quem a protagonizou, alimentando sentimentos de luta e vitória.
O livro Las mujeres de X’oyep apresenta uma metodologia de trabalho inovadora e desafiadora ao relacionar imagem e memória – individual e coletiva – na escrita da história. Recupera os fios que teceram o sentido da fotografia, transformando-a em um ícone político. Poderíamos pensar que Alberto del Castillo Troncoso busca o “normal excepcional”, para retomar um conceito caro à micro-história de Carlo Ginzburg: o documento “normal excepcional”, neste caso a fotografia de Pedro Valtierra, não se presta às generalizações da história serial, mas permite, por outro lado, a compreensão de aspectos particulares, não generalizáveis, da realidade social. O historiador mexicano conta-nos ainda, por meio dessa imagem, sobre a luta cotidiana de mulheres pobres e invisibilizadas pelo direito à terra e à vida, enredando-a na história do México contemporâneo e da América Latina.
Referências BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína (Org.). Usos & abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. p. 183- 191.
DELEUZE, Gilles. Proust e os signos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
DOROTINSKY, Deborah. Biografía de una imagen fotográfica: las mujeres de X’oyep.
In: DEL CASTILLO TRONCOSO, Alberto. Las mujeres de X’oyep. México: Conaculta; Cenart; Centro de la Imagen, 2013. (Colección Ensayos sobre Fotografía). p. 13-20.
Pablo F. de A. Porfirio – Doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). E-mail: pablo porfirio@hotmail.com.
Paroles de témoins, paroles d’élèves. La mémoire et l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l’espace public au monde scolaire – NADINE (DH)
NADINE, Fink. Paroles de témoins, paroles d’élèves. La mémoire et l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l’espace public au monde scolaire. Berne: Peter Lang, 2014, 266p. Resenha de: BUGNARD, Pierre-Philippe. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.1, p.199-200, 2015.
Dans l’opération que tout un chacun tente irrémédiablement, au moins à partir de son école, pour comprendre son passé et celui des civilisations, les postures emblématiques de l’historien et du témoin sont tour à tour convoquées ou repoussées. Et c’est donc à une forme de tragédie cornélienne que l’on assiste dans ce livre: qui l’emportera du témoin qui a vu ou de l’historien qui a lu? Le drame s’incarne dans un scénario que l’on ne peut plus lâcher dès qu’on a commencé à en suivre la trame. L’auteure pris soin de l’attacher à un lieu, la Suisse, et à un temps, la Seconde Guerre mondiale. Cette période rend cruciale la question de savoir ce qui est le plus recommandable: le témoignage d’un contemporain ayant vécu les événements ou l’analyse d’un historien illustrant la même époque à partir d’archives? À propos, comment procédaient les créateurs de l’histoire dans l’Antiquité? C’est sur un rappel fondamental que le livre attire d’abord l’attention: la discipline est née comme une science sociale avec Hérodote, à partir d’un premier rapport d’enquête (historia, en grec) fondé sur des témoignages… Or c’est justement la démarche avec laquelle il semble que l’on ait renoué, dès lors que les technologies ont permis d’enregistrer les témoignages tardifs de ceux qui ont vécu une histoire ignorée de la dernière génération (non sans se targuer, parfois, d’être des dépositaires incontestables de cette histoire, dès lors qu’on dispose du récit des ultimes témoins vivants du passé !). Les historiens ont donc dû faire des concessions à leurs certitudes positivistes, forgées sur l’enclume des sources écrites qu’ils tiennent souvent, eux aussi, pour parole d’évangile, ou comme discours fabriqué dès le moment où la discipline se constitue en palliatif à la disparition des témoins directs: c’est par exemple la démarche adoptée par Michelet pour aborder la Révolution. Toute cette histoire de l’histoire, admirablement reconstituée, figure en exergue de l’ouvrage. Aucun professeur ne se lassera de la lire ou de la relire !.
À partir de là, on a hâte d’en savoir davantage sur les forces antagonistes du drame qui se joue, en Suisse, autour de la question pivot de tout le xxe siècle helvétique, question qui s’est posée aussi au monde dès 1945: pourquoi ce petit pays n’a-t-il pas été envahi par les puissances de l’Axe alors qu’il est au centre géographique des hostilités, au point de constituer un obstacle à renverser absolument? Imaginez une classe étudiant cette bataille entre témoins et historiens pour reconstituer la trame d’un tel passé… La thèse de Nadine Fink prend cette question comme départ de sa recherche. Elle n’a pas à la traiter dans sa dimension épistémologique, puisque la démarche de recherche relève de la didactique.
Elle l’aborde dans une langue limpide, en faisant l’inventaire des forces qui s’affrontent pour fabriquer la mémoire d’une période sensible. Cette histoire est porteuse d’une image déterminante pour les valeurs d’une nation improbable, donc particulièrement sensible au passé qui la justifie. Elle est tiraillée entre témoins et historiens, entre peuples des années de guerre, interviewés en fonction des critères de l’histoire orale du dispositif de L’histoire c’est moi (http://www.archimob.ch/), et historiens savants de la Commission Bergier, oeuvrant en fonction des canons de leur discipline.
Cette histoire duale de la fabrication de l’histoire est à elle seule déjà passionnante, pour le public comme pour les professeurs. Elle devient incontournable lorsqu’elle s’attelle, dans la partie centrale du travail, à étudier la contribution du témoignage oral à la constitution d’une pensée historienne scolaire.
Comment passe-t-on du témoignage brut à une telle pensée? Par des opérations de distanciation formulées d’abord sous forme d’hypothèses: il s’agit de limiter l’empathie, obstacle à la dissociation histoire/ mémoire, de privilégier l’hétérogénéité des témoignages, levier au doute sur leur véracité, et de les confronter aux contextes d’élaboration de la mémoire, ferment de distance critique.
Pour l’enquête, 73 classes des trois degrés se sont impliquées dans une exposition présentant 13 heures d’images. Cette dernière a été l’objet d’une analyse qualitative du rôle des témoignages oraux comme support didactique au développement d’une pensée historienne scolaire. Les témoignages proposés chamboulent les conceptions des élèves ; impossible de relayer ici la substance de tels bouleversements conceptuels, mais s’il faut résumer à gros traits, on peut dire que l’image de la Suisse est en partie débarrassée des illusions qui l’enjolivaient.
Les entretiens conduits avec 24 élèves montrent, parmi les trois idéaux types élaborés – croyants, rationalistes, scientistes –, que si chacun parvient à déterminer le caractère intrinsèque des récits, seul, en toute logique, le groupe des croyants accorde un statut de véracité aux témoignages.
À partir de l’expérience d’une telle recherche, imaginons pousser la mise en perspective et confronter les élèves aux sources de l’histoire orale simultanément aux sources historiennes. Par exemple celles des archives Guderian, montrant que, du point du vue allemand, les villes suisses auraient pu être prises « au plus tard dans le courant du deuxieme jour » d’une offensive. Ou encore celles du Conseil fédéral, révélant qu’en 1942 déjà, « un des elements d’interet susceptible d’assurer le respect par l’Allemagne de notre independance nationale est notre situation economique et monetaire ». Imaginons aussi, dans une comparaison entre sources orales et récits de manuels, la réaction d’élèves comparant le témoignage de l’historien et conseiller fédéral G.-A. Chevallaz – « nous n’aurions pas tenu trois jours » en cas d’attaque de l’Allemagne – avec sa propre version du manuel Payot – « Le “herisson helvetique”, barricade dans ses montagnes, restait isole et libre dans une Europe mise au pas » – ou avec le manuel Fragnière: « Le reduit alpin et la bonne preparation de l’armee a repousser une attaque ont joue un role suffisamment dissuasif. » La recherche de Nadine Fink illustre à quel point les témoignages oraux ne révèlent que l’écume de vagues aux reflets changeants. Pour saisir la profondeur de l’océan, il faut aussi le temps de collation de mille autres témoignages, de toutes natures, jusqu’à ce qu’ils parviennent aux historiens pour alimenter leurs rapports d’enquête. Et c’est au contexte d’élaboration de tels rapports qu’on peut dès lors initier nos élèves. Personne n’accepterait de déclarer responsable tel conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la route sur la base du premier témoignage oral, sans audition des autres témoins, sans l’examen des véhicules, de l’état des pneus et de la chaussée, sans l’analyse des taux d’alcoolémie, des permis de conduire, sans la prise en compte des codes routiers et des coutumes du pays de l’accident, de ses conditions d’assurance… Si les élèves considèrent que l’intelligibilité de leur propre histoire et de celle du monde réclame l’élaboration d’un tel contexte, alors la parole des témoins directs revêtira à leurs yeux toute sa signification.
Pierre-Philippe Bugnard – Université de Fribourg.
[IF]
La consagración de la memoria: Una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina – GUGLIELMUCCI (A-RAA)
GUGLIELMUCCI, Ana. La consagración de la memoria: Una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina.* Buenos Aires: Antropofagia, 2013. 398p. Resenha de: ÁLVAREZ, Santiago. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.20, set./dez., 2014.
El documentado trabajo de Ana Guglielmucci, La consagración de la memoria, se centra en el proceso de institucionalización del recuerdo. En este sentido, podría inscribirse en el marco de las recientes investigaciones sobre política de la memoria. A la autora le interesa ver cómo la lucha de los organismos de derechos humanos de la sociedad civil por el recuerdo de las víctimas de la última dictadura militar (1976-83) es transformada en memoria institucional del Estado argentino. Este largo, conflictivo y a veces contradictorio proceso es registrado sistemáticamente por esta investigación.
El caso argentino guarda elementos sociales, culturales y políticos específicos que influyen en el cómo y de que manera la confluencia de diversas memorias sociales termina produciendo una particular interpretación estatal. En este sentido, considero esta investigación insustituible para comprender cabalmente el proceso de la memoria en Argentina. Su exhaustividad permite desarrollar necesarias y enriquecedoras comparaciones con otros casos, en especial el de la Shoah (modelo ineludible de políticas de la memoria) y el caso sudafricano, basado en una reconciliación que provendría del reconocimiento de una verdad. Permite, además, analizar comparativa y críticamente el más incipiente proceso colombiano desde una óptica que marque un camino que no puede ni debe ser imitativo sino, por el contrario, que permita visualizar las diversidades y comprender la toma de decisiones políticas en contextos específicos complejos.
En el trabajo de Ana Guglielmucci importan los lugares, los espacios, los paisajes de la memoria. El recuerdo oficial se plasma en monumentos, centros culturales y parques conmemorativos. En particular, antiguos centros de detención clandestina son transformados en epicentros para la conmemoración y la reflexión. Estos exespacios del horror en muchos casos se convierten en archivos, museos y centros culturales. Estos paisajes de la memoria serían definidos por Tim Edensor como “la organización de objetos específicos en el espacio, el resultado de proyectos a menudo exitosos que buscan materializar la memoria al ensamblarla a formas iconográficas” (Edensor, 1997: 178). Importan aquí, por lo tanto, las dimensiones espaciales del recordar.
Al mismo tiempo, Guglielmucci describe las construcciones de un recuerdo donde se disputan fechas y datos, se reconstruyen desapariciones, torturas, masacres. En este proceso, se introducen conmemoraciones y se organizan rituales. Los organismos de derechos humanos no son, felizmente, presentados aquí como un bloque monolítico, unificado y armonioso sino como grupos con diferencias, en algunos casos profundas, sobre qué se debe recordar y cómo. Este registro es un aporte original en el caso argentino. Pocos trabajos, generalmente tamizados por cierto pudor, se ocupan de las disputas de la memoria en el campo de las organizaciones de derechos humanos. El sentido que debe darse a un hecho polémico, las actividades que deben realizarse en lugares que fueron otrora espacios del horror, son objeto de discusiones y enfrentamientos.
En el primer capítulo, Ana Guglielmucci caracteriza a quienes son los protagonistas del proceso social de la construcción de la memoria: los activistas. Nos explica su trayectoria grupal, la historia de las principales organizaciones sociales bajo cuya protección trabajan, cómo fueron convirtiéndose en expertos en esta área y cómo fueron reconocidos por otros como tales. En este sentido, hace referencia a la teoría de los campos de Bourdieu como espacios sociales de acción, y al reconocimiento, a aquellos que se mueven dentro del campo de la memoria, de una “competencia” específica.
En el segundo capítulo, la autora analiza cuál es la articulación entre estos activistas y los académicos que trabajan la temática de los derechos humanos.
Hace referencia a la importancia del concepto “memoria” para legitimar prácticas de recuerdo y olvido. En este contexto, definir “memoria” pasa a ser central. Ana Guglielmucci describe tres tipos de dominio o competencia específicos: el académico, el político-militante y el técnico profesional. Analiza, “cómo opera el reconocimiento de la competencia de cada uno de estos actores, asignándola a ciertos dominios de actividad que, en un principio, son tomados como propios y la posibilidad o no de que esta competencia sea reconocida en otros considerados como ajenos” (p. 29).
En el tercer capítulo, la autora intenta comprender cómo, al tiempo que la categoría “memoria” fue incorporada y asumida por el Estado, varios militantes de los derechos humanos fueron incorporados a la estructura burocrática de éste. La excepcionalidad que supone ser no sólo un luchador sino también un “trabajador de la memoria” está llena de tensiones identitarias. En definitiva, su posición es ambigua, liminar: son a la vez militantes y empleados estatales. La autora trabaja también aquí sobre el proceso normativo que acompañó esta institucionalización y estatalización de los derechos humanos en Argentina. Ligadas, nos dice Guglielmucci, “a que ciertos hechos del pasado se inscriban como consecuencia del terrorismo de Estado y no de otras maneras posibles, a través de la selección de ciertas denominaciones, recortes temporales y acontecimientos” (p. 30).
El cuarto capítulo hace referencia a “los roles adoptados por los participantes y la marcación de su estatus y la delimitación de los espacios escogidos como los adecuados para desplegar sus representaciones sociales sobre el pasado, de acuerdo a las polémicas presentes y sus expectativas a futuro” (p. 31). Además, y esto lo hace especialmente interesante, este capítulo analiza la transformación de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) -el más emblemático centro de detención ilegal, tortura y exterminio de la dictadura- en un Espacio para la Memoria. En este proceso, diversos actores sociales, políticos, funcionarios, representantes de organizaciones no gubernamentales, gremialistas, periodistas, etcétera, luchan, en última instancia, por imponer representaciones sociales acerca de lo que debe ser recordado, y también, no lo soslayemos, sobre lo que debe ser olvidado. Estas disputas, en las que ciertos actores poseen más legitimidad que otros, se dan en el marco de fuertes enfrentamientos y conflictos.
En el quinto capítulo, Guglielmucci describe cómo se identificaron y seleccionaron los excentros clandestinos de detención para ser convertidos en espacios de memoria. Éste es un proceso social que define qué hacer con ellos y en ellos. La autora compara dos de estos centros: el ya citado de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el llamado “Garage Olimpo” (relativamente menor). La comparación incluye la conformación de los respectivos órganos políticos de gestión encargados de definir qué hacer con ellos.
El capítulo sexto hace hincapié en las diferencias comparativas en la “marcación simbólica” de los espacios ESMA y Olimpo. Aborda la clasificación y sectorización simbólica del espacio. No olvidemos, además, que estos espacios son a su vez prueba material para la justicia, que mantiene aún una importante cantidad de causas abiertas. La memoria se construye a través de la refuncionalización de los espacios de representación, lo que significa su transformación de espacios del horror en espacios culturales de memoria.
La autora concluye expresando la valoración social de la memoria que este proceso de institucionalización supone, y su materialización en espacios específicos. Nos dice: “la manera en que los diferentes actores tendieron a crear y a instaurar una política de monumentos, de objetos y de espacios para preservar y promover la memoria buscó consolidar concepciones comunes sobre lo que se considera la forma legitimada de recordar en el plano colectivo” (p. 344). Considera central en esta particular política de la memoria, la transformación de centros de detención ilegal, tortura y desaparición convertidos en Espacios para la Memoria. Esta decisión política permite, de un modo significativamente poderoso, y podríamos decir también exitoso, construir una interpretación pública de la violencia estatal de la dictadura militar que busca sustentar la convivencia social con base en los valores democráticos y la doctrina de los derechos humanos.
Ana Guglielmucci reconstruye minuciosa y documentadamente, utilizando fuentes etnográficas (especialmente su presencia en el mismo proceso de toma de decisiones que desnuda las discusiones y las disputas), la realización de numerosas entrevistas y la recopilación de una exhaustiva documentación, el proceso de construcción de esta particular política de la memoria. Su utilidad para aquellos que investiguen en este campo o que estén trabajando en procesos similares, que se encuentren en estado de conformación, es más que evidente.
Comentarios
* Guglielmucci, Ana. 2013. La consagración de la memoria: Una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina, Buenos Aires, Antropofagia, 398 pp. ISBN 9871238991, 9789871238996.
Referencia
Edensor, Tim. 1997. National identity and the politics of memory: Remembering Bruce and Wallace in symbolic space. Environment and Planning. D: Society and Space 15 (2): 175-194. [ Links]
Santiago Álvarez – Ph.D. Antropología Social. London School of Economics and Political Science. Londres, Inglaterra. Universidad Nacional Arturo Jauretche, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: alvaresantiago@hotmail.com
[IF]
O caminho dos pés e das mãos: Tae kwon do, artes marciais, esporte e colônia coreana em São Paulo (1970-2000) – MARTA (PH)
MARTA, Felipe Eduardo Ferreira. O caminho dos pés e das mãos: Tae kwon do, artes marciais, esporte e colônia coreana em São Paulo (1970-2000). Vitória da Conquista: Edição UESB, 2013, 176p. Resenha de: CABRAL, Alantiara Peixoto. Introdução e disseminação do Tae Kwon Do em São Paulo: memória dos mestres. Projeto História, São Paulo, n. 49, pp. 429-434, Abr. 2014.
A presente resenha resulta de uma aplicada leitura da obra citada, na qual o autor de forma encantadora, evidente e inteligente apresenta a disseminação do Tae kwon do no Brasil, utilizando como cenário da pesquisa a cidade de São Paulo. A leitura é tão prazerosa que o leitor se sente envolvido na “história”. Este livro corresponde à dissertação apresentada em 2004 no programa de pós-graduação em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), sob a orientação da Professora Doutora Estefânia Knotz Canguçu Fraga. Atualmente Felipe Eduardo Ferreira Marta é doutor pelo mesmo programa.
O autor procurou investigar a importação e adaptação das artes marciais no Brasil, particularmente na história da cidade de São Paulo. Para tal, utilizou-se da metodologia da história oral, obtendo como fontes os relatos dos mestres pioneiros no ensino da arte marcial tae kwon do no Brasil e de mestres brasileiros. Partindo da hipótese que além dos aspectos econômicos, o cultural contribuiu para o desenvolvimento e a esportivização do tae kwon do no estado de São Paulo. Estefania Knoz Canguçu Fraga, autora do prefácio, afirma que este trabalho representa um elo entre a pesquisa realizada como iniciação científica e o doutorado, “o elo que não se perdeu” 1.
O período sobre o qual o autor se debruça está situado entre os anos de 1970 e 2000, precisamente no momento em que o tae kwon do é introduzido no Brasil, com a chegada dos mestres Sang Min Cho, Sang In Kim e Kun Mo Bang. O autor tem o mérito de ir construindo uma narrativa em crescente tensão que permite entender como se configurou a chegada dos coreanos à cidade de São Paulo e a construção histórica do tae kwon do nesta nova paisagem a partir das memórias edificadas pelos depoimentos.
Felipe Marta resgata o que foi vivido pelos depoentes da pesquisa, a fim de construir uma história. As reminiscências são construídas pelos depoentes na relação passado e presente dentro de um processo contínuo, no qual busca de maneira eficaz as relações estabelecidas, entre teoria (literatura oficial e especializadas) e a prática vivida pelos entrevistados. O autor escreve de maneira tão graciosa que não permite que a memória seja mero objeto, mas a torna vívida e produtiva.
Dessa forma, a obra se estrutura em três capítulos intitulados: Arte Marcial, Filosofia Oriental; Rumo ao desconhecimento: Imigração coreana, imigração de mestres coreanos e a origem do tae kwon do em São Paulo; Oriente e ocidente, Coreia e Brasil.
O capítulo I é apresentado da seguinte forma: em busca do “DO”; tae kwon do e o passado da Coreia; e criador e criatura. Neste capítulo o autor aproxima as categorias artes marciais e as filosofias orientais, apresentando o tae kwon do como uma arte marcial, técnicas de defesa pessoal, com uma história e uma filosofia particular de origem oriental. Esta luta é abarcada por princípios filosóficos que são: os espíritos, o juramento e o sufixo “DO”.
Ainda destaca a atuação do General Choi Hong, personagem principal no processo de desenvolvimento do tae kwon do. Em 1967, Choi Hong Hi funda na Coreia a International Taewondo Federation (ITF) com a intenção de preparar vários mestres e disseminar a prática do tae kwon do pelo mundo. Em 1972 é exilado da Coreia do Sul, fato que contribuiu para a criação da WTE, Word Taekondo Federation, em 1973.
O autor de maneira inteligente apresenta a relação existente entre as artes marciais e as filosofias orientais, relacionando os elementos do tae kwon do constitutivo na memória dos depoentes, dos documentos e da literatura analisada, e por fim dedica suas últimas palavras do capítulo para expressar sobre o geral Choi Hong Hi, a partir das memórias dos depoentes, já que nas literaturas oficiais este nome não é apresentado. Assim, o autor utiliza-se especificamente da memória para resgatar os impasses travados no passado, especificamente na Coreia, Já no capítulo seguinte os impasses são apresentados especificamente no contexto do Brasil, da seguinte forma: imigração coreana, imigração de mestres coreanos e do tae kwon do em São Paulo; Imigração coreana no Brasil; Imigração de mestres coreanos e a origem do tae kwon do em São Paulo.
Desse modo, o autor discute as diferenças entre ser um “mestre imigrante” e ser um “imigrante coreano” nas novas terras, dito em outras palavras, as diferenças entre ser um mestre de tae Kwon do e ser um coreano em terras brasileiras, especificamente na cidade de São Paulo. O povo coreano não tinha o hábito de sair da sua terra e carregavam os valores de que “os filhos não devem abandonar o solo em que seus ancestrais estão sepultados” 2, estes valores mudaram após dificuldades enfrentadas nos campos econômicos, políticos e militar pelo país no início dos anos 60 e o governo estabelece a política de emigração.
Assim, os imigrantes coreanos passaram a integrar a paisagem da cidade de São Paulo, vindos na condição de colonos agrícolas cheios de esperança, sonhos e em busca de novas oportunidades. No entanto, sofreram dificuldades na nova terra por conta dos costumes, da cultura e do idioma que eram bastante diferentes, acarretando intensa adversidade na comunicação. Em outras palavras, um corpo carregado de uma história oriental teve que se adaptar a uma história de corpo ocidental.
Todavia os “mestres coreanos” vieram com objetivos diferentes da motivação dos “imigrantes”, em consequência de um pedido supostamente feito a Choi Hong Hi pelo governo brasileiro, para que os mestres de tae kwon do viessem para treinar a policia no combate aos terroristas e grupos de esquerda na época de 1970.
É possível observar nos detalhes ricos da obra todos esses aspectos, deixando evidente que “o caminho inicial dos mestres coreanos, ao contrário dos demais imigrantes coreanos, não teria sido num primeiro momento o do ‘arco-íris’ e sim o ‘dos pés e das mãos’. Em outras palavras o tae kwon do”.3 O último capítulo trata dos meios e planos adotados pelos imigrantes coreanos e mestres coreanos para sobreviver à nova realidade. Está dividido em três tópicos: Mestres de tae kwon do e imigrantes coreanos tentando ir “além do arco-íris”; Ser um “coreano num lugar onde não havia coreano; e Arroz com feijão ou churrasco com sal e açúcar; Os últimos tópicos narram a trajetória dos imigrantes rumo à integração à sociedade brasileira e o papel das novas gerações neste processo. Estas diferentes gerações são classificadas como “1.0”, “1.5” e “2.0”. Os imigrantes que vieram com a idade adulta são caracterizados como geração “1,0”, os que imigraram com idade infantil são denominados “1.5” e os descendentes destas gerações anteriores, mas que nasceram no Brasil são designados “2.0”. Esta classificação guarda um sentido de superioridade, no qual os 2.0 e 1.5 são superiores aos “1.0”. 4 Os “mestres coreanos” tinham um prestígio na Vila Coreana. Inicialmente sua função foi atribuída à difusão do tae kwon do e a um relacionamento próximo com as pessoas do regime militar, o que favoreceu a atuação de uma liderança política na colônia. Esses mestres ainda que de maneira limitada transitavam entre a cultura brasileira e a cultura coreana.
Com o fim do regime militar e a ascendência da geração “1.5” e “2.0” este prestígio da geração dos mestres “1.0” foi caindo, conquanto esta primeira geração gozou do momento de ascensão e lentamente muitos se afastaram do tae kwon do e seu objetivo se aproximou aos dos “imigrantes coreanos”, conquistar a sua elevação financeira.
As novas gerações, “1.5” e “2.0”, se afastaram da cultura coreana, influenciando o novo desenvolvimento do tae kwon do. A geração “2.0” passa a transmitir os valores orientais de forma secundária. Com a nova aproximação com o esporte o tae kwon do perde sua identidade, sendo possível a observação de três formas de desenvolver essa prática no país, a dos mestres “1.0”, a dos mestres “1.5” e a dos mestres brasileiros, sendo estes últimos os que mais potencializaram a prática do tae kwon do como esporte no Brasil.
Em síntese o autor apresenta a partir da memória dos depoentes situações acerca da história do tae kwon do, no período de 1970-2000, que inclui lembranças e esquecimentos dos sujeitos sociais entrevistados. A obra apresenta-se como um instrumento para debate, reflexões e futuros estudos sobre as artes marciais no Brasil, apresentando-se como um importante instrumento para os estudos da sociedade brasileira, contribuindo de maneira significativa para conhecimentos posteriores, devendo ser apreciada por todos, especialmente pelos que se interessam pela história dos esportes no Brasil.
Notas
1 MARTA, Felipe Eduardo Ferreira. O caminho dos pés e das mãos: Tae kwon do, arte marciais, esporte e colônia coreana em São Paulo (1970-2000). Vitória da Conquista: Edição UESB, 2013,p. 12.
2 Idem p. 74.
3 Idem p.101.
4 Idem p. 110.
Alantiara Peixoto Cabral – Mestranda pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Título: Formação continuada em educação física: memória dos atores principais deste processo. Orientador: Dr. Felipe Eduardo Ferreira Marta. E-mail: alantiara@gmail.com.
Labirintos da Modernidade: memória/ narrativa e sociabilidades | Antônio Jorge Siqueira
Antônio Jorge Siqueira tem formação acadêmica no campo da Filosofia, Teologia, Ciências Sociais e da História, o que, em grande medida, reflete em seus escritos. No seu olhar sobre os problemas do Brasil, e em particular do Nordeste, podemos identificar essas várias facetas que compõe o intelectual e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Não é por acaso que em suas obras e artigos aparece insistentemente um Jorge multidisciplinar. É essa heterogeneidade intelectual que torna a sua narrativa densa e complexa, e ao mesmo tempo instigante, pois apresenta para o leitor outras possibilidades de analises sobre a nossa contemporaneidade.
Começo explicando o real interesse pela obra de Jorge Siqueira, ou seja, o que me motivou a elaborar estas considerações. Devo mencionar que sua escrita contempla questões complexas do campo das ciências humanas, aspectos que devem, sem dúvida, fazer parte das discussões e de nossa formação enquanto intelectuais. É de fato um livro denso, recheado de questões atuais e pertinentes ao oficio do historiador. Trata-se de uma coletânea produzida ao longo de quase vinte anos, com muitos de seus textos já com ampla circulação, mas que de alguma maneira foram agora organizados mantendo uma conexão entre si, há um fio condutor. Dito isto, o passo inicial para construir um entendimento sobre o conjunto dessa obra é procurar se aproximar – daquilo que poderia ter sido – do exercício de escrita agenciado por Jorge Siqueira. Com este objetivo, procurei em Orhan Pamuk, no livro A maleta do meu pai, imaginar o que poderia significar o ato de escrever para Jorge.
Afirma Pamuk:
Quando o escritor passa anos recolhido para aprimorar seu domínio do ofício – para criar um mundo –, se ele usa as suas feridas secretas como ponto de partida, consciente disso ou não, está depositando uma grande fé na humanidade. Minha confiança vem da convicção de que todos os seres humanos são parecidos, que os outros carregam feridas como as minhas – e que portanto haverão de entender. Toda a verdadeira literatura vem dessa certeza infantil e otimista de que todas as pessoas são parecidas. Quando um escritor se recolhe por anos a fio, com esse gesto ele sugere uma humanidade única, um mundo sem centro (pp. 27-28).
Este fragmento me fez pensar melhor no esforço que exige o ofício do escritor. Muito provavelmente o autor recorreu ao isolamento, ao silêncio, e assim foi capaz de construir, com sua narrativa, outras imagens do mundo para cada um de nós. E, levando em consideração o volume de sua obra, foram longos períodos de trabalho intenso, de solidão com seus autores de referência. Seus textos e conferências organizados neste livro são provas desse trabalho. E, como afirma Pamuk, posso pensar que Jorge tem a convicção de que sua escrita irá inquietar outros, que as questões por ele problematizadas ao longo das quase 400 páginas de alguma maneira irão atingir inúmeros leitores. Isso significa que em Jorge, de fato, ainda permanece uma certeza infantil e otimista na humanidade.
Sua escrita apresenta temas extremamente densos, mas o faz de maneira suave. Questões diversas como modernidade, pós-modernidade, ciência, humanidade, historiografia, Nordeste, sertão, catolicismo popular, Brasil e América Latina, entre outras tantas, foram tecidas obedecendo a um estilo e estética capaz de bem envolver o leitor. Apenas para ilustrar, reproduzimos aqui um pequeno fragmento sobre a crise da modernidade, temática recorrente na obra:
Resultado dessa consciência de crise e de desamparo humano é que terminou por se falar no esgotamento da modernidade racionalista e cientificista, cedendo lugar a um novo período nebuloso – a pós-modernidade, que, também pode ser concebida como Contemporaneidade ou mesmo Modernidade Tardia. Mas importante do que a nomenclatura – e ela é muito complexa e sem unanimidade – são os questionamentos que essa contemporaneidade faz à razão modernista. Está posto em dúvida o conhecimento da realidade como algo constante, estável e imutável; ou seja, critica-se o domínio positivista da razão. Coloca-se sob suspeita a aceitação unânime do conceito de progresso como substantividade, duvidando-se de que ele seja o garantidor de uma vida melhor para a humanidade. Suspeita-se, de igual modo, das grandes narrativas que seriam subjacentes às crenças num futuro cada vez perfeito (pp. 38-39).
O fragmento projeta uma concepção de modernidade a partir de suas experiências, de alguém que conhece os dramas e as tramas dos grupos sociais aos quais se refere. A modernidade é analisada considerando-se as particularidades inerentes ao Brasil e ao Nordeste. As questões postas e seus personagens são de alguma maneira conhecidos, versam sobre coisas comuns aos nossos sentidos. Aliado a tudo isso, não há uma simples transposição ou acomodação de perspectivas teóricas. Entendo que o autor é um observador das questões culturais, sociais, políticas e econômicas da contemporaneidade, e a concepção teórica adquire significado porque se encontra articulada a sua condição de crítico de seu tempo, possibilitando, assim, maior identificação do leitor, pois seus textos tratam de questões complexas, significativas, mas que são próximas, permitindo-nos identificar a modernidade como um tempo conhecido para nós.
Ainda dentro dessa gama de questões muito me sensibilizou um aspecto recorrente ao longo do livro: as relações entre tempo e memória. A narrativa apresenta uma memória inconsciente – memória que entendo como experiência de vida, de aprendizagem. Ressalto aqui o momento em que o autor narra sobre a obra de Graciliano Ramos, São Bernardo, que se encontra no capítulo treze. São vários mundos e temporalidades que se entrelaçam naquele São Bernardo: o caos, a desordem, a doença, a morte, a traição, enfim:
Percebe-se que em São Bernardo é o espaço ficcional que permite figurar tudo isso, a um só tempo, fundindo e confundindo temporalidades históricas. Seu Ribeiro, Paulo Honório, Madalena e Padilha são personagens, racionalidades, tempos, narrativas, memórias e linguagens simultâneas, afins e diferentes. Até porque a viagem narrativa de Seu Ribeiro em direção a um tempo pretérito de felicidades pode significar um simbólico recuo de Paulo Honório… (pp. 207-208).
Sua concepção de tempo e a forma como foi articulada na narrativa fez-me recordar uma experiência que acredito em muito assemelhar-se ao que o autor entende por tempos múltiplos. A imagem que chega aos sentidos é a da travessia de um rio, em particular do rio Ipanema, que corta o município de Águas Belas/PE, onde nasci e vivi até atingir a maioridade. Em determinada época do ano (claro que com mais regularidade que em anos recentes) seu leito era coberto pelas águas e sua travessia exigia certas habilidades. Suas águas escuras não nos permitiam ver onde estávamos pisando, de modo que cada passo precisava ser dado com cautela, sendo necessário examinar a segurança do passo seguinte. A depender da força de suas águas, era praticamente impossível realizar a travessia em linha reta, mas sempre em diagonal, acompanhando o curso de sua correnteza. E não significava que uma vez feito o traslado havíamos descoberto uma passagem segura para as novas travessias, isso porque nunca sabemos como se comportam as correntezas, visto que em determinados momentos mudam de direção, fazendo surgir naquele caminho outrora seguro inúmeras armadilhas, depressões. As correntezas não necessariamente têm o mesmo sentido, há uma dinâmica imprevisível, em dado momento poderão nos levar para o fundo do leito, ou projetar uma força capaz de fazer flutuar sobre as águas o aventureiro, ou mesmo o conduzir em movimentos circulatórios, enfim, poderá ainda nos levar rio abaixo ou rio acima.
Essa obra é também uma travessia, uma passagem. O tempo no livro Labirintos da Modernidade: memória, narrativa e sociabilidades, em minha leitura, não se apresenta seguindo uma linearidade, pelo contrário, ele é curvo, cheio de surpresas, de idas e vindas como são os trajetos que percorremos em um labirinto. A construção dos vários textos que compõem este livro teve seu tempo, e eles apresentam marcas da nossa contemporaneidade.
Márcio Ananias Ferreira Vilela – Universidade Federal de Pernambuco.
SIQUEIRA, Antônio Jorge. Labirintos da Modernidade: memória, narrativa e sociabilidades. Resenha de: VILELA, Márcio Ananias Ferreira. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.32, n.1, jan./jun. 2014. Acessar publicação original [DR]
Guerra aérea e literatura | Winfried Georg Maximilian Sebald
O escritor judeu alemão Winfried Georg Maximilian Sebald, mais conhecido no Brasil como W.G. Sebald, aborda neste livro duas questões extremamente polêmicas, que se entrelaçam: a ausência do tema dos bombardeios das cidades alemãs na literatura alemã do pós-guerra e a brutalidade e o horror desses ataques (cuja consequência foi a dificuldade dos escritores em lidar com a história recente de seu próprio país).
O livro é composto por dois textos, antecedidos de uma breve introdução. Primeiro, temos as conferências que “não estão publicadas exatamente na forma em que foram proferidas na Universidade de Zurique no final do outono de 1997” (2011, p. 7). Na sequência, temos a um artigo sobre o escritor Alfred Andersch, por meio do qual ele pretende demonstrar como a literatura alemã foi influenciada de forma perniciosa pela atitude dos escritores que optaram por continuar no país. Eles teriam considerado como mais importante “a redefinição da ideia que tinham de si próprios depois de 1945” (Ibid., p. 8) e não “a apresentação das relações reais que os envolviam” (Idem), o que os levou a ignorar a História e, consequentemente, a tragédia que viveram. Leia Mais
A morte de Luigi Trastulli e outros ensaios: Ética, memória e acontecimento na história oral | Alessandro Portelli
O livro “A morte de Luigi Trastulli e outros ensaios: ética, memória e acontecimento na história oral” proposto para análise é de autoria de Alessandro Portelli, que o dividiu em duas partes: “Oralidade, ética e metodologia” e “Acontecimentos, memórias e significados”, respectivamente.
Alessandro Portelli é um dos autores mais importantes no cenário mundial no que se refere ao tema da História Oral. Professor de literatura norte-americana na Universidade de Roma, Portelli fez inúmeros trabalhos de campo nos Estados Unidos e na Itália, resultando na publicação de obras que são referências na História Oral, entre elas “Biografia di una città. Storia e racconto: Terni, 1830-1985”, “Storie Orali. Racconto, immaginazione, dialogo” e “Ensaios de História Oral”. O autor fundou o “Circolo Gianni Bosio” – espaço para pesquisa de memória, música e culturas populares – onde desenvolve, comunica e expande seus trabalhos. Leia Mais
História e Energia: Memória, informação e sociedade / Gildo Magalhães
Debatendo os caminhos do setor energético, esta obra propõe reflexões sobre os limites das fontes energéticas, suas transformações em escala mundial e seu campo de estudo no contemporâneo. Problemáticas entre a História, Arquivologia e Cultura Material são alguns dos eixos que compõe este trabalho.
Organizado pelo historiador Gildo Magalhães, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e coordenador do Projeto Eletromemória, a obra resulta de um emaranhado de debates derivados do 3º Seminário Internacional de História e Energia: memória, informação e sociedade, ocorrido em setembro de 2010, na cidade de São Paulo.
Dividido em quatro partes, o conjunto de artigos resulta de conferências, mesas-redondas e debates realizados neste mesmo seminário, mas que remontam às experiências historicamente acumuladas de outros projetos e encontros, que conseguiram nesta obra, por meio de cada temática apresentada, promover considerações sobre políticas de preservação e gestão de patrimônios, a reestruturação do setor ante as privatizações ocorridas assim como desbravar as memórias do setor energético. Ao analisar a atual situação da produção e organização do setor no país, Magalhães destaca que tal acesso às memórias do processo de eletrificação nacional tem grande impulso na década de 1980, por meio de iniciativas públicas visando à preservação de seu patrimônio histórico. Porém, com o processo de privatização instaurado a partir da década de 1990, houve não somente uma fragmentação das atividades, como em transmissão e distribuição, mas também de sua documentação e possibilidades de realização de pesquisas históricas, influenciando diretamente em suas memórias.
A partir de um brilhante prefácio apresentado por Nicolau Sevcenko evidencia-se como o modelo de fonte energética adotado, principalmente no pós Segunda Guerra, influenciou diretamente nas mudanças e crises visualizadas ao longo do século XX. Assim, se a história procura analisar como ciências e técnicas são o resultado da ação dos sujeitos em seu meio, entre necessidades e circunstâncias, devemos ter em mente como estas são percebidas e apropriadas de acordo com os interesses de cada momento histórico. Se mudanças na produção de fontes de energia, transporte e comunicação são fundamentais para compreender as sociedades, visualizar como estas são percebidas e apreendidas em cada momento também o são.
Assim, reúnem-se na primeira parte do trabalho, denominada História e Políticas Energéticas, autores que procuram apresentar direcionamentos, do passado ao presente, dos caminhos do setor energético. Inicialmente, Jonathan Tennenbaum nos oferece uma nova perspectiva de observação para as próximas “revoluções energéticas”, em que, a partir do olhar de estudos da economia física, visualiza-se como a ampliação na distribuição e produção passa diretamente por um processo de desenvolvimento científico, ligado, segundo o autor, à produção de energia nuclear. Neste sentido, o segundo texto, de autoria do organizador da obra, Gildo Magalhães, nos proporciona vislumbrar tal dinâmica analisando o caso paulista, em que demonstra como ao longo do século passado o ritmo da oferta energética esteve atrelado ao desenvolvimento industrial. Dialogando com autores como Rousseau e analisando criticamente as posições malthusianas, evidencia como a falta de oferta de energia esconde-se em meio a dados de crescimento econômico e social, demonstrando como o campo energético paulista passou de um “progresso e desenvolvimentismo alucinante” entre 1950 e 1960, para um “desenvolvimento nulo”, entre 1970 e 1980 a uma espécie de “crescimento sustentável”, em meio ao processo de privatizações da década de 1990.
Na continuidade, os trabalhos de Isabel Bartolomé e Diego Bússola remontam às relações internacionais presentes no setor energético. O primeiro destaca paralelamente paridades e distinções no processo de eletrificação brasileira com Portugal e Espanha. Próximos pela presença histórica do modelo hídrico de geração, estes espaços compartilharam a resultante do crescimento urbano e industrial atrelado à produção energética, sob o manto dos mesmos grupos internacionais. Ao mesmo tempo, seus caminhos entrecruzam-se com regimes ditatoriais e intervenções privadas que direcionam as formas de organização em cada um destes espaços. No segundo caso, Diego Bússola elucida os caminhos de uma multinacional atuante em Buenos Aires no início do século XX. Analisa como a empresa Sofina adotou uma diversidade de princípios de atuação neste local, implementando ações como a ideia de crescimento “em superfície”, visando estimular o aumento de consumidores e outras em que, por um lado, realizavam a diminuição das tarifas e ao mesmo tempo forneciam vantagens na compra de eletrodomésticos, o que ampliava o consumo.
Sem perder o leque diversificado de investigações e interpretações, a obra adentra os marcos da organização energética nacional. Sonia Seger reconstrói o processo de estabelecimento do sistema energético nacional elencando como, ainda no século XIX, regiões como o Brasil foram assimiladas como “zonas de expansão” para empresas elétricas, o que marcou o seu desenvolvimento inicial. Empresas como a Light e Amforp ocuparam tal organização do setor, atuando na virada do século XX em capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro e regiões como o Interior de São Paulo. Assim, da criação da Eletrobrás à CESP, das ações do regime civil militar ao período das privatizações, colabora para evidenciar o “desmonte” gradual do setor energético nacional. Seguindo os mesmo caminhos, mas analisando o setor nuclear, Fernanda Corrêa e Leonam Guimarães apresentam em seu texto os dilemas da produção energética nuclear, no qual entre os primeiros estudos e as campanhas contra sua utilização, apresenta-se as potencialidades e riscos de seu uso, estando em foco novos horizontes da produção energética.
Fechando a primeira parte, dois pequenos textos nos conduzem pelas relações entre as empresas energéticas e as experiências participativas. A partir de suas memórias como participante do I Seminário de História e Energia, realizado em 1986, Ricardo Maranhão demonstra como estes eventos foram, e ainda são centrais para ampliar o debate sobre os caminhos da produção energética, bem como redimensionaram a percepção dos aspectos relacionados a este meio, de impactos ambientais a reorganizações sociais. Por isso, complementando este debate, Ildo Sauer ressalta a necessidade de democratizarmos a distribuição e participação nas decisões do setor energético, para além da hegemonia de grupos ou mesmo países.
Compondo um conjunto de trabalhos referentes à memória empresarial do setor energético, a segunda parte do livro apresenta cinco artigos que desvelam o crescimento de trabalhos ligados a historia empresarial, algo não corrente no Brasil até as últimas décadas. Parte desta ausência gestava-se principalmente pelas relações das empresas com seus arquivos, que fica evidente no primeiro texto de Bruce Bruemmer, em que, ao relatar suas experiências como pesquisador e posteriormente como arquivista nos EUA, pontua que elementos como interesses das empresas, limitações na legislação e aperfeiçoamento dos pesquisadores influenciam diretamente na existência destes arquivos.
No caso do Brasil, empresas como a CESP, criada pela fusão de onze companhias em 1966, tornam-se um excelente exemplo de atuação nestes arquivos. Em meio a um emocionante depoimento, Sidnei Martini apresenta suas experiências de atuação junto a uma empresa deste setor, no qual desvela as dificuldades que enfrentou ao buscar criar condições para que houvesse a conscientização da necessidade de criar um arquivo e o centro de memória. Complementado pela transcrição de uma rodada de perguntas, o texto contribui para que visualizemos os desafios ainda a serem enfrentados para o fortalecimento de projetos de preservação documental.
Nesta perspectiva, os trabalhos de Antonio Carlos Bôa Nova e Paulo Nasser vêm a exemplificar os meandros que permeiam tais dificuldades. No primeiro caso, em Paralelos entre culturais organizacionais: CESP e Eletropaulo, o autor demonstra como a própria cultura organizacional das empresas influi diretamente nos meandros da organização de sua memória. Muito próximo ao que retratou em sua obra Percepções da cultura da CESP, Nova deixa claro que mesmo com transformações como processos de privatizações ou fusões empresariais, a cultura organizacional se sobrepõe e influencia diretamente nos meandros de sua imagem, de suas memórias. Por isso, como ressalta Paulo Nasser no texto seguinte, devemos propor ampliar os caminhos de percepção de tais memórias, averiguando como operam sua própria linguagem e operação da empresa, sua comunicação com o público, parte de sua cultura organizacional.
Fechando este debate, Lígia Cabral vem apresentar a importância e atuação do Centro de Memória da Eletricidade, elencando como desde sua fundação, em 1986, projetos, publicações e debates foram gestados em meio a sua existência. Sediado no Rio de Janeiro e fundado pela Eletrobrás, este espaço penetra os caminhos da memória energética nacional, influindo diretamente no que será rememorado e em quais elementos engendram tais memórias. Entre publicações infanto-juvenis e projetos de história oral, este constitui um marco no processo organizacional do setor energético.
Ainda com fôlego e muito a contribuir, a obra adentra a terceira parte denominada Acervo, processos, fluxos documentais e a memória do setor elétrico, e como já denota o tópico, contempla artigos dedicados a arquivologia e questões relacionadas aos demais tratamentos junto à documentação. Por meio das especificidades de cada “operação documentária”, transparecem os desafios de uma área com muito trabalho a ser realizado, e que contribui diretamente em aspectos históricos e culturais das próprias empresas ou instituições. Ao longo de cada trabalho, se evidencia os percalços na conservação, desrespeito à legislação junto às empresas públicas e privadas e o crescente processo de digitalização de documentos, ainda um campo aberto a considerações e reflexões.
Maria Morais apresenta inicialmente suas práticas e experiências junto à organização da documentação de empresas do setor energético (Light e Eletropaulo), e examina, mapeia e diagnostica como o processo de privatização na década de 1990 contribuiu para a dispersão destes documentos, resultando em um quadro em que grande parte da documentação não obedece a critérios técnicos, mas são principalmente arquivados por uma possível função legal. E tal fato fica evidente no texto de Marcia Pazin, quando constata que esta dispersão, mesmo que agravada pelo processo de privatização inicia-se, na maioria dos casos, antes mesmo deste evento. Este debate traz à tona a necessidade de buscarmos conscientizar as empresas e demais segmentos da importância de classificação e manutenção dos arquivos referentes às suas atividades, que em muitos casos acabam descumprindo as próprias medidas legais de preservação e manutenção destes arquivos, como é trabalhado no texto de Maria Izabel de Oliveira. Tal exemplo torna-se elucidativo no trabalho apresentado por Telma Carvalho em relação à realização do projeto Eletromemória.
Os três últimos trabalhos desta terceira parte nos convidam a elucidar as posturas teórico-metodológicas presentes no processo de organização documental, demonstrando como, de forma interdisciplinar, tal área cunhou todo um aparato de instrumentos técnicos e teóricos. E por estes meandros Mario Barité apresenta como a organização do conhecimento está intimamente relacionada aos critérios de classificação, gestão e manutenção de centros documentais e bibliotecas. Dialogando com as ideias anteriores, Fátima Tálamo esboça no texto Informação, conhecimento e bem cultural como esta tríade epistemológica está intimamente relacionada ao fluxo de informações e o desenvolvimento do que chama de “sociedade do conhecimento”. Isto resulta em questões, como demonstra Marilda Lara, no exame entre a denominada Ciência da Informação e sua relação com os processos documentais e fluxos sociais de informação. Para a autora, a relação encontra-se na percepção do documento enquanto produtor e receptor da informação, expressa em diferentes escolas, como a europeia e americana.
Fechando a obra, os trabalhos de David Rhees, Heloísa Barbuy e Renato Diniz apontam como a cultura material da eletricidade e sua preservação fornecem instrumentos para diversas áreas do conhecimento, funcionando como elemento educacional, fonte de documentação e pesquisa. Sua dimensão alcança ares como demonstrado por Rhees, onde um museu nos EUA tornou-se referência no patrimônio de equipamentos eletrodomésticos. São elementos que estão intimamente presentes cada vez mais no cotidiano de cada geração, produzindo uma infinidade de elementos que devem ser observados como resultado da cultura material de cada momento histórico como propõe Heloísa Barbuy, pois de colecionadores a acervos públicos, são objetos que revelam histórias e memórias. Mas para isto, toda a sociedade deve rever as maneiras de entender tais elementos da cultura material, estando no centro de tais debates, o papel que se reserva aos setores públicos e privados na preservação da cultura material e do patrimônio histórico.
Enfim, os artigos apresentados nesta obra buscam apresentar as potencialidades de uma área do saber que cada vez mais amplia seus leques de pesquisa e ensino, contando com grandes referenciais para a continuidade dos debates. Destarte, tal obra, assim como o evento da qual resulta, contribui significativamente para ressaltar como transformações políticas, econômicas e sociais influem diretamente nos caminhos do setor energético, e assim, no próprio rememorar de um grupo ou da sociedade.
Tal empreita, derivada do 3º Seminário Internacional de História e Energia, fornece elementos não somente para compreensão das trajetórias do setor energético, mas dos próprios caminhos da cultura e da sociedade em geral.
Andrey Minin Martin – Doutorando em História. Universidade Estadual Paulista-UNESP. Bolsista FAPESP. Assis/São Paulo, Brasil. E-mail: andrey_mm@hotmail.com.
MAGALHÃES, Gildo (Org). História e Energia: Memória, informação e sociedade. São Paulo: Alameda, 2012. 376 p. Resenha de: MARTIN, Andrey Minin. Os caminhos do Setor energético. Outros Tempos, São Luís, v.11, n.17, p.190-295, 2014. Acessar publicação original. [IF].
Frontera y guerra civil española: dominación,resistencia y usos de la memoria – SIMÕES (LH)
SIMÕES, Dulce. Frontera y guerra civil española: dominación,resistencia y usos de la memoria. Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, 2013, 400 pp. Resenha de: ROVISCO, Eduarda. Ler História, n. 67, p.196-199, 2014.
1 Resultante de uma tese de doutoramento em antropologia orientada por Paula Godinho e José María Valcuende del Río, este livro focado em Barrancos enquanto vértice do ângulo transfronteiriço formado com Oliva de la Frontera e Encinasola constitui uma minuciosa etnografia retrospetiva sobre os acontecimentos relativos à concentração e repatriamento de refugiados espanhóis em Barrancos em 1936, entretecida com uma análise sobre dominação e resistência nos campos raianos do sul durante as primeiras décadas das ditaduras ibéricas.
2 Dividido em seis capítulos, este é um livro que – tomando de empréstimo a expressão proferida por Afonso Cruz a propósito do primeiro romance de Ana Margarida de Carvalho – segue a rota do parafuso de pisão de Heráclito, enquanto síntese da reta e da curva, furando a direito e prendendo o leitor num movimento giratório ao longo de quatro capítulos em direção ao seu núcleo: o acontecimento descrito no capítulo quinto.
3 Nos primeiros dois capítulos dedicados à guerra civil espanhola e à fronteira, o leitor é introduzido no diálogo entre a história e a antropologia, nos movimentos sociais pela memória, e nos contextos sociais e históricos da fronteira e das povoações que compõem este triângulo. Nos dois capítulos seguintes, Dulce Simões procede a um segundo nível de contextualização do acontecimento colocando as peças sobre o lado português deste tabuleiro: ricos, pobres e representantes do Estado na fronteira de Barrancos. Os conceitos de hegemonia de Gramsci e de resistência de James C. Scott emergem aqui como eficaz matriz teórica que sustenta a análise.
4 Na abertura do terceiro capítulo, o leitor torna-se refém da brilhante narrativa de Dulce Simões ao ser colocado na praça central de Barrancos, entre os sócios da Sociedade União Barranquense (Sociedade dos Ricos) e da Sociedade Recreativa e Artística Barranquense (Sociedade dos Pobres), sentados frente a frente. A partir desta imagem da estratificação social, a autora inicia uma descrição contrastada do “sumptuoso” campo onde Juan de Bourbon ia caçar a convite da oligarquia agrária barranquenha, com a miséria dos trabalhadores rurais (assistida pelas sopas deslavadas da União de Caridade das Senhoras de Barrancos) e as suas práticas de resistência quotidiana que evitavam o conflito aberto.
5 No capítulo seguinte são explanados tópicos relativos ao papel do conflito espanhol como detonador do modelo fascizante do Estado Novo, ao apoio prestado por Portugal às forças nacionalistas e às estratégias cénicas do posicionamento de Salazar na arena internacional que auxiliam a compreensão do caracter singular do repatriamento para Tarragona dos refugiados republicanos acoitados em Barrancos. Este segundo nível de contextualização é encerrado com uma caracterização das forças de prevenção e vigilância contra a “ameaça roja” na fronteira de Barrancos. Esta vigilância foi intensificada após o golpe militar, passando a integrar o exército, a Guarda Fiscal, a GNR e a PVDE, sendo tecnicamente dirigida pelo Tenente António Augusto Seixas, então comandante da Secção da Guarda Fiscal de Safara.
6 O terror do plano de extermínio posto em prática pelas forças nacionalistas – colocando milhares de pessoas em fuga, muitas das quais para Portugal – descerra a descrição dos dois fluxos de refugiados para Barrancos. O primeiro fluxo, proveniente de Encinasola, ocorreu na segunda semana de Agosto de 1936 e integrou várias famílias apoiantes do golpe militar. Este movimento foi iniciado devido ao receio de que a coluna composta por mineiros de Riotinto e milicianos de Rosal de la Frontera (que havia já participado no assalto ao quartel da Guardia Civil de Aroche) se dirigisse para Encinasola. O segundo fluxo, procedente de Oliva da la Frontera (onde se concentravam milhares de refugiados das províncias de Badajoz e Huelva), derivou da tomada de Oliva pelos nacionalistas a 21 de Setembro de 1936, sendo composto maioritariamente por republicanos. Possuindo sinais político-ideológicos contrários, estes dois fluxos despoletaram formas de acolhimento diferenciadas. Enquanto os refugiados de Encinasola foram acolhidos pelas autoridades locais barranquenhas e alojados em casas da vila, os refugiados republicanos de Oliva viram-se confinados às margens da fronteira (nas herdades da Coitadinha e das Russianas) numa espécie de “quarentena social” contra o contágio ideológico, enfrentando a escassez de alimentos, a ausência de abrigos e “a incerteza sobre o seu destino” (p. 276).
7 Centrando-se nos refugiados pertencentes ao segundo fluxo, a autora relata a vida nos campos, o conjunto de ações das forças de vigilância, as manobras de resistência do Tenente Seixas assentes na manipulação de ordens recebidas e na ocultação do grupo reunido nas Russianas (que lhe valeu a condenação a dois meses de inatividade e à reforma compulsiva, sendo reintegrado em 1938, após ter recorrido da sentença), bem como as operações logísticas de repatriação para Tarragona dos 1.020 refugiados em Barrancos, muitos dos quais viriam a integrar as frentes de combate ou a partir para o exílio.
8 O sexto e último capítulo comporta uma análise do pós-guerra focada no terror enquanto “elemento estruturante do franquismo” (p. 314) e no contrabando como “principal atividade económica durante o pós-guerra” (p. 348), explicitada através da história de vida de Fermín Velázquez, um dos refugiados de Oliva acolhidos na Coitadinha. Durante a primeira década do pós-guerra, a vida deste carabineiro que havia jurado ser fiel à república desenrolou-se entre a sucessão de prisões e a clandestinidade em Portugal, comprovando que nestes anos a “mera existência se converteu numa experiência ameaçadora” (p. 338). Voltando a Oliva de la Frontera em 1948, Fermín Velázquez, como tantos outros republicanos, passa a dedicar-se ao contrabando aqui entendido como “arma dos fracos” e parte integrante da memória da guerra na fronteira.
9 Desta investigação de Dulce Simões havíamos já colhido importantes resultados, de que são exemplo a obra Barrancos na encruzilhada da Guerra Civil de Espanha. Memórias e Testemunhos (publicada em 2007 em Portugal e em 2008 em Espanha) ou o documentário “Los refugiados de Barrancos” produzido pela Asociacíon Cultural Mórrimer (em que participou como consultora) e que foram vitais na divulgação destes acontecimentos. Estes resultados, difundidos no decurso da investigação em ações enquadradas pela Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, contribuíram para a atribuição da Medalha da Extremadura ao povo de Barrancos em 2009 como reconhecimento pela sua solidariedade no acolhimento de refugiados, bem como para a edificação de um memorial em Oliva de la Frontera em 2010. Neste sentido, deve também ser referido que estes reflexos da investigação merecem a atenção da antropóloga que se desdobra num duplo movimento analítico assente no exame do acontecimento e do seu reflexo, sobretudo no que concerne às recentes formulações de Barrancos como “comunidade solidária”.
10 Marcante contribuição para a história da guerra civil de Espanha na raia luso-espanhola e para o estudo das fronteiras ibéricas, este livro inserido nas “lutas pela memória” constitui também uma inspiradora arma para as “lutas pelo futuro” que hoje se travam na Península Ibérica.
Eduarda Rovisco – ISCTE-IUL, Centro em Rede de Investigação em Antropologia.
Chile 73: Memoria, impactos y perspectivas | Joan del Alcázar e Esteban Valenzuela
Existem certos momentos no devir das sociedades em que a memória emerge com mais força e de forma às vezes surpreendente. Nesses momentos, a experiência com determinados eventos remete as pessoas e os grupos sociais ao passado, trazendo à tona certas lembranças que por seu conteúdo desencadeiam reações no presente. Conforme definição de Jacy Seixas (2002 p.43-45), esse trajeto faz com que sejamos interpelados pelos problemas da atualização e da espacialização da memória. O livro hora resenhado e organizado pelo historiador espanhol Joan del Alcázar [1] e pelo político, escritor e pesquisador chileno Esteban Valenzuela [2], reúne nove artigos que refletem a preocupação desses acadêmicos, com o papel exercido pela memória do governo socialista de Salvador Allende (1970-1973) e da ditadura militar (1973-1990) no aperfeiçoamento da democracia chilena. De acordo com Alcázar e Valenzuela, a memória deste passado recente têm representado muitos dos antagonismos vividos no país e que estariam dificultando a produção de consensos e a plena democratização. Trata-se de uma dimensão dos acontecimentos pretéritos permanentemente latente e que retira do impacto exercido pelas referidas experiências limite, grande parte da força das representações que manifesta. Leia Mais
A sombra do ditador: memórias políticas do Chile sob Pinochet – MUÑOZ (CTP)
MUÑOZ, Heraldo. A sombra do ditador: memórias políticas do Chile sob Pinochet. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. Resenha de: MOURA, Lyyse Moraes. A sombra do ditador: memórias políticas do chile sob Pinochet. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão, n. 14, p. 85-88, out./dez. 2013.
Augusto Pinochet é um dos políticos sul-americanos mais conhecidos no mundo. Durante 17 anos, o general chileno governou uma ditadura sangrenta, responsável por cerca de 40 mil vítimas de prisão, tortura, assassinato ou desaparecimento. Esse personagem, contudo, também é reconhecido como aquele que impôs o neoliberalismo ao Chile, elevandoo a uma das nações mais desenvolvidas da América Latina.
Embora ele seja considerado por muitos um símbolo de tirania e crueldade, devido aos resultados econômicos que obteve, alguns o veem como o líder que, apesar do governo tirânico, recuperou a economia chilena e lançou as bases do crescimento e da modernização.
Diante disso, cabe a seguinte pergunta: Pinochet foi realmente necessário ao desenvolvimento do Chile? O livro A sombra do ditador, de Heraldo Muñoz, se propôs a responder esse questionamento e investigar o impacto de Pinochet na história contemporânea, analisando os vários significados que a figura desse ditador evoca. Muñoz vivenciou o processo que levou Pinochet ao poder e participou da resistência à ditadura, sendo um dos fundadores do movimento que reestabeleceu a democracia no Chile em 1990. Por essa razão, a obra entrelaça as memórias políticas do autor a um amplo material de pesquisa, como documentos secretos americanos e chilenos, e entrevistas com as principais figuras envolvidas na história do Chile nas últimas décadas.
O livro inicia narrando os acontecimentos de 11 de setembro de 1973, dia do golpe de Estado que derrubou o presidente Salvador Allende, e vai até a eleição de Michelle Bachalet em 2006. Muñoz aborda episódios marcantes da época, como o atentado à vida de Pinochet, a criação da Dina (Directión de Inteligencia Nacional), a Operação Condor, e os assassinatos do general Carlos Prats em Buenos Aires e de Orlando Letelier em Washington.
O autor relata como Pinochet aderiu ao golpe “no último minuto” e rapidamente ascendeu ao poder supremo, criando uma ditadura pessoal e transformando a polícia secreta em um aparato repressor e violento que perseguia os oponentes políticos do ditador. Ele também descreve os processos que resultaram na implementação de um novo modelo econômico no Chile, desenvolvido pelos chamados “Chicago Boys” – economistas neoliberais chilenos que tinham estudado com o economista norte-americano Milton Friedman, na Universidade de Chicago. Segundo Muñoz, sem esse modelo econômico inovador, Pinochet seria “um capítulo menor na história dos ditadores militares latinoamericanos”.
II Além de narrar acontecimentos que marcaram a época, Muñoz analisa o papel dos Estados Unidos no golpe e na manutenção da ditadura Pinochet. De acordo o autor, Richard Nixon e Henry Kinssinger tornaram-se figuras extremamente vinculadas a Pinochet e ao Chile. Ambos dedicaram tempo e recursos à erradicação do que percebiam como “ameaças comunistas” nas Américas e apoiaram o ditador chileno em sua gestão. As relações entre Estados Unidos e Chile abalaram-se quando a polícia secreta chilena assassinou o antigo ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier, nas ruas de Washington. Além desse fato, com o enfraquecimento da União Soviética, o ditador chileno tornou-se cada vez menos necessário aos interesses do governo norte-americano.
Ainda nesse contexto, o autor destaca que o regime Pinochet reflete a história das relações entre os Estados Unidos e a América Latina, e com o que outrora foi denominado Terceiro Mundo. Ferdinando Marcos nas Filipinas, Manuel Noriega no Panamá, Anastácio Somoza na Nicarágua, foram todos – assim como Pinochet – em algum momento apoiados pelos Estados Unidos, mas depois abandonados ou combatidos pelo governo norteamericano.
III Após analisar o desenvolvimento alcançando pelo Chile, através do plano econômico dos “Chicago Boys”, Eraldo Muñoz descrever as execuções, torturas e desaparecimentos que se tornaram a marca registrada do regime Pinochet: Havia, por exemplo “o submarino”, em que o prisioneiro era afundado num tanque de água cheio de excrementos e amônia até começar a afogar-se; a parrilha (grelha elétrica), na qual uma vítima nua e ensopada era amarrada à estrutura metálica de um colchão de molas enquanto lhe davam choques na boca, nos ouvidos e nos órgãos sexuais (…) Dedos e unhas foram extraídos com alicates; ratos foram introduzidos nas vaginas de mulheres. Muitas mulheres foram brutalmente estupradas; mulheres grávidas eram torturadas e mortas; outros prisioneiros eram obrigados a jogar roleta russa, sofrer privação de sono e de comida, passar por execuções simuladas e muito mais.IV Centenas morreram, em particular durante as primeiras semanas e meses após o golpe. Campos de concentração foram abertos em todo o Chile: Chacabuco, Pisagua, Quiriquinas, ilha Dawson, Ritoque, Tejas Verdes, Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingos Cañas, Academia de Guerra Aérea e Escuela de Caballería de Quillota são somente alguns dos lugares onde os chilenos foram presos, torturados e assassinados.V Além dos atos violentos cometidos durante a ditadura, os partidos políticos foram totalmente banidos, e todos os demais partidos foram postos “em recesso”. O congresso nacional foi fechado, as eleições suspensas indefinidamente e os registros eleitorais destruídos. No início de 1974, cerca de 50% dos jornalistas chilenos estavam desempregados.
Dos 11 jornais que existiam no período do golpe, apenas 4 permaneceram. As estações de rádio esquerdistas foram bombardeadas ou fechadas pelos militares.VI Nos anos 1980, os movimentos de resistência contra a ditadura começaram a sair da clandestinidade e a desenvolver atividades abertas. Participante da luta pela democracia, Muñoz aponta que houve divergências sobre a melhor estratégia para derrubar o regime Pinochet. O Partido Comunista optou pela luta armada – alguns integrantes do partido até tentaram matar o ditador –, enquanto os demais grupos adotaram como estratégia a participação no plebiscito de 1988, em que Pinochet foi candidato único numa votação decisiva entre “sim” – confirmando a permanência do general por mais 8 anos no poder – e “não” – defendendo o fim de sua gestão. A surpreendente vitória do “não” anunciou o encerramento do domínio do ditador.
Em 1990, a democracia foi reestabelecida no Chile. Pinochet, entretanto, permaneceu na direção do exército e, em seguida, tornou-se senador vitalício no Congresso Nacional. Em outubro de 1998, o ditador foi preso em Londres, em decorrência de um mandado expedido por um juiz espanhol. Por motivos de saúde, as autoridades britânicas permitiram que ele retornasse ao Chile em 2000. Nesse mesmo ano, o general foi acusado pela lei chilena e posto em prisão domiciliar.
Pinochet faleceu em dezembro de 2006. Embora fosse processado sob diversas acusações e estivesse sob prisão domiciliar quando morreu, jamais foi declarado culpado e sentenciado por seus crimes. Nas palavras de Muñoz, o ditador “tirou pela vantagem dos direitos a ele garantidos pelo processo legal – direitos que foram negados às suas vítimas – e adiou indefinidamente o dia do ajuste de contas”.VII Muñoz encerra sua obra respondendo ao questionamento inicial: Pinochet foi realmente necessário? Para o autor, não. A repressão e a violência sistemática contra oponentes políticos não era inevitável. Em um contexto democrático, as reformas econômicas de Pinochet certamente sofreriam a oposição de sindicatos trabalhistas, partidos políticos e membros do congresso. Entretanto, sua implementação – mesmo sob regime autoritário – não exigia o assassinato de milhares de dissidentes, tortura e desaparecimento de prisioneiros políticos. O regime de Pinochet não foi um mal necessário.
O autor nega a premissa de que o desempenho econômico do general compensa seus “excessos”. Ele defende, ainda, que o Chile não precisaria passar por uma ditadura para ter alcançado o seu atual nível de prosperidade e, nesse sentido, cita o exemplo de países latinoamericanos que passaram por crises econômicas nos anos 1980 e decidiram estabelecer reformas econômicas radicais, num contexto razoavelmente democrático.
A sombra do ditador expõe as diversas faces da ditadura Pinochet, e permite ao público conhecer as entranhas do regime militar chileno. Ao articular a trajetória política do autor à documentação sobre a época, a obra contribui para o conhecimento do processo de transição da ditadura à democracia no Chile. O livro é recomendado a todo aquele que se interesse em conhecer a complexidade desse período.
Notas
2 MUÑOZ, Heraldo. A sombra do ditador: memórias políticas do Chile sob Pinochet. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p. 09.
3 MUÑOZ, Heraldo. Op. cit., p. 359.
4 MUÑOZ, Heraldo. Op. cit., p. 65.
5 MUÑOZ, Heraldo. Op. cit., p. 65.
6 MUÑOZ, Heraldo. Op. cit., p. 71.
7 MUÑOZ, Heraldo. Op. cit., p. 348.
Referências
MUÑOZ, Heraldo. A sombra do ditador: memórias políticas do Chile sob Pinochet. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
Luyse Moraes Moura – Bolsista PIBIC/CNPq. Graduanda em História/UFS. Integrante do Grupo de Estudos do Tempo Presente. E-mail: luyse@getempo.org. Orientador: Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard (DHI/UFS).
History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice / Berber Bervernage
O professor Berber Bevernage atua na Universidade de Gent, Bélgica, e participa do grupo “TAPAS – Thinking about the past”, localizado na mesma universidade. O trabalho resenhado é o fruto de sua tese de doutorado e traz consigo discussões basilares para sociedades que passaram por períodos de regimes ditatoriais ou atos de extrema violência protagonizados pelo Estado. A principal fonte de análise do autor são os resultados das comissões da verdade de três países: Argentina, África do Sul e Serra Leoa. Bevernage defenderá a tese de que a compreensão tradicionalmente defendida pela historiografia ocidental sobre tempo e história não pode ser aplicada às vítimas de violência promovida por esses Estados.
Logo no prefácio de sua obra, Bevernage nos apresenta as suas teses principais: primeira, “that the way one delas with historical injustice and the ethics of history is strongly dependente on the way one conceives of historical time”; segunda, “that the concept of time traditionally used by historians are structurally more compatible with the perpetrators’ than the victims’ point of view” e, terceira, “that the breaking with this structural bias demands a fundamental rethinking of the dominant modern notions of history and historical time” (BEVERNAGE, p. 9, 2012). De acordo com essas teses, portanto, será perseguida, durante todo o restante do trabalho, a maneira com a qual as vítimas entendem o passado que lhes é traumático. Essa maneira de compreender o tempo e a história específica das vítimas se contrapõe, portanto àquela tradicionalmente aplicada pela historiografia moderna ocidental, a qual, de maneira oposta, se adequa muito melhor ao ponto de vista dos perpetradores da violência. Bevernage propõe, pois, outra maneira de lidar com as noções de tempo e história dessas vítimas.
O livro está dividido em duas partes. Na primeira, encontra-se a discussão acerca dos eventos traumáticos passados pelas vítimas nos três países referenciados. No final desta, o autor apresenta conclusões preliminares que apontam para a necessidade de se repensar a maneira com a qual se tem tratado o tempo e a história para vítimas de eventos traumáticos protagonizados pelo Estado. Na segunda, Bevernage se debruça sobre a discussão teórica que dará cabo de sua análise dos casos desses três países. O autor, então, perpassa uma série de tradições historiográficas da teoria da história e aponta o pensamento do filósofo francês Jacques Derrida como o mais apto a ser aplicado à noção de tempo dessas vítimas. Ao término dessa segunda parte, igualmente, Bevernage apresenta as suas conclusões acerca de todo o processo, deixando clara, não obstante, a sua opinião sobre o que deveria ser feito com relação ao passado traumático nesses três casos analisados. Exatamente por isso, ele afirma ainda no prefácio, o seu trabalho trazer uma contribuição à teoria da história, porém, uma contribuição “não-ortodoxa”. Sua contribuição é assim qualificada, pois:
Unorthodox because it does not focus on professional historiography; it does not go into questions of truth, objectivity, or narrativism; but mostly, this book differs from conventional philosophy of history because it tries to draw the attention to some long-neglected ‘big questions’ about the historical condition – questions about historical time, the unity of history, and the ontological status of present and past – and because it is openly programmatic in its plea for a new historical ethics [2].
Será, portanto, essa “nova ética histórica” o foco das discussões de Bevernage em sua obra. Qual seria a melhor teoria, pois, para se analisar o tempo e a história presente nas narrativas das vítimas da violência estatal nesses três casos analisados? Uma vez analisadas “corretamente”, haveria alguma maneira de tratá-las de acordo com os seus pedidos, mantendo a paz e a integridade de todos? Ou o simples ato de ouvir os seus anseios da maneira que eles querem já poria a sociedade em uma situação de instabilidade política? Na introdução, o autor apresenta o pensamento de dois autores consagrados na historiografia ocidental, Nietzsche e Benjamin, contrapondo seus pensamentos. Enquanto para o primeiro, “para se viver torna-se necessário esquecer”, para o segundo, as injustiças históricas cometidas no passado devem ser redirecionadas para o presente, reorientando-o. Segundo Bevernage, a tradição moderna ocidental teria se afiliado muito mais ao pensamento nietzcheniano, tendo como consequência disso o foco numa ética histórica muito “presentista”. O autor faz dialogar, portanto, o “tempo da história” com o “tempo da jurisdição”, trazendo para o centro da discussão a possibilidade de serem julgados crimes cometidos em um passado muito longínquo. Dentro dessa lógica, pois, o “tempo da história” aparece como aquele responsável por apresentar o tempo como algo “reversível”, enquanto o “tempo da jurisdição” o apresenta de maneira “irreversível”. Para as vítimas, contudo, conforme Bevernage apresenta na fala de um sobrevivente de Auschwitz, essa noção de tempo “irreversível” é “inaceitável” [3].
A partir dessa discussão aparentemente dicotômica e sem saída, Bevernage apresenta a ideia de “tempo irrevogável” (“notion of irrevocable”) enquanto possibilidade de saída para tal quimera, expressa no dilema sobre o que fazer com os crimes históricos ocorridos nos países que sofreram atos de violência protagonizados pelo Estado, uma vez que a “justiça transicional” deve decidir sobre algo extremamente delicado:
(…) to repair historical injustice and thereby risk social dissent, destabilization, and return to violence; or to aim at a democratic and peaceful present and future to the ‘disadvantage’ of the victims of a grim past? [4].
Quando se trata de atos de violência cometidos pelo Estado, contudo, tem sido muito mais comum o esquecimento. Para as vítimas, entretanto, a situação tem se mostrado completamente diferente. As vítimas não esquecem. Pelo contrário, para elas o passado continua presente, atormentando-as, clamando por justiça, mesmo que ela cause desestabilização na “paz social”. A partir dos anos 1980 essa situação tem mudado um pouco. Conforme apresenta Bevernage, as comissões da verdade trazem consigo esse dilema da justiça transicional e, a partir da análise dos resultados obtidos pelas comissões nos três países supracitados, Bevernage busca por uma saída satisfatória para o tormento que o passado causa na vida das vítimas, mesmo o Estado tendo oficializado tal evento traumático enquanto “superado”. A história, portanto, apresenta a qualidade de “performática”, pois: “it can also produce substantial socio-political effects and that, to some extent, it can bring into being the state of affairs it pretends merely to describe” [5]
O primeiro caso analisado, no primeiro capítulo da Parte I do livro, é o das “Madres de Plaza de Mayo”, na Argentina, as quais clamam por justiça em nome de seus filhos, os “desaparecidos”. Esse grupo de vítimas levanta uma série de conceitos problemáticos acerca da ditadura militar na Argentina, os quais são facilmente relacionados à ideia de “tempo irrevogável” defendida por Bevernage. Enquanto o governo argentino lançou o “Nunca Más” como slogan para o esquecimento e superação da violência protagonizada pelo Estado durante tal período, as “Madres” lançaram o “Aparición con vida”, opondo-se claramente à ideia de esquecimento em prol da superação. Para elas, portanto, não importa se os seus filhos estão realmente mortos ou são “desaparecidos”. Elas clamam por justiça, para que o Estado prenda os perpetradores da violência que matou os seus filhos, não pelo esquecimento ou pela superação. A força do debate levantado pelas “Madres” é, portanto, colocada por Bevernage como exemplar de um grupo de vítimas que se opõe declaradamente ao conceito de tempo e história “irreversíveis”. Para Bevernage, apenas o “tempo irrevogável” é capaz de compreender tais anseios trazidos por estas mães [6].
No capítulo seguinte, Bervernage apresenta o caso da África do Sul e do “Apartheid”. Algo semelhante ao caso das “Madres” se apresenta aqui: apesar de a comissão da verdade trazer à tona crimes de violação aos direitos humanos, a grande maioria desses casos foi engavetada em nome da “paz social”. Para um grupo específico de vítimas, contudo, os “Khulumani”, o passado não deve ser esquecido dessa maneira. Independente do que possa ter ocorrido oficialmente com a chegada de Nelson Mandela ao poder, uma quebra maior com o legado do “Apartheid” ainda é, para esse grupo, um projeto de longa duração. Dessa forma, de maneira semelhante ao que se observou na Argentina, as narrativas das vítimas do “Apartheid” na África do Sul precisam ser analisadas a partir da ideia de “tempo irrevogável”, pois eles chamam por uma justiça que, para a justiça transicional oferecer, seria necessário resolver àquele dilema apresentado anteriormente, o que colocaria em cheque a paz social, uma vez que o enfrentamento do passado, no presente, viria em termos legais e criminais, não apenas sociais.
O terceiro caso, de Serra Leoa, analisado no capítulo seguinte, apresenta conclusões semelhantes com relação ao “tempo irrevogável”. Para Bevernage, a ideia de “tempo irreversível”, amplamente divulgada pelas comissões da verdade nesses três países, tem por principal objetivo manter a integridade nacional, manter o povo unido em prol de algo menos catastrófico quanto encarar o passado traumático de frente, algo preconizado pelo “tempo irrevogável”. Não se trata de resolver os problemas do passado, no presente, como se eles pudessem ser apagados. Trata-se, isso sim, de reconhecer que, para as vítimas, pedir para simplesmente “esquecer” é, tanto cruel, quanto irreal, pois elas não esquecem e, conforme o autor demonstra nesses capítulos, elas criam grupos sociais e se articulam em prol de mostrar para o Estado: “nós não esquecemos. Nós queremos justiça”.
As conclusões preliminares às quais o autor chega ao final da primeira parte de seu livro trazem tais questões ao foco do debate. As “políticas temporais” (“politics of time”) promovidas pelas comissões da verdade nesses três casos voltam-se para a história, não em prol de elaborar uma continuidade temporal capaz de sanar as insatisfações e os traumas das vítimas, mas sim em prol de uma descontinuidade temporal, sendo esta responsável por deixar clara a necessidade de elaboração de uma política de tempo “irreversível”. Esquecer para superar. O esquecimento vem, ainda, aliado à ideia de “perdão”. Todos esses argumentos promovidos por tal “política temporal” tem por objetivo central a manutenção de uma nação coesa, evitando trazer para si as polêmicas de um enfrentamento do passado traumático em termos legais e jurídicos. O ato de posicionar os atos violentos no “passado” elabora uma cronologia responsável por alocar as vítimas em um tempo que não lhes pertence mais, tornando-as antiquadas e rancorosas, caso queiram clamar por justiça [7].
As experiências delas, portanto, ainda substantivas, sensíveis e vivas, são transformadas em cronologia pela justiça transicional baseada na ideia de tempo “irreversível”. Para as vítimas, o passado ainda é um espectro, um fantasma, algo que ronda as suas consciências no presente e não pode simplesmente ser “exorcizado” pelo Estado e suas políticas temporais baseadas neste outro modelo de compreensão do tempo.
Na segunda parte de seu livro, Bevernage inicia a busca por algum modelo temporal que se adequasse ao das vítimas desses três exemplos elencados. O autor dialoga com o tempo newtoniano, com o tempo formulado pelo historicismo, pelo modernismo e pelo secularismo, para chegar à conclusão inicial de que, nenhuma delas, apesar de significativas para a formação do que a historiografia ocidental considera tempo e história, dialoga com o passado “aterrorizante” das vítimas (BEVERNAGE:108, 2012). Não obstante, tornasse necessário frisar que este modelo temporal e de história formulado pela modernidade, no qual o autor afirma a historiografia ocidental basear-se, precisar ser repensado, caso desejemos trazer para a discussão os passados traumáticos e atormentadores das vítimas de violências causadas pelo Estado. A isso, Bevernage nomeará de “cronosofia” (“chronosophy”): “we need to rethink historical time and look for the possibility of na alternative chronosophy” [8].
Em seguida, ainda em busca de alguma teoria que abarque esta outra “cronosofia” necessária, Bevernage dialoga com autores como Fernand Braudel, Collingwood, Paul Ricoeur, Ernst Bloch, Louis Althusser. De todos esses autores, Bevernage destaca que houve, durante todo o século XX, a tentativa de discutir o tempo e a história sob vieses capazes de trazerem consigo tempos plurais e polirrítmicos, porém, nenhum deles quebrou tão fortemente com a tradição temporal marxista e hegeliana como o filósofo francês Jacques Derrida:
What we need and what is mostly lacking in the alternative chronosophies discussed in this chapter, therefore, is an explicit deconstruction of any notion of a time that acts as a container time and pretends to be the measure of all other times. Who can we better turn to for this type of deconstruction job than the French philosopher Jacques Derrida? [9]
Derrida aparece, na fala de Bevernage, como o teórico mais apropriado para lidar com o tempo aterrorizante das vítimas porque ele, mesmo sendo assumidamente marxista, foi capaz de assumir e trazer para a sua “cronosofia” os “espectros” temporais, aos quais o próprio Marx faz referência em muitas de suas obras. Para o autor, portanto, Derrida trará para a sua “cronosofia” a máxima shakespeariana “time is out of joint” (“o tempo está fora de eixo”) em prol de elaborar uma teoria temporal capaz de trazer para si os espectros e os presentes não desejados, uma vez que deveriam já ter se tornado passado [10].
Já próximo às conclusões final do livro, Bevernage associa tal teoria ao tratamento do luto e da melancolia. Uma vez que às vítimas das violências tratadas nos capítulos anteriores foi negado o tratamento social do luto, Bevernage aponta que, ao tratá-las dessa forma, o Estado não estaria sanando um problema, mas sim, criando um ainda maior – como é o caso das “Madres” que, independente do tempo passado desde o desaparecimento de seus filhos ainda os qualificam como “desaparecidos”, não como “mortos” [11]. O autor, então, chega à conclusão de que, o modo com o qual se tem tratado o luto nas sociedades modernas tem-se mostrado ineficaz para com a sua superação. As vítimas precisam senti-lo e, não apenas isso, elas precisam ver medidas serem tomadas, legalmente, em prol de seu sentimento de “passado-presente”, em nome desse espectro que os ronda, uma vez que não se trata de uma questão meramente pessoal, mas de uma questão de violência causada pelo próprio Estado. Bevernage toma, mais uma vez, o exemplo das “Madres” para ilustrar tal necessidade, quando afirma: “this, I think, is how we have to interpret the Madres’ claim that although more than thirty years of calendar time have passed since their children were disappeared, they do not consider them to belong to the past” [12].
Às conclusões finais às quais Bevernage chega podem ser destacadas da seguinte maneira: enquanto as comissões da verdade, por meio da ação da justiça transicional, trazem à tona o tempo espectral e aterrorizante das vítimas, esse tempo no qual, segundo o autor, a teoria mais adequada para analisar é a de Derrida, elas nada podem intervir, uma vez que, ao apoiarem-se nos discursos históricos acadêmicos sobre tempo e história, elas não encontram respaldo para tal. O tempo e história nas narrativas das vítimas, então, encontram-se em uma situação problemática: apesar de o próprio Estado trazer à tona as suas falas a partir das comissões da verdade, nada é feito, pois a sua “cronosofia” não é vista enquanto possível, dentro da tradição historiográfica ocidental.
Bevernage, contudo, não se abstém de opinar neste quesito. Após toda a pesquisa, ele afirma, com relação à teoria do tempo irrevogável e às políticas temporais, que não é de sua alçada afirmar que se deva fazer justiça a todo e qualquer. Essa, de acordo com o autor, é uma decisão que não pode ser tomada fora do contexto específico no qual a violência efetivamente aconteceu “deciding how exactly to deal with the past after political transition and/or violent conflict will remain a socio-political issue that cannot be solved a priori or out of context”, às vezes, a “besta do passado” é simplesmente forte demais para ser olhada diretamente [13]. Para tanto, pois, Bevernage afirma que o dilema da justiça transicional, uma vez considerado o tempo irrevogável, deve permanecer enquanto um “dilema político”, isto é, algo que deva variar de acordo com as especificidades de cada país e de cada acontecimento histórico violento.
Ao invés de, ao término da pesquisa, Bevernage pretender uma espécie de “fórmula” para a resolução dos problemas sociais em sociedades pós-transicionais, ele nos oferece a reflexão de que, afinal, esta é uma questão política e, trazer as narrativas das vítimas para o seu cerne é, não apenas necessário, como vital. Se a “cronosofia” moderna não consegue abarcar a “cronosofia” das vítimas, tampouco negá-la é a solução para manter a estabilidade social em situações extremas como as tratadas durante o livro. O diálogo com a teoria de Derrida serve para o autor exatamente nesse aspecto: existem, inevitavelmente, inúmeros presentes naquilo que acreditamos ser o “presente” e, em casos como esses, negá-los pode gerar um nível de dissensão perigoso para a manutenção da coesão social responsável por formar uma nação.
Notas
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012. p. 10.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012. p.3.
- Ibid., p.7.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012.p.15.
- Ibid., p.45.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012.p.86.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012.p.109.
- Ibid., p.130.
- BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012. p.144.
- Ibid., p.157.
- Ibid., p.167.
Caio Rodrigo Carvalho Lima – Licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Natal/RN. E-mail: c.rodrigo.lima@hotmail.com.
BEVERNAGE, Berber. History, Memory, and State-Sponsored Violence: Time and Justice. New York/London: Routledge, 2012. 250p. Resenha de: LIMA, Caio Rodrigo Carvalho. Outros Tempos, São Luís, v.10, n.16, p.308-315, 2013. Acessar publicação original. [IF].
Memória e Sociedade: lembranças de velhos | Ecléa Bosi
Cônjuge do crítico literário e historiador da literatura brasileira Alfredo Bosi, Ecléa Bosi nasceu em São Paulo e atualmente é professora de Psicologia Social na USP. Possui Graduação (1966), Mestrado (1970) e Doutorado (1971) nessa mesma área temática, por esta instituição. É coordenadora da Universidade Aberta à terceira idade e atua nos seguintes temas: psicologia, memória, cultura. Bosi é autora de Memória e sociedade, Cultura de massa e cultura popular: leituras de operárias, Velhos amigos, O tempo vivo da memória e da antologia Simone Weil. Recebeu o título de professora emérita em outubro de 2008, o prêmio internacional Ars Latina (2009) por Memória e sociedade e os prêmios Loba Romana e Averroes (2011). Mulher singular, Ecléa Bosi traduziu escritores de renome internacional como Leopardi, Ungaretti, Garcia Lorca e Rosália de Castro. Sua tese de livre docência intitulou-se Um estudo de psicologia social da memória, obtida em 1982 e apresenta a arguição teórica que deu base à Memória e Sociedade. Leia Mais
Sul do Sul: memória, patrimônio e identidade | Carmem Schiavon, Adriana K. Senna e Rita de Cássia P. Silva
A população do arquipélago formado por nove ilhas e várias ilhotas de origem vulcânica foi batizada “açoriana” em reverência às aves da espécie falconídea (“açor”) que povoavam o lugar. Parte desses ilhéus que lá vivia imigrou para o extremo Sul do Brasil em meados do século XVIII, na esperança de conseguir melhores condições de vida e de alcançar um futuro próspero. O deslocamento para o Rio Grande de São Pedro configurou, desde o início, um grande desafio para aqueles que enfrentavam o percurso marítimo que os levaria às terras brasileiras. Ao longo das viagens, a carência de alimentos e a precariedade das condições de higiene fatalmente ocasionavam a emergência de enfermidades e mortes. O contingente que conseguiu sobreviver aos infortúnios da travessia teve um papel essencial na colonização e no desenvolvimento da região após 1752.
A partir desse enfoque, cada um dos autores do livro “Sul do Sul: memória, patrimônio e identidade” investiga a historiografia rio-grandense e luso-açoriana, observando-as criticamente. Organizada por Carmem Schiavon, Adriana Senna e Rita de Cássia Portela, a obra apresenta os resultados de pesquisas sobre os aspectos da história e da cultura do Rio Grande 1, privilegiando as tradições açorianas que se enraizaram entre a população residente naquele lugarejo. Leia Mais
Memoria y Política en la Historia Argentina Reciente: una lectura desde Córdoba | Marta Philp
“Memoria y Política en la Historia Argentina Reciente: una lectura desde Córdoba” nos invita a reconstruir un período específico de la historia argentina: la etapa 1969 – 1989, desde un lugar determinado: Córdoba. Es éste ya uno de los puntos a destacar de la obra. Efectivamente, con la valiosa perspectiva de quienes investigan las historias provinciales; como alternativa y complemento al gran relato de la historia nacional, la autora aborda las relaciones entre historia, memoria y política, centrando el análisis en las conmemoraciones y homenajes. Éstos constituyen una vía particularmente rica para analizar cómo el poder político construye su legitimación mediante los usos y significaciones atribuidos al pasado.
Escrita en un lenguaje claro, sólido; “Memoria y Política en la Historia Argentina Reciente: una lectura desde Córdoba” aborda una temática aún conflictiva para la mayoría de los argentinos, cuyo tratamiento es considerado campo de abordaje por historiadores y periodistas; y todavía se halla en pleno proceso de construcción desde lo metodológico y lo analítico. De allí que, pese a ser una obra de buena lectura, una comprensión cabal apunte a entendidos. Leia Mais
O cangaço nas batalhas da memória – SÁ (PL)
“Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem que escava.” É precisamente esse movimento de escavação extraído da proposição benjaminiana que a escrita de Fernando Sá empreende, ao configurar o recorte de passado do nordeste brasileiro, conhecido metonimicamente pelo termo cangaço. (BENJAMIN, 1997, p. 239). A familiaridade, aludida por Benjamin, entre explorador do meio de memória e o passado que busca, pela palavra, configurar, se depreende já na leitura do prefácio da obra, quando sua genealogia entre adjuvantes do cangaço é exposta. É, pois, no terreno do próprio passado que esse herdeiro de memórias, por assim dizer, escava. Legado que confere ao texto de Sá certa licenciosidade na escolha dos objetos de pesquisa, bem como no tratamento dos dados coletados e na (des) crença em relação às fontes. Leia Mais
La cambiante memoria de la dictadura: discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática | Daniel Lvovich e Jaquelina Biquert
Andreas Huyssen, em seu texto Resistência à memória: os usos e abusos do esquecimento público (2004), afirma que a sociedade contemporânea permanece obcecada com a memória e com os traumas provocados pelo genocídio e pelo terror de Estado. Tendo em vista este quadro, o esquecimento teria se tornado sinônimo de fracasso ou, como considera Jeanne Marie Gagnebin (2006, p. 54), o elemento final de tudo aquilo que pesa “sobre a possibilidade da narração, sobre a possibilidade da experiência comum, enfim, sobre a possibilidade da transmissão” da lembrança e da construção histórica. Nesta perspectiva, do culto às memórias sensíveis e do gradativo aumento da produção historiográfica sobre esta temática, está a análise proposta no livro La cambiante memoria de la dictadura: discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática, dos pesquisadores argentinos Daniel Lvovich e Jaquelina Bisquert, ambos docentes da Universidad Nacional General Sarmiento.
Em pouco mais de cem páginas, os autores propõem algumas reflexões tanto dos usos políticos da memória sobre a ditadura militar, como sobre as mudanças das representações e dos discursos sobre o período na Argentina. Para tanto, o livro foi dividido em seis capítulos, que abordam períodos distintos, que se iniciam no ano do golpe, em 1976, e terminam no ano de 2007, quando se encerra um ciclo de importantes investimentos por parte do Estado na construção de políticas de memória.
Já na introdução do livro, os autores propõem uma problematização do papel que a memória ocupa na sociedade argentina e que, em seu uso cotidiano, tornou-se uma bandeira que preenche um espaço singular na reivindicação de grupos distintos que clamam por “memória e justiça”. Outro aspecto relevante nesta parte do texto é a importante distinção entre as duas tradicionais formas de representação do passado: a história e a memória.
Na visão de Lvovich e Bisquert, a história tem como função abordar o passado em conformidade com exigências disciplinares, aplicando procedimentos críticos para tentar explicá-lo, compreendê-lo e interpretá-lo da melhor maneira possível. Já a memória está ligada às necessidades de legitimar, honrar e condenar (p. 07). Como parece consensual no debate sobre o tema, a memória tem sua importância na coesão e na formação identitária dos povos, ainda que se deva considerar o quanto operam sobre ela as subjetividades individuais, e como distintos grupos representam o passado de formas – não raras vezes – contraditórias. O que significa dizer que, se o passado é único, imutável, é preciso considerar que os seus sentidos e significados não o são.
À medida que novas demandas sociais ou novos grupos de poder emergem, podem ocorrer substantivas mudanças na construção discursiva do passado. Os autores chamam, assim, a atenção para o fato de que, já há algumas décadas, a memória tornou-se uma preocupação central na cultura e na política, movimento assinalado pela criação de museus, monumentos e comemorações – muito em função da internacionalização das memórias das vítimas da Segunda Guerra Mundial (p. 09).
O primeiro capítulo El discurso militar y sus impugnadores (1976-1982) é dedicado ao estudo da formação do discurso militar sobre sua chegada ao poder e das justificativas construídas para as suas ações violentas. A diferença do golpe militar de 1976 frente aos outros desencadeados naquele país estaria, sem dúvida, no papel adotado pelas Forças Armadas, que assumiram para si a responsabilidade de ser “salvadora” e “revolucionária”, com propostas de mudanças na sociedade argentina, após o caótico governo de Maria Estela Martinez.
O Proceso de Reorganización Nacional tinha por objetivo reestabelecer a “vigência dos valores da moral cristã, da tradição nacional e da dignidade de ser argentino”, bem como, assegurar “a segurança nacional, erradicando a subversão e as causas que favorecem sua existência” (p. 17). De forma semelhante ao que aconteceu em outros países da América Latina, o discurso construído em cima da figura do inimigo do regime recai no subversivo, no antiargentino que, além de praticar o terrorismo, através de suas ideias ofende a moral. Não só mata militares, como também é o que incita a briga familiar, joga pais contra filhos, leva a contestação até as escolas e as fábricas. É contra este indivíduo que o Estado entrou em “guerra interna”, justificando suas violações aos Direitos Humanos.
Outra noção de guerra, agora externa, foi também utilizada pelos militares para justificar a entrada na Guerra das Malvinas (1982), a fim de gerar um consenso na sociedade sobre a necessidade de tal aventura. Abordando tais temas, os autores apontam nesta primeira parte para as formas com que as Forças Armadas conduziram o discurso sobre sua atuação.
O segundo capítulo La transición democrática y la teoria dos demonios (1983- 1986) analisa a primeira mudança na construção do discurso sobre o período. Com a derrota na Guerra das Malvinas (que levou o regime ao colapso), a atuação cada vez mais significativa das organizações de Direitos Humanos e com o julgamento da Junta Militar o discurso do Estado caiu paulatinamente em descrédito. A versão que vem à baila é a trazida pelo Informe Nunca Más, em que aparece a clássica teoria “dos demônios”.
Esta teoria diz que a Argentina esteve durante anos sob a violência política praticada por dois extremos ideológicos: o Estado e a guerrilha. Todavia, a sociedade, sob este prisma, está alheia a tudo isto, e mais, ela é vítima da ação dos demonios e é isentada de qualquer responsabilidade na eclosão do golpe de 1976. No prólogo do Informe se condena abertamente a violência terrorista, independente de sua origem ideológica, e se assume uma perspectiva baseada tão somente na dicotomia entre ditadura e democracia, o que silencia as responsabilidades de civis e militares na repressão surgida ainda no governo de Maria Estela Martinez (p. 35). Outro cambio de interpretação se deu na visão sobre a guerra das Malvinas. Com a derrota da Argentina, os soldados entraram para a história como vítimas, inocentes e inexperientes, que “foram enviados para morrer e não para matar” (p. 40).
O terceiro capítulo, Un pasado que no pasa (1987-1995) trata, principalmente da fragilidade de se abordar essa memória recente da ditadura em um período de reconstrução democrática. Após o período de turbulência durante o governo de Raul Alfonsín veio o governo de “pacificação nacional”, de Carlos Menem. Ou seja, as agitações causadas pelas polêmicas acerca das leis de obediência devida e punto final e pelo ataque ao quartel de La Tablada, o país mergulha em uma tentativa institucional de abrandar essas questões. Tal política, que incluía indultos a militares sublevados, relativizou a questão do terror de Estado. Para o presidente, somente com o passado reconciliado se poderia “abrir as portas para um futuro promissor”. Segundo os autores, Menem incitou a nação a construir uma memória baseada no esquecimento (p. 53), o que, contudo, teve efeito contrário, já que a memória sobre a repressão continuava cada vez mais viva e a sociedade cada vez mais sectarizada.
El boom de la memória (1995-2003) é o quarto capítulo, que trata do período em que a memória sobre a repressão veio à cena pública de modo mais impactante – seja na sociedade, seja nos ambientes acadêmicos. O fator responsável por este fenômeno foi a confissão de Adolfo Scilingo sobre sua participação nos chamados vôos da morte. O acontecimento teve o efeito de desencadear uma série de “autocríticas” entre os militares, que se diziam arrependidos de sua atuação na repressão. Somado a isto, novas organizações de Direitos Humanos, como os H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) passaram também a inovar no método de pedir justiça, sob a forma de escrache.
Essa nova forma de protestar (o escrache) consistia em uma marcha até a residência de algum repressor a fim de grafitar o local e avisar à comunidade que seu vizinho foi um colaborador ou repressor. O avanço dos meios de comunicação, sem dúvida, auxiliou nessa fase de boom, com a divulgação de fotografias, vídeos e filmes, fazendo com que surgisse uma demanda social que clamava pela abertura dos arquivos da repressão. A academia não ficou alheia a este debate e a memória sobre o período e seus desdobramentos tornou-se um objeto de reflexão bastante visitado nas universidades.
A partir do ano de 2001, começaram a surgir os “lugares de memória”, lugares de homenagem às vítimas da repressão. Esta “hipermemória”, como escrevem os autores, converteu as vitimas em heróis revolucionários, estabelecendo uma nova divisão social – ainda simples e maniqueísta, entre bons e maus (p. 74).
Las políticas de memoria del Estado (2003-2007) é o capítulo que encerra o livro, descrevendo e analisando a importância dada à questão dos Direitos Humanos e à questão dos julgamentos durante o governo de Néstor Kirchner. Com a declaração da inconstitucionalidade das leis Punto final e obediência devida, dezenas de processos tiveram que ser revistos e novos julgamentos voltaram a ocorrer. A centralidade deste capítulo está na discussão sobre como a memória das vítimas do regime tornou-se forte, eliminando quase que por completo a versão militar dos fatos.
Outros pontos importantes discutidos dizem respeito à proliferação dos centros de memória, em especial, da Escuela Superior de Mecanica de la Armada (com todo o debate sobre como utilizar este espaço, para transformá-lo em museu) e à importância das manifestações de rua nas comemorações do 24 de março, aniversário do golpe, sobretudo, na comemoração dos seus 30 anos, em que o presidente chamou a atenção para o fato que “não só as forças armadas tiveram responsabilidade do golpe. Setores da sociedade tiveram sua parte: a imprensa, a igreja e a classe política” (p. 87).
Com um texto simples em sua linguagem, mas repleto de importantes referências historiográficas e de fontes jornalísticas acerca do tema, os autores ilustram todo o processo pelo qual a “história da memória” sobre a ditadura e o terror de Estado passou ao longo de aproximadamente trinta anos na Argentina.
O livro lança luzes sobre os debates que aconteceram na sociedade durante este período, mostrando que, mesmo quando uma ou outra visão prevalecia, ela não aparecia sem que houvesse vozes dissonantes no interior dos muitos grupos sociais e políticos. Sendo assim, trata-se de um livro importante para quem quer compreender o estágio atual da sociedade argentina, que levou muito recentemente grandes repressores ao banco dos réus, colocando aquele país como o mais adiantado entre seus vizinhos no que diz respeito à justiça de transição. La cambiante memoria de la dictadura desperta a curiosidade sobre este tema, que ainda rende – e renderá entre os argentinos e entre os brasileiros – apaixonadas e calorosas discussões.
Referências
GABNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar Escrever Esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006.
HUYSSEN, Andreas. Resistência à memória: os usos e abusos do esquecimento público. In: BRAGANÇA, Aníbal e MOREIRA, Sonia Virginia. Comunicação, Acontecimento e Memória. São Paulo: Intercom, 2005.
LVOVICH, Daniel y BISQUERT, Jaquelina. La cambiante memoria de la dictadura: discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática. Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2009.
Diego Omar da Silveira – Universidade Federal de Minas Gerais.
Isabel Cristina Leite – Universidade Federal do Rio de Janeiro.
LVOVICH, Daniel; BISQUERT, Jaquelina. La cambiante memoria de la dictadura: discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática. Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2009. Resenha de: SILVEIRA, Diego Omar da; Leite, Isabel Cristina. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.30, n.1, jan./jun. 2012. Acessar publicação original [DR]
Présent, nation, mémoire – NORA (RBH)
NORA, Pierre. Présent, nation, mémoire. Paris: Gallimard, 2011. 432p. Resenha de: BOEIRA, Luciana Fernandes. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.32, n.63, 2012.
No dia 6 de outubro de 2011 o historiador e editor francês Pierre Nora lançou, simultaneamente, dois livros: Historien public e Présent, nation, mémoire, ambos publicados pela prestigiada Gallimard, editora por ele dirigida desde 1965. As duas obras reúnem artigos escritos por Nora ao longo de sua extensa carreira. Nas mais de quinhentas páginas do primeiro livro, o autor apresenta inúmeros manifestos, intervenções públicas e tomadas de posição por ele sustentados nos seus mais de cinquenta anos de vida pública. Entre vários assuntos, Nora expõe considerações sobre o fazer editorial e tece observações sobre a história contemporânea e a nação francesa. Fala, ainda, sobre a Guerra da Argélia e a respeito da importante revista Le Débat, fundada por ele e por Marcel Gauchet em 1980 e que alcança, até hoje, grande êxito no mundo intelectual.
Présent, nation, mémoire integra a Coleção Bibliothèque des Histoires e reúne mais de trinta artigos do historiador, todos girando em torno das mutações entre história e memória. Essa volumosa gama de artigos é resultado das reflexões que precederam, acompanharam e sucederam a publicação de Les lieux de mémoire, a monumental obra coletiva em sete volumes escrita entre 1984 e 1992 e que constituiu o empreendimento editorial mais importante que Nora dirigiu em sua carreira, na qual soma-se, também, Faire de l’Histoire (organizado em parceria com Jacques Le Goff, em 1974), outro estrondoso sucesso da Coleção Bibliothèque des Histoires, composto por três volumes e no qual inúmeros historiadores franceses apresentavam suas reflexões sobre a nova história da década de 1970.
Tudo em Présent, nation, mémoire se relaciona com Les lieux de mémoire e, portanto, é inseparável da obra. Assim, o que dá uma unidade aos seus 32 artigos, alocados em três partes distintas – Presente, Nação e Memória (que são, também, os três eixos centrais através dos quais os artigos se relacionam e, como afirma Nora, constituem os três polos da consciência histórica contemporânea) –, é a pretensão de representarem uma introdução aos lieux de mémoire. Embora os assuntos de cada um dos artigos sejam bastante diversos (Nora explora desde a questão do patrimônio até referências a Michelet e Lavisse como modelos de história nacional, passando por temas como o fim do gaullo-comunismo na França, a aparição do best-seller no mercado editorial ou o trauma causado pela lembrança de Vichy), os três eixos sob os quais se dividem acabam por orientar a leitura do material. Um material que o próprio autor admite estar apresentado de maneira inabitual, tanto pelo assunto que o título da obra anuncia, quanto pelo conteúdo, que foge aos cânones eruditos da disciplina histórica. Porém, como ele mesmo sublinha, sua intenção, ao propor a coletânea, não foi a de fazer uma reflexão teórica sobre a história, e sim expor uma reflexão que brotou de sua prática enquanto historiador.
E é justamente essa prática historiadora e os eventos que a compuseram que Nora mostra, fazendo uma retrospectiva dos momentos mais importantes vividos pela disciplina histórica durante o século XX, particularmente a partir do advento dos Annales e que culminariam, nos anos 1970 e 1980, com a eclosão do que ele chama de uma ‘onda de memória’ que varreu não só a França, mas o mundo ocidental como um todo e do qual o momento presentista e dominado pela patrimonialização seria herdeiro.
Pensar o advento dessa onda memorialística generalizada e, com ele, o movimento de aceleração da história, que condenou o presente à memória, é a intenção maior do livro. Mesmo propósito, diz Nora, que ele e mais de cem historiadores tiveram quando lançaram Les lieux de mémoire, tentando entender quais foram os principais lugares, sejam eles materiais ou abstratos, em que a memória da França se encarnou.
Em fins da década de 1970 e no início dos anos 1980, os ‘lugares de memória’ de Nora constatavam o desaparecimento rápido da memória nacional francesa, e, naquele momento, inventariar os lugares em que ela efetivamente havia se encarnado e que ainda restavam como brilhantes símbolos (festas, emblemas, monumentos, comemorações, elogios fúnebres, dicionários e museus) era uma forma de destrinchar, de dissecar a memória nacional, a nação e suas relações. Em 2011, Présent, nation, mémoire, a reunião de artigos escritos ao longo de toda uma vida, apresenta uma dupla função: servir de base para Les lieux de mémoire, mas, independentemente disso, mostrar ao público como Nora constituiu seu próprio percurso enquanto pesquisador e, concomitantemente, como foi construindo um novo campo de estudos. Um campo, diz ele, delimitado por estas três palavras: presente, nação e memória. Termos que, para Nora, condicionam a forma da consciência histórica contemporânea e palavras que lhe permitiram, além disso, reagrupar os artigos que compõem o volume segundo uma lógica que ele chama ‘retrospectiva’ e que, para ele, teria um ‘sentido pedagógico’ eficaz em sua intenção de demonstrar como ele formou esse campo de estudos que envolve a memória e a história no tempo presente.
No livro, Nora não atualiza os artigos. No máximo, muda sutilmente alguns dos títulos. Também não apresenta-os de maneira cronológica, mas de acordo com o assunto que está tratando em cada parte, de forma que podemos ter um texto escrito em 1968 após outro escrito em 1973, ou um assunto trabalhado em 2007 colocado imediatamente após outro artigo, relacionado àquele, mas escrito em 1993. Esse recurso é bastante interessante, pois possibilita ao leitor perceber uma coerência no percurso do autor no que toca aos temas levantados e há quanto tempo estes fazem parte de seu universo de preocupações.
Nesse olhar retrospectivo acerca de sua própria obra enquanto escritor, Nora admite que cada um dos textos que formam a coletânea poderia ter sido objeto de um desenvolvimento maior e quem sabe, até mesmo gerado livros específicos, o que de fato não aconteceu. Isso porque, embora o volume de artigos que Nora publicou até hoje seja bastante grande, sua dedicação, como historiador, à escrita de obras próprias, é muito pequena. Antes da publicação desses dois volumes que reúnem alguns de seus muitos textos dispersos, Nora havia participado apenas de empreendimentos coletivos e publicado um único livro: Les Français d’Algérie, em 1961.
Seu interesse em dar a conhecer esses tão variados textos no volume que denominou Présent, nation, mémoire residiria, segundo Nora, tão somente em reconstituir um percurso intelectual e mostrar como ele formou, durante sua trajetória, um canteiro de obras composto por vários estratos historiográficos que esquadrinhou enquanto historiador.
Porém, pelo teor dos artigos que costuram o volume, o que se percebe é que Pierre Nora faz questão de pontuar o significado que sua própria obra teve na renovação dos estudos históricos na França. Somente para citar um exemplo, no artigo “Une autre histoire de France”, originalmente publicado no Diccionnaire des sciences historiques, de André Burguière (1986), sob o título de “Histoire national”, Nora destaca que o momento em questão era aquele da renovação historiográfica da história nacional, no qual os historiadores estavam interessados em dissecar a herança do passado. Para ele, Les lieux de mémoire se inseriam perfeitamente nessa perspectiva: apreendendo as tradições nas suas expressões mais significativas e mais simbólicas, os ‘lugares de memória’ souberam fazer uma história crítica da história-memória e produziram uma vasta topologia do simbólico francês. Aqui, uma forma até certo ponto sutil de Nora reverenciar seu empreendimento como uma contribuição singular para a renovação historiográfica contemporânea. No artigo seguinte, “Les lieux de mémoire, mode d’emploi”, um prefácio escrito pelo autor para a edição norte-americana da obra, publicada entre 1996 e 1998, Nora é muito mais enfático ao situar seu trabalho e, também, muito mais direto em reafirmar a importância que Les lieux de mémoire tiveram na ‘era da descontinuidade historiográfica’ da nova historiografia francesa.
E se Nora é mestre em pontuar a importância de sua obra, ele também sabe defendê-la. O texto por ele escolhido para fechar o volume, “L’histoire au second degré”, publicado em sua revista Le Débat em 2002, é uma resposta do autor às críticas que Paul Ricoeur fez aos “insólitos lieux de mémoire“, em A memória, a história, o esquecimento, publicado naquele mesmo ano. No artigo, Nora, mais uma vez, denuncia a atual invasão do campo da história pela memória ao ponto de estarmos mergulhados em um mundo do ‘tudo patrimônio’ e da história como comemoração. Diz ele partilhar das mesmas análises de Ricoeur sobre a comemoração e de suas irritações a respeito do ‘dever de memória’, mas com uma única diferença: para ele, não há a possibilidade de se escapar dessa situação, como acreditava o filósofo. Segundo Nora, a melhor forma de lidar com a tirania da memória seria apreendê-la e percebê-la em seu interior, como propõem, ao fim e ao cabo, seus lieux de mémoire.
Luciana Fernandes Boeira
[IF]
Churches in Early Medieval Ireland: Architecture, Ritual and Memory | Tomás Ó Carragáin
This book emanates from a doctoral thesis completed in 2002 by Tomás Ó Carragáin. He is currently a lecturer at the Department of Archaeology, University College Cork, Ireland. It is a very elegant edition, printed on large pages, it literally looks like a History of Art book due to the many beautiful photographs it contains of the early Irish churches and their surrounding landscapes. It would be a suitable adornment for any coffee table. The contents can equally interest archaeologists, historians, historians of art, and even well informed tour guides in Ireland who want to gather information about particular sites. Its Appendix provides a descriptive list of Irish PreRomanesque Churches and its bibliography is very useful for both historians and archaeologists of early Christian Ireland. The fact that the notes have been published as endnotes rather than footnotes, while enhancing the visual attractiveness of the text, renders them rather unhelpful to the reader; particularly because the full reference of the works are not given in the notes. Consequently, every time the reader wants to check a reference it is necessary to look up the notes at the end and the bibliography, turning a huge volume of large heavy pages in the process.
Ó Carragáin’s study is about the pre-Romanesque churches built in Ireland from the arrival of Christianity in the island in the fifth century to the early stages of the Romanesque style around 1100 [1]. Therefore, far from being simply an exhaustive descriptive work of churches and monasteries and their respective architectures, or of excavation reports, it provides some interesting and updated analysis of the usage of those religious sites, analysing its social and political associations. The chosen structure for the book is both chronological and thematic. Consequently, I found it easy to follow the arguments. In the process, the author has crafted a fruitful balance between the material culture and the textual historical evidence.
In the first part of his Introduction he locates his work within a historiographical framework in which he discusses previous writings and interpretations of these churches’ architectures. An interesting aspect of this work derives from how he positioned himself in the middle-ground when discussing whether Ireland was an odd place in the Middle Ages or whether it was completely in line with other European countries and its movements [2], in terms of its art and architecture style, aspects of Christianity and it’s politics. He concluded that Ireland is not completely different from the rest of Western Europe but as differences are realities ‘they are often more revealing than similarities’ (p. 8). I do not agree entirely with that sentence, as such a determination depends on the focus and aims of a given piece of research. In many cases the study of similarities could provide lots of interesting insights. Even though, in this particular book we are offered an equilibrated use of comparative observations between Ireland, England and the Continent identifying both disparities and similarities.
In his discussion on early Irish Church organization, he has tended to agree with recent studies which argue that the Church did not suffer cycles of corruption and reform but experienced continuity throughout the period. This perspective departs from an older orthodoxy that the Irish Church in Patrick’s time was based on an episcopal model which was superseded by a monastic model. He agrees that the highest rank of churches were multi-functional and that the Irish church settlements, especially the bigger ones, such as Clonmacnoise, Glendalough, Kildare, and Armagh, were in fact episcopal-monastic centres rather than purely monasteries [3], thus both bishops and abbots were important figures in these contexts (p. 9).
In chapter one, “Opus Scoticum: Churches of Timber, Turf and Wattle”, (p. 15‒47), he analyses the architectural structure of the churches made with these materials. Most of the churches built before c. 900 were probably not made of stone, and certainly after this period these materials were used as well as stone to build churches. Ó Carragáin has acknowledged that little is known archaeologically about them. His argument in that informs the entire book. It is that some of these churches were modelled according to a Romano-British style; while others were designed to allude to the tomb of Christ in Jerusalem. So, they were read by the Irish literati [4] as representations of the Jerusalem temple and were associated with their founding saints. Subsequently, its quadrangular form was monumentalized by the Irish who in later periods keep this style relinquishing any search for other complex types of buildings.
The very short chapter two, “Drystone Churches and Regional Identity in Corcu Duibne”, (p. 48‒55), as the title suggests, is about the drystone type of churches which are only found in the south-west area of Ireland, (facing the Atlantic), area of Co. Kerry, as shows on maps 1 and 4. They date from the eight century onwards and are not found elsewhere. It used to be believed that they were a step in an evolutionary typology of the double-vaulted roof, a theory disregarded by Ó Carragáin. He suggests that 86% of such churches are distributed on the Iveragh peninsula and western end of the Dingle peninsula, regions which formed the early medieval kingdom or Corcu Duibne. The other 14% is spread around the Corcu Duibne’s domains. He concludes that those churches positioned within the Corcu Duibne area should not be understood as a material strategy of differentiation representing their association with St. Brendan the Navigator’s cult, because the Corcu Duibne geographical area was dedicated to a number of other saints. Nevertheless, the other sparsely located churches may be evidence of St. Brendan’s cult expanding beyond the immediate Corcu Duibne area. Though his interpretation is based on some previous works but the claim is underdeveloped, while this may be because there are not enough archaeological or textual sources to support the claim, thus it remains rather speculative rather than warranted by available evidence.
Chapter Three, “Relics and Romanitas: Mortared Stone Churches to c. 900”, (p. 57‒85), is about the important sites where mortared stone churches were built during the eighth and ninth centuries while most of the other churches were still being built with other materials. They constitute symbolic architecture and therefore, symbolic places. For the sacrality of those sites he returns to some discussions developed by some scholars, especially by Charles Doherty and Nicholas Aitchison whose work avails of concepts from comparative religion. His argument is that the first large stone church built in the eight century in Armagh, was associated with the ideal of Romanitas [5], as an imitatio Romae. While the other early stone churches built at other important religious centres, Iona and Clonmacnoise, were inspired by biblical cities of refuge, such as, Jerusalem, and in particular with the Jerusalem temple, and with the Holy Sepulchre Complex, carrying the ideal of imitatio Hierusalem. In these sites a novelty was also built, little shrine-chapels, where the remains of the dead founder saints were deposited. They were usually built on top of the original tombs of the saints, but some saint’s remains may had been transferred to shrine-chapels. From a political perspective, it appears that the construction of these stone churches had been supported by local kings thus contributing to the rivalries among these churches and their prominence in Ireland. The positioning of these sites on the landscape and their architecture carried cosmological value, as centres of the world, or microcosms.
In the following chapter, “Pre-romanesque churches of mortared stone, circa 900‒1130: form, chronology, patronage”, (p. 87‒142), Ó Carragáin has described their form, their distribution in the country and the involvement of kings in commissioning the earlier ones. In Chapter 5 “Architecture and Memory”, (p. 143‒166), he discusses the concept of social memory and analysed it in the Irish context in order to comprehend the conservative form of these churches. Tension between continuity and change within a building tradition is analysed and associated with the disconnection between immutable form and mutating social context, revealing conscious manipulation of the past in order to suit the needs of the present. In the construction of this argument he accessed a study of a Chinese village in the second half of the twentieth century, as a mode of comparison. Within this logic he observes a preoccupation with the past as expressed through the medium of medieval art. He highlights that from c. 900 onwards Ireland was suffering political, economic, social and military changes which stimulated among the Irish literati a desire to preserve the past, and this was reflected in the conservatism of the churches and the style in which they were built by the early saints. He affirms that “like the historical writing of the tenth to twelfth centuries, the stone churches were intended to make the past continuous with the present”, (p. 149).
“Architecture and Ritual” is the theme of the chapter 6, (p. 167‒214) and here the author searches the material for evidence of the nexus between the architecture of these sites and the ritual enacted on them. As part of this process, he attempts to observe how Mass, consecration ceremonies, baptism, and processions were celebrated. In Chapter 7, “Sacred cities and pastoral centre after 900”, (p. 215‒234), he continues to explore the usage and function of these churches. He opens the chapter by returning to the discussion as to whether or not the big church groups such as Armagh and Clonmacnoise were simply monasteries or cities. In Latin hagiography, the Irish scholars have referred to these sites as civitates, locus and monasterium, (p. 216). Based on Doherty’s and Bradley’s arguments, Ó Carragáin seems to agree that these ecclesiastical sites experienced substantial nucleation. Here the author returns to Cólman Etchingham’s argument that these sites varied in function and affirms that the archaeological evidence supports it. The early Irish churches, although all built in the same quadrangular format, served different purposes. According to him, the term “monastery” is not the most useful one to describe these sites, and posits that “episcopal-monastic centres” or simply civitas may more accurately reflect their multiplicity of functions (p. 216‒217). Although he explains the particularity of what the term civitas meant for the Irish, I consider that since this term is often associated with the Roman concept and structure of civitas and the episcopal centres later developed in them, the term “episcopal-monastic centres” seems most appropriated for the Irish context.
The study of pastoral care in Ireland is a field which continues to require further study and this work is an exciting contribution to the subject. A very interesting argument developed in this seventh chapter is that church sizes cannot be directly associated with the number of people frequenting them, as many factors may have influenced the size of the churches built in the early middle ages. Therefore, little churches may have had a considerable amount of people sharing the space, while bigger churches may have not been filled with people. This means that it is hard to know with certainty the number of dependents of a given church.[6] Therefore, he argues, the amount of small churches built in Ireland may indicate that a larger number of lay people had access to pastoral care than had been thought previously. Because it was believed that only monasteries provided pastoral care, it used to be supposed that the majority of society did not have access to it. However, he argues differently that “because the power structures in Ireland were relatively diffused, a higher proportion of the lay population were entitled to found their own churches”, (p. 226). Consequently, he agrees with recent historians such as Richard Sharpe that, because of this, Ireland may have experienced in the early Middle Ages one of the best structures of pastoral provision in Northern Europe (Blair, J.; Sharpe, R. 1992: 109).
In chapter 8, “Architecture and Politics: Dublin and Glendalough around 1100” (p. 235‒253) he analyses the building of churches in these two sites with Romanesque influences. In this and the following chapter, “Relics and Recluses: Double-vaulted Churches around 1100” (p. 255‒291), he develops a model for the relationship between three phenomenon: architecture, politics and reform. These new style of churches were used to fulfil certain functions, but they were still associated with previous church models discussed throughout the book and also with the past, but with a particular view of this past, as emphasized in his epilogue “social memory is as much about forgetting as it is about remembering”, (p. 302). This interpretation of the Irish church architecture as modelled according to a social memory construct based on a reading of the past situates this work within the field of History of Memory, and therefore, very much in tune with a new trend within Cultural History which has been increasingly explored since the 1970s [7].
In general, Churches in Early Medieval Ireland is an impressive work with considerable potential to contribute to understanding the history of the churches built in Ireland during the Middle Ages, to the motivations behind their erection and to their social function. Many important satellite discussions and arguments around these issues were considered en route by the author and these intellectual detours have provided evidence that enabled him to support or disregard some of his central theses. Whether one agrees or disagrees with Ó Carragáin postulations, this book is definitely indispensable reading material for the researcher of early Christian Ireland engaged in the different fields, archaeology, history, history of art [8].
Notas
1. The author has explained that the term pre-Romanesque church is used for churches without Romanesque features, but it does not necessarily mean that all of these churches predate the arrival of the Romanesque in Ireland. After the construction of the first Romanesque church (c. 1080‒1094) preRomanesque churches were still been built for another half century, (p. 8), and the Romanesque buildings were expressions of the Gregorian reform movement, (p. 235).
2. To follow these discussions Ó Carragáin has suggested: Thomas, 1971; Hughes, 1973; Wormald, 1986; Brown, 1999.
3. For the discussions on the conflict of episcopal and monastic models see: Hughes, 1966; 1972; 2008. For the opposition to this view and updated studies on the subject: Sharpe, 1984; Blair e Sharpe, 1992, in particular Sharpe’s article in this work; Etchingham, 1991; 1993; 1994; 2002; Kehnel, 1997: 28‒46; Charles-Edwards, 2000: 241‒281; Blair, 2005: 43-49;73‒78; Foot, 2006: 265‒268.
4. Ó Carragáin did not define what he is undestanding by the term literati but it has been defined by Bart Jaski as: “a term used in a general sense to refer to those men of learning engaged in composing and writing literary matter, without implying that they formed a uniform body”, p. 329.
5. The concept of Romanitas is also not directly defined, but it is understood in the context. He puts it in terms of opposition such as “in the Roman manner” versus “wooden churches” or “in the Irish manner”, affirming that this dichotomy is evident in Bede’s Historia Ecclesiastica, it seems that in Bede’s opinion a Roman style of church was one built with stones, (p.60‒66).
6. He also supported this argumentation in an article published after the completion of his thesis but before its publication in the book format: Ó Carragáin, 2006: 114.
7. For discussions on this field see Innes, 2000: 6
8. I am thankful to Professor Ciaran Sugrue (UCD) for reading a draft of this review and providing me with some corrections and helpful observations. Therefore any inaccuracy is of my own responsibility
Referências
BLAIR, J. The Church in Anglo-Saxon society. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005.
_____; SHARPE, R. (Eds.) Pastoral Care Before the Parish Leicester, London and New York: Leicester University Press, p.298ed. 1992.
BROWN, P. A Ascensão do Cristianismo no Ocidente. Tradução de NOGUEIRA, E. Lisbon: Editorial Presença, 1999. (Construir a Europa). This has originally been published in English: BROWN, P. The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity. Cambridge: Blackwell, 1996. (The Making of Europe).
CHARLES-EDWARDS, T. M. Early Christian Ireland. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
ETCHINGHAM, C. Bishops in the Early Irish Church: A Reassessment. Studia Hibernica, n. 28, p. 35-62, 1994.
_____ Church Organization in Ireland A.D. 650 to 1000. 2nd. ed. Maynooth: Laigin Publications, 2002.
_____ The Early Irish Church: Some Observations on Pastoral Care and Dues. Ériu, v. 42, p. 99-118, 1991.
_____ The Implications of Paruchia. Ériu [S.I.], v. 44, n. A, p. 139-162, 1993.
FOOT, S. Monastic Life in Anglo-Saxon Englan, c. 600‒900. Cambridge: Cambridge University Press 2006.
HUGHES, K. Early Christian Ireland: Introduction to the Sources. The sources of History Limited and Hodder and Stoughton Limited 1972. (The Sources of History: Studies in the Uses of Historical Evidence).
_____ Sanctity and secularity in the early Irish Chruch. In: BAKER, D. (Ed.). Studies in Church History. New York, 1973
. _____ The Church in Early Irish Society. London: Methuen & Co. Ltd, 1966.
_____ The Church in Irish Society, 400‒800. In: Ó CRÓINÍN, D. (Ed.). A New History of Ireland: Prehistoric and Early Ireland. Oxford: Oxford University Press, 2008. Cap.ix. p. 301-330. (A New History of Ireland).
INNES, Mathew “Introduction: Using the Past, Interpreting the Present, Influencing the Future”. In: INNES, M.; HEN, Y. (eds.) The Uses of the Past in the Early Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. p. 1‒8.
JASKI, Bart. “Early Medieval Irish Kingship and the Old Testament.” Early Medieval Europe 7 (1998): 329‒44.
KEHNEL, A. Clonmacnois— the Church and Lands of St. Ciarán: Change and Continuity in an Irish Monastic Foundation (6th to 16th Century). Münster: Lit Verlag, 1997. (Vita Regularis: Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter).
Ó CARRAGÁIN, T. Church Buildings and pastoral care in early medieval Ireland. In: FITZPATRICK, E.; GILLESPIE, R. (Ed.). The Parish in Medieval and Early Modern Ireland. Dublin: Four Court Press, 2006. p. 91‒123.
SHARPE, R. Some problems concerning the organization of the church in early medieval Ireland. Peritia, v. 3, p. 230‒270, 1984.
THOMAS, C. The early Christian archaeology of North Britain. London, 1971.
WORMALD, P. Celtic and Anglo-Saxon kingship: some further thoughts. In: SZARMACH, P. E. (Ed.). Sources of Anglo-Saxon Culture. Kalamazoo, 1986.
.Elaine C. dos S. Pereira Farrell – PhD scholar University College Dublin (UCD). Funded by the Irish Research Council for Humanities and Social Sciences (IRCHSS). Laboratório Interdisciplinar de Teoria da História, Antiguidade e Medievo (LITHAM). Translatio Studii—Núcleo Dimensões do Medievo. E-mail: elainecristineuff@hotmail.com Elaine.pereira-farrell@ucdconnect.ie
Ó CARRAGÁIN, Tomás. Churches in Early Medieval Ireland: Architecture, Ritual and Memory. New Haven and London: Yale University Press, 2010. (Paul Mellon Centre for Studies in British Art Series). Resenha de: FARRELL, Elaine C. dos S. Pereira. Early Irish Churches: form and functions. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.11, n.2, p. 85-90, 2011. Acessar publicação original [DR]
À flor da pedra. Formas tumulares e processos sociais nos cemitérios brasileiros – MOTTA (CP)
MOTTA, Antônio. À flor da pedra. Formas tumulares e processos sociais nos cemitérios brasileiros. Recife, Fundação Joaquim Nabuco, 2009. Resenha de: SÁEZ, Oscar Calavia. À flor da pedra. Formas tumulares e processos sociais nos cemitérios brasileiros. Cadernos Pagu, Campinas, n. 37, Jul./Dez. 2011.
Gosto também dos cemitérios porque são cidades monstruosas, enormemente povoadas. Pensem em quantos mortos não cabem nesse reduzido espaço, em todas as gerações de parisienses alocados ali para sempre, trogloditas estabelecidos definitivamente, encerrados nos seus pequenos panteões, nos seus pequenos buracos cobertos com uma laje ou assinalados com uma cruz, enquanto os vivos ocupam tanto espaço e fazem tanto ruído, os imbecis (Maupassant, 1891).
Guy de Maupassant refletia assim num relato de 1891, Les tombales, de tema entre o erótico e o humorístico, antes de dedicar mais dois longos parágrafos à arte que podia se encontrar nos cemitérios de Paris, “tão interessantes quanto os museus”. A ideia lhe interessava. Num relato anterior – La morte, de 1887 – já tinha expressado, quase com as mesmas palavras, essa densidade, ao mesmo tempo demográfica e semântica, dos cemitérios, que não oferecia dúvidas na sua época, cem anos antes que uma nova moda sepulcral, a dos cemitérios-gramados, os tornasse menos loquazes, embora não menos significativos.
No entanto – falo por experiência própria –, pesquisar um cemitério costuma ser visto como uma ideia pitoresca ou extravagante, muito mais do que pesquisar um mercado ou um boteco, mesmo que seja precisamente no cemitério onde as declarações e as reticências sejam mais expressivas. É isso que confere valor ao livro de Antonio Motta, ao mesmo tempo em que define as suas fraquezas.
À flor da Pedra é um livro primorosamente editado e agradavelmente escrito, que pinça na literatura e na arte ocidentais – com referências em nota a outras tradições – panoramas da relação entre o sujeito, a morte, a memória e os modos de dar sustento a ela nesses conjuntos monumentais que são os cemitérios. Detém-se especialmente na criação dos cemitérios como espaços de memória independentes da Igreja, aptos para dar cabida ao privatismo decimonónico; mostra como se desenvolveu neles o jazigo familiar, que dava eternidade à família burguesa, e como, mais tarde, esse doce lar tumular deixou passo a uma sepultura mais personalista, centrada nos casais ou nos indivíduos. Relata como as façanhas do trabalho, do comércio e da filantropia encontraram seu espaço de glória nas comemorações estatuárias, e tudo isso tratando dos cemitérios brasileiros, embora com referências constantes a outras necrópoles famosas, especialmente francesas e italianas. O livro oferece um interessante catálogo (que nunca poderia ser exaustivo) de sepulcros brasileiros especialmente expressivos, recolhendo a tradição de um velho estudo de Clarival do Prado Valadares, que atendia a esse setor habitualmente esquecido da arte nacional, e também desencava alguns interessantes debates públicos sobre as polêmicas higienistas, a democratização do direito a uma sepultura pessoal e as mutáveis condições de classe dos cemitérios.
Tudo isso outorga interesse a esse livro, que, no mínimo, esclarece que para saber algo sobre o Brasil – ou sobre qualquer outro lugar – não se deveria deixar de consultar os seus mortos.
A fraqueza do livro se encontra também muito perto desse mérito. Afinal, os cemitérios falam muito, de modo que para não se perder na sua conversa, sempre um tanto convencional, seria conveniente centrar-se em algum dos seus ditos, ou buscar um outro lado do discurso. Sem dúvida os cemitérios falam, como diz o livro, do indivíduo, dando uma das melhores expressões possíveis a uma cosmologia individualista que no século XIX foi substituindo à da Igreja – ou que, para ser exato, foi se impondo à mesma Igreja. Mas vale a pena lembrar que toda essa exaltação decimonónica do morto individual pouco mais fez do que estendê-la à camada superior do Terceiro Estado, já que o monumento funeral consagrado à gloria mundana do defunto já ocupava antes os interiores dos templos, em benefício da nobreza e do alto clero. O enterramento em terrenos exclusivamente dedicados a esse fim foi, sim, um feito da secularização e de um primeiro higienismo, mas de outra parte apenas restabeleceu uma tradição clássica que o cristianismo – uma das raras religiões que chegaram a aglutinar templo e sepultura – tinha interrompido. Não é nenhuma surpresa que a exaltação burguesa da família, com sua ênfase patriarcal, tenha um palco no cemitério, nem que a nuclearização dos lares e o encolhimento consequente das residências dos vivos tenham se manifestado igualmente nas últimas moradias. Afinal, o cemitério faz muito por se parecer à cidade: é desenhado de acordo com as mesmas ideologias e as mesmas teorias urbanísticas. Com a diferença de que os mortos ocupam menos espaço e são muito menos irrequietos que os vivos, e assim se sujeitam melhor ao planejamento. São dispostos, quase sem resistência, de acordo com o modelo. Justo por isso, descobrir no cemitério os modelos sociais em vigor tem algo de tautologia. E, pela mesma razão, o mais interessante que pode se encontrar nos cemitérios é aquilo que aparentemente se desvia do modelo. À flor da pedra trata dessas divergências em alguns momentos, por exemplo, quando trata do erotismo: seja qual for o grau da repressão ou da tolerância de uma sociedade, um cemitério é um dos últimos lugares em que se esperam manifestações desse tipo. E, contra essa expectativa, elas não são raras. Dois exemplos encontrados no cemitério de S. João Batista, no Rio de Janeiro, servem ao autor para sugeri-lo. Em ambos trata-se de uma relação entre esposos; mas há também essas imagens de mulher fatal, ou anjo feminino, ou belle dame sans merci, que proliferam nos cemitérios, sobre as quais não se diz nada para além de constatar sua presença intrigante. Elas tinham passagem franca na literatura da época; mas como chegaram a ser incluídas com tanta frequência num contexto habitualmente mais devoto como o dos cemitérios? Decerto, haveria outras variedades desse erotismo: efebos ou crianças apenas púberes, de mármore ou bronze, saltitando sobre os túmulos sem mais roupas que as da alegoria. Bastaria lembrar as estátuas jacentes dos Valois nos túmulos de Saint-Denis para lembrar que a contaminação mútua de erotismo e morte vem de longe, e que, curiosamente, só os cemitérios preservam algo dessa relação que o Ocidente erradicou de todo o resto dos fastos funerais.
Ou será que o erotismo surge como uma última manifestação de rebeldia? Falta no livro – se é que não falta nos cemitérios brasileiros – essa dimensão do túmulo como manifestação de heterodoxia, tão frequente pelo mundo afora.
Merece destaque no livro um detalhe a respeito da representação plástica do luto. Uma digressão prévia: é curioso observar como os estudos antropológicos sobre rituais funerais, sabendo que sua competência se exerce principalmente sobre as expressões formais de dor, assumem que haverá sempre uma outra dor, dimensão pungente e íntima, que o frio idioma da ciência não conseguirá expressar. E, no entanto, olhando com cuidado para algum desses mesmos monumentos do luto retratados em À flor da pedra, é difícil não pensar no íntimo alívio, para dizer pouco, que muitos terão experimentado ao encerrar suas relações sob pesadas inscrições de desolação; não são só as expressões obrigatórias dos sentimentos que variam, os sentimentos em si pouco têm de previsível, e é interessante observar o critério de seleção que a eles se aplica nos cemitérios. No livro ilustra-se uma exceção: a imagem de bronze de um homem com seu filho olhando melancolicamente um pão sobre uma mesa, junto à qual se vê uma cadeira vazia. Esse caso raro faz destacar por contraste uma distribuição de gênero muito diferente: são quase sem exceção estátuas femininas as que se ocupam de chorar permanentemente nos túmulos. Retratos de esposas ou filhas, ou mulheres genéricas (ou alegorias femininas da Humanidade ou a Pátria), choram no túmulo do esposo, do pai ou do Grande Homem. Quando uma mulher é a protagonista da sepultura, são crianças as que se ocupam de chorá-la. Mulher chora sempre, homem nunca, mesmo quando nada garante que ele tenha morrido antes – muitas vezes os túmulos eram encomendados com muita antecedência. Curiosamente, como o livro indica, acontece o contrário num daqueles expoentes do erotismo funeral, em que o homem nu que se inclina sobre uma mulher jacente comemora, ao que parece, um esposo que faleceu antes que a sua viúva, quem ideou o conjunto.
Definitivamente, o silêncio do túmulo é só aparente: na verdade ele fala tanto que diz o que quer e até o que não quer. À flor da pedra recolhe muito do primeiro; do segundo, um pouco menos do que caberia esperar.
Oscar Calavia Sáez – Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Universidade Federal de Santa Catarina, E-mail: occs@uol.com.br.
[MLPDB]
A natureza dos rios: história, memória e territórios | Gilmar Arruda
O livro organizado por Gilmar Arruda figura entre os mais recentes estudos sobre as relações entre história, espaço e natureza ao examinar as interações entre as sociedades e o meio ambiente. O livro procura mostrar que os rios também fazem parte da natureza e, portanto, devem ser objeto para os pesquisadores que colocam em pauta as questões ambientais, entre outras. Desse modo, A natureza dos rios: história, memória e territórios, reúne textos de historiadores, sociólogos e antropólogos que exploram algumas possibilidades de estudos sobre os rios.
A coletânea é composta por uma apresentação feita pelo organizador e por mais oito textos que discutem como as concepções e as ações humanas sobre as águas dos rios conseguiram transformar o território, a memória e a história. Os conflitos e as disputas pelo domínio do espaço natural, os impactos da modernização tecnológica, o contato com as populações ribeirinhas, as formas de utilização e alteração das águas são alguns dos temas presentes no livro e que nos ajudam a desvendar a “natureza dos rios” e seus significados ao longo desses processos. Ao abordar tais temas, os autores utilizaram relatórios de expedições, correspondências de engenheiros e autoridades políticas, mapas e obras publicadas no final do séc. XIX e início do séc. XX. Tais fontes são importantíssimas ao revelar como é possível entender melhor a relação entre história e natureza, sociedades e meio ambiente, tendo os rios como foco central. Leia Mais
Poemas da recordação e outros movimentos – EVARISTO (REF)
EVARISTO, Conceição. Poemas da recordação e outros movimentos. Belo Horizonte: Nandyala, 2008. 72 p. (Coleção Vozes da Diáspora Negra, v. I). Resenha de: ALÓS, Anselmo Peres. O lirismo dissonante de uma afro-brasileira. Revista Estudos Feministas v.19 n.1 Florianópolis Jan./Apr. 2011.
A estreia de Conceição Evaristo nas letras brasileiras foi relativamente tardia, remontando aos inícios dos anos 1990, quando começa a colaborar em periódicos literários. Um dos principais meios nos quais Evaristo publica é a série Cadernos Negros, fundada pelo grupo Quilombhoje Literatura, coletivo de escritores fundado em 1980 com o objetivo de discutir e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura, incentivar o hábito da leitura e promover estudos, pesquisas e diagnósticos sobre literatura e cultura negra. Em 2003, a escritora publica o seu primeiro livro individual, Ponciá Vicêncio, romance que logo chamou a atenção da crítica, particularmente pela maneira com que a autora articula a reflexão sobre questões de gênero, raça e classe social. Três anos depois, Evaristo publica Becos da memória. Ainda que, em termos de publicação, este seja o segundo romance de Evaristo, a escrita dessa narrativa remonta à década de 1980. Tal como a própria escritora assinala, o livro se encontrava pronto desde 1988, mas acabou ficando no fundo da gaveta, adormecido. Chegou-se a cogitar uma publicação através da Fundação Cultural Palmares, ainda em 1988, mas “o livro já havia se acostumado ao abandono. E só agora, quase 20 anos depois de escrito, acontece sua publicação”.1
Em seu mais recente livro, Poemas da recordação e outros movimentos (2008), aparecem os motivos da diáspora negra, da autoria feminina e da construção da identidade negra como temas recorrentes. Em seu exercício de expressão, o lirismo dos poemas de Evaristo trabalha explicitamente no sentido de instaurar uma retórica da resistência, dando especial atenção ao desmantelamento dos estereótipos em torno do negro e da mulher (e mais especificamente, da mulher negra) no imaginário brasileiro. Tal como já afirmou Eduardo de Assis Duarte, as constantes temáticas da obra de Conceição Evaristo a inserem em um continuum de autores afrodescendentes, para os quais as questões étnico-raciais não são apenas um aspecto da realidade brasileira a ser incorporado em sua escrita, mas uma experiência constitutiva de suas subjetividades, signo indelével da diferença corporificado por tais autores: Leia Mais
Recuperando la memoria: afrodescendientes en la frontera uruguayo brasileña a mediados del siglo XX – CHAGAS; STALLA (HU)
CHAGAS, K.; STALLA, N. Recuperando la memoria: afrodescendientes en la frontera uruguayo brasileña a mediados del siglo XX. Montevideo, Mastergraf, 2009; 122 p. Resenha de: LONER, Beatriz Ana; GILL, Lorena Almeida. Novos elementos para se pensar a história dos afro-descendentes no Uruguai. História Unisinos v. 15 n. 1 – janeiro/abril de 2011.
As autoras Karla Chagas e Natalia Stalla, mais conhecidas no Brasil por seus trabalhos sobre a escravidão no Uruguai, lançaram, ano passado, um livro tratando sobre as condições de vida dos afro-descendentes que habitam preferencialmente os departamentos de Artigas, Cerro Largo e Tacuarembó, regiões que abrigam mais de 20% do total da população que se identifica como negra naquele país.
Chagas e Stalla justificam seu trabalho em virtude da pouca produção historiográfica sobre o assunto, especialmente para o período do pós-abolição e ao longo do século XX. As autoras remontam a história e a política uruguaia de meados do século XX, que auxiliou a desenvolver um imaginário hegemônico, o qual insistia na afirmação da população daquele país como majoritariamente branca, relegando os afro-descendentes à situação de invisibilidade e perpetuando sua discriminação social.
A pesquisa baseou-se principalmente na história oral, naquilo que Joutard (2000, p. 33) chamou de sua inspiração inicial, ou seja: “ouvir a voz dos excluídos e dos esquecidos; trazer à luz realidades ‘indescritíveis’, quer dizer aquela que a escrita não consegue transmitir; testemunhar as situações de extremo abandono”.
O texto foi construído, portanto, a partir de “palavras e imagens”. As palavras foram ditas por sete homens e treze mulheres, com idades entre 49 e 103 anos, cujas entrevistas foram realizadas entre outubro de 2008 e abril de 2009.
Já as imagens, fontes fotográficas em sua essência, foram inseridas a partir dos arquivos pessoais dos depoentes e também por meio da pesquisa na imprensa negra, como os jornais Acción e Orientación, de Melo, Democracia e Rumbos, de Rocha, e Nuestra Raza, Revista Uruguay e Rumbo Cierto, de Montevidéu.
O livro, que foi subvencionado por fundos concursais do Ministério da Educação e Cultura do Uruguai, é interessante para todos os historiadores, especialmente para aqueles que se dedicam a temáticas como afrodescendentes, história oral e fronteiras. Em sua Introdução, as autoras discutem como se deu a construção dos testemunhos orais; o uso das fontes fotográficas, além de informarem sobre alguns dados que conformam a história do Uruguai no século XX e a tentativa, realizada pelas autoras e alguns poucos historiadores, de alterar os rumos historiográficos uruguaios, inserindo a pesquisa e as contribuições dos negros daquele país na história nacional.
Tentativas como essas têm a maior importância, porque, especialmente no sul gaúcho, a fronteira com o Uruguai sempre foi móvel e dinâmica, culturalmente integrada, o que leva ao fato de que inúmeras constatações lá realizadas terem sua contrapartida aqui no Brasil, praticamente da mesma forma, como se verá a seguir.
O primeiro capítulo, “Las condiciones de vida de las famílias afrouruguaias”, debate as estruturas familiares, revelando uma população afro-uruguaia atualmente entre 5 e 10% do percentual total. Boa parte dos afro-descendentes concentra-se ao redor das fronteiras, especialmente com o Brasil. Muitos deles, inclusive, têm origens ou parentes ainda neste país. As autoras constataram, também, certa quantidade de uniões inter-raciais, especialmente na região da fronteira.
Como fazem parte da parcela mais pobre da população, são comuns famílias chefiadas por mulheres, já que, na maior parte das vezes, são os homens que partem, em busca de novas oportunidades profissionais. Além disso, os afro-uruguaios, pelas suas precárias condições de subsistência, costumavam viver em zonas periféricas das cidades e tiveram que se utilizar, de forma mais ou menos constante, da entrega de seus filhos a outras pessoas, que, em troca de cuidado, alimentação e escola, exigiam o exercício de trabalhos domésticos.
No segundo capítulo, “Oportunidades educativas: escuela, liceo y universidad del trabajo”, as autoras relatam que a maioria dos entrevistados esteve na escola, ainda que somente por alguns anos, até mesmo porque o movimento negro uruguaio, já desde 1947, através da revista Uruguay, entendia que apenas com a educação os negros poderiam se emancipar. Se o ensino fundamental era mais acessível, entretanto, o mesmo não acontecia com o secundário, até porque muitos necessitavam trabalhar para auxiliar sua família. Quanto à discriminação, alguns depoentes afirmaram que existia, ou através dos mestres ou dos colegas, em momentos pontuais.
O terceiro capítulo, “El trabajo en la frontera”, disserta sobre as relações fluidas que se estabelecem em regiões imbricadas entre dois países, fazendo com que tanto pessoas, quanto bens, circulem com regularidade e sem limitações. No que diz respeito ao trabalho, no meio urbano os homens dedicam-se preferencialmente à construção e aos serviços; na zona rural são peões, capatazes, safristas. As mulheres, em sua maioria, realizam tarefas que reproduzem a esfera do lar, ou seja, vinculam-se ao cuidado, como domésticas, lavadeiras, babás __ frequentemente, profissões que não permitem uma ascensão social e estão aquém das oportunidades educacionais que estes sujeitos tiveram em sua trajetória. Entre as entrevistadas, apenas uma (Adelma) contou ter conseguido emprego em um frigorífico em Tacuarembó, o que, segundo as autoras, foi uma trajetória incomum entre a população afro, fato ratificado por suas entrevistadas. Outra que fugiu ao padrão imposto foi Adélia, que conseguiu se formar como professora, mas foi discriminada em Montevidéu, tanto pela direção de uma escola quanto pelos pais em outra, tendo que voltar para sua cidade natal, Artigas. Seu caso, entretanto, teve repercussão, pois a denúncia foi levada até o XXXIV Congreso Federal de Educadores, sendo realizada, posteriormente, sindicância pública. Entretanto, cumpre notar que Adélia, por si mesma, não teria protestado. A denúncia partiu de seus colegas educadores de Montevidéu, pois sustentava que “salvo esta vez, a ella nunca le habian cerrado laspuertas” (Chagas e Stalla, 2009, p. 78).
O último capítulo, “Espacios ‘propios’ y ‘ajenos’: diversión, recreación y bailes”, baseia-se mais fortemente na pesquisa documental em jornais e enfatiza o espaço do lazer na vida cotidiana. Chagas e Stalla afirmam que “salir a pasear por el centro” era, muitas vezes, a atividade mais frequente entre a população com poucos recursos financeiros. Faziam também “picnics”, realizados em parques; o cinema, cujos filmes vinham, sobretudo, dos Estados Unidos, França e Itália, possibilitavam que as pessoas se encontrassem nas famosas “matinée y vermouth” (esta última à noite), e os carnavais, que, no Uruguai, ocupavam diferentes bairros tanto da capital quanto de cidades do interior, promoviam diversão. Havia uma série de atividades carnavalescas, normalmente iniciada pelos desfiles inaugurais ou corsos, com intensa troca de serpentinas. Depois aconteciam bailes, atuação de conjuntos musicais ou teatrais (murga) e os concursos de tablado. Na região próxima à fronteira com o Brasil, tanto a música quanto o carnaval sofriam infl uência do país vizinho, bem como de suas formas de “pular o carnaval”.
Um espaço importante de sociabilidade foi obtido em clubes sociais destinados apenas aos negros, uma vez que não tinham acesso a muitas das associações que recebiam a população branca. Possuíam o clube Ansina, em Tacuarembó; Renato Marán, Gordillo e Centro Uruguai, em Cerro Largo; Centro Uruguay, em Melo. As associações funcionavam com o pagamento de cotas dos sócios, além da arrecadação obtida em bailes e outras promoções culturais, que não eram muitas, segundo os entrevistados.
Pela forma de tratamento dada ao texto, cada uma dessas assertivas é corroborada com seu enquadramento dentro da situação geral do Uruguai, o que fornece uma boa contextualização da situação política e social uruguaia das décadas de 1940 e 1950 e auxilia o entendimento dos graus de preconceito existentes naquele país, bem como das contradições e limites de políticas governamentais que, até aquele momento, não se preocupavam com a discriminação racial.
Alguns pontos poderiam ter sido mais aprofundados, principalmente no que tange à parte teórico-metodológica, na qual faltou maior debate sobre, por exemplo, a memória e o conceito de testemunho. Neste sentido, o próprio título remete à memória como algo dado e não como uma construção, absolutamente relacionada ao tempo presente. Sente-se falta também de certa caracterização da imprensa negra, que poderia servir como uma espécie de guia ao leitor, todavia, não podemos esquecer que se trata de síntese, conforme a apresentação.
Por outro lado, seu conteúdo é extremamente interessante, pois permite visualizar realidades próximas de um e de outro lado da fronteira, como a questão da exploração, pelas famílias brancas, dos “filhos de criação”, de que temos muitos testemunhos na região sul (Vecchia, 1994); a formação de clubes sociais exclusivos para negros, como forma de escapar à discriminação e reunir-se entre iguais, também muito encontrados no Rio Grande do Sul (Loner e Gill, 2009), e os tipos de empregos oportunizados às chamadas “pessoas de cor” naqueles anos, de ambos os lados da fronteira, os quais são bem similares, embora os afro-descendentes uruguaios tivessem maiores possibilidades educacionais que os afro-brasileiros, especialmente na primeira metade do século XX, comprovando que a discriminação e o preconceito racial, muito mais do que a educação, tiveram um papel extremamente condicionador na vida destes sujeitos.
Referências
VECCHIA, A.M. 1994. Vozes do silêncio. Pelotas, Editora e Gráfica Universitária/UFPel, vol. 2, 296 p.
JOUTARD, P. 2000. Desafios à história oral do século XXI. In: M.
FERREIRA (org.), História oral: desafios para o século XXI. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz/Casa de Oswaldo Cruz/ CPDOC – Fundação Getúlio Vargas, p. 31-46.
LONER, B.A.; GILL, L.A. 2009. Clubes carnavalescos negros na cidade de Pelotas. Estudos Ibero-Americanos, 35:145-162.
Beatriz Ana Loner – Universidade Federal de Pelotas Instituto de Ciências Humanas Departamento de História e Filosofia Rua Alberto Rosa, 154, Caixa Postal: 354 96010-770, Pelotas, RS, Brasil.
Lorena Almeida Gill – Universidade Federal de Pelotas Instituto de Ciências Humanas Departamento de História e Antropologia. Rua Alberto Rosa, 154, Caixa Postal: 354 96010-770, Pelotas, RS, Brasil.
Transparências da memória/estórias de opressão: diálogos com a poesia brasileira contemporânea de autoria feminina – SOARES (CP)
SOARES, Angélica. Transparências da memória/estórias de opressão: diálogos com a poesia brasileira contemporânea de autoria feminina. Florianópolis: Editora Mulheres, 2009. Resenha de: BRITTO, Clovis Carvalho. Mulheres e memória poética: opressão à flor da letra?. Cadernos Pagu, Campinas, n. 35, Dez. 2010.
A árvore da literatura de autoria feminina lança-nos mais um fruto: o recente livro de Angélica Soares sabiamente intitulado Transparências da memória/estórias de opressão: diálogos com a poesia brasileira contemporânea de autoria feminina. Fruto cujo sabor vem sendo experimentado reiteradas vezes pelo trabalho crítico e sensível da pesquisadora que já apresentou análises inspiradoras a exemplo das inauguradas em A paixão emancipatória: vozes femininas da liberação do erotismo na poesia brasileira (1999). Nas frestas entre lembranças e esquecimentos, a autora realiza uma ação duplamente significativa: sublinha o valor de punhos líricos femininos na literatura brasileira e, ao mesmo tempo, se destaca como uma legítima representante desse ofício na atividade crítica. Questão relevante quando relembramos que as mulheres por muito tempo (e porque não dizer ainda hoje) tiveram suas vozes embargadas no campo literário, enfrentando trajetórias de opressão ao ousarem modificar o silêncio ou os exíguos espaços que lhes eram destinados.
Vivenciando variadas formas de sujeição e dependência devido ao quadro implacável de assimetria nas relações entre os sexos, as mulheres, aos poucos, têm lutado pelo reconhecimento como protagonistas na cena intelectual brasileira. Uma atualização das dificuldades narradas por Virgínia Woolf quando relatou a luta que instituíram pelo acesso a voz no cenário literário inglês em Um teto todo seu (2004) e/ou um esforço para problematizar as muitas “zonas mudas” relacionadas à partilha desigual dos traços, da memória e da história, conforme os indícios demonstrados por Michelle Perrot em As mulheres ou os silêncios da história (2005). Nesse sentido, para além de relatar a opressão das mulheres poetas no campo literário brasileiro, Angélica desenvolve um esboço teórico-metodológico para identificar como tais estórias de opressão foram ficcionalizadas. Se não bastasse essa instigante co-relação entre mulher e memória, a pesquisadora fortalece a tradição crítica iniciada tardiamente entre nós por Lúcia Miguel Pereira, galgando espaços para que tanto as mulheres poetas quanto as críticas literárias adquiram visibilidade e reconhecimento na vida literária brasileira. Para tanto, destaca, de antemão, a opção epistemológica por não somente apontar a diferença das mulheres, mas atentar para a diferença nas mulheres.
Analisando a memória literária de diferentes mulheres, nos convida a observar indícios da opressão vivenciada historicamente no cotidiano feminino. Em uma espécie de arqueologia da escritura memorialística, a autora revela os modos como as poetas transparecem os efeitos da dominação masculina: do inconsciente reprimido à instituição de uma fala marcadamente provocadora, do agir mimeticamente ao homem à busca de uma atuação singular, entre exílios e máscaras à instituição de um lugar de fala e de uma fala própria. Examinando um caleidoscópio de vozes polifônicas, a partir do processo da reelaboração da memória, demonstra como a poesia contribui para materializar memórias desterritorializadas. A proposta dialoga com a metodologia de Kátia Bezerra, outra analista da lírica de autoria feminina e sua relação com a memória, especialmente quando compreende o ato de revisitar o passado como subversivo:
transmuta-se numa ferramenta crucial para compreender e denunciar os vários componentes que estruturam e oprimem a sociedade. Intenciona-se, assim, considerar a forma como esse projeto de escrita interroga o passado (Bezerra, 2007:13),
para melhor compreender as relações de força que se insinuam no presente.
Nessa linha de força ou relativamente recente tradição de pesquisa, se inserem os trabalhos de Angélica Soares. Na tensão entre lembrar e esquecer, reúnem reflexões sobre memória, memorialismo poético e questões de gênero, ressaltando diferentes instâncias e formas de opressão feminina poematizadas como escritas do eu que ao mimetizarem
estórias (individualizadas), acabam por remeter, metonimicamente, a histórias (coletivas), pela recriação lírico-dramático-narrativa de fatos verificáveis em documentos e trabalhos de pesquisas sociológicas (Soares, 2009:14).
Embora reconheça que a poesia de autoria de mulheres também registra situações e experiências de vida bem sucedidas, optou por destacar aspectos que demonstrem a mulher como objeto de domínio físico ou simbólico, visto que dialogariam com situações recorrentes na vida das mulheres em sua condição histórica de duplamente colonizada: pelo sistema social de sexo-gênero e por sofrer a colonização decorrente de uma visão dualista e oposicional na qual a mulher representa o pólo negativo.
O gênero se torna uma importante categoria analítica para a crítica literária e, nas palavras da autora, as estórias de opressão recriadas na poesia demonstram que, para além das diferenças de classe, etnia e orientação sexual, as mulheres compartilham uma situação opressiva variável. Pelas transparências da memória apresenta-nos as relações entre constituição da identidade e memória, movimentos de desconstrução das oposições binárias, procedimentos coercitivos e figurações relacionadas a resistências e clausuras, culminando na análise das opressões comumente vivenciadas nas trajetórias femininas: da solidão infantil às representações do envelhecer. Acertadamente a pesquisadora dialoga com Pierre Bourdieu (2005) ao examinar como a memória poética entrevê e explicita a dominação masculina, especialmente quando destaca mecanismos com vistas à integração, embora em espaços limitados ou pautados por rígidos controles. Mecanismos muitas vezes “perturbadores”, a exemplo do erotismo na escrita feminina que aciona nuanças políticas ao deslocar as mulheres da condição de meros objetos para uma posição de enunciadoras do desejo.
A primeira estação do itinerário analítico contempla poetas cujas obras emanam aberturas à metamemória, ou em outras palavras, autoras cujos projetos criadores demonstram acentuada preocupação com o conhecimento sobre os processos e monitoramento da memória, além de sentimentos e emoções relacionadas com o lembrar/esquecer. Nesse primeiro bloco, investiga as poéticas de Cecília Meireles, Adélia Prado, Marly de Oliveira, Helena Parente Cunha, Astrid Cabral, Arriete Vilela e Renata Pallottini, autoras de diferentes faixas etárias, regiões e condições sociais. A memória ao conduzir reflexões sobre sua própria dinâmica demarcaria as obras de acordo com especificidades. Cecília e a constituição de uma “encenação do esquecimento”; Adélia e o fugidio modo de experienciação; Marly e a impossibilidade de recuperar o passado exatamente como foi vivenciado; Helena e sua memória circular; Astrid e a mobilidade temporal da recordação; Arriete e os dinamismos míticos; Renata e a indissociabilidade entre tempo e espaço. Ao inventariar alguns versos desse conjunto heterogêneo e ao investigar aspectos da poesia memorialística contemporânea empreendida por mulheres, Angélica Soares se une a essas vozes, e sua obra, assim como as analisadas, se torna, ela própria, metamemória. Mas de que memórias essas mulheres falam, ou melhor, que memórias a pesquisadora selecionou da seleção empreendida pelas poetas? Resposta explicitada inicialmente no título da obra: estórias de opressão.
De posse dessas informações encaminha o leitor para uma segunda vereda relacionada a questões ideológicas de gênero e a consciência poética da exclusão histórica das mulheres. Subsidiada pelas reflexões de Teresa de Lauretis (1994), especialmente na concepção de que o pessoal é político, reafirma a importância de se pensar a diferença de mulheres e não só o diferente de Mulher. Denunciando as tecnologias de gênero e os discursos institucionais como responsáveis pelo campo de significação social, torna a categoria gênero como fundamental para a análise dos textos literários que, a partir de enfoques feministas, possibilitaria compreender as recriações de mulheres, oprimidas de incalculáveis maneiras em virtude da ideologia patriarcal. Essa leitura se aproxima de Michelle Perrot quando concebeu ser a memória, assim como a existência de que é prolongamento, profundamente sexuada. Seguindo essas considerações, Angélica Soares examina como a temática da opressão feminina comparece nos versos de Adélia Prado, Sílvia Jacintho e Astrid Cabral, espécie de cartão de visitas para um posterior aprofundamento na relação gênero, identidade e memória. Nessa ordem de ideias, destaca como emerge constantemente no memorialismo literário de autoria feminina um processo alienante, “falocêntrico”, a partir da identificação de bloqueios e limites ao autoconhecimento. Comprovando esse argumento rastreia exemplos desse processo em algumas imagens tecidas nos versos de Helena Parente Cunha, Myriam Fraga, Lara de Lemos, Marly de Oliveira, Lya Luft e Hilda Hilst. Contradições integrantes da constituição de identidade pelas mulheres, metaforizadas no jogo entre o fluido e o consistente, a fuga e o encontro consigo mesmas.
Se a dominação masculina acompanha historicamente a trajetória das mulheres e se a categoria gênero auxilia a visualização dessa opressão nas memórias líricas femininas, nada mais coerente do que encerrar o livro analisando o modo como as autoras poetizam as duas pontas da vida: a infância e a velhice. Não por acaso, os capítulos finais são dedicados a examinar poemas relativos à reconstrução da solidão infantil e às representações do envelhecer. A memória como testemunho cultural da opressão na infância, a partir das imagens criadas por Marly de Oliveira, Lya Luft e Neide Arcanjo, e como testemunho da opressão na velhice, nas obras de Adélia Prado, Diva Cunha, Alice Ruiz e Renata Pallottini.
O conteúdo das imagens selecionadas como corpus da obra é um convite para o reconhecimento da importância e para a leitura da poesia de autoria feminina contemporânea desenvolvida no Brasil. Do mesmo modo, o arcabouço teórico-metodológico criado por Angélica Soares é um estímulo a todos os pesquisadores que desejem compreender as implicações entre gênero, identidade, memória e opressão, com vistas a “avaliar, pela força do literário, as contradições e os avanços no percurso emancipatório feminino” (Soares, 2009:17). Itinerários de opressão muitas vezes silenciados e que as autoras, sentindo-os à flor da pele, transpareceram à flor da letra.
Referências
Bezerra, Kátia da Costa. Vozes em dissonância: mulheres, memória e nação. Florianópolis, Editora Mulheres, 2007. [ Links ]
Bourdieu, Pierre. A dominação masculina. 4ªed. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2005. [ Links ]
De Lauretis, Teresa. As tecnologias do gênero. In: Hollanda, Heloísa Buarque de. (org.) Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro, Rocco, 1994. [ Links ]
Perrot, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Bauru-SP, EDUSC, 2005. [ Links ]
Soares, Angélica. A paixão emancipatória: vozes femininas da libertação do erotismo na poesia brasileira. Rio de Janeiro, DIFEL, 1999. [ Links ]
Woolf, Virgínia. Um teto todo seu. 2ªed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2004. [ Links ]
Clovis Carvalho Britto – Doutorando em Sociologia pela Universidade de Brasília. E-mail: clovisbritto5@hotmail.com.
[MLPDB]
Antropólogas, politólogas y sociólogas (género, biografia y cc. sociales) – LEÓN; FÍGARES (REF)
LEÓN, María Antonia García de; FÍGARES, María Dolores Fernández. Antropólogas, politólogas y sociólogas (género, biografia y cc. sociales). Madrid (España): Plaza y Valdés S. L., 2008. 256 p. Resenha de PAULILO, Maria Ignez. Feminismo e disputas pela memória na Espanha. Revista Estudos Feministas v.18 n.3 Florianópolis Sept./Dec. 2010.
As últimas décadas do século XX colocaram em pauta o instante, o presente em contraposição ao “império do passado”. Contudo, as mesmas décadas que evidenciaram a dissolução do passado e sua celebração também trouxeram com força a expansão memorialística, com suas museificações e institucionalização de passados-espetáculos,1 e, no campo das relações sociais, as disputas pelas memórias. O passado e seus usos, bem como a construção dos acontecimentos e a institucionalização de algumas memórias em detrimento de outras passaram a ser importantes para diferentes grupos. Sobre isso Pierre Nora já chamava a atenção em 1978, dando conta de que o esfacelamento, a mundialização, o aceleramento e sua democratização, chaves para o entendimento do “breve século XX”, multiplicaram as memórias coletivas, os grupos sociais preocupados em preservar ou recuperar seus próprios passados.2 Essa preocupação com o passado, com a construção de uma memória para as mulheres feministas espanholas, parece ser o eixo central por onde se distribuem as questões e as discussões do livro Antropólogas, politólogas y sociólogas (género, biografia y cc. sociales), das autoras espanholas María Antonia García de León e María Dolores Fernández Fígares.
E esse, a nosso ver, constitui um dos principais motivos para apresentarmos esta obra às feministas brasileiras (e também aos feministas, convém não esquecer). É que esse tipo de preocupação não é comum no Brasil, ou seja, ver a importância heurística que tem a biografia das estudiosas feministas para compreendermos sua própria obra e o contexto em que foi escrita. Mas há uma importância mais primária: fazê-las aparecer como protagonistas na história da humanidade, pois, se dependêssemos da história e da imprensa oficiais, elas seriam esquecidas. Como diz Marina Subirats, autora do prólogo,3 poder e memória são inseparáveis e sem poder não se pode criar e legitimar um novo relato, uma nova maneira de ver a posição das mulheres no mundo. E sem memória fica difícil cumprir uma das principais etapas do pensamento científico crítico “a reflexividade”, à qual as autoras dão grande importância na medida em que sentem falta, na Espanha, de mentores que façam esse trabalho de apreciação, avaliação e ancoragem do conhecimento que está sendo produzido. Leia Mais