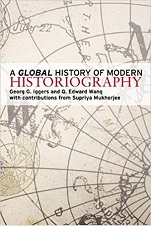Posts com a Tag ‘MALERBA Jurandir (Res)’
Visões da Monarquia. Escravos, operários e Abolicionismo na Corte | Ronaldo Pereira de Jesus
Os estudos sobre a sociedade imperial do Brasil baseados em critérios de estratificação social de classe, desde sempre, é fato, ressoavam as concepções de mundo das classes dirigentes ou “dominantes”, ou “superiores”. Tal se dava seja porque se enaltecia, num primeiro momento, a “obra virtuosa” de edificação da Nação-Estado monárquica levado a cabo por sua diligente elite política; seja, depois, devido à análise crítica do papel dessas mesmas elites imperiais e sua obra: 1) a edificação do aparato jurídico do Estado pelos homens de letra e lei imperiais, consubstanciada em seus diplomas magnos que são a Constituição de 1824, o Código Criminal de 1830, o do Processo Criminal de 1832 e o Código Comercial de 1850; 2) a construção de uma identidade nacional, costurada em ponto-cruz pelos artistas, com grande peso dos escritores, sob a luz romântica do século (aqui, de nosso romantismo indianista); e, 3) a direção política da máquina governamental, em particular durante o segundo reinado, sob a tutela da indefectível mão paternal do summa potestas imperial.
Pelo menos desde os anos 1980, porém, sob influência da recepção das diversas matrizes do que se batizou de history from Below ou history from the bottom up, em particular da história social britânica de E. P. Thompson e Eric Hobsbawm mas igualmente de outras vertentes da história cultural que têm as camadas populares como sujeitos privilegiados de análise, como a micro- história italiana, os historiadores brasileiros procuraram expandir os horizontes das concepções ou visões de mundo constitutivas dessa heterogênea sociedade brasileira do século XIX, um mosaico complexo e que se torna complexo devido à sobreposição de critérios de identidade dos indivíduos, que misturam elementos de caráter jurídico (escravos, forros, livres), de caráter político (baseada em padrões censitários como cidadãos ativos, não-ativos e não-cidadãos), de estratificação social de classe (escravos, senhores, trabalhadores livres), de estratificação social de ordem (religiosos, militares aristocratas, trabalhadores), e, como ainda acontece no Brasil errante de hoje, critérios de identidade étnica (pretos, brancos, índios, pardos (?)). Em verdade, essa historiografia renovadora que surgiu nos anos 1980 foi mais bem sucedida quando identificou seus sujeitos (não ousaria dizer aqui “objetos”) de estudo a partir de critérios de estratificação de classe, nomeadamente os escravos no século XIX. Nomes justamente conspícuos, modelares de nossa historiografia, como Kátia Mattoso, João José Reis, Eduardo Silva, Silvia Hunold Lara, Luiz Geraldo Silva, Manolo Florentino e tantos outros aqui deram e dão enorme contribuição. Porém, a rigor, não me vem à mente estudo bem sucedido quando aqueles critérios se diluem, trabalho que resta por fazer.
O livro de Ronaldo Pereira de Jesus soma-se a esse esforço coletivo de nossa historiografia no sentido do resgate dos modos de ver a instituição monárquica e a figura do imperador de uma perspectiva from below, do ponto de vistas das camadas populares. Este talvez seja um dos grandes desafios que não apenas Ronaldo Pereira, mas todos os pesquisadores que compartilham desta perspectiva enfrentam, ou seja, a definição criteriosa do que se encontra below: entre vários, o autor opera com termos como “população pobre”, “classes populares”, “camadas populares”, “gente comum”, “povo”, “setores subalternos” (no prefácio ao livro, Sidney Chalhoub fala da “gente miúda”). A composição desse segmento só pode ser abrangente, para conter “o setor mais diretamente ligado ao cativeiro, composto por escravos e libertos, negros e mulatos” (p.10). A estes se somam os “homens livres pobres (miseráveis, mendigos, ‘vadios’ ou ‘desclassificados’)”. Devem compor a “gente comum”, ainda, pequenos comerciantes, artesãos, “executores de ofícios indignos”, militares de baixa patente, funcionários públicos de baixo escalão e operários. Por certo que há subjacente um desafio metodológico. As “elites”, por mais ambíguo que seja este conceito mesmo, deixaram registros de sua experiência. O investigador pode mesmo nomear os membros das elites (sejam estas elites políticas, intelectuais, econômicas ou qualquer outro recorte); pode agrupá-los, pode resgatar sua rede de relações. Há tanto documentação como metodologia para isso (prosopografia, por exemplo). Trata-se daquela famosa metáfora brechteana: sabemos quase tudo do faraó de tal pirâmide, mas muito pouco dos escravos que a levantaram. De modo que as visões de mundo dessas classes subalternas chegam-nos muita vez enviesadas, por terem sido registradas pelos vencedores e produtores da memória oficial.
Porém subjazem aí, também, duas questões de ordem teórica: primeiramente, no que tange ao caráter generosamente inclusivo desse conceito de “pessoas comuns”. Compartilhariam todos aqueles segmentos das mesmas visões da monarquia? Em segundo lugar, não obstante o autor expressar sua opção pela análise da diferenciação social de classes e da dinâmica da relação entre elas, ao evocar a brilhante análise da “dialética da malandragem” de Antonio Candido sobre os três mundos (do trabalho, da ordem e da desordem) que justamente ordenavam o universo social das Memórias de um sargento de milícias, o autor ancora sua análise numa estrutura teórica que concebe a sociedade escravista monárquica em sua divisão em ordens e não em classes. O que, a meu ver, é efetivamente mais profícua para seus propósitos e lhe oferece bons frutos, ainda que persista a tensão conceitual.
Muito sagaz e bem realizada é a forma como Ronaldo Pereira de Jesus estruturou sua pesquisa e construiu sua narrativa. Depois de uma exaustiva recensão bibliográfica, as visões da monarquia, do monarca e do governo imperial (que muitas vezes se confundem), foram criteriosamente pesquisadas em diversos e complementares fundos documentais. Dentro do sistema paternalista em que se erigia a monarquia brasileira, os súditos recorriam à coroa para todo tipo de benefício pessoal. Num universo imenso de súplicas dirigidas ao monarca para obtenção de todo tipo de graça (prática comum desde o reinado de D. João e mesmo antes, na história da monarquia portuguesa), o autor coligiu as súplicas dirigidas ao monarca pelas pessoas comuns, lavradas cunho próprio ou por terceiros. Em seguida, procurou depurar aquelas visões da monarquia inscritas nas homenagens dirigidas à Coroa por inúmeras corporações de ofício e associações profissionais, de classe ou beneficentes (de auxílio mútuo, por categorias sócioeconômicas). Aqui, o autor sugere a existência do movimento de um proto-operariado organizado e portador de uma consciência de classe que, sábia de seus direitos, pugnava por estes direitos junto ao Estado (por isso, com Fausto, denomina-o “estatista”), desenvolvendo “práticas de contestação aliadas a uma discursividade radical ao longo da segunda metade do século XIX” (p.96).
As visões da monarquia são perscrutadas, em seguida, em três movimentos importantes do Segundo Reinado, como são a Revolta do Vintém, o Abolicionismo e os impactos da Abolição da escravidão propriamente dita sobre as visões da gente comum sobre a realeza. Um dos capítulos mais saborosos do livro, a narrativa sobre a Revolta do Vintém permite ao autor perceber uma alteração de percepção da monarquia, de protetora e paternal para sua crítica contumaz, que chega à mobilização coletiva e violenta, ao gosto dos riots estudados por Rudé e Hobsbawm. Para o autor, a Revolta do Vintém ensejou mesmo a “alteração radical e momentânea das atitudes e expectativas diante do regime político e do imperador”, mais do que “uma mudança significativa e duradoura no imaginário popular e nas representações das pessoas comuns acerca da Monarquia. A recuperação da participação popular (singela!) no movimento abolicionista, levada a cabo nas conferências realizadas na Corte nos momentos decisivos da campanha (1885-1887), nos festivais abolicionistas e na mobilização efetivamente popular consiste numa das grandes contribuições de toda a obra. Embora constatando que o Abolicionismo, como movimento formador de opinião pública, foi definitivamente um movimento de elite, o autor conclui “supondo que a profusão de imagens negativas do imperador e do regime monárquico abalou consideravelmente as percepções positivas do imperador e da monarquia entre as pessoas comuns da corte” (p.163). Porém, independentemente dessa gradação valorativa e essa é a tese recorrente do livro, para além dela subsistiria entre a gente comum da corte “o pragmatismo, a indiferença e o afastamento de sempre”. Ou seja, as pessoas comuns pouco se deixavam “contaminar” pelas visões positivas da monarquia e do monarca, como “pai dos pobres”, benevolente e justo estas sim imagens difundidas pelas camadas dominantes. Assim também, pouco alteraria o quadro a “outorga” da libertação dos escravos pela Princesa Izabel, já que todas as festas da abolição foram manifestações públicas das classes escravistas e de setores médios urbanos, expressões de “alívio e entusiasmo por não mais habitar um país escravista” (p.173). O povo, a gente comum, não foi senão espectador nessa festa. Espectador bilontra, mas espectador.
Afora pouquíssimos ruídos de edição, o texto de Ronaldo Pereira de Jesus é muito bem cuidado, bem escrito, prazeroso. Seu livro expressa mais uma contribuição séria e bem executada deste importante setor da historiografia brasileira que se dedica a escrever a história daqueles sujeitos que foram insistentemente esquecidos por ela.
Jurandir Malerba – Professor no Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (FFCH/PUC-RS – Porto Alegre/Brasil). E-mail: jurandir.malerba@pucrs.br
JESUS, Ronaldo Pereira de. Visões da Monarquia. Escravos, operários e Abolicionismo na Corte. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2009. Resenha de: MALERBA, Jurandir. Vossa Alteza, vista cá debaixo. Almanack, Guarulhos, n. 1, p.162-164, jan./jun., 2011.
A Global History of Modern Historiography – IGGERS et. al. (HH)
Georg Iggers / News Deceased.Picture
IGGERS, Georg G.; WANG, Q. Edward; MUKHERJEE, Supriya. A Global History of Modern Historiography. London: Pearson-Longman, 2008, 436 pp. Resenha de: MALERBA, Jurandir.[1] História da Historiografia, Ouro Preto, n.3, p.1167-173, set 2009.
Há uma longa tradição histórias da historiografia, cujo início remonta, pelo menos, ao século XIX. Como qualquer outro campo do conhecimento histórico, cada época propõe problemas e abordagens, investiga e narra a história (da historiografia, neste caso) à sua maneira. O mais recente livro do emérito Professor Georg Iggers e Q. Edward Wang (com a contribuição de S. Mukherjee), traz uma contribuição sem precedentes aos estudos históricos. Sua excelente análise das linhas de força da historiografia contemporânea é francamente amparada numa abordagem de Global History, ou seja, de que vivemos numa época de globalização e essa marca de nosso tempo está cravada nos modos contemporâneos de se escrever história. Mais que isso, que esse processo de globalização é fortemente marcado por outro paralelo de ocidentalização dos modos de se pensar e produzir história. Sua análise propõe-se enfaticamente comparativa, mais do que um mero recitativo ou catalogação de historiografias regionais ou nacionais.
O método escolhido impõe aos autores tratar a história da historiografia dentro de um período que permita essa abordagem global e comparativa, portanto, desde finais do século XVIII (quando as várias tradições historiográficas ocidentais e orientais começam a interagir) até os dias de hoje. O foco da obra incide precipuamente nas interações de diversas tradições historiográficas ocidentais e não-ocidentais num contexto global. Se no início do período estudado as trocas transculturais são poucas, elas se intensificam vertiginosamente a partir do final do século XIX no sentido do que os autores entendem como processos (no plural!) de ocidentalização das historiografias não-ocidentais, pois que esses processos são múltiplos, diversos, compreendendo desde a difusão dos paradigmas racionalistas e normativos ocidentais no Oriente até suas mais diversas formas de filtragem e resistência cultural (SATO 2006). Outro pressuposto importante é o de que os modelos ocidentais de pensamento não são tomados, na obra, como intrinsecamente positivos ou normativos, mas contextualizados conforme os diversos momentos e cenários. O “Ocidente”, entendem os autores, não se refere a uma unidade orgânica, mas a algo muito complexo, heterogêneo, a tal ponto marcado por fissuras políticas e intelectuais que melhor se pode falar de “influências” ocidentais (no plural), mas nunca de um único Ocidente se irradiando de forma imperialista pelo globo.
Outra marca forte da obra é sua sensibilidade para tratar “historiografia” num sentido mais amplo do que meramente o stock de obras produzidas pelos historiadores, a produção acadêmica, mas percebendo essa tradição acadêmica dentro de processos mais amplos de constituição de culturas históricas.[2] Basta lembrar que toda produção acadêmica desde Ranke, quando a história surgiu como disciplina acadêmica na Alemanha e logo por todo Ocidente e imediatamente no Japão Meiji, foi concebida sobre os ideais da objetividade científica, da neutralidade axiológica, do método crítico, do amparo às fontes – quando na prática toda essa mesma produção decimonónica foi artilharia letal na guerra de construção dos mitos nacionais. (MALERBA, prelo).
A consideração do conceito de cultura histórica é um pilar da obra. Evitando restringirem-se à análise textual da bibliografia histórica, os autores trabalham sim com os textos e seus autores, mas sem descurar que estes permanecem imersos em climas de opinião maiores, dentro de suas culturas originárias, o que induz os autores a examinarem, para além dos textos, os cenários institucionais, políticos e intelectuais dentro dos quais se inserem as diversas historiografias. Por exemplo, a formação das cátedras universitárias e a respectiva profissionalização dos historiadores, o apoio governamental, o peso dos estudos históricos no cenário político mais amplo no momento da construção das nações-estado e seu impacto vertiginoso na opinião pública da classe média e os efeitos da difusão das discussões científicas (como o darwinismo social, por exemplo) no século XIX e início do XX foram cuidadosamente levados em conta na análise da escrita histórica do mesmo período.
Para tratar da história da escrita e do pensamento históricos no período mais recente da era moderna, quando se incrementam os intercâmbios culturais em escala global, o livro se ampara em outro conceito básico, além do de globalização: no conceito de modernização. Grande parte da teoria social desde o iluminismo foi construída a partir do pressuposto de que a história moderna equivale ao processo acelerado de modernização do Ocidente. Por modernização, via de regra, subentende-se uma ruptura com as instituições e os paradigmas tradicionais de pensamento, seja na religião, na economia, na política, ruptura essa ancorada em três pontos: o surgimento da ciência moderna (rompendo com o senso comum e o pensamento dogmático) (SANTOS, 1995), as revoluções liberais do longo século XIX (HOBSBAWM 1999ª) e o processo de industrialização capitalista (COLEMAN 1992; HARTWELL 1970; HOBSBAWM 1999b). Desde os economistas clássicos (Smith, Ferguson, Condorcet) até a década de 1960 aproximadamente, entendia-se modernização como um processo uniforme que caminhava (herança da idéia de progresso da ilustração) com as descobertas científicas, a consolidação do mercado capitalista mundial e das sociedades civis e o estabelecimento de democracias liberais pelo mundo afora. Por suposto que a crítica à idéia de modernização é tão antiga quanto a própria, tendo se sofisticado imenso ao longo do século XX, particularmente pelo pensamento de base marxista.[3] Globalização e modernização não se confundem, embora sejam indelevelmente conectados. A globalização, como demonstrou Felipe Fernández- Armesto num livro fascinante, é tão velha quanto a humanidade (FERNÁNDEZARMESTO 2009).[4] Mas a modernização a que se referem nossos autores refere-se à época mais recente, tendo uma primeira fase entre os séculos XVI e XVIII, uma segunda coincidente com a fase dourada do imperialismo europeu no globo e uma terceira, posterior à segunda guerra mundial. Cada um desses momentos, de acordo com os autores, impactou de forma decisiva a consciência histórica e o pensamento e a escrita da história. O corpo da obra foi desenhado para demonstrar como esses processos da história do pensamento histórico e as diversas fases da globalização moderna se entrelaçam. De modo que a meta dos autores é demonstrar os desdobramentos no pensamento e na escrita histórica em seus contextos intelectuais, sociais e econômicos mais amplos, desde o século XVIII ao início do século XXI, abordando as interações entre culturas histórica ocidentais e não-ocidentais, numa exposição estrategicamente narrativa.
O livro começa com uma panorâmica de diversas tradições historiográficas pelo mundo afora, com ênfase no Ocidente, Oriente Médio, Extremo Oriente, Sudoeste da Ásia e Índia ao longo do século XVIII, para, em seguida, passar à discussão das transformações das práticas historiográficas na era moderna com o advento do nacionalismo, desde o Ocidente se espraiando pelo globo.
Esse processo se caracteriza pelo surgimento da história acadêmica, com a fundação da primeira cátedra universitária de história por Ranke e a respectiva profissionalização da atividade historiadora (IGGERS 1998, ORTEGA Y MEDINA 1980). Não obstante sua força, o historicismo alemão sofreu um golpe letal no início do século XX, particularmente no período entre guerras. Seu efeito foi uma reorientação no pensamento histórico ocidental, com o advento da história científica e estrutural tal como propugnada pelo Annales, que deitou profunda influência no exercício da escrita da história ao longo do século XX.
Nos universos não-ocidentais, a sedução da história nacionalista persistiu por mais tempo, por todo século XX, muito embora, conforme demonstram os autores (cap. 5), críticas contundentes ao paradigma nacionalista pulularam em vários países orientais, como a Índia e o Japão, principalmente no período pós-guerra. Tais críticas ganharam força com o advento do pós-modernismo e sua crítica ao recitativo da historiografia moderna no Ocidente do pós-guerra, quando se assiste ao esforço, deflagrado pelos Annales braudelianos e reverberado pelo historiadores e cientistas sociais anglo-americanos e ingleses, no sentido de expandir as fronteiras do campo de conhecimento da história para além do paradigma nacionalista. Essa crítica ganhou força com as críticas pós-coloniais oriundas dos chamados Subaltern Studies propostos por autores indianos (NANDY 1995) e pelo Orientalismo (SAID 1990) de Said nos anos 1970 e 80. Paralelamente, outras forças, de caráter político e religioso, que impactaram na escrita da história no Oriente Médio e na Ásia no último quartel do século XX foram a eclosão do Islamismo e a queda do marxismo.
Após essa discussão, os autores abordam as mudanças recentes na prática historiográfica mundo afora sob a força da globalização, elencando cinco tendências importantes no mapa historiográfico atual que, provavelmente, estarão presente num futuro próximo: a continuidade do “giro cultural e historiográfico” que deu originou a “nova história cultural” (CLIFFORD 1986); a expansão ainda maior da história feminista e de gênero (SCOTT 1988; HARAWAY 1988, EPPLE 2006); a nova convergência entre os estudos históricos e as ciências sociais na construção da crítica à pós-modernidade; os desafios à historiografia nacional associados aos estudos pós-coloniais; e, finalmente, a emergência e disseminação da world history e da global history, já muito fortes no mundo anglo-americano, mas praticamente ignoradas no Brasil.
Como todo bom estudo historiográfico, as análises e conjeturas dos autores desta A Global History of Modern Historiography possuem caráter heurístico, apontam para tendências, reclamam novos estudos. Seus grandes diferenciais são, por um lado, a aberta rejeição do eurocentrismo e, por outro, a defesa veemente da investigação racional, esta diretamente dirigida contra boa parcela da crítica pós-moderna à herança intelectual da Ilustração, que sustenta que um estudo objetivo da história não é possível porque o passado não se apóia na realidade objetiva, não passando de um construto da mente ou de uma linguagem não-referencial, de acordo com o qual todo estudo histórico inevitavelmente derivaria para uma forma de literatura imaginativa, carente de critérios objetivos para o estabelecimento da distinção entre verdade e falsidade nos estudos históricos (MALERBA 2008; ZAGORIN 1998; DRAY 1989). A proposta desta obra de fôlego vai nos antípodas das posturas radicais pós-modernas.
Numa obra com a envergadura desta, que busca analisar em chave comparativa a história do pensamento histórico em perspectiva global na época moderna, seria inevitável diferenças de ênfase e profundidade na análise. Uma crítica que não poderia passar em branco volta-se às inevitáveis lacunas e àquelas diferenças, para nós evidentes no tratamento dado, por exemplo, à análise da historiografia latino-americana (“Da Teoria da Dependência aos Estudos Subalternos”), tratada em cinco páginas e amparada em oito referências bibliográficas, todas elas em inglês.[5] Não causará espanto que especialistas acusem a mesma generalidade no que tange às análises do livro voltadas às tradições historiográficas de outras partes do globo.
Essa observação, porém, não compromete o mérito dessa grande obra de síntese, interpretativa, estruturada a partir de pressupostos claros e construída por autores que trazem vasto conhecimento das culturas históricas de sua proveniência. Uma obra destinada a ser referência para as novas histórias da historiografia.
Bibliografia citada
CLIFFORD, James. Introduction: Partial Truths. In: Clifford, J.; G. Marcus (ed.). Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press, 1986.
COLEMAN, D.C. Myth, History and the Industrial Revolution. London & Rio Grande: Hambledon P, 1992.
DIEHL, Astor. Cultura historiográfica: memória, identidade e representação. Bauru: Edusc, 2002.
DRAY, William. On the Nature and Role of Narrative in History. In: ____ On History and Philosophers of History. Leiden/Nova York: E. J. Brill, 1989.
EPPLE, Angelika. Gênero e a espécie da história: uma reconstrução da historiografia. In: Malerba, J. A história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto: 2006.
FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe. Os desbravadores. Uma história mundial da exploração da Terra. Tradução de Donaldson M. Garschagen. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
HARAWAY, D. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies.Vol. 14, No. 3, 575- 599, 1988.
HARTWELL, R.M. (ed.). The Industrial Revolution. New York: Barnes & Noble/ Oxford: Basil Blackwell, 1970.
HOBSBAWM, Eric. The age of Revolution: Europe 1789-1848. London: Peter Smith, 1999a.
____. Industry and Empire: The Birth of the Industrial Revolution. New York: The New Press, 1999b.
____. A Era Dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
IGGERS, G. The german conception of History: the national tradition of historical thought from Herder to the present. London: Wesleyan University Press, 1988.
MALERBA, Jurandir. A história na América Latina: ensaio de crítica historiográfica. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.
_____. La historia y los discursos. Una contribución al debate sobre el realismo histórico. Contrahistorias, v. 9, p. 63-80, 2008.
_____. (Org.). Lições de história. A construção da ciência no longo século XIX. (no prelo).
NANDY, Ashis. History’s Forgotten Doubles. History and Theory. Volume 34, Issue 2, Theme Issue 34: World Historians and Their Critics (May, 1995), 44-66.
ORTEGA Y MEDINA, Juan A. Teoría y crítica de la istoriografía científicoidealista alemana (Guillermo de Humboldt- Leopoldo von Ranke). México: UNAM, 1980.
SAID, Edward. Orientalismo: o oriente como invenção do ocidente.São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
SANTOS, Boaventura de S. Toward a new common sense. Londres/Nova York: Routledge, 1995.
SATO, Masayuki. Historia normativa e história cognitiva. In: Malerba, J. A história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006.
SCOTT, J. Gender: A Useful Category of Historical Analysis. In: ____. Gender and the Politics of History. New York: Columbia University Press, 1988.
WEBER, Max. Economía y Sociedad: teoria de la organizacion social. México: Fondo de Cultura Económica, 1977. (3ª reimpressão).
ZAGORIN, Perez. History, the Referent, and Narrative: Reflections on Postmodernism Now. History and Theory, 38(1):1-24, fev1998.
[1] Professor Adjunto Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul (PUC-RS) jurandir.malerba@pucrs.br Avenida Ipiranga, 668 – Partenon Porto Alegre – RS 90619-900 Brasil.
[2] 1 No sentido proposto por Jörn Rüsen e divulgado no Brasil por Astor Diehl (2002).
[3] 2 Mas igualmente por outras vertentes de pensamento, dentre as quais destaca-se a obra de Weber (1977).
[4] 3 Para uma abordagem que enfatiza o caráter recente do fenômeno, cf. HOBSBAWN (2005).
[5] 4 Para uma análise recente das tendências majoritárias na historiografia da América Latina desde a década de 1960, cf. Malerba (2009).
A (des) construção do discurso histórico: a historiografia brasileira dos anos 70 | Ana Maria de Oliveira Burmester
Resenhista
Jurandir Malerba
Referências desta Resenha
BURMESTER, Ana Maria de Oliveira. A (des) construção do discurso histórico: a historiografia brasileira dos anos 70. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1997. Resenha de: MALERBA, Jurandir. Diálogos. Maringá, v.2, n.1, 221 -227, 1998. Sem acesso a publicação original [DR]
A História no Brasil (1980-1989) | Carlos Fico e Ronald Polito
Com o segundo volume de A história no Brasil, dos Profs. Carlos Fico e Ronald Polito, da Universidade Federal de Ouro Preto, completa-se a publicação de um ousado empreendimento de pesquisa e análise historiográfica no Brasil. Dando continuidade ao trabalho fundamental de sistematização de informações e crítica, operado até então por alguns poucos mas importantes nomes como Amaral Lapa, Francisco Iglésias e Carlos Guilherme Mota, Fico e Polito fundaram sua avaliação historiográfica brasileira da década de 1980 numa ampla pesquisa sobre os mais variados meios de sua produção/circulação/ consumo, assim como num renovado conceito de historiografia.
A falta de trabalhos de balanço dessa natureza era um mal crônico de que nos ressentíamos os historiadores brasileiros. As análises de maior fôlego, datadas da década de 1970 e início dos 80, tenderam a incidir quase sempre sobre recortes temáticos ou cronológicos da história brasileira, sem pretenderem ou conseguirem proporcionar uma visão mais ampla das principais tendências da produção do conhecimento histórico no Brasil. Certamente tais limitações decorriam da falta de eficazes instrumentos de pesquisa, já acusada por historiodadores como Varnhagen, Oliveira Lima, José Honório Rodrigues, Iglésias e Lapa. Leia Mais