Posts com a Tag ‘Livros’
Libros y alpargatas. La peronización de estudiantes/docentes e intelectuales de la UBA (1966-1974) | Nicolás Dip
En el marco del intenso proceso político que vivió Argentina con la breve “primavera camporista” (el gobierno de poco menos de dos meses encabezado por Héctor Cámpora, surgido al amparo de la fórmula popular “Cámpora al gobierno, Perón al poder”), la Universidad de Buenos Aires (UBA), principal universidad del país, experimentó importantes transformaciones institucionales, alentadas por el breve pero significativo rectorado del profesor Rodolfo Puiggrós entre mayo y octubre de 1973. Puiggrós, antiguo exmilitante comunista, en 1973 formaba parte de un amplio conglomerado ideológico situado dentro del peronismo y específicamente en torno a la Tendencia, una constelación de grupos que identificaban al peronismo como una vía revolucionaria, armada, nacionalista y antiimperialista. Fruto de ello surgieron algunas medidas llevadas a cabo en su periodo a cargo de la UBA, que fue rebautizada como “Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires”. Se estableció una amnistía general a las sanciones contra estudiantes y otros actores universitarios a propósito del intenso ciclo de tomas y movilizaciones precedentes, en el contexto de la lucha contra la dictadura saliente. Además, se modificó el Estatuto Universitario eliminando los impedimentos al acceso y permanencia de estudiantes por razones académicas y políticas. Complementariamente, el rector definió el cierre de convenios internacionales como, por ejemplo, el que UBA tenía con la Fundación Ford. Leia Mais
Un siglo de historia. Los libros de la Biblioteca Tulio Febres Cordero/ 1921-2021. Tomo II | María S. Nieto A.
Cuando abrimos un libro para leerlo nos damos la oportunidad de conocer una historia o quizás revivir un hecho relevante y trascendental del pasado, alcanzando descubrir a través de él ese universo de ideas y pensamientos que se hallan codificados en textos de gran valor para todas las culturas y sociedades del presente. En los libros y documentos encontramos un gran aliado para comprender y analizar la historia desde múltiples miradas, buscando así entender nuestro propio presente. Son estas hojas escritas con diferente tinta y papel, las huellas que vislumbran el paso de aquellos que ya no están, son la marca imborrable del pasado que se va agregando al presente; siempre buscando pintar con características propias el futuro. Sus autores y escritores del ayer nos han dejado un gran legado escritural con el cual vamos descifrando y construyendo la narrativa histórica y cultural del hoy. Otros, hacemos del presente un buen momento para plasmar en letras y palabras la vivencia humana y así dejar la misma huella para que las próximas generaciones hagan lo mismo. Leia Mais
A Batalha dos Livros | Lincoln Secco
Lincoln Secco é docente do Departamento de História da Universidade de São Paulo (USP) desde 2003. Seu leque de temáticas conta com razoável amplitude. No mestrado, pesquisou a recepção de ideias de Antonio Gramsci na realidade brasileira. Investida que resultou no livro Gramsci e o Brasil (2002) – uma espécie de état de l’art das apropriações do pensador italiano no país. No doutorado, operou uma certa mudança de sentido investigativo. De um estudo circunscrito à História das Ideias deslocou-se para uma análise político-social da crise do império colonial português. A empreitada, que se derivou em dois títulos (SECCO, 2004;2005), foi logo suplantada por outros interesses. Desde então, o docente dedica-se principalmente ao marxismo e às esquerdas, tanto em abordagens mais restritas às construções conceituais, quanto em investigações voltadas às expressões dessas correntes políticas como fenômeno social. O último trabalho de Lincoln Secco originou-se exatamente dessa segunda vertente. A obra lançada em 2017, intitulada A Batalha dos Livros, é uma pesquisa sobre a história editorial das esquerdas brasileiras. Em grande medida, trata-se de um intento de esmiuçar os caminhos textuais do processo de circulação de ideias de esquerda no Brasil.
Os cinco capítulos de A Batalha dos Livros de Lincoln Secco organizam-se a partir de um referencial diacrônico-qualitativo. Cada passagem concentra-se em um período no qual o autor identificou a configuração de uma qualidade editorial específica dentro das esquerdas. Todo o estudo é fundado em um prisma histórico que tem como balizas o final do século XIX e o princípio da segunda década do século XXI. A pesquisa possui como foco principal, embora não único, os projetos editorais e as publicações do Partido Comunista Brasileiro (PCB).1 Tal afirmação somente não é válida para o primeiro e o último capítulo, pois esse se dedica ao momento anterior a Revolução Russa; e aquele ao período pós-ditatorial quando as esquerdas encontravam-se hegemonizadas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e o PCB passava por uma profunda crise. Leia Mais
Inky Fingers: The Making of Books in Early Modern Europe – Antony Grafton
Anthony Grafton / Foto: Princeton University /
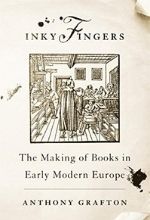 If it is hard to write a book review, then it is much harder to make a book. Anthony Grafton’s latest monograph, Inky Fingers, puts the difficulties of labour at the centre of this engaging study of book production in early modern Europe and North America (the latter included despite the expected limitations of the subtitle). He directs our attention to a cast of players more usually relegated to the wings of humanistic scholarship: printers, copyeditors, translators, compilers and other ‘native-born son[s] of the new city of books that printing created’ (p. 38).(1) In so doing, he reminds us that the life of scholarship ‘could cramp the hands and buckle the back’ (p. 4), to say nothing of the strain of texts and handwriting on the eyes. Building on the work of scholars including Anne Goldgar and William Sherman, and on Grafton’s own extensive contributions to the intellectual and textual history of humanistic scholarship, Inky Fingers provides a stimulating account of the back-and-forth of making books, and how this process shapes texts’ meanings and reception. Leia Mais
If it is hard to write a book review, then it is much harder to make a book. Anthony Grafton’s latest monograph, Inky Fingers, puts the difficulties of labour at the centre of this engaging study of book production in early modern Europe and North America (the latter included despite the expected limitations of the subtitle). He directs our attention to a cast of players more usually relegated to the wings of humanistic scholarship: printers, copyeditors, translators, compilers and other ‘native-born son[s] of the new city of books that printing created’ (p. 38).(1) In so doing, he reminds us that the life of scholarship ‘could cramp the hands and buckle the back’ (p. 4), to say nothing of the strain of texts and handwriting on the eyes. Building on the work of scholars including Anne Goldgar and William Sherman, and on Grafton’s own extensive contributions to the intellectual and textual history of humanistic scholarship, Inky Fingers provides a stimulating account of the back-and-forth of making books, and how this process shapes texts’ meanings and reception. Leia Mais
Red Banners/Books and Beer Mugs: The Mental World of German Social Democrats/ 1863-1914 | Andrew G. Bonnell
Esta colección de ensayos de un historiador marxista que se especializa en la historia del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) está compuesta por ocho artículos. El primero trata del culto a Lassalle en la Asociación General de Trabajadores Alemanes (ADAV), que se transmitió en parte al SPD. Este ensayo recordará a muchos militantes trotskistas de sus propias experiencias con ciertos “cultos a la personalidad” en sus propias organizaciones; lamentablemente, las organizaciones trotskistas posteriores a Trotsky han tenido una tendencia a heredar todas las malas cualidades de la socialdemocracia y ninguno de sus aspectos positivos, comenzando por su capacidad de convertirse en una organización política de masas de la clase trabajadora. En 1912, el SPD recibía el 34 % de los votos. A pesar del sistema de representación antidemocrático, esto equivalía a 110 escaños del parlamento, de un total de 397, lo que convertía a los socialdemócratas en el grupo más grande en el Reichstag, el parlamento alemán. En 1914, el partido contaba con más de un millón de miembros, de los cuales 175.000 eran mujeres, en un país en el que a las mujeres solo se les había permitido organizarse políticamente en Prusia, entonces la mayor parte de Alemania, desde 1908 (p. 199). También controlaba los movimientos cooperativos y sindicales: la membresía de los sindicatos cristianos católicos llegaba a 350.000 en 1912, en comparación con los 2.500.000 miembros de los sindicatos libres alineados con los socialdemócratas (p. 197). El segundo ensayo proporciona un resumen útil de la actitud de las entonces dos organizaciones socialistas en Alemania hacia las tres guerras de unificación alemana, y particularmente hacia la Guerra Franco-Prusiana de 1870-71, que resultó en sentencias de prisión para August Bebel y Wilhelm Liebknecht por su intransigente postura internacionalista. Es importante resaltar esta ideología militante internacionalista del SPD para evitar interpretaciones anacrónicas basadas en su capitulación al nacionalismo en agosto de 1914, cuando votó por los créditos de guerra en el Reichstag. En un diálogo registrado por la policía en febrero de 1905, en el contexto de la revolución en Rusia, un trabajador polaco aparentemente residente durante mucho tiempo en Hamburgo lamentó que la nobleza polaca mostrara muy poca solidaridad con el pueblo polaco oprimido. Un camarada alemán lo reprendió airadamente por alimentar la ilusión nacionalista de que la nobleza podía ser cualquier cosa menos una explotadora del pueblo, ya fuera en Alemania o Polonia. El socialdemócrata alemán concluyó enfáticamente: “Me cago en todas las nacionalidades y estoy con la socialdemocracia, que es internacional” (p. 52). El tercer ensayo, que trata de las actitudes hacia el trabajo dentro del SPD, ofrece un buen ejemplo de la forma en que el Partido conectaba la teoría marxista con la experiencia cotidiana de sus miembros de clase trabajadora y de los lectores de sus publicaciones periódicas. En El Capital, Marx habló de los resúmenes estadísticos de accidentes laborales, y de las muertes y lesiones resultantes, como “despachos del frente de batalla, que cuentan los heridos y los muertos del ejército industrial”. Los periódicos socialdemócratas publicaban regularmente secciones con títulos como “Del campo de batalla del trabajo”, para enfatizar el desperdicio sin sentido de vidas humanas que resultaba de la regulación inadecuada de la seguridad laboral. Bonnell cita como ejemplo el artículo “Vom Schlachtfelde der Arbeit”, del diario socialdemócrata de Frankfurt Volksstimme del 30 de noviembre de 1906, que ofrecía una descripción de la escena tras una explosión en una fábrica de productos químicos en Dortmund (p. 70). El cuarto ensayo describe cómo el SPD lograba mostrar a los trabajadores en su agitación la conexión entre temas que los afectaban directamente, como el precio del pan y los alimentos, y temas políticos más “abstractos”, como las políticas arancelarias y agrarias del Kaiserreich, donde el estado monárquico tenía una conexión especial con la clase terrateniente Junker de Prusia. El capítulo cinco trata sobre el destino de los socialdemócratas en el ejército imperial, donde abundaba el abuso de los reclutas, así como las precauciones especiales que el SPD tuvo que tomar en su agitación antimilitarista, tanto para evitar la persecución como para evitar el abuso de los jóvenes reclutas. El sexto ensayo, titulado “leyendo a Marx”, muestra cómo las enseñanzas del marxismo se filtraban entre las filas del partido a través de una variedad de conductos, desde órganos teóricos como la revista Die neue Zeit editada por Karl Kautsky hasta grupos de estudio, bibliotecas del partido y de los sindicatos, series de libros como la Internationale Bibliothek, y en particular la edición masiva de folletos que sintetizaban los principales puntos en discusión. A modo de ejemplo, las actas del congreso del SPD celebrado en Erfurt en 1891, en el que el partido adoptó su programa marxista (el año anterior, recién salido de la ilegalidad de las Leyes Antisocialistas, el SPD había adoptado estatutos democráticos en el Congreso de Halle), se distribuyó en 30.000 ejemplares. El programa en sí se imprimió en medio millón de copias y se distribuyeron 120.000 copias del folleto explicativo del programa (p. 132). El libro más vendido de Bebel, La mujer y el socialismo (reeditado por Akal en 2018), que incorporó en sus sucesivas ediciones material de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, alcanzó su edición número 50 en 1909, fecha en la que se habían impreso 197.000 ejemplares (p. 130). El capítulo siete, sobre “Trabajadores y actividades culturales”, resume algunas de las principales formas en que el partido combinaba actividades culturales, políticas y sociales en posadas, conferencias, festivales y por otros medios, bajo la atenta mirada del censor y de la policía. El ensayo final sobre “Socialismo y republicanismo en la Alemania imperial” explica por qué el SPD tuvo que bajar el tono de la agitación en torno a la república, debido a la censura y la persecución política, aunque se sabía ampliamente que los socialdemócratas eran republicanos y que la república se escondía tras consignas confusas como el “estado del pueblo libre” (freier Volksataat), una formulación comprensiblemente condenada por Marx como vacía en su Crítica del Programa de Gotha. A pesar de que los marxistas no atribuían mayor importancia a la diferencia entre la república y una monarquía constitucional, Rosa Luxemburg consideró oportuno, después de 1910, realizar una agitación sobre la huelga de masas en torno a la consigna de la república, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para la movilización de las masas, convirtiendo así una demanda puramente democrática en una demanda de transición, al igual que la organización de mujeres del SPD centró su agitación en torno a la cuestión del sufragio universal femenino como medio para la movilización y organización de un movimiento de mujeres proletarias dirigido por un partido socialista. Dado que la calidad de los ensayos es uniformemente buena, en vez de analizar uno en particular señalaremos algunos de los hechos que menciona el autor, para enfatizar por qué es importante para los marxistas de hoy estudiar de cerca la experiencia del SPD. Por ejemplo, Bonnell señala que, a pesar de la famosa crítica de Robert Michels a las tendencias supuestamente oligárquicas del SPD, la estructura democrática del partido se revelaba en el hecho de que las organizaciones partidarias locales celebraban asambleas para enviar delegados a los congresos anuales del partido y debatían las resoluciones que serían discutidas en esos congresos, y que la prensa partidaria informaba sobre estas asambleas y sobre los debates que en ellas se desarrollaran. Es difícil imaginar hoy, dado el estado miserable de la izquierda marxista en todo el mundo, el alcance de la prensa obrera en Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. En 1914, había más de 90 diarios socialdemócratas en Alemania, con una circulación total cercana al medio millón, incluyendo periódicos de ciudad importantes como el Hamburger Echo (con una circulación de 76.000 en 1913) y el Leipziger Volkszeitung (53.000 en 1913). Desde 1911, el órgano central del partido, Vorwärts, que también funcionaba como el periódico del partido en Berlín, fluctuó entre 150 y 160.000 suscriptores. No muy lejos del Vorwärts estaba el periódico de las mujeres socialistas, Die Gleichheit, que tenía 125.000 suscriptores en 1914. Vorwärts fue superado por el semanario ilustrado humorístico-satírico Der Wahre Jakob, que disfrutaba de una circulación masiva de unos 371.000 ejemplares (p. 140-141, 152). Ser editor de un periódico socialdemócrata era un trabajo peligroso. Bonnell señala que, a lo largo de la década de 1890, Vorwärts llevó un registro mensual de las condenas, sentencias de prisión y multas que sufrían los miembros del partido, el cual mostraba que los editores de periódicos socialdemócratas estaban en una situación de riesgo especial, y que en la década de 1890 apenas había un editor de los periódicos de los sindicatos o del partido que no hubiera pasado varios meses en la cárcel por difamación y calumnia (Beleidigung) contra el Kaiser, el soberano de algún estado alemán en particular, funcionarios estatales o empleadores. Teniendo en cuenta estos hechos, no es de extrañar que en la década de 1890 se sugiriera a veces que el puesto de editor legalmente responsable de un periódico socialdemócrata se rotara entre camaradas más jóvenes, solteros, sin familias que mantener, que pudieran permitirse pasar unos meses en la cárcel (p. 179-180). Leia Mais
La mujer que salvaba a los niños – MULLEY (SEH)
MULLEY, C. La mujer que salvaba a los niños. Barcelona: Alienta Editorial, 2018. Resenha de: SÁNCHEZ, Elena Duque. Social and Education History, v9, n.1, p.121-123, feb., 2020.
El presente libro es una biografía de Eglantyne Jebb, nacida en 1876 en Ellesmere (Reino Unido) en una familia de clase media intelectual, que tal y como se detalla en el libro, poseían una casa en la que en todas las habitaciones era posible encontrar libros. Una pasión, la lectura que Eglantyne inició desde pequeña y no abandonó hasta su muerte. Licenciada en historia por la universidad de Oxford decidió en 1899 comenzar a dar clases en una escuela para niños y niñas de clase trabajadora y con situación económica precaria. Esta experiencia la llevó a apasionarse por la educación y por la búsqueda de mejores metodologías de aprendizaje y a estudiar la carrera de magisterio.
Tal y como se muestra a través del libro, los varios problemas de salud que tuvo nuestra Eglentyne generaron que tuviera que pasar largos períodos sin trabajar. Fue a partir de 1916 que empezó a unirse aún más a su hermana Dorothy, que movida afiliada a Liga internacional por la paz y la libertad y activista pacifista. Dorothy estaba convencida que la promoción de una visión más humanitaria de los enemigos de la Gran Bretaña se podría conseguir una paz negociada (recordemos que para esas fechas, ya se había iniciado la I Guerra Mundial). Uno de los proyectos de Dorothy para combatir la información sesgada sobre la guerra en los periódicos de Gran Bretaña, fue la de publicar noticias de la misma guerra, pero en periódicos de los países enemigos o neutrales. Con el objetivo de mostrar el sufrimiento de ambos bandos y no justificar la guerra. Entre su equipo de colaboradoras y traductoras se encontraba su hermana Eglentyne que dominaba con fluidez el francés y el alemán En 1919, entre cuatro y cinco millones de niños y niñas se estaban muriendo de hambre en Europa. Dorothy creó en marzo la Oficina de Información sobre el Hambre con el objetivo de recoger información fiable de la verdadera situación de los niños y niñas víctimas colaterales de la guerra. En estos momentos se empezaron también a elaborar y distribuir folletos de niños y niñas austríacas hambrientas, mostrando así las secuelas que estaba teniendo la guerra para un colectivo totalmente inocente. Motivo por el que fue detenida Eglentyne y otra compañera y llevadas a juicio. El motivo fue la distribución de propaganda no autorizada por el gobierno.
La propaganda involuntaria de dicho juicio fue aprovechada por las dos hermanas y convocaron una “Reunión contra la hambruna” el 19 de mayo de 1919. Fecha que se considera la creación de Save de Children. En dicha reunión Eglentyne dio un mensaje muy poderoso sobre los niños y niñas: “Tenemos un único objetivo, salvar a tantos como sea posible. Tenemos una sola regla, les ayudaremos sea cual sea su país, sea cual sea su religión” (p.319).
Aunque existían otras organizaciones humanitarias en terreno de guerra, la realidad era que los niños y sus necesidades no eran tenidos en cuenta.
Siendo así que Save the Children se convirtió en la primera organización benéfica especial creada para niños sin hogar y la primera fundada por mujeres. También es la mayor organización internacional independiente para la mejora de la infancia. Y, por lo tanto, también ha contribuido a crear conciencia de la existencia de derechos de un colectivo totalmente invisibilizado como eran los niños y niñas.
A partir de su creación, el trabajo se centró en recaudar fondos para hacer llegar la ayuda al máximo de niños y niñas y a crear una conciencia de que éstos ser considerados terreno neutral. Para hacer aún más clara esta posición de la asociación, se decidió poner su sede en Ginebra, considerado país neutral.
Al trabajo en Save the Children como presidenta de Eglentyne, se unió su empeño por crear un documento con reconocimiento que reuniera los derechos imprescindibles de los niños y niñas, tal y como se detalla en el capítulo 15, llevó a Eglantyne a elaborar un inicial redactado llamado “Carta del niño” con cinco puntos que fue el punto de partida de la promulgación de los Derechos del niño y la niña por parte de las Naciones Unidas. En este libro se pueden encontrar los detalles de la trayectoria de una mujer que se rebeló también contra las imposiciones sociales de su época y consiguió hacer partícipe a la humanidad de la necesidad de poner en el centro del bienestar a los niños y niñas.
Elena Duque Sánchez – Universidad de Barcelona. E-mail: elenaduquesa@ub.edu.
[IF]An Empire of Print: The New York Publishing Trade in the Early American Republic – SMITH (THT)
SMITH, Steven Carl. An Empire of Print: The New York Publishing Trade in the Early American Republic. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2017. 264p. Resenha de: ARENDT, Emily J. The History Teacher, v.52, n.4, p.727-728, ago., 2019.
New York City has long been considered the center of the American publishing industry. Although scholars have examined the mid-nineteenth-century figures— titans like George Palmer Putnam and the Harper Brothers—who are often credited with establishing the Big Apple’s preeminence in the book trade, Steven Carl Smith offers a rewarding glimpse into the lesser-known figures who preceded them and laid the crucial groundwork for print culture to flourish in the United States. Tracing the rise of New York’s publishing industry from the 1780s through the 1820s, Smith demonstrates how those involved in the book trade (printers, publishers, and booksellers) built local, regional, and national networks that allowed them to supply domestically manufactured books to a “population that had an insatiable appetite for knowledge” (p. 5).
Smith accomplishes this task through five extraordinarily well-researched case studies, most of which are organized around a key figure in the industry. The first looks at Samuel Loudon, an on-again, off-again state printer, to illustrate how printers helped rebuild political communication networks following the Revolution. Next, Smith uses William Gordon’s history of the American Revolution and its roundabout path to publication in the United States to argue that the domestic publishing industry played a vital role in the project of nation building. His next chapter reveals the power of printers to divide rather than unite Americans by exploring the bookshop politics of John Ward Fenno, a devoted Federalist who challenged Republican competitors and reflected the growing partisan spirit gripping the country by the late 1700s. The next case study focuses on the literary fairs that proved pivotal in crafting the trade into a movement for national self-sufficiency, as printers and publishers convinced booksellers and consumers to buy American-made rather than imported texts. The final chapter surveys the emergence of a national book trade as exemplified in the work of Evert Duyckinck, an enterprising capitalist involved in the sale and distribution of texts—especially cheap schoolbooks—that he solicited based on a keen understanding of what American readers wanted and needed. These examples demonstrate the key role played by early printers, publishers, and merchants in making New York’s publishing trade nationally significant.
Although An Empire of Print primarily offers an in-depth look at some major players in the emergence of a domestic publishing industry, Smith also provides a useful contribution to bigger debates over the rise of the market economy and the creation of a national print culture that connected Americans together through the act of reading. Indeed, he very successfully shows that the distribution networks built by men like Fenno and Duyckinck helped shape a national market for printed works well before 1830. Although it is intuitive that the creation of a national print market would entail the emergence of an “imagined community” of diverse readers, further examination of reception alongside distribution is warranted. In all, however, Smith’s impressive use of newspapers, personal correspondence, estate inventories, account books, and other financial records offers ample evidence to support his contentions.
While this monograph will prove essential reading to scholars interested in the history of the book in early America, it is probably not appropriate reading for most students at the secondary level or in college survey courses. I can imagine, however, that motivated educators would find much of interest and use in preparing lessons on the early republic. In particular, the chapters on print and ideology could be used as background for really excellent lessons incorporating primary sources into the classroom. For instance, Gordon’s History of the Rise, Progress, and Establishment, of the Independence of the United States, the topic of Chapter 2, is readily available in digitized forms and could be excerpted for students to explore how printers in the late 1700s “helped shape the new nation’s understanding of its history and its possibilities for the future by creating a national reading public attentive to its recent past” (p. 46). The third chapter on Federalist John Ward Fenno could likewise provide inspiration for educators interested in helping students explore the rancorous partisan print culture of the 1790s so readily apparent in periodicals from the time. Well-written and meticulously researched, this volume offers an important look at how New York’s publishing industry helped shape the social, economic, and political life of the early republic.
Emily J. Arendt – Montana State University Billings.
[IF]Books and Periodicals in Brazil 1768-1930: a Transatlantic Perspective | Ana Cláudia Suriani da Silva e Sandra Guardini Vasconcelos
Publicado na Inglaterra no final de 2014, Books and Periodicals in Brazil 1768- 1930: a Transatlantic Perspective é o primeiro volume dedicado ao Brasil a integrar a série “Studies in Hispanic and Lusophone Culture”. É o nono livro a ser publicado nesta série, voltada prioritariamente para os estudos literários. As organizadoras, Ana Cláudia Suriani da Silva e Sandra Guardini Vasconcelos, são, respectivamente, professora (lecturer) de estudos brasileiros na University College London e professora titular de língua e literatura inglesa na Universidade de São Paulo. A julgar pelas temáticas abordadas e os nomes envolvidos, o livro parece ser fruto, direto ou indireto, do projeto de cooperação internacional “A circulação transatlântica dos impressos – a globalização da cultura no século XIX”, coordenado por Márcia Abreu e Jean-Yves Mollier. Sendo assim, suscita comparação com outro volume editado em 2014, A circulação transatlântica dos impressos – conexões, organizado por Márcia Abreu e Marisa Midori Deaecto, e publicado por meio digital pela Unicamp.1 Por questões de espaço, no entanto, a presente resenha irá tratar unicamente do livro em língua inglesa, que talvez seja de acesso mais difícil para pesquisadores no Brasil.
Na introdução, as organizadoras ressaltam que não há publicação recente em língua inglesa voltada exclusivamente para a temática dos livros e impressos brasileiros. Apesar da grande quantidade de estudos realizados nessa área nos últimos trinta anos, quem não lê português (ou, pelo menos, francês) fica restrito praticamente ao Books in Brazil: a History of the Publishing Trade, de Laurence Hallewell, publicado originalmente em 1982, antes de ganhar fama em sua edição brasileira de 1985. De fato, existe uma discrepância muito grande entre o chamado ”estado da arte” do campo, no Brasil, e sua percepção por estudiosos estrangeiros. Nesse sentido, é oportuna a iniciativa de dedicar um volume da série “Studies in Hispanic and Lusophone Culture” ao assunto. Infelizmente, o presente volume preenche essa lacuna apenas em parte e de modo bastante desigual.
A circulação dos impressos é assunto fascinante e complexo não somente por sua capacidade de atravessar fronteiras geográficas, mas também disciplinares. Por ser um ponto de cruzamento entre saberes literários (escrita e autoria), artísticos (design e ilustração), tecnológicos (impressão e fabricação), sociológicos (sociabilidade e práticas de leitura), econômicos (comércio e mercado), políticos (censura e propaganda), assim como entre os aspectos propriamente editoriais e jornalísticos, trata-se de uma área que requer conhecimentos múltiplos e abordagens fortemente transdisciplinares. Um livro que busca apresentar o público estrangeiro à “pletora de materiais – teses, livros, artigos e números especiais de periódicos”,2 dedicados ao assunto nos últimos anos teria obrigação de tentar abordar, minimamente que fosse, cada um desses saberes, oferecendo um corte transversal do campo de estudos e fornecendo pistas para que o leitor pudesse buscar se aprofundar. Embora o volume em questão cumpra bem a promessa de oferecer uma perspectiva transatlântica – e, portanto, transcultural –, ele tropeça no desafio de elaborar um painel transdisciplinar do seu objeto de estudos. Sua visão da história dos impressos é voltada prioritariamente para um entendimento literário, com alguma atenção para práticas de leitura, sociabilidades e, em muito menor grau, questões políticas. As dimensões material (papel e tipografia), tecnológica (máquinas) e trabalhista (operários e empresas) – tão importantes no século que viu nascer a indústria gráfica – são praticamente ignoradas, assim como o são as facetas artísticas e gráficas de projeto e construção do impresso, que não recebem nenhuma consideração.
Mais grave ainda, o volume não cumpre a promessa, subentendida em seu título, de oferecer um panorama representativo da história dos livros e dos periódicos no período em foco. Como falar dos periódicos dessa época sem mencionar uma única vez Semana Ilustrada ou Revista Ilustrada; Careta, Fon-Fon ou O Malho? Apesar de a capa do livro estampar uma imagem retirada do famoso semanário de Henrique Fleiüss, nem a Semana, nem as produções do concorrente Angelo Agostini são referidas ao longo dos quatorze ensaios que o compõem. Igualmente omitidos da discussão estão figuras essenciais como Raphael Bordallo Pinheiro, Julião Machado e Correia Dias, candidatos mais do que óbvios a um estudo que se propõe ”transatlântico”. Francisco de Paula Brito, um dos maiores editores brasileiros do século XIX, ganha apenas duas menções passageiras – uma como autor3 e a segunda numa tabela, listado entre outros editores4 – e não há nenhuma a Benjamim Costallat, o editor-escritor que provocou um terremoto no meio editorial brasileiro à época em que o furacão de Monteiro Lobato ainda não passava de um vendaval. Hipólito da Costa, José da Silva Lisboa, Sisson, Lombaerts, Weiszflog, Rui Barbosa, Rodrigo Octavio, Edmundo Bittencourt, Humberto de Campos, Pimenta de Mello, J. Carlos, Raul Pederneiras, entre muitos e muitos outros são nomes cuja importância para a imprensa e os impressos o livro parece ignorar.
As omissões se estendem para um número significativo de estudiosos que têm se debruçado sobre aspectos da história dos impressos em anos recentes. Não há nenhuma referência (nem na bibliografia) aos escritos de Cláudia de Oliveira, Gilberto Maringoni, Isabel Lustosa, Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, Marcelo Balaban, Marize Malta, Mônica Pimenta Velloso, Paulo Knauss, Rafael Cardoso (autor desta resenha), Renata Santos, Vera Lins – responsáveis conjuntamente por quase duas dezenas de livros sobre a história dos impressos, ao longo da última década – e muitos outros que ainda não tiveram ocasião de publicar um livro, mas cujos trabalhos estão amplamente disponíveis em forma de artigos. Esse fato evidencia uma preocupante tendência a tomar o grupo do qual se participa como único parâmetro e divulgá-lo no exterior como representante do Brasil como um todo. Feita essa crítica, deve-se elogiar o esforço das organizadoras para constituir uma rede, à medida que os autores representam instituições de São Paulo (9), Rio de Janeiro (3), Rio Grande do Sul (2), Minas Gerais (1) e Paraná (1), além de duas do exterior.
O volume começa com uma introdução, assinada pelas organizadoras, que busca situar a problemática do livro e da leitura em um país conhecido historicamente por suas taxas altas de analfabetismo e pouca atenção à cultura letrada. Essa tarefa é cumprida de modo sucinto (4 páginas), passando rapidamente para um apanhado do conteúdo, capítulo a capítulo. O caráter um tanto apressado da introdução é indicativo de certas falhas recorrentes ao longo do livro. É uma pena que, logo no início, o texto seja prejudicado por uma tradução bastante deficiente. Ao que indicam os agradecimentos, os ensaios foram vertidos para o inglês, e posteriormente revisados, por grupo grande de pessoas. A falta de uniformidade da linguagem, de um capítulo para outro, sugere que não foi feito esforço suficiente de padronização editorial. A maioria dos ensaios evidencia domínio bom ou muito bom da escrita inglesa (capítulos 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14); outros, uma fluidez ainda razoável (capítulos 1, 2, 6). Os demais, porém, trazem erros que dificultam a compreensão de pontos mais nuançados e deixam dúvidas sobre o sentido de citações brasileiras – que, no mais das vezes, não são dadas no original. Essa desatenção para com a qualidade da linguagem estende-se também à revisão editorial no sentido geral. Em certos pontos do livro ocorrem remissões a nomes, fatos ou dados faltantes. Em outros, opções de terminologia causam confusão desnecessária – e.g., a imprecisão de datas e nomenclatura que cerca o uso do termo ”Império” ou, ainda, a decisão incompreensível de creditar o nome da Fundação Biblioteca Nacional como “National Library of Rio de Janeiro”.
O primeiro capítulo, de Márcia Abreu, intitulado “Reading in Colonial Brazil”, tenta desfazer a impressão equivocada de que não se lia no Brasil colonial. A autora vem explorando o assunto de modo sistemático desde antes do seu O caminho dos livros (2003), e traça aqui a circulação de livros de Portugal para o Brasil por meio de pedidos de autorização à Mesa Censória, à Mesa do Desembargo do Paço e ao Santo Ofício. Embora acrescente pouco de novo para quem já conhece seus trabalhos anteriores (sendo versão atualizada de texto publicado em português, em 2002), a inclusão desse capítulo logo no início do volume ajuda a estabelecer algumas questões de fundo, suprindo sua falta na introdução. O argumento central – de que as pessoas no Brasil-Colônia liam sim, mas não necessariamente o que era preconizado pelas autoridades morais e intelectuais da época ou por estudiosos posteriores – continua instigante, mesmo que esteja menos bem elaborado aqui do que em outras produções da autora.
O segundo capítulo, “Booksellers in Rio de Janeiro: the Book Trade and Circulation of Ideas from 1808 to 1831”, de Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves e Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira, é contribuição exemplar da função que deveria servir esse volume. Ao consolidar informações oriundas de anos de pesquisa e expô-las de modo sistemático, o ensaio traça um panorama geral do comércio livreiro visto por intermédio dos anúncios publicados na imprensa da época. Trata-se de apanhado seguro e sólido, capaz de abrir para o leitor estrangeiro uma visão equilibrada do assunto e apontar as principais discussões e referências da atualidade. Seu êxito em realizar esses propósitos contrasta com a ausência de ensaios que façam o mesmo para outros grandes temas: por exemplo, o comércio livreiro e o meio editorial durante o Segundo Reinado.
O terceiro capítulo, “Seditious Books and Ideas of Revolution in Brazil (1830-71)”, de Marisa Midori Deaecto e Lincoln Secco, promete uma discussão interessantíssima, mas fica no limite de aprofundar-se nela. Ao focar as personalidades de Libero Badaró e Álvares de Azevedo, mais importantes para o contexto paulista, o texto passa batido pela influência maior do ideário socialista no Brasil, que abarca a Revolução Praieira e outros movimentos de contestação. O Socialismo (1855), do general Abreu e Lima – talvez o exemplo mais notório de um livro com potencial sedicioso no período –, é descontado em três linhas. Além de ser prejudicado pela tradução, o ensaio embasa-se num arcabouço teórico e metodológico bastante frágil, com dependência excessiva sobre uma historiografia datada e certos momentos alarmantes em que arrisca conjecturas a partir de evidências como anotações anônimas a lápis em exemplares de livros encontrados em sebos. Há pouco sentido em incluir uma pesquisa de caráter tão exploratório num volume voltado para o público estrangeiro.
O capítulo 4, “Migratory Literary Forms: British Novels in Nineteenth-century Brazil”, de Sandra Guardini Vasconcelos, trata do impacto dos romances britânicos sobre o fazer literário no Brasil, demonstrando a insuficiência do modelo histórico que quer ver a França como matriz única ou primordial. Trata-se de outra contribuição sólida, que situa o leitor em relação a grandes temas como: surgimento do romance, repertório e cânone no Brasil, empréstimos e migrações, tomando cuidado sempre para relacionar esses fenômenos no campo literário com questões sociais maiores, como o lugar da mulher na sociedade patriarcal.
O capítulo 5, “The Library that Disappeared: the Rio de Janeiro British Subscription Library”, de Nelson Schapochnik, é de vivo interesse para especialistas no campo abrangido pelo livro. Com trinta páginas, trata-se do ensaio de mais fôlego do volume e destaca-se também como um dos poucos que traz quantidade de informações novas. Esse texto constitui um aporte valioso para a historiografia do campo, ao traçar a história da biblioteca que atendeu à comunidade britânica do Rio de Janeiro entre 1826 e 1892. O autor retoma, assim, e consolida o que já havia publicado sobre o mesmo assunto para o projeto temático “Caminhos dos Romance no Brasil séculos XVIII e XIX”.
O capítulo 6, “The History of a Pseudo-Dumas Novel: The Hand of the Dead”, de Paulo Motta Oliveira, trata de assunto interessante, porém de relevância apenas tangencial. A trajetória do romance A mão do finado, lançado pelo autor português Alfredo Hogan, em 1853, como sequência apócrifa ao Conde de Monte Cristo, é narrada em minúcia. Em meio à sua estranha carreira internacional, o livro teve aparições sucessivas no contexto brasileiro – algumas movidas pela ganância editorial da década de 1950. Além de sua incongruência com relação ao recorte do volume, o ensaio baseia-se em pesquisa ainda incompleta – suscitando conclusões “vagas e incertas”,5 no dizer do autor – e, portanto, a decisão de incluí-lo é temerária.
O capítulo 7, “Revista Nacional e Estrangeira (1839-40): a Foreign or a Brazilian Magazine?”, de Maria Eulália Ramicelli, aborda a questão crucial da relação entre ”nacional” e ”estrangeiro” na historiografia das revistas do século XIX. É difícil determinar o caráter nacional de muitos periódicos publicados durante o período em que cultura brasileira ainda era conceito em plena formação. Assim, várias revistas têm sido subestimadas por estudiosos de cepa nacionalista, por conta do seu recurso a textos e clichês importados ou por serem escritas em idiomas outros que o português. Apesar da relevância do tema, o ensaio se perde no desequilíbrio entre abstrações mal digeridas (e.g., ”classe dirigente”, “ideologia burguesa”) e uma compreensão nem sempre matizada do contexto político imediato dos anos finais da Regência.
O capítulo 8, “The Role of the Press in the Incorporation of Brazil into the Paris Fashion System”, de Ana Cláudia Suriani da Silva, volta suas atenções para o papel da imprensa em divulgar a moda no Brasil e elege o Correio das Modas como aquele que “estabeleceu o padrão para as revistas de moda”.6 Feita essa constatação, porém, a sequência do texto não se aprofunda na análise da revista, lamentavelmente. Prejudicado pela tradução problemática, o texto incorre numa série de afirmações confusas ou duvidosas – como, por exemplo, que “o Brasil fazia parte do sistema de moda parisiense antes que fosse consolidado”.7 Aliás, o próprio conceito de um ”sistema parisiense de moda” – pego de empréstimo a um estudo sobre o mundo da moda atual – assenta-se de maneira pouco confortável sobre o figurino do século XIX.
Uma pequena preciosidade do livro é o capítulo 9, “The Brazilian and the French Bas de Page”, de Lúcia Granja, pois recapitula a evolução da crônica jornalística, de modo comparativo entre Brasil e França. O texto retoma, assim, o importante trabalho de Marlyse Meyer sobre a história do folhetim, bem como as investigações anteriores da própria autora sobre esse tema. Juntando leitura detalhada de textos de época a um olhar atento para questões de diagramação da página, o ensaio oferece um apanhado instigante dos paralelos e das diferenças entre o que se fazia no Rio, sob influência francesa, e o que se passava na França. Afasta assim – sem grande alarde, mas com eficácia – a questão capciosa da cópia ou importação de modelos, e abre perspectivas para compreender melhor a natureza das inovações operadas no contexto brasileiro.
O capítulo 10, “How to be a Professional Writer in Nineteenth-century Brazil”, de Marisa Lajolo e Regina Zilberman, é a terceira contribuição de peso ao propósito de mapear o território brasileiro para o público estrangeiro. Trazendo uma discussão arejada das questões de direitos autorais e contratos editoriais, o ensaio traça um histórico da evolução das relações entre escritores, editores e legislação, calcado em leitura abrangente e pesquisa minuciosa. As autoras dão seguimento, assim, ao trabalho iniciado com seu importante O preço da leitura (2001). Um único problema de tradução, bastante grave, exemplifica as falhas de revisão do livro. Os estabelecimentos editoriais chamados de “tipografia”, no contexto brasileiro, são denominados reiteradamente de ”typography” e “typographer” – termos usados, em língua inglesa, exclusivamente para referir questões gráficas ligadas ao desenho e a fundição de tipos. O leitor monoglota terá dificuldade para entender, portanto, por que o autor brasileiro da época precisava conseguir “o acordo dos tipógrafos para publicar um livro”.8
O capítulo 11, “Print Technologies, World News and Narrative Form in Machado de Assis”, de Jussara Menezes Quadros, traz uma reflexão inteligente sobre o lugar do telégrafo e das incipientes agências de notícias na escrita de Machado. Contudo, a análise das “tecnologias de impressão”, prometida no título, fica limitada à sua influência indireta sobre formas narrativas. Trata-se mais de discutir as angústias e os entusiasmos provocados pela percepção de modernização das comunicações do que investigar qualquer impacto das novas tecnologias sobre os impressos. Embora não corresponda à intenção da autora, a presença do seu ensaio acaba por realçar a indiferença do volume com relação à materialidade dos objetos impressos. Tecnologia, aqui, é uma ideia literária, mais do que um fator concreto de transformação. O capítulo é o único que menciona – muito embora, não discuta – o advento da fotografia como inovação de relevância para os meios de comunicação no período.
O estudo de caso mais instigante do livro é o capítulo 12, “The Brazilian Book Market in Portugal”, de Patrícia de Jesus Palma. Comportando quantidade de informações desconhecidas, pelo menos daqueles estudiosos que miram seu olhar míope no Brasil como cultura insular, o ensaio oferece uma análise perspicaz e crítica do mercado para livros brasileiros em Portugal durante a segunda metade do século XIX. O foco é a figura de Ernesto Chardron, livreiro francês radicado no Porto, cuja atuação, em parceria com Camilo Castelo Branco, ajuda a desvendar alguns segredos da intrincada relação de chamego e despeito que une Portugal e Brasil. O ensaio contribui, com muito, para uma compreensão transcultural do meio editorial oitocentista.
O capítulo 13, “Popular Editions and Best-sellers at the End of the Nineteenth Century in Brazil”, de Alessandra El Far, é mais um ensaio a cumprir de modo exemplar a função que deveria servir esse volume. Partindo de pesquisas divulgadas em seus trabalhos anteriores – em especial, Páginas de sensação (2004) –, a autora pinta um quadro sucinto e animado das edições populares, dos romances de sensação e dos romances para homens que constituíram filão importantíssimo do mercado editorial brasileiro entre as décadas de 1880 e 1890. Bem fundamentado e escrito com vivacidade, o texto oferece ao leitor estrangeiro um estudo autorizado da primeira modernização do público leitor e das editoras, desfazendo velhos lugares comuns e iluminando práticas sociais correntes.
O capítulo 14, “The Brazilian Publishing Industry at the Beginning of the Twentieth Century: the Path of Monteiro Lobato”, de Cilza Bignotto e Milena Ribeiro Martins, parte do pressuposto batido e errôneo, atribuído a Hallewell, de que Monteiro Lobato “revolucionou a indústria editorial então estagnada do país”9 Lida na sequência do ensaio anterior, essa afirmação soa quase cômica. Mais uma vez, fez falta uma revisão editorial que assegurasse maior harmonia entre as partes do livro. De resto, sem grandes novidades em relação à polpuda bibliografia existente, o ensaio oferece um resumo da atuação editorial de Monteiro Lobato, assim como sua formação intelectual, destacando seus elos com o mercado argentino. O discurso nacionalista do grande editor é tomado, de modo acrítico, como virtude. Não se oferece ao leitor estrangeiro uma janela, ao menos, para entrever o lado mais obscuro do polemista que se deixou associar ao Integralismo, ao antissemitismo e a outras causas menos do que nobres.
Com esse último capítulo, voltado umbilicalmente para certo ufanismo paulista, o livro reafirma os limites de sua capacidade de dimensionar para o público estrangeiro a história dos impressos no Brasil. O saldo são cinco ensaios sólidos de fundo geral e quatro estudos de caso excepcionais. Se os cinco ensaios restantes tivessem sido substituídos por outros que abarcassem as temáticas faltantes – em especial, questões ligadas a materialidade e tecnologias – e incluíssem pelo menos alguns dos muitos autores ignorados – em especial, os que atuam no Rio de Janeiro –, aí, sim, teríamos um livro que poderia redefinir o “estado da arte” do campo.
Notas
1. Disponível em: http://www.circulacaodosimpressos.iel.unicamp.br/index.php?cd=3&lang=pt
2. p. 5.
3. p.80-81.
4. p.155.
5. p.130.
6. p. 157.
7. p.153.
8. p. 182.
9. p.245.
Rafael Cardoso – É escritor e historiador da arte, PhD pelo Courtauld Institute of Art (Londres), professor colaborador do programa de pós-graduação do Instituto de Artes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Autor/organizador dos livros Impresso no Brasil, 1808-1930: Destaques da história gráfica no acervo da Biblioteca Nacional (Verso Brasil, 2009) e O design brasileiro antes do design: Aspectos sociais no Brasil, séculos XIX e XX.E-mail: rafaelcardoso.email@gmail.com
SILVA, Ana Cláudia Suriani da; VASCONCELOS, Sandra Guardini (Orgs.). Books and Periodicals in Brazil 1768-1930: a Transatlantic Perspective. Londres: Legenda; Modern Humanities Research Association and Maney Publishing, 2014. Resenha de: CARDOSO, Rafael. Impressões do Brasil. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, v.12, n.14, p. 153-160, jan./jun. 2016. Acessar publicação original [DR]
Livros e leituras na Espanha do Século de Ouro – CASTILLO (VH)
CASTILLO Gómez, Antonio. Livros e leituras na Espanha do Século de Ouro. Prefácio Marisa Midori Deaecto, tradução Claudio Giordano. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2014, 208 p. NEUMANN, Eduardo Santos. Varia História. Belo Horizonte, v. 32, no. 58, Jan./ Abr. 2016.
Enhorabuena, esta expressão tão castelhana – que felicita uma realização ou parabeniza um determinado feito -, sintetiza de maneira apropriada a publicação em língua portuguesa de mais um livro do historiador, especialista em cultura escrita, Antonio Castillo Gómez. Este é o primeiro livro de Castillo publicado no Brasil, apesar do autor já possuir diversos artigos e capítulos de livros em periódicos e obras coletivas editadas em nosso país.
Desde a conclusão de sua tese de doutorado, publicada em 1997, ele tem direcionado seus esforços para consolidar uma linha de pesquisa cuja atenção está voltada aos materiais escritos, particularmente aqueles produzidos na sociedade hispânica durante os séculos XVI e XVII. É nesse contexto, o Século de Ouro espanhol, que está situado este livro.
A seleção de textos reunidos nesta obra, uma compilação de trabalhos reelaborados e atualizados, são o resultado da trajetória de um pesquisador maduro e interessado em rastrear as distintas práticas da leitura apesar de suas pistas difusas, pois esta é uma atividade plural. É consenso entre os historiadores que o advento da Idade Moderna marca o ingresso definitivo da sociedade ocidental europeia nas práticas da comunicação letrada, período no qual é registrada uma ampliação das taxas de alfabetização e do número de livros impressos. Assim, as indagações do autor estão direcionadas às práticas de leitura na sociedade castelhana, com ênfase nas suas diferentes modalidades e experiências, seja a leitura erudita ou aquela praticada por pessoas comuns que mantinham contato esporádico com a cultura escrita, fosse através de uma gazeta, um panfleto ou mesmos as escritas expostas ou cartazes fixados nas portas das igrejas.
Afinal, no que consiste atualmente história da leitura? Para responder a esta indagação e necessário inseri-la na perspectiva da história social da cultura escrita. Quando surge este novo campo de estudo? Primeiro: trata-se de um termo recente, cunhado em meados dos anos 90, e designa um campo de investigação fértil, que tem conferido sinais de vitalidade à pesquisa histórica. A segunda consideração diz respeito a sua formulação. Sua gênese está relacionada a recuperação ou as reconsiderações em torno da leitura e principalmente da escrita como objeto de análise histórica, mudança iniciada nos anos 60. E a escrita e suas potencialidades tem em Armando Petrucci, paleógrafo italiano, o principal expoente dessa renovação. Ao propor uma “ciência da escrita” ele argumenta que os textos podem revelar além do seu conteúdo expresso, os valores e condutas de uma época. A partir da fusão de duas vertentes – no caso a história social da escrita e a história do livro e da leitura -, cuja reformulação permitiu uma renovação dos pressupostos teóricos e metodológicos que pautava tais temas, tais modificações conferiram ao estudo da escrita e da leitura um ponto de observação privilegiado para a compreensão das sociedades pretéritas.
O livro no seu conjunto está organizado em 6 partes. No primeiro capítulo, o autor aborda os diferentes significados da leitura na sociedade hispânica – o que se lia, como liam e as avaliações a respeito desse habito-, pois como registrou Miguel de Cervantes, através de seu imortal personagem, Dom Quixote, do qual se dizia que de “tanto ler secaria o cérebro”. No segundo dedica atenção a leitura erudita, a leitura por excelência nas avaliações mais tradicionais sobre o tema, e seu vínculo imediato com a escrita. O terceiro “Paixões solitárias”, apresenta um estudo sobre as práticas de leitura daqueles indivíduos privados de liberdade, que exatamente pela reclusão atrás das grades, buscavam na leitura um alento. No quarto capitulo “Ler em comunidade” trata das leituras femininas, particularmente aquelas realizadas por religiosas efetuadas em conventos, no caso a leitura de textos espirituais que tem nas monjas carmelitas descalças, seguidoras de Santa Teresa de Jesús, seu exemplo maior. Nos capítulos finais, Castillo dedica atenção a dois temas de sua predileção: as práticas leitoras cotidianas e o contato estabelecido com a leitura nas ruas, através de folhetos, avisos ou mesmo os pasquins infamantes. O último capítulo é dedicado ao contato com os livros e a leitura. Analisa como esta prática despertou em alguns o desejo de se converter também em autores, seja através da redação de diários ou de “autobiografias”, uma manifestação de uma memória pessoal.
Pelo exposto e evidente que diante da primazia da cultura letrada durante o Século de Ouro espanhol a leitura e a escrita promoveram transformações que afetaram tanto as formas de organização política como as relações sociais. Sem dúvida, a prática da escrita e da leitura foi mais acentuada nos espaços régios, nos círculos cortesãos, mas também estava presente nas oficinas dos artesãos e mesmo nas ruas. Em seus trabalhos o autor tem procurando descrever através da análise dos materiais escritos, tanto os permanentes ou efêmeros, os significados relacionados à presença da leitura e da escrita, indagando a respeito dos efeitos da alfabetização entre as camadas médias e subalternas.
Ao contemplar a atividade de leitores particularmente nos espaços urbanos Antonio Castillo centra atenção àqueles que ao transgrediram as normas vigentes, fizeram outros usos da leitura. Afinal, não saber ler não implicava obrigatoriamente estar excluído do mundo da cultura escrita, e muitos indivíduos ao compartilharem a leitura com os demais utilizaram-na para finalidades distintas. O foco são os outros leitores. As leituras realizadas pelos grupos menos favorecidos, que nos espaços públicos entram em contato com os textos lidos de forma coletiva, independente do fato de serem escutadas ou lidas, permitiram aos distintos públicos contato com os últimos acontecimentos ou mesmo o conteúdo das edições recentes.
No seu conjunto a análise morfológica dos produtos escritos, dos textos manuscritos, está voltada a reconstruir as possíveis conexões existentes entre as diferentes práticas letradas e seus contextos sociais de recepção. Esta é uma das particularidades presentes a história social da cultura escrita, ou seja, uma interpretação pautada em evidências, na constituição de um corpus documental.
Por suas inquietações Antonio Castillo Goméz não se rende às explicações simplistas a respeito dos recortes sociais em sociedades de Antigo Regime. Seu interesse são aqueles grupos cujas evidências de sua capacidade alfabética, apesar de mais esparsas, comprovam a abrangência social da leitura. E a escrita, apesar de suas implicações imediatas com o poder, nem sempre remete obrigatoriamente a uma leitura elitista da sociedade e seu estudo têm sinalizado outras indagações a respeito do consumo cultural. Enhorabuena, repito, os leitores brasileiros agora têm ao seu alcance este excelente conjunto de textos.
Eduardo Santos Neumann – Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rua Ivan Iglesias 184, Porto Alegre, RS, 91.210-340, Brasil eduardosneumann@gmail.com.
Repressão e Resistência. Censura e Livros na Ditadura Militar / Sandra Reimão
Desde a década de 1980, em que ocorreu a abertura política no Brasil, não se assistia a tão grande empenho em desvelar fatos relacionados ao período da ditadura militar brasileira, empenho que se verifica tanto em atos políticos deliberados (como a criação de uma Comissão da Verdade ou o acesso a documentos considerados sigilosos) quanto em estudos, acadêmicos ou não, voltados à compreensão e elucidação daquele conturbado período de nossa história recente.
Em Repressão e Resistência. Censura e Livros na Ditadura Militar, Sandra Reimão lembra que uma das primeiras ações dos regimes autoritários é, justamente, a censura da liberdade de expressão, por meio da repressão à imprensa, aos livros, aos meios de comunicação etc. Nesse sentido, a autora se propõe estudar a censura de livros de ficção brasileira durante do regime autoritário de 1964 a 1985, em especial aqueles cujos processos (atualmente no Arquivo Nacional de Brasília) ficaram sob a responsabilidade do Departamento de Censura e Diversões Públicas (DCDP), órgão vinculado ao Serviço de Censura e Diversões Públicas e ao Ministério da Justiça. Em relação ao conceito de censura, define a autora: “concebemos a censura como parte de um aparelho de coerção e repressão que, muito mais do que afetar a circulação de alguns bens culturais, restringia a produção e a circulação da cultura, implicando uma profunda mudança no exercício da cidadania e da cultura em geral” (p. 14).
A autora lembra que, antes do golpe de 1964, consolidou-se no Brasil uma “reflexão social de ideário esquerdista” (p. 19), presente em parte da produção artística e intelectual, manifestações que, num primeiro momento, foram relativamente preservadas pelos militares, permitindo, por exemplo, a publicação da revista Pif-Paf (1964, por Millôr Fernandes), dos livros O ato e o fato (1964, de Carlos Heitor Cony), Quarup (1964, por Antônio Callado), Senhor Embaixador (1968, por Érico Veríssimo) etc., embora alguns outros livros tenham sido apreendidos já naquele momento, sobretudo os que tratavam do próprio golpe militar, como Primeiro de abril (de Mário Lago), O golpe de abril (de Edmundo Muniz), História Militar do Brasil (de Nelson Werneck Sodré) e outros. Ações mais intensas e direcionadas foram, igualmente, perpetradas pelo poder constituído, ainda nessa primeira fase do golpe, como a perseguição ao editor Ênio Silveira, o expurgo de bibliotecas pelo Ministro da Educação Flávio Lacerda, a perseguição das obras de Nelson Rodrigues pelo Ministro da Justiça Carlos Medeiros Silva, uma série de atentados a editoras e livrarias (Editora Tempo Brasileiro, Editora Civilização Brasileira, Livraria Forense) etc.
Com a edição do Ato Institucional n. 5 (AI-5) pelo Presidente Costa e Silva, em dezembro de 1968, a censura se adensa, espalhando-se por todo o país e atingindo todos os meios de comunicação, mas, ao mesmo tempo, dando ensejo ao aparecimento de uma imprensa alternativa e, às vezes, clandestina (O Pasquim, Opinião).
Apesar da diferença de números entre pesquisadores do assunto (Zuenir Ventura fala em 200 livros; Deonísio da Silva fala em 430 livros), a censura à produção editorial no período da ditatura foi intensa, atingindo inclusive a publicação de peças de teatro (Guilherme Figueiredo, Oduvaldo Vianna Filho, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos etc.), filmes (Macunaíma, São Bernardo, Toda nudez será castigada etc.), livros teóricos (Caio Prado Júnior, Darcy Ribeiro, Guilhon Albuquerque, Rose Marie Muraro etc.) ou considerados pornográficos (Cassandra Rios, Adelaide Carraro, Márcia Fagundes Varella, Brigitte Bijou etc.).
Objeto de estudo da autora, os livros de ficção censurados, que constam nos arquivos do DCDP, são Quatro contos de pavor e alguns poemas desesperados (Álvaro Alves de Faria), Dez histórias imorais (Aguinaldo Silva), Meu companheiro querido (Alex Polari), Zero (Ignácio de Loyola Brandão), Em câmara lenta (Renato Tapajós), Aracelli, meu amor (José Louzeiro), Feliz ano novo (Rubem Fonseca), Diários de André (Brasigóis Felício) e os contos “Mister Curitiba” (Dalton Trevisan) e “O cobrador” (Rubem Fonseca), obras bastante diferentes, mas cujo tema comum a quase todas é a violência física e psicológica.
Tratando, em especial, do livro Feliz ano novo (1975, de Rubem Fonseca) e Zero (1976, de Ignácio de Loyola Brandão) – publicados num período (década de 1970) em que, segundo a autora, “a literatura tornou-se um centro de atenções” (p. 62) da ditadura militar -, Sandra Reimão afirma tratar-se de obras que têm no tema da violência um de seus assuntos principais. Sobre o livro de Aguinaldo Silva (Dez histórias imorais), afirma ter sido censurado quase dez anos após sua publicação, muito provavelmente em razão de sua militância contra o regime autoritário (trabalhou nos jornais Opinião e Movimento, ambos periódicos de resistência à ditadura) e em favor dos direitos dos homossexuais (foi, ao lado de outros escritores e intelectuais, fundador do jornal O Lampião, órgão da imprensa pioneiro nesse tema). Em relação ao livro Em câmara lenta (1977), de Renato Tapajós, a autora afirma ter sido um “caso único de autor preso durante a ditadura militar por causa do conteúdo de um livro” (p. 89), sendo, além disso, “o primeiro livro de memórias de ex-militantes políticos da década de 1960” (p. 91), a que se seguiram Os carbonários (Alfredo Sirkis) e O que é isso companheiro? (Fernando Gabeira). A autora trata, finalmente, dos dois contos censurados de, respectivamente, Dalton Trevisan e Rubem Fonseca (ambos publicados na revista erótica Status, em 1978), tendo sido, ambos, no ano seguinte à censura, publicados em livro, sem contudo sofrerem censura desta vez.
Como conclusão, a autora chega a três constatações gerais: primeiro, a de que toda coação é temporária e limitada; segundo, a de que o ato censório é uma violência à própria cidadania, ultrapassando os limites da circulação de bens culturais; terceiro, a de que há quase sempre um grande número de ações de resistência à censura aos livros, da parte de editores, escritores, leitores etc.
O livro traz ainda alguns anexos: leis e pareceres, lista de livros censurados etc., o que, no conjunto, faz dele uma referência para os estudos sobre o tema e uma leitura necessária aos pesquisadores da censura cultural no Brasil do século passado.
Maurício Silva –Doutor pela Universidade de São Paulo (USP) e professor da Universidade Nove de Julho (SP).
REIMÃO, Sandra. Repressão e Resistência. Censura e Livros na Ditadura Militar. São Paulo, Editora da USP/FAPESP, 2011. Resenha de: SILVA, Maurício. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.24, p.195-197, jan./jul., 2014. Acessar publicação original. [IF].
Cómo hablar de los libros que no se han leído | Pierre Bayard
Pierre Bayard, profesor de Literatura francesa en la Universidad de París VIII y psicoanalista, nos entrega un particular ensayo bajo el título Cómo hablar de los libros que no se han leído, el cual puede sacar más de alguna mirada de extrañeza. El título – ciertamente, muy sugerente -resulta ser solo un estímulo hacia la lectura de una reflexión acerca de la percepción que tenemos socioculturalmente de la lectura y de todas las premisas y tabúes que nos asedian al momento de referirnos a tal o cual libro. Es precisamente ahí donde ahonda Bayard: en la relación que establecemos como individuos frente a los libros y cómo socialmente aceptamos tales relaciones.
El autor divide pequeños ensayos en tres grupos que confluyen linealmente en un gran ensayo que es la obra en cuestión: “Maneras de no leer”, “Situaciones de discurso” y “Conductas que conviene adoptar”. En el primer grupo, encontramos una tipología de lo que denomina “no-lectura”, en donde de clasifica gradualmente el nivel de conocimiento que tiene una persona con respecto a una obra en particular; así encontramos “los libros que no se conocen”, “los libros que se han ojeado”, “los libros de los que se ha oído hablar” y “los libros que se han olvidado”. En el segundo grupo, se presentan las situaciones en las cuales nos podemos ver obligados a hablar de libros que no hemos leído o, mejor dicho, de los que hemos hecho una no-lectura: “en la vida mundana”, “frente a un profesor”, “ante el escritor” y “con el ser amado”. Finalmente, en el tercer grupo engloba, a modo de consejo, la actitud que debemos adoptar frente a la inevitable situación de tener que referirse a un texto no-leído: “no tener vergüenza”, “imponer nuestras ideas”, “inventar los libros” y “hablar sobre uno mismo”. Leia Mais
A história ou a leitura do tempo | Roger Chartier
Mais um livro do professor Roger Chartier disponível para o público brasileiro. Na Nota Prévia da edição, consta que o título é “o décimo que publico em Português”, em que o autor admite recordar as mutações da História desde quando, em 1988, publicara A História Cultural entre Práticas e Representações. O presente livro é tradução de La Historia o la lectura del tiempo, publicado na Espanha em 2007, encomenda da editora Gedisa por ocasião do aniversário de 30 anos de criação da maison d’édition. Segundo o professor Chartier, A história ou a leitura do tempo lhe permite continuar as reflexões de A beira da Falésia, de 2002, quando então discorria sobre algo que, segundo ele, “obcecava os historiadores”: uma “crise da história”, suposta ou não. Leia Mais
Leituras e Leitores na França do Antigo Regime – CHARTIER (PH)
CHARTIER, Roger. Leituras e Leitores na França do Antigo Regime. São Paulo: Editora Unesp, 2004. Resenha de: BOBEK, João Vinícius. Distinção e divulgação: a civilidade e seus livros. Projeto História n. 41. 650 Dezembro de 2010.
Chartier historiador francês vinculado à atual historiografia da Escola de Annales, onde trabalha sobre a história do livro, da edição e da leitura, e que nesta obra apresenta oito ensaios que constituem uma história cultural em busca de textos, crenças e gestos aptos a caracterizar a cultura popular tal como ela existia na sociedade francesa entre a Idade Média e a Revolução Francesa. O intelectual francês mostra que a cultura escrita influencia mesmo aqueles que não produzem ou lêem textos, mas interagem com eles.
Ao revisitar a chamada Biblioteca Azul, coleção de livros acessíveis vendidos por ambulantes (romances de cavalaria, contos de fada, livros de devoção), além de documentos próprios da chamada “religião popular” e textos sobre temas que se dirigem a um público geral, como a cultura folclórica, o autor enfoca as tênues fronteiras entre a chamada cultura erudita e a popular e mostra como se ligam duas histórias: da leitura e dos objetos de leitura.
Assim sendo Chartier reforça o plural do plural “civilidades”, que remete aos usos e intercâmbios de um código de polidez reconhecido por uma sociedade distinta, fazendo menção a Erasmo que rejeita os modelos aristocráticos da época pregando que a civilidade deveria ser uma instrução de um grupo moralizadora, determinado, e deveria começar pelas crianças fazendo do aprendizado escolar a primeira instrução. O autor também indica sempre citando autores como Courtin, que a civilidade pode ser uma virtude cristã, a caridade, pois deve ser uma questão de cada um, diferenciando o Homem do Animal, distinguido na sua execução em tantos comportamentos convenientes a cada estado ou situação. A partir desses conceitos a partir do século XVII, a noção de civilidade ganha um sentido ambíguo, pois sua função é designar a conduta histórica dos príncipes de tragédia, pois segundo Toussaint, a civilidade torna-se “um cerimonial de convenção”, dando origem a uma polidez devida aos príncipes, sendo muitas vezes uma aparência ou uma máscara que disfarça e engana. Assim nesse contexto, o conceito de civilidade está situado no próprio centro da tensão entre o parecer e o ser que define a sensibilidade e a etiqueta barroca.
Sendo Roger Chartier discípulo da Escola de Annales1 percebe-se no texto um intercâmbio entre a História Cultural e a Antropologia, pois ele menciona Jean-Baptiste de La Salle para citar que este pensador abrange a civilidade como honestidade e piedade como conveniência social. Portanto nessa teoria a civilidade se afasta do uso aristocrático para constituir-se num controle permanente e geral se todas as condutas, sendo um modelo eficaz de comportamento das elites nas camadas inferiores. A partir do século XVIII, a noção de civilidade conhece um duplo e contraditório destino, segundo Chartier. Ela permite aos humildes compreender o código de comportamentos, sendo que ensinada ao povo, a polidez se vê ao mesmo tempo desvalorizada aos olhos da elite que a partir daí não exige nenhuma autenticidade de sentimento, sanciona a ruptura admitida e contraditória.
História, Historiadores, Historiografia. 651 Para Jacourt a civilidade foi imposta a inúmeros indivíduos e por isso perdeu seu valor de distinção, considerando que foi colocada a maioria e se tornou uma norma para as condutas populares.
Para fundar uma civilidade republicana, o articulista, juntamente com outros pensadores sugerem uma ruptura radical com a educação tradicional, já que a repetição dos gestos considerados convenientes é idealmente substituída pela aprendizagem de virtudes que conseguirão sempre expressar-se numa linguagem moral resultando numa instrução moral. Para o autor as novas obrigações dessa civilidade republicana não devem se regulamentar-se pelas diferenças de condição ou posição, pois se apoia na liberdade, conforme a igualdade, a civilidade refundida deve reconciliar enfim as qualidades da alma e as aparências exteriores, sendo nítida a recusa das formalidades antigas, pois essa abdicação à etiqueta tradicional encontrase manifesta na esfera política.
Finalizando esse capítulo de sua obra, que deixa claro os conceitos de polidez e civilidade, Chartier, deixa evidente que a partir do século XIX, a civilidade pode ser definida como um conjunto de regras que tornam agradáveis e fáceis às relações dos homens entre si, podendo ser entendida como um código de boas maneiras necessárias na sociedade, sendo fixada por todo esse século, a identificação da civilidade com a conveniência burguesa.
Conclui então que entre os séculos XVI e XIX, a noção de civilidade sofre mudanças e apanha um enfraquecimento, portanto apesar das tentativas de reformulá-la, a noção perde um pouco da teoria ético-cristã para significar apenas a aprendizagem das maneiras convenientes na vida das relações da sociedade, que questionando a diferença entre cultura popular e erudita e a definição de popular simplesmente como oposição à cultura erudita, Roger discute como diversos textos franceses desses séculos atravessam as fronteiras sociais entre clero, nobreza e Terceiro Estado. O historiador francês mostra assim a influência exercida pelo texto escrito mesmo entre os que não estão familiarizados com o livro e reconstitui em sua complexidade a comunicação cultural entre os homens do Antigo Regime.
Projeto História nº 41. 652 Dezembro de 2010 Sendo assim, através dessa leitura é possível trabalhar com os discursos historiográficos, realizando uma análise da passagem da leitura extensiva à intensiva, para assim poder abordar com destaque os aspectos da leitura como formação da identidade cultural intelectual francesa, para futuramente abordar tópicos sociais do Antigo Regime.
Nota
1 Incorpora métodos das Ciências Sociais à História. Encontramos neste movimento, certa unidade em sua composição, mas não uma homogeneidade. Sendo como um conjunto de estratégias, uma nova sensibilidade, uma atividade que de fato mostra-se pouco preocupada com definições teóricas.
João Vinícius Bobek – Licenciado em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). E-mail: jotavini@gmail.com.
The case for books: past, present and future – DARNTON (RBH)
DARNTON, Robert. The case for books: past, present and future. New York: Public Affairs, 2009. 240p. Resenha de: ARAÚJO, André de Melo. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30, n.59, jun. 2010.
Com base nas correspondências trocadas entre editores, filósofos escritores e livreiros, como também nos contratos de concessão de direitos de impressão e comercialização da Encyclopédie, Robert Darnton identifica, em O Iluminismo como negócio (1979), conflitos editoriais e manobras lucrativas no mercado da cultura letrada setecentista. Trinta anos após a primeira edição desse estudo, e ainda tendo em vista os mecanismos de controle da produção e circulação do conhecimento impresso, Darnton apresenta em The case for books (2009) divergências desafiadoras e identidades lúcidas entre os (quase) dois séculos e meio que separam a França pré-revolucionária do final da primeira década do século XXI.
A identidade temática entre as duas obras se mostra presente já na recomposição atual da frase de abertura do texto de 1979. Em O Iluminismo como negócio Darnton expõe o resultado de suas pesquisas como “a book about a book”. Em The case for books, o historiador reexplora sua fórmula consagrada ao publicar um livro sobre livros: “this is a book about books” (p.vii). No plural, o autor inscreve a primeira situação divergente. Em 1979, Darnton estuda a história da publicação de um único livro, a Encyclopédie. Trinta anos depois, e já com a experiência de pouco mais de dois anos como diretor da rede de bibliotecas da Universidade Harvard, Darnton identifica no cargo que assumiu em junho de 2007 “uma oportunidade para fazer alguma coisa sobre as questões que … havia estudado como fenômeno histórico” (p.ix).1
E tais questões eram prementes: “assim que me transferi para o novo escritório, descobri que a Biblioteca de Harvard estava envolvida em conversas secretas com o Google sobre um projeto que tirou meu fôlego”, relata Darnton. “O Google planejava digitalizar milhões de livros, começando com o acervo de Harvard e de mais outras três bibliotecas universitárias, e comercializar as cópias digitais…” (p.ix). O projeto de comercialização de milhões de livros em formato digital faz o historiador relembrar os traités que lera ao estudar o grande negócio do Iluminismo e identificar a forma necessariamente plural do seu novo ponto de partida. Com base no grande volume de livros já digitalizados, Darnton resolve refletir principalmente sobre o papel das bibliotecas de pesquisa e seus possíveis caminhos na era do conhecimento armazenado em memórias de silício.
The case for books é uma coletânea de onze textos, publicados entre 1982 e 2009, dividida em três partes editadas nesta ordem: futuro, presente e passado. No título do livro, Darnton não só sugere a forma tradicional de se armazenar livros em uma estante – a book case -, como também faz ecoar por meio da assonância entre os termos four [quatro] e for [para] o núcleo da fantasia futurística de Louis Sébastien Mercier, conhecida desde 1771 e segundo a qual o volumoso conhecimento impresso seria coisa do passado. A verdade do futuro caberia em quatro estantes, “into the four bookcases” (p.44). Assim, Darnton parte do futuro do passado para fazer um alerta quanto ao presente do futuro: “Nós poderíamos ter criado uma Biblioteca Nacional digital – o equivalente, no século XXI, à Biblioteca de Alexandria. Já é tarde. Não somente fracassamos em conceber tal possibilidade, quanto, o que é pior, estamos permitindo que uma questão de política pública – o controle do acesso à informação – seja determinada por processo judicial de caráter privado [private lawsuit]” (p.17). Aqui resumo três preocupações centrais de Darnton quanto ao futuro.
1) Ao estudar a cultura letrada do século XVIII, o historiador localizava, a partir do caso francês, um projeto de abertura e divulgação do conhecimento que era, em princípio, universalista. No entanto, o projeto iluminista restringia paradoxalmente o seu universalismo à população economicamente favorecida. O primeiro alerta de Darnton quanto ao futuro diz respeito ao acesso pago às redes de conhecimento, controladas, por sua vez, por um monopólio privado. É certo que Darnton fala tanto do Google quanto de projetos de digitalização de acervos com bastante entusiasmo. Sua preocupação recai, no entanto, sobre o que ele chama de “tendências monopolistas” (p.33).
2) O autor insiste na presença mais ativa das instituições públicas nas decisões políticas de acesso ao conhecimento: “Sim, temos que digitalizar. Mas mais importante: temos que democratizar. Temos de abrir acesso à nossa herança cultural. Como? Reescrevendo as regras do jogo, subordinando interesses privados ao bem público…” (p.13). Desse modo, Darnton propõe a união das bibliotecas no futuro em nome do projeto de uma grande biblioteca pública digital (p.57): “Abertura, livre acesso [openness], é o princípio-guia que procuraremos seguir para adaptar as bibliotecas às condições do século XXI” (p.50).
3) Ao enfatizar o alto preço que as bibliotecas hoje já pagam para manter em dia seus acervos com periódicos, Darnton se preocupa com o comprometimento do orçamento das bibliotecas de pesquisa com as altas taxas de acesso aos acervos digitais, baseados originalmente em acervos públicos. Como consequência, as bibliotecas do futuro teriam de adquirir menos livros (p.18-19)!
Dessas três preocupações centrais decorrem ainda outros problemas estruturais. A instabilidade da informação, tal como Darnton a define (p.23), requer a possibilidade de exploração das mínimas variações no mundo das ideias: várias cópias de um mesmo título – algo que se pode deixar de lado para que o mundo digital se resuma em quatro estantes – podem apresentar dissonâncias reveladoras da cultura letrada (p.29-31). Historiador de profissão, o novo bibliotecário desconfia da eficácia do sistema de preservação de acervos digitais: a materialidade temporária – ou quase “imaterialidade” – dos livros nascidos em formato digital pode se dissipar no espaço cibernético (p.37). Darnton ainda amplia o alerta ao mencionar a fragilidade do registro das comunicações no mundo contemporâneo (p.53). Sua tônica incide principalmente sobre a necessidade de discutir as políticas públicas de preservação de acervos e de controle dos canais de divulgação do conhecimento. E esse é o motivo pelo qual a responsabilidade das bibliotecas aumenta na era digital, não apenas por terem em vista o ideal de livre acesso a fontes de pesquisa, mas também por se verem responsáveis por preservar o passado do futuro. O pressuposto de todo historiador é bem conhecido: se o presente não deixar rastros para o futuro, ele jamais poderá ser passado.
Algumas das preocupações de Darnton quanto ao futuro se repetem na segunda parte do texto, ou seja, no presente. As repetições dos argumentos, quando não dos próprios exemplos, marcam a leitura dessa coletânea de textos em que se procura destruir o mito de que o futuro eletrônico coloca em risco a tradição dos livros impressos (p.67). De forma a explorar a convivência da tinta sobre papel com as tecnologias da informação eletrônica no mundo contemporâneo (p.77), The case for books foi lançado simultaneamente tanto como livro eletrônico (e-book), quanto no formato tradicional do códice impresso.
No último capítulo, ou seja, na parte que diz respeito mais diretamente ao passado, Darnton reedita seu estudo clássico de 1982 sobre a história dos livros, já disponível ao público brasileiro há duas décadas em O beijo de Lamourette. Nesse texto, discute como as formas de transporte e de comunicação influenciaram decisivamente a história da literatura (p.199). Ao revisar recentemente o artigo de 1982, Darnton insiste no caráter material do objeto chamado livro,2 e tal insistência se faz mais uma vez presente em The case for books. Familiarizado com o mundo em que as notícias se viam atreladas à forma em papel (p.109), Darnton aponta a importância para o historiador do contato material com as suas fontes de pesquisa: a cor, o tamanho das páginas (p.125), até mesmo a experiência de passá-las uma a uma fazem parte do estudo das práticas de leitura.
E como Darnton insiste em buscar uma saída conciliatória entre a forma impressa e a forma eletrônica para o passado, para o presente e para o futuro dos livros – ao dar provas de que o historiador não se ocupa apenas do passado -, também prefiro aqui esboçar um caminho conciliador das duas atividades profissionais de Robert Darnton, historiador do Iluminismo francês e diretor da rede de bibliotecas da Universidade Harvard. Parto do núcleo deflagrador das divergências – entre o passado e o futuro – que desafiam o presente e a partir do qual Darnton procura com lucidez indicar, em The case for books, algumas identidades.
O projeto de digitalização – e comercialização – de milhões de livros, tal como Darnton o descobriu em seu novo escritório em Harvard, relembra o modelo econômico e epistemológico de filiação iluminista, para o qual The case for books oferece uma resposta cética e um desafio. No plano epistemológico, o modelo das Luzes procura ordenar e encadear o conhecimento dos homens – tal como D’Alembert propunha no discurso preliminar da Encyclopédie, em 1751 – ou ainda reunir o conhecimento disseminado na face da Terra, como Diderot sugere no quinto tomo da mesma obra. Aqui atua o ceticismo de Darnton, ao apontar lacunas e fragilidades em projetos de caráter supostamente totalizante. No caso dos acervos digitais, páginas incompletas e ausência potencial de variantes são índices claros de tal fragilidade.
Do ponto de vista econômico, a promessa de acesso a volumes compactos da cultura escrita mais uma vez se mostra como um grande negócio. Mas eis que o desafio proposto por Darnton procura renovar, no século XXI, os termos da utopia setecentista, segundo a qual uma grande biblioteca pública digital asseguraria o acesso universal ao conhecimento. Ou seja, se por um lado as reflexões publicadas em The case for books ensaiam a crítica ao projeto das Luzes, ao identificar com lucidez semelhanças entre os interesses de mercado dos grandes negócios do passado e do futuro, bem como entre as formas de privilégio de acesso à cultura escrita, por outro, Darnton procura ampliar o mesmo projeto que havia estudado como fenômeno histórico, na medida em que aposta na redefinição dos mecanismos de acesso universal ao conhecimento letrado. Em The case for books, o futuro do presente é uma aposta ao fracasso do universalismo do passado.
Notas
1 As traduções do texto de Robert Darnton foram feitas pelo autor da resenha, o qual agradece ao prof. dr. Luiz Sávio de Almeida a leitura crítica de todo este texto.
2 Cf. DARNTON, Robert. “What is the history of books?” Revisited. Modern Intellectual History , Cambridge: Cambridge University Press, v.4, Issue 3, p.495-508, 2007. [ Links ]
André de Melo Araújo – Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI). Institute for Advanced Study in the Humanities, Goethestr. 3145128 Essen Germany. E-mail: andre_meloaraujo@yahoo.com.br.
[IF]Os 100 Livros que mais influenciaram a humanidade: a história do pensamento dos tempos antigos à atualidade | Martin Seymour-Smith
Este livro é um bom exemplo de uma excelente idéia mal executada. Não me refiro a inadequações editoriais meramente, como o Sefiroth impropriamente impresso no comentário acerca dos Anais de Tácito (p. 152), que, suponho, não é um texto cabalístico (o Sefiroth aparece depois novamente, mas em lugar adequado, na p. 206), mas erros do autor na tentativa de executar a idéia proposta pela editora. Não se pode questionar a validade da idéia. Eu mesmo muitas vezes tive a iniciativa de listar os livros mais importantes de alguma área ou sobre algum assunto. Importa, no entanto, avaliar a execução da idéia, e é aí que os problemas começam a surgir.
Seymour-Smith privilegia obras da tradição filosófica, em detrimento de outras áreas como a literatura e as ciências humanas. Seu livro chega às vezes a se parecer com um compêndio de filosofia qualquer, até porque o autor, cometendo um erro grave, “força a barra” e considera, por exemplo, as obras completas de Aristóteles como um único livro, e depois faz o mesmo em relação a Leibniz. Assim, a dificuldade de escolher as cem obras mais influentes se esvazia inteiramente, e caminha-se em direção da escolha dos cem autores mais influentes, o que é outro projeto, bem mais comum e mais fácil, diga-se de passagem. Leia Mais
A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XVI e XVIII | Roger Chartier
Resenhista
Rosilene Alves de Melo
Referências desta Resenha
CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XVI e XVIII. Brasília: Editora da UnB, 1994. Resenha de: MELO, Rosilene Alves de. História da leitura, leituras da História: o livro e os leitores na Idade Moderna. SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, n. 2, p. 233-238, jul./dez. 1996.


