Posts com a Tag ‘Liberdade’
Em Busca da Liberdade: Memória do Movimento Feminino pela Anistia em Sergipe (1975-1979) | Maria Aline Matos de Oliveira
Maria Aline Matos de Oliveira com os seus pais | Foto: Davi Villa / Segrase
“… por cima do medo, a coragem”.
Zelita Correia (In: OLIVEIRA, 2021: p. 210).
A pesquisadora e professora Maria Aline Matos de Oliveira oferece, ao público leitor, com a transformação da dissertação de mestrado em História em livro, um dos capítulos mais importantes da resistência democrática contra o autoritarismo da ditadura empresarial-militar no Brasil (1964-1985), ao reconstruir o protagonismo das mulheres na organização a trajetória da luta pela anistia em Sergipe, que galvanizou amplos setores da sociedade civil.
Como produto do processo de consolidação do curso de pós-graduação em História, da Universidade Federal de Sergipe, sua pesquisa busca reconstruir, a partir da metodologia da história oral, histórias e versões de segmentos populacionais antes silenciados pela historiografia brasileira, como é caso da luta das mulheres na resistência às ditaduras no Cone Sul. Além das entrevistas realizadas, a pesquisadora utilizou fontes jornalísticas, relatos memorialistas e a documentação dos acervos do Memorial da Anistia, do Brasil Nunca Mais e da Comissão Estadual da Verdade “Paulo Barbosa de Araújo” (Sergipe). Leia Mais
Banzo | Roger Silva, Marcela Bonfim, Nego Júnior Wilson Smith, Felipe Santos e Pedro Paulo.
[Banzo] | Foto: Divulgação/TNH1
Narra a mitologia romana (e a Wikipédia) que na região que hoje é a Itália, havia um homem que tinha trazido riqueza e prosperidade a partir da agricultura e do comércio. Janus era um homem de fisionomia curiosa, pois em sua única cabeça habitavam duas faces, cada uma olhando para lados opostos. Não tardou muito e os romanos logo o alçaram a categoria de deus, impondo a ele diversas manifestações, sendo a mais conhecida a sua relação com as mudanças e transições.
Por ser comumente reproduzido como um homem cuja cabeça tem duas faces em direções opostas, seu poder serviu de alegoria para diversas representações, sendo uma de interesse aqui: a questão do resguardo, enquanto sentinela, de alguma porta ou passagem, em especial a que liga o passado ao futuro e vice-versa. Leia Mais
Na contramão da liberdade: A guinada autoritária nas democracias contemporâneas | Timotht Snyder
O livro Na contramão da liberdade: a guinada autoritária nas democracias contemporâneas, do historiador norte-americano Timothy Snyder, chega em momento oportuno para ampla parcela do público brasileiro. Compreender a onda autoritária que se fortalece em âmbito global e que atualmente governa este país, tem chamado a atenção de muitos leitores. A obra, publicada originalmente em inglês em 2018, insere-se num filão editorial composto por obras como O povo contra a Democracia (Companhia das Letras, 2019), de Yascha Mounk, Como a Democracia chega ao fim (Todavia, 2018), de David Runciman, e Como as democracias morrem (Zahar, 2018), de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt; livros agrupados por alguns analistas em categorias como “biblioteca da ansiedade” ou “bibliografia do fim do mundo”.1 Tais nomes poderiam sugerir exagero ou alarme falso, o que desconsideraria a urgência das questões tratadas em tais livros. Afinal, o perigo é real, inadiável. Basta considerar a erosão de nossas instituições democráticas nos últimos tempos. Os leitores brasileiros da referida obra poderiam, desse modo, beneficiar-se muito das considerações de Snyder acerca de processos históricos que, se não nos governam por inteiro, certamente mantêm relações com nossas instituições e vida política. Seu livro fornece tanto elementos para uma melhor compreensão da difusão recente do autoritarismo em várias partes do mundo, quanto possíveis caminhos para se contrapor a ele. Neste último caso, talvez valha a pena discutir tal obra a partir de alguns aspectos do fortalecimento de um movimento autoritário no Brasil e de suas especificidades, de maneira a evitar sua diluição completa no fenômeno abordado pelo livro, bem como a tomada das mesmas vias propostas pelo autor para a manutenção ou o revigoramento da democracia. Leia Mais
As ações de liberdade no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro no período entre 1871 e 1888 | Carlos Henrique Antunes da Silva
Muito se discute atualmente sobre o papel do Poder Judiciário no Brasil. Em fins do século XIX, permearam as instâncias e as decisões judiciais ações cíveis cujo objeto era a liberdade de escravos. Sem os meios de comunicação de que hoje dispomos, ainda assim parte da sociedade estava atenta ao assunto. Para além da opinião pública e dos movimentos sociais de então, o trabalho que temos em mãos tem como ponto de partida um elemento bastante presente nas fontes utilizadas para o estudo da escravidão, mas nem sempre em evidência nas investigações relacionadas ao tema: o Estado. De que modo os agentes atuantes na estrutura judiciária do Império lidaram com os processos impetrados pela liberdade de homens e mulheres na condição de escravos? Que instrumental advogados e desembargadores operaram em suas argumentações e decisões?
O livro que nos coloca essas e outras questões é resultado de uma pesquisa de mestrado em História defendida na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em 2015. Seu autor, Carlos Henrique Antunes da Silva, é formado em Direito, História e Filosofia, adentrando também a Sociologia do Direito neste estudo. O referencial teórico adotado por ele está na obra do sociólogo Pierre Bourdieu, em sua reflexão sobre as representações e relações simbólicas de poder. A noção “campo jurídico”, particularmente, busca dar a ver o movimento de definição do Poder Judiciário durante o Brasil Império, sem deixar de lado as especificidades da época, como a vigência da escravidão de africanos e descendentes. Leia Mais
Civilização, tronco de escravos | Maria Lacerda de Moura e Patrícia Lessa e Cláudia Maia
Maria Lacerda de Moura | Arte: Andreia Freire/Reprodução/Revista Cult
 Chamamos de visionárias e dizemos que estavam à frente de seu tempo àquelas que, atentas às questões da sua época, teciam críticas que nos servem dezenas ou mesmo centenas de anos depois. Entretanto, trata-se, muitas vezes, de pessoas que souberam analisar tão bem o presente que nele captaram as centelhas que acendem outros fogos no futuro. Assim é a obra de Maria Lacerda de Moura (1887-1945) e é assim que recebemos a nova edição lançada pela editora Entremares da obra Civilização, Tronco de Escravos, organizada pelas pesquisadoras e professoras Patrícia Lessa e Cláudia Maia, ambas historiadoras com amplas pesquisas relacionadas às lutas das mulheres e com trabalhos já desenvolvidos sobre a anarquista brasileira.
Chamamos de visionárias e dizemos que estavam à frente de seu tempo àquelas que, atentas às questões da sua época, teciam críticas que nos servem dezenas ou mesmo centenas de anos depois. Entretanto, trata-se, muitas vezes, de pessoas que souberam analisar tão bem o presente que nele captaram as centelhas que acendem outros fogos no futuro. Assim é a obra de Maria Lacerda de Moura (1887-1945) e é assim que recebemos a nova edição lançada pela editora Entremares da obra Civilização, Tronco de Escravos, organizada pelas pesquisadoras e professoras Patrícia Lessa e Cláudia Maia, ambas historiadoras com amplas pesquisas relacionadas às lutas das mulheres e com trabalhos já desenvolvidos sobre a anarquista brasileira.
A editora Entremares, cuja trajetória se iniciou no ano de 2017, não é uma editora que circula em grandes livrarias, e tem feito um ótimo trabalho de resgate de obras do passado ao passo que também traz publicações recentes de autores libertários. Civilização, tronco de escravos é a segunda obra de Maria Lacerda de Moura lançada pela editora, que também já publicou uma nova edição de Fascismo: filho dileto da Igreja e do Capital (2018) e recentemente lançou a obra Amor & Libertação em Maria Lacerda de Moura (2020), de Patrícia Lessa. Civilização… integra a Coleção Astrolábio da editora, que tem como objetivo trazer a filosofia e o pensamento crítico como instrumentos para navegar na busca de “outros olhares, outra moral, outros horizontes”. Leia Mais
As ações de liberdade no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro no período entre 1871 e 1888 | Carlos Henrique Antunes da Silva
Primeira sede da Relação do Rio de Janeiro, prédio que abrigava a cadeia e o Senado | Imagem: Migalhas.com
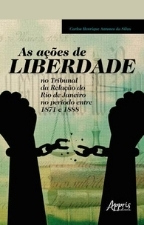 Muito se discute atualmente sobre o papel do Poder Judiciário no Brasil. Em fins do século XIX, permearam as instâncias e as decisões judiciais ações cíveis cujo objeto era a liberdade de escravos. Sem os meios de comunicação de que hoje dispomos, ainda assim parte da sociedade estava atenta ao assunto. Para além da opinião pública e dos movimentos sociais de então, o trabalho que temos em mãos tem como ponto de partida um elemento bastante presente nas fontes utilizadas para o estudo da escravidão, mas nem sempre em evidência nas investigações relacionadas ao tema: o Estado. De que modo os agentes atuantes na estrutura judiciária do Império lidaram com os processos impetrados pela liberdade de homens e mulheres na condição de escravos? Que instrumental advogados e desembargadores operaram em suas argumentações e decisões?
Muito se discute atualmente sobre o papel do Poder Judiciário no Brasil. Em fins do século XIX, permearam as instâncias e as decisões judiciais ações cíveis cujo objeto era a liberdade de escravos. Sem os meios de comunicação de que hoje dispomos, ainda assim parte da sociedade estava atenta ao assunto. Para além da opinião pública e dos movimentos sociais de então, o trabalho que temos em mãos tem como ponto de partida um elemento bastante presente nas fontes utilizadas para o estudo da escravidão, mas nem sempre em evidência nas investigações relacionadas ao tema: o Estado. De que modo os agentes atuantes na estrutura judiciária do Império lidaram com os processos impetrados pela liberdade de homens e mulheres na condição de escravos? Que instrumental advogados e desembargadores operaram em suas argumentações e decisões?
O livro que nos coloca essas e outras questões é resultado de uma pesquisa de mestrado em História defendida na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em 2015. Seu autor, Carlos Henrique Antunes da Silva, é formado em Direito, História e Filosofia, adentrando também a Sociologia do Direito neste estudo. O referencial teórico adotado por ele está na obra do sociólogo Pierre Bourdieu, em sua reflexão sobre as representações e relações simbólicas de poder. A noção “campo jurídico”, particularmente, busca dar a ver o movimento de definição do Poder Judiciário durante o Brasil Império, sem deixar de lado as especificidades da época, como a vigência da escravidão de africanos e descendentes. Leia Mais
As ações de liberdade no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro no período entre 1871 e 1888 | Carlos Henrique Antunes da Silva
Muito se discute atualmente sobre o papel do Poder Judiciário no Brasil. Em fins do século XIX, permearam as instâncias e as decisões judiciais ações cíveis cujo objeto era a liberdade de escravos. Sem os meios de comunicação de que hoje dispomos, ainda assim parte da sociedade estava atenta ao assunto. Para além da opinião pública e dos movimentos sociais de então, o trabalho que temos em mãos tem como ponto de partida um elemento bastante presente nas fontes utilizadas para o estudo da escravidão, mas nem sempre em evidência nas investigações relacionadas ao tema: o Estado. De que modo os agentes atuantes na estrutura judiciária do Império lidaram com os processos impetrados pela liberdade de homens e mulheres na condição de escravos? Que instrumental advogados e desembargadores operaram em suas argumentações e decisões?
O livro que nos coloca essas e outras questões é resultado de uma pesquisa de mestrado em História defendida na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em 2015. Seu autor, Carlos Henrique Antunes da Silva, é formado em Direito, História e Filosofia, adentrando também a Sociologia do Direito neste estudo. O referencial teórico adotado por ele está na obra do sociólogo Pierre Bourdieu, em sua reflexão sobre as representações e relações simbólicas de poder. A noção “campo jurídico”, particularmente, busca dar a ver o movimento de definição do Poder Judiciário durante o Brasil Império, sem deixar de lado as especificidades da época, como a vigência da escravidão de africanos e descendentes. Leia Mais
Concebendo a liberdade: mulheres de cor, gênero e abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro | Camillia Cowling
A edição brasileira do livro “Concebendo a Liberdade: mulheres de cor, gênero e abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro” da historiadora inglesa Camillia Cowling, professora de história da América Latina da Universidade de Warwick, foi lançada em 2018 pela editora da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. O livro é uma tradução do original intitulado Conceiving Freedom: Women of Color, Gender, and the Abolition of Slavery in Havana and Rio de Janeiro, lançado em 2013 pela University of North Carolina Press e, desde 2010, partes da obra já vinham sendo divulgadas em publicações internacionais pela autora.
Cowling trouxe para o centro desta narrativa as histórias de vida (ou pelo menos parte das histórias) de duas mulheres libertas: Ramona Oliva e Josepha Gonçalves de Moraes. Elas transcorrem por toda a obra, desde a introdução, quando a autora nos transporta para os respectivos dias em que estas mulheres, a primeira em Havana, a segunda no Rio de Janeiro, entraram com pedido de custódia de seus filhos nas instâncias judiciais máximas de cada uma destas cidades: Ramona no Gobierno General em Havana em busca de libertar seus quatro filhos María Fabiana, Agustina, Luis e María de las Nieves, e Josepha no tribunal local de primeira instância e depois no Tribunal de Relação no Rio de Janeiro, um tribunal de apelação, em busca de liberta sua filha Maria. Ramona teve que enfrentar “um dia escaldante do verão caribenho de 1883” e Josepha, diferentemente da cubana, “provavelmente sentiu arrepios de frio […] enquanto caminhava pelas ruas da cidade [do Rio de Janeiro]”, em agosto de 1884, quando é inverno na cidade. (COWLING, 2018, p. 23) Leia Mais
Escritos de Liberdade: literatos negros, racismo e cidadania no Brasil oitocentista | Ana Flávia Magalhães Pinto
A narrativa sobre a circulação e experiências de homens negros livres, letrados, pensadores ativos na vida social no Rio de Janeiro e em São Paulo nas últimas décadas de vigência da escravidão é o tema predominante nessa obra, que teve sua origem no trabalho de pesquisa para o doutorado da autora, defendido na Universidade de Campinas em 2014. Agora vertida em livro e compondo o 46º volume da coleção Várias Histórias.
Marcada por um trabalho procedimental baseado na micro-história, a pesquisa é fartamente ancorada em um trabalho diligente e preciso sobre a documentação escolhida, explorada sob a autoridade de quem oportuniza ao leitor superar a visão, dominante em certa historiografia, de que se tratava de homens únicos e/ou isolados em sua geração e sociedade. Oferece-nos a autora desse livro a oportunidade de acessar, em sua proposta narrativa, uma prosopografia de negros brasileiros em atividade política e conexões urbanas, nas últimas décadas do século XIX, marcada pela “politização da raça a partir de escritos de liberdade (p.24). Leia Mais
Becoming Free – Becoming Black: Race Freedom and Law in Cuba – Virginia and Louisiana | Alejandro de la Fuente e Ariela J. Gross
Ariela J. Gross e Alejandro de la Fuente | Foto: Medium |
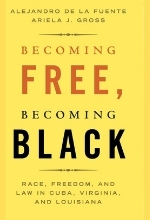 Em tempos que reascendem os debates sobre o racismo institucional nas Américas, a publicação de Becoming Free, Becoming Black responde tanto às demandas do presente quanto aos dilemas que moveram as ciências humanas ao longo do século XX. Após décadas de pesquisas que revelaram as desventuras de sujeitos escravizados, pelo cotidiano do cativeiro e pelos labirintos jurídicos, Ariela Gross e Alejandro de la Fuente dão um passo à frente, assim como uma mirada atrás. Reivindicando teórica e metodologicamente uma história “de baixo para cima”, os autores revisitam os debates clássicos sobre a relação entre a escravidão, o direito e a constituição de diferentes regimes raciais no continente, ao empreender um ambicioso estudo comparativo sobre Cuba, Virgínia e Louisiana entre os séculos XVI e XIX. [3]
Em tempos que reascendem os debates sobre o racismo institucional nas Américas, a publicação de Becoming Free, Becoming Black responde tanto às demandas do presente quanto aos dilemas que moveram as ciências humanas ao longo do século XX. Após décadas de pesquisas que revelaram as desventuras de sujeitos escravizados, pelo cotidiano do cativeiro e pelos labirintos jurídicos, Ariela Gross e Alejandro de la Fuente dão um passo à frente, assim como uma mirada atrás. Reivindicando teórica e metodologicamente uma história “de baixo para cima”, os autores revisitam os debates clássicos sobre a relação entre a escravidão, o direito e a constituição de diferentes regimes raciais no continente, ao empreender um ambicioso estudo comparativo sobre Cuba, Virgínia e Louisiana entre os séculos XVI e XIX. [3]
De partida, Gross e de la Fuente fazem de Frank Tannenbaum seu antagonista e, também, em menor grau, uma inspiração. Assim como em artigos publicados anteriormente, eles reforçam as críticas a Slave and Citizen, em especial às premissas teóricas, que atribuíram às normas escritas nas metrópoles um papel determinante dos rumos das sociedades coloniais. Igualmente contestada foi a projeção das diferenças raciais entre os Estados Unidos e a América Latina ao passado, como se decorressem de um devir inevitável, fundado pelos regimes jurídicos anglo-saxão e ibéricos. Por outro lado, tanto a historiografia revisionista (que preteriu o direito e a religião pela economia e a demografia) quanto os estudos recentes no campo da cultura legal, se limitaram a demolir o modelo de Tannenbaum, sem oferecer uma interpretação definitiva sobre as origens das diferenças raciais nas Américas. Assumindo o desafio, Gross e de la Fuente resumiram ainda na introdução seu postulado: não foi o direito da escravidão, mas o direito da liberdade o elemento crucial para a constituição dos regimes raciais no continente.[4]
Embora a maioria dos homens e mulheres escravizados jamais tenha rompido as correntes do cativeiro, a minoria que conquistou a alforria, constituindo comunidades negras livres, teria sido a chave para a construção da raça nas Américas. Gross e de la Fuente convidam o leitor a embarcar em uma longa jornada, que se inicia na travessia atlântica e na colonização de Cuba, Louisiana e Virgínia, perpassa as águas turbulentas da Era das revoluções, para enfim desembarcar nos regimes raciais do século XIX, cujos legados se estendem até hoje. Antecipando suas conclusões, os autores sustentam que as diferenças entre as três regiões não decorreram do reconhecimento da humanidade dos escravizados e tampouco da fluidez racial. O fator determinante teria sido o grau de sucesso das elites escravistas na imposição da relação entre branquitude e liberdade, e entre negritude e escravidão. O enunciado contém um dos principais manifestos políticos do livro, mas deixa uma questão em aberto-que será retomada adiante.
Os dois capítulos iniciais transitam pelas sociedades coloniais de Cuba, Virgínia e Louisiana, partindo do regime jurídico e da experiência espanhola das Américas. Embora as Siete Partidas reconhecessem a humanidade das pessoas escravizadas, o efeito prático do precedente social e legal dos ibéricos foi a definição prévia das distinções raciais por lei. A inversão do pressuposto de Tannenbaum é radical. A escravidão em Portugal e o princípio da limpeza de sangre na Espanha ofereceram aos ibéricos as pré-condições para o pioneirismo na criação de regimes legais racializados na América. Nesse ponto, os autores cederam em parte a Tannenbaum, identificando, na raiz romanista do direito ibérico, a alforria como instituição sólida. Mas incorporando as contribuições da historiografia recente, eles avançaram ao demonstrar como, em solo americano, foram os escravizados-no caso, os da ilha de Cuba-que fizeram da norma uma tradição e, por conseguinte, um direito.
Em paralelo, o colonialismo francês constituiu seu próprio regime no Caribe por meio das diferentes versões do Code Noir, que progressivamente restringiram tanto a alforria e os direitos das comunidades negras livres. À época da ocupação da Louisiana, a experiência e os precedentes normativos serviram à constituição do regime mais excludente do Império francês, mas que ainda assim não cerceou em absoluto a liberdade e o direito de negros livres, especialmente em Nova Orleans. A Virgínia, por sua vez não contou com precedentes legais ou experiências coloniais prévias. Sem incorporar os precedentes de Barbados e da Carolina do Sul, a colônia inglesa se converteu em uma espécie de laboratório, onde as diferenças raciais não estavam pré-determinadas jurídica ou socialmente. Invertendo mais uma vez as premissas de Tannenbaum, Gross e de la Fuente desvelam uma Virgínia relativamente aberta à prática da alforria e à formação de comunidades de negros livres no início do século XVII.
Privilegiando as fontes jurídicas, com destaque para as ações de liberdade, os autores esbanjam rigor metodológico sem comprometer a fluidez da narrativa de pessoas escravizadas que recorriam à justiça. Embora esse procedimento fosse comum nas três regiões no século XVII, ela se manteve constante em Cuba, enquanto rareou na Virgínia e na Louisiana no século XVIII, onde também aumentaram as restrições aos casamentos inter-raciais. De acordo com Gross e de la Fuente, essa progressiva distinção na trajetória das sociedades escravistas em questão não foi o resultado da pretensa benevolência ibérica, mas de razões econômicas, demográficas e de gênero. Eram principalmente as mulheres que conquistavam a alforria, predominantemente de forma onerosa, e consequentemente serviam à reprodução das comunidades negras livres. Os franceses precocemente haviam fechado o cerco às manumissões, embora incapazes de pôr fim à presença de negros livres em Nova Orleans. Enquanto isso, a Virgínia transitou gradualmente de uma sociedade desregulada para a mais restritiva das três, especialmente após a Rebelião de Bacon, em 1676.
Recuperando a interpretação de Edmund Morgan, segundo o qual as restrições visavam à solidariedade branca contra a aliança entre servos brancos, indígenas e negros, os autores acrescentam argumentos econômicos e políticos. A conversão da Virgínia em uma sociedade escravista começara antes mesmo da revolta, por conta do barateamento do preço de africanos em relação ao custo da servidão. Fortalecida, a elite virginiana conseguiu a um só tempo restringir as alforrias e solidificar a solidariedade branca na colônia, diferentemente de seus pares de Louisiana e de Cuba, que foram incapazes de abolir um precedente jurídico estabelecido. A consequência foi a formação de comunidades negras livres e miscigenadas de diferentes tamanhos nas três regiões, e não favorecidas pelas elites, mas maiores ou menores de acordo com sua capacidade de resistir aos esforços para evitá-las. No final do segundo capítulo, Gross e de la Fuente retomam sua hipótese, insistindo que as elites de Cuba, Virgínia e Louisiana tentaram igualar a raça negra à escravidão, pois enxergavam nos negros livres uma ameaça à ordem. As diferenças, contudo, não decorreram do precedente legal, mas das diferentes realidades sociais e demográficas que permitiram o maior sucesso na Virgínia e na Louisiana, e o menor em Cuba.[5]
Tema do terceiro capítulo, a Era das Revoluções consistiu no período de maior aproximação entre as três regiões, onde tanto as alforrias quanto as comunidades negras livres cresceram. Ao mesmo tempo, a escravidão avançou nos territórios, respondendo aos estímulos do mercado mundial. Em Cuba e na Louisiana, o paradoxo era apenas aparente, pois a alforria era uma tradição jurídica e socialmente vinculada ao cativeiro. Já na Virgínia a libertação de escravizados se associou ao ideário da independência. Enquanto as comunidades negras livres de Havana e de Nova Orleans eram fruto do Antigo Regime, a de Richmond respirava os ares da revolução. Consequentemente, as elites virginianas reagiram ao horizonte que se abria, seguidos por seus pares do Vale do Mississippi, recentemente integrados aos Estados Unidos e movidos pelos interesses açucareiros e algodoeiros. Entre 1806 e 1807, a promulgação do Black Code da Louisiana e de uma série de leis na Virgínia restringiram a alforria e os direitos dos negros livres, dando o tom de um regime racial que chegaria à maturidade em meados do século XIX, apartando em definitivo o modelo estadunidense do cubano.
O movimento esboçado nos Estados Unidos se agravou entre as décadas de 1830 e de 1860, das quais tratam os capítulos finais do livro. Neles, Gross e de la Fuente esboçam uma guinada metodológica, organizando-os a partir de eixos temáticos, em vez de compararem pormenorizadamente as ações de liberdade em cada um dos espaços. Nas páginas que seguem, os autores descrevem o recrudescimento das forças e discursos escravistas nos Estados Unidos, como reação ao avanço do abolicionismo e de revoltas como a de Nat Turner. A elite cubana enfrentou seus próprios inimigos, pressionada pela campanha da Inglaterra contra o tráfico de africanos e ameaçada frontalmente por um ciclo de resistência dos escravizados, que se estendeu da revolta de Aponte, em 1812, à de la Escalera, em 1844. As três elites compartilharam do temor de que se formassem alianças entre negros livres e escravizados, como ensaiado mais propriamente em Cuba. Por meio de leis restritivas à alforria, além de políticas de remoção das populações negras livres, para fora dos estados ou do país, as elites da Virgínia e da Louisiana deram passos largos no sentido da construção de um regime racial pleno, em que a negritude fosse sinônimo não apenas de degradação, mas do cativeiro. De acordo com os autores, houve esforços similares em Cuba, assim como ataques às comunidades negras livres, mas estes não foram sistêmicos ou capazes de cindir as mesmas linhas raciais dos Estados Unidos.
Na década de 1850, Cuba, Virgínia e Louisiana eram sociedades escravistas maduras, nas quais os negros eram tidos como social e legalmente inferiores. No entanto, o processo de destituição de direitos foi muito além nos Estados Unidos, dando forma a um regime racial particular, que destoava daqueles desenvolvidos na América Latina. Retomando o debate com Tannenbaum na conclusão do livro, Gross e de la Fuente, arrolaram as variáveis que incidiram sobre a diferenciação dos regimes nos três territórios. As tradições legais teriam tido o seu peso, embora não nos termos propostos em Slave and Citizen. Os ibéricos teriam sido pioneiros na criação de legislações raciais, mas o reconhecimento jurídico da alforria cindiu a brecha por onde mulheres e homens escravizados encontraram seus tortuosos caminhos para a liberdade. A agência dessas pessoas e a mobilização do direito “de baixo para cima”, portanto, teria cumprido um papel central, tão ou mais importante que o precedente normativo. Consequentemente, os negros livres de Cuba fizeram da tradição um direito e de suas comunidades uma realidade incontornável para a elite da ilha.
Nesse sentido, o fator determinante na formação dos diferentes regimes raciais, segundo os autores, foi o tamanho das comunidades negras livres, que pressionavam pelo reconhecimento de direitos e dificultavam o cerceamento das alforrias. Um segundo ponto levantado pelos autores foram os diferentes regimes políticos. A constituição de uma democracia liberal nos Estados Unidos entrelaçou os princípios da liberdade, da igualdade e da cidadania, tendo por contrapartida os esforços reacionários que negaram seu acesso à população negra. Enquanto a democracia branca se consolidava ao Norte, Cuba preservou sua condição colonial, assim como as hierarquias políticas locais. A liberdade de uma parcela minoritária de negros respondia antes a uma tradição do Antigo Regime do que à extensão da cidadania. Não havia necessidade de uma ideologia supremacista racial onde sequer vigia o pressuposto da igualdade.
Na conclusão, Gross e de la Fuente reforçam o postulado de abertura, segundo o qual as elites de Cuba, da Virgínia, da Louisiana buscaram constituir a dicotomia perfeita entre raça e escravidão. Frente à resistência das comunidades negras livres, nenhuma delas obteve o êxito pleno, mas as estadunidenses foram mais bem sucedidas. Não há dúvidas de que na Virgínia, na Louisiana e em grande parte do sul dos Estados Unidos, prevaleceram esforços nesse sentido. Mas a despeito de discursos e medidas legais apresentados pelos autores, não se depreende da narrativa e das fontes que a elite cubana tenha se dedicado à questão com o mesmo afinco. Em mais de uma passagem, Gross de la Fuente relativizam seu próprio enunciado, reconhecendo que as autoridades de Cuba preferiram não se contrapor à tradição legal e aos direitos de comunidades estabelecidas. Seguindo os passos dos próprios autores, é possível levar a questão além.
Se como dizem Gross e de la Fuente, os ibéricos foram pioneiros da constituição de regimes raciais legalizados, eles também foram os primeiros a conhecer os efeitos da alforria na escravidão negra nas Américas. A formação de comunidades negras livres não foi resultado de um projeto, mas das condições demográficas e da ação dos próprios escravizados. Por conseguinte, os ibéricos foram também os primeiros a usufruir desse arranjo social e racial que, na maior parte do tempo, contribuiu para a preservação do cativeiro. A proximidade entre negros livres e escravizados era um risco real, mas a experiência histórica revela que na maior parte das vezes, a aliança entre os livres de diferentes cores prevaleceu sobre a solidariedade racial, ainda mais em sociedades marcadas por um alto grau de miscigenação. O sucesso das elites estadunidenses em cindir as raças também conteve em si a chave de seu fracasso, reforçando a identidade e a solidariedade negra, que se voltaram contra a supremacia branca durante a Guerra Civil e tantas vezes após a abolição. Em contrapartida, o suposto fracasso da elite cubana, nos termos dos autores, conteve o segredo de seu sucesso. Afinal, o escravismo experimentado pelos ibéricos não foi apenas pioneiro nas Américas, mas o mais longevo, tendo perdurado em Cuba e no Brasil até o último quartel do século XIX. Não à toa, as elites desses países tantas vezes se valeram dos Estados Unidos como contraponto, para preservar suas próprias hierarquias sob o mito das “democracias raciais”.[6]
São os próprios autores que fornecem os dados e argumentos para esse breve contraponto. Em mais de uma passagem, eles descrevem a alforria como instituição escravista em Cuba, assim como reconhecem a hesitação das elites em cerceá-la. Ao enunciarem na introdução e na conclusão que as três elites escravistas compartilharam de um mesmo horizonte racial, Gross e de la Fuente miraram dois alvos. A crítica se voltou tanto às elites do passado, quanto aos discursos mais recentes que, na política e na historiografia, ainda se valem da escravidão e do racismo explícito nos Estados Unidos como um contraexemplo, a fim de sustentar a suposta benevolência do cativeiro e a pretensa harmonia das relações raciais na América Latina. A posição dos autores no debate público é mais do que bem-vinda, e contribui para a desmistificação do tema. De todo modo, o próprio livro revela como Cuba antecedeu e sucedeu o cativeiro na América do Norte, e como sua elite constituiu o seu próprio regime racial. Sem cindir a ilha entre o branco e o negro, ela preservou por mais tempo a escravidão valendo-se de um racismo velado, tão eficaz e talvez mais perverso que o estadunidense.
Nas derradeiras páginas do livro, Gross e de la Fuente alçam voo sobre os anos que se seguiram à abolição, contrastando os Black Codes e as Leis Jim Crow no Sul dos Estados Unidos com o relativo reconhecimento dos direitos dos negros em Cuba. Em seus termos, a transição da escravidão à cidadania resultou das lutas políticas dos negros de cada região. Nas entrelinhas, os historiadores convidam seus pares a desbravar o campo das relações raciais nas sociedades do pós-abolição, à luz de suas importantes contribuições. Trazendo mais uma vez Tannenbaum ao debate, Gross e de la Fuente concluem que o tecido de conexão entre o negro escravizado e o cidadão negro, no pós-abolição, não decorreu da relação entre “slave and citizen” mas de “black to black”. Como enunciado no título e na introdução, não teria sido o direito da escravidão, mas a mobilização do direito à liberdade pelos próprios sujeitos escravizados que selou o caminho para a construção, não só dos regimes, mas das identidades raciais. É possível questionar se o direito à liberdade existiria senão como contradição interna do direito da escravidão, em uma relação dialética. No entanto, foi por meio dessa inversão do prisma que Gross e de la Fuente miraram um velho debate sob um ângulo novo, trazendo à luz outros sujeitos e respostas.
Becoming Free, Becoming Black coroa os resultados de uma tradição historiográfica que trouxe à luz a complexidade da escravidão e das disputas sobre os sentidos da liberdade e da justiça nas Américas. Reivindicando os ganhos metodológicos e políticos da história “de baixo para cima”, e preservando no centro da narrativa os sujeitos escravizados e sua agência, Gross e de la Fuente deram um passo além. Instigados pelos debates postos no presente, ousaram revisitar os clássicos para oferecer respostas e questionamentos originais. Em tempos de crise das representações e de revisionismos históricos, Becoming Free, Becoming Black nos reabre uma janela ao passado, exibindo as raízes pérfidas de mazelas que ainda nos assolam. No entrepasso do caminhar de tantos homens e mulheres, os autores nos lembram das lutas pretéritas, e quiçá nos apontam possíveis caminhos para os embates que se anunciam no horizonte.
Notas
1. Universidade de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
2. Marcelo Ferraro é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e estuda a relação entre direito, violência e escravidão no Vale do Paraíba e no Vale do Mississippi no longo século XIX.
3. Apenas para citar a principal referência dos autores, ver Rebecca J. Scott, Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba After Slavery. Cambridge, MA, 2005; e mais recentemente Scott, R., & Hébrard, J. Freedom Papers: An Atlantic Odyssey in the Age of Emancipation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.
4. Frank Tannenbaum, Slave and Citizen. Boston, 1992). Sobre as publicações anteriores de Gross e de la Fuente, ver De la Fuente, Alejandro, & Gross, Ariela. (2010). Comparative Studies of Law, Slavery, and Race in the Americas. Annual Review of Law and Social Science, 6(1), 469-485. Gross, Ariela, & De la Fuente, Alejandro. (2013). Slaves, free blacks, and race in the legal regimes of Cuba, Louisiana, and Virginia: A comparison. North Carolina Law Review, 91(5), 1699. De la Fuente, A. (2010). From Slaves to Citizens? Tannenbaum and the Debates on Slavery, Emancipation, and Race Relations in Latin America. International Labor and Working Class History, 77(1), 154-173. De la Fuente, A. (2004). Slave Law and Claims-Making in Cuba: The Tannenbaum Debate Revisited. Law and History Review, 22(2), 339-369.
5. Morgan, Edmund. American slavery, American freedom: The ordeal of colonial Virginia. New York: W.W. Norton &, 2003.
6. A título de exemplo, ver os discursos de representantes de Cuba e do Brasil sobre a questão dos negros livres, assim como suas divergências, em Berbel, Marcia., Marquese, Rafael, & Parron, Tamis. Escravidão e política: Brasil e Cuba, c. 1790-1850. São Paulo: Editora Hucitec: FAPESP, 2010. Sobre o racismo em Cuba no século XX, é o próprio Alejandro de la Fuente que sustenta a interpretação aqui esboçada. Ver Fuente, Alejandro de la. A Nation for All: Envisioning Cuba. The University of North Carolina Press, 2011.
Referências
DE LA FUENTE, A. (2010). From Slaves to Citizens? Tannenbaum and the Debates on Slavery, Emancipation, and Race Relations in Latin America. International Labor and Working Class History, 77(1), 154-173.
DE LA FUENTE, A. (2004). Slave Law and Claims-Making in Cuba: The Tannenbaum Debate Revisited. Law and History Review, 22(2), 339-369
DE LA FUENTE, Alejandro, & GROSS, Ariela. (2010). Comparative Studies of Law, Slavery, and Race in the Americas. Annual Review of Law and Social Science, 6(1), 469-485.
GROSS, Ariela, & DE LA FUENTE, Alejandro. (2013). Slaves, free blacks, and race in the legal regimes of Cuba, Louisiana, and Virginia: A comparison. North Carolina Law Review, 91(5), 1699.
SCOTT, Rebecca. Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba After Slavery. Cambridge, MA, 2005;
SCOTT, R., & HÉBRARD, J. Freedom Papers: An Atlantic Odyssey in the Age of Emancipation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.
TANNENBAUM, Frank. Slave and Citizen. Boston, 1992).
Marcelo Rosanova Ferraro – Universidade de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil. Marcelo Ferraro é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e estuda a relação entre direito, violência e escravidão no Vale do Paraíba e no Vale do Mississippi no longo século XIX.
DE LA FUENTE, Alejandro; GROSS, Ariela J. Becoming Free, Becoming Black: Race, Freedom, and Law in Cuba, Virginia and Louisiana. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Resenha de: FERRARO, Marcelo Rosanova. O direito à liberdade e a dialética das raças nas Américas. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021. Acessar publicação original [DR]
Rastros de Resistência: histórias de luta e liberdade do povo negro | Ale Santos
Alê Santos é um escritor e roteirista que, apesar de ter dado passos importantes em sua carreira, teve notoriedade por meio das redes sociais. Tal fato, certamente, não é demérito algum, mas a constatação de um movimento, bastante comum nos últimos anos: a ascensão proporcionada pela internet. Por meio de uma thread2, sobre o genocídio promovido pelo Rei Leopoldo no Congo, enquanto o país era ainda uma colônia belga, o autor ganhou enorme visibilidade chegando a um milhão de visualizações somente com esse tópico, cifra essa que foi superada várias vezes na medida em que ia melhorando a pesquisa e as informações compartilhadas. Leia Mais
A negação da liberdade: direito e escravização ilegal no Brasil oitocentista (1835-1874) | Gabriela Barreto de Sá
A relação entre os afrodescendentes e o direito na América Latina é bastante complexa: enraizado na violência da escravidão, o direito assumiu papel importante no desgaste do regime escravista; mesmo assim, ainda hoje ele contribui para perpetuar desigualdades sociais.1 Leia Mais
Becoming Free/Becoming Black: Race/ Freedom/ and Law in Cuba/Virginia and Louisiana | Alejandro De La Fuente, Ariela Gross
Conquistar a liberdade sempre foi o objetivo das pessoas escravizadas nas Américas. Em todas as sociedades escravistas do continente mulheres e homens negros desenvolveram estratégias que, de alguma maneira, acabaram refletidas nos sistemas legais das colônias e nações onde viviam. As respostas das elites senhoriais às tentativas de alforria orientavam as leis, que acabaram constituindo critérios para uma cidadania de poucos, além de concessões e suspensão de direitos, ao mesmo tempo em que produziam hierarquias raciais. Alejandro de La Fuente e Ariela Gross afirmam que o livro que escreveram é um exercício de comparação que trata da ação de pessoas escravizadas e libertas sob os regimes escravistas nos estados de Luisiana e Virgínia, nos Estados Unidos, e em Cuba. Leia Mais
From Franco to Freedom. The Roots of the transition to Democracy in Spain, 1962-1982 | Miguel Ângel Ruiz Carnicer
David Alegre Lorenz e Miguel Ãngelo Ruiz Carnicer (direita). Foto: La Esfera de los libros 2018 /
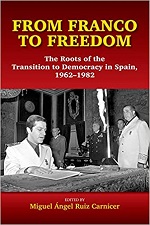 La transformación política surgida de las entrañas de la estructura estatal, en el contexto legislativo, socio-cultural e institucional del tardofranquismo, es uno de los marcos de trabajo de investigación más complejos que puedan existir a día de hoy por muy diferentes motivos. El presente libro, en formato de obra colectiva, pretende clarificar una serie de cuestiones relativas a la motivación del cambio político. Asimismo, la investigación busca la apertura de nuevos espacios temáticos, para arrojar luz sobre los factores desencadenantes de la transformación interna. La planificación del proceso de reciclaje institucional y la adopción de nuevos roles por parte de las magistraturas del Estado buscaron el establecimiento de unas pautas de comportamiento programadas (por algunos integrantes de la cúpula política de la dictadura) para evitar que el proceso de transición a la democracia se descontrolase. En términos de puridad metodológica, el periodo histórico que va desde 1962 a 1982, hace posible que el trabajo de investigación sea sólido, con fundamentos comparativos y descriptivos muy amplios.
La transformación política surgida de las entrañas de la estructura estatal, en el contexto legislativo, socio-cultural e institucional del tardofranquismo, es uno de los marcos de trabajo de investigación más complejos que puedan existir a día de hoy por muy diferentes motivos. El presente libro, en formato de obra colectiva, pretende clarificar una serie de cuestiones relativas a la motivación del cambio político. Asimismo, la investigación busca la apertura de nuevos espacios temáticos, para arrojar luz sobre los factores desencadenantes de la transformación interna. La planificación del proceso de reciclaje institucional y la adopción de nuevos roles por parte de las magistraturas del Estado buscaron el establecimiento de unas pautas de comportamiento programadas (por algunos integrantes de la cúpula política de la dictadura) para evitar que el proceso de transición a la democracia se descontrolase. En términos de puridad metodológica, el periodo histórico que va desde 1962 a 1982, hace posible que el trabajo de investigación sea sólido, con fundamentos comparativos y descriptivos muy amplios.
Miguel Ángel Ruiz Carnicer (Departamento de Historia, Universidad de Zaragoza), editor de From Franco to Freedom1 (RUIZ CARNICER, 2018), realiza una labor de coordinación e integración de trabajos notable. En líneas generales, el conjunto de las contribuciones busca la implementación de un contexto de originalidad y proporciona nuevos puntos de vista sobre la fase final de la dictadura, mediante el estudio de los condicionantes externos y los contextos internos que influyeron en los lentos ritmos del cambio. Como en el resto de su trayectoria de investigación, el editor pone el foco en la transformación de las mentalidades colectivas y el escenario socio-cultural. Los diferentes aportes a la investigación tienen una clara naturaleza multidisciplinar y una estructura bastante equilibrada (en su dimensión y en forma). El cuerpo del texto se compone de ocho capítulos, cada uno de ellos cuenta con una conclusión y un epígrafe de referencias documentales. En la parte final existe un aparatado con la información biográfica de los investigadores participantes y el índice alfabético. El trabajo no cuenta con una conclusión final conjunta. Leia Mais
El pueblo contra la democracia: por qué nuestra libertad está em peligro y cómo salvarla | Yascha Mounk
A onda de recessão democrática global gerou outra onda: a de livros teóricos sobre o tema, que surgiram aos montes em tempos recentes. Um desses é El pubelo contra la democracia, de Yascha Mounk, professor de Harvard. Yascha, como grande parte dos pesquisadores do Norte, prefere trabalhar com o conceito de populismo, evitando outras noções também em voga como fascismo, democratura e afins. Independente do rótulo utilizado, Yascha prossegue com a discussão que se tornou em voga: por que a democracia liberal passou a dar sinais de decadência após décadas de estabilidade?
Enquanto autores como Steven Levitsky e Daniel Ziblatt (2018, p. 33-34) preferiram focar sua obra, na fragilização das instituições através de um processo de autoritarismo gradual, Mounk direciona o seu livro para uma visão menos institucional e mais “popular”. Isto é, busca compreender menos os líderes por trás desses movimentos anti- democráticos, e mais a base que os sustentam: o povo, conforme até mesmo o título deixa claro. Para isso, se propõe a debater os motivos que levaram parte da população mundial a rejeitar a democracia, que, outrora com apoio majoritário, atualmente encontra-se, na melhor das hipóteses, desacreditada (MOUNK, 2018, p. 64).
A surpreendente vitória de Donald Trump em 2016 serviu para evidenciar um tumor no âmago da democracia liberal (MOUNK, 2018, p. 10): se a suposta democracia mais estável e poderosa do planeta pode eleger um demagogo, o que será das outras? Previsível, portanto, que essa eleição tenha acabado por impulsionar também a eleição de outros demagogos ao redor do planeta (MOUNK, 2018, p. 10). Apesar de suas idiossincrasias variáveis de nação para nação, todos esses “homens fortes” (MOUNK, 2018, p. 13) possuem características interseccionais entre si: os ataques à mídia livre; a perseguição à oposição; a existência de inimigos invisíveis, dentro e fora de seus países; e, mais notável, a simplicidade com que tratam a democracia, interpretando a realidade como crianças mimadas, se propondo a solucionar todos os problemas possíveis (apenas para suas seitas), mas sem propostas reais de como fazê-lo (MOUNK, 2018, p. 12-16). Mas o que leva as pessoas desejarem isso, almejarem trocar a estabilidade da democracia liberal por um movimento populista autoritário, quando não fascista?
Para Mounk (2018, p. 159) o primeiro motivo é pragmático: estagnação econômica. Crises e estagnações historicamente sempre favoreceram o surgimento ou ascensão de regimes autoritários, principalmente quando aliadas a altos índices de corrupção. A crise de 2008 e as medidas de austeridade que se seguiram a ela, adicionaram ainda mais caldo ao ressentimento criado pela estagnação. Na impossibilidade de prover a família ou de desfrutar do mesmo conforto que outrora possuíra, as pessoas direcionam o seu ressentimento e frustração para a política e para bodes expiatórios conforme a necessidade: alguém precisa ser culpabilizado pelo fracasso. No caso europeu e estadunidense, os imigrantes; no caso brasileiro, a corrupção e o fantasma invisível e onipresente de um comunismo inexistente.
Segundo Mounk (2018, p. 172), a segunda razão, principalmente na Europa e na América do Norte, é a imigração. A presença do alien, do desconhecido, o contato com novas culturas, principalmente em momentos de crise, é um ingrediente importante para o bolo do nacionalismo populista. Como efeito, Mounk também constata que homens são mais suscetíveis a sucumbir à hipnose populista pela perda de autoridade masculina conforme, nas últimas décadas, a tradição de poder é progressivamente questionada. Da mesma forma, o Partido Republicano, nos EUA, é particularmente forte entre os homens brancos, o maior eleitorado de Donald Trump, dado que sentem um esvaziamento de seu poder e se colocam, eles próprios, como vítimas (STANLEY, 2018, p. 98, 104-105). Assim, surgem narrativas que apontam mulheres independentes, negros, judeus, árabes, homossexuais, ou qualquer desviante da tradição, como responsáveis por um suposto declínio da nação.
O terceiro motivo, o grande diferencial dos populismos contemporâneos, é a ascensão da internet e das redes sociais como ferramenta de comunicação em massa (MOUNK, 2018, p. 152-153). Ao passo que fenômenos como a tão em voga fake news pouco têm de novo, as redes sociais ajudaram na disseminação da mentira, bem como na organização de grupos de ódio e na padronização dos pensamentos através de algoritmos. Se na realidade somos constantemente expostos ao outro, a uma alteridade forçada, na internet podemos facilmente nos fechar em pequenos grupos, repetindo mentiras até que se tornem verdades. Como Orwell (2009, p. 338) já mostrava, 2 + 2 passa a ser 5 se assim for conveniente, e quem mostrar que é 4 é obviamente um (insira aqui o rótulo do inimigo objetivo do movimento).
Foucault (1979, p. 77) já dizia que “as massas, no momento do fascismo desejam que alguns exerçam o poder, alguns que, no entanto, não se confundem com elas, visto que o poder se exercerá sobre elas […]; e, no entanto, elas desejam este poder, desejam que esse poder seja exercido.” Embora Mounk evite trabalhar com a ideia de fascismo, conforme já foi aventado, o conceito de populismo que desenvolve lida com a mesma ideia: a necessidade das pessoas, em um momento de frustração e desilusão com o establishment político, desejarem avidamente por um “homem forte”, pouco importando seu preparo para o cargo. A capa da edição espanhola, edição que aqui está sendo resenhada, um rebanho de ovelhas, ilustra justamente a submissão do homem-massa ao messias, ao líder.
O modus operandi desses populistas autoritários é padrão e já foi bastante relatado nos últimos anos: a classificação maniqueísta do mundo em uma oposição binária. Consequentemente, todos aqueles que não apoiam esses grupos, são automaticamente classificados como “malignos”. Os meios de comunicação, a oposição e as universidades são alvos preferenciais, e inimigos invisíveis aparecem por todos os lugares. Se há uma característica em comum, a despeito de todas as diferenças, entre esses grupos, essa é o conspiracionismo paranoico.
Um dos exemplos mais mencionados por Mounk (2018, p. 17) é a Hungria de Orbán, sugerida por politólogos após a queda da União Soviética como um dos antigos satélites com mais chances de consolidar uma democracia liberal. Mounk (2018, p. 18) aponta alguns dos pontos que indicavam que a democracia iria se tornar resiliente na Hungria: experiência democrática no passado; legado autoritário mais frágil do que os demais ex- satélites soviéticos; país fronteiriço com outras democracias estáveis; crescimento econômico; mídia, ONGs e universidades fortes. Trinta anos depois, verifica-se justamente o contrário: após anos gradualmente dissolvendo as instituições do país, aparelhando a corte, perseguindo jornalistas e acadêmicos, Viktor Orbán conseguiu, no escopo da crise do coronavírus, enorme poderes (O GLOBO, 2020) e poucos discordariam que a Hungria é, hoje, autoritária.
Outra força importante da obra de Mounk é ressaltar a diferença entre liberalismo e democracia, discussão pouco levantada por outros autores sobre a temática. Com a queda do Muro de Berlim, e o suposto fim da história, o homem se acostumou à falácia de que democracia e liberalismo são sinônimos, de que não há democracia sem liberdade individual, e que não há liberdade individual sem democracia. Viktor Orbán classifica o seu regime como uma “democracia iliberal”, nome orwelliano que, em última análise, sintetiza o seu autoritarismo e o de tantos outros atuais: uma ditadura velada, com uma democracia de fachada, inexistente na prática, com restrição de liberdades individuais e do livre-pensamento (MOUNK, 2018, p. 18). Um método eficiente de “democratura” desenvolvida pela escola Putin de governar.
Mounk divide essas “democraturas” em dois tipos: liberalismo antidemocrático e democracia iliberal. Em outras palavras, uma cisão na noção de democracia liberal, que se parte em duas. A primeira é caracterizada por um sistema fechado, que exclui a população, através do representativismo, da participação política, concentrando o poder nas mãos de uma elite oligárquica. Ou, como Robert Dahl (2005, p. 31) já havia apontado quase 50 anos atrás em Poliarquia, uma hegemonia ou uma semi-poliarquia, considerando que, para Dahl, somente um regime inclusivo e igualitário poderia ser classificado como poliarquia, isto é, o mais próximo possível de uma democracia, esta um ideal utópico a ser perseguido mas nunca alcançado. Entrementes, o liberalismo antidemocrático de Mounk, assim como a hegemonia ou semi-poliarquia de Dahl, é marcado pela concentração de poder e limitação da liberdade apenas para a elite, enquanto o restante da população é progressivamente excluído. O segundo sistema, a democracia iliberal, é uma consequência do primeiro. A população politicamente invisível acaba por ser presa fácil de movimentos populistas anti-democráticos, que supostamente visam subjugar o primeiro sistema, embora, muitas vezes, como ocorreu no Brasil de 2018, sejam parte dessa própria elite. Conforme aponta Jason Stanley (2018, p. 82), “a democracia não pode florescer em terreno envenenado pela desigualdade”. O povo é, assim, capturado pelo discurso do “homem forte”, que retomará o país aos tempos de glória, não importando se a morte da democracia real é uma consequência inevitável desse processo. Soma-se a isso a diminuição da representatividade na democracia representativa. Embora, por sua própria definição, a democracia representativa implica em certo afastamento do povo em relação ao político, dado que o primeiro fica, em grande parte, impossibilitado de tomar decisões diretas, há uma ascensão no sentimento desse afastamento. Isto é, a democracia está supostamente cada vez menos representativa, e os políticos profissionais progressivamente mais afastados da opinião popular (MOUNK, 2018, p. 64).
Talvez o maior defeito da obra de Mounk – um defeito que não é exclusivo seu, mas sim de grande parte dos livros sobre movimentos anti-democráticos contemporâneos -, é vender suas ideias como se fossem novidades, quando Robert Dahl, meio século atrás, já apontava as mesmas questões com nomenclaturas distintas, ressaltando ainda a importância de perceber que a democracia plena é impossível e utópica. Tanto mais, a insistência de Mounk com o rótulo de populismo autoritário recusa, possivelmente para evitar utilizar um termo tão desgastado, a ideia de que parte desses movimentos anti-democráticos sejam de fato movimentos fascistas. Entretanto, se por um lado é realmente necessário evitar elasticizar o conceito de fascismo para não englobar tudo, por outro somente com malabarismo intelectual é possível classificar um Jair Bolsonaro, para usar um exemplo de nosso país, como apenas um “populista de extrema-direita, ultraconservador e nacionalista”. Mesmo porque um populista de extrema-direita, ultraconservador e nacionalista é justamente um fascista.
Referências
DAHL, Robert. Poliarquia: participação e oposição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.
O GLOBO. Parlamento da Hungria aprova lei de emergência que dá a Orbán poderes quase ilimitados. O Globo, Rio de Janeiro, 01 abr. 2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/parlamento-da-hungria-aprova-lei-de-emergencia-que-da-orban-poderes-quase-ilimitados-24338118 . Acesso em: 15 ago. 2020.
ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
MOUNK, Yascha. El pueblo contra la democracia: por qué nuestra libertad está em peligro y cómo salvarla. Espasa Libros: Barcelona, 2018.
STANLEY, Jason. Como funciona o fascismo: a política do “nós” e “eles”. Porto Alegre: L&PM, 2018.
Sergio Schargel – Mestrando em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio, mestrando em Ciência Política pela UNIRIO. Bolsista CNPq. E-mail: sergioschargel_maia@hotmail.com
MOUNK, Yascha. El pueblo contra la democracia: por qué nuestra libertad está em peligro y cómo salvarla. Barcelona: Espasa Libros, 2018. Resenha de: SCHARGEL, Sergio. Velhas ideias sob novas roupagens. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 12, n. 24, p. 220-224, jul./dez., 2020.
Reinventando a autonomia: Liberdade – propriedade – autogoverno e novas identidades na capitania do Espirito Santo 1535-1822 | Vania M. L. Moreira
A recopilação Legislação indigenista no século XIX, publicada por Manuela Carneiro da Cunha em 1992, ofereceu um importante quadro referencial de onde partir para estudar a problemática indígena durante o século de consolidação da independência política brasileira. A partir de então, os comentários da autora abriram duas importantes linhas de frente, e de crítica, para os estudos indigenistas relativos ao período. A primeira delas – a afirmação de que a política indigenista passou, durante o século XIX, de uma política de mão de obra para uma política de terras – vem sendo contestada por inúmeros autores que destacam a dimensão do trabalho compulsório e o apagamento da identidade indígena durante o período em questão. A segunda, por sua vez, refere-se ao escopo temporal, anotando que a revogação do Diretório pombalino em 1798 abriu um período de vazio legislativo durante o qual o Diretório teria sido aplicado, de maneira oficiosa, até a aprovação do Regulamento das Missões em 1845.
Sem gastar tempo refutando essas afirmações, Vânia Moreira aborda em Reinventado a Autonomia (2019) todos os temas centrais das observações de Carneiro da Cunha: a identidade indígena, as questões de terras e mão de obra, as particularidades do período pombalino e as mudanças ocorridas durante o século XIX, passando, ademais, por questões de gênero e família e conectando-as de forma convincente com as demais temáticas tratadas. Ainda que o foco geográfico seja o território específico do Espírito Santo, a autora trata de vincular as suas conclusões com as de outros autores que estudaram diferentes regiões brasileiras, oferecendo uma visão mais ampla do contexto no qual se inserem.
Apesar de enunciar uma temporalidade muito mais ampla (1535-1822), a maior riqueza documental do trabalho encontra-se precisamente no estudo do período pombalino em diante (capítulos 3 a 6), foco de pesquisa da autora durante os últimos anos. Quem está familiarizado com o trabalho de Vânia Moreira pode experimentar uma sensação de déjà vu ao ler o livro. De fato, a obra recolhe o conteúdo tratado nos seus principais artigos sobre os indígenas no território do atual Espírito Santo, organizados de forma mais temática que cronológica, voltando e avançando as datas para contextualizar devidamente cada um dos temas tratados. Porém, não se trata de mera coletânea de artigos publicados. A autora estabelece um diálogo entre seus próprios textos, devidamente referenciados para aqueles que queiram aprofundar em questões específicas, o que acaba convertendo o livro numa espécie de quadro geral de parte da sua produção acadêmica dos últimos quinze anos. Acrescente-se, finalmente, o cuidado em anexar fotografias, mapas e gráficos ao longo da obra, elementos normalmente mais limitados no espaço dos artigos científicos, e que contribuem para reforçar esse caráter estrutural da obra.
No primeiro capítulo, intitulado “Tupis, tapuias e índios”, a autora se vale de uma extensa bibliografia para abordar os caracteres da população que habitava a costa leste do continente antes da chegada dos europeus. Os vestígios das suas etnias, troncos linguísticos, organizações políticas, cultura material e demografia são abordados de forma probabilista, valendo-se de forma convincente dos trabalhos sobre as fontes disponíveis a respeito. No mesmo capítulo, a autora também reconstrói os impactos dos primeiros conflitos com os europeus, ressaltando que a escravização dos prisioneiros de guerra afetou significativamente os valores que presidiam a guerra ameríndia, dando lugar a uma perspectiva promissora para os colonos da região no final do século XVI. Não obstante, a autora enumera uma série de razões pelas quais em meados do século seguinte a escravidão de africanos teria substituído, na capitania, a aposta pelos “negros da terra”. Apesar da perda de protagonismo econômico da região a partir desse momento, a autora anota a sua importância geopolítica, dado que se configurava como fronteira tanto para o mar como para o interior do continente, especialmente a partir da descoberta do ouro na região das Minas. Essa importância se traduziu em diferentes tensões entre indígenas, moradores e jesuítas, relatadas com detalhe por Moreira. Finalmente, o capítulo encerra adentrando-se em questões jurídicas. A autora define a posição jurídica indígena, nomeadamente dos aldeados, como status específico no contexto do Antigo Regime, status que se traduzia na obrigação de prestar serviços, tendo como principal contraprestação a garantia de permanência em terras coletivas (p. 89). Para falar do status no Antigo Regime, não obstante, a autora referencia o conhecido livro de António Manuel Hespanha (2010) dedicado ao estatuto jurídico de coletivos atípicos no Antigo Regime. Nesse espaço, sente-se falta de uma citação direta ao trabalho de Bartolomé Clavero (autor citado, não obstante, ao falar da estrutura de poder do Antigo Regime ibérico, nas páginas 275-276), pois, pertencendo ambos a uma mesma corrente historiográfica, o trabalho do autor espanhol é muito mais incisivo que o de Hespanha no relativo à posição específica atribuída à humanidade indígena na cultura jurídica do Antigo Regime (CLAVERO, 1994, 11-19).
O capítulo seguinte trata sobre os processos históricos que pouco a pouco foram desembocando na consolidação territorial de certos grupos indígenas e sua conversão em aldeamentos. A autora repassa as guerras e migrações mais significativas, assim como dinâmicas particulares que surgiram nesse processo (por exemplo, o curioso fato de que grandes guerreiros aldeados recebessem nomes portugueses idênticos aos dos principais líderes portugueses da terra, fato que exige portanto uma especial atenção dos historiadores na análise das fontes). À continuação, são descritos os principais aldeamentos da capitania, as etnias que os compunham e a importância do trabalho jesuítico na fixação desses grupos ao território. Moreira define três tipos de aldeias administradas pelos jesuítas: (1) as aldeias de serviço do Colégio, (2) as aldeias do serviço Real e (3) as aldeias de repartição (130-131). Por outro lado, destaca-se a importância paramilitar dos indígenas aldeados, que protegiam o território dos ataques de outros povos guerreiros (europeus ou americanos). Os inacianos são descritos como destacados mediadores entre a Coroa e os povos indígenas, encarregando-se da evangelização como fase sucessiva e necessária da conquista mediante a guerra. Por outro lado, a autora destaca o trabalho dos religiosos em aprender as línguas locais e interpretar a cultura dos indígenas, dando a entender que, nesse processo de contato, “escolhiam determinados códigos em detrimento de outros e procuravam neutralizar o processo de conquista e subordinação” (113). Para a autora, isso caracterizaria a presença de uma verdadeira relação intercultural entre os indígenas e os inacianos das aldeias do Espírito Santo.
Do terceiro capítulo em diante, a autora entra definitivamente na cronologia pós-Pombal, tratando as diversas vicissitudes inauguradas com a legislação indigenista aprovada a partir de 1750. O capítulo terceiro trata de uma das principais consequências políticas do Diretório dos Índios – a capacidade de autonomia e autogoverno – ilustradas na conversão das duas maiores aldeias da capitania (Nossa Senhora da Assunção de Reritiba e Santo Inácio e Reis Magos) em Vilas (Nova Benevente e Nova Almeida). Vânia Moreira repassa os debates da Segunda Escolástica relativos à liberdade das pessoas e bens dos aborígenes e, analisando as leis pombalinas, considera que “o que a legislação efetivamente reconheceu e prometia garantir aos índios era a posse e o domínio das terras de seus aldeamentos” (144). A Lei de 6 de junho de 1755 teria especialmente assegurado sua liberdade, propriedade e autogoverno mediante sua equiparação aos demais vassalos da Coroa. Essas medidas foram limitadas pela restituição da tutela mediante o Diretório dos Índios, analisado pela autora neste capítulo (151-158). Em seguida, é explicado o processo de implantação do Diretório no território do Espírito Santo, destacando aspectos como a relação econômica das novas vilas indígenas com o resto de vilas da capitania, os processos eletivos que garantiam a preeminência indígena nas Câmaras, os atos de gestão local do patrimônio e as medidas de controle dos costumes levadas a cabo pelas autoridades – especialmente em relação com as mulheres indígenas.
O capítulo 4 recupera a Lei de 4 de abril de 1755, que incentivava o casamento entre indígenas e brancos como forma de assimilar aqueles à sociedade colonial. A autora destaca o assimilacionismo das políticas pombalinas, interpretando como eminentemente cultural a discriminação no período, e adotando, portanto, as posições que preferem reservar o termo “racismo” para os processos de racismo biologicamente fundamentado (210). Recuperando a argumentação dos inícios da colonização, que caracterizou os indígenas como sujeitos que viviam no “estado natural”, a autora percebe uma continuidade entre essa concepção e as ideias que presidem a abertura do século XIX, onde os indígenas eram acusados de carecer de “vida civil”, continuidade que só seria quebrada com a irrupção do racismo biologicista na segunda metade do século XIX. Para falar sobre políticas matrimoniais, a autora retorna uma vez mais aos relatos dos primeiros missionários no continente, tratando de reconstruir os costumes dos indígenas no relativo às práticas sexuais, alianças afetivas, vestimenta etc. A autora recorda o papel histórico da instituição do matrimônio para a consolidação do poder da Igreja desde as reformas gregorianas, destacando que também na América essa intervenção na organização familiar indígena foi uma política de longa duração (236). Na última seção do capítulo, a autora recupera os seus trabalhos sobre a interpretação que os indígenas da vila de Benevente fizeram das políticas matrimoniais e territoriais contidas no Diretório pombalino. Através de um estudo específico de caso, ela mostra que esses índios interpretaram que o aforamento de terras a moradores brancos, permitido no artigo 80 do Diretório, estava condicionado à sua união em matrimônio com alguma índia da aldeia.
Vânia Moreira volta a tratado desse tema no capítulo seguinte, dedicado às questões de luta pela terra coletiva. A autora destaca que durante a vigência do Diretório os ouvidores de comarca se encarregavam da administração dos bens dos índios, enquanto os diretores eram os responsáveis pela administração das suas pessoas. Para Moreira, as críticas da historiografia à figura dos diretores devem ser tomadas com cautela, pois ela observa que nas duas vilas de índios do Espírito Santo os conflitos entre índios e diretores eram habituais, e que na prática estes acabavam tendo um poder de mando relativo (271). Ela destaca, além do mais, que durante esse período os indígenas foram efetivamente preferidos para os cargos de governo municipal, o que inclusive propiciou a consolidação de uma elite indígena muito ativa na cena política local. Essa situação começou a mudar no fim do século XVIII, com o aumento das intrusões de brancos e pardos nas terras indígenas, garantidas pelo aval das autoridades chamadas, em princípio, a proteger os interesses indígenas (neste caso, os ouvidores de comarca). Assim, ao mesmo tempo que os indígenas eram cada vez menos preferidos para os cargos municipais, as terras eram cada vez mais aforadas a brancos e pardos pelos mesmos poderes municipais. Segundo a autora, essa situação se manteve até o século XIX, pois ela documenta um conflito ocorrido na vila de Nova Almeida em 1847, no qual a Câmara municipal argumentara que levava ao menos 79 anos aforando as terras indígenas a brancos. Em alguns momentos, essas incursões em períodos muito anteriores ou muito posteriores aos fatos narrados podem conduzir a interpretações por vezes anacrônicas, que não tomam em conta o contexto do momento de produção do documento. Em relação ao documento de 1847, por exemplo, Moreira critica a afirmação da Câmara de que os índios eram somente usufrutuários das terras, e não os seus donos. Para a autora, a afirmação é criticável porque as terras não pertenciam ao município, mas sim aos índios, e deveriam ser protegidas segundo as leis específicas que regulavam o patrimônio indígena. Não obstante, segundo o Regulamento das Missões, aprovado dois anos antes do conflito, os índios aldeados eram somente usufrutuários das terras que ocupavam, ainda que contassem com a garantia de não ser expulsos e com a possibilidade de converter-se em proprietários após 12 anos de cultivo ininterrupto (BRASIL, 1845, art. 1.15º). O capítulo conclui, em qualquer caso, retornando ao final do século XVIII e sugerindo que esses episódios de traição por parte das autoridades chamadas a protegê-los permaneceram na memória coletiva dos moradores indígenas. Mais de vinte anos depois dos episódios, os nativos continuavam narrando aos viajantes a pouca confiança que depositavam na justiça institucional.
O último capítulo adentra no processo de subalternização dos indígenas que se abriu com o século XIX e a chegada da família real ao Brasil. Para a autora, um dos fatores que contribuiu para a progressiva exclusão dos índios dos cargos municipais foi a revogação do Diretório em 1798, porque implicou a eliminação dos privilégios dos índios e a sua equiparação jurídica ao status dos brancos. A autora conta que, ao mesmo tempo, essa equiparação só foi efetiva naqueles pontos prejudiciais à autonomia indígena, pois na prática o cargo de Diretor foi recriado, por exemplo, na vila de Nova Almeida em 1806, com o adendo de que esses novos Diretores exerciam funções mais restritas e coercitivas do que os antigos escrivães-diretores, e respondiam a uma configuração diversa do poder. Moreira conta como o sistema de trabalho compulsório foi se tornando muito mais pesado, marcado pela violência e validado pela “escola severa” do período joanino. Nesse sentido, a autora sugere que as Cartas Régias de 1808 que voltavam a permitir a “guerra justa” tinham também como objetivo reencenar a potência da monarquia, que se encontrava num contexto de crise após a fuga da Casa Real sob a ameaça de invasão napoleônica (318). No processo, reforça-se a noção de menoridade jurídica do indígena, e a subsequente submissão à tutela. Moreira conta que no Espírito Santo essa tutela foi exercida especialmente por particulares que eram encarregados de educá-los, cristianizá-los e civilizá-los. Outra faceta da menoridade jurídica era a tutela pública, que se traduzia em uma série de mecanismos que em última instância visavam ao controle social e ao trabalho coercitivo. Assim, muitos indígenas foram recrutados para o serviço militar, especialmente quando mantinham meios de vida diferenciados da cultura do trabalho nos termos europeus. Destarte, os índios que viviam da caça, pesca, roça e atividade madeireira eram os mais vulneráveis a recrutamentos forçados. Este caráter forçoso do recrutamento foi especialmente evidente porque a prestação de serviços militares à Coroa deixou de ter como contraprestação as tradicionais garantias de direito à terra, proteção e direitos específicos. O resultado, segundo Moreira, foi um significativo movimento diaspórico de indígenas aos sertões cada vez mais distantes do controle institucional, muitas vezes com as trágicas consequências de perda de laços com as suas antigas comunidades de origem, além da perda dos privilégios jurídicos reconhecidos aos índios aldeados.
Ao narrar os acontecimentos ao longo do livro, Vânia Moreira se esforça por destacar as estratégias dos indígenas para conseguir manter suas posições no contexto da conquista, esforço que se inserta numa agenda indigenista que vem buscando identificar o seu agenciamento e protagonismo como sujeitos da história. É uma tarefa que durante os últimos vinte anos vem rendendo prolíficos resultados, ainda que sejam insuficientes para situar os indígenas como agentes nos relatos não-indigenistas da história brasileira, como destacou a própria autora alguns anos atrás (MOREIRA, 2012). Por outro lado, talvez seja necessária certa cautela ao referir-se à relação entre indígenas e missionários como uma relação intercultural. Especialmente porque dentro dos estudos culturalistas a noção de diálogo intercultural vem sendo criticada por partir de um pressuposto de igualdade entre as partes que não leva em consideração a problemática da violência intrínseca à noção de universal que a cristandade e a modernidade europeia carregam, o que torna essa noção, portanto, inaplicável nos casos de identidades culturais ou reivindicações particularistas que desafiam os pressupostos do liberalismo econômico e do capitalismo mundializado – como ocorre, atualmente, com as demandas territoriais dos diferentes povos indígenas brasileiros (ÁLVAREZ, 2010).
Por momentos fica a sensação de que os jesuítas eram um mal menor no contexto da colonização, já que com eles era possível o diálogo, enquanto que com os poderes locais só imperava a força. A mesma autora, porém, frisa que a evangelização era um braço necessário da conquista violenta, que serviu para legitimá-la num momento no qual a Coroa não exercia nenhum tipo de controle efetivo sobre o território. Também é perigoso, nesse sentido, afirmar que a expulsão jesuítica acarreou uma política laica de civilização (88), já que no Diretório dos Índios o Reino reclamava para si a jurisdição temporal sobre os aldeados, mas continuava a encarregar a tarefa de evangelização e jurisdição espiritual aos representantes da igreja católica.
Tudo indica, portanto, que se existiu algum nível de diálogo prolífico entre jesuítas e indígenas, esse só foi possível pela existência de uma conjuntura em que também havia outros interesses em disputa, como os dos moradores e representantes do poder régio. Como a própria autora mostra em seu trabalho, a expulsão dos jesuítas abriu um período em que os indígenas conseguiram conservar e inclusive reforçar uma efetiva dimensão de autogoverno, que começou a desmoronar definitivamente com a mudança drástica de conjuntura aberta pelas revoluções liberais na Europa e a necessidade de reafirmação e consolidação do poder por parte das Coroas portuguesa e, posteriormente, brasileira.
Referências
ALVAREZ, Luciana. Mas alla del multiculturalismo: Critica de la universalidad (concreta) abstracta. Filosofia Unisinos n. 11, v. 2, p. 176-95, setembro 2010.
BRASIL. Decreto n. 426 – de 24 de julho de 1845 que contem o Regulamento acerca das Missoes de catechese, e civilisacao dos Indios. In Colleccao das leis do Imperio do Brasil de 1845. Tomo VIII, parte II, p. 86-96. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1846.
CLAVERO, Bartolome. Derecho indigena y cultura constitucional en America. Mexico: Siglo Veintiuno Editores, 1994.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Legislacao Indigenista no Seculo XIX. Sao Paulo: Edusp, 1992.
HESPANHA, Antonio Manuel. Imbecillitas. As bem-aventurancas da inferioridade nas sociedades do Antigo Regime. Sao Paulo: Annablume, 2010.
MOREIRA, Vania Maria Losada. Reinventando a autonomia: Liberdade, propriedade, autogoverno e novas identidades na capitania do Espirito Santo, 1535-1822. São Paulo: Humanitas, 2019.
MOREIRA, Vania Maria Losada. Os indios na historia politica do Imperio: avancos, resistencias e tropecos. Revista Historia Hoje n. 1, v. 2, p. 269-74, 2012.
Camilla de Freitas Macedo – Universidad del País Vasco. Bilbao – País Vasco – España.
MOREIRA, Vania Maria Losada. Reinventando a autonomia: Liberdade, propriedade, autogoverno e novas identidades na capitania do Espirito Santo, 1535-1822. São Paulo: Humanitas, 2019. Resenha de: MACEDO, Camilla de Freitas. Autonomia como agência: o caráter polifacetado da história de luta indígena no Espírito Santo. Almanack, Guarulhos, n.24, 2020. Acessar publicação original [DR]
Beyond Freedom: Disrupting the History of Emancipation – BLIGHT; DOWNS (TH-JM)
BLIGHT, David W.; DOWNS, Jim. eds. Beyond Freedom: Disrupting the History of Emancipation. Athens, GA: The University of Georgia Press, 2017. 190p. Resenha de: GIFFORD, Ron. Teaching History – A Journal of Methods, v.45, n.2, p.57-60, 2020.
Students of Emancipation need no better reason to pick up Beyond Freedom than it emerged from a 2011 conference held at the Gilder-Lehrman Center for the Study of Slavery, Resistance, and Abolition, of which David Blight is now the director, and has chapters by a veritable who’s who in Emancipation Studies. It is also a thoughtful reminder that historians are continually grappling with what freedom was in the nineteenth century, who defined it, and whether it was enough to make a difference in African Americans’ lives.
The title might seem misleading to many readers, as the book is entirely about emancipation; however, the subtitle clarifies that historians are trying to disrupt the “freedom paradigm,” which focused on freedom in zero sum fashion, by emphasizing the painful process of emancipation, and in the process abandoning the traditional periodization and adopting different lenses to analyze the citizen’s relationship to the state. In sum, the authors remind us, emancipation was messy, it was never preordained to end in perfect freedom, and Black voices, freed and enslaved, still offer the best avenue to revise our understanding of emancipation, its promises, and its limits.
The collection is organized in three parts, though one could argue there should only be two: those pieces written in a traditional academic format and those written as ruminations on how historians have failed to adequately interrogate the sources, at best, or have ignored or misused the terror and suffering Black people faced in the nineteenth century. Parts one and two, “From Slavery to Freedom” and “The Politics of Freedom,” take the more traditional approach and emphasize a process of emancipation that was not restricted to the period following the Civil War and was anything but progressive. According to Richard Newman, Black emancipation and responses to it during Reconstruction took place in the wake of earlier emancipations, in and beyond the United States. As a result, Black and White Americans alike were familiar with the “grammar” of emancipation and understood this was not a story with a preordained conclusion. As a result, we need to apply different lenses that challenge the when, where, and how emancipation happened. More importantly, we need to recognize Black people—enslaved and free, male or female, adult or child—as “fully realized political people” (27). If we do so, a more complex and less celebratory portrait of emancipation emerges. Part three, “Meditations on the Meaning of Freedom,” deviates from the traditional format, possibly to avoid the lack of “human touch” that may characterize for laymen the problems with academia, but is a welcome glimpse into historians reflecting upon their craft and taking seriously Susan O’Donovan’s claim, “if [B]lack lives matter today, then so should the whole of the [B]lack past”(29). As a result, readers will find greater attention paid to the circumstances and actions of African Americans, specifically women and children, and the political nature of their torture, suffering, and grief.
In general, Beyond Freedom, will be a valuable tool for faculty and graduate students interested in a refresher concerning the state of the conversation concerning emancipation. The books the contributors have produced in the last decade constitute an essential reading list for scholars of the period. At the undergraduate level, this volume would be a good edition to a seminar, in which students fashion independent theses within the context of a larger conversation, employ primary sources in some fashion, and question the epistemological problems associated with a vague concept like freedom. Jim Downs’s focus on “the Ontology of the Freedmen’s Bureau Records” is an apt reminder that sometimes the “records [and historians] assign a particular narrative logic to a process that lacks order and efficiency,” and, as a result, “What freedom meant to freed people has only been partially told” (175). Even in that context, however, the volume will require a skilled teacher, already familiar with the existing historiography, to make sense of it for students. If there is any criticism, it might be the omission of any focus on emancipation beyond the United States, except in the preface by Foner.
As historians come to grips with the suffering, abuse, and terror Blacks faced, emancipation, as Thavolia Glymph notes, has the potential to “break your heart” (132), but this collection may also give students the hope that by abandoning the traditional periodization or models we so often rely upon and pa
Ron Gifford – Illinois State University.
[IF]A liberdade é uma luta constante | Angela Davis
Talvez não seja absurda a máxima “me diga o que tu lês e eu te direi o que tu és”. Afinal, nossos gostos não são naturais. São históricos e, portanto, revelam as afinidades teóricas, posições políticas e éticas de nós mesmos e da cultura que nos enlaça. Deste modo, o ato de escolher um livro para leitura reflete as estruturas hierárquicas do poder e do saber.
Logo, escutar a fala de Angela Davis – digo escutar porque o seu texto transpõe as letras e ecoa como uma voz forte que grita a sensibilidade, por meio de seu ativismo político e suas reflexões intelectuais que, aliás, caminham lado a lado, é ganhar fôlego e coragem para falar de coisas que o projeto neoliberal tenta calar para não desestabilizar as relações de desigualdade que ele faz manter rígida.
Davis não fala do racismo contra a mulher negra. Sua frase “quando as mulheres negras se movem, toda a estrutura política e social se movimenta na sociedade” mostra como a violência contra a mulher está diretamente articulada a violência do Estado, ao sistema prisional, ao sexismo e ao capitalismo. Neste sentido, ela desromantiza o feminismo negro e lança a real: para acabar com a percepção de que a mulher negra só serve para ser subalterna ou fazer sexo barato ou forçado, não basta lutar pelo lugar de fala individual. Ter jornalista negra na bancada de um jornal não é suficiente para aplacar o racismo. É preciso refletir, no coletivo, os discursos do presente e ver como eles mantém, sob novos arranjos, o passado escravista, como no complexo industrial-prisional, nos serviços de assistência à saúde, à educação e à assistência social, todas empresas que captam lucros obscenos graças ao encarceramento e a alienação da população. É, pois, na correlação entre as categorias de gênero, raça e classe que somos alertados a pensar e mudar nossa experiência.
Deste modo, as reflexões de Davis nos lançam para a interseccionalidade, um conceito de estrutura intelectual e política que tensiona o dinamismo da violência presente no enodamento entre patriarcado, supremacia branca, Estado, mercado, imperialismo e capitalismo. A luta pela liberdade não é limitada, ela se estende a todas as condições de vida desafortunada do mundo. Para tanto, ela convoca a pensarmos em estratégias e táticas que sejam acessíveis a uma amplitude de pessoas, incluindo aquelas cujo nível de despolitização banaliza injustiças. Para ela, a luta deve ser globalizada, exercida pelo coletivo. Só assim poderemos enfrentar a militarização da sociedade, sempre com beleza e estímulo. Ela realça essas condições para a luta.
Contra o insidioso individualismo capitalista, que é perigoso e inclusive modela e enfraquece as formas de lutas, Davis enfatiza que os movimentos coletivos devem ter maior importância que as falas sobre indivíduos tomados isoladamente. Outrossim, a história não deve ser percebida como gerida por personalidades heroicas, mas por pessoas comuns, que em espírito de comunidade, exercem seu protagonismo. Logo, não se pode reduzir o enfrentamento do racismo a pessoa de Nelson Mandela ou Martin Luther King. Eles foram figuras importantes, claro, mas suas realizações, como eles mesmos reconheciam, aconteceram no âmbito coletivo.
Do mesmo modo, não se pode reduzir a luta contra o racismo a questão da representatividade individual. O ingresso de pessoas negras em quadros de reconhecimento socioeconômico – ter tido um ministro negro como presidente do STF, por exemplo – não aplaca os efeitos do racismo na vida da maioria da população negra. Aliás, é assim que o capitalismo opera seu politicamente correto: individualizando-o, ou seja, concentrando o discurso contra o racismo em exemplos isolados para mantê-lo aceso em suas engrenagens. Assim, os discursos pela representatividade devem se referir a luta pela liberdade negra, o que inclui a acessibilidade aos direitos legais, é verdade, mas, sobretudo, a possibilidade de subsistência concreta, através de moradia, saúde, educação, emprego, segurança, enfim, ao desmonte estrutural do funcionamento social baseado, dentre outros, na violência policial, no aprisionamento racista e na exploração capitalista.
Se tomarmos o complexo industrial-prisional, no Brasil e no mundo, veremos que sua lucratividade é diretamente proporcional a manutenção da engrenagem escravista que ele incita. A tendência a reduzir os problemas de segurança pública à construção de presídios de encobre a tática neoliberal de se desviar dos problemas sociais subjacentes – concentração de renda, qualidade da educação, gratuidade do serviço de saúde, tolerância a diversidade sexual e religiosa, etc., que, em última instância, são transformados em mercadorias extremamente lucrativas quando deveriam ser direitos fundamentais, ofertados gratuitamente a todos, sem exceção.
Dentro desta perspectiva, todo fenômeno que cerceia a vida humana deve ser tomado como uma questão social que os atos de luta por justiça devem incluir em suas pautas. É de extrema relevância uma contextualização ampliada e globalizada para compreender os fenômenos que restringem os direitos civis. Demarcar os elos que articulam as múltiplas formas do aparato segregatício, nos diferentes períodos históricos, é imprescindível. Demarcar a presença do passado no presente, para se tecer um futuro comum, é crucial. Caso contrário, como iremos compreender o fato do negro ser sempre invadido pelo medo quando do encontro com policiais por ser considerado um elemento suspeito? Obviamente, atualmente não vivenciamos os abusos escancarados do tronco de açoite de negros ou da Ku Klus Klan. Não obstante, as atrocidades policial, militar e estatal funcionam sob a mesmo modelo e funcionalidade daqueles. Basta tomarmos o número de adolescentes negros, moradores de comunidades brasileiras, mortos pela polícia.
Portanto, a criminalização do racismo nas leis não significa a abolição do racismo, que persiste de modo ostensivo, transpondo o poder judiciário. As instituições sociais tornam o racismo profundamente arraigado, escamoteado e presente no entrecruzamento dos discursos da economia, da política, da ciência, da religião, da mídia, da estética, da família, das forças armadas, da saúde, da educação e do trabalho.
Por isso, não se pode analisar a questão a partir de casos individuais. Processar alguém que cometeu um ato racista, embora seja importante, não mortifica as raízes do racismo que estão no aparato. Igualmente, ter uma mulher negra no comando de uma penitenciária não oferece garantia nenhuma. As tecnologias e o regime do poder permanecem intactos. Deste modo se o “quem matou Marielle Franco?” reivindica unicamente a criminalização e o encarceramento das pessoas envolvidas, ele estará reproduzindo o trabalho do Estado, porque quando focamos no indivíduo culpado, engajamo-nos involuntariamente na mesma lógica que reproduz a violência que supomos contestar.
Daí os esforços em agregar novas perspectivas nas reflexões dos ativistas, seguindo a linha da interseccionalidade dos movimentos e do desenvolvimento de manobras de lutas que produzam identificações entre os membros que as elaboram e, por isso mesmo, a elas se engajam. Se esse tipo de abordagem não for feita, fica até difícil assimilar a questão do abolicionismo prisional, que envolve questões ideológicas e psíquicas mais profundas que simplesmente o fechamento das instituições. Sobre isso, vale citar a representação do policial e do bandido nos desenhos infantis em que o primeiro é bom porque prende o segundo, que é mau e por isso é levado para a prisão. Ou seja, há um encadeamento implícito entre os significantes mau e prisão, que precocemente é introjetado no imaginário social, impedindo uma análise crítica sobre as condições de possibilidade da maldade, que não são inatas, são sociais. Aliás, as prisões existem para bloquear este tipo de enfoque. A mesma violência que justifica sua construção é aquela da qual ela se alimenta para exercer seu funcionamento.
Destarte, é preciso incentivar pensamentos que desmontem a idéia segundo a qual a prisão é um lugar destinado a punição de quem comete crimes. É necessário ampliar as avaliações. Para tanto, algumas interrogações são bem vindas: por que há mais negros que brancos encarcerados? Por que os escolarizados são minoria nas prisões quando comparados aos analfabetos? Parece que o holofote deveria incidir primeiro sobre os temas racismo, educação, saúde, moradia. Temos de falar do papel político, econômico e ideológico da prisão. É por aí que chegaremos na associação dela ao sistema punitivo, não o oposto. É um esquema lucrativo. Como Foucault anunciou, as prisões existem para não funcionar, para depositar pessoas que representam grandes feridas sociais. É este seu projeto. Segurança, lei e ordem são retóricas que viabilizam o aumento da população carcerária e, por efeito, consolam o eleitorado burguês, promovem a corrupção e a concentração de renda e amalgamam a incompetência e a recusa estatal aos problemas que merecem atenção.
É preciso repetir a todo instante para não esquecer: a abolição da escravatura não aboliu a instituição escravidão, que continua no modus operandi das sociedades democráticas. Lembremos da precarização do trabalho tão bem representada pelotas aplicativos de entrega.
Outro ponto importante salientado por Davis é a necessidade de não inferiorizarmos as pessoas em relação as quais defendemos os direitos. Afinal, a luta por justiça social somente será efetiva se for feita em parceria e igualdade entre aqueles que são injustiçados e aqueles que têm consciência da injustiça. A libertação das mulheres não é uma luta das mulheres, assim como o racismo não é uma luta dos negros. Pensar em termos identitários despontencializa o ato. Não podemos reduzir o feminismo e o racismo aos corpos, ao gênero, a individualidades. A luta não pertence a ninguém em si. Ela é de todos. É global e objetiva a globalidade. Todos os movimentos – população LGBTQ +, feminista, antirracista, dos doentes mentais, prisioneiros, pessoas em situação de rua, etc. devem ser coesos e agir em massa, em solidariedade transacional, pois os objetos de suas causas estão interligados e incorporam em sua estrutura reminiscências históricas de relações de poder.
A mudança deve ser sistêmica. Não podemos medir os níveis de transformação em curso se tomando como critério analítico ações individuais. O indiciamento do policial que matou o adolescente João Pedro em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em maio deste ano, durante uma operação contra o tráfico de drogas, não dá conta, isoladamente, de romper a barbárie instalada pela violência policial. É preciso repensar o papel da polícia, a forma pela qual ela é encorajada a usar a violência como primeiro recurso de trabalho e de como ela repete a tendência de criminalizar a cor da pele, já reinante na época da escravidão. É curioso escutar nas narrativas de pessoas negras o quanto a cor da pele se coloca como um elemento determinante em suas relações sociais. Uma mulher negra é barrada na piscina de um clube por ser confundida com uma babá. Um homem negro na parada de ônibus é olhado com terror por pessoas brancas por poder ser um assaltante. Enfim, a ideologia entre negritude, sexualização e criminalização é controlada por um aparato que transcende a pessoas e cargos. Eleger um presidente negro não corta a raiz do racismo. Os EUA nos mostra isso. Ter Obama eleito e reeleito, com seu progressismo, não impediu o assassinato do adolescente Michel Brown, em Ferguson, em 2014, tampouco o sufocamento de George Floyd, durante oito minutos, por um policial branco, em maio deste ano. Nenhuma mudança ocorre somente porque um chefe de Estado a quer. Nenhum direito é dado. Todo direito é tomado, através de lutas da massa.
Destarte, devemos inferir que as lutas antirracista, das questões de gênero, contra a homofobia, contra as políticas repressivas anti-imigração, contra os indígenas, os mulçumanos, devem ser tomadas como um emblema da luta pela liberdade. Certamente, a liberdade de muitas pessoas é cerceada. O fato de ter uma modelo negra e trans na passarela da São Paulo Fashion Week não transforma necessariamente a condição de vida da maioria das mulheres negras e trans. Indica, apenas, a ascensão de alguns, bem poucos, indivíduos.As conexões entre os acontecimentos e experiências devem ser continuamente estimuladas para que não esqueçamos de que nada acontece isoladamente. “A injustiça em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça de todo o mundo” (DAVIS, 2018, p. 66), diz Davis, citando Martin Luther King.
O neoliberalismo incita o individualismo, fazendo as pessoas pensarem apenas nelas mesmas. Isso aparece até em seu discurso politicamente correto, afinal, o capitalismo é político e sabe usar isso a seu favor, como por exemplo, na tentativa de concentrar na pessoa de Mandela toda a luta antirracista, desconsiderando o processo vivido por um conjunto de companheiros e companheiras. Até nas supostas campanhas publicitárias feitas com pessoas negras, gordas, idosas ou com deficiência o que chama a atenção é o protagonismo para o consumo, para a vida de si mesmo.
Não podemos contaminar as lutas reivindicatórias com tal idéia, pois é no coletivo que elas se dão, apesar de todos os desafios. Afinal, “o otimismo é uma necessidade absoluta, mesmo que seja apenas um otimismo da vontade e um pessimismo da razão” (DAVIS, 2018, p. 56).
Um traço do discurso de Davis é o reconhecimento do sujeito coletivo da história. Para ela, há uma tendência em concentrar os grandes feitos históricos em individualidades masculinas e investidas de poder. Tendência esta perigosa porque enfraquece o movimento. Ora, o número de ruas em nosso país que homenageia os grandes nomes da história é altíssimo. Igualmente o é o número da população carcerária, que passa dos 773.000. Mas, também, vela o papel fundamental, nos movimentos pela liberdade das pessoas comuns, das mulheres, domésticas, trabalhadores rurais, dentre outros. Vale salientar que os regimes de segregação e autoritarismo não são destituídos pela ação de um líder e sim pelo protagonismo de pessoas que, tendo um posicionamento crítico na relação com a realidade, não se calam e vão a luta. Com efeito, o conceito de liberdade só pode ser forjado por quem dela se encontra privado. O lugar de fala deve ser dado a estas pessoas. É preciso desconstruir o mito, reforçado no imaginário social, de que existiu, existe e existirá um salvador, um messias. É claro que há pessoas na história que devem ser aplaudidas por sua perspicácia em perceberem e autorizarem atos que viabilizem a luta mediante a garantia dos direitos civis – Mandela, Lincoln, Obama, Lula, etc. Entretanto, restringir a questão da liberdade a isso é enfraquecê-la em sua amplitude. Não é suficiente o reconhecimento legal da união homossexual quando um filho de um casal homoafetivo é estigmatizado na escola.
Por isso mesmo destacar a elaboração de pautas sistêmicas, tal qual a erigida pelo Partido das Panteras Negras, em 1966, nos EUA, cujo eco ainda se faz potente em nosso século graças à amplitude de suas reivindicações. Como sugere Davis, o partido, ao reconhecer que a escravidão não seria eliminada com sua mera abolição, esforçou-se pela luta da liberdade, entendendo que nesta está incluída o fim da exploração do capitalismo aos oprimidos, a aquisição de moradias adequadas a vida humana, uma educação crítica e não alienante, saúde gratuita, o fim da violência policial, o fim das guerras, controle da tecnologia pelo coletivo, dentre outros. Talvez não seja absurdo apostar que a consciência e a amplitude do movimento tenha sido determinante para que Davis entrasse na lista das dez pessoas criminosas mais procuradas pelo FBI, sem nunca ter feito nada. Aliás, fez. Ela se insurgiu com força e determinação. E, é verdade, as faces do neoliberalismo sabem intimidar – e usa meios legais para isso – aqueles que o enfrentam, desencorajando o restante das pessoas a não se envolverem em protestos sociais. É nesta perspectiva que o assassinato de Marielle Franco precisa ser situado.
Davis nos lembra que, embora Bush tenha declarado o combate ao terror nos EUA, após o 11 de setembro de 2001, o termo terrorista já era amplamente designado aos ativistas da luta antirracista na década de 1960, no país, pelos discursos de ordem e lei do presidente Nixon. Assim, o fenômeno terrorismo parece funcionar como uma estratégia sólida para justificar truculências. Talvez caiba aqui citar que é de terrorista que o presidente Bolsonaro nomeia aqueles que lutam pela liberdade no país. Ora, o que foi a fantasmagoria em torno da operação Lava-jato e seu discurso jurídico de anticorrupção senão uma manobra institucionalizada de poder que abriu espaço para o avanço do fascismo no Brasil, com toda uma engrenagem de fake news, apoio midiático e empresarial e conivência da burguesia?
Reconhecer, pois, as continuidades entre as diferentes formas de violação da vida são imprescindíveis para se construir lutas globais para a ampliação da “linha do nós”, sem exceção de classe, gênero, raça ou etnia. E, ainda, para que o acesso ao conhecimento, ao bem estar biopsicossocial e ao trabalho não sejam determinadas pelas obscenidades do lucro capitalista.
Davis ressalta que os constantes casos de violência devem ser sempre mencionados pelos movimentos. Tal evoca luta, perseverança e coragem na construção de um futuro comum. Para ela, nomes como Michel Brown e Assata Shakur devem ser citados não apenas para prenderem os responsáveis por sua morte, mas para anunciar a verdade sobre a violência no mundo. Ou seja, para mostrar que estamos vacinados contra soluções manifestas e enganosas, que deixam intactas toda uma estrutura latente. Os movimentos contra o racismo suscitados pela morte de George Floyd, nos EUA, que se estenderam a vários lugares do mundo, guardam sua potência aí. A maneira como ele foi morto obedece a lógica da violência de que o acusam. O ato, feito por um policial branco e de todo modo institucionalizado pelo Estado, tem um único objetivo: provocar medo na população oprimida. Fazer as pessoas desistirem de denunciar a macro estrutura de poder, ramificada nos diferentes setores da sociedade, que se mantém erguida graças a opressão das diferenças.
Como entender o investimento maciço de dinheiro na construção de presídios e o corte de verbas destinadas às escolas, que se mantém sob condições miseráveis, quando se sabe que o problema da violência urbana é um problema social que não pode ser reduzido ao nível da individualidade de um suposto criminoso? Mas, o complexo prisional é mais lucrativo que a construção de escolas. Fato.
Assim, Davis insiste que o epicentro das teorias e práticas do século XXI devem ser a interseção e a globalidade. Se tomarmos a questão do feminismo, veremos que seu discurso é de certo modo aceito pela sociedade em geral e até reforçado pelo capitalismo porque, no fim das contas, ele se destina as mulheres brancas de classe média e alta que devem ser livres para ter “o seu estilo” que podem adquirir nas lojas e magazines, que vendem todos os estilos. Em contrapartida, mulheres negras, da classe trabalhadora, que inclusive trabalham com serviços domésticos para que as mulheres abastadas sejam livres, permanecem à margem, excluídas da própria categoria “mulher”. Então, de que mulher falamos? De que humanos falam os direitos humanos? Questionamentos como estes são essenciais para se desconstruir a universalização de categorias como as de “mulher”, “humano”, “negro”, que reforçam o discurso meritocrático. No fim das contas, é preciso ter consciência que o caráter revolucionário e radical das lutas não está simplesmente no esforço em incluir os indivíduos, sejam eles mulheres, negros ou trans, em categorias ideologicamente formatadas. Trata-se, essencialmente, de uma contestação à própria categoria, que precisa ser repensada para deixar de produzir normatividades, ou seja, referenciais cristalizados sobre quem pode ou não pode ser mulher, por exemplo. O trabalho empreendido pelos movimentos precisa ser feito na intersecção entre raça, classe, sexualidade e gênero, deslocando-se de uma abordagem centrada em experiências individuais e detendo-se em questões mais amplas como os sistemas de produção neoliberal, o complexo industrial prisional, o encarceramento psiquiátrico, a indústria farmacêutica, etc. Apesar desses problemas serem abordados de modo marginal e independente, a potência que os mantém ativos está justamente no elo que os liga. Vale salientar que, mesmo tendo sua identidade de gênero legalmente instituída, a mulheres trans negras e em vulnerabilidade social ainda são enclausuradas, em penitenciárias masculinas, vítimas da violência e discriminação dentro e fora das instituições.
Davis aponta a necessidade de reavaliarmos, a nível individual e coletivo, as ideologias produzidas em torno do conceito de normal. Ora, é difícil legitimar a luta pelo abolicionismo prisional se há uma percepção da massa de que as prisões são normais. Destarte, é impossível lutar pela inclusão social da loucura se esta é definida como uma doença mental essencialmente orgânica pela hegemonia psiquiátrica. Igualmente, é impossível lutar pela diversidade sexual quando há uma insistência na naturalização e binarização do conceito de gênero. Aliás, a própria ideia de normalidade é produto de condições sociais, políticas e ideológicas que são criadas para justificar legalmente e cientificamente discursos e práticas abusivas.
Assim, os movimentos pela liberdade envolvem muito mais que reivindicações de inclusão identitária. Eles envolvem a consciência em relação às estruturas de poder capitalista, ao colonialismo, ao racismo, ao fascismo e a multiplicidade de experiências que não devem ser objetos de uma categorização. Tais movimentos não nos mostram apenas a existência de uma série de conexões entre discursos e práticas de instituições diversas que tendemos a analisar isoladamente. Eles nos convocam a esboçar modelos epistemológicos, teóricos, metodológicos, éticos e de organização coletiva que nos levem além de classificações maniqueístas, moralizantes e reducionistas, incitando-nos a adentrar no universo produtivo dos antagonismos. Enfim, os movimentos nos encorajam a uma reflexão que nos permite separar coisas que concepções ideológicas insistem em permanecer unidas e, consequentemente, separar coisas que a ideologia persiste em naturalizar. Não se pode defender o abolicionismo prisional sem considerar o antirracismo. Da mesma forma, a abolição das prisões deve abarcar a crítica a ideologia de gênero.
Pensar o feminismo em um contexto abolicionista, antirracista e vice-versa, quer dizer, interseccionalizá-los, significa aplicar a máxima de que o pessoal é político, ou seja, o individual é social. Afinal, como não vermos uma continuidade entre a violência institucionalizada das prisões e a violência doméstica e sexual contra a mulher? Não podemos reduzir o machismo a questões individuais, a um repertório psicológico anormal. Precisamos compreender que modelamos nossa intimidade, nossos sentimentos e afetos, segundo estruturas políticas de poder. Neste sentido, acabamos por fazer o trabalho do Estado em nossa vida privada, reproduzindo uma estrutura racista e repressora. O aumento do feminicídio no governo antidemocrático de Bolsonaro informa-nos isso. Ora, um governo que se constrói em torno do ódio e tortura incita os mesmos atos na vida doméstica. A violência racista e sexual, contra a mulher são práticas não apenas toleradas ou negligenciadas. Ela é encorajada.
Os movimentos pela liberdade, portanto, não tratam apenas da garantia dos direitos civis. Eles visam a mudança e ao remodelamento da estrutura. Ser livre não significa simplesmente a garantia de direitos formais que permitam o acesso e participação do indivíduo na sociedade, que continuaria a funcionar sob uma engrenagem ultrajante. Ser livre é não ter que se submeter a um sistema de produção capitalista que, utilizando um vocabulário coaching, extorque o tempo de vida da maioria das pessoas, enfraquecendo os vínculos sociais, sindicais e trabalhistas, incutindo-lhes a ideal do consumo como determinante de uma vida feliz. Aliás, a luta implica repensar radicalmente nossa vida íntima, a construção daquilo que somos, pois o capitalismo já faz isso e, por isso, tendemos a reduzir nosso projeto de existência a posse de mercadorias que poderemos adquirir com trabalho e esforço, reproduzindo, assim, uma lógica escravista, em que o abusador e o abusado é o próprio indivíduo.
Por fim, Davis adverte que a luta é global, ampla, articulada, interseccionlizada, solidária, coletiva. É constante.
Kelly Moreira de Albuquerque – Possui graduação em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (2009), mestrado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (2012) e doutorado em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (2016). Atualmente é doutora III do Centro Universitário Fanor Wyden. E-mail: kellynha.psico@hotmail.com
DAVIS, Angela. A liberdade é uma luta constante. São Paulo: Boitempo, 2018. Resenha de: ALBUQUERQUE, Kelly Moreira de. Uma luta constante. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 12, n. 23, p. 204-211, jan./jun., 2020.
Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos (R)
Publicado pela editora Companhia das Letras, em 2018, o Dicionário da Escravidão e Liberdade conseguiu a façanha de reunir uma grande quantidade de especialistas para discutir um dos temas mais caros ao pensamento brasileiro: a escravidão. Embora o tema seja discutido em congressos e seminários, estes eventos nem sempre contam com esse quantitativo de especialistas. A reunião em torno do dicionário resultou em 50 textos críticos, escritos por 45 pesquisadores ligados a diversas instituições de ensino e pesquisa, que puderam conceituar a partir do assunto principal: a escravidão.
Os textos compõem um mosaico heterogêneo que apresenta o estado da arte produzido sobre a escravidão. O interessante é que o leitor pode apenas consultar os verbetes, como dicionário que é, ou poderá também relacionar os verbetes entre si, construindo pontes entre um assunto e outro, complementando-os. São possíveis algumas ligações. Logo de início, temos o verbete sobre o continente africano, que pode ser lido em conjunto com os verbetes sobre o tráfico e o transporte dos escravizados, temas que foram contemplados na escrita de Roquinaldo Ferreira, Luiz Felipe de Alencastro, Carlos Eduardo Moreira e Jaime Rodrigues. A caracterização dos africanos, contrariando a ideia de homogeneidade, teve atenção de Robert Slenes, Beatriz Mamigonian, Luiz Nicolau Parés, Eduard Alpers e Luciano Brito.
Lugares e espaços foram pensados por Marcus Carvalho, Flávio dos Santos Gomes e Carlos Eugênio Líbano Soares. A família escrava, o mundo materno, estão entre as temáticas discutidas por Isabel Cristina Reis, Lorena Féres da Silva, Maria Helena Pereira e Mariza Ariza. As leis que permearam a escravidão foram discutidas por Keila Grinberg, Hebe Mattos e Joseli Maria Nunes Mendonça. As teorias raciais, o associativismo negro e a imprensa negra foram o foco das informações de Petrônio Domingues e Lilia Moritz. Revoltas e movimentos foram verbetes escritos por João José Reis, Wlamyra Albuquerque e Angela Alonso, Jonas Moreira e Paulo Roberto. Amazônia e a escravização indígena, foram pensados por Flavio Gomes e Stuart Schwartz.
O trabalho escravo/livre e o pós-abolição foram verbetes escritos por Robson Luiz Machado, Walter Fraga, Marcelo Mac Macord e Robério Souza. Os aspectos da religiosidade foram destacados por Nicolau Parés e Lucilene Reginaldo. O processo educacional, as nuances culturais e a relação História e Literatura, foram escritas por Sidney Chaloub, Marta Abreu e Maria Cristina Cortez Wissenbach. Há ainda os ritos fúnebres que aqui foram escritos por Cláudia Rodrigues. São possibilidades que a leitura vai sugerindo. É um dicionário, não nos preocupemos com as teorias ou metodologias dos autores, essas se revelam nos verbetes.
Não é o primeiro dicionário a enfocar a escravidão. Em 2004, Clovis Moura, consagrado pesquisador e importante referência desse tema, publicou o Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, com 800 verbetes. Foi, na verdade, a última contribuição do historiador e sociólogo que dedicou boa parte de sua vida a discutir a saga heroica do escravo em inúmeros trabalhos. Em 2018, catorze anos depois, o público passa a contar com um novo instrumento para estudos nesta mesma temática. A escravidão e os seus desdobramentos mantêm a vitalidade das discussões como caminho fundamental para entender as diferenças sociais que atingem milhões de afrodescendentes no país.
O período da escravidão no país fez com que esse tema passasse a se desenrolar em toda História do Brasil. Em qualquer assunto que possamos pensar o Brasil, em algum momento, a temática irá perpassar atravessando como uma flecha. O período Colonial e Império viram de perto esses desdobramentos, e na República as consequências continuam sendo brutais para milhões de brasileiros. “Esse sistema que pressupunha a posse de um homem por outro só podia construir um mundo de rotina que se misturava com muita violência e explosão social. ” (Pg. 28).
Há diferenças circunstanciais entre os dois dicionários, e essas diferenças marcam a trajetória dos estudos da escravidão no Brasil. Clovis Moura construiu sua vasta obra fora dos quadros acadêmicos, embora sempre estivesse em constante diálogo com a academia, e como já vimos, sua bibliografia está presente na estante dos pesquisadores do tema. É bem provável que o autor tenha sido o último grande baluarte de uma safra de intelectuais que construíram seus conceitos sem necessariamente estarem ligados a uma Universidade.
O Dicionário da Escravidão e Liberdade já traz no título um indicativo de que mudanças profundas entre uma publicação e outra ocorreram. A partir dos anos 1970, o Brasil irá contar com um crescimento dos programas de pós-graduação, ganhando mais intensidade nos anos finais da década, que ainda estava sob uma brutal Ditadura Militar.
A presença destes programas propondo novas pesquisas, revisando outras e colocando em xeque saberes há muito cristalizados, teve como base a mudança metodológica, que propunha uma História problema a partir de novas abordagens e novos objetos, consistindo de análises apuradas em rica documentação depositadas em diversos arquivos. O trabalho sistemático de inúmeros pesquisadores que em muitos casos enfrentaram as diversas dificuldades, como falta de incentivo às pesquisas, arquivos desorganizados, documentos comprometidos e a insistente incapacidade de uma sociedade dar o devido valor ao profissional da História, forjaram uma gama de trabalhos que passaram a ser fundamentais para discutir, entre outros problemas, a desigualdade social com a grande diferença para os afrodescendentes.
O resultado dessa reviravolta vem logo nos anos 1980, com a chamada Nova História da Escravidão, em que passa a ser valorizada a ação protagonista do negro escravizado que a todo instante passa a ser também responsável pela construção de sua liberdade, atento às dinâmicas da sociedade que estava inserido, contrariando a imagem do escravo heroico e coisificado. Essa nova historiografia é, portanto, a linha que une os autores dos textos coordenados por Lília M. Schwarcz e Flávio Gomes.
São vários os desdobramentos que a escravidão apresenta para o estudioso e, neste sentido, nada mais importante que esse instrumento de estudo, porque embora seja uma obra recentemente lançada, ela já se configura como fundamental tanto para o público leigo, como os acadêmicos de história e de outras ciências. Os textos críticos do livro abordam os momentos iniciais no continente africano; a travessia atlântica; o convívio social na América Portuguesa; a religião e seus rituais; a cultura; as formas de trabalho; a formação dos laços parentais e o nascer, viver e morrer de homens e mulheres que vieram do lado de lá da África mãe, uma verdadeira viagem a tempos e espaços de um Brasil que teima em não se enxergar. Um dos pontos mais interessantes desta obra é enxergar como homens e mulheres escravizados contribuíram de forma decisiva com saberes que influenciaram na formação do cotidiano brasileiro nos mais diversos aspetos.
Revoltas e resistências estão presentes para sepultar de vez os argumentos da historiografia tradicional que viam o negro como passivo durante toda escravidão. Neste sentido, para além da fórmula popularizada pelos livros didáticos que consagraram o ciclo do açúcar, o Dicionário propõe conceituar a escravidão em outras regiões, como o Rio Grande do Sul, Goiás e Amazonas; ampliando o entendimento da relação entre indígenas, imigrantes europeus e escravos, enfatizando que, “os manuais didáticos insistiram numa escravidão africana que começava com o açúcar, passava pelo ouro e terminava no café. Talvez por isso as áreas de plantation de algodão, arroz e fumo, foram pouco estudadas no Brasil. ” (p.25-26)
Ricamente ilustrado, o conjunto das imagens foi organizado em dois cadernos distintos e Lília Moritz, observa que “é importante, pois, que o leitor atente não apenas para os títulos deixados originalmente por seus autores e que aparecem como legenda técnica juntos das gravuras, telas e fotografias, mas também para os comentários que elaboramos, buscando “ler as imagens”” (Pg. 44). O que é bastante positivo pois didaticamente funciona bastante no auxílio aos professores, por exemplo.
São ao todo 154 imagens divididas em dois cadernos: o primeiro caderno está logo depois da página 192, e o segundo inicia na página 352. Colocados logo após o início do texto crítico, fica desconfortante, porque nos leva de certa forma a suspender a leitura e a divagar nas imagens. É possível que fique melhor ao final do verbete, cremos assim que contribuiria para a fluidez da leitura. A opção de organizar em cadernos ficou interessante, imagens distribuídas ao longo dos textos críticos criaria a sensação de livro didático ou dicionário ilustrado, o que nos parece não foi intenção dos autores aqui.
O Dicionário da Escravidão e Liberdade terá um papel fundamental para acadêmicos em todos os níveis e cursos. Durante a graduação por exemplo, período em que paira uma dúvida sobre o que pesquisar, entre outras informações encontrará o graduando, conceitos sobre família escrava, formas de resistência ou as doenças que acometiam os negros escravizados, além de tantos outros temas. Também será um referencial, um ponto de partida para novas investigações.
Cito como exemplo instigador para novas pesquisas, o texto Associativismo Negro (Pág. 113) e Frente Negra (pg. 237). Nos dois, o autor discorre sobre como os negros no Pós-Abolição intensificaram frentes intelectuais sendo protagonistas em diversos momentos da sociedade republicana, seja em São Paulo ou Santa Catarina. Instiga no momento em que nos perguntamos, o que sabemos desses movimentos nas outras cidades? Quais foram os protagonistas? Como os jornais de Pernambuco, ou Alagoas, por exemplo, noticiaram estas frentes negras?
Quando a Lei Áurea completou cem anos, o quantitativo de publicações chamou atenção, fato que não mais se repetiu. No entanto, agora já podemos contar com editoras que se dedicam à causa negra no país, e paralelo a isto, há diversos núcleos de Pós-Graduações que desenvolvem as mais diferentes pesquisas e estudos. Desta relação surge por exemplo, este Dicionário elegantemente com prefácio de Alberto da Costa e Silva e capa desenhada por Jaime Lauriano, nos convida ao prazer da leitura.
Referências
Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos/Organização: Lilia Moritz Schwarcz e Flávio dos Santos Gomes (Orgs.) – 1ªed. São Paulo: Companhia das Letras. 2018.
MOURA, Clóvis. Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. São Paulo: Edusp, 2004.
SECRETO, María Verónica. Novas perspectivas na história da escravidão. Tempo, Niterói, v. 22, n. 41, p. 442-450, dezembro de 2016. Acesso em 23 de julho de 2020. https://doi.org/10.20509/tem1980-542x2016v224104
Vladimir Jose Dantas – Mestre em Geografia/Arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é Doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: professorvladimir2017@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0510-248X.
Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos. Lilia Moritz Schwarcz e Flávio dos Santos Gomes (Orgs.). São Paulo: Companhia das Letras. 2018. Resenha de: DANTAS, Vladimir Jose. Lendo o Dicionário da Escravidão e da Liberdade. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.38, n.1, p.554-559, jan./jun. 2020. Acessar publicação original [DR]
Dios y libertad. Félix Frías y el surgimiento de una intelectualidad y un laicado católico en la Argentina del siglo XIX | Diego Castelfranco
Dios y libertad…, es una versión en formato libro de la tesis doctoral de Diego Castelfranco, defendida en la Universidad Nacional de General Sarmiento en 2018. Centrado en la vida de Félix Frías, el libro combina el registro biográfico –concebido en este caso como un “recurso” para adentrarse en la historia política del siglo XIX– con algunos de los recientes aportes de la historia intelectual. Tanto en lo que atañe a la dimensión sociológica –es decir, la reconstrucción de espacios de sociabilidad y redes de circulación de textos, escritos y personas– como al registro de los denominados “lenguajes políticos”. Una perspectiva mucho más enunciada que efectivamente transitada en la historiografía argentina pero que en Dios y libertad...adquiere peso específico. Leia Mais
Entre servidão e liberdade – SANTIAGO (CE)
Homero Silveira Santiago. 16 set. 2020. https://www.youtube.com/.
 SANTIAGO, H. Entre servidão e liberdade. São Paulo: Politeia, 2019. Resenha de: OLIVA, Luis César. Entre servidão e liberdade de Homero Santiago. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.42, jan./jun., 2020.
SANTIAGO, H. Entre servidão e liberdade. São Paulo: Politeia, 2019. Resenha de: OLIVA, Luis César. Entre servidão e liberdade de Homero Santiago. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.42, jan./jun., 2020.
O caminho de um jovem professor e pesquisador depois de seu período de formação (supondo abstratamente que a formação termine com a conclusão das teses de mestrado e doutorado, o que é sabida – mente falso) é sempre sinuoso. Depois de anos regido por um projeto de pesquisa e “vigiado” por agências de fomento, ele se vê dividido em múltiplas tarefas didáticas, administrativas e intelectuais (algumas feitas de bom grado, outras nem tanto) que produzem, na sua obra publicada, uma inevitável impressão de dispersão. De certo modo, é esse percurso fragmentado que Homero Santiago nos traz em Entre Servidão e Liberdade (2019).
Depois de seu mestrado e doutorado sobre Espinosa, ambos revelando um historiador da filosofia de boa cepa, capaz de abordar temas circunscritos e pouco explorados pela tradição interpretativa, mesclando coerentemente rigorosas análises de texto com eruditas considerações históricas, eis que o autor agora deve dividir-se em escritos dos mais diferentes formatos: artigos especializados e para o público geral, traduções, prefácios, resenhas, entrevistas, etc. Ao reunir boa parte deles neste livro, Santiago não esconde a multiplicidade de formas nem a variedade de ocasiões que os motivaram. Porém, se a forma talvez denuncie a dispersão do percurso, o conteúdo a nega, atestando a admirável unidade de pensamento de um filósofo que usou as mais variadas vias de expressão para discutir uma única e fundamental questão: a transição (infelizmente nem sempre de mão única) da servidão à liberdade.
Dividido em cinco partes (e uma introdução que mencionaremos mais tarde), o livro se abre com um notável capítulo sobre a superstição em Espinosa, no qual o autor apresenta uma das mais completas e detalhadas análises já feitas sobre o famoso apêndice da parte I da Ética . Mais do que mostrar a renitência do historiador da filosofia meticuloso, este longo capítulo tem a função de revelar o ponto de vista com o qual Santiago pretende abordar os diversos assuntos presentes no livro. É com lentes espinosanas que o fará, e com atenção específica para o aspecto que talvez afaste Espinosa do outro filósofo que mais marcou o percurso de Santiago e é quase onipresente na etapa final do livro: Antonio Negri. Enquanto Negri, também inspirado em Espinosa, deixa-se levar pelo otimismo dos movimentos multitudinários e dá todo o destaque para a liberdade, Santiago ancora-se na análise espinosana da superstição para dar conta da inegável servidão que nos assola. Ao final do livro, quando Santiago explicitar suas críticas (que não impedem a enorme admiração) a Negri, o leitor perceberá plenamente o quanto era significativo ter no apêndice seu ponto de partida.
O mergulho na servidão, porém, não ocorre sem uma visão da praia. Embora as decepções com o sistema de crenças da superstição não apontem, na letra do apêndice, para uma saída, elas abrem ao menos uma possibilidade, que não será explorada neste texto, mas que remete Santiago a outro de Espinosa, o Tratado da Emenda do Intelecto, onde as decepções com os valores da vida comum nos levam à necessidade de começar a filosofar, ou pelo menos, como dirá o segundo capítulo,
já que os valores são necessários, tratemos nós de forjá-los em vista da alegria e do benefício à vida. Poder fazê-lo talvez seja o mais difícil, mas precisamos fazê-lo. Se não o fizermos, se nos restringirmos ao mais fácil, o preconceito, a tristeza, a superstição e os seus lugares-tenentes o farão por nós (SANTIAGO, 2019, pág. 118).
De um lado, esta surpreendente conclusão nos remete à introdução do livro, onde Santiago usa, também surpreendentemente, Pascal para pensar a transição entre servidão e liberdade. É no interior do determinismo da teologia jansenista da graça que Pascal inventa um sentido para a apologia: é preciso crer que estamos entre os eleitos, assim como os homens que nos cercam, por mais ímpios que sejam, enquanto lhes restar um momento de vida. Para Santiago, ao fazê-lo, Pascal está criando um possível no seio do necessário, e aí se encontra a surpreendente afinidade entre os dois pensadores.
De outro lado, o trecho citado nos remete a outro capítulo funda – mental, em que o que é apenas intuído na teologia de Pascal ganhará clareza conceitual para aplicar-se a Espinosa. A partir de uma engenhosa interpretação do papel da ignorância nas definições de contingente e possível, Santiago encontra para este último um lugar fundamental na ética e na política espinosanas:
o ponto de vista do possível ignora a causa, mas a ignora sobre – tudo porque a considera, ou seja, toma a coisa como tendo causa (…). Com efeito, se possível é aquilo cuja causa é indeterminada, possível é igualmente aquilo cuja causa pode ser determinada; sobre a qual, em suma, pode-se agir, pois o indivíduo se enxerga (correta ou incorretamente) como agente possível de um acontecimento (SANTIAGO, 2019, p. 153).
Sem desconsiderar o fato de que, ontologicamente, só há o necessário, Santiago dá ao possível a realidade de uma tarefa cujo cumprimento é imperioso para o uso da vida. Este capítulo, assim, fecha o bloco mais estritamente espinosano do livro, apresentando tanto a realidade da servidão, quanto a possível porta aberta para a liberdade. Como passar por ela? Eis a pergunta que o restante do livro tentará responder das mais variadas maneiras; nenhuma delas, porém, definitiva. Já chegando à terceira parte do livro, é curioso que o primeiro texto explicitamente dedicado ao pensamento de Negri seja antecedido por um capítulo dedicado a outra notória espinosana, Marilena Chaui. A despeito das diferenças interpretativas dos dois filósofos sobre a obra de Espinosa, a contiguidade dos dois capítulos acaba destacando algo de comum entre eles, e que remete à influência marxista que ambos compartilham: a importância dada à luta de classes. Olhar para os conflitos no interior da sociedade, e não só para a história do Estado, como se este fosse um ente transcendente e causa de si próprio, é uma tônica de vários textos de Chaui. Em Negri, é a partir da análise das lutas operárias que se desenvolverá a apropriação particular que o italiano faz do conceito espinosano de multidão, central em sua filosofia (e também na de Santiago, que com ele pensará, dentre outros temas, junho de 2013). Mas a atenção aos conflitos sociais e a recusa Espinosana da transcendência, comuns a ambos, levarão Chaui e Negri a caminhos diversos. Para Chaui, nas palavras de Santiago, “se a tirania persiste é porque se enraíza na vida social, dela emergindo como efeito que decorre de uma causa e envolve, de alguma maneira, todo o corpo social” (SANTIAGO, 2019, pág. 192). Daí surgirão as reflexões de Chaui sobre Brasil como sociedade autoritária. Seria o lado amargo da multidão? Para Negri, a multidão é o sujeito da práxis coletiva que brota do desejo primordial de libertação, subjacente a todas as carências particulares que aparecem nas lutas sociais. Como explica Santiago:
a noção restritiva de classe sai de cena em benefício de uma noção bem mais ampla, que permite pensar a unidade de todos os explorados em sua própria diferença, sem recurso à tradicional subsunção dessas diferenças à identidade do operário industrial, isto é, o operário-massa. Em segundo lugar, a luta de classes passa a ser considerada como possuindo seu motor no desejo. É a articulação dessas duas inovações que, nitidamente, vai nos direcionando para o conceito de multidão, que ao fim e ao cabo se revelará o único capaz de nomear essa nova classe (SANTIAGO, 2019, p. 212).
Aqui decerto não há lado amargo, mas a lente crítica de Santiago não se furtará ao questionamento óbvio (aliás retomando, por outro viés, o problema da passagem da servidão à liberdade): como pode este conceito fazer-se acontecimento?
A filosofia de Negri será retomada mais à frente, em detalhe. Antes disso, porém, a quarta parte do livro dará lugar a três preciosos ensaios sobre temas recorrentes em nossa realidade social: a polícia e seu pendor à violenta obediência abstrata; o Estado e seu escopo; e final – mente o dinheiro e a liberdade. Todos têm por ponto de partida objetos empíricos particulares, como o colaboracionismo da polícia francesa durante a segunda guerra ou as transformações sociais decorrentes do Bolsa-Família, mas a questão teórica de fundo é a mesma: os conceitos de servidão e liberdade. Ademais, depois da passagem por Chaui e Negri, não poderiam ser mais claras as razões de Santiago para voltar-se para os acontecimentos sociais. As conclusões, porém, são sempre teóricas, e tão surpreendentes quanto (para um leitor atento) coerentes com as bases conceituais estabelecidas nos capítulos anteriores.
Sem entrar em mais detalhes, inclusive para não entregar todas as voltas e reviravoltas ao leitor, cabe destacar mais uma vez a importância deste trabalho nos dias que correm. Útil tanto para especialistas (em Espinosa, Negri, Chaui e até mesmo Pascal e Nietzsche) quanto para o público geral, o livro traz reflexões particularmente vivas quando espasmos autoritários nos ameaçam de longe ou de perto. Embora seja o retrato do percurso intelectual singular de Homero Santiago, Entre Servidão e Liberdade alcança, se não a universalidade, pelo menos a comunidade dos bens que podem ser partilhados.
Referências
SANTIAGO, H. Entre servidão e liberdade. São Paulo: Politeia, 2019.
Luis César Oliva – Professor Universidade de São Paulo. E-mail: lcoliva@uol.com.br
Concebendo a liberdade / Camillia Cowling
O livro de Camillia Cowling publicado nos Estados Unidos, em 2013, e recentemente traduzido para o português já se constitui uma leitura obrigatória para historiadoras, historiadores e demais pessoas interessadas em conhecer aspectos da luta de pessoas escravizadas na Diáspora. Em Concebendo a liberdade a autora apresentou uma pesquisa comparativa entre Havana (Cuba) e Rio de Janeiro (Brasil) na qual “mulheres de cor” apareciam na linha de frente da luta por liberdade legal para elas próprias e suas crianças nas décadas de 1870 e 1880.
Ao prefaciar a obra Sidney Chalhoub foi muito feliz ao lembrar a acolhida que o livro de Rebeca Scott a Emancipação Escrava em Cuba teve no Brasil, ainda na década de 1980, evidenciando o interesse do público brasileiro em saber mais sobre este processo em Cuba, colônia Espanhola que assim como o Brasil e Porto Rico foi um dos últimos redutos da escravidão nas Américas.
Mais de três décadas desde a tradução do livro de Scott, a pesquisa de Cowling chegou ao Brasil em um momento que embora já possamos contar com vários estudos de referência para o conhecimento a respeito da escravidão e da liberdade muitos lacunas ainda estão por serem preenchidas, a exemplo, das especificidades da experiência das mulheres – escravizadas, libertas e “livres cor”.
Felizmente, o alerta das feministas negras, especialmente a partir da década de 1980 de que as mulheres negras tinham um jeito específico de estar no mundo ganhou novo impulso nos últimos anos, notadamente, devido ao processo que resultou na Primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras, ocorrida no Brasil, em 2015, cujos desdobramentos já podem ser percebidos na sociedade brasileira e tem inspirado pesquisadoras e pesquisadores no desafio de reconstituir esse passado.
Inserida no campo da história social e utilizando uma escala de tempo pequena para descortinar a agência feminina negra, Cowling esteve atenta também para questões mais amplas do período investigado como às conexões atlânticas entre Cuba e Brasil no contexto da “segunda escravidão”. Isso permite que a leitora e o leitor possam notar que embora tivessem optado por um processo de abolição gradual da escravidão ambos vivenciaram processos paralelos e distintos um do outro.
A obra foi dividida em três partes e subdividido em 8 capítulos. Neste texto destaco alguns aspectos, dentre vários outros, que chamaram minha atenção de maneira especial. Primeiramente, saliento que Cowling conseguiu remontar o itinerário de duas libertas tornado visíveis as marcas deixadas por elas tanto em Havana como no Rio de Janeiro, de modo que personagens tradicionalmente invisibilizadas pela documentação e, até mesmo, pela historiografia tiveram seu ponto de vista descortinado nas páginas de seu livro.
Os fragmentos da experiência de Romana Oliva e Josepha Gonçalves de Moraes remontados pela autora é a demonstração de um esforço investigativo de fôlego e bem sucedido. As questões levantadas e o exercício de imaginação histórica da pesquisadora tornaram possíveis que a partir do ponto de vista dessas mulheres possamos saber como pensavam várias outras de seu tempo e compreender os sentidos de suas escolhas, bem como daquelas feitas por seus familiares, escrivães, curadores e integrantes do movimento abolicionista.
A liberta Romana que comprara a própria liberdade um ano antes de migrar para Havana, em 1883, encaminhou uma petição dirigida ao governo-geral de Cuba reivindicando a liberdade de suas 4 crianças, María Fabiana, Agustina, Luis e María de las Nieves que estavam em poder de seu ex-senhor, Manuel Oliva. Quase um ano depois, foi a vez da liberta Josepha dar início a uma ação de liberdade na cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de retirar sua filha, Maria, ingênua, com apenas 10 anos, do domínio de seus ex-senhores José Gonçalves de Pinho e sua esposa, Maria Amélia da Silva Pinho.
Assim como outras tantas pessoas, Romana e Josepha eram migrantes que a despeito das dificuldades das cidades, usaram a seu favor as possibilidades que as mesmas ofereciam na busca pela liberdade, além disso, como ressaltou a autora as chances de uma pessoa escravizada conseguir a liberdade morando nas áreas urbanas eram maiores do que aquelas que moravam nas áreas rurais.
De acordo com Cowling as duas libertas se apegaram as brechas da lei e fizeram omesmo tipo de alegação para contestar a legitimidade do domínio senhorial. EnquantoRomana declarou que sua filha era vítima de negligência e abuso sexual, Josepha alegou que suas crianças não estavam recebendo educação. Foi com base nessas denúncias que os senhores foram acusados de maus tratos, o que implicava na perda do domínio sobre as mencionadas crianças, conforme a legislação de Cuba e do Brasil respectivamente determinava.
No livro de Cowling, a leitora e o leitor interessado no tema pode verificar que as perguntas feitas a documentos como petições, ações judiciais, correspondências, jornais, obras literárias, imagens e legislação explicitam que as mulheres escravizadas, libertas e “livres de cor” sempre estiveram no centro da luta por liberdade legal. Isso porque as noções de gênero foram determinantes para o modo como elas vivenciaram a escravidão e consequentemente influenciaram em suas escolhas na luta pela conquista da manumissão. Além disso, especialmente nas décadas de 1870 e 1880, elas que sempre estiveram na linha de frente das disputas judiciais foram colocadas ainda mais no centro do processo da abolição gradual da escravidão.
As Romanas e as Josephas foram muitas nas duas cidades portuárias investigadas pela autora e com o objetivo de conseguir a própria liberdade e de suas crianças, elas se apegaram a argumentos legais tomando como base a legislação, como a Lei Moret de 1870 e a Lei do Patronato de 1880, em Cuba; e a Lei do Ventre Livre de 1871, no Brasil, mas também se apegaram a argumentos extralegais baseados em valores culturais como o“sagrado” direito a maternidade, apelando para piedade e a caridade das autoridadespara os quais levaram suas demandas de liberdade para serem julgadas.
Para Cowling, sobretudo, a retórica da maternidade era tão forte que era utilizada tanto por mulheres ao reivindicarem a liberdade de suas filhas e filhos como nos casos em que eram os filhos que buscavam libertar suas mães, e mesmo, nos casos em que os pais apareceram junto com as mães tentando libertar suas crianças, a opção era por colocar a maternidade no centro.
Não poderia deixar de trazer para este texto aquele que a meu ver é um dos pontos mais fortes da obra. Trata-se da opção da autora de enfrentar o tema da violência sexual contra “mulheres de cor”, aspecto da vida de muitas dessas personagens, ainda pouco explorado pela historiografia brasileira, seja devido ao sub-registro dessa violência na documentação disponível que era escrita em sua maioria por homens da elite e autoridades muitos dos quais também proprietários de cativas, seja devido à própria tradição de priorizar outros aspectos da experiência das pessoas.
Para a autora a tradição de violar o corpo de “mulheres de cor” era naturalizada entre os senhores e os homens da lei tanto que os primeiros não viam qualquer impedimento à prática de estuprá-las. Por isso mesmo, a falta de proteção extrapolava a condição de cativas e nem mesmo a liberdade legal era garantia de proteção ou reparação contra aqueles que as forçassem a ter relações sexuais com eles ou com outros (muitas escravizadas eram forçadas a prostituição por suas proprietárias e proprietários).
No entanto, se por um lado, ao se depararem com denúncias de violência sexual as autoridades geralmente posicionavam-se a favor dos agressores, inclusive responsabilizando as próprias “mulheres de cor”, prática que tinha a ver com a imagem que esses homens de maneira geral faziam desse grupo social considerado por eles como lascívias e corruptoras das famílias da elite. Por outro, ao procurar à justiça para denunciar a violência sexual elas explicitavam sua própria compreensão sobre si mesmas. Ao fazer isso Romana e várias outras estavam dizendo que acreditavam ter conquistado para si e para suas filhas o direito de poder dizer não para um homem com quem não quisessem fazer sexo.
Cheguei ao epílogo da obra convencida por Cowling de que embora Romana e Josepha tenham vivido em lugares diferentes e nem se quer se conhecessem, caso tivessem tido a oportunidade de se encontrar naqueles anos cruciais de suas vidas, elas teriam muito que conversar. Inevitavelmente suspeito ainda que várias mulheres negras do século XXI que tiverem acesso as minúcias do itinerário das personagens trazidas no trabalho terão a sensação de que também poderiam participar da conversa.
Por fim, acredito que as questões levantadas ao longo da obra sob vários aspectos servirão de inspiração para historiadoras e historiadores empenhados na reconstituição tanto quanto possível da vida de mulheres escravizadas, libertas e “livres de cor”, bem como de seus familiares e das pessoas com as quais elas se aliaram na construção de outros tantos processos coletivos de luta por liberdade legal.
Karine Teixeira Damasceno – Pós-Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura (PUC-Rio), Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
COWLING, Camillia. Concebendo a liberdade: mulheres de cor, gênero e a abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro. Tradução: Patrícia Ramos Geremias e Clemente Penna. Campinas: UNICAMP, 2018. 440p.. Resenha de: DAMASCENO Karine Teixeira. “Mulheres de cor” no centro da luta por liberdade legal em Havana e no Rio de Janeiro. Canoa do Tempo, Manaus, v.11, n.2, p.294-297, out./dez., 2019. Acessar publicação original.
Formas de liberdade: gratidão/condicionalidade e incertezas no mundo escravista nas Américas | Jonis Freire, María Verónica Secreto
O livro aqui resenhado reúne textos de especialistas de diferentes países a respeito da experiência da escravidão e da liberdade na América Latina e Caribe. Com alguma variação de abordagem, estilo e perspectiva, os trabalhos transitam entre a história social e a micro-história, explorando uma rica documentação de natureza administrativa, eclesiástica, legislativa, judiciária e notarial. O livro é composto por nove capítulos que se estendem espacialmente pelo Caribe francês, por diferentes regiões da América hispânica, de norte a sul do continente, e pelo Brasil, concentrando-se de modo preponderante nos séculos XVIII e XIX. Alguns são escritos em espanhol, outros em português. Leia Mais
Pessoas comuns, histórias incríveis: a construção da liberdade na sociedade sul-rio-grandense – SILVA (RBH)
O Brasil não sofre de falta de passado, talvez ele conviva com um excesso de passado. A questão que se coloca não é a ausência de uma noção do passado nacional, mas sim de qual passado se preserva. Essa ideia foi apresentada por Fernando Nicolazzi na conferência “História e Historiografia em tempos de transição”, oferecida no XVI Encontro Regional de História (Anpuh/Paraná, 2018). O passado que se cultiva no Brasil pode ser pensado nos termos propostos por Manoel Bomfim, ainda na primeira metade do século XX. Bomfim destacou em suas obras como o Brasil incorporava narrativas postas a deturpar sua trajetória histórica, bem como perpetuava um padrão de socialização calcado no parasitismo social (Bomfim, 2005; 2013). Esse passado que se cultiva é, em grande medida, aquele que perpetua as premissas estamentais da sociedade brasileira. Leia Mais
Os caminhos para a Liberdade de Escravizadas e Africanas livres em Maceió (1849-1888) | Danilo Luiz Marques
Danilo Luiz Marques é graduado em História pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), mestre em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), e doutor em História Social (PUC/SP), com período sanduíche na Michigan State University, nos Estados Unidos. Professor da rede pública estadual de São Paulo, com experiência na área de Arquivologia e História, e tem se dedicado a pesquisas, a saber: História do Brasil no século XIX, Resistência Escrava, Gênero e Escravidão, História e Historiografia Alagoana.
O livro do autor é produzido originalmente como dissertação de mestrado em História Social, pela PUC/SP, com o título de “Sobreviver e Resistir: os caminhos para liberdade de africanas livres e escravas em Maceió (1849-1888)”, defendida no ano de 2013. A obra do jovem historiador apresenta um caprichado mergulho na realidade das experiências de vida de mulheres africanas livres e escravizadas na cidade de Maceió, Alagoas, Brasil, na metade do século XIX, bem como descreve acertadamente a luta destas mulheres por sobrevivência e resistência no período de escravidão no país. O resultado é uma leitura aprazível e um texto que contribui para o debate sobre gênero e escravidão no Brasil do século XIX. Leia Mais
Dramatização dos corpos: arte contemporânea e crítica feminista no Brasil e na Argentina – TVARDOVSKAS (HU)
TVARDOVSKAS, L.S. Dramatização dos corpos: arte contemporânea e crítica feminista no Brasil e na Argentina. São Paulo: Intermeios, 2015. 488 p. Resenha de: RIBEIRO JÚNIOR, Benedito Inácio. História, gênero e feminismo: arte e práticas de liberdade no Brasil e na Argentina. História Unisinos 22(2):320-325, Maio/Agosto 2018.
Com mais de dez artigos publicados versando sobre os temas feminismo, gênero, arte e história, Luana Saturnino Tvardovskas traz a público os frutos colhidos na sua pesquisa de doutorado, defendida no Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp, sob a orientação de Margareth Rago.2 A obra, intensa nas reflexões e no peso, contempla a produção artística das brasileiras Rosana Paulino, Ana Miguel e Cristina Salgado e das argentinas Silvia Gai, Claudia Contreras e Nicola Costantino. Atravessando e historiando os caminhos de “[…] verdades cáusticas, de saberes menosprezados e de vozes inauditas” (Tvardovskas, 2015, p. 430) de tais artistas, a historiadora costura perspectivas historiográficas sobre mulheres, gênero e feminismos aos conceitos e práticas políticas e de pensamento de intelectuais como Michel Foucault, Judith Butler, Rosi Braidotti, André Malraux, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Margareth Rago, Norma Telles, Suely Rolnik, Tânia Navarro-Swain, Nelly Richard e Leonor Arfuch. O que garante a qualidade dessa urdidura é um apurado trabalho de análise das obras e das trajetórias das artistas e uma escrita politizada, afetada e afetuosa.
Comprometida com o assunto – arte, história e feminismo –e com a orientação de Rago desde a graduação, Tvardovskas privilegiou pensar estilísticas da existência e produções artísticas a partir do ferramental teórico-político- -metodológico feminista em sua trajetória como historiadora. Sua dissertação de mestrado é exemplo disso: defendida em 2008, Figurações feministas na arte contemporânea: Márcia X., Fernanda Magalhães e Rosângela Rennó, ela analisa instalações, performances e objetos artisticamente construídos com o objetivo que questionar verdades instituídas em relação à sexualidade, ao corpo feminino e à subjetividade (Tvardovskas, 2008).
Voltando à obra, esta foi defendida como tese de doutorado em 2013 e revista para ser publicada como livro em 2015. O livro foi dividido em cinco capítulos e em duas partes. Junto com a introdução, o primeiro capítulo –“Um museu imaginário feminista: histórias da arte e feminismos, diálogos possíveis” – está separado das duas partes do livro. A primeira parte – intitulada Brasil– contém os capítulos 2 e 3. No primeiro deles, “De ousadias discretas e manobras radicais: mulheres artistas no Brasil”, a reflexão sobre a produção de mulheres na arte brasileira a partir de 1970 e do movimento feminista toma lugar, ao mesmo tempo que a temática de gênero é discutida em relação aos contextos curatoriais e aos estudos acadêmicos. Já o terceiro capítulo, que recebeu o nome de “Potência desconstrutiva: Rosana Paulino, Ana Miguel e Cristina Salgado”, é escrito a partir do estudo das produções e trajetórias artísticas das três brasileiras investigadas por Tvardovskas. Argentina, como é denominada a segunda parte do livro, é composta pelos quarto e quinto capítulos, respectivamente intitulados “Cuerpos aflictos: arte e gênero na Argentina contemporânea” e “Memórias insatisfeitas: Silvia Gai, Claudia Contrerase Nicola Costantino”. Assim, a segunda parte da obra obedece à organização feita pela autora na sua primeira parte, pois os capítulos são organizados com o intuito de evidenciar as discussões sobre as artes e os feminismos nos seus contextos nacionais e, em seguida, verticalizar a análise abordando as artistas separadamente. O primeiro deles relaciona os temas da arte, política e gênero na Argentina contemporânea, trazendo reflexões acerca do período ditatorial e de abertura política e sobre a crítica de arte no país. No seu quinto e último capítulo, a obra interpreta as imagens plásticas produzidas por Gai, Contreras e Costantino.
No início do seu primeiro capítulo, Tvardovskas esclarece que seu trabalho buscará uma conjunção entre crítica cultural e História para abordar as poéticas visuais das artistas que são seu objeto de estudo. O intuito da autora é problematizar a partir de um olhar feminista essas estéticas femininas, partindo da hipótese de que tais produções “[…] anunciam novas possibilidades de intervenções na cultura”, e, inspirada em Walter Benjamim, questiona se elas podem ser “[…] compreendidas como espaços de resistência ao empobrecimento ético, político e subjetivo atual” (Tvardovskas, 2015, p. 37).
Nessa esteira, a autora vai situando os seus referenciais para a discussão de suas artistas-objeto: chama para a conversa Michel Foucault e Judith Butler para questionar a naturalidade dos corpos, percebendo-os a partir daí como produtos de discursos sobre o sexo. Interessa-se pelo conceito foucaultiano de parrhesia, que seria uma experiência antiga greco-romana construída a partir do cuidado de si e dos outros, buscando a afirmação de uma existência bela, libertária e ética. Desse modo, a opressão feminina vivenciada em seus corpos, a negação de seus desejos e a renúncia de si seriam terrenos de desconstrução de mulheres artistas que buscam em suas próprias vidas a matéria de seu trabalho. Logo, a autora situa as produções das seis artistas analisadas nessa convergência teórico-política.
Ainda no primeiro capítulo, preocupa-se em pensar a crítica feminista sobre as artes visuais, pontuando as concepções de arte e história da arte no Brasil, na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. Assim, Tvardovskas evidencia as condições históricas que excluíram as mulheres da história da arte ocidental. A partir de autoras como Griselda Pollock, Linda Nochlin, Rozsika Parker, Whitney Chadwick, para citar apenas algumas, a autora expõe que nos séculos XVIII e XIX as mulheres foram impedidas de pintar os gêneros tidos como maiores, entre eles os nus, sendo-lhes permitido apenas o estudo da natureza morta, do retrato e da paisagem. Também a ordem burguesa, no mesmo período, afastou ainda mais o conceito de artista da identidade das mulheres, com a redução delas ao papel reprodutivo e ao lar. No século XX, as concepções de originalidade e genialidade foram quase sempre atribuídas aos homens, assim como as mulheres foram banidas da história do modernismo. Embasada por reflexões que desconstroem as bases da História da Arte, bem como da própria disciplina histórica, Tvardovskas aponta para a compreensão da História que não se vê mais como discurso neutro ou universal como importante passo para a compreensão das mulheres, artistas ou não, como sujeitos históricos, concluindo que “[…] a história enquanto enunciado verdadeiro e absoluto não serve ao feminismo” (Tvardovskas, 2015, p. 61). O primeiro capítulo se encerra com uma crítica à pretensão de compreender uma periodização para a crítica de arte feminista latino-americana que coincida com a efervescência desses temas na Europa e nos Estados Unidos, iniciada a partir dos anos 1970. Os regimes ditatoriais que se deram no nosso continente na segunda metade do século XX ritmaram de outro modo o movimento feminista e seus efeitos no campo artístico, e, de acordo com a autora, apenas depois dos momentos de abertura política o feminismo impactou de forma mais efetiva a indústria cultural e as artes em geral. Por esse desenvolvimento mais tardio, Tvardovskas afirma que não houve no Brasil uma revisão dos cânones artísticos ou uma rememoração de nomes de mulheres em outros períodos históricos, como ocorreu nos países de língua inglesa. Assim, a partir de uma vontade de evidenciar perspectivas feministas e seus locais na arte latino-americana, Tvardovskas inicia suas análises.
O segundo capítulo se encarrega da discussão sobre as mulheres na arte brasileira e também introduz pequenas biografias de Ana Miguel, Rosana Paulino e Cristina Salgado, bem como apresenta seus estilos e materiais de trabalho. Insere, dessa forma, a produção e carreiras das três artistas na fase de abertura do regime militar, na década de 1980, caracterizada pela euforia por novas possibilidades artísticas e políticas. A história política do Brasil, do movimento feminista, das artistas-objeto e de outros artistas brasileiros é enfocada no estudo, gerando um panorama crítico das condições históricas que caracterizaram a arte e os trabalhos de Miguel, Paulino e Salgado. Com o fim da ditadura, Tvardovskas percebe como os movimentos sociais foram fortalecidos e, dentre eles, o feminismo. Isso levou as mulheres a se imporem mais abertamente como sujeitos políticos e atuarem criticamente em áreas como produção cultural, academia e no poder legislativo, repensando a cidadania, os corpos, o gênero, a sexualidade feminina e seus papéis de mães, esposas e filhas. Os anos 90 vão se caracterizar, então, por uma maior interação das obras de mulheres na desconstrução do imaginário misógino brasileiro, resultado do fim dos governos autoritários e da visibilidade conquistada pelos movimentos feministas.
Duas informações são importantes para entender o engajamento necessário às artistas mulheres para fazer arte no Brasil. Primeira: a entrada das mulheres nas instituições de educação artística no Brasil enfrentou grandes dificuldades, percebidas pela autora até finais do século XIX, já que apenas em 1892 foi concedido o acesso às mulheres ao ensino superior, como na Academia Nacional de Belas Artes. Outra informação buscada por Tvardovskas é a questão de grandes nomes femininos do modernismo brasileiro. Amparada nos resultados de sua própria dissertação e nas pesquisas de Marilda Ionta, a autora entende que o grande reconhecimento de Tarsila do Amaral e de Anita Malfatti estabelece a importância das mulheres na arte nacional e, ao mesmo tempo, sugere-se que não haveria distinções entre homens e mulheres nesse campo: “Criou-se a representação na mídia e na historiografia de que a presença dessas duas artistas confirmava que no Brasil não existiam problemas de gênero no território artístico” (Tvardovskas, 2015, p. 96).
Na seção final do capítulo 2, a autora dá visibilidade à maneira pela qual a discussão de gênero veio tomando lugar nas artes visuais brasileiras, percorrendo catálogos de exposições, obras analisadas, exposições organizadas com o intuito de divulgar a arte de mulheres no país, concluindo que tais discussões serviram para deslocar conceitos e valores, questionando as naturalizações que envolvem a arte brasileira, as mulheres e a domesticidade. Tvardovskas conclui que a arte contemporânea abriu espaços de liberdade e de questionamento de normas e, por isso, pode ser compreendida pela ideia foucaultiana de estética da existência.
Ao iniciar o terceiro capítulo, Tvardovskas esclarece que fará uma leitura feminista das produções dessas autoras – que nem sempre entendem suas obras ou a si mesmas como feministas –, conjugando autobiografia e política para compreender seu objeto de pesquisa. Desse modo, as três artistas brasileiras e seus trabalhos são percebidos desde suas questões cotidianas e “marcas vividas”, mesclando aspectos culturais e sociais para a “[…] busca de caminhos diferenciados para a constituição das subjetividades na atualidade” (Tvardovskas, 2015, p. 114).
Em decorrência disso, nas narrativas pós-estruturalistas e feministas, como defende a obra, autorretrato foge às narrativas tradicionais de uma constituição de um eu verdadeiro. No caso das artistas mulheres, o uso de temas e materiais íntimos, cotidianos e domésticos serviria, segundo suas perspectivas de gênero, para negociar, reagir e inverter os ditames da feminilidade “[…] e da identidade ‘Mulher’, constituindo imagens muito surpreendentes de si mesmas” (Tvardovskas, 2015, p. 11). Não seria a autobiografia individualista, branca, ocidental, masculina e universal, mas, em nome da pluralidade, apostas na ressignificação e intensificação das experiências vividas.
Assim, obras como a instalação My bed, da inglesa Tracey Emin, trazem uma interrogação sobre os limites entre público e privado, na qual a cama, objeto íntimo, pode despertar questionamentos sobre a vida em sociedade. Salgado, Paulino e Miguel seriam exemplos dessa arte que conjuga elementos autobiográficos, íntimos e privados ao mundo político e público. Rosana Paulino3 tematizará em suas obras as questões de gênero e etnicidade: questiona modelos de comportamento e corpo a ela destinados historicamente, “[…] marcando sua arte com ‘traços de revolta’” (Tvardovskas, 2015, p. 139). Uma das obras analisadas em Dramatização dos corpos é a impactante Bastidores (2013), em que seis fotos de mulheres negras são expostas em bastidores de costura com suas bocas, testas, olhos ou gargantas costurados grosseiramente com linha escura.
Paulino, em entrevista colhida por Tvardovskas, afirma que a obra reúne memórias familiares aos problemas coletivos. A historiadora entende que do espaço íntimo de Paulino emerge uma crítica atroz à sexualização e silenciamento das mulheres negras, mas também conexões com o passado escravista brasileiro. Nessa esteira, sendo mulher negra, tendo passado pela experiência ainda na infância da pobreza, do racismo e do sexismo, Paulino se vale dessas experiências subjetivas em grande parte do seu trabalho: ressignificando práticas cotidianas femininas como o costurar, o tecer, o bordar, gera posicionamentos e reflexões sobre as práticas violentas que caminham juntas às vivências femininas e negras. Guiada por Deleuze e Guattari, a autora vê nessa artista e suas criações espaços abertos a devires e desterritorializações identitárias sobre as mulheres; e, inspirada em Foucault, lê as mesmas imagens como a “coragem da verdade”, numa implicação ética na qual Paulino fala francamente da escravidão.
Em Ana Miguel4 é possível ver as associações do feminino com aranhas e fiandeiras, bem como personagens de contos de fadas como Rapunzel. Recorrendo aos materiais e às técnicas comumente ligados ao feminino, como a linha, a cama e o crochê, Ana Miguel gera afeto e incômodo na sua obra I love you. A descrição e as camadas de sentido que recobrem a obra são pensadas por Tvardovskas a partir de referências clássicas, como o mito de Aracne, da influência do pensamento psicanalítico na obra de Miguel e as questões envolvendo o corpo feminino. A autora percebe que a sua instalação Um livro para Rapunzel (2003), assim como suas teias de crochê, caracterizam-se como modos de deslocar naturalizações sobre o feminino. A infância é pensada também, ao lado da instalação supracitada, com a exposição Pensando a pequena sereia, “a matéria é o que deseja minha alma” (1990), como lugar de repensar a subjetivação das meninas.
Por fim, Miguel tem seu trabalho Ninhohumano (2008) estudado por Tvardovskas: trata-se de uma intervenção urbana feita em conjunto com Claudia Herz, na qual as duas habitam por dias uma árvore no aterro do Flamengo (RJ). Para Tvardovskas, a intervenção força os limites entre o jardim público e o espaço privado da casa: desloca as divisões estabelecidas entre público e privado, entre locais habitáveis e não habitáveis. Assim, Miguel revela uma multiplicidade de sentidos sobre o humano, o feminino e a infância, repensando o corpo e o desejo para uma “potência feminina criativa”.
A última brasileira abordada no livro é Cristina Salgado.5 Esta se volta para o corpo feminino com a intenção de romper com significados cristalizados por meio de torções, fraturas, rompimentos, dobras e incisões, representando esculturas de corpos impossíveis e problematizando a questão da nudez (Tvardovskas, 2015). Também envolvida em temáticas que cruzam estética e psicanálise, os corpos esculpidos por Salgado são plasmados às paredes e objetos de decoração, com inchaços e torções se fazendo evidentes. De acordo com Tvardovskas, a estratégia já vinha sendo usada por outras artistas surrealistas como crítica à domesticidade feminina.
Em sua instalação Grande nua na poltrona vermelha, composta em 2009 e com direta associação com Grande nu no sofá vermelho (1929), de Pablo Picasso, o corpo de uma mulher se derrama pelo espaço, excedendo as proporções humanas, mas rostos, mãos e pés dão caráter humano ao emaranhado de dobras e torções. O nu para a artista mulher torna-se uma presença e uma ausência que, nas palavras de Tvardovskas, significa o corpo nu feminino sempre em evidência em obras de arte, mas criadas e vistas por olhares masculinos. Ao contrário, Salgado o deforma e o recria: a sua mulher nua se derrama aspirando buscar outras formas de entender o feminino, o corpo, a arte e as próprias maneiras de conceber nosso olhar sobre o mundo, inventando o feminino como dobras não localizáveis, numa leitura deleuziana.
A segunda parte da obra se inicia no quarto capítulo, que tem como objetivo entender as nuances das relações entre arte e gênero na Argentina contemporânea. Como fez ao tratar do Brasil, a obra pensa a história política recente naquele país como terreno fértil para as artes em geral: a violência, a tortura, os desaparecimentos e os assassinatos vividos no período ditatorial (1966-1973) fazem surgir um luto simbólico nas expressões estéticas, e as artistas argentinas analisadas não escapam a essa problemática. Traçando um panorama da história da arte argentina, Tvardovskas aponta para as omissões das quais as artistas mulheres foram vítimas. Assim como aconteceu no Brasil com Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, artistas mulheres que atingiram certo reconhecimento na Argentina, como Lola Mora e Marta Minujín, têm suas trajetórias usadas para mascarar o silenciamento das poéticas visuais femininas e a inexistência de interesse sobre as obras das demais artistas.
Tvardovskas afirma que em meados da década de 1980 tem-se a inserção de prismas de gênero na arte argentina: depois da ditadura, numa realidade econômica e social deteriorada, a cena underground refletiu acerca dos corpos e suas sexualidades “fora da ordem”. Já em 1986, a exposição Mitominas I acolhe obras de mulheres que se perguntavam acerca dos mitos que as construíam enquanto mulheres, e, dois anos depois, a exposição Mitominas II. Los limites de la sangre fará alusão à violência política na Argentina, à AIDS e à violência de gênero.
Para pensar as relações entre arte e gênero na Argentina, a historiadora relembra os parâmetros que consideraram certas manifestações artísticas como “arte política” na década de 1960: em confronto com a ditadura, artistas se dedicavam a tecer críticas ao poder e às estruturas macropolíticas. A partir dos anos 80, Tvardovskas reconhece um fortalecimento e maior visibilidade dos movimentos sociais, mas o foco da crítica dos artistas não é mais somente o estado. Assim, artistas militantes que discutiam os novos impasses sociais, diferentes dos anos 60, foram tachados de despolitizados e frívolos, pois baseariam seus trabalhos em temas muito subjetivos, como o corpo e a sexualidade. Por isso, suas obras acabaram sendo pejorativamente denominadas de “arte rosa”, “arte light” e “arte gay”.
Por seu turno, o último capítulo de Dramatização dos corpos coloca os trabalhos das argentinas Silvia Gai, Claudia Contreras e Nicola Costantino sob a perspectiva dos estudos feministas. Tvardovskas encontra como eixo tematizador dos trabalhos dessas artistas as questões relacionadas ao corpo, grande sensibilidade e uma crítica forte à história do seu país. Assim, as três artistas-objeto enfatizam em suas criações a memória como prática ativa no presente e lugar de reflexão política. Silvia Gai6 começa seus trabalhos com técnicas têxteis em meados dos anos 90, tecendo órgãos humanos em crochês de formato tridimensional, aplicando-lhes um banho de água e açúcar que lhes garante uma estrutura firme, como se vê na sua série de órgãos Donaciones, de 1997. Esses trabalhos levam à reflexão sobre a enfermidade e a fragilidade dos corpos: pequenos tumores, más-formações e lacerações se alastram por seus trabalhos. As reflexões acerca do HIV, que preocupou a argentina desde os anos 80, da mesma maneira emergem em suas obras. Também há trabalhos da artista que se dão em almofadas e aventais, objetos do uso cotidiano e doméstico. Tvardovskas os entende por uma perspectiva feminista, pois Silvia Gai “[…] explicita os enunciados sociais que tradicionalmente restringem as mulheres à domesticidade, em nome de uma suposta ‘ordem biológica’” (Tvardovskas, 2015, p. 320). É possível ver a criação de corpos sensíveis à percepção, de uma maneira muito diferente daquela expressa pelos invasivos discursos médicos e cirúrgicos. As linhas e redes formadas pelos seus trabalhos igualmente aludem às interpretações feministas, podendo sugerir a criação cultural de órgãos, tecidos e corpos.
Já Claudia Contreras7 usa materiais e técnicas de criação muitas vezes tachadas como menores e atribuídas às mulheres, confrontando acidamente a história do último século, em especial os genocídios e a ditadura em seu país. Os problemas que inundam a Argentina na década de 1990, como as mazelas do neoliberalismo e o empobrecimento massivo da população, suscitam na arte de Contreras questões a serem tratadas, bem como os desaparecimentos políticos da ditadura militar, numa tentativa de reconstruir o passado de forma crítica, questionando discursos oficiais e os problemas da memória e do esquecimento. Em reconstruções do mapa argentino, ela expõe corpos atacados e agredidos, como nas obras Argentina Corazóne Columna vertebral, ambas de 1994-1995. Já a série Cita envenenada (2001), “[…] remete à prisão de militantes políticos pela polícia, por meio do descobrimento de esconderijos e encontros marcados, associada, portanto, à traição” (Tvardovskas, 2015, p. 375). Nesse sentido, Contreras utiliza um objeto cotidiano, banal, como uma xícara, e nele expõe dentes humanos, estabelecendo uma relação entre os micropodores que perpassam nossos cotidianos e revelam violências e impactos sobre nossos corpos. Os trabalhos que nem sempre se mostram como críticas feministas – como, à primeira vista, pode parecer Cita envenenada – podem ser lidos numa perspectiva feminista, uma vez que, para Tvardovskas, conceitos como corpo, desejo, cotidiano e poder são postulados pelas discussões de mulheres interessadas na transformação da realidade social e cultural.
Nicola Costantino8 encerra as análises de Dramatização dos corpos, mostrando o olhar ácido sobre a cultura argentina e as convenções de moda, do feminino e da maternidade presente nos trabalhos dessa artista. Assim como Contreras e Gai, Costantino é entendida por Tvardovskas como uma daquelas artistas que utilizam a água como elemento sofredor e matéria de desespero, o que pode ser visto na obra Ofelia, Muertede Nicola Nº II.9 A maternidade, a cozinha, o envelhecimento e a beleza feminina são constantemente questionados pelas corrosivas obras de Nicola Costantino, o que fica claro nos seus trabalhos de inkjetprint, como nas impactantes Nicola costurera (2008), Madonna (2007) e Savon de corps (2003). Em Nicola Alada, de 2010, a imagem de si é usada para refletir acerca do corpo, o imaginário sobre a mulher e a violência histórica. Seu autorretrato como Vênus na frente de uma enorme carcaça bovina pendurada causa uma mordaz contradição entre o ideal da imagem feminina e a violência causada ao olhar espectador pela carne animal exposta. O corpo animal entrecruzado ao corpo de Vênus nos faz perceber, segundo Tvardovskas, o sofrimento possível em um corpo, em especial o das mulheres.
Passando à conclusão, Tvardovskas entende as obras das seis artistas estudadas como práticas fluidas e em constante reelaboração e como exercícios de reconstrução de si e da cultura no seu entorno: as produções de Salgado, Paulino, Miguel, Gai, Contreras e Costantino ampliam nossas formas de perceber o feminino e as ex não hierárquicas e não binárias. A autobiografia, o corpo, o espaço privado se constituem como espaços possíveis de repensar a memória e com potência criativa e libertária. Não há um sentido feminista essencial, pretendido pelas autoras ou fixo na análise de Tvardovskas; muito pelo contrário, a autora deixa explícita a intenção de lançar um olhar histórico e feminista sobre as obras estudadas. Durante toda a sua análise, por meio da crítica de suas fontes, das obras e das mulheres estudadas, reescreve um passado sobre a arte muitas vezes negligenciado, afirmando abertamente a sua leitura sobre elas: “Não se trata, assim, de uma simples invenção de sentidos inexistentes, mas de uma lente necessária para um olhar social que parece não conseguir enxergar com acuidade seus contínuos processos de apagamento das diferenças” (Tvardovskas, 2015, p. 380). Uma leitura mais que necessária nos tristes tempos vivenciados pela cultura e arte brasileiras, quando se olha, por exemplo, para as recentes polêmicas acerca do cancelamento da exposição QueerMuseu (Folha de S. Paulo, 2017) e em torno da performance La bête, acusada de pedofilia (Carta Capital, 2017). Dramatização dos corpos se torna leitura obrigatória num ambiente em que a arte que discute gênero, cultura LGBT, o corpo e o desejo é cada vez mais vítima de discursos censores e intolerantes.
Referências
CARTA CAPITAL. 2017. Museu de SP é acusado de pedofilia e rebate: performance não tem conteúdo erótico. Disponível em: https:// www.cartacapital.com.br/sociedade/museu-de-sp-e-acusado-de- -pedofilia-e-rebate-performance-nao-tem-conteudo-erotico. 29 set. Acesso em: 31/10/2017.
FOLHA DE S. PAULO.2017. Após protesto, mostra com temática LGBT em Porto Alegre é cancelada. Disponível em: http:// www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/09/1917269-apos-protesto- mostra-com-tematica-lgbt-em-porto-alegre-e-cancelada. shtml. 10 fev. Acesso em: 31/10/2017.
TVARDOVSKAS, L.S. 2008. Figurações feministas na arte contemporânea: Márcia X., Fernanda Magalhães e Rosângela Rennó. Campinas, SP. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, 223 p.
TVARDOVSKAS, L.S.2013. Dramatização dos corpos: arte contemporânea de mulheres no Brasil e na Argentina. Campinas, SP. Tese de Doutoramento. Universidade Estadual de Campinas, 370 p.
TVARDOVSKAS, L.S.2017. Currículo da Plataforma Lattes. Brasília. Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv. do?id=K4594129J5. Acesso em: 09/05/2017.
Notas
2 Esses dados foram consultados no Currículo Lattes de Luana Saturnino Tvardvoskas. Ver na lista de referências Tvardovskas (2017).
3 Nascida em 1967, é gravadora e especialista em gravura pelo London Print Studio e possui doutorado em Artes Plásticas pela ECA/USP. Todas as informações biográficas das artistas foram encontradas na própria obra de Luana Tvardovskas (2015).
4 Nascida em 1962, gravadora e escultora, estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage (RJ) e Filosofia Contemporânea e Antropologia na Universidade Federal Fluminense e na Universidade de Brasília.
5 Pintora, desenhista e escultora. Nasceu em 1957, estudou desenho, pintura e litografia na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde se tornou professora. É doutora em Linguagens Visuais pela UFRJ e professora da UERJ e da PUC-RJ.
6 Nascida em Buenos Aires em 1959, é uma escultora que trabalha com crochês e bordados, dialogando com práticas têxteis.
7 Nasceu em 1956, também em Buenos Aires. Trabalha com colagem, costura, paródia, desenhos, pinturas, bordados, objetos, fotografias e animação digital. Estudou na Escuela Nacional de Bellas Artes de Quilmes, na Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano e na Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Também estudou em Madri.
8 Nascida em Rosário, em 1964, tem sido bastante comentada no circuito latino-americano contemporâneo, trabalhando com autorretratos, esculturas, embalsamamento de animais, imitações de pele humana, performances, vídeos e instalações. Formou-se na Escola de Artes Plásticas da Universidad de Rosario e embalsamamento e mumificação de animais no Museo Nacional de Ciencias Naturales de Rosario.
9 A água possui esse lugar na produção dessas três artistas e no imaginário argentino contemporâneo pelas memórias da ditadura militar, já que eram comuns os voos nos quais militares jogavam militantes políticos no mar e no Río de la Plata.
Benedito Inácio Ribeiro Junior – Doutorando em História na Universidade Estadual Paulista (UNESP) em Assis. Professor Assistente I na Faculdade de Administração de Santa Cruz do Rio Pardo da Organização Aparecido Pimentel de Educação e Cultura. Praça Dr. Pedro Cesar Sampaio, 31, Centro, 198000-000, Santa Cruz do Rio Pardo, SP, Brasil. E-mail: beneditoinacioribeiro@gmail.com.
Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação | Rebeca J. Scott, Jean M. Hébrard
Fruto de uma extensa pesquisa realizada ao longo de sete anos por Rebecca J. Scott e Jean M. Hébrard, Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação, traz a saga da família Vincent/Tinchant, apresentada ao longo de nove capítulos e um epílogo de tirar o fôlego. Desde já, saliento que não consigo ver de outro modo senão como excepcional o modo como estes experientes pesquisadores conseguiram seguir os rastros deixados por estes “sobreviventes do Atlântico”.
Logo no início do livro, os autores nos informam que não consideraram o itinerário dos Vincent/Tinchant como típico ou representativo, o que podemos constatar ao longo da leitura. O fio inicial para a investigação foi uma carta escrita por Édouard Tinchant, um fabricante de charutos residente da Bélgica, endereçada ao general Máximo Gómez, encontrada no Arquivo Nacional de Cuba, na qual ele solicita a autorização para pôr seu nome na marca de charutos que pretendia lançar e, para tanto, não se furtou em usar sua capacidade discursiva para relatar aspectos de sua vida familiar enfatizando uma conexão entre luta por direitos civis e igualdade racial no mundo atlântico do século XIX – a Guerra Civil e a Reconstrução dos Estados Unidos (1861-1877), a Revolução Francesa (1848) e a Revolução do Haiti (1791-1804). A trilha seguida por eles nos conduziu até o século XX abrindo uma janela para que pudéssemos ver os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) na vida de pessoas que tinham “cor”, como Marie-José Tinchant. Leia Mais
Monarquia sem despotismo e liberdade sem anarquia: o pensamento político do Marquês de Caravelas (1821-1836) | C. E. C. Lynch
Seria possível conciliar um Estado forte e centralizado ao ideário liberal moderno na prática política oitocentista brasileira? A leitura de Monarquia sem despotismo e liberdade sem anarquia: o pensamento do Marquês de Caravelas nos revela que sim. Defensor tanto da soberania do rei quanto do constitucionalismo moderno, José Joaquim Carneiro de Campos – o marquês de Caravelas – foi personagem fundamental, de acordo com Christian Lynch, no processo de recepção e aclimatação do discurso liberal durante o estabelecimento do Estado de direitos no Brasil.
Prevalecente na Constituição de 1824, o projeto monárquico e estatizante dos coimbrãos contou com a participação ativa de José Joaquim Carneiro de Campos. Segundo Lynch, Caravelas foi responsável por aperfeiçoar o projeto constitucional dos Andradas, caracterizado pelo bicameralismo, por uma rigorosa centralização política-administrativa e pelo veto quase absoluto do Imperador. Sua principal contribuição foi a criação do Poder Moderador e a institucionalização de alguma descentralização político-administrativa a partir da criação dos conselhos gerais de províncias. Para ele, esse arranjo seria o ideal pois garantia “uma monarquia sem despotismo e uma liberdade sem anarquia”, expressão definidora do seu pensamento político (p. 53).
Lynch relacionou a teoria das formas de governo de Caravelas com a tradição clássica aristotélica. Segundo esta, as formas de governos existentes – monarquia, aristocracia e a democracia – eram instáveis e oscilavam constantemente entre bons e maus governos, a monarquia corrompida se degeneraria em tirania, a aristocracia em oligarquia e a democracia em demagogia. No entanto, havia uma maneira de evitar a corrupção e estabilizar esses governos: uma composição mista entre monarquia, aristocracia e democracia. Assim como Aristóteles, Carneiro Campos considerava que a melhor maneira de tornar as instituições políticas brasileiras duráveis seria por meio de um governo misto. Em sua opinião, a forma moderna que permitia o equilíbrio entre os elementos governamentais seria a monarquia constitucional representativa temperada ou limitada. Se o fundamento conceitual de Caravelas estava em Aristóteles, sua sociologia política se apoiava em Montesquieu. Isso porque sua principal preocupação, como mostrou o autor, era conciliar o governo constitucional representativo – necessidade dos tempos modernos – com a preservação da ordem e das hierarquias coloniais por meio da criação de uma legislação que respeitasse as tradições e os costumes do povo brasileiro.
O estudo sobre o pensamento político de homens como Caravelas faz parte de um longo debate historiográfico a respeito do lugar do liberalismo no processo de formação do Brasil independente. Debate longo, mas necessário, foi iniciado por obras clássicas – como a de Roberto Schwarz – que defenderam que as ideias estavam fora do lugar. De lá para cá, muito se avançou no tema. Surgiram diversos trabalhos que discutiram, de perspectivas diferentes, a formação do Brasil independente mostrando que as ideias estavam sim no lugar, a exemplo de Maria Sylvia de Carvalho, Alfredo Bosi, Lúcia Maria B. Pereira das Neves, Maria Emilia Prado, Antonio Carlos Peixoto, entre outros.
A análise instigante empreendida por Lynch nos evidenciou que, embora antigo, este debate está longe de ser esgotado. Interessado na história constitucional brasileira – graças à graduação e ao mestrado na área do Direito – bem como no seu desenvolvimento pela perspectiva daquilo que o historiador alemão Reinhart Koselleck chamou de Sattelzeit, Lynch redimensionou o lugar do conservadorismo no Brasil oitocentista por meio do resgate desse importante personagem político da independência brasileira do limbo em que se encontrava.
Nesse sentido, suas reflexões sobre a composição de um campo conservador no Brasil e sobre as construções historiográficas a esse respeito garantem uma análise provocante do processo de formação das instituições políticas brasileiras. Segundo Lynch, o marquês de Caravelas, ao sustentar um projeto liberal que conciliava a implantação de um governo constitucional representativo com a garantia de um Estado monárquico forte, seria o primeiro de uma linhagem de juristas constitucionais, na qual se entronca o visconde de Uruguai, a defender a construção e o fortalecimento do Estado como instância incubadora adequada da Nação.
Embora a obra escrita por Lynch tenha José Carneiro de Campos como objeto de pesquisa, nunca foi preocupação do autor a descrição e o acompanhamento de seus feitos como fazem diversos trabalhos biográficos. Na realidade, todo seu empenho se concentrou na reconstituição do pensamento teórico e sociológico do marquês de Caravelas e sua aplicação prática ao longo dos seus trabalhos enquanto deputado e relator do projeto constitucional de 1824. Tendo em vista esse objetivo, Lynch estruturou seu livro em duas partes: a primeira destinada a um estudo do pensamento político-constitucional do marquês de Caravelas – dividida ainda em cinco capítulos – e uma segunda reservada para a compilação de seus discursos parlamentares mais importantes, fontes que serviram de base para sua pesquisa.
Os discursos parlamentares do marquês de Caravelas foram analisados com base em duas frentes metodológicas: o contextualismo linguístico de John Pocock e a história dos conceitos de Koselleck. Na primeira frente, estes discursos foram entendidos como “atos de fala” elaborados durante a disputa política visando um espaço de atuação e de poder. Na segunda frente, o autor carioca identificou os conceitos presentes nesses discursos examinando os novos significados assumidos por eles de acordo com as circunstâncias, as necessidades e as contingências do Brasil recém-independente.
É em seu primeiro capítulo – “Os desafios da política constitucional oitocentista na Europa e na América ibérica” – que Lynch conseguiu brilhantemente conciliar essas duas frentes metodológicas, procedendo a uma bela análise relacional de texto e contexto. Infelizmente, nos outros capítulos, principalmente os três últimos, nos quais há uma reflexão sobre os elementos constitutivos do pensamento de Caravelas, a análise se concentrou apenas no texto e nos conceitos presentes nele. Apesar disso, suas reflexões sobre o enquadramento ideológico de Carneiro de Campos presentes no primeiro capítulo e as razões historiográficas responsáveis por seu esquecimento, apresentadas no segundo, são de grande relevância para os pesquisadores na área da história política brasileira.
Se a maioria dos trabalhos historiográficos explicam o processo de construção do nosso Estado a partir do liberalismo moderno, Lynch o faz baseado no conservadorismo. Ele defendeu a conservação como elo indispensável tanto para compreensão do pensamento de Caravelas quanto para o entendimento do desenvolvimento das instituições políticas brasileiras das quais ele fez parte. Ao fazer isso, o autor acabou redimensionando o sentido e o papel desempenhado pelo conservadorismo na América Ibérica.
Até hoje relacionamos o conservadorismo a posicionamentos tradicionais e, portanto, contrários a mudanças. De acordo com Lynch, isso acontece devido a conotação negativa que este conceito possuí no Brasil graças ao legado da tradição marxista de intelectuais do século XX, a exemplo de Caio Prado Jr. e Nelson Werneck Sodré, que relacionaram o conservadorismo a uma visão hierárquica de mundo, defensora de privilégios, contrária à democratização e ao reconhecimento das minorias. Inclusive, o autor associou também o esquecimento historiográfico de Carneiro de Campos, bem como sua associação apressada ao absolutismo, a essa visão negativa dos conservadores.
Depois de realizar uma síntese das principais correntes conservadoras – passando por Hume, Burke e Guizot – Lynch afirmou que elas eram equivalentes no Brasil às reflexões dos conselheiros de Estado de D. Pedro I que, baseados no modelo monarquiano do barão Malouet e de Jean Joseph Mounier, defenderam um projeto de governo constitucional e representativo no qual o rei, não a Assembleia, seria o representante da soberania nacional. A implantação desse sistema permitiu a conciliação entre o ideal modernizador ordeiro do despotismo esclarecido com o estabelecimento de um governo constitucional. Por isso, Lynch afirmou que o conservadorismo é uma espécie de liberalismo de direita, de caráter reformista e antirrevolucionário. Nesse sentido, ao invés de se apresentar em oposição total aos liberais, os conservadores teriam uma postura realista da modernidade, aceitando a inevitabilidade do progresso, embora tentassem guiá-lo de forma prudente e gradual, os adequando a cultura histórica de cada sociedade na tentativa de preservar o tecido social e evitar as rupturas revolucionárias.
No entanto, ao longo de todo o processo de independência, do primeiro reinado e dos anos iniciais das regências, o discurso daqueles que orbitavam em torno de D. Pedro I, a exemplo de Caravelas, foram associados ao absolutismo e ao autoritarismo por seus adversários políticos que desejavam um espaço de atuação e de participação no Estado brasileiro.
Somente com os saquaremas, na segunda metade do século XIX, o termo conservador passa a ser empregado na caracterização de um grupo político, apesar de seus projetos existirem desde a época da independência. De acordo com Lynch, diferentemente do Partido Liberal, que reivindicou o grupo brasiliense como primeiro embrião de seu partido, o mesmo não aconteceu com os conservadores, que preferiram venerar a memória de Bernardo Pereira de Vasconcelos e o Regresso como verdadeiro fundador do partido durante as regências. Logo, a imagem de homens como Caravelas sofreu um desgaste duplo. Ao mesmo tempo em que eram desqualificados pela historiografia luzia que os retratava como absolutistas, não tiveram sua imagem resgatada pela historiografia saquarema e ficaram sem uma posteridade política que os reivindicasse positivamente.
Mais uma vez vemos a influência do historiador inglês J. G. A. Pocock em Monarquia sem despotismo e Liberdade sem anarquia. Baseado em suas ideias, o autor buscou compreender a história como choques de discursos antagônicos. Durante muito tempo, a historiografia brasileira vem comprando a versão de autores saquaremas que localizaram o surgimento do conservadorismo no Brasil no movimento regressista. É importante entender que os saquaremas não queriam ter sua imagem pública associada ao grupo “coimbrão” devido a sua fama negativa ligada ao absolutismo.
Ao longo do livro, Cristian Lynch conseguiu demonstrar que o pensamento político de José Carneiro de Campos não tinha nada de absolutista. Muito pelo contrário, partilhava semelhanças com as doutrinas conservadoras do tempo. Isso implica reconhecer, a despeito das afirmações historiográficas, que o conservadorismo aos moldes regressistas e saquaremas existiam de alguma forma no Brasil muito antes do período regencial, sendo esta ao meu ver a principal contribuição da obra. O resgate do marquês de Caravelas do limbo do esquecimento e sua inserção num campo conservador em formação durante todo o processo de construção do Estado brasileiro nos ajuda a redimensionar a própria concepção do conservadorismo na constituição do Brasil independente.
Referência
Lynch, C. E. C. Monarquia sem despotismo e liberdade sem anarquia: o pensamento político do Marquês de Caravelas (1821-1836). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
Luaia da Silva Rodrigues – Doutoranda em história pela UFF. E-mail: luaiarodrigues@gmail.com
LYNCH, C. E. C. Monarquia sem despotismo e liberdade sem anarquia: o pensamento político do Marquês de Caravelas (1821-1836). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. Resenha de: RODRIGUES, Luaia da Silva. O pensamento conservador do marquês de Caravelas e a construção do Estado Brasileiro. Almanack, Guarulhos, n.18, p. 496-501, jan./abr., 2018. Acessar publicação original [DR]
As faces da liberdade e a teoria do reconhecimento – RAMOS (RFA)
RAMOS, C. A. As faces da liberdade e a teoria do reconhecimento. Curitiba: PUCPRess, 2016. Resenha de: MARÇAL, Jairo. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v.29, n.47, p.703-708, maio/ago., 2017.
Um dos grandes dilemas da modernidade se expressa no confronto agudo e contraditório que opõe, de um lado, o desejo da liberdade individual, sem interferências, e do outro lado, a necessidade humana da vida em comunidade, que se organiza por normas e leis. Esse conflito fundamental suscita questões filosóficas em torno da ideia de liberdade — a liberdade pode ser compreendida como um atributo essencialmente individual? Se, as relações intersubjetivas, sociais e políticas demandam regras, e se as regras interferem na liberdade individual, como é possível falar em liberdade nesses contextos? É possível conciliar essas dimensões aparentemente tão controversas? Essas questões têm sido equacionadas e enfrentadas por grandes pensadores de diversos matizes, sobretudo a partir do século XVIII e, permanecem francamente abertas e desafiadoras. O livro As faces da liberdade e a teoria do reconhecimento, de Cesar Augusto Ramos, apresenta aos leitores uma discussão de grande relevância sobre um dos temas mais instigantes da filosofia política contemporânea e se caracteriza pela amplitude e profundidade da pesquisa em torno da questão filosófica da liberdade, nas suas dimensões individual, social e política.
A obra não se limita a uma única perspectiva de análise, ou à leitura endógena de um autor ou de uma corrente e, tampouco opta por discorrer, de forma meramente enciclopédica, sobre as diversas correntes que disputam a melhor interpretação do tema. De forma arrojada, o texto de Ramos coloca frente a frente as múltiplas faces da liberdade e, nesse cenário promove um debate profícuo que culmina com a defesa da tese de que “a liberdade individual necessita ter uma expressão intersubjetiva e institucional para sua efetiva realização”. Esse é o leitmotif do livro, que se expressa também pela força promissora do conceito hegeliano de liberdade — “estar consigo mesmo no seu outro”.
Outro aspecto metodológico que se revela na tessitura do texto é o trabalho cuidadoso do autor na articulação entre os filósofos clássicos, que se dedicaram a pensar o tema da liberdade e na atualização dos seus conceitos por pensadores contemporâneos. Também merece destaque a bibliografia altamente qualificada, que coloca o leitor em contato com as discussões mais atuais sobre o tema, em âmbito internacional.
O livro é estruturado em quatro partes — a primeira parte aborda a face individual da liberdade; a segunda parte trata da face intersubjetiva da liberdade e sua dimensão social; a terceira parte apresenta a face republicana da liberdade; a última parte é dedicada ao reconhecimento na mediação das faces da liberdade.
A primeira parte do livro é dedicada à análise do conceito de liberdade como autonomia moral e pessoal, que emerge na história da filosofia pela via do liberalismo filosófico. O individualismo dos modernos se configura, essencialmente, pela concepção da liberdade como direito subjetivo (natural) vinculada ao indivíduo, que acaba por marcar de maneira decisiva toda a tradição do pensamento liberal clássico.
A discussão em torno da liberdade individual é apresentada por Ramos num percurso que vai do liberalismo moderado de John Stuart Mill, passando pelo perfeccionismo moral de Joseph Raz, pela distinção clássica entre liberdade negativa e liberdade positiva, estabelecida por Isaiah Berlin, pelas vinculações entre a liberdade negativa e os limites legais e constitucionais na teoria de John Rawls, até a ideia de autonomia estritamente pessoal das volições de segunda ordem de Harry Frankfurt.
Ramos demonstra que para Isaiah Berlin a liberdade é observável “na ausência de ações que podem criar impedimentos arbitrários e indevidos à livre atividade dos sujeitos”. Para o liberalismo, a lei não pode ser tomada como elemento intrínseco à liberdade e, tampouco, na condição de sua promotora, como assevera o republicanismo, mas “é apenas um instrumento de proteção da liberdade como direito fundamental”. Já a ideia de liberdade em Rawls, mesmo que discutida na relação com as limitações legais e constitucionais, permanece tal qual em Berlin, fundada no registro da liberdade negativa.
Segundo Ramos, ainda que Berlin e Rawls tenham se destacado pelas apresentações da ideia de liberdade negativa, fortemente vinculadas à defesa das escolhas individuais livres de interferências, suas concepções de liberdade individual valorizam também a liberdade positiva (autonomia pessoal), como na clássica formulação de Kant, vinculada à “autorrealização para a consecução de uma vida boa”.
A concepção liberal da liberdade contribuiu para o desenvolvimento da ideia de autonomia individual, com significativo impacto na forma de vida das sociedades modernas e, subsidiou posicionamentos contrários a tiranias e várias formas de autoritarismo, mas, por outro lado, o seu caráter atomista e disjuntivo revela sua fragilidade e, a face sombria do individualismo exacerbado tem trazido consequências deletérias à vida em sociedade.
A segunda parte do livro apresenta o conceito hegeliano de liberdade e sua reatualização pelo filósofo da Teoria Crítica, Axel Honneth. Aqui, a ideia central consiste na superação do caráter disjuntivo (individualista) caracterizado nas concepções de liberdade individual negativa e positiva, constituindo assim um conceito social de liberdade, que se desenvolve pela relação do eu com o seu outro (alteridade).
A proposta de Hegel é solucionar a equação identidade x alteridade, aparentemente paradoxal, pelo menos à luz da concepção liberal. Ramos argumenta que, na concepção hegeliana, essa díade não é vista como um problema, mas sim como uma possibilidade de interação e de efetivação da liberdade em seus momentos subjetivo e objetivo. Em outras palavras, na filosofia hegeliana, a liberdade somente se efetiva nas relações intersubjetivas e na racionalidade das instituições sociais e políticas.
Honneth assume o conceito hegeliano de liberdade e, portanto, também se volta para a tentativa de conciliação das dimensões individual e social da liberdade, sem subordinar, contudo, a liberdade do indivíduo a qualquer forma de razão ou ética estatal. Na dimensão individual da liberdade, Honneth amplia essa perspectiva considerando os aspectos psicológicos e afetivos. Essa reatualização do conceito hegeliano de liberdade, proposta por Honneth, é importante porque, na medida em que amplia o campo de abordagem, favorece o seu uso na análise das sociedades atuais.
A terceira parte do livro propõe uma abordagem mais ampla que a do individualismo liberal, a partir da conjunção das dimensões subjetiva (individual) e objetiva (institucional). Ramos observa que “o tema mais comum e influente nas diversas formas de apresentação do republicanismo foi a causa do viver livre (vivere libero) em um Estado livre” e, apresenta essa face da liberdade a partir da análise das filosofias de Jean-Jacques Rousseau, Hannah Arendt, Philip Pettit e Charles Taylor.
Rousseau define o sentido público da liberdade política ao assumir que a “interdependência entre os homens foi irrevogavelmente incorporada nas relações sociais” e que, nessa condição, a liberdade de cada um só pode ser assegurada numa ordem civil, resultado da vontade geral e mobilizada pelo exercício do direito político dos indivíduos.
Arendt, cujo pensamento tem matriz aristotélica, se inspira na polis ateniense e, na posição de crítica do individualismo e do egoísmo que marcam de forma indelével a modernidade, sustenta que a razão de ser da política é a liberdade, mas que esta só se realiza na dimensão da vida em comum, por meio da ação deliberativa.
O comunitarismo de Charles Taylor recria o indivíduo, afastando-o da perspectiva sombria e empobrecedora do egoísmo moderno, para fazê- -lo emergir na condição de um individualismo expressivo, que afirma a identidade do sujeito, por meio de valores associados à comunidade.
Pettit, vinculado ao republicanismo neorromano, critica tanto o atomismo liberal, quanto as formas ortodoxas de coletivismo, buscando conciliar a liberdade individual e a liberdade política (individualismo holista) com base na ideia da não dominação, apoiada no consequencialismo. Para Pettit, são as leis não arbitrárias de um Estado republicano que tornam possível e asseguram a liberdade dos indivíduos. Entretanto, para que haja boas leis, que garantam autoridade aos governantes e liberdade aos cidadãos, é fundamental a cidadania ativa e o exercício da democracia contestatória, ancoradas pelo controle discursivo, que articula as dimensões psicológica (individual), social e política.
Na última parte do livro, Cesar Ramos propõe a teoria do reconhecimento como mediadora das faces da liberdade. O argumento central da sua análise se estrutura a partir da questão inevitável de que “a liberdade individual necessita ter uma expressão intersubjetiva e institucional para sua efetiva realização”.
A teoria do reconhecimento demanda que as relações intersubjetivas, com interatividade recíproca, estejam presentes na raiz das teorias da liberdade de cunho social, cujo objetivo é a crítica e a superação das propostas que restringem a liberdade à dimensão individual e autorreferente, restrita ao âmbito normativo das teorias da justiça e ao formalismo jurídico.
A perspectiva da necessidade do reconhecimento pelo outro e, também as consequências da ausência ou mesmo da negação de tal reconhecimento, estão presentes no republicanismo neoateniense de Arendt, no comunitarismo de Taylor e no republicanismo neorromano de Pettit, mas é em Hegel e na reatualização de seu conceito de liberdade, empreendido por Honneth, que o tema assume maior clareza e profundidade, na medida em que a reconstrução normativa, proposta pelo filósofo, passa a “considerar as instituições e práticas sociais, destacando aquelas que permitem considerar a constituição da liberdade como um bem socialmente compartilhado e que possuem valor normativo”. Para Honneth, a luta por reconhecimento perpassa as relações afetivas, as reinvindicações de direitos e a busca pela estima social e, a sua ausência nessas esferas deprecia as identidades individuais, implicando na luta por reconhecimento.
As faces da liberdade e a teoria do reconhecimento, de Cesar Ramos, é um trabalho filosófico estimulante, resultado de uma pesquisa acurada, que se destaca pelo tratamento crítico e refinado do objeto de análise e pela elegância da sua escrita. O livro se apresenta como uma importante referência na filosofia política e merece ser lido e discutido por especialistas, mas também despertará o interesse dos leitores com apreço pelo tema da liberdade.
O livro está disponível na versão impressa e a PUCPRess está providenciando também a versão eletrônica (e-book), revisada pelo autor.
Jairo Marçal – Centro Universitário UniBrasil, Curitiba, PR, Brasil. Mestre (UFPR) e doutorando (PUCPR) em Filosofia Política. E-mail: jairomarcal@gmail.com
[DR]
A nervura do real. Imanência e liberdade em Espinosa, volume 2 – CHAUI (CE)
CHAUI, Marilena. A nervura do real. Imanência e liberdade em Espinosa, volume 2. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. Resenha de: OLIVA, Luís César; LACERDA, Tessa Moura. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.36, Jan./Jun. 2017.
O lançamento do segundo volume de A nervura do real: imanência e liberdade em Espinosa, de Marilena Chaui, conclui um processo de análise e exposição sistemática da filosofia de Baruch de Espinosa, em especial de sua obra maior, a Ética, processo que se confunde com a própria trajetória da Marilena Chaui como docente do Departamento de Filosofia da USP e uma das mais importantes intelectuais brasileiras das últimas décadas. Dedicando-se à pesquisa sobre Espinosa desde os anos 60, Chaui defendeu sua livre-docência, em 1977, já com o título de A nervura do real, um calhamaço em dois volumes que representava, naquele momento, o principal trabalho sobre Espinosa feito em língua portuguesa. Chaui, no entanto, não a publicou de imediato, apesar dos insistentes apelos dos colegas e alunos. Para a autora, faltava ao “tijolo” uma reflexão mais detalhada sobre o quadro amplo da história da filosofia diante do qual a revolução espinosana ficaria mais evidente e compreensível, além de uma análise mais detida da parte i da Ética, que contém os fundamentos ontológicos do sistema.
O que para outros intérpretes poderia ser uma curta introdução histórica transformou-se em um novo livro, de quase mil páginas, reconstruindo não só as referências históricas de Espinosa, mas todo o percurso do espinosismo depois da morte de seu autor. Ao final, coroava o livro uma análise linha a linha da parte I da Ética, cuja solidez e densidade não tem paralelo na literatura internacional. Foi o primeiro volume da Nervura do real, dedicado à imanência, e publicado em 1999. O longo intervalo de 22 anos entre a tese de livre-docência e esta publicação foi marcado por inúmeros outros livros, especialmente sobre o Brasil, mas a reflexão espinosana em curso sempre norteou os escritos de Marilena Chaui, em temas tão variados quanto ideologia ou repressão sexual, o combate à ditadura civil-militar ou o ensino de filosofia. Em todas estas obras, o leitor atento pode encontrar A nervura do real em gestação, ou melhor, em operação.
Feito esse imenso trabalho, a própria autora acreditava que o segundo volume previsto sairia mais rapidamente, até por ser uma retomada da tese de livre-docência, dedicada sobretudo à liberdade. Todavia, aos 22 anos de espera pelo primeiro volume, somaram-se outros 17 para o segundo. A conclusão da obra não aproveitou praticamente nada da antiga livre-docência, integralmente reescrita. Nem poderia ser diferente, considerando que 39 anos de reflexão espinosana, vivência em sala de aula e muitas lutas políticas separam a antiga tese deste novo volume que recentemente chegou a nossas mãos. Os leitores não perceberão apenas o avanço interpretativo em relação à tese original, mas também uma expressiva mudança de tom em comparação com o próprio primeiro volume. Enquanto naquele Marilena Chaui antepunha à apresentação de cada noção espinosana uma larga reconstituição histórico-conceitual, em uma empreitada de imensa erudição, no segundo volume a autora permite-se uma análise mais circunscrita ao texto de Espinosa. Parafraseando a própria autora, enquanto o primeiro volume foi uma discussão com toda a história da filosofia, o segundo volume é uma conversa entre ela e Espinosa. Isto dá ao livro uma fluência que o torna acessível a uma ampla gama de leitores, incluindo aqueles que tenham pouco contato prévio com a filosofia espinosana. No fluxo desta conversa, densa mas extremamente agradável, Chaui conduz o leitor pela integralidade das partes II, III, IV e v da Ética, considerando-se que a parte I já fora sufi – cientemente destrinchada no primeiro volume. Os atuais e antigos alunos reencontrarão nesta escrita muito do ritmo cativante – e ao mesmo tempo conceitualmente rigoroso – das aulas de Marilena Chaui dadas na USP e em outras universidades do Brasil e do mundo.
A fluência do texto, porém, não nos deve enganar. Os desafios propostos pelo livro são de monta e implicam discussões conceituais de extrema sofisticação, frequentemente em oposição à quase totalidade da crítica especializada. Talvez o principal destes desafios já se apresente na primeira parte do livro: a imensa tarefa de demonstrar, contra uma longa tradição de interpretação, a existência de seres singulares na filosofia da substância imanente espinosana. Contra essa tradição interpretativa que remonta ao século XVII, e que a autora denominara, no primeiro volume, “a imagem do espinosismo”, cabe a Marilena Chaui desmontar a falsa aporia que diz ser impossível o singular em uma filosofia na qual só há uma substância.
Esse trabalho é um trabalho espinosano: como Espinosa, Marilena desconstrói o discurso cristalizado e, ressignificando as palavras, mostra como a existência de seres singulares é efeito de uma dupla causalidade, a causalidade da substância e a causalidade da Natureza naturada. Como efeitos determinados em uma complexa rede causal, os seres singulares não existem necessariamente por sua própria essência, mas sua existência é necessária pela causa.
Ora, uma vez afirmada essa necessidade da existência do suingular, coloca-se a segunda questão do Nervura II: é preciso demonstrar como necessidade não se opõe a liberdade. Ser livre, para Espinosa, é ser uma causa não passivamente determinada pelo exterior, mas internamente disposta. É tomar parte na atividade do todo. A concepção que relaciona liberdade e livre-arbítrio é uma concepção imaginária da liberdade. Para demonstrar a existência de coisas singulares que podem ser causas livres, Marilena Chaui inicialmente percorre as obras de Espinosa para mostrar a presença do singular em todas elas. No Tratado da emenda do intelecto, Espinosa afirma que, diferente da razão, a imaginação lida com coisas singulares corporais, e o intelecto lida com as essências das coisas singulares. A imaginação organiza essas coisas singulares como ideias obscuras ou universais abstratos. Mas o intelecto é capaz de conhecer a essência particular afirmativa e, por meio dela, a coisa particular .
Essas afirmações do Tratado da emenda operam em outras obras. No Tratado político, Espinosa afirma que os regimes políticos distinguem- se não da maneira clássica pelo número de governantes, mas porque são essências particulares determinadas: sua causa é o direito natural particularizado pelas relações de força e potência da multitudo (agente político). No Tratado teológico-político, Espinosa trata da essência particular do Estado hebraico, um regime político existente na duração, unindo geometria e um método histórico. O Estado hebraico é uma coisa singular . Sua essência é uma singularidade historicamente determinada. E a Bíblia, por sua vez, é uma singularidade que existe como efeito de uma causa singular, a sociedade hebraica. Essa análise do Tratado político e do Tratado teológico-político permite, a Marilena Chaui, distinguir no interior da obra de Espinosa essência particular e essência de coisa singular : a essentia particularis é “o momento em que uma ideia apreende a conexão lógica entre uma essência e suas determinações ou propriedades” (Chaui, 2016, p.32) e a essentia rei singularis é “empregada para assinalar a relação interna entre uma essência e sua existência” (Chaui, 2016, p.32). Essa distinção existe também na Ética: na parte i, os modos da substância são coisas particulares ; na parte II a mente, modo do atributo pensamento, é uma coisa singular, o corpo, modo do atributo extensão, é uma coisa singular . A coisa singular é um modo singular .
As partes I e II da Ética, nas palavras de Marilena Chaui, são um díptico. Assim, a parte I demonstra a existência do que é necessário por sua própria essência, a Natureza naturante e a Natureza naturada. A parte I I, como segundo pano do díptico, concentra-se na Natureza naturada para deduzir a existência dos modos finitos, necessário não por sua própria essência, mas pela sua causa. Por isso, na parte I, por meio da causa de si, Espinosa demonstra a identidade entre essência e existência em Deus; na parte I I, por sua vez, é afirmada a inseparabilidade entre essência e existência nos modos finitos. A essência do modo finito humano não envolve existência necessária, mas são necessários pela sua causa, jamais contingentes ou possíveis (cf. Chaui, 2016, cap.2).
O modo finito é definido, na parte I a Ética, como modo que está em outro e é concebido por outro; a parte II da Ética sublinha a singularidade de um modo que exprime a essência do ser absoluto.
O modo finito humano é deduzido na parte II como corpo e mente que se relacionam. Essa relação pode se dar de forma inadequada (por meio da imaginação) ou de forma adequada (por meio da razão e da intuição). A perspectiva determinante na parte II da Ética é, portanto, a perspectiva epistemológica, mas também a dimensão causal da coisa singular é enfatizada e, ganha ainda mais espaço na parte III, quando Espinosa demonstra que a coisa singular pode ser causa adequada ou inadequada, porque finita; dessa finitude trata a parte IV, e a parte v mostra como a mente pode ser causa adequada e chegar à felicidade.
O singular é uma existência determinada e uma atividade causal, é um indivíduo complexo. Marilena Chaui mostra essa construção da singularidade na Ética de Espinosa. O singular é singular porque é uma determinação finita no interior da complexa rede causal da Natureza. E é finito porque não existe como causa de si, mas é também causa.
Ser parte, em Espinosa, é saber-se parte de um todo e, então, tomar parte na atividade do todo. Cabe ao final da Ética, bem como ao final da Nervura II, mostrar como este tomar parte no todo é um tomar parte na eternidade. Este conceito, na primeira parte da Ética, parecia restrito à existência própria da substância, que segue necessariamente de sua essência. Às coisas singulares, como modos finitos, não caberia mais que a duração, numa contraposição insuperável. Uma das principais novidades de Chaui é explicitar como a Ética, no seu desenvolvimento, vai ampliando o sentido de eternidade, de modo que alcance as próprias coisas singulares enquanto são em Deus. Trata-se de uma eternidade dada desde sempre, pela imanência das coisas a Deus e de Deus às coisas, mas simultaneamente de uma eternidade conquistada pela adequação do conhecimento. Não há contradição nisso porque tal conquista não implica passagem nem transformação radical. O tomar parte no todo significa tornar-se aquilo que já se é. Nas palavras de Chaui, “a eternidade da mente não implica uma transformação de seu ser ou de sua essência; o que muda é o objeto do qual ela é ideia: passa das afecções do corpo na duração à ideia da essência do corpo, essência contida e compreendida como singularidade no atributo extensão e cuja ideia, simultaneamente, está contida e compreendida no atributo pensamento” (Chaui, 2016, p. 571). Em suma, a mente não se torna eterna, ela passa a conhecer que é eterna, e não apenas como se conhece a um objeto externo. Mais que isso, como diz a célebre expressão de Espinosa, nós sentimos e experimentamos que somos eternos.
Ao terminar a leitura do livro de Chaui, podemos olhar para trás e ver com toda a clareza o processo de concretização do que havia sido demonstrado nas primeiras páginas. Não só a singularidade não é incompatível com a imanência, mas só se realiza plenamente como liberdade quando percebe esta imanência por meio da participação ativa nela. Esse processo de concretização de si como ser autônomo, livre e feliz não é um processo meramente cognitivo, mas simultaneamente afetivo. Por isso, também com afeto olhamos para a tese de livre-docência, de 77, ou para os primeiros estudos espinosanos de Chaui, nos anos 60. Tudo já estava lá. Como já estava no mestrado Merleau-Pontyano, no debate sobre a democracia nos anos 70, na criação do PT em 80, etc. Mas agora, com a publicação do segundo volume da Nervura do Real, tudo isto ganha um sentido que não podia ser completamente transparente naqueles momentos. Trata-se de uma única Obra, que se confunde com a maneira de viver e de filosofar de Marilena, inseparáveis entre si e in – separáveis do pensamento de Espinosa.
Referências
CHAUI, Marilena (2016). A nervura do real II. Imanência e liberdade em Espinosa . São Paulo: Companhia das Letras.
Luís César Oliva – Professor Universidade de São Paulo. E-mail: lcoliva@uol.com.br
Tessa Moura Lacerda – Professora Universidade de São Paulo. E-mail: tessalacerda@gmail.com
O solo da liberdade: as trajetórias da preta Faustina e do pardo Anacleto pela fronteira rio-grandense em tempos do processo abolicionista uruguaio (1842-1862) – CARATI (HU)
CARATTI, J.M.. O solo da liberdade: as trajetórias da preta Faustina e do pardo Anacleto pela fronteira rio-grandense em tempos do processo abolicionista uruguaio (1842-1862). São Leopoldo: Oikos/Editora Unisinos, 2013. 454 p. Resenha de: VOGT, Debora Regina. Os limites da fronteira na posse dos cativos após o fim da escravidão no Uruguai. História Unisinos n.20 n.3 – setembro/dezembro de 2016.
A história do cotidiano, das disputas internas que muitas vezes não estão claras nos documentos, durante muito tempo passou alheia à historiografia. Interessava-nos a história global, das estruturas do sistema e do movimento maior que a tudo envolvia. O fenômeno da micro-história demonstra a mudança de visão sobre o passado. Nesse sentido, não é mais somente a grande estrutura que nos interessa, mas os indivíduos que fazem parte do jogo e que sentido eles deram para os contextos em que viveram. O Menocchio2, de Carlos Ginzburg, tornou-se inspiração para muitos personagens que desvendam uma faceta historiográfica que há algum tempo era desconhecida.
No entanto, é preciso salientar que o acesso a esses “homens e mulheres comuns” em geral não ocorre por suas falas autorais. Nós os encontramos nos documentos da justiça, no julgamento da Inquisição – caso de Menocchio – ou em outras fontes em que suas falas aparecem como testemunhos. Isso não invalida essa narrativa, mas demonstra a busca por esses sujeitos, que, por não representarem a elite letrada, muitas vezes estiveram distantes da historiografia.
Essas histórias são excepcionais ao mesmo tempo em que são normais, ou seja, ao mesmo tempo em que têm seus dramas particulares, também são coletivas, já que compartilham experiências com inúmeros indivíduos contemporâneos. No caso da pesquisa em questão, os indivíduos compartilharam a vida fronteiriça, sofrendo os impactos das relações do império com o Prata, especialmente o Uruguai.
Tais fenômenos estiveram presentes também na historiografia sobre a escravidão, e o livro de Jônatas Caratti se insere nessa linha. Assim, autores como Azevedo (2006), Grinberg (2006) e Pena (2006) são exemplos na visão do escravo como personagem, que tem desejos, voz e luta também por sua liberdade. Esses trabalhos analisam, por exemplo, a atuação de advogados abolicionistas nos pleitos através das ações de liberdade, de manutenção da liberdade e da reescravização.
Nesse contexto, são analisadas as disputas, acomodações e transformações da vida escrava e suas diversas formas de luta pela liberdade. Da mesma forma como Menocchio, os personagens em geral nos falam indiretamente através das fontes – a fala dos escravos é terceirizada –, mas nem por isso são perdidas, já que são capazes de demonstrar as lutas cotidianas e as possibilidades de liberdade no mundo atlântico.
Além dos mencionados, Paulo Moreira (2003, 2007), João José Reis (Reis e Silva, 1989), Márcio Soares (2009) e Hebe Matos (1995) são outros historiadores que problematizam o papel do escravo, as disputas envolvidas nas leis abolicionistas e as noções de propriedade e direito.
Entre a visão de concessão e conquista escrava é de se destacar o papel da alforria como veículo de disputas entre os senhores “homens de bem” e os escravos. Essa luta pela liberdade, representada pela busca da alforria, é a inspiração do livro e resume o objetivo do livro, sendo o país fronteiriço “o solo da liberdade”. Os dois personagens do livro escrito por Jônatas Caratti, embora crianças ainda são representativos dessa conjuntura que, dentro do sistema preestabelecido, busca os espaços possíveis de negociação, conciliação e até luta jurídica.
Desta forma, Jônatas Marques Caratti, em sua dissertação de mestrado, transformada em livro – O solo da liberdade – percorre o caminho da micro-história, procurando apresentar as relações, disputas e esperanças de liberdade na sociedade escravista brasileira. Seu ponto de partida são as leis abolicionistas uruguaias e seu impacto na região de fronteira no Rio Grande do Sul. No território de fronteira, senhores e escravos negociam e tomam parte do jogo de relações e acordos em busca de seus objetivos.
O historiador elege dois personagens, representativos em suas fontes, e, através deles, procura mostrar o contexto social e a luta pela liberdade dos negros escravizados. Faustina e Anacleto são duas crianças que desde cedo conhecem a escravidão e, embora talvez não soubessem, são também reflexos dessa sociedade que, escravocrata, convive de forma muito próxima com o vizinho Uruguai, que havia colocado fim à escravidão, transformando a região pós-fronteira no “solo da liberdade”. É importante destacar que as trajetórias tornaram-se excepcionais pela quantidade de fontes documentais encontradas, o que permitiu que se produzisse uma narrativa verossímil e plausível para os sujeitos; já quanto a outros, não revelados pela documentação, jamais teremos conhecimento de sua existência. De acordo com Jônatas, os dois processos lhe chamaram inicialmente atenção pela quantidade de anexos e por tratarem de questões mais amplas que somente o tráfico de escravos na fronteira, demonstrando a vida social que se estabelecia dentro dessa dinâmica.
É importante destacar que a reflexão sobre crianças escravas é, de certo modo, ainda recente na historiografia. A própria ausência de fontes e o descaso com que eram tratadas, muitas vezes, fazem com que a pesquisa e análise de suas condições sejam ainda incipientes. Além disso, a mortalidade infantil era alta, fazendo com que muitos não chegassem à vida adulta3. Desta forma, a própria possibilidade de refletir sobre a situação de duas crianças escravas torna o trabalho instigante e aberto a novas reflexões.
O livro une pesquisa séria de um historiador que escreve com rigor e ética com a vida pessoal de alguém que também vive na fronteira, já que, hoje, Jônatas é professor na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).
No final do livro há um diário de bordo, escrito de forma pessoal, com o relato de suas caminhadas pela região sul do estado e os encontros com sua pesquisa, as esperanças e os desafios de um historiador. Por meio de uma narrativa cativante, Jônatas permite ao leitor caminhar com ele, perceber suas escolhas, as limitações apresentadas pelas próprias fontes e as descobertas no caminho rico e intrigante que é a pesquisa histórica.
Os personagens escolhidos pelo pesquisador são exemplos de situações que ocorriam de forma expressiva no período analisado. A escravização de sujeitos que podiam ser considerados livres foi comum nesse período. Sendo assim, a importância de Anacleto e Faustina não se restringe à situação em que viveram, mas mostra o contexto social da época e propicia perceber as lutas pela liberdade e as formas como os acordos e arranjos ocorriam.
Esse horizonte, de certa forma ainda novo na historiografia, dá vida e complexidade a sujeitos que em nossos documentos se restringiam a números de escravizados. No texto de Jônatas, eles estabelecem relações, sonham com a liberdade, juntam dinheiro para consegui-la, fazem acordos, são complexos e demonstram as formas como os indivíduos reagiram a situações em que eram colocados.
Uns dos principais documentos analisados por Jônatas, assim como outros historiadores, são os judiciais, são eles que mais fornecem informações ao pesquisador. Ali é possível perceber a visão não só dos personagens principais, mas quem presenciou o ocorrido e também os réus, que apresentavam sua própria defesa. Ou seja, demonstram a complexidade das relações dentro da sociedade escravista e quais os caminhos encontrados pelos que faziam parte desse contexto. Cada argumento é analisado pelo pesquisador, demonstrando a riqueza de detalhes da narrativa e aproximando-nos da visão desses sujeitos do passado. Documentos como esses, por sua vez, abundam nos arquivos, como afirma Paulo Roberto Moreira – orientador e autor da apresentação do livro – faltava, contudo, alguém que com atenção de debruçasse sobre essa documentação com questionamentos plausíveis e tecesse a narrativa historiográfica.
O livro, por sua temática e também pela metodologia do pesquisador, caminha em várias frentes, que vão do micro ao macro, abrindo várias formas de reflexão e interpretação. No texto, transparece tanto o contexto nacional como a realidade regional, com suas particularidades, transpassada pela fronteira. Além disso, aspectos políticos, econômicos e sociais são explorados, demonstrando a dinâmica das relações, no aspecto particular e global. Seus personagens foram escolhidos entre dezenas de outros, e, por meio deles, observamos a sociedade do oitocentos: foram eles as lentes escolhidas pelo autor em sua narrativa.
Faustina nasceu livre em Cerro Largo, no ano de 1843, filha da preta, descrita como “gorda e velha” da Costa da África, Joaquina Maria, que era de Jaguarão. Sua mãe havia fugido através da fronteira para o Uruguai e lá viveu como livre até o encontro com os que raptaram sua filha. No outro país, Joaquina Maria encontrou um companheiro, Joaquim Antônio, sendo Faustina fruto dessa união. A menina foi arrancada de seus pais em uma noite de 1852 por um homem chamado Manoel Noronha, que se descreveu nos depoimentos como “capitão do mato”, lavrador, Capitão da Guarda Nacional e agarrador de negros fugidos. Quando preso, ele apresentou ao júri uma lista com 266 cativos fugitivos que pretendia perseguir e devolver aos respectivos senhores, em troca de recompensa.
Anacleto, por sua vez, nasceu em Encruzilhada do Sul como propriedade de Antônio de Souza Escouto, até que este o enviou para trabalhar em sua fazenda em Tupambahé, Uruguai, por volta de 1858. É importante lembrar, no entanto, que por lá a abolição já havia ocorrido, ou seja, do outro lado Anacleto era um homem livre. O menino teria ido ao Uruguai com 7 anos, idade considerada como fim da infância e início da vida de trabalho, já que se vivessem até essa idade, as crianças escravas demonstravam sobreviver ao elevado índice de mortalidade infantil. No Uruguai, Anacleto foi carregado por dois homens e trazido de volta ao Brasil; em 1860, foi vendido como escravo.
A história de Jônatas tem enredo, personagens e acontecimentos. Seu relato nos envolve e nos aproxima dos personagens, fazendo-nos torcer pelo sucesso de suas empreitadas e a conquista da liberdade. Isso não significa que a narrativa seja simplificadora; pelo contrário, ela é complexa e demonstra o rigor da pesquisa com documentação produzida pelo autor.
Faustina e Anacleto foram levados como cativos a Jaguarão, local estratégico na fronteira do Império e ali foram vendidos como escravos. O capitão do mato Noronha legalizou a posse de Faustina, comprando-a da senhora de sua mãe. Noronha revendeu-a em Pelotas com lucro considerável, o qual posteriormente a vendeu ao Capitão José da Silva Pinheiro. O historiador demonstra, por meio de suas fontes, que a crença de que a sociedade era composta por grandes senhores de escravos em muitos casos não se sustenta. Assim, boa parte dos compradores tinham poucos escravos que eram, por vezes, dados como heranças a herdeiros, fazendo parte do patrimônio da família. No entanto, mesmo numa sociedade tão desigual para esses sujeitos, conseguimos perceber as possibilidades de ação e a luta constante pelo sonho da liberdade.
Anacleto transformou-se em Gregório e foi vendido a Francisca Gomes Porciúncula, que o adquiriu na ausência do marido, o português Manoel da Costa. “Dona Chiquinha” e “seu Maneca” foram cúmplices desse sequestro, comprando Anacleto mesmo sabendo que ele era roubado. “Seu Maneca” era funileiro e viajava pelos centros urbanos provinciais alugando seus serviços; assim, quando foi a Rio Grande, repassou Gregório ao negociante de escravos José Maria Maciel, que o vendeu para o charqueador Miguel Mathias Velho. Uma mistura de sorte com coincidência fez Anacleto visto por um tropeiro o reconheceu como filho de Marcela e escravo furtado de Escouto.
Após essas desventuras encontramos as autoridades públicas, o uso da lei, a procura pelos criminosos, suas justificativas e a forma como a sociedade escravocrata se organizava. Os que são chamados a depor apresentam suas escrituras de compra e venda e, na ausência delas, passa-se a suspeitar de crime de compra ou venda ilegal de cativos. Através do método comparativo usado por Jônatas, percebemos e reconhecemos as proximidades e diferenças entre os personagens escolhidos pelo pesquisador.
A trajetória de Faustina ocorreu no contexto do Tratado de Extradição de Criminosos e Devolução de Escravos, assinado em 1851 entre o Império Brasileiro e a República Oriental; por isso, contou com o apoio dos chefes políticos e de autoridades uruguaias. Como ela nasceu em Cerro Largo, o Estado a defendeu como um caso de soberania e resistência ao imperialismo brasileiro.
Seus sequestradores, no entanto, foram absolvidos, marca de uma sociedade que ainda não questionava a escravidão. Contudo, ela voltou para seus pais, diferentemente do que ocorreu com Anacleto. Os dois processos são semelhantes e demonstravam, segundo o professor, a possibilidade de uma análise de comparação. A própria sentença que os réus receberam era a mesma, baseada no art. 179 do Código Criminal de 1830: “reduzir pessoa livre à escravidão”. Os réus responderam pelo mesmo crime e as vítimas eram crianças entre 10 e 12 anos. Esses são dois movimentos que aproximam o leitor da sociedade escravocrata sul rio-grandense em suas relações com o Uruguai. No entanto, há diferenças entre os dois casos, e isso, de acordo com Jônatas (Caratti, 2013, p. 57), o instigou a estabelecer a narrativa de forma comparada. Relacionar as experiências foi um caminho frutífero e promissor para a história social não só para a região da fronteira, mas também para a compreensão do Brasil nesse momento.
Anacleto nasceu no Brasil, de ventre escravo, e trabalhou no Uruguai como cativo, mesmo após a abolição da escravidão nesse país. Nesse caso, o promotor do caso, Sebastião Rodrigues Barcell, usou a ideia de “solo livre”, ou seja, vivendo em Estado onde havia sido abolida a escravidão, Anacleto seria considerado livre. Contudo, não sabemos exatamente por que – e aqui está o ponto em que a própria documentação limita o pesquisador – ele aparece no inventário de seu senhor Escouto, em 1865, então com 15 anos de idade. Possivelmente parecesse radical aplicar a lei, já que havia dezenas de fazendeiros que estariam nessa situação, além do potencial subversivo dentro da escravaria local.
Tendo como base os dados que encontrou nos arquivos, o autor recria contextos, compõe cenários e imagina cenários plausíveis diante do que suas fontes demonstram sobre seus personagens. Todos eles, é importante salientar, produzidos com base em intensa pesquisa na documentação, cruzamento de fontes e de leituras realizadas pelo historiador. Não à toa, Jônatas compara seu texto a uma peça de teatro e nos agradecimentos refere-se a si mesmo como diretor: “[…] Qualquer tropeço do diretor, e o fracasso ou sucesso de sua peça, é de sua inteira responsabilidade […]” (Caratti, 2013, p. 12). Sua narrativa e análise é um múltiplo labirinto que se abre e se transforma, demonstrando as multifacetadas vivências dos indivíduos que fazem parte de sua peça.
São várias as metodologias utilizadas por Jônatas em seu texto, já que ele trabalha com fontes diversas.
Assim, encontramos reflexões sobre as alforrias, sobre o mundo do trabalho escravo – com dados de compra e venda e leitura de pesquisadores da área –, escolha dos padrinhos, tráfico de escravos e comércio de cativos.
A narrativa do professor é instigante por colocar um elemento que, muitas vezes, está ausente na historiografia: a imprevisibilidade. Ao mesmo tempo que Anacleto e Faustina tinham seus próprios objetivos, suas vidas se entrecruzam com a visão de outros, que relacionavam-se entre si e por vezes determinaram seu futuro. O indivíduo e a sociedade, representada pela vontade de vários, são também reflexões possíveis da trama apresentada pelo professor. Segundo o próprio historiador, sua metodologia, inspirada na micro-história, trata de questões “inesperadas” e também as analisa de forma “experimental”; além disso, seu objetivo é explorar as fontes e os dados encontrados, mesmo quando poucos (Caratti, 2013, p. 55).
Se a narrativa por vezes esfria os conflitos que eram inerentes ao momento em que foram narrados, podemos afirmar que na narrativa de Jônatas por vezes afloram paixões, já que ele nos aproxima, como poucos, dos personagens por ele tratados. Assim, quando Joaquina Maria foi levada para depor, estava em “estado de alienação” e “chamava por sua filha”. Faustina estava no rancho de seus pais, escondida em um barril, quando dois homens a levaram. Mesmo que a mãe afirmasse que juntava dinheiro para a compra de sua liberdade, os homens, num cálculo frio, raciocinaram que a menina daria mais lucro e suportaria mais a viagem que a mãe e resolveram levar a garota. O que sentia essa mãe? Como isso a alterou emocionalmente ao ponto de não conseguir depor? A aflição dessa mulher demonstra não só a rede de relações entre senhores e escravos, as tentativas de fuga, mas também a sensação de completa instabilidade vivida pelos cativos nesse contexto.
De um lado, os donos de escravos, que viam como fundamental a utilização de mão de obra escrava em suas estâncias no lado uruguaio. De outro, o medo de que os escravos usassem a lei a seu favor e garantissem sua própria liberdade. A descrição das trajetórias de Anacleto e Faustina procura elucidar essas questões, que são o eixo principal da pesquisa do historiador.
Essa reflexão sobre os personagens, seus anseios e desejos faz com que o trabalho de Jônatas se insira na historiografia recente sobre escravidão, que não os trata como “coisas” ou como engrenagens de uma estrutura. Eles têm nomes, desejos, sonhos e lutam pela liberdade diante das possibilidades apresentadas.
Anacleto e Faustina não foram vítimas de um crime comum, mas estiveram envolvidos em conflitos sobre posse de escravos, fronteira e limites do Estado. Passaram por Melo, Jaguarão, Pelotas, Encruzilhada, Tupambahé e Rio Grande. Assim, o limite da pesquisa de Jônatas não é local, mas temporal, procurando perceber as diversas interfaces que permeiam a vida dos protagonistas de suas tramas. No decorrer do livro, o autor nos leva a cada um desses lugares, com dados levantados dos arquivos e bibliografia especializada, apresentando um quadro social amplo da sociedade sul-rio-grandense. A mobilidade é uma constante em sua obra: “[…] Tropeiros tocando o gado pela fronteira, escravos fugindo estrategicamente em embarcações, juízes e delegados retirados e colocados em vilas, como se fossem peças de um jogo de xadrez: tudo indica que essa gente não vivia na monotonia” (Caratti, 2013, p. 64).
Tal como em uma peça teatral, acompanhamos os personagens na narrativa de Jônatas, envolvemo-nos com suas trajetórias e percebemos suas vidas como mostras de um tecido social. O historiador, desta forma, nos abre outras cortinas: da complexidade do social e da dinâmica das relações que se dão entre o micro e macro. Um livro instigante, que poderia ser filme e que mostra que é possível unir boa narrativa com rigor acadêmico.
Referências
AZEVEDO, E. 2006. Para além dos tribunais: advogados e escravos no movimento abolicionista em São Paulo. In: S.H. LARA; J.M.N. MENDONÇA (org.), Direitos e justiça no Brasil: ensaios de história social. Campinas, Editora Unicamp, Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, p. 93-157.
GINZBURG, C. 1987. O queijo e os vermes. São Paulo, Companhia das Letras, 256 p.
GOÉS, J.R.; FLORENTINO, M. 2002. Crianças escravas, crianças dos escravos. In: M. DEL PRIORE (org.), História das crianças no Brasil. São Paulo, Contexto, p. 177-191.
GRINBERG, K. 2006. Reescravidão, direitos e justiça no Brasil do século XIX. In: S.H. LARA; J.M.N. MENDONÇA (org.), Direitos e justiça no Brasil: ensaios de história social. Campinas, Editora Unicamp, Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, p. 4-13.
MATTOS, H. 1995. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista: Brasil, século XIX. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 384 p.
MOREIRA, P.R.S. 2003. Os cativos e os homens de bem: experiências negras no espaço urbano: Porto Alegre 1858-1888. Porto Alegre, EST, 358 p.
MOREIRA, P.R.S. 2007. Introdução. In: P.R.S. MOREIRA; T. TASSONI, Que com seu trabalho nos sustenta: as cartas de alforria de Porto Alegre (1748-1888). Porto Alegre, EST, p. 7-15.
PENA, E.S. 2006. Burlar a lei e revolta escrava no tráfico interno no Brasil meridional, século XIX. In: S.H. LARA; J.M.N. MENDONÇA (org.), Direito e justiça no Brasil: ensaios de história social.
Campinas, Editora Unicamp, Centro de Pesquisa de História Cultural, p. 161-197.
REIS, J.J.; SILVA, E. 1989. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo, Companhia das Letras, 152 p.
SOARES, M. 2009. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos Campos dos Goitacases, c. 1750-c. 1830. Rio de Janeiro, Apicuri, 265 p.
Notas
2 Domenico Scandella ficou conhecido como Menocchio graças a Carlo Ginzburg, que procurou compreender o mundo do moleiro através dos arquivos da Inquisição. Seus ensinamentos renderam-lhe a qualificação de herege, sendo morto e torturado na fogueira (Ginzburg, 1987).
3 “Poucas crianças chegavam a ser adultos, sobretudo quando do incremento dos desembarques de africanos nos portos cariocas […] no intervalo entre o falecimento dos proprietários e a conclusão da partilha entre os herdeiros, os escravos com menos de dez anos de idade correspondiam a um terço dos cativos falecidos, dentre estes dois terços morriam antes de completar um ano de idade, 80% até os cinco anos” (Góes e Floretino, 2002, p. 180).
Debora Regina Vogt – Doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Analista técnico educacional da rede SESI/SP. Av Paulista, 1313, 01311-923, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: vogt.deboraregina@gmail.com.
Conspirações da raça de cor: escravidão, liberdade e tensões raciais em Santiago de Cuba (1864-1881) – MATA (RBH)
MATA, Iacy Maia. Conspirações da raça de cor: escravidão, liberdade e tensões raciais em Santiago de Cuba (1864-1881). Campinas: Ed. Unicamp, 2015. 303p. Resenha de: CHIRA, Adriana. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.
O complicado relacionamento entre as pessoas de cor e os movimentos nacionalistas latino-americanos esteve no centro de um vasto conjunto de pesquisas historiográficas. Algumas das questões que os estudiosos enfrentaram foram estas: o que levou as pessoas de cor a participar nesses movimentos? Como os modelaram? E por que endossaram ideologias nacionalistas que celebravam a harmonia racial e que as elites brancas viriam a usar como meio para silenciar as reivindicações baseadas na raça? As pessoas de cor foram sendo cooptadas pelas elites brancas, ou conseguiram dar forma ao teor geral dos movimentos e das ideologias nacionalistas? Historiadores cubanos envolveram-se nessas discussões, muito embora Cuba tenha discrepado cronologicamente em comparação com outras colônias espanholas nas Américas, alcançando sua independência apenas em 1898. O paradoxo que faz de Cuba um tema particularmente interessante de pesquisa é por que o maior produtor de açúcar para o mercado global poderia abrigar um ideal nacionalista de fraternidade racial, no momento em que o racismo científico tornava-se o lastro ideológico para os segundos impérios europeus na Ásia e na África, e para as chamadas leis Jim Crow no sul dos Estados Unidos. Realizando rica pesquisa em arquivos cubanos e espanhóis e tecendo uma bela narrativa que coloca na frente e no centro as vozes e as ações das próprias pessoas de cor, Iacy Maia Mata oferece, em sua monografia, novas abordagens sobre essas questões.
Estudos anteriores sobre fraternidade racial em Cuba centraram o foco sobretudo na experiência militar durante a prolongada Guerra de Independência contra a Espanha (1868-1898). Estudiosos e intelectuais já desde José Martí argumentaram que o esprit de corps militar que se desenvolveu entre os rebeldes pró-independência através das linhas de segregação oficiais serviu como catalisador de ideologias radicais de inclusão nacional e racial. Mata, porém, sustenta que há indícios nos arquivos de uma cultura política popular em Santiago que parece ter preexistido à campanha militar de 1868. Introduzindo um novo recorte cronológico para a emergência de ideologias de igualdade racial em Cuba, Iacy Mata não está apenas oferecendo o relato mais completo. Ela também está sugerindo que a população de cor de Santiago havia considerado a igualdade antes mesmo de as elites liberais de pequenos proprietários na província vizinha de Puerto Príncipe terem iniciado a guerra de independência.
O objetivo de Iacy Mata é traçar as origens da cultura política popular de Santiago e explicar como, entre meados dos anos 1860 e o início da década de 1880, a população de cor local superou as divisões de status e criou laços e solidariedades que alcançaram sua expressão completa na ideia de uma raza de color unificada. A autora argumenta que essa visão particular de uma comunidade política centrada na raça estava alinhada com a causa nacionalista de uma Cuba livre. Como ela coloca adequada e incisivamente, as pessoas de cor de Santiago passaram, no começo da década de 1860, da condição de la clase de color, um rótulo oficial nelas fixado pelas autoridades coloniais espanholas, para a de la raza de color, termo que intelectuais e líderes políticos e militares de cor começaram a usar para se autoidentificar no início da década de 1880.
Ao longo da maior parte de sua existência colonial, Santiago de Cuba, província situada na extremidade leste da ilha, foi uma zona de fronteira colonial, ator marginal na política imperial e local de pouco investimento da agricultura de plantation em larga escala. Os refugiados da Revolução Haitiana que migraram para essa região por volta de 1803 ali introduziram plantações de café, muitas das quais faliram no começo da década de 1840. Até o final dos anos 1850, as principais fontes de renda locais eram a criação de gado, a plantação de café e tabaco e a mineração de cobre (que as autoridades concederam a uma companhia inglesa). Como resultado da localização de Santiago nas margens do domínio açucareiro, a pequena propriedade permaneceu ali muito mais comum do que na parte centro-oeste de Cuba. Além do mais, Santiago também se destacou entre as demais províncias cubanas pelo peso demográfico relativamente maior da população de cor. No começo dos anos 1860, muitos deles eram pequenos proprietários e alguns possuíam um pequeno número de escravos. Era essa população que começou a se mobilizar politicamente no início daquela década, argumenta a autora, em resposta aos acontecimentos econômicos locais e aos movimentos internacionais antiescravagistas.
Nos primeiros anos da década de 1860, o açúcar começou a deitar raízes mais profundas em Santiago e a produção de café voltou a se expandir ali. Como consequência, as plantações começaram a invadir áreas onde os pequenos proprietários ou arrendatários cultivavam tabaco, deixando a população de cor insatisfeita. Ademais, em meados da década, teriam chegado a Santiago notícias e rumores sobre a emancipação dos escravos no sul dos Estados Unidos. A população local também teria consciência, havia bastante tempo, dos protestos britânicos contra a escravidão e o comércio de escravos para o Império Espanhol (em razão da proximidade da Jamaica), bem como da reputação do Haiti como república construída a partir de uma bem-sucedida revolução de escravos. Fazendo uma leitura cuidadosa de registros criminais e judiciais, Iacy Mata recupera como essas notícias impactaram a vida cotidiana entre os escravos e a população de cor livre e o que fizeram com elas. Quer fosse a exibição sutil e irônica de uma bandeira haitiana, trazendo inscrita a palavra Esperança, quer fosse o uso de um vocabulário pró-republicano, antiescravidão e antidiscriminação, sustenta a autora, as conversas de natureza política se espalharam pela cidade e pelas áreas rurais antes de 1868.
As conversas políticas locais culminaram em uma série de conspirações que transpirou entre 1864 e 1868 na província de Santiago e em áreas adjacentes. Iacy Mata interpreta a evidência dessas conspirações cuidadosamente, identificando os objetivos e as alianças dos participantes que emergiam entre escravos, população de cor livre e brancos. Os desiderata incluíam uma república independente, o fim da escravidão e a igualdade de direitos no que diz respeito ao status de raça. Nos dois capítulos finais, a autora coloca em discussão que essas metas políticas receberiam maior articulação durante a Guerra de Independência, quando as pessoas de cor tentariam radicalizar a agenda principal da liderança branca liberal para incluir a igualdade política e a abolição imediata.
A monografia baseia-se em extensa pesquisa nos arquivos imperiais espanhóis (Arquivo Histórico Nacional, Arquivo Geral das Índias), bem como em fontes dos Arquivos Nacionais Cubanos e do Arquivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba. Esses diferentes repositórios forneceram a Iacy Mata fontes que lhe permitiram deslocar-se entre diferentes percepções dos mesmos eventos ou processos: elite/subalterno, centro imperial (Madri)/elite política centrada no açúcar (Havana)/zona de fronteira cubana (Santiago). Adicionalmente, o trabalho de Iacy Mata mostra como o estudo de uma área de fronteira do Caribe pode ser importante para se entender o radicalismo político na região. Por muito tempo, os historiadores permaneceram focando as áreas produtoras de açúcar como os principais espaços onde a mudança social se deu. Embora seu trabalho tenha nos munido de ferramentas e abordagens analíticas indispensáveis, Iacy Mata sugere que é importante olhar para além dessas áreas se quisermos compreender a cultura política local.
A monografia também abre importantes caminhos para novas pesquisas. A unidade discursiva do termo raza de color esconde as complexas políticas e as fraturas existentes entre as pessoas de cor em Santiago que sobreviveram nos anos 1880 e moldariam a política clientelista nos primórdios da Cuba republicana. Seria fundamental considerar que as origens e os desdobramentos posteriores dessas fraturas estariam em Santiago. Em segundo lugar, o estudo de Iacy Mata alude à presença de aliados brancos liberais em Santiago, que, ocasionalmente, ajudaram os combatentes pela liberdade ou participaram de conspirações antiescravidão. A historiadora cubana Olga Portuondo Zúñiga explorou a história do liberalismo na parte ocidental da ilha, revelando um vibrante campo de ideias liberais que se mostravam, às vezes, contraditórias ou contraditórias em si mesmas. Puerto Príncipe e Bayamo foram terrenos particularmente férteis para o pensamento liberal, mas Santiago não esteve alheia a ele antes da Guerra de Independência (ver, por exemplo, o governo de Manuel Lorenzo nos anos 1830). Algumas dessas ideologias liberais podem também ter escoado através de redes que alcançaram ex-colônias latino-americanas depois da década de 1820 e a República Dominicana durante a Guerra da Restauração nos anos 1860. Estudar os ideais políticos da população de cor de Santiago em relação a essas outras correntes políticas, tanto internas quanto externas à ilha, parece ser um terreno especialmente importante para futuras pesquisas.
O trabalho de Iacy Mata é uma bela ilustração de como as ferramentas da história social e política podem capturar a dinâmica dos movimentos políticos populares. Assim sendo, eu o recomendo vivamente para os estudiosos interessados em sociedades escravistas e pós-escravistas e nos papéis que as pessoas de cor desempenharam no interior delas.
Adriana Chira – Ph.D., University of Michigan. Assistant Professor of Atlantic World History, Emory College of Arts and Sciences (USA). Emory College of Arts and Sciences. Atlanta, GA, USA. E-mail: adriana.chira@emory.edu.
[IF]Dogmatismo e antidogmatismo: filosofia crítica, vontade e liberdade – DEBONA et al (V-RIF)
DEBONA, Vilmar; FONSECA, Eduardo Ribeiro; HULSHOF, Monique; MATTOS, Fernando Costa; RAMOS, Flamarion Caldeira. (Orgs.). Dogmatismo e antidogmatismo: filosofia crítica, vontade e liberdade. Uma homenagem a Maria Lúcia Mello e Oliveira Cacciola. Curitiba: Editora UFPR, 2015. Resenha de: DIAS, Claudia Assunpção. Voluntas – Revista Internacional de Filosofia, Santa Maria, v.7, v.1, p.224-230, 2016.
O livro Dogmatismo e antidogmatismo: filosofia crítica, vontade e liberdade, uma coletânea de vinte e oito textos, foi organizado por um grupo de ex-orientandos de Maria Lucia Cacciola e visou não apenas prestar uma homenagem a professora e pesquisadora da Universidade de São Paulo, mas também demonstrar a grande importância da homenageada no cenário filosófico brasileiro. O elemento que mais justifica o reconhecimento de tal importância e a iniciativa da organização do livro remete necessariamente a difusa o promovida por Cacciola do pensamento de Schopenhauer no meio acadêmico do Brasil por meio de suas traduções, publicações, aulas e conferencias. Com efeito, a sua tese de doutoramento, intitulada Schopenhauer e a questão do dogmatismo, foi o primeiro trabalho acadêmico de folego sobre Schopenhauer defendido no país1, fato representativo na o apenas por ter consistido, nas palavras de seu orientador – outra grande figura da filosofia brasileira, Rubens Rodrigues Torres Filho -, numa “reviravolta na interpretação de Schopenhauer”2, mas por ter sido capaz de promover uma nova frente de pesquisas, que, ao partir de Kant, de Schelling ou de Fichte, não toma Schopenhauer apenas como um discípulo ou interprete, mas como pensador original e influenciador de muitos outros grandes nomes, dentre eles Nietzsche e Freud. Foi devido aos interesses de Cacciola por Schopenhauer, a época na o estudado de forma rigorosa, e as colaborações com seus orientandos da USP, como Jair Barboza, seu primeiro orientando, que se abriu um campo fértil de novos estudos schopenhauerianos em terras tupiniquins. Surgem, a partir de então, variadas traduções das obras do filosofo, começa-se a organizar um Colóquio Internacional Schopenhauer (com sete edições já realizadas), inaugura-se uma Seção brasileira da Schopenhauer-Gesellschaft, que e presidida por Cacciola, cria-se o GT Schopenhauer da ANPOF e a Revista Voluntas: Estudos sobre Schopenhauer, assim como o numero de dissertações e teses aumentam significativamente3.
Para além dos muitos feitos da homenageada, que por si só justificariam a publicação da extensa obra aqui resenhada, interessa-nos destacar que o núcleo conceitual da pesquisa e da produção de Maria Lu cia Cacciola, espelhado no oportuno título do Festschrift em questão, consiste na problematização do dogmatismo a partir do pensamento schopenhaueriano. Em sua fecundidade, o modo com que a tema tica e abordada pela autora cumpre a tarefa de romper com a imagem de um Schopenhauer que, ao admitir a vontade como essência, teria restabelecido o dogmatismo que a filosofia crítica kantiana havia implodido. Conforme notam os organizadores na Apresentação do livro, Cacciola se encarrega de mostrar por que Schopenhauer não só na o e um pensador “pré -crítico”, como também pretendeu radicalizar o projeto kantiano de na o assumir o “mundo da representação” como absolutamente real (cf. p. 6), limitando ainda mais o papel da razão e buscando a essência do mundo no próprio mundo, ao invés de ser em ideais transcendentes4. Assumir a vontade como essência cósmica e no horizonte de uma metafísica imanente na o acarretaria, pois, em tomar a metafísica da vontade como dogmática, já que, como bem argumenta a autora em sua tese, e o próprio Schopenhauer que reivindicara um “fundo escuro” e grundlos, sem fundamento, para a vontade que se manifesta no cara ter de cada fenômeno.
Além disso, conforme assinala Lean [DR] o Chevitarese num dos capítulos do Festschrift (cf. pp. 181-186), Cacciola assumiu o desafio de indicar em que medida Schopenhauer deu cabo ao seu projeto de não conceber a vontade como absoluto. E ela faz isso argumentando, p. ex., que o “como” (als) do título da obra magna do pensador – O mundo como vontade e representação -, traduz-se na defesa de que a vontade só e coisa-em-si relativamente, ou seja, em relação ao fenômeno, do mesmo modo como este e fenômeno tão somente em relação a coisa-em-si. Indicando, com isso, um possível cara ter perspectivista na metafísica schopenhaueriana, Cacciola sublinhara em vários de seus trabalhos5 a importância de se entender que, se ha algum dogmatismo no sistema do filosofo do “pensamento único”, só poderia se tratar de um dogmatismo imanente (immanenter Dogmatismus), conforme comenta o próprio Schopenhauer em seus Fragmentos para a história da filosofia6.
Dito isso quanto a s linhas norteadores do trabalho filosófico da homenageada, cabe observar brevemente que o conjunto de temas dos textos que compõem o Festschrift reflete bem a vastidão de interesses de pesquisa de Cacciola, assim como o universo de temas a partir dos quais ela, como orientadora, formou um significativo grupo de pesquisadores e especialistas brasileiros sobre a filosofia clássica alemã . Conforme afirmam os organizadores,
Embora a maior parte das contribuições verse sobre a filosofia schopenhaueriana (a ponto de transformar o presente livro numa importante fonte para o estudo do filósofo, abrangendo as diversas facetas de seu pensamento, da teoria do conhecimento à metafísica, da ética à estética, passando pela reflexão filosófica sobre a religião), não se pode deixar de notar a variedade de suas perspectivas: temos contribuições sobre Nietzsche, Kant, a psicanálise, textos sobre autores tão diferentes como Bodin e Schulze ou Reinhold […] (p. 8).
Outra linha de interesse da homenageada e a estética em seus diversos ramos, das artes plásticas ao cinema, abarcando a poesia, a musica e a pintura. Na obra em questão, assuntos desse domínio da filosofia aparecem em nada menos que seis capítulos. Como a problemática sobre a metafísica imanente schopenhaueriana e sua abordagem “antidogmática” empreendida por Cacciola abrange também a conhecida metafísica do belo de Schopenhauer, pretendemos tecer a seguir alguns comenta rios sobre dois capítulos do livro que nos interessam mais de perto, por tratarem de noções da este tica desse pensamento.
O primeiro deles e de autoria de Matthias Kossler e se intitula Sobre o papel do discernimento [Besonnenheit] na estética de Arthur Schopenhauer. Ao elencar os diversos âmbitos da filosofia schopenhaueriana nos quais o discernimento se faz presente (teoria do conhecimento, e tica, negaça o da vontade e este tica), Kossler mostra de forma clara como e possível identificar variados graus dessa noção, cujo aumento depende da intensidade da separação entre vontade e intelecto. Ou seja, quanto mais incomum for o discernimento de dado indivíduo, mais o seu intelecto estaria distanciado de sua raiz, a vontade, de modo que o aumento exagerado do discernimento, segundo Schopenhauer uma “anormalidade”, indicaria o cara ter do gênio (artístico), que intuiria os objetos do mundo sem considerar apenas um lado desses objetos, aquele referido a própria vontade e que lhe interessa, mas também os outros lados, independentes do serviço e interesse da vontade. De forma resumida, Kossler afirma que “na este tica, o discernimento capacita os artistas a apreender as coisas de maneira objetiva e assim apresentá-las em suas obras de modo que no observador essa apreensão objetiva, que Schopenhauer caracteriza como intuição das Ideias, seja ocasionada” (p. 23-24, grifo nosso). No entanto, o comentador na o chega a desenvolver uma analise sobre como esse discernimento atuaria no processo mesmo de exposição artística. Talvez o momento da apresentação ou da exposiçao (Darstellung) artística seja o que mais exige uma destreza pragmatica e “discernida”, já que e necessário despertar a fantasia do espectador. Diferentemente do momento da criação, em que a metafísica do belo schopenhaueriana admite ate mesmo um poder intuitivo que domina o artista e que e espontâneo, o momento da exposição soa menos intuitivo, menos espontâneo e mais dado a uma aça o refletida e direcionada a um fim, como se observa no caso de um poeta, por exemplo, que precisa seguir rigorosamente determinados passos ou regras, escolher as palavras adequadas, o ritmo e a rima, para transmitir de forma objetiva a Ideia intuí da. Ora, se, conforme afirma Kossler, supusermos que “discernimento e o contra rio da espontaneidade”, e assumirmos também que o momento menos espontâneo do artista refere-se a seus procedimentos este ticos (menos metafísico-intuitivos), na o seria ainda mais pertinente uma problematização do conceito schopenhaueriano de discernimento na esfera da exposição artística, ao invés de ser no âmbito da criação/intuição?
O segundo texto que nos motiva a comentar, também sobre este tica, e o de Jair Barboza, intitulado Contra a tradição: Schopenhauer como filósofo acústico. Como já indica o título, o autor apresenta argumentos que mostram em que medida Schopenhauer pode ser visto como um pensador que inverteu a hierarquia dos sentidos que, em geral, na tradição ocidental, reserva a visa o e a s artes visuais a primeira posição. O filosofo que classificou a musica como arte suprema e ate mesmo destacada da hierarquia que espelha os graus de manifestação da vontade teria também, em algum sentido e ao menos em certos contextos, submetido as artes visuais a experiencia auditiva. Conforme destaca Barboza, para Schopenhauer, “enquanto pelas artes visuais ainda apreendemos uma “copia” das Ideias, nas artes de sons sentimos a expressa o direta da vontade como coisa-em-si” (p. 191). O elemento mais contundente da argumentação do autor e o da conhecida equivalência que o pensador alemão faz entre os sons e o espectro dos reinos naturais: para ele, o mundo e seus reinos arquetípicos confundem-se com a musica e, nesse sentido, mesmo se na o houvesse mundo fenomênico, ainda poderia haver música. Compreender ou captar o mundo fenomênico significaria, então, ouvi-lo em seus diversos tons ou de acordo com as quatro vozes de uma harmonia, cada um correspondendo a um reino natural específico: o baixo ao mineral, o tenor ao vegetal, o contralto ao animal e o soprano ao humano. Pelo conhecido destaque e enaltecimento da música, o filosofo que desenvolveu boa parte de sua filosofia sob o signo da visa o, conforme bem demonstra o autor (cf. p. 189-190), e que – acrescentemos – publicou um ensaio intitulado justamente Sobre a visão e as cores, poderia mesmo ser tomado, por mais esse motivo, como um pensador contra a tradição.
No entanto, uma possível problema tica que poderia surgir da questão apresentada por Barboza, e que foi apontada apenas de passagem pelo autor, diz respeito ao lugar que a poesia ocuparia entre a oscilação da primazia dada por essa filosofia, por um lado, para a visa o e, por outro, para a audição. Se assumida como “um meio termo entre arte visual e arte auditiva” (p. 191), não teríamos que admitir – para discutirmos a concepção schopenhaueriana de poesia – uma suspensa o provisória dos argumentos que disputam o primeiro lugar apenas para a visa o ou apenas para a audição, classificando-as, quiçá , num mesmo patamar? Elementos para respondermos a essa questão poderiam ser encontrados em vários textos do filosofo. E um possível horizonte de argumentação pode ser aquele ilustrado pelo autor nas ultimas linhas do capítulo (cf. p. 194). Ao tratar do tema das artes nos Suplementos (Tomo II) de O mundo como vontade e representação, Schopenhauer nos surpreende com uma diferenciação nos títulos de seus capítulos: para a arquitetura e a poesia, os títulos são Estética da arquitetura e Estética da poesia, já para a musica, o título e Metafísica da música. Se esta diferenciação serve como argumento para detectarmos a preferencia ou a primazia outorgada pelo filosofo a musica e, assim, a audição, conforme sugere Barboza, a questão pode instigar uma problema tica conceitual mais ampla. Isso porque, notadamente em suas Preleções sobre a Metafísica do belo e no Livro III do Tomo I de sua obra magna, o filosofo da vontade adverte justamente para a importância de distinguirmos entre metafísica do belo e este tica. No entanto, como se percebe pelos títulos dos Suplementos, com exceção da musica, as artes parecem ser abordadas tanto sob a chave da metafísica (do belo) quanto da este tica. E assim podemos pensar a questão mencionada sobre a particularidade da poesia – que se situaria entre arte visual e arte auditiva -, uma vez que ela, em específico, quando tomada sob a perspectiva da metafísica e situada no topo da pirâmide hierárquica das artes como reveladora da Ideia de humanidade; já quando tomada sob a perspectiva da Este tica do Tomo II, o que esta em questão são, sobretudo, as suas técnicas de apresentação (metro, rima, vocabulário etc) e dos me todos mais convenientes para o poeta atingir seu objetivo, ou seja, uma questão que envolve diretamente questões relativas tanto a audição quanto a visão.
A julgar pela natureza dos temas dois dois capítulos aqui comentados em específico, torna-se indispensável afirmarmos que a obra resenhada pode ser considerada uma fonte profícua para debates sobre variados temas da filosofia clássica alemã e, como na o poderia deixar de ser, para a pesquisa sobre Schopenhauer. Os vinte e oito capítulos, que versam sobre a já assinalada pluralidade de temas e abordagens, assim como o nobre proposito pelo qual veio a publico – o de homenagear uma grande figura da filosofia brasileira – fazem de Dogmatismo e antidogmatismo um livro de interesses transversais, recomendável tanto para especialistas quanto para iniciantes.
Ademais, torna-se impossível a tarefa de apresentarmos aqui o todo desta obra singular, tarefa que, por isso, confiamos ao leitor.
Notas
1 A tese foi defendida em 1991 no Departamento de Filosofia da USP e publicada como livro em 1994, pela Edusp, tornando-se uma referência obrigatória para os estudos brasileiros sobre Schopenhauer.
2 TORRES FILHO, R. R. Prefácio. In: CACCIOLA, M, L. Schopenhauer e a questão do dogmatismo, p. 16.
3 Para um registro das principais atividades de pesquisa, traduções e publicações sobre Schopenhauer que foram e estão sendo realizadas no Brasil, cf. CACCIOLA, M. L.; DEBONA, V.; SALVIANO, J. O. Gechichte und aktuelle Situation der Schopenhauer-Studien in Brasilien, 2015; e, para outra versão do mesmo material, CACCIOLA, M. L.; DEBONA, V.; SALVIANO, J. O. A história e a atual situação dos estudos schopenhauerianos no Brasil, 2013.
4 Nesse sentido, vale observar que a dissertação de mestrado de Cacciola aborda justamente a temática da crítica da razão em Kant e Schopenhauer. Cf. CACCIOLA, M. L. A crítica da razão no pensamento de Schopenhauer, 1982.
5 Recentemente a autora publicou um texto intitulado justamente sobre o assunto no anuário Schopenhauer-Jahrbuch (cf. CACCIOLA, M. L. Immanenter Dogmatismus, p. 151-162).
6 “[…] poder-se-ia chamar meu sistema de dogmatismo imanente, pois, embora seus princípios doutrinais sejam de fato dogmáticos, não ultrapassam todavia o mundo dado na experiência, mas apenas esclarecem o que ele é, já que o decompõe em suas partes componentes” (SCHOPENHAUER, A. Fragmentos para a história da filosofia, p. 118).
Referências
CACCIOLA, Maria Lúcia. Schopenhauer e a questão do dogmatismo. São Paulo: Edusp, 1994.
_____. Immanenter Dogmatismus. Schopenhauer-Jahrbuch. Würzburg: Königshausen & Neumann, Bd. 93, 2012, pp. 151-162.
_____. A crítica da razão no pensamento de Schopenhauer. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 1982.
CACCIOLA, Maria Lúcia; DEBONA, Vilmar; SALVIANO, Jarlee Oliveira. Gechichte und aktuelle Situation der Schopenhauer-Studien in Brasilien. Schopenhauer-Jahrbuch. Würzburg: Königshausen & Neumann, Bd. 96, 2015.
_____. A história e a atual situação dos estudos schopenhauerianos no Brasil. Revista Voluntas: Estudos sobre Schopenhauer. Rio de Janeiro, Vol. 4, Nº 1 – primeiro semestre de 2013, pp. 146-150.
SCHOPENHAUER, Arthur. Fragmentos para a história da filosofia. Trad. Maria Lúcia Cacciola. São Paulo: Iluminuras, 2003.
TORRES FILHO, Rubens Ro [DR] igues. Prefácio. In: CACCIOLA, Maria Lúcia. Schopenhauer e a questão do dogmatismo. São Paulo: Edusp, 1994.
Claudia Assunpção Dias – Mestranda em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). E-mail: claudia.assunpcao@gmail.com
[DR]
Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação – SCOTT et. al (VH)
SCOTT, Rebecca J; HÉBRARD, Jean M. JOSCELYNE, Vera. Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação. Campinas: Editora da Unicamp, 2014. 296 p. DIÓRIO, Renata Romuldo. Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 57, Set./ Dez. 2015.
Edouard Tinchant, um homem negro, “descendente de haitianos”, nascido em New Orleans, sul dos Estados Unidos, viveu na Antuérpia, onde foi fabricante e comerciante de tabaco. Em 1899, ele escreveu para Máximo Gomez, um dos líderes pela luta da independência cubana, para fazer um pedido. Tinchant pretendia usar o nome e o retrato do general Gomez como marca de seus melhores charutos. O pedido seria uma forma de reverenciar um defensor do antirracismo, causa que marcou a história dos seus antepassados e descentes.
A referida carta foi encontrada por Rebecca Scott e Jean Hébrard, no Arquivo Nacional de Cuba, e, a partir desta, esses pesquisadores iniciaram uma busca surpreendente por outras informações relativas à vida profissional e pessoal de Tinchant. Eles obtiveram dados sobre cinco gerações de uma família constituída pela união entre uma africana e um francês, Rosalie e Michel Vincent, e essa extensa pesquisa documental deu origem ao livro Provas de Liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação.
As trajetórias de homens e mulheres de cinco gerações da família de Tinchant foram resgatadas com base em registros encontrados em arquivos. Estes documentam momentos de suas vidas em diferentes locais onde se instalaram, como Cuba, Estados Unidos (Luisiana), Haiti, Bélgica (Antuérpia) e França. As histórias são elucidadas a partir da análise de cartas de alforria, batismos, testamentos, contratos de casamento, recenseamentos, dentre outros. O pano de fundo são os acontecimentos políticos que perpassam a crise do escravismo e do colonialismo no Mundo Atlântico e as revoluções antirracistas e de cunho liberal do século XIX. As principais são a Revolução Haitiana, a Revolução Francesa de 1848, a Guerra Civil e a Reconstrução nos Estados Unidos.
Por meio dos estudos dessa família, o livro aborda questões relativas a tráfico, escravidão, liberdade e condições impostas aos descendentes de escravos nos séculos posteriores à emancipação e em contextos de guerras. As histórias dos membros dessa família convergem na luta por direitos, como a preservação da liberdade, a legitimidade das uniões conjugais e a garantia da cidadania. Na opinião de Rebecca Scott e Jean Hébrard, Rosalie e seus descendentes eram conscientes da importância dos documentos para a reivindicação de suas prerrogativas, e em função disso, procuravam os meios para que os registros fossem produzidos. Esse é o fio condutor de histórias vivenciadas pelas pessoas que possuíam laços consanguíneos em locais e momentos tão díspares.
O livro dialoga com trabalhos mais recentes que buscam uma narrativa de biografia. Nesse caso, trata-se de pequenas biografias desenvolvidas a partir das escolhas individuais dos descendentes de Rosalie, apresentadas em nove capítulos. São micro-histórias “em constante movimento”, como afirmam os autores. Partidas, chegadas e fixação em diferentes localidades denotam uma relação direta com condicionantes como legislação, hierarquia social e guerra.
Tráfico, escravidão e liberdade são elucidados pela trajetória de vida de Rosalie na segunda metade do século XVIII. Os principais mecanismos de administração da escravidão nos domínios franceses e espanhóis no Novo Mundo são relatados a partir das experiências dessa africana dentro de um contexto mais amplo em que estava inserida. São evidenciados os indícios da sua travessia pelo Atlântico, da Senegâmbia para Santo Domingo, Caribe, passando pelo período que viveu sob o regime da escravidão até a sua libertação.
No período da Revolução Haitiana Rosalie era denominada na documentação como Marie Françoise. Nessa ocasião, ela era liberta e possuía quatro filhos, fruto da relação conjugal com o francês Michel Vincent. Em uma tentativa de fuga para Cuba, a família foi separada, a filha, Elisabeth Vincent, foi levada para Nova Orleans, onde mais tarde casou-se com o carpinteiro Jacques Tinchant. Edouard, mencionado anteriormente, era um dos cinco filhos nascidos dessa união, nenhum deles se encontrou com a avó, Marie Françoise. Embora os Tinchant apresentassem uma confortável situação na Louisiana, a família partiu para a França em 1840. Pelo que consta nas fontes encontradas, o motivo teria sido a tentativa de escapar das severas leis que incidiam sobre homens negros e seus descendentes nos Estados Unidos daquela época.
A trajetória política de Edouard Tinchant merece destaque, pois ele foi diretor de uma escola de crianças libertas, veterano do exército da União na guerra civil e representante multirracial no sexto distrito de Nova Orleans. No entanto, foi na Antuérpia que ele teve uma espetacular ascensão econômica com a produção e venda de charutos finos. Seus negócios estenderam-se para Nova Orleans e também para o México, onde Joseph Tinchant, irmão de Edouard, representou o empreendimento. Eles transitaram entre a América do Norte e a Europa, deixando registros como empresários ou cidadãos respeitáveis. Em 1875, Joseph foi mencionado nos documentos como Don Joseph Tinchant, que, de acordo com as formas de tratamento local, indicava ser um cidadão do México.
Em 1937, Marie-José Tinchant, uma jovem de 21 anos que era neta de Joseph Tinchant, deu uma entrevista ao jornal londrino Daily Mail. A publicação mostra que, embora Marie-José fosse uma moça delicada, culta e filha de um próspero comerciante de charutos da Antuérpia, teve seu casamento anulado por causa da tez da sua pele. Mesmo fugindo e conseguindo realizar o casamento, ocorreram tentativas de anulação da união da parte dos pais do noivo, com base no preconceito racial. Anos depois ela é presa pelas forças nazistas de ocupação da Bélgica, supostamente por ser um membro do Movimento de Resistência durante a Segunda Guerra, e morre em um campo de concentração em 1945, na Ravensbrück, Alemanha.
Os momentos de vida elucidados no livro resultam de um levantamento exaustivo de fontes sobre os membros das famílias de descendentes da ex-escrava Rosalie, depois referida como Marie Françoise. As histórias são retratadas com acentuada tendência, por parte dos autores, em suposições de informações que não são captadas por meio dos documentos. De todo modo, isso em nada compromete o trabalho, tamanho o esforço em evidenciar como essas gerações fizeram uso desses papéis para legitimar seus direitos e superar restrições que os ligavam à escravidão. O livro nos mostra que quanto mais distante da condição escrava, maiores as chances de obter ascensão econômica, social e até mesmo política. Contudo, também deixa claro que em cada uma dessas conquistas havia uma luta constante em torno do combate ao racismo que assolou e ainda assola gerações até os nossos dias.
Por abarcar um período tão abrangente, marcado por tantas mudanças, o livro interessa aos especialistas da escravidão, do fim do colonialismo e dos conflitos antirracistas no Mundo Atlântico, mas também àqueles dedicados a debates mais contemporâneos acerca da luta contra o racismo
Renata Romuldo Diório – Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Pós-Doutoranda em História Social da Cultura. Universidade Federal de Minas Gerais. Rua Amador Catarino Jales, 105, Distrito de Padre Viegas, Mariana, MG, 35422-000, Brasil. renatadiorio@hotmail.com.
Another Black Like Me: the construction of identities and solidarity in the African diaspora / Nielson R. Bezerra
Another Black Like me, editado por Elaine Rocha e Nielson Bezerra, discute a questão racial, na América Latina e no Caribe, a partir da perspectiva dos negros, sejam estes escravizados ou descendentes de pessoas que passaram pelo cativeiro. Para tanto, os autores ressaltam que é de negros, e não de afrodescendentes, que estão tratando. E o fazem como forma de pontuar e trazer para o debate as complexidades e subjetividades às quais a percepção da negritude esteve submetida, desde o início da diáspora africana até os tempos atuais. Procurando contemplar uma ampla gama de recortes temporais e conceituais, o livro abrange temáticas diversas, que vão, desde o gênero até a resistência, passando por questões ligadas à territorialidade, mobilidade espacial, abolicionismo e identidade.
Esse livro é fruto do esforço de seus dois editores em unir perspectivas e abordagens, das mais diversas, acerca da diáspora africana na América Latina. Oferecendo uma abordagem sólida para tais questões, essa obra consegue agregar artigos que dialogam e fazem sentido quando unidos. Os pesquisadores ora reunidos, apesar de oriundos de diferentes instituições e formações, convergem em uma direção que dá sentido à obra, que é o que toda coletânea precisa (e deveria) ter.
Como é de se esperar em um trabalho feito a muitas mãos, as fontes utilizadas são das mais diversas. Destaco o uso de relatos de viajantes que, nessa obra, servem a diferentes análises. Ygor Rocha Cavalcante os utiliza para identificar os locais de esconderijo dos escravos fugidos bem como para visualizar o cotidiano das localidades por ele analisadas; já Luciana da Cruz Brito acessa tais relatos como forma de analisar a percepção internacional sobre a mítica democracia racial brasileira. Além de tais fontes, o livro ainda apresenta trabalhos que contam com o uso da literatura, história oral, fontes processuais, registros cartoriais, entre outras.
Another Black Llike me nos leva, então, do Brasil à Porto Rico, passando pelo Caribe Britânico e, de volta à África, até Gana. Apesar do livro não possuir nenhuma divisão em partes ou seções, ao lê-lo, consigo identificar dois eixos norteadores do trabalho. Estes correspondem, também, a uma divisão temporal, que pode ser marcada pelo progressivo fim do escravismo nos países da América Latina. Dois momentos, por assim dizer, que se organizaram de diferentes maneiras, nas diferentes sociedades ora abordadas, mas que guardam convergências e similaridades e permitem aproximação em uma única obra.
Dessa forma, esse livro apresenta um primeiro eixo, que corresponde a uma América Latina pós-escravista, que precisa lidar – tanto política, como social e economicamente – com suas questões raciais, suas desigualdades e pertencimentos. E um segundo eixo, que trata dos séculos XVIII e XIX, correspondente ao período escravista da América Latina. Lidando com resistências, construções de identidades e com o abolicionismo, esse segundo eixo trata, principalmente, do Brasil e dos desdobramentos das questões afro-brasileiras.
Analisando o livro nessa chave de leitura, o primeiro eixo que identifico, neste trabalho, compreende os quatro primeiros artigos, de autoria de Elaine Rocha, Ronald Harpelle, Victor C. Simpson e Rhonda Collier. Rocha debate a identificação dos afrodescendentes na América Latina, seja ela imposta ou escolhida. A autora discute questões ligadas à identificação racial, e às formas como essa identificação foi (e tem sido) utilizada, tanto de forma positiva, quanto de forma negativa. Harpelle lida com os grupos de descendentes de africanos na América Central que, na metade do século XX, não sabiam quais eram suas origens, que também não eram conhecidas pelas autoridades britânicas que, no século anterior, controlaram a imigração para muitas das ilhas Caribenhas, de onde a maior parte dos imigrantes saíram para a América Central continental. Simpson delineia a taxonomia racial em Porto Rico e no Caribe Anglófono, buscando, na experiência histórica da diáspora africana e do domínio colonial europeu, as raízes que, depois de séculos de interação, dominação e exclusão, deram origem às designações de cor naquelas localidades. Assim como em grande parte da América Latina, tais denominações não se resumem apenas a negro e branco, possuindo uma enorme gama de outras gradações entre essas duas. Tais divisões não se resumem apenas a tons de pele, sendo influenciadas por questões sociais e econômicas. Collier examina as condições de vida de mulheres cubanas, de ascendência africana, no século XX, enfatizando as dificuldades pelas quais passam, devido à cor de sua pele, e as consequências que os estereótipos por elas enfrentados trazem para suas vidas, como a pobreza e a prostituição. Muitas dessas mulheres são o único sustento de suas famílias, o que as empurra ainda mais fundo para essas condições.
Neste primeiro momento do trabalho, destaco o artigo de Rhonda Collier. Analisando as duras condições sociais às quais uma grande maioria de mulheres cubanas foi submetida, no final do século XX, com a queda da União Soviética e as dificuldades econômicas enfrentadas por Cuba, Collier aponta que a única saída que muitas encontravam, para sobreviver e prover a sobrevivência de suas famílias, era a prostituição. Isso gerou um estereótipo relacionado às mulheres cubanas de ascendência africana, que persiste até os dias de hoje.
A autora explora obras de poetisas cubanas, em fins do século XX, que denunciavam as condições às quais tais mulheres eram expostas, bem como o fato de que a revolução socialista, em Cuba, teria feito com que a pobreza levasse, cada vez mais, mulheres para a prostituição. Em oposição à prostituta, que se havia tornado peça de mercado, no turismo cubano, a figura que deveria emergir em seu lugar seria, então, a da mãe, valorizando o país, enquanto pátria que nutre seus filhos e filhas. A África seria, nessa visão, a mãe, na qual Cuba deveria se espelhar. Collier demonstra, nesse artigo, como a identidade da mulher cubana foi palco de disputas, por representatividade e reconhecimento, bem como por participação social e econômica.
O segundo eixo do livro, por sua vez, está articulado em torno das questões ligadas à escravidão, sem perder de vista o foco nas identidades e representações dos negros nas sociedades. Esse segundo momento do trabalho conta com cinco artigos, escritos por Flávio dos Santos Gomes, Ygor Rocha Cavalcante, Nielson Rosa Bezerra, Luciana da Cruz Brito e Marco Aurelio Schaumloeffel. Gomes analisa as experiências de fugas, nas fronteiras do Brasil colonial e da Guiana Francesa, nos séculos XVIII e XIX, atentando para as trocas culturais atlânticas, as experiências coletivas e as formas de resistência delas advindas. O autor enfatiza que as fronteiras coloniais não estabeleciam limites para tais trocas, demonstrando que as ideias circulavam entre os escravos, possibilitando, além das fugas, a migração ou a formação de mocambos, comunidades de escravos fugidos. Cavalcante também trabalha com a questão espacial, ao examinar a resistência escrava na fronteira amazônica do século XIX. Numa região marcada pelo povoamento indígena – nas regiões afastadas das cidades, pela interação entre indígenas e mestiços livres ou vivendo em diversas formas de dependência, e também pelo cultivo e preparo da borracha, atividade que exigia mobilidade – o trabalho escravo se organizava de maneiras diferentes daquelas encontradas no Sul e Sudeste, e até mesmo das regiões açucareiras do Nordeste. Dessa forma, a ação dos escravos e suas experiências acumuladas também se organizam de maneira própria. Bezerra analisa a trajetória de Mohammed Gardo Baquaqua, africano apreendido na África Ocidental e vendido como escravo, no século XIX, que, após uma verdadeira odisseia atlântica, com passagem pelo Brasil, Estados Unidos, Haiti e Canadá, conseguiu a liberdade, estabeleceu-se nos Estados Unidos e lá escreveu suas memórias, em forma de relato autobiográfico. Bezerra examina, então, a mobilidade espacial e a sociabilidade de Baquaqua, bem como seu relato, a fim de demonstrar como as pessoas escravizadas lidavam com os limites impostos pela escravidão. Brito analisa as perspectivas dos abolicionistas, dos Estados Unidos do século XIX, no tocante às relações raciais no Brasil. A autora aponta como o mito da democracia racial afetou a visão que se tinha sobre os direitos e o tratamento dado aos ex-escravos no Brasil, mostrando como tal mito espalhou-se e ganhou força mundo a fora, sendo utilizado como argumento, em querelas referentes aos direitos das pessoas de ascendência africana. Schaumloeffel encerra o livro, analisando a diáspora afro-brasileira, na África, com o caso dos Tabom em Gana. Esse grupo era formado por brasileiros descendentes de africanos que decidiram, espontaneamente, imigrar para a África, bem como por outros que, após se revoltarem, foram banidos para a África Ocidental. O autor toca nas questões relativas à formação de identidade desse grupo, bem como sua organização familiar política.
O artigo de Nielson Bezerra merece destaque, por demonstrar um exercício metodológico bastante interessante, ao preencher as lacunas da vida de Baquaqua com uma perspectiva historiográfica, a fim de entender o contexto brasileiro vivido por aquele africano. É importante notar, que o foco de Bezerra é o período que Baquaqua passou no Brasil, vivendo nas províncias de Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande. Assim, esse artigo não apenas descreve a vida de Baquaqua e o que pode ser encontrado em seu relato autobiográfico, como também analisa as relações escravistas, naquelas províncias, e seu impacto na vida dos africanos escravizados.
O uso de biografias de africanos, como fonte, é algo bastante recorrente na historiografia sobre a escravidão na América do Norte. Para o caso brasileiro, entretanto, o relato de Baquaqua é, até o momento, o único encontrado. Nesse sentido, o artigo de Bezerra pode servir, também, de reflexão, para pensarmos em outras formas de analisar trajetórias de africanos e africanas no Brasil: na ausência de relatos autobiográficos, a historiografia brasileira vem reconstruindo essas histórias, a partir de diversos tipos de fontes, como registros cartoriais, policiais e eclesiásticos. Convergir essa metodologia, com a análise feita por Bezerra, pode ser um exercício metodológico interessante.
Another Black Like Me pode ser lido, então, como um bom exercício de história social. Com sólido embasamento nas fontes, todos os nove artigos apresentam perspectivas que possibilitam compreender as pessoas escravizadas e suas descendentes como sujeitos ativos, ainda que limitados, por suas condições sociais, políticas, econômicas e históricas. Além disso, é um livro que lida com a identidade dos africanos e seus descendentes, entendidos no contexto da diáspora, no interior das formações e transformações de suas identidades, entendidas no contexto da longa história do negro na América Latina.
Daniela Carvalho Cavalheiro – Doutoranda em História Social da Cultura/UNICAMP. Campinas/São Paulo/Brasil. E-mail: daniela.cavalheiro@gmail.com.
BEZERRA, Nielson Rosa; ROCHA, Elaine (Org.). Another Black Like Me: the construction of identities and solidarity in the African diaspora. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2015. 230 p. Resenha de: CAVALHEIRO, Daniela Carvalho. Identidades em questão: escravidão, liberdade e pertencimento no mundo atlântico. Outros Tempos, São Luís, v.12, n.19, p.268-272, 2015. Acessar publicação original. [IF].
As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América | Keila Grinberg
O livro “As Fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América”, compilado pela professora e historiadora Keila Grinberg é resultado de um seminário organizado pela mesma autora, e que foi realizado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em junho de 2011. Pode-se dizer que o seminário foi fruto do que diversos historiadores têm produzido nos últimos anos sobre o tema da escravidão e da liberdade nas fronteiras platinas. A nova historiografia da escravidão – como assim tem sido chamada – permitiu que novos assuntos entrassem em pauta, ampliando as facetas da organização da sociedade escravista e complexificando as relações entre senhores e escravos.
Em todos os textos que compõem este livro é possível perceber os novos debates realizados no seio da ciência histórica e que consequentemente afetaram também a temática da escravidão e da liberdade no sul da América. Novas narrativas, novos personagens, novas fontes. Parece que o célebre livro Nouvelle Histoire, organizado por Jacques Le Goff e Pierre Nora ainda dão eco em nosso tempo. O leitor verá também que cada artigo traz importantes contribuições de pesquisas desenvolvidas por especialistas na área. Não há dúvida que Keila Grinberg conseguiu unir em seu seminário os principais historiadores da atualidade que se debruçam sobre os temas da fronteira, escravidão e liberdade.
O texto introdutório de Keila Grinberg não busca ser somente um apanhado do que o leitor encontrará no livro, mas apresenta algumas questões que a autora considera pertinentes para entender a história da escravidão e liberdade no sul da América. A primeira delas é que o livro apresenta histórias de “pessoas escravizadas”. Ou seja, um olhar microscópico, em que as experiências dos indivíduos são ricas para se entender o intricado processo de formação dos estados nacionais. Lembramos aqui da própria tese da professora Keila, que buscou investigar a trajetória do mulato Antônio Rebouças e usou sua história como porta de entrada para entender questões de direito, justiça e cidadania no século XIX (O fiador dos brasileiros: cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002).
Sobre essa questão é importante recordar dos trabalhos de Carlo Ginzburg, O Queijo e os Vermes (São Paulo: Companhia das Letras, 1989), e o de Giovanni Levi, A Herança Imaterial (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000). Ambos utilizavam a trajetória de um indivíduo para analisar os costumes de toda uma sociedade. Ginzburg usou o moleiro Menóquio para mostrar como um indivíduo excêntrico, que sabia ler e escrever num tempo onde isso era raro, tencionou com os dogmas da Igreja Católica. E Levi utilizou o pároco Chiesa para evidenciar a importância do nome e da influência de seu pai na vila de Piemonte. Estes trabalhos foram os grande ícones da Micro-História italiana e inspiraram toda uma geração de historiadores. Jacques Revel, já na década de 1990, trazia o conceito de jogos de escalas, em que a estrutura social e os indivíduos não eram antagônicos, mas eram visões diferentes que podiam ser somadas e complementadas. O leitor verá nesta resenha histórias de escravos e libertos enquanto sujeitos históricos, conscientes de sua vida e de seus limites.
Keila Grinberg também destaca o conceito de fronteira que os autores do livro utilizam. Não como uma barreira, um limite político que separam nações, mas como uma construção histórica. Afinal, a fronteira é também o que os atores fazem dela. É pertinente lembrar também do conceito de fronteira manejada, aplicada por uma das autoras deste livro, Mariana Thompson Flores, em sua tese recentemente publicada (Crimes de fronteira. A criminalidade na fronteira meridional do Brasil, 1845-1889. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2014). Mariana faz uma excelente revisão historiográfica sobre este conceito, mostrando que os historiadores mais tradicionais buscavam uma fronteira que o ajudassem a justificar a condição brasileira original. Ou seja, transformar o Rio Grande do Sul integrado mais ao Brasil do que às colônias platinas. A partir da década de 1990 a fronteira passa a ser vista menos como um limite e mais com um espaço de trocas e embates. Esta visão, mais conciliatória, foi defendida por historiadores brasileiros (Helga Piccolo, César Guazzelli, Helen Osório, Enrique Padrós), mas também por estudiosos uruguaios e argentinos. Posteriormente, historiadores como Mariana Thompson Flores e Luís Augusto Farinatti, muito envolvidos em fontes primárias, perceberam que a fronteira era mais dinâmica do que as polarizações defendidas anteriormente. A fronteira manejada, ou seja, construída, era uma mutação que se alterava em virtude da ação humana e também dos conflitos políticos e sociais existentes no local. Este último conceito será bem percebido nos textos aqui resenhados.
Um dos temas mais frequentes que o leitor verá neste livro são as chamadas fugas para o além-fronteira, conceito cunhado pelo historiador Silmei Petiz. Keila mostrará que a fuga era coisa antiga, que desde a Colônia de Sacramento, em 1762, havia decretos que davam a liberdade aos escravos que fugissem. O mesmo acontecerá ao longo do século XIX, nas colônias espanholas de Jamaica, Cuba e Santo Domingo. Ou seja, as fugas traziam tensões e problemas diplomáticos, pois havia, em toda América, nações abolicionistas e escravistas que faziam fronteiras entre si. É o caso, por exemplo, de Brasil e Uruguai.
Hevelly Ferreira Acruche será a única historiadora a tratar do século XVIII e, mais especificamente, do caso de Buenos Aires, Argentina. Seu artigo apresenta duas histórias e três personagens: o primeiro, Joaquim Acosta, desertor de Rio Pardo, que fugiu em 1772 e obteve do vice-rei de Buenos Aires, Pedro de Cevallos, a possibilidade de estabelecer-se em terras hispânicas como pessoa livre; e os pardos Jerônimo e Francisco, que vieram do Brasil para serem vendidos como escravos em Buenos Aires, porém, mesmo afirmando serem de condição livre foram devolvidos ao comerciante Domingos Peres, por não apresentarem provas suficientes de suas liberdades. Acruche aponta para uma questão importante: as histórias de Joaquim e de Jerônimo e Francisco tiveram resultados distintos, o que evidencia que as questões de escravidão e liberdade que chegavam a Buenos Aires eram complexas e precisam ser analisadas particularmente, dentro de contextos específicos.
O texto seguinte é da historiadora uruguaia Natalia Stalla, que apresenta dados interessantes sobre o peso demográfico da população africana no litoral e na fronteira do Uruguai. Seu artigo, a partir de uma análise mais quantitativa, analisou a população dos departamentos de Colônia e Soriano, regiões litorâneas, buscando comparar com dados anteriores sobre escravidão na fronteira com o Brasil. Em ambos os departamentos, a população masculina era mais numerosa do que a feminina, e tratava-se de uma escravaria jovem, contando com cativos em idade produtiva. No entanto, os números de escravos foram baixos. Em Colônia, 8% e Soriano, 7% dos habitantes. Principalmente, comparando com os dados de Cerro Largo (25%), Tacuarembó (29%), Rocha, (26%). A contribuição de Stalla está em evidenciar a população negra no Uruguai a partir de dados quantitativos, que permitem comparar com as populações afrodescendentes do Brasil e da Argentina.
O artigo de Rachel Caé trata da produção de discursos abolicionistas no Uruguai no ano de 1842, estudando principalmente como a imprensa percebeu o tema da liberdade e da cidadania dos negros, escravos e libertos. O jornal El Nacional defendia a abolição total da escravidão, já o El Constitucional rechaçava tal decisão. A imprensa em Montevidéu estava dividida. Não havia consenso. A contribuição de Caé está em mostrar que as questões de abolição no Uruguai não estavam, somente, atreladas a guerra, mas sim a um conjunto de discursos de liberdade que foram suscitados e eram anteriores ao conflito.
Em seguida temos o ensaio de Carla Menegat, que aborda a presença de proprietários brasileiros estabelecidos no Uruguai entre os anos de 1845 e 1864. A partir de um interessante conjunto de listas, Carla busca mostrar a importância da presença brasileira em solo uruguaio e utiliza a família Brum da Silveira para evidenciar as suas estratégias no que tange os negócios e sua cidadania. Seu trabalho também aponta para como os uruguaios trataram o processo de abolição da escravatura em virtude da presença brasileira em seu solo. Segundo Menegat, com o passar dos anos surgem campanhas de “orientalização” em busca de uma homogeneização da língua e do abandono do uso do português. Em outras palavras, se queria tornar o Uruguai mais unido e com uma identidade nacional própria.
O tema das fugas cativas volta em cena com o texto de Daniela Vallandro de Carvalho. Especificamente, Daniela trabalha com as fugas em tempos de guerra, usando como mote a Guerra dos Farrapos e a Guerra Grande. A autora utiliza também algumas trajetórias para dar vida e sentido para os planos dos escravos. Para Carvalho, a guerra era um excelente momento para que os escravos obtivessem a liberdade: ou por servirem em fileiras de guerra, ou para serem leais e conseguirem mais prestígio com seus senhores. Uma de suas importantes contribuições está em demonstrar que os cativos usavam o Exército para sua maior mobilidade e posterior liberdade.
O artigo de Marcelo Santos Matheus foca em um município fronteiriço específico, o de Alegrete. Sua questão-problema levantada foi como a fronteira influenciou diferentes agentes históricos, tanto os cativos como seus senhores. Alguns casos mostraram como os escravos utilizavam estratégias para chegarem à liberdade e ao mesmo tempo como os senhores manejavam a fronteira ao seu favor. Um dos destaques de seu texto está em mostrar como os escravos usavam a Justiça para conseguirem sua alforria, usando para isso uma interpretação das leis de abolicionistas uruguaias que servisse aos seus interesses. Foi o caso dos cativos que pediam alforria por terem trabalhado no Uruguai após a lei abolicionista de 1842.
Seguindo pelo pagos de Alegrete, o texto de Mariana Thompson Flores nos brinda novamente com o tema das fugas, mas deixa claro de que mesmo que tal assunto tenha sido abordado com frequência, ainda existem aspectos que merecem ser melhor explorados. É o caso do papel dos sedutores que ajudavam e convenciam os escravos a fugirem. Nos processos criminais analisados, Mariana encontrou cinco casos onde os escravos fugiam por conta própria e catorze situações onde houve a participação do sedutor, que os persuadia a uma vida melhor do outro lado da fronteira. A Justiça bem que tentou incriminar os sedutores de escravos e, em muitos casos, conseguiu. Porém, Mariana apresenta diversos casos empíricos que mostram como escravos e sedutores (homens livres ou libertos) aproveitaram deste contexto fronteiriço e se beneficiaram disso.
Continuando com o tema das fugas de escravos para o além-fronteira, Thiago Araujo apresenta o assunto em outra perspectiva, focando nas dificuldades do percurso e na difícil tarefa dos escravos romperem com o mundo da escravidão. Seu objetivo foi mostrar quais eram os mecanismos de controle e vigilância que os senhores acionavam num universo de escravidão na pecuária. A partir do caso de fuga de José, Leopoldino e Adão, Araújo mostra como os senhores de escravos precisavam pensar em políticas de domínio para evitar a fuga de seus cativos. Araújo evidencia que em alguns casos nem a família escrava impedia que os cativos fugissem.
Se Thiago Araújo investigou a fuga de escravos para o Uruguai, o texto de Rafael Peter de Lima aborda outra faceta da escravidão em regiões de fronteira: os sequestros e raptos de negros uruguaios que eram vendidos como escravos no Império do Brasil. Rafael mostra como era difícil definir a condição de afrodescendentes em áreas de fronteira. E mais do que isso. Os problemas diplomáticos e internacionais que surgiam devido a questão do fim ou da permanência da escravidão. Lima também apresenta dados muito interessantes como, por exemplo, o sexo e a idade das vítimas dos sequestros. As mulheres em idade produtiva eram as mais raptadas neste cenário. Por fim, Rafael também nos brinda com dados que apontam que os cônsules uruguaios tiveram sucesso na defesa dos negros orientais na Justiça. Em pouquíssimos casos eles permaneciam na escravidão.
E para finalizar temos o artigo da historiadora uruguaia Karla Chagas que, dos textos apresentados aqui, é o que mais se diferencia em termos de tema e delimitação temporal. Karla avança os marcos da escravidão e apresenta uma entrevista realizada a uma afrodescendente, Cecília, nascida em Rivera em 1904. Seu ensaio pretendeu analisar as linhas de ruptura e de continuidade que houve nas condições de vida da população afro-uruguaia na virada do século XIX para XX. Destacam-se as diferentes estratégias que Cecília utilizou para melhorar suas condições de vida como a fuga de uma casa onde a maltratavam.
O conjunto de textos ora apresentados mostra o avanço das pesquisas sobre a escravidão no espaço platino nos últimos anos. Infelizmente historiadores argentinos não escreveram textos para este livro. Mas muito se tem pesquisado sobre a influência e o impacto da fronteira na vida de senhores e escravos. Também a importância que as leis abolicionistas uruguaias de 1842 e 1846 tiveram para a (des)organização do sistema escravista brasileiro, principalmente, no Rio Grande do Sul. Este livro é o resultado deste cenário. Mostra, entre outras coisas, como as especificidades regionais precisam ser levadas em conta, mas sem perder de vista que os sujeitos históricos possuíam planos próprios que, por vezes, desafiavam o contexto que os mesmos estavam inseridos. Quem for ler o livro “As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América”, organizado pela professora e historiadora Keila Grinberg verá histórias individuais amalgamadas em um contexto mais amplo de disputa e consolidação dos Estados Nacionais. A riqueza está na coletividade e no diálogo que gerou este livro.
Jônatas Marques Caratti – Doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS – Porto Alegre/Brasil). E-mail: jonatastascaratti@gmail.com
GRINBERG, Keila (org.). As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013. CARATTI, Jônatas Marques. Escravidão e Liberdade nas fronteiras platinas. Almanack, Guarulhos, n.8, p. 166-169, jul./dez., 2014.
As margens da liberdade: Estudo sobre a prática de alforrias em Minas colonial e provincial | Andréa Lisly Gonçalves
Reconstituir as trajetórias de mulheres e homens africanos, crioulos e mestiços que experimentaram a transição da condição de escravo para liberto: esta é a pretensão de Andrea Lisly Gonçalves no livro As margens da liberdade. Apresentado como tese de doutorado em 2000 na USP, o volume se insere na produção historiográfica que desde a década de 80 do século XX busca compreender as variadas dinâmicas envolvidas no passado escravista colonial e imperial brasileiro. As ideias de Gonçalves foram concebidas ao longo dos anos de 1990 contemporaneamente e em diálogo com algumas obras que se tornaram referência para o estudo da escravidão.
O ponto central do trabalho é a análise da prática de alforria em Minas Gerais, com ênfase na Comarca de Ouro Preto. O estudo empreendido para o século XVIII usa uma base de documentação por amostragem correspondente aos anos de 1735 a 1740 para o Termo da Vila do Ribeirão do Carmo e 1770 a 1775 para o Termo de Mariana. Já para o século XIX há um aprofundamento maior com o uso de fontes em série produzidas nos âmbitos dos Termos de Mariana e de Ouro Preto. Leia Mais
Hobbes e a liberdade Republicana – SKINNER (NE-C)
SKINNER, Quentin. Hobbes e a liberdade Republicana. Trad. Modesto Florenzano. São Paulo: Editora da Unesp, 2010. Resenha de: SILVA, Ricardo. Skinner e a liberdade Hobbesiana. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n.95, Mar., 2013.
A mais recente incursão de Skinner no pensamento político de Hobbes é algo mais do que uma elegante contribuição à reconstituição histórica da concepção de liberdade do filósofo inglês. Trata-se também de um “lance” (move) – para usar uma expressão cara ao próprio Skinner – nos embates atuais entre teóricos liberais e republicanos. Crítico da hegemonia do pensamento liberal na política contemporânea, Skinner oferece um suporte historiográfico importante às pretensões normativas do neorrepublicanismo. Sua genealogia do conceito de liberdade é o melhor exemplo desse tipo de suporte, e Hobbes e a liberdade republicana ocupa um lugar de destaque nessa genealogia. Focalizando a turbulenta década inglesa de 1640, o livro documenta os momentos em que Hobbes elabora uma alternativa de grande consistência teórica à então convencional concepção republicana de liberdade, desenvolvendo uma concepção negativa de liberdade que será mais tarde apropriada pela tradição liberal. Hobbes e a liberdade republicana é produto do encontro entre a historiografia do pensamento político e o debate analítico e normativo na teoria política contemporânea.
A LIBERDADE NEORROMANA
O ponto de partida para a compreensão da narrativa de Skinner sobre a evolução do conceito hobbesiano de liberdade é a apresentação das características básicas da concepção republicana que Hobbes teria combatido e derrotado. Skinner remonta à legislação compilada no Digesto do direito romano para revelar as origens da concepção republicana de liberdade, que acabou inspirando os ataques à Coroa no período mais agudo dos conflitos na Inglaterra de meados do século XVII. Na seção relativa ao direito das pessoas (De statu hominum), já surge a “distinção primordial no seio das associações civis”, aquela entre os que “gozam do status de liberi hominus ou ‘homens livres’ e aqueles que vivem na servidão”1.
Conforme vem defendendo Skinner, em sintonia com o filósofo Philip Pettit, a concepção republicana (ou neorromana) de liberdade é irredutível a qualquer um dos polos da dicotomia entre liberdade negativa e liberdade positiva. Ou seja, ela não se define nem pela simples ausência de oposição externa às ações individuais, nem pela pura presença da participação dos cidadãos no autogoverno da cidade2. Embora a liberdade republicana seja também um tipo de liberdade negativa, uma vez que ela decorre da ausência, e não da presença de algo, o que se encontra ausente não é a indiscriminada interferência externa nas escolhas e ações dos indivíduos, como na concepção liberal, mas sim um tipo particular de interferência, resultado da dependência e da dominação derivadas da existência do “poder arbitrário” de determinados agentes sobre outros3. Na fórmula consagrada por Pettit, a liberdade republicana é a liberdade como não dominação4.
Uma das características centrais da relação de dominação é que ela permanece em vigor mesmo quando o agente dominante abstém-se de interferir efetivamente nas escolhas e ações do agente dominado. Tome-se o caso extremo e paradigmático da relação de dominação entre senhor e escravo. O fato de um escravo viver sob o domínio de um senhor benevolente não faz dele menos escravo, ou seja, não o torna mais livre. A ausência atual de impedimentos às suas escolhas e ações é apenas um corolário de um dos estados possíveis dos desejos de seu senhor, e ele, escravo, sabe disso. A consciência desse estado de sujeição pesa inevitavelmente sobre suas atitudes, que tendem a antecipar a vontade do senhor. O ponto decisivo é que não se pode considerar livre um agente cujas escolhas e atitudes realizam-se sob a influência da ansiedade decorrente da sua consciente dependência da vontade de outrem. Segundo Skinner, este ensinamento, que se encontra no núcleo da concepção de liberdade reivindicada pelos teóricos atuais do republicanismo, era corrente na época de Hobbes:
Como James Harrington afirmaria, em 1656, na sua exposição clássica da teoria republicana, Oceana, a desgraça dos escravos é que eles não têm o controle de sua vida, estando consequentemente forçados a viver em um estado de incessante ansiedade com relação ao que lhes pode ou não acontecer5.
MÉTODO E HISTÓRIA
Ao narrar a “batalha” de Hobbes contra a teoria neorromana, Skinner faz duas asserções interdependentes, ambas inovadoras em relação aos estudos sobre a teoria hobbesiana da liberdade. A primeira é de caráter metodológico, a segunda, de caráter histórico. A inovação metodológica consiste em compreender o desenvolvimento das ideias de Hobbes sobre o conceito de liberdade como “lances” em uma disputa simultaneamente intelectual, política e constitucional. O propósito de tal metodologia é abordar “a teoria de Hobbes não simplesmente como um sistema geral de ideias, mas também como uma intervenção polêmica nos conflitos ideológicos de seu tempo”6. Skinner reafirma os princípios interpretativos do contextualismo linguístico da Escola de Cambridge. Conforme postulou originalmente há mais de quatro décadas, todo pensador político, por mais sistemático e abstrato que seja, no ato de criação de um texto, encontra-se irremediavelmente envolvido em um processo comunicativo com seus contemporâneos. Mais do que simplesmente constatar ou descrever certo estado de coisas, os textos dos escritores políticos são invariavelmente destinados a realizações práticas. Os autores cujos textos pretendemos interpretar estão sempre “fazendo coisas com palavras”7. A questão norteadora de qualquer interpretação de textos que se pretenda “genuinamente histórica” deveria assumir a seguinte forma: o que determinado autor “estava fazendo” ao escrever ou publicar seus textos8?
No caso de Hobbes, a resposta oferecida por Skinner é direta: Hobbes estava combatendo os defensores da concepção republicana de liberdade. Na verdade, o filósofo inglês “era o mais formidável inimigo da teoria republicana da liberdade”9. A crítica de Hobbes à liberdade republicana aparece já em seu primeiro esforço sistemático de teorização política, presente em Elementos da lei natural e política (1640), e uma nova tentativa acontece logo em seguida, com a publicação de Do Cidadão em 1642. No entanto, uma alternativa capaz de destronar a concepção neorromana de liberdade só seria definitivamente alcançada no Leviatã (1651).
A demonstração da ocorrência de mudanças significativas no pensamento de Hobbes sobre o conceito de liberdade nos leva à inovação histórico-substantiva de Skinner, que vai de encontro à visão quase consensual sobre a suposta imutabilidade do conceito nas sucessivas versões da teoria política hobbesiana. Para a ampla maioria dos intérpretes, nenhuma diferença marcante haveria no modo como a liberdade é apresentada nos Elementos da lei, em Do Cidadão e no Leviatã. Mesmo Philip Pettit, cuja reconstrução analítica da liberdade republicana é fortemente tributária de Skinner, acredita jamais ter ocorrido qualquer “alteração maior no pensamento de Hobbes sobre a liberdade”10. Skinner oferece uma vigorosa contraposição a tal consenso interpretativo, sugerindo que Hobbes não apenas modificou sua concepção de liberdade, mas que o fez de maneira particularmente radical. Assim, “a análise de Hobbes da liberdade no Leviatã representa não uma revisão, mas um repúdio ao que ele havia anteriormente argumentado”11.
A BATALHA DE HOBBES
Em Elementos da lei natural e política, Hobbes volta-se contra diversas correntes teóricas de algum modo comprometidas com a tese de que a liberdade dos súditos é uma espécie de função da forma de governo. Skinner refere-se a três dessas correntes de pensamento, em relação às quais Hobbes teria “manifestado consciência aguda”12. A primeira é a dos monarquistas moderados ou constitucionais, cujas manifestações iniciais remontam às primeiras décadas do século XVII. O núcleo normativo dessa corrente reside na ideia de que “não é necessariamente incompatível viver como homens livres e submetidos ao governo de reis”13. A publicação da tradução inglesa da República de Bodin forneceu argumentos úteis à corrente em questão. Bodin admitia a incompatibilidade entre liberdade e monarquia quando esta fosse do tipo “senhorial”, em que o príncipe é o “senhor dos bens e das pessoas de seus súditos”. Nesse caso, os súditos são governados como “o senhor de uma família governa seus escravos”. No entanto, se a monarquia em questão é do tipo legal (ou régia) os súditos permanecem livres, protegidos da vontade arbitrária do rei, pois “o monarca régio ou rei, instalado na soberania, sujeita a si mesmo às leis da natureza”14.
A segunda corrente do pensamento constitucional a chamar a atenção de Hobbes defendia um “Estado misto”, combinando os princípios monárquico, aristocrático e democrático. Apenas essa forma de Estado teria a virtude de conciliar a ordem política com a liberdade. Segundo Skinner, Hobbes dá inúmeras mostras de que está atento à existência dessa corrente de pensamento, mas não se detém com especial interesse em sua crítica. Uma das razões para isso é que ele estava muito mais preocupado com uma terceira corrente, representativa de um desenvolvimento ainda mais radical da ideia de que a liberdade está associada a uma forma particular de governo.
O núcleo normativo dessa terceira corrente reside na proposição de que só é possível viver como homem livre no âmbito de um “Estado livre”. Conforme esclarece Skinner, os defensores dessa perspectiva tinham em mente um Estado no qual
somente as leis imperam, e no qual todos dão seu consentimento ativo às leis que a todos obrigam. Em outras palavras, sustentava-se ser essencial viver em uma democracia ou em uma república que se autogoverna, em oposição a qualquer forma de regime monárquico ou mesmo misto15.
Nos Elementos da lei, Hobbes dirige ataques específicos a cada uma dessas correntes, mas empenha-se sobretudo em refutar o que há em comum entre elas: a ideia de que a liberdade é uma função de forma de governo. O ataque de Hobbes parte da premissa de que a liberdade está associada à condição natural dos indivíduos. Ou seja, só há liberdade no Estado de natureza, e no momento em que os indivíduos pactuam para a instituição do Soberano, eles abandonam sua liberdade natural para ingressar na condição de súditos. Hobbes chega a definir a liberdade como “o estado de quem não é súdito”16. Os indivíduos, na condição de súditos de um poder soberano, seriam tão destituídos de liberdade numa democracia como numa monarquia, não fazendo qualquer diferença se a monarquia é régia ou senhorial, como queria Bodin.
Embora a impressão dos Elementos da lei tenha ocorrido apenas em 1650, o manuscrito começou a circular já em 1640. Neste mesmo ano, intensificou-se a tensão entre o Parlamento e a Coroa resultante da tentativa de Carlos I de reabilitar o ship-money17. A criação de um imposto sem a aprovação do Parlamento fez com que muitos parlamentares se pronunciassem nos termos da teoria neorromana da liberdade. Os adversários das pretensões absolutistas do rei consideraram a iniciativa uma afronta à liberdade e um caminho certo para reduzi-los da condição de homens livres à de escravos. Por outro lado, partidários de Carlos I defendiam-no esgrimindo os recursos retóricos do absolutismo, mormente da teoria do direito divino dos reis. Roger Maynwaring, ex-capelão de Carlos I, era uma dessas vozes em favor do poder absoluto do rei, que deveria incluir o poder de criar impostos. Ele já havia sido submetido a processo de impeachment e aprisionado pelo Parlamento em 1629, mas acabou beneficiado pelo perdão do rei, que ainda o faria bispo de St. Davis em 1636. Em 1640 ele não teve a mesma sorte. As duas Câmaras voltaram-se contra o bispo, preparando um ato para a anulação do perdão real. Maynwaring preferiu não permanecer na Inglaterra para conferir o desfecho dos acontecimentos, e partiu em busca de esconderijo na Irlanda. É certo que o absolutismo de Maynwaring diferia filosoficamente daquele articulado por Hobbes, que dispensava a tradicional teoria do direito divino dos reis. Seja como for, como sugere Skinner, Hobbes percebeu que, para fins práticos, a posição defendida por Maynwaring poderia ser plenamente justificada pela teoria contida nos Elementos da lei. John Aubrey, em seu perfil de Hobbes, relata que este lhe teria confidenciado que “o bispo Maynwaring pregara sua doutrina, daí a razão, dentre outras, de ele estar aprisionado na Torre”18. Em novembro de 1640, prevendo possíveis situações de perigo a que ele próprio estaria exposto, Hobbes segue para seu exílio de onze anos em terras estrangeiras.
Assim que Hobbes instalou-se em Paris, passou imediatamente a revisar os Elementos da lei, ao mesmo tempo em que vertia a obra para o latim. O trabalho foi concluído em novembro de 1641 e publicado em abril de 1642, com o título latino De Cive (Do Cidadão). De acordo com Skinner, no que se refere ao tema da liberdade, a par de uma série de modificações menores, ao menos duas importantes inovações são introduzidas nessa obra.
A primeira decorre da nova postulação de Hobbes de que “a única coisa verdadeira no mundo é o movimento”19. A liberdade passa então a ser definida como a ausência de todo e qualquer impedimento ao movimento dos corpos. Não há dúvida de que uma compreensão adequada de tal definição requer que se esclareça o que de fato conta como impedimento ao movimento. Hobbes refere-se a duas modalidades de impedimentos capazes de subtrair-nos a liberdade: os impedimentos externos e os impedimentos arbitrários. Os impedimentos externos são aqueles causados por obstáculos surgidos de causas exteriores ao corpo em movimento. É possível afirmar, por exemplo, que as águas de um rio sofrem um impedimento absoluto para mover-se livremente além dos limites das margens do rio. Analogamente, no que se aplica à liberdade humana, diz-se, por exemplo, que uma pessoa encerrada numa prisão está privada da liberdade de mover-se além dos limites das grades da prisão. Já a noção de impedimento arbitrário indica que a causa que impede o movimento não é mais exterior ao corpo, porém interna a ele. Se os impedimentos externos criam obstáculos absolutos ao movimento dos corpos, os impedimentos arbitrários, conforme os define Hobbes, “não impedem absolutamente o movimento, mas o fazem per accidens, isto é, por nossa própria escolha”20. O fato de esse tipo de impedimento derivar de uma “escolha” indica que seu âmbito de aplicação é a liberdade humana. O impedimento arbitrário à liberdade surge quando uma pessoa se abstém de realizar determinada ação mesmo quando tem a capacidade e o desejo de agir. Neste ponto, como observa Skinner, a questão que emerge é a seguinte: que “tipo de força” pode ser considerada “capaz de nos impedir de querer executar uma ação que está em nosso poder”. Hobbes responde que a força em questão “procede de nossas paixões, e acima de tudo a paixão do medo”21.
A segunda inovação introduzida em Do Cidadão é a ideia de liberdade civil. Nada semelhante pode ser encontrado nos Elementos da lei. Na verdade, a lógica argumentativa que animava essa primeira sistematização da teoria política de Hobbes não somente ignorava, mas também vetava a concepção de qualquer forma de liberdade além da liberdade natural. Skinner argumenta que Hobbes, influenciado pelo clima político e ideológico que o levou à decisão de exilar-se, procede à revisão dos Elementos da lei de modo a apresentar sua “defesa da soberania absoluta em um estilo mais conciliador e menos inflamado”22. A admissão da possibilidade de os indivíduos preservarem alguma forma de liberdade mesmo depois da efetuação do pacto que os retira do estado de natureza requer claramente a renúncia à tese de que a liberdade “é o estado de quem não é súdito”. Contudo, se não se pode mais afirmar que qualquer forma de governo suprime a liberdade, também não se sustenta a crença de que apenas determinadas formas de governo favorecem a liberdade, ao passo que outras levam necessariamente à escravidão. Com base na ideia de liberdade como ausência de impedimento externo ao movimento, Hobbes passa a afirmar que “todos os servidores e súditos que não estão acorrentados nem encarcerados são livres”23. Ademais, independentemente da forma de governo, haverá sempre um “número quase infinito de ações que não são nem prescritas nem proibidas”, constituindo a “liberdade inofensiva” dos súditos. Por outro lado, com base em sua concepção de impedimento arbitrário ao movimento dos corpos, ele reconhece que as leis civis constituem uma limitação à liberdade, uma vez que o medo das consequências previsivelmente advindas de sua infração levaria os indivíduos ao refreamento de ações que eles têm vontade e capacidade para realizar. Em suma, medo e liberdade seriam incompatíveis.
Porém, conforme o historiador inglês, a formulação definitiva do conceito hobbesiano de liberdade só viria a acontecer no Leviatã. Hobbes tinha consciência “de que precisava enfrentar os teóricos da liberdade republicana em seu próprio terreno”24. Tal enfrentamento traduziu-se na disputa pelo sentido da expressão “homem livre”. O discurso republicano contra a monarquia absolutista (e em grande medida contra a monarquia tout court) fazia da ideia de “homen livre” sua principal arma de luta ideológica. Tradução da expressão latina liber homo, o termo freeman circulava amplamente entre os republicanos ingleses contemporâneos de Hobbes. Viver sob o domínio absoluto de um monarca seria incompatível com a manutenção do status de homem livre. É nesses termos que se expressam, por exemplo, John Milton e John Hall, dois dos mais notáveis escritores republicanos da época. Segundo Milton, se não podemos ter a expectativa de alcançar nossos objetivos “sem o dom e o favor de uma única pessoa” não somos “nem República, nem livres”, somos “vassalos de posse e domínio de um senhor absoluto”. John Hall é ainda mais categórico ao afirmar que “viver sob uma monarquia é viver como um escravo”25.
Skinner procura mostrar como a revisão do conceito de liberdade no Leviatã decorre do esforço de Hobbes para desacreditar a noção de “homem livre” dos republicanos. Consolidando desenvolvimentos anteriores de sua reflexão sobre o tema, Hobbes parte da definição do que ele considera a “liberdade em sentido próprio”, aplicável tanto a criaturas irracionais e inanimadas como a racionais. Em seu “sentido próprio”, a liberdade define-se exclusivamente pela ausência de oposição ao movimento. Esta fórmula já aparecia em Do Cidadão. Agora, porém, a ideia de oposição (ou impedimento) é restringida para referir-se apenas a barreiras externas ao movimento dos corpos. Hobbes faz desaparecer o conceito de impedimento arbitrário como uma possível causa da redução da liberdade, uma alteração que traz profundas consequências em sua argumentação. Agora medo e liberdade não são mais incompatíveis, pois resta evidente que o medo não pode ser tomado como um obstáculo externo às nossas escolhas. Ao eliminar a possibilidade de tratar constrangimentos internos como restrição à liberdade, Hobbes prepara o terreno para o assalto definitivo à noção republicana de homem livre. A ansiedade, o medo ou qualquer outro freio de ordem psicológica capaz de interferir nas escolhas e nos movimentos de um indivíduo em situação de dependência não constituem o tipo de impedimento que Hobbes considera contrário à liberdade. Neste caso, bem como quando se trata de um impedimento interno de ordem física, a exemplo do enfermo imobilizado em seu leito, não é de ausência de liberdade que se trata, mas da ausência de poder.
E o que dizer da lei civil? Em que medida ela pode ser tomada como um impedimento à liberdade? Em Do Cidadão, Hobbes já havia chamado a atenção para o fato de que sob qualquer sistema de leis há um sem-número de ações não proibidas nem prescritas pelo soberano. Ele repete esse argumento no Leviatã, com a máxima de que a liberdade reside no “silêncio da lei”. Mas agora Hobbes vai adiante, realizando uma operação decisiva para seu propósito de desvincular a liberdade da lei. Anteriormente ele havia apresentado o medo de infringir a lei como impedimento arbitrário à ação livre. Com o subsequente abandono da noção de impedimento arbitrário, o medo perde sua função de impedimento da ação e a lei deixa de significar restrição à liberdade. Hobbes oferece como prova o fato de que mesmo diante de uma lei proibitiva ou prescritiva extremamente rigorosa restará sempre aos súditos a alternativa da desobediência. Como sintetiza Hobbes, “o medo e a liberdade são compatíveis […]. E de maneira geral todos os atos praticados pelos homens no interior de repúblicas, por medo da lei, são ações que os seus autores têm a liberdade de não praticar”26. Ora, se não há qualquer conexão necessária entre a liberdade dos cidadãos e a forma jurídica do Estado, deixa de fazer sentido a questão sobre qual seria a forma de Estado mais afeita à liberdade. Deixa de fazer sentido também a resposta republicana segundo a qual somente numa república autogovernada, num “Estado livre”, a liberdade humana poderia ser assegurada. Hobbes encerra a questão afirmando que “quer a república seja monárquica, quer seja popular, a liberdade é sempre a mesma”27.
PASSADO E PRESENTE
Skinner conclui sua narrativa com a sugestão de que a fórmula definida no Leviatã resultou em uma mudança conceitual revolucionária e em poderosa arma de luta ideológica contra o republicanismo. Hobbes “venceu a batalha”28, deixando como herança uma concepção de liberdade que, na atualidade, tem sido “amplamente tratada como um artigo de fé”29.
A esta altura, um crítico familiarizado com a metodologia contextualista de Skinner poderia legitimamente perguntar: a afirmação de que a concepção de liberdade desenvolvida por Hobbes no longínquo século XVII grassa hoje como um “artigo de fé” não levaria ao tipo de “anacronismo” tão estigmatizado nos ensaios metodológicos do próprio Skinner? Há quem acredite que sim, considerando “estranho encontrar um escritor que começou pela insistência na especificidade histórica de cada período agora vindo a defender o tipo de categoria meta-histórica maniqueísta que ele tanto deplorou”30. Há também os que julgam “desconcertante que grande parte dos escritos de Quentin Skinner nos estágios mais adiantados de sua carreira seja informada por seus compromissos políticos e filosóficos fortemente assumidos”31.
No entanto, quando se observa a trajetória recente de Skinner, seu afastamento de alguns de seus postulados metodológicos originais não surpreende32. Há pelo menos uma década, Skinner já afirmava que passara a encontrar “mais coisas na perspectiva de uma tradição e, consequentemente, de uma continuidade intelectual do que costumava encontrar”, e que isso o fez ver “mais promissoramente do que costumava ver” o valor atual do engajamento crítico “com nossos antepassados e grandes pensadores, ao menos quanto a alguns conceitos-chave que continuam a estruturar nossa vida em comum”33. Mais do que qualquer outro livro de Skinner, Hobbes e a liberdade republicana reflete essa alteração na perspectiva do autor sobre a relação entre o passado e o presente da teoria política.
Notas
1 SKINNER, Q. Hobbes e a liberdade republicana. São Paulo: Ed. da Unesp, 2010, p. 10. [ Links ]
2 A distinção entre as concepções negativa e positiva de liberdade é fortemente tributária de um ensaio de Isaiah Berlin, publicado originalmente em 1958. Cf. BERLIN, Isaiah. “Dois conceitos de liberdade”. In: HARDY, Henry e HAUSHEER, Roger (orgs.). Isaiah Berlin: estudos sobre a humanidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, pp. 226-72. [ Links ]
3 SKINNER, Q. “Freedom as the absence of arbitrary power”. In: LABORDE, Cécile e MAYNOR, John (eds.). Republicanism and political theory. Londres: Blackwell, 2008. [ Links ]
4 PETTIT, Philip. Republicanism: a theory of freedom and government. Oxford: Oxford University Press, 2007. [ Links ]
5 SKINNER, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 12.
6 Ibidem, p. 14.
7 Conforme o título de um dos livros que mais influenciaram o método skinneriano: Austin, J. L. How to do things with words. 2.ed. Massachusetts: Harvard University Press, 1975. [ Links ]
8 Cf. SKINNER, Q. “Meaning and understanding in the history of ideas“. History and Theory, vol. 8, no 3, 1969, pp. 3-53. [ Links ]
9 SKINNER, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 13.
10 PETTIT, Philip. “Liberty and Leviathan“. Politics, Philosophy and Economics, vol. 4, no 1, 2005, p. 150. [ Links ]
11 SKINNER, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 14.
12 Ibidem, p. 70.
13 Ibidem, p. 70.
14 Citado em Skinner, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 71.
15 Ibidem, p. 75.
16 Citado em Skinner, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 83.
17 Tradicionalmente, os reis da Inglaterra contavam com a prerrogativa de requisitar às cidades costeiras embarcações (ou o dinheiro equivalente à construção dessas embarcações) para a defesa naval em situações em que o reino via-se na iminência de sofrer invasões inimigas. Em 1635, em meio a uma crise financeira, Carlos I, alertando para a possibilidade de invasão, passa a requerer o recolhimento do ship-money para fazer frente às dificuldades. A prática repetiu-se nos anos seguintes, mesmo na ausência de qualquer ameaça externa, o que levou a uma crescente insatisfação no Parlamento. Não tardaram a aparecer discursos protestando contra o caráter abusivo e arbitrário do tributo, o que culminou, em 1641, na decretação da sua ilegalidade.
18 Citado em Skinner, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 93.
19 Citado em Skinner, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 111.
20 Ibidem, p. 112.
21 Ibidem, p. 113.
22 Ibidem, p. 116.
23 Citado em SKINNER, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 117.
24 Ibidem, p. 143.
25 Citados em SKINNER, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 141.
26 HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 180. [ Links ]
27 Ibidem, p. 184.
28 SKINNER, Hobbes e a liberdade republicana, op. cit., p. 197.
29 Ibidem, p. 194.
30 DIENSTAG, Joshua. “Man of peace: Hobbes between politics and science”. Political Theory, vol. 37, no 5, 2009, p. 703. [ Links ]
31 COLLINS, Jeffrey. “Quentin Skinner’s Hobbes and the neo-republican project”. Modern Intellectual History, vol. 6, no 2, 2009, p. 365. [ Links ]
32 SILVA, Ricardo. “O contextualismo linguístico na história do pensamento político: Quentin Skinner e o debate metodológico contemporâneo”. Dados, vol. 53, no 2, 2010. [ Links ]
33 SKINNER, Quentin. “Quentin Skinner on encountering the past (interview)”. Finnish Yearbook of Political Thought, vol. 6, 2002, p. 55. [ Links ]
Ricardo Silva – Professor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina.
O Império do Direito: teoria política e sistema jurídico na sociedade moderna – NEUMANN (C-FA)
NEUMANN, Franz. O Império do Direito: teoria política e sistema jurídico na sociedade moderna. Tradução de Rúrion Melo. São Paulo: Quartier Latin, 2013. Resenha de: PROL, Marques Flavio. O Império do Direito e a liberdade: uma teoria crítica do direito e do Estado. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.21 Jan./Jun., 2013.
Foi publicada em português a tradução do livro O Império do Direito, de Franz Neumann. Escrito em 1936, na Inglaterra, para obtenção do segundo doutorado do autor, sob orientação de Harold Laski, a versão em livro foi publicada cinquenta anos depois, em 1986.
Alemão, Neumann foi advogado trabalhista e do Partido Social Democrata. Ao longo da década de 1920, ainda na Alemanha, escreveu sobre direito do trabalho e direito econômico, e os principais textos do período estão reunidos em duas coletâneas publicadas em italiano.1 Diante da ascensão do nazismo ao poder, em 1933, foi obrigado a se exilar.
Após a estadia na Inglaterra, dirigiu-se aos Estados Unidos, onde iria escrever o livro pelo qual é mais conhecido: Behemoth2, que apresenta um estudo do regime nazista. Nele, Neumann critica o conceito de capitalismo de estado, controvérsia estabelecida com Friedrich Pollock. Foi também nessa época que ele se tornou colaborador do Instituto de Pesquisas Sociais, estabelecido no exílio.3
A publicação de O Império do Direito ilumina uma parte relevante da obra de Neumann.4 Nesse texto, o autor apresenta uma interpretação específica a respeito do direito moderno, do Estado e da sua relação com a liberdade humana. Em termos críticos, essa preocupação com a liberdade talvez possa ser traduzida como interesse pela emancipação, embora Neumann não tenha afirmado isso explicitamente.
O livro apresenta quatro teses distintas a respeito do desenvolvimento do direito moderno. Ele se insere nos principais debates a respeito da natureza do direito, tanto da perspectiva filosófica, com críticas a Schmitt, Kelsen e Austin, como da perspectiva sociológica, com a referência central sendo Max Weber.
Para apresentar a relação estabelecida entre direito moderno e a realização da liberdade, este texto está organizado da seguinte forma: (i) inicialmente, apresento a estrutura geral do livro e suas principais teses; (ii) na sequência, ressalto como o vínculo que o autor estabelece entre direito e democracia permitiria a realização, ainda que parcial, da liberdade. Ainda nessa parte, demonstrarei como Neumann desenvolveu posteriormente sua concepção de liberdade.
1.Estrutura geral do texto e suas principais teses
Neumann divide o seu texto em três partes: ( i ) “introdução e a base teórica”; ( ii ) “soberania e império do direito em algumas teorias políticas racionais (o desencantamento do direito)”; ( iii ) “a verificação da teoria: o império do direito nos séculos XIX e XX”.
Na sequência dessa seção, apresentarei inicialmente o ponto de partida teórico do texto de Neumann, para só então apresentar as quatro teses que o autor defende ao longo do livro.
1.1 Sociologia do direito. Elementos contraditórios do Estado e do direito
O livro discute a relação entre direito, ciência política e economia, razão pela qual a sociologia do direito é o principal ponto de partida para análise. Por sociologia do direito, Neumann entende a compreensão das relações entre direito e a “subestrutura social”5
Afastando concepções meramente econômicas das instituições jurídicas, que reduziriam a subestrutura social do direito a uma análise economicista, Neumann entende que a tarefa central da sociologia do direito é demonstrar como o direito e o Estado possuem tanto um desenvolvimento histórico autônomo enquanto forma específica de ordenação das relações sociais, como um desenvolvi mento condicionado a determinações sociais oriundas da religião, da economia e da política.
Por Estado moderno, Neumann entende “toda instituição socio logicamente soberana” (p. 64). A soberania, por sua vez, corresponde ao poder jurídico mais elevado de determinar normas que valem coercitivamente para todas e todos em um determinado território. Ao afirmar que a soberania é, em última instância, um poder jurídico, Neumann tenta escapar tanto de um reducionismo jurídico, que equacione soberania e direito, como de um reducionismo político-sociológico, que identifique soberania e poder.
Ainda falta, contudo, esclarecer melhor o que o autor entende por direito e por poder. Para ele, o elemento de direito e o elemento de poder contidos em sua definição de soberania e de Estado moderno são contraditórios. Esta é a primeira tese do texto. A soberania absoluta, no sentido do poder irrestrito do Estado para emitir normas de qualquer conteúdo, não se reconcilia com a afirmação histórica de âmbitos de liberdade diante do Estado na forma jurídica (“Império do Direito”).
Para Neumann, a definição de direito deriva da contradição entre esses dois elementos. É por isso que teórica e historicamente percebe-se uma dupla noção de direito: uma política e outra material.
Segundo a noção política, qualquer decisão do Estado seria direito, fosse ela justa ou injusta. O direito e a lei seriam apenas voluntas.
Por outro lado, de acordo com a noção material, “as normas do Esta do são compatíveis com os postulados éticos definidos, sejam postulados de justiça, liberdade ou igualdade, ou qualquer outro” (p. 98).
Ou seja, deve haver identidade entre as normas emitidas pela autoridade estatal e certo conjunto de valores externo ao direito para afirmar que as normas emitidas pelo Estado são “direito”.
A segunda tese do texto deriva dessa primeira. Para Neumann, a justificação secular e racional do Estado e do direito pode ter um aspecto revolucionário sob certas circunstâncias históricas. A superação histórica de justificações do Estado e do direito que se baseavam na religião ou no direito natural fortalece concepções de mudanças do status quo. Essa justificação secular e racional implica que o Estado e o direito “são simplesmente instituições humanas originadas da vontade ou da carência dos homens” (p. 73). Assim, a exigência da noção material de direito de uma justificação independente do direito e do Estado não pode depender senão de argumentos que se referem e são construídos pela própria sociedade.
Neumann então apresenta sua terceira e principal tese: a afirmação histórica e teórica de um Império do Direito garantidor da liberdade tem um efeito desintegrador em uma sociedade baseada na desigualdade (p. 40). A terceira tese é uma especificação da segunda: a justificação secular e racional do Estado e do direito, na modernidade, assume a forma da defesa de um Império do Direito geral. Este Império do Direito expressa o estabelecimento de certas esferas de liberdade em face do Estado. E essas esferas de liberdade permitem que os grupos minoritários ou desprivilegiados de uma sociedade desigual reivindiquem direitos por meio do próprio Império do Direito e de acordo com uma justificação secular e racional. Mas esse processo ameaça as posições de poder estabelecidas e, consequentemente, ou o poder aceita essas demandas ou ele abandona a justificação secular e racional. O exemplo da República de Weimar, mais abaixo, ilustra esse fenômeno.6
1.2 “Desencantamento do direito” e instituições jurídicas
As três teses são desenvolvidas ao longo de todo o texto. A segunda parte do livro apresenta o desenvolvimento da contradição entre soberania absoluta e Império do Direito na obra dos principais pensadores racionais do Ocidente – de Cícero a Hegel. Neumann analisa suas distintas teorias do Estado e do direito para demonstrar como a contradição está invariavelmente presente. Paralelamente, Neumann apresenta como progressivamente ocorre a superação teórica de justificações transcendentais do direito em favor de concepções que se baseiam nas vontades e nas carências dos homens – processo que ele chama de “desencantamento do direito”.
É também nessa parte do texto que Neumann apresenta sua quarta tese: “o reconhecimento da liberdade e igualdade em uma es fera leva ao postulado da liberdade e igualdade nas outras” (p. 118).
Para ele, a justificação secular e racional do Estado e do direito per mite e estimula o reconhecimento jurídico progressivo da liberdade e da igualdade, embora o risco de regresso seja constante.
Essa tese, junto às demais, será novamente objeto de estudo na terceira e última parte do livro, quando Neumann analisa a evolução histórica das instituições jurídicas na Alemanha e na Inglaterra dos séculos XIX e XX. Nesse ponto, Neumann estuda a relação entre direito, política e capitalismo.
Ele defende que a sociedade liberal e competitiva do século XIX, ao compartilhar uma concepção individual de liberdade política e econômica, determinava que o direito só fosse válido se exercido por meio de leis gerais aplicadas por juízes independentes por meio de um processo de subsunção lógico-formal.
Essa ideia formal de direito, por outro lado, pressupunha uma determinada estrutura econômica, social e política: uma economia não monopolizada, a inexistência de uma classe trabalhadora enquanto movimento independente que apresentava demandas ao Estado e ao direito e uma separação de poderes, no qual o direito era aplicado por um órgão independente do órgão de criação, sendo que um ou outro deveria ser dominado pela burguesia.
Contudo, quando o capitalismo se monopolizou e o proletariado passou a exigir o reconhecimento formal de direitos, ocupando lugar no Parlamento, essa estrutura jurídica formal entrou em xeque.
Neumann afirma que a justificação secular e racional do direito passou a ser reivindicada por uma nova classe social, organizada politicamente. E a possibilidade dessa classe exigir direitos formais democraticamente (a afirmação progressiva do Império do Direito por uma justificação secular e racional), entrou em contradição com o desenvolvi mento do sistema produtivo. A sociedade burguesa ficou ameaçada.
A solução encontrada na década de 1930, na Alemanha, foi o completo abandono de qualquer pretensão de racionalidade na justificação do Estado e do direito: a contradição entre soberania e Império do Direito foi resolvida em favor do primeiro elemento. Para Neumann, o direito da Alemanha nazista era uma simples técnica de transformação da vontade do líder em realidade constitucional. A característica própria do direito e do Estado, a contradição entre um momento de soberania e um momento de justificação racional e secular, foi deixada de lado em favor de uma justificação irracional e carismática do poder absoluto do Estado.
2.Vínculo entre direito e democracia.
Contudo, é possível defender, a partir de Neumann, que a “solução nazista” não era a única alternativa historicamente possível. Aqui talvez resida a maior contribuição do autor para o pensamento jurídico e político contemporâneo. Estabelecendo um vínculo entre democracia e direito, tanto da perspectiva teórica, a partir da análise de Rousseau, como da perspectiva histórico-institucional, a partir de sua análise sobre a República de Weimar, Neumann parece postular que seria possível garantir o contínuo reconhecimento de esferas de liberdade e igualdade por meio de um direito democrático, ainda que o risco de regressão estivesse presente.
Não há espaço para reconstruir o que interpreto como as duas linhas de análise sobre o vínculo de direito e democracia realizadas por Neumann. Por isso, apresentarei somente o que considero a sua compreensão sobre as transformações ocorridas na República de Weimar.
Neumann entende que a típica sociedade liberal do século XIX transformou-se radicalmente na Alemanha do início do século XX.
Além da transição do capitalismo competitivo para o capitalismo monopolista, o autor afirma que a estrutura política também foi substancialmente alterada, sendo que a Constituição de Weimar tentou equilibrar o conflito de classe entre proletariado consciente e burguesia com base na ideia de paridade e com o sufrágio universal. As instituições políticas democráticas permitiram que todas as forças sociais participassem ativamente da criação do direito e do exercício do poder político.
Nesse contexto, a estrutura formal do direito do século XIX também foi transformada. A estrutura econômica de monopólios, o proletariado se constituindo enquanto classe social ativa e a participação de diversas forças sociais na criação do direito fizeram com que começassem a surgir inúmeras normas mais abertas que o padrão tradicional. O conflito social não permitia que o legislador decidisse de antemão qual a solução a ser adotada em um caso concreto. Cláusulas jurídicas gerais passaram a dominar o ordenamento jurídico, como as exigências da “função social da propriedade”, “interesse público” e “boa-fé”, que permitiam uma decisão diferente para cada caso concreto.
Para Neumann, essas cláusulas gerais só garantiram o equilíbrio de forças sociais enquanto todas puderam participar do processo de justificação. Enquanto existiu esse equilíbrio em Weimar, as forças sociais puderam participar ativamente da formação do poder político, porque a elas também eram reconhecidas esferas de liberdade em face do poder do Estado. Contudo, a partir de 1930, as cláusulas gerais passaram simplesmente a ser utilizadas como justificativa para proteção dos interesses monopolistas e da vontade política do Führer. As esferas de liberdade foram sacrificadas em favor da soberania estatal7
2.1 O elemento jurídico da liberdade e a realização da liberdade humana.
A consequência desse diagnóstico, para Neumann, é a de que o reconhecimento formal e jurídico de âmbitos de liberdade em face do poder do Estado é essencial para garantir a realização da liberdade humana, ainda que não a garantam definitivamente.
Neumann entende que a liberdade jurídica se diferencia da liberdade sociológica e filosófica. Enquanto a primeira é a ausência de restrição, a liberdade sociológica seria a possibilidade individual de livre escolha entre duas alternativas iguais. Neumann entende que a liberdade jurídica, conectada a instituições democráticas e a uma justificação secular e racional, permite a progressiva realização da liberdade sociológica, ao dar atenção crescente às diferenças sociais entre os homens. A liberdade jurídica, contudo, não garante a liberdade sociológica.
Finalmente, a liberdade jurídica e a liberdade sociológica simples mente tornam possível a “autoafirmação humana, o fim da alienação de si do homem” (p. 83), inspirando-se na filosofia do direito hegeliana.
A tentativa de formular uma “teoria da liberdade humana” nunca foi abandonada por Neumann. Em texto posterior, de 1953, Neumann retornará à questão.8 Nesse texto, ele afirma que o conceito de liberdade política possui três elementos constitutivos: jurídico, cognitivo e volitivo. O elemento jurídico é o reconhecimento de uma esfera de liberdade do cidadão e de organizações privadas em face do Estado.
Neumann diferencia sociedade civil e Estado e afirma que a primeira deve ser independente do Estado para permitir que as demandas sociais se formem autonomamente.
Desenvolvendo a afirmação realizada antes, Neumann afirma mais uma vez que o elemento jurídico é insuficiente. Dessa vez, contudo, apresenta dois novos motivos: a liberdade concebida enquanto ausência de restrições não permite explicar porque a democracia é o sistema político que maximiza a liberdade; a fórmula da independência da sociedade civil em relação ao Estado ignora que a liberdade pode ser ameaçada no interior da própria sociedade civil.
Assim, ele desenvolve o elemento cognitivo e o elemento volitivo da liberdade política, que complementam o elemento jurídico. O elemento cognitivo reconhece que a sociedade humana acumula progressivamente conhecimento a respeito da natureza e do próprio homem. Nesse sentido, ele permite a realização efetiva da liberdade, ao possibilitar ao homem a compreensão das relações naturais e sociais nas quais está inserido. Ao mesmo tempo, também permite que o homem reforme a estrutura institucional para adequá-la ao conheci mento adquirido.
Por fim, o elemento volitivo (ou ativista) da liberdade é a vontade humana de ser livre. É por meio dele que se defende a superioridade da democracia enquanto forma histórica de realização da liberdade. O vínculo entre direito e democracia fica ainda mais evidente no texto de 1953, porque Neumann defende que somente a democracia institucionaliza a oportunidade do homem escolher livremente entre oportunidades iguais. E o cidadão – individualmente ou em grupo – só pode escolher livremente se tem esferas de liberdade reconhecidas juridicamente.
Em The concept of political freedom, portanto, Neumann desenvolve a teoria apresentada inicialmente em O Império do Direito. Os três ele mentos da liberdade – jurídico, cognitivo e volitivo – conformariam um desenho institucional e social mínimo para que uma sociedade moderna possa ser livre, ainda que o risco de regressão esteja presente. A análise da República de Weimar realizada nos últimos capítulos de O Império do Direito demonstra o risco do abandono do Império do Direito.
Nesse contexto, acredito que os estudos de Franz Neumann podem contribuir significativamente com a reflexão contemporânea a respeito do direito e da democracia. Sua análise sobre o desenvolvimento da racionalidade jurídica apontou para a superação da dicotomia direito formal-material, no sentido de um direito procedimental democrático.9 Por outro lado, Neumann também apontava para a necessidade de congregar outros elementos, além do jurídico, para a sociedade moderna realmente permitir a efetivação da liberdade.
Notas
1.FRAENKEL, E.; KAHN-FREUND, O.; KORSCH, K.; NEUMANN, F.; SINZHEIMER, H. Laboratorio Weimar: conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista. Roma: Edizione Lavoro, 1982, NEUMANN, F.Il diritto del lavoro fra democracia e dittadura. Bologna: Il Mulino,1983.
2.NEUMANN, F.Behemoth : the structure and practice of national socialism 1933 1944 (1942). New York: Harper Torchbooks, 1966. Versão atualizada do livro publicado originalmente em 1942.
3 A relação entre Neumann e o Instituto não é contínua. Sobre o assunto, ver JAY, M.The dialectical imagination : a history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research. Boston: Little Brown, 1987.
4 A preocupação de Neumann com o direito foi analisada nos seguintes textos: RODRIGUEZ, J.Fuga do Direito: um estudo sobre o direito contemporâneo a partir de Franz Neumann, São Paulo: Editora Saraiva, 2009; PROL, F. e RODRIGUEZ, J. Franz L. Neumann: direito e luta de classes. In: RODRIGUEZ, J. e SILVA, F., Manual de Sociologia Jurídica, São Paulo: Editora Saraiva, 2013, pp. 61-79.RODRIGUEZ, J. Franz Neumann, o direito e a teoria crítica.Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo: CEDEC, v. 61, 2004. RODRIGUEZ, J.Franz Neumann: o direito liberal para além de si mesmo.In: NOBRE, M., Curso livre de teoria crítica. Campinas: Papirus, 2008. KELLY, D.The State of the political: conceptions of politics and the state in the thought of Max Weber, Carl Schmitt and Franz Neumann. New York: Oxford, 2003. SCHEUERMAN, W.Between Norm and Exception: the Frankfurt school and the rule of law. Cambridge: MIT Press, 1997.
5.Neumann se baseia nos estudos de Karl Renner. Ver: RENNER, K.The institutions of private Law and their social functions. Londres: Routledge & K. Paul, 1949.
6.Acredito que é a partir desta tese que Rodriguez afirma a atualidade do diagnóstico de Neumann, por meio da expressão “fuga do direito”. A afirmação histórica do Império do Direito e do reconhecimento de diversas esferas de liberdade jurídicas faz com que as forças produtivas e o exercício puro do poder assumam outra roupagem social, não jurídica. O direito moderno democrático impõe restrições ao exercício do poder. Para mais, ver RODRIGUEZ, J.Fuga do Direito.
7.Rodriguez diferencia a “forma direito” dos “modelos de juridificação”. A ideia de “forma direito” ele retira da própria tensão entre soberania e direito que Neumann afirma ser característica das sociedades modernas. Por “modelos de juridificação”, Rodriguez diferencia como cada sociedade concretiza essa tensão em sua organização específica. A “forma direito” ganha potencial emancipatório quando está conectada a um procedimento democrático.Justamente o que foi abandonado na Alemanha nazista. Para mais, ver: RODRIGUEZ, J. Fuga do Direito, pp. 69-85; p. 95-120; pp. 129-135.
8.NEUMANN, F. The concept of political freedom.Columbia Law Review, vol.53, n. 7, 1953, pp. 901-935.
9.Algo que Habermas, por exemplo, realiza em seus textos sobre direito e democracia. HABERMAS, J.Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2 vols.Tradução de Flávio Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
Referências
FRAENKEL, E.; KAHN-FREUND, O.; KORSCH, K.; NEUMANN, F.; SINZHEIMER, H. Laboratorio Weimar: conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista. Roma: Edizione Lavoro, 1982.
HABERMAS, J. Direito e democracia: entre facticidade e validade.2 vols. Tradução de Flávio Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
JAY, M.The dialectical imagination: a history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research. Boston: Little Brown, 1987.
KELLY, D.The State of the political: conceptions of politics and the state in the thought of Max Weber, Carl Schmitt and Franz Neumann New York: Oxford, 2003.
NEUMANN, F.Il diritto del lavoro fra democracia e dittadura. Bologna: Il Mulino,1983.
_______.Behemoth: the structure and practice of national socialism 1933-1944 (1942). New York: Harper Torchbooks, 1966. Versão atualizada do livro publicado originalmente em 1942.
_______.O Império do Direito: teoria política e sistema jurídico na sociedade moderna. Tradução de Rúrion Melo. São Paulo: Quartier Latin, 2013.
_______. “The concept of political freedom”.Columbia Law Review, vol.53, n. 7, 1953.
PROL, F.; RODRIGUEZ, J. Franz L. Neumann: direito e luta de classes.
In: RODRIGUEZ, J.; SILVA, F. (orgs.).Manual de Sociologia Jurídica. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.
RENNER, K.The institutions of private Law and their social functions. Londres: Routledge & K. Paul, 1949.
RODRIGUEZ, J.Fuga do Direito: um estudo sobre o direito contemporâneo a partir de Franz Neumann. São Paulo: Editora Saraiva, 2009.
_______. Franz Neumann, o direito e a teoria crítica.Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo: CEDEC, v. 61, 2004.
_______. Franz Neumann: o direito liberal para além de si mesmo. In: NOBRE, M., Curso livre de teoria crítica. Campinas: Papirus, 2008.
SCHEUERMAN, W.Between Norm and Exception: the Frankfurt school and the rule of law. Cambridge: MIT Press, 1997.
Flávio Marques Prol – Doutorando na Faculdade de Direito da USP e pesquisador do NDD-CEBRAP.
Movimento camponês, trabalho e educação – liberdade, autonomia, emancipação: princípios/fins da formação humana – RIBEIRO (TES)
RIBEIRO, Marlene. Movimento camponês, trabalho e educação – liberdade, autonomia, emancipação: princípios/fins da formação humana. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010. 456 p. Resenha de: PREVITALI, Fabiane Santana. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.11, n.1, jan./abr. 2013.
Importante obra escrita pela professora Marlene Ribeiro, resultado de seus estudos de pós-doutoramento realizados na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana em 2008, sob a supervisão do professor Gaudêncio Frigotto. Marlene Ribeiro é graduada em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria (1973), mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (1987), doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1995). Atualmente é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), na Faculdade de Educação, tendo já desenvolvido trabalhos ligados à docência e à pesquisa na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e na Universidade Católica de Pelotas (UCPEL).
A obra Movimento camponês, trabalho e educação – liberdade, autonomia, emancipação: princípios/fins da formação resulta não apenas de um denso esforço teórico, mas também da experiência política da autora como militante junto aos movimentos sociais populares por 19 anos. Essa combinação entre experiência prática e acuidade teórica permitiu à autora oferecer uma contribuição de inestimável importância sobre os movimentos sociais populares rurais/do campo e de seus projetos educacionais.
O livro está dividido em seis capítulos ao longo dos quais a autora analisa de maneira instigante a história e a organização dos movimentos sociais no Brasil, tendo como foco de discussão os movimentos sociais populares rurais/do campo, suas lutas e reivindicações, avanços e retrocessos enquanto sujeitos políticos coletivos de um projeto de educação fundado na liberdade, autonomia e na emancipação humana. Em suas pesquisas, a autora destaca as experiências pedagógicas realizadas pelas Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), as Casas Familiares Rurais (CFRs), existentes em todo o país, os diferentes cursos oferecidos pela Fundação de Ensino e Pesquisa da Região Celeiro (Fundep) e pelo Instituto de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária (Iterra), no Rio Grande do Sul, e pela Escola de Formação Florestan Fernandes, em Guaracena, no estado de São Paulo. Apesar de a discussão centrar-se nos movimentos sociais populares rurais/do campo no Brasil, desde o século XIX até os dias atuais, a autora lança luzes também sobre as experiências histórico-concretas do movimento camponês em países como o México, a Rússia, a França, a Inglaterra e a Alemanha.
No capítulo primeiro, cujo título é “Sujeitos sociais e educação popular”, a autora analisa os conceitos de movimentos sociais populares, educação rural/do campo e educação popular a fim de identificar os movimentos sociais enquanto sujeitos sociais históricos propositores de um projeto de educação que se contrapõe “ao modelo civilizatório de escola, imposto pela modernidade” (p. 28).
No capítulo segundo, “Movimento camponês é ou não sujeito histórico?”, a autora envereda para o exame crítico das noções de liberdade, autonomia e emancipação, as quais estão incorporadas às experiências pedagógicas dos movimentos sociais populares rurais/do campo. Aqui a autora destaca as contradições presentes na realidade rural, na qual há “situações distintas de trabalho e propriedade que explicam interesses e ideologias diferentes” (p. 75).
O terceiro capítulo, intitulado “Educação rural/do campo: contradições”, traz a discussão da educação rural no conjunto das políticas públicas educacionais e, em contrapartida, as ações dos movimentos sociais populares rurais/do campo no sentido de garantir uma educação como princípio de cidadania, mas, ao mesmo tempo, reivindicar uma educação que contemple os interesses desses trabalhadores. Cabe aqui explicitar o conceito de meio rural no qual se pauta a autora: “conjunto de regiões e territórios em que as populações desenvolvem atividades diferentes, tais como: a agricultura, o artesanato, as indústrias pequenas e médias, o comércio, os serviços, a pecuária, a pesca, a mineração, a extração de recursos naturais e o turismo, entre outros” (p. 74).
No capítulo quatro, “Liberdade, autonomia, emancipação: uma construção histórica”, a autora explora os conceitos de liberdade, autonomia e emancipação por meio da retomada dos acontecimentos histórico-sociais de onde eles emergem, bem como das correntes de pensamento que os explicam, explicitando assim as visões de mundo e os posicionamentos de classes. Nesse sentido, a autora esclarece que a escolha dos autores examinados no capítulo, de Locke a Stuart Mill, passando por Kant, Hegel e Tocqueville, Marx e Engels, não foi aleatória, mas “visou responder às experiências pedagógicas dos tempos/espaços alternados de trabalho e educação” (p. 200).
A questão da relação trabalho-educação é dissecada no quinto capítulo, sob o título “Trabalho-educação no movimento camponês: origens e contradições”. A autora debruça-se sobre as origens, francesa e italiana, da pedagogia da alternância para em seguida analisar sua apropriação e recriação nas EFAs, nas CFRs, nos cursos oferecidos pela Fundep e pelo Iterra, destacando o processo de formação dessas organizações, bem como o papel desempenhado pela Igreja e pelo Estado.
A idéia de alternância, esclarece a autora, “compreende uma formação em tempo pleno com uma escolarização parcial” (p. 335). Enquanto método, a pedagogia da alternância articula, em tese, teoria e prática, “na medida em que se alteram situações de aprendizagem escolar com situações de trabalho produtivo, exige uma formação específica dos professores que as licenciaturas de um modo geral não oferecem” (p. 292). Destaca-se, portanto, que a característica fundante desse método é o “trabalho como princípio educativo de uma formação humana integral, que articula dialeticamente o trabalho produtivo ao ensino formal” (p. 293). Nesse sentido, a pedagogia da alternância vem sendo apropriada pelos diferentes movimentos sociais populares vinculados ou não à luta pela terra e também por diversas organizações sindicais de trabalhadores, explicitando “as divergências relacionadas aos projetos sociais que sustentam as experiências pedagógicas enfocadas” (p. 329).
Como exemplo dessa divergência, a autora evidencia a alternância entre escola e empresa, “tendo essa o significado dos tempos/espaços alternados entre ensino na escola e trabalho de estágio na empresa, com remuneração, porém sem amparo em direitos sociais” (p. 334), explicitando a divergência de interesses entre capital e trabalho, especialmente em um contexto marcado pelo desemprego. Outro elemento de destaque na argumentação da autora refere-se à formação dos trabalhadores assentados, vinculados ao Movimento dos Sem Terra (MST), uma vez que se trata da formação para permanência no campo sem que haja a garantia de posse da terra. Nesse contexto, “apesar do esforço realizado pelos movimentos sociais populares, buscando uma educação voltada para os seus interesses, essa formação é inócua se os jovens não dispuserem de terra para desenvolverem um trabalho e organizarem uma família” (p. 338).
O sexto e último capítulo da obra, “Liberdade, autonomia, emancipação – EFAs, CFRs, Fundep e Iterra”, tem como objeto a problematização da compreensão dos conceitos de liberdade, autonomia e emancipação pelos movimentos sociais populares rurais/do campo, especialmente no âmbito das EFAs, CFRs, do Fundep e do Iterra. De acordo com a autora, prima-se assim por ressaltar as práticas desenvolvidas nessas organizações, seus avanços e limites no seio da ordem capitalista. Para a autora, as EFAs e as CFRs apresentam diferenciais conceituais e metodológicos em relação ao Fundep e ao Iterra, uma vez que são inspirados por teorias pedagógicas distintas. No entanto, apesar das diferenças e para além delas, as práticas pedagógicas estão, segundo a autora, fundadas na crítica da apropriação privada da produção de bens materiais e culturais presente na sociedade capitalista. Assim, “esboços de um projeto de educação integral1 integram o projeto social dos movimentos sociais populares, sinalizando para uma sociedade em que as classes populares possam exercer a liberdade, ter autonomia em seus processos organizativos e conquistar a emancipação verdadeiramente humana” (p. 418). Apesar das diferenças teórico-metodológicas, a autora destaca a presença de Paulo Freire nas experiências de tempos/espaços alternados de trabalho agrícola e educação escolar realizadas pelas EFAs, CFRs, do Fundep e do Iterra.
Portanto, tratando de temas relevantes de forma instigante, o livro da professora Marlene Ribeiro é um dos mais qualificados e densos estudos sobre a relação trabalho-educação nos movimentos sociais rurais/do campo no Brasil atualmente, resultado de uma pesquisa rigorosa e de sólida análise. A autora demonstra com particular competência a sua tese: como a educação popular construída pelos movimentos sociais populares, em particular o movimento camponês, assume, como processualidade, uma possibilidade emancipatória2, isto é, um projeto coletivo de transformação social, para além das concepções de liberdade e de autonomia presentes no seio da sociedade burguesa.
Pela atualidade e importância do tema, esse livro é uma leitura indispensável aos estudiosos e todos os demais interessados em não somente compreender o processo social em curso mas também transformá-lo.
Notas
1 Grifos da autora.
2 Grifos nossos.
Fabiane Santana Previtali – Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Minas Gerais, Brasil. E-mail: fabianesp@netsite.com.br
[MLPDB]Das recht der freiheit – HONNETH (NE-C)
HONNETH, Axel. Das recht der freiheit. Berlim: Suhrkamp, 2011. Resenha de: PINZANI, Alessandro. O valor da liberdade na sociedade contemporânea. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n.94, Nov, 2012.
Das Recht der Freiheit [O direito da liberdade], o livro mais recente de Axel Honneth representa, por um lado, a tentativa mais sistemática de organizar sua teoria, que – como se sabe – tem seu centro no conceito de reconhecimento, e, por outro, a tentativa de atualizar o pensamento hegeliano1. É necessário considerar este último objetivo para melhor entender os alcances e os limites do primeiro. Em geral, tem-se a impressão de que o autor, ao seguir de perto a estrutura da Filosofia do direito de Hegel, coloca sua própria teoria em um corpete rígido e justo demais. A proximidade com Hegel parece mais evidente na segunda parte do livro, a mais propriamente sistemática, que é estruturada de forma tripartida e segue de perto a estrutura da seção “Eticidade” da Filosofia do direito. À parte sobre família do texto hegeliano corresponde, no texto de Honneth, a parte sobre relações pessoais; àquela sobre sociedade civil corresponde a parte sobre o mercado; finalmente, à parte sobre o Estado corresponde a parte sobre o Estado democrático. Não se trata de meras analogias formais, já que a pretensão é atualizar o pensamento hegeliano, livrando-o da sobrecarga metafísica2.
Contra a perspectiva normativa que busca seu ponto de partida em normas, princípios ou procedimentos ideais, e não na empiria e na descrição de sociedades concretas – perspectiva que caracteriza a maioria das teorias da justiça contemporâneas (John Rawls, Ronald Dworkin, etc.) -, Honneth defende uma perspectiva “hegeliana”, que dê relevância central aos acontecimentos históricos e à interpretação deles nos termos do que o autor chama de reconstrução normativa, ou seja
[…] um procedimento que tenta traduzir para o plano da teoria social as intenções normativas de uma teoria da justiça, tomando como fio condutor, para selecionar e elaborar o material empírico, valores justificados de forma imanente [à própria sociedade]: as instituições e práticas existentes são analisadas e apresentadas em relação às suas prestações normativas e na ordem pela qual se tornam significativas para a encarnação e realização dos valores socialmente legitimados3.
A análise das instituições e práticas sociais existentes é, portanto, ao mesmo tempo, uma avaliação com base em sua capacidade de realizar os valores próprios da sua sociedade (e não de outra). Ora, isso levanta um problema metodológico importante, já que a análise histórica de Honneth não é acompanhada, como acontece em Hegel, por uma visão metafísico-racionalista que vê na história das instituições o caminho do Espírito, isto é, um progresso constante, ainda que descontínuo. A renúncia a tal visão abre a possibilidade de que a história não consista em um progresso, mas possa resultar em regressos e recaídas na irracionalidade e na barbárie.
Honneth, contudo, não parece disposto a aceitar completamente essa conclusão, que tornaria questionável a própria noção de uma reconstrução normativa. Portanto, ao longo do livro, descreve os fenômenos históricos, que lhe servem como base para sua reconstrução normativa, como se constituíssem um caminho fundamentalmente progressivo e positivo. Embora reconheça a existência de patologias sociais e de desenvolvimentos errados [Fehlentwicklungen], termina seu livro expressando a esperança (ainda que não a certeza, como o faria Hegel) de que é possível que surja uma “cultura europeia de cuidados compartilhados e de solidariedades ampliadas”4.
Na leitura de Honneth, os valores legítimos característicos das sociedades liberal-democráticas modernas “se fundiram em um único, a saber, na liberdade individual nos seus sentidos plurais que conhecemos”5, não porque a liberdade represente em si um valor superior aos outros, mas porque a própria sociedade moderna ocidental lhe atribui esse valor superior. Neste sentido, Honneth se serve do conceito de justiça a partir de uma perspectiva sociológica e não abstratamente normativa: trata-se de considerar o que uma determinada sociedade considera justo. Portanto, é possível analisar as diferentes esferas que formam nossa sociedade (relações íntimas, mercado e Estado democrático) com base em como e quanto realizam a liberdade individual6. Na leitura de Honneth, todas as lutas por reconhecimento social “escreveram em seus estandartes o lema da liberdade individual”. Mais do que isso: na modernidade “a exigência de justiça pode ser legitimada publicamente somente se faz referência, de uma maneira ou de outra, à liberdade individual”7.
A centralidade da liberdade individual não implica, contudo, a assunção de um paradigma, tipicamente liberal, de individualismo ontológico ou metodológico: Honneth não parte da ideia de que os indivíduos representam um prius ontológico, isto é, que existem anterior e independentemente do seu contexto social; tampouco faz do indivíduo o juiz último da legitimidade das instituições sociais, como na tradição liberal8. Seu conceito de liberdade individual não desconsidera o fato de que o indivíduo está desde sempre inserido em um contexto social caracterizado pela existência de instituições e práticas sociais legítimas.
Hegel tinha dividido sua Filosofia do direito em três partes, dedicadas respectivamente ao direito abstrato, à moralidade e à eticidade. Honneth identifica três diferentes sentidos de liberdade que, grosso modo, correspondem à tripartição hegeliana: a liberdade negativa ou jurídica, a liberdade reflexiva ou moral e a liberdade social9.
A liberdade jurídica está ligada à existência de um sistema de direitos subjetivos, surgido na modernidade por um processo paulatino. Honneth reconhece que inicialmente os direitos subjetivos tiveram primariamente caráter econômico, com o primado do direito à propriedade – primado não somente prático, mas também teórico (de Locke ao próprio Hegel tal direito recebe um lugar de primazia nas relações dos indivíduos entre si e com a comunidade). Contudo, ao longo do tempo, os direitos subjetivos acabaram criando um espaço de proteção do indivíduo, que lhe permite desenvolver autonomamente seu plano de vida independentemente das concepções e dos valores socialmente dominantes. Os direitos subjetivos constituem uma esfera privada, à qual o indivíduo pode retirar-se, subtraindo-se às obrigações comunicativas ligadas à exigência de justificar escolhas de vida e valores individuais10.
Mas na liberdade jurídica estaria presente o risco de uma patologia social: a total identificação, pelos indivíduos, de sua liberdade com a liberdade jurídica, isto é, com seus direitos negativos e que, portanto, tais direitos acabem sendo os elementos constitutivos do plano de vida de seus titulares. Assim, os sujeitos tendem a “retirar-se na gaiola de seus direitos subjetivos e a pôr-se perante os outros exclusivamente como pessoas jurídicas”, demandando a resolução de todos os seus conflitos unicamente aos tribunais. A pessoa se reduz assim à “soma de suas pretensões jurídicas”11, fechando-se ao fluxo comunicativo que a une às outras pessoas12. Os direitos são usados, portanto, como uma barreira às exigências de justificação que provêm dos outros indivíduos.
O segundo tipo de liberdade, a liberdade moral, coincide com aquilo que na tradição filosófica foi definido como “autonomia moral”, e consiste basicamente na capacidade de pôr em questão normas, exigências ou instituições socialmente válidas com base em razões universais, isto é, com base em argumentos que poderiam encontrar o consenso de todos os envolvidos (manifesta-se aqui a influência da teoria do discurso de Habermas). Em outras palavras, cada indivíduo é livre para questionar as exigências morais que a sociedade lhe impõe, contanto que desde um ponto de vista universal. Neste sentido (como salientava Hegel em sua crítica a Kant), essa liberdade toma uma forma negativa: é a liberdade de rechaçar normas ou instituições sociais que não superem o teste de universalização (isto é, que se fundam sobre argumentos que não podem encontrar o consenso dos envolvidos). Isso implica que – contrariamente ao que acontece no caso da liberdade jurídica – os sujeitos estão dispostos, se necessário, a justificar suas ações e suas escolhas recorrendo a argumentos universalizáveis13. A liberdade moral exige, para ser exercida, não somente que os indivíduos possuam a capacidade de distinguir entre razões corretas ou falsas, mas também que sejam capazes de colocar-se no lugar dos outros.
Justamente essa capacidade, contudo, abre o risco de outras duas patologias sociais: o indivíduo tornar-se um moralista incapaz de situar-se no próprio contexto social, agindo como se tal contexto não existisse, isolando-se socialmente e tendendo a considerar-se como um “legislador” moral todo-poderoso, ou chegar a uma postura de verdadeiro terrorismo com motivações morais, a partir da qual a ordem social é considerada injusta e imoral na sua totalidade, exigindo a sua destruição14.
Ao terceiro tipo de liberdade, à liberdade social, são dedicados quase dois terços do livro, já que nela se realizaria, para Honneth, a liberdade do indivíduo. Em relação às outras duas, Honneth afirma que elas se comportam de forma “parasitária perante uma práxis de vida social que não somente as precede sempre, mas à qual devem também seu direito de existir”15. A liberdade jurídica e a moral permitem que o indivíduo distancie-se ou feche-se perante as exigências ligadas a relações sociais preexistentes, mas são incapazes de criar elas mesmas “esta realidade intersubjetivamente compartilhada no interior do mundo social”16. A tese central de Honneth, nesse sentido, é a de que
a liberdade individual alcança uma realidade socialmente experimentável e socialmente vivida somente em construtos institucionais que dispõem de obrigações complementares ligadas a papéis [sociais], enquanto nas esferas do direito e da moral, previstas “oficialmente” para ela, possui somente o caráter de um mero distanciamento ou de uma revisão reflexiva17.
Isto é, experimentamos nossa liberdade individual somente no contexto de obrigações sociais que surgem do fato de desempenharmos certos papéis sociais (por exemplo, enquanto parceiros, pais, amigos, agentes econômicos, produtores, consumidores, cidadãos, etc.). Essa liberdade é social, pois, longe de isolar o indivíduo do contexto social no qual se encontra, só é vivida em tal contexto, isto é, na interação com outros indivíduos. Isso leva Honneth a não identificar patologias sociais ligadas ao seu exercício, já que tais patologias remetem a um mal-entendido sistemático que leva o indivíduo a atribuir um sentido errado à sua liberdade jurídica ou moral – mal-entendido que, contudo, tem suas causas nas próprias formas de liberdade em questão; no caso da liberdade social, estamos perante desenvolvimentos errados que, segundo Honneth, não seriam provocados pelo próprio sistema da liberdade social. Ora, com isso, o autor abre espaço para uma ambiguidade, pois aparentemente as causas de tais desenvolvimentos não seriam imanentes ao sistema descrito, por exemplo à esfera do mercado ou do Estado democrático. Na realidade, como o próprio Honneth explicou em ocasião de uma discussão sobre seu livro realizada em Berlim em fevereiro de 2012, no caso da liberdade social, os fenômenos negativos se dão quando um certo patamar de desenvolvimento de tal liberdade é atingido e, em seguida, novamente abandonado. Trata-se, em suma, de regressões históricas, que levam a sociedade a perder um nível de liberdade social que já tinha alcançado, e não de patologias individuais. Por isso, contrariamente ao que acontece nos capítulos dedicados à liberdade jurídica e moral, o objeto principal de Honneth nessa parte é uma leitura do desenvolvimento histórico das três esferas nas quais se realiza a liberdade social: as relações pessoais, o mercado e o Estado democrático. Trata-se, nesse caso, de ver qual é a contribuição das três esferas à realização daquela liberdade, na qual se concentram os valores considerados legítimos na sociedade dos países industrializados e democráticos da Europa ocidental. Como acontece com Hegel, contudo, o leitor suspeita que a reconstrução normativa em pauta tenha como objeto uma sociedade específica, a saber, a do autor: a Alemanha, já que boa parte do material empírico apresentado refere-se evidentemente, ainda que não explicitamente, à sociedade alemã e só em parte pode ser visto como uma descrição fiel de outras sociedades, inclusive as de outros países industrializados.
Assim, na reconstrução da evolução das maneiras de viver as relações pessoais, que compreendem amizade, relações íntimas (quer no sentido de relações amorosas, quer no sentido de relações sexuais) e família, Honneth mostra como se passa da visão clássica de amizade masculina a formas de amizade entre pessoas de diferentes gêneros, ou como se passa do amor romântico ao amor “livre” dos anos 1970 e a uma maior abertura em relação a tais questões, ou como a família patriarcal ampliada dá lugar à família nuclear tradicional, na qual os pais ficam presos a seus papéis (o homem trabalha e sustenta a família, a mulher fica em casa cuidando dos filhos), à família moderna, na qual a divisão dos papéis entre os gêneros não é tão rígida, e, finalmente, às novas famílias, não mais compostas por dois pais de gênero diverso e pelos filhos, mas, eventualmente, por pais do mesmo gênero ou por diferentes casais de pais, consequências de divórcios, etc. Essa “história”, embora incompleta (faltam, por exemplo, formas de relações pessoais importantes como clubes, associações, camaradagem, etc.), é, provavelmente, a menos problemática para efetuar uma reconstrução normativa que aponte para um progresso. É significativo que o único risco de um desenvolvimento errado mencionado diga respeito à família e se refira à ausência eventual de políticas públicas de apoio às famílias (portanto, seja atribuível à esfera da política).
A tarefa mais árdua talvez seja mostrar como a esfera do mercado pode ser o lugar onde se realiza a liberdade social dos indivíduos. O próprio Honneth reconhece as dificuldades ligadas a essa tarefa, uma vez que o sistema da economia de mercado capitalista não parece minimamente orientado à construção de uma relação de reconhecimento recíproco, na qual os indivíduos possam ver na liberdade dos outros a condição para o exercício da sua própria liberdade, como exige o conceito de liberdade social que deveria ser realizado pela esfera do mercado18. Destarte, parece difícil ver como “a esfera do mercado organizado de forma capitalista” possa ser considerada uma “instituição ‘relacional’ de liberdade social”19. É verdade que tal esfera pressupõe a institucionalização de direitos individuais que correspondem à criação da liberdade jurídica; e que, portanto, nela os indivíduos possuem um mínimo de liberdade. Contudo, prevalece a concentração no interesse particular e uma visão pela qual cada um vê no outro meramente um meio para alcançar seus fins particulares. O atual mercado capitalista (quer o mercado de trabalho, quer o mercado “tradicional” onde se trocam mercadorias) tende a isolar os indivíduos uns dos outros e a convencê-los de que a única coisa que conta é a maximização dos lucros individuais, não a satisfação das carências sociais. Isso leva os indivíduos a não assumir aquela atitude de confiança e benevolência que, já segundo Adam Smith, representa a condição necessária para o correto funcionamento do sistema20. Em harmonia com essa visão, Honneth pensa, então, que as relações contratuais no mercado de trabalho deveriam obedecer não somente a imperativos econômicos (a “lei” da oferta e da procura, por exemplo), mas também a normas e princípios normativos independentes e, sobretudo, deveriam ser expressão de relações de reconhecimento recíproco: “os atores econômicos devem ter se reconhecido de antemão como membros de uma comunidade cooperativa antes de poderem atribuir-se reciprocamente o direito de maximizar seu lucro no mercado”21.
Na sua reconstrução normativa do desenvolvimento histórico do mercado capitalista, Honneth vê a “realização paulatina dos princípios de liberdade social, que lhe servem de fundamento e asseguram sua legitimação”. Em particular, menciona os mecanismos institucionais que visam garantir um “procedimento discursivo de acordo de interesses” e ancorar juridicamente “a igualdade de oportunidades”22. Na realidade, aqui como em outros momentos, Honneth parece referir-se à realidade alemã, na qual, como se sabe, existe (melhor seria dizer: existia – em consideração das profundas transformações pelas quais passou o modelo de mercado social alemão) um mecanismo de cogestão das empresas e de harmonização dos interesses por meio de contratos nacionais e da mediação do governo. Em outros países, contudo, os mecanismos institucionais mencionados por Honneth permanecem uma utopia, e o mercado de trabalho não obedece a regras estabelecidas discursivamente, nem ao princípio da igualdade de oportunidades. Portanto, a reconstrução normativa, neste caso, parece questionável não somente com base na interpretação do dado empírico (isto é, não somente questionando se até no modelo social de mercado alemão de fato os mecanismos mencionados por Honneth funcionaram da maneira descrita pelo autor), mas também com base nos próprios dados empíricos apresentados.
Além disso, chamam a atenção os fatos de Honneth não tratar o mercado financeiro, hoje tão dramaticamente importante, e não mencionar em momento nenhum a grande cisão histórica marcada pela queda do Muro e pelo fim do socialismo real – o que admira, em uma obra que pretende oferecer uma reconstrução normativa baseada na história das sociedades ocidentais modernas. A situação atual, caracterizada pelo aumento vertiginoso do desemprego na maioria dos países industrializados, pelo desmantelamento do modelo social de mercado alemão, pela progressiva mas constante redução dos direitos trabalhistas, pela concorrência entre países, que querem oferecer às empresas condições mais vantajosas à custa dos empregados, etc., é considerada por Honneth um mero desenvolvimento errado de um processo que, de outra forma, poderia ter levado a uma sociedade mais justa e não, como acham outros autores23, como a consequência inevitável de certa lógica imperante nas últimas décadas de privatizações e desregulamentações.
A última parte do livro é dedicada à reconstrução normativa do processo que levou do Estado liberal de direito ao atual Estado democrático constitucional e social. Em particular, o autor analisa “a instituição da esfera pública democrática como um espaço social intermédio, no qual cidadãs e cidadãos devem formar aquelas convicções passíveis de um consenso geral, que deveriam ser respeitadas pelo processo de legislação parlamentar por meio de procedimentos próprios do Estado de direito”24. Contrariamente ao que acontece com as relações pessoais e o mercado, a realização da liberdade social nessa esfera depende da sua realização nas outras duas. A reconstrução normativa da formação da esfera pública democrática oferecida por Honneth segue em geral a operação análoga realizada por Habermas em 196225. Honneth salienta a importância do Estado-nação nesse processo e fala da necessidade – para o desenvolvimento de uma esfera pública democrática – de “uma certa medida de ‘patriotismo'”, que, contudo, deve assumir hoje o aspecto de um “patriotismo constitucional”, para que se estabeleçam “pontes de comunicação” entre órgãos de governo e população26.
Falando dos desenvolvimentos errados nessa esfera, Honneth menciona o fato de que a mídia deixou de gerar informação para comercializar-se e tornar-se um mecanismo de produção de riqueza através da venda de de espaço publicitário, e lamenta a apatia presente entre os cidadãos, que parecem não ter interesse em participar ativamente do processo de formação da vontade política (que não se limita somente à participação nas eleições, mas compreende a participação nas discussões que acontecem no contexto da esfera pública). Honneth apresenta cinco condições que deveriam permitir um melhor exercício da liberdade social, embora em princípio não possam ser preenchidas todas e completamente27, mas sem as quais não seria possível pensar a esfera pública como esfera de liberdade social. As menos problemáticas dizem respeito à existência de garantias jurídicas para a participação política dos indivíduos e à presença de um espaço comunicativo comum, já a terceira, relativa à existência de um sistema diferenciado de mídia, é mais difícil de ser realizada; extremamente complicada é a realização das duas últimas: a disponibilidade dos cidadãos a se engajarem nas discussões públicas e o desenvolvimento de um sentimento de solidariedade cívica mantido por uma correspondente cultura política da solidariedade.
As convicções elaboradas nos debates públicos devem transformar-se em estratégias concretas de ação ou em normas jurídicas através da atividade legislativa dos parlamentos, isto é, através da ação do Estado. Honneth define o Estado como “o ‘órgão reflexivo’ ou a rede de instâncias políticas com a ajuda da qual os indivíduos, que se comunicam entre si, tentam transpor na realidade suas visões, alcançadas ‘experimental ou deliberativamente’ relativamente às soluções moral e pragmaticamente adequadas de problemas sociais”28. Nessa visão, o Estado é o instrumento através do qual os cidadãos ativos politicamente realizam suas convicções e, portanto, sua liberdade social. Contudo, os desenvolvimentos errados são particularmente numerosos e concernem à incapacidade concreta do Estado em lidar com os problemas ligados à economia, com a influência dos lobbies, com a burocratização dos partidos políticos, etc. Uma saída possível é identificada por Honneth na capacidade de pressionar os parlamentos demonstrada pelos movimentos sociais e as associações civis29.
Apesar dos diagnósticos negativos sobre os inúmeros desenvolvimentos errados que assombram as esferas do mercado e do Estado, o livro termina com uma nota otimista: a esperança no surgimento de uma cultura política democrática e participativa capaz de retomar o caminho fundamentalmente progressivo registrado por Honneth na sua reconstrução normativa da maneira em que a liberdade social veio afirmando-se como o valor principal da sociedade ocidental moderna. O otimismo de Honneth não é, portanto, crença dogmática no progresso de tal liberdade (como em Hegel), mas um otimismo cauteloso e consciente das dificuldades com as quais ela ainda tem que lidar.
Notas
1 Tarefa que já animava obras anteriores, como Sofrimento de indeterminação (São Paulo: Esfera Pública, 2007) e o próprio Luta por reconhecimento (São Paulo: Editora 34, 2003), até agora seu livro mais conhecido e teoricamente mais denso.
2 Operações análogas foram praticadas nos últimos anos por alguns pensadores norte-americanos. Ver PINKARD, T. Hegel’s Phenomenology. The Sociality of Reason. Cambridge: Cambridge University Press, 1994; NEUHOUSER, Frederick. Foundations of Hegel’s Social Theory. Actualizing Freedom. Cambridge (MA): Harvard University Press, 2000. Pippin, Robert. Hegel’s Practical Philosophy. Rational Agency as Ethical Life. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
3 HONNETH, A. Das Recht der Freiheit. Berlim: Suhrkamp, 2011, p. 23. [Citações traduzidas pelo autor.]
4 Ibidem, p. 624.
5 Ibidem, p. 9.
6 Em nota, o autor faz uma afirmação bastante relevante do ponto de vista teórico: “Em seguida não considerarei a ideia de ‘igualdade’, por mais influente e rica de consequências que seja, como um valor independente,” já que pode ser entendida somente em relação à igualdade individual (p. 35, nota 1). Essa breve observação é o único espaço que Honneth reserva em seu livro ao conceito de igualdade, tradicionalmente central nas teorias da justiça (o termo nem sequer aparece no índice analítico).
7 HONNETH, op. cit., p. 38.
8 Como veremos, Honneth considera até certo ponto estas perspectivas patologias sociais.
9 Na primeira parte do livro o autor realiza uma reconstrução histórica dos diferentes conceitos de liberdade, servindo-se da obra de pensadores bastante diversos entre si: Hobbes, Sartre, Nozick, Rousseau, Kant, Rawls, Habermas, os românticos alemães, Herder, Mill, Arendt, Hegel, Marx e Gehlen. Neste contexto não temos espaço para dedicar-nos à análise da leitura que Honneth faz desses autores e que, de qualquer maneira, é funcional à parte mais sistemática do livro, dedicada à exposição teórica dos três conceitos de liberdade.
10 Trata-se, portanto, de direitos meramente negativos, já que os direitos políticos pertencem, segundo Honneth, à esfera da liberdade social.
11 HONNETH, op. cit., pp. 161 e 164.
12 Analogamente, na seção da Filosofia do direito de Hegel dedicada ao direito abstrato, o autor criticava a tendência, típica de muitos juristas e filósofos, a reduzir o indivíduo à mera pessoa jurídica detentora de direitos formais.
13 HONNETH, op. cit., p. 193.
14 Aqui também há um eco da crítica à posição da subjetividade moral efetuada por Hegel na seção “Moralidade” da sua Filosofia do direito.
15 HONNETH, op. cit., p. 221.
16 Ibidem, p. 222.
17 Ibidem, p. 229.
18 Ibidem, p. 318.
19 Ibidem, p. 302.
20 Idem, 330 e ss.
21 Ibidem, p. 349.
22 Ibidem, p. 358.
23 Por exemplo: ROSA, H. Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. 2. ed. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2005; Foster, J. B. e Magdoff, F. The Great Financial Crisis. Causes and Consequences. Nova York: Monthly Review Press, 2009; Stieglitz, J. Freefall. Free Markets and the Sinking of the Global Economy. Londres: Penguin, 2009; Dörre, K., Lessenich, S. e Rosa, H. Soziologie – Kapitalismus – Kritik. Eine Debatte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2009; Chang, H.-J. 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism. Londres: Allen Lane, 2010; Harcourt, B. E. The Illusion of Free Markets. Cambridge (MA): Harvard University Press, 2011.
24 HONNETH, op. cit., p. 471.
25 HABERMAS, J. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
26 HONNETH, op. cit., pp. 495-9.
27 Ibidem, p. 540, nota 505.
28 Ibidem, p. 570.
29 Ibidem, p. 608.
Alessandro Pinzani – Professor da Universidade Federal de Santa Catarina.
Hobbes e a liberdade republicana – SKINNER (C)
SKINNER, Q. Hobbes e a liberdade republicana. Trad. de Modesto Florenzano. São Paulo: Edunesp, 2010. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Conjectura, Caxias do Sul, v. 16, n. 3, Set/dez, 2011.
A história intelectual tem buscado forjar padrões de análise que a convertam num campo de estudo estabelecido e fixado como outros já consagrados, a exemplo da história política, da econômica, da social e da cultural. Por suas íntimas aproximações com a história filosófica e com a história das ideias, definir seguramente suas fronteiras teórico-metodológicas e seu alcance interpretativo do objeto, assim como seu corpus documental, torna-se, além de um problema tenso e contraditório, um desafio para o estudioso da temática. Se mesmo entre os lugares principais de produção, a história intelectual é ao mesmo tempo ambígua, sem necessariamente construir procedimentos de pesquisa comuns, como se observa nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha e na Itália, como então se deveria proceder ao seu estudo e à sua apropriação? A obra de Skinner está entre aquelas que, desde os anos 60 (séc.XX), tem se debruçado com afinco sobre a questão. Agrupando-se ao que ficou definido como contextualismo linguístico inglês, ele se esforçou para a criação de procedimentos adequados para que a história intelectual fosse, entre outras coisas, um instrumento apropriado para o estudo do pensamento e da ação política no tempo. Estudioso da história moderna, preocupou-se com a investigação do pensamento renascentista, reformista, contrarreformista, liberal e conservador, e com a maneira como estabeleceriam relações com seu contexto. Para ele, somente ao se agrupar o contexto de produção das obras é que se torna possível visualizar os jogos linguísticos usados pelos letrados e políticos do período e reconstituir como agem e se movimentam no campo de produção das obras e da ação política, estabelecer os nexos de ação do grupo e do indivíduo, analisar os discursos e as estratégias de ação, além de permitir definir quais são as intenções dos agentes sociais em sua escrita, por já formar nela uma ação política, com desdobramentos sociais profundos, ao ser apropriada pela sociedade.
Evidentemente, a proposta analítica do autor é consistente e articulada, o que não quer dizer que seja isenta de fragilidades. O ponto, talvez, mais criticado em sua proposta é justamente a de agrupar e definir as intenções dos agentes sociais, por meio do estudo de seus escritos. Leia Mais
O alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico negro (1822-1853) | João Rosé Reis e Flávio dos Santos Gomes
A história de Rufino … não foi de maneira alguma típica. O interesse em narrá-la decorre de que a história não é somente feita do que é norma, e esta pode amiúde ser mais bem assimilada em combinação e em contraste com o que é pouco comum. Foi, aliás, o que buscamos aqui fazer: nosso personagem nos serviu de guia para uma história bem maior do que caberia na sua experiência pessoal. Ele foge com enorme regularidade de nosso campo de visão para dar lugar ao drama colossal da escravidão no mundo atlântico no qual desempenhou seu pequeno mas interessante, às vezes nefasto, papel. (p.360)
Ao estudarem a trajetória de Rufino José Maria, João José Reis, Flávio dos Santos Gomes e Marcus de Carvalho nos oferecem um extraordinário painel, no espaço micro e macrossocial, do que foi o tráfico transatlântico de cativos africanos para o império do Brasil no século XIX. Por certo o tema não é novo, mas a maneira como foi abordado, sem dúvida é muito inovador. Se houve, realmente, um considerável aumento no número de pesquisas sobre o assunto desde o final da década de 1980, que culminou com o primeiro centenário da Lei Áurea, além de se terem firmado novos marcos para a análise do sistema escravista e das políticas inclusivas no país, o tema do tráfico de escravos também recebeu revisão significativa, como indicam trabalhos como Em costas negras, de Manolo Florentino.
Nos Estados Unidos, assim como no Brasil e no Caribe, o tema do tráfico de escravos e do sistema escravista tem sido repensado, como indica Gerald Horne em O sul mais distante. Destoando dos estudos indicados, os autores deste O alufá Rufino deixam os dados quantitativos apenas como complemento, para abordarem a trajetória de um desses africanos que se tornou cativo nas Américas, onde alcançaria a alforria. Rufino tornou-se também traficante e dono de escravos, e nesse percurso transatlântico aprendeu a ler e escrever e cultivou a religião segundos as regras do Alcorão, praticando-a no Império do Brasil, motivo pelo qual foi preso. É bem presumível que a escolha do objeto deva-se não apenas à sua riqueza documental e exemplaridade, mas também às evidências que João José Reis trouxe com Domingos Sodré, um sacerdote africano. Contudo, diferentemente desse livro, em O alufá Rufino os autores aproveitam-se mais do que o personagem oferece para, a partir dele, reconstituírem certos nexos entre atores sociais que povoaram o mundo do tráfico de escravos. Circunstanciam os grandes comerciantes do período, descrevem suas principais embarcações e expõem como burlavam o bloqueio inglês nas costas do continente africano, como agiam quando eram capturados e que tipo de mercadorias levavam das Américas, para tornarem o negócio ainda mais lucrativo. Nesse ponto, habilmente os autores demonstram que quase toda a tripulação das embarcações fazia parte desse comércio, com caixas e rubricas próprias, como foi o caso de Rufino – embora até onde o acompanharam não tenham encontrado suas iniciais entre as mercadorias. Como cozinheiro, Rufino aproveitava o ensejo para comerciar doces – e até, provavelmente, comprar escravos – na África. Outra diferença entre os dois livros é que neste as afirmações seriam mais pautadas em suposições do que em comprovação documental.
Como mostram os autores, a “história dos africanos no Brasil do tempo da escravidão”, assim como a de Rufino, “em grande parte, é escrita a partir de documentos policiais” (p.9), que têm sido vasculhados de modo mais sistemático nas últimas décadas pelos pesquisadores brasileiros. Assim, com a história de Rufino os autores nos apresentam o perfil de alguns dos compradores de escravos no Império do Brasil, como João Gomes da Silva, homem pardo que exercia o ofício de boticário. Provavelmente, Rufino foi seu aprendiz por certo período, antes de seguir para Porto Alegre e lá ser vendido, porque é “possível que suas habilidades na cozinha viessem a ter alguma valia na preparação de remédios de origem animal e mineral” (p.31). No início da década de 1830, Rufino desce para o Rio Grande do Sul em companhia de seu senhor-moço, Francisco Gomes, que algum tempo depois o venderá para José Pereira Jardim, comerciante em Porto Alegre, onde “Rufino encontrou … alguma gente de sua terra escravizada ou já alforriada” (p.52). Em 1835, alguns meses após o levante dos malês na Bahia, ironicamente, Rufino alcançaria sua alforria pagando a quantia de 600 mil-réis.
Com a liberdade, Rufino passaria a figurar de volta na documentação, meses depois seguindo para o Rio Grande, “onde funcionava o governo legal antifarroupilha, talvez na companhia de seu ex-senhor, o desembargador José Maria Peçanha”, e lá “ficou … envolvendo-se com a comunidade muçulmana local até que, no final de 1838, teve lugar a ação policial em Porto Alegre contra aquela escola muçulmana” (p.69). Com isso, como sugerem os parcos documentos sobre ele, provavelmente seguiu para o Rio de Janeiro, entre o final de 1838 e o início de 1839, “e não três anos antes, como deixou transparecer no Recife em 1853, quando tinha boas razões para omitir a verdadeira história de sua saída do Rio Grande do Sul: preso por suspeita de conspiração, ele não podia revelar que suspeita semelhante já havia pairado sobre ele quinze anos antes” (p.70).
No Rio de Janeiro, “Rufino teria percebido que podia conseguir proteção e boa vida – além de dinheiro – alistando-se como trabalhador do tráfico” (p.81). Aqui, os autores demonstram como Rufino participará do comércio transatlântico de escravos, além de pormenorizarem o perfil de tripulantes dos navios negreiros e suas mercadorias (além das quantidades médias de escravos transportados na viagem de volta), e também circunstanciarem os principais organizadores desse mercado arriscado, em função da proibição inglesa, desde o início da década de 1830, mas, ainda assim, incomparavelmente lucrativo.
Nesse percurso, os autores nos apresentaram as histórias de vários personagens do tráfico da época, dos tripulantes aos chefes do comércio. Ao lado da Ermelinda, embarcação na qual Rufino trabalhou, eles indicam os destinos da escuna Paula, do patacho São José e da União (embarcação em que Rufino esteve antes de ir para a Ermelinda), quando estas foram confiscadas e julgadas pelos ingleses em Serra Leoa, juntamente com outras embarcações. Destaque-se ainda que havia muitas evidências, apesar da fiscalização inglesa, de que “traficantes e ingleses se irmanavam nos entrepostos do trato de gente”, pois “os verdadeiros ‘irmãos’ dos ingleses no terreno eram outros brancos, mesmo se traficantes, e não os negros traficados, de quem se diziam ‘irmãos’ os abolicionistas na distante Inglaterra” (p.157).
Embora não tenha sido condenada, apesar das tentativas na reunião de indícios que a apontassem como embarcação de tráfico negreiro – o que de fato era -, os prejuízos foram evidentes para a Ermelinda, sua tripulação e seus donos. Ainda que extraordinariamente rica a exposição dos autores, não há como em tão poucas linhas circunstanciarmos todas as ramificações e detalhes desse empreendimento e suas consequências, ao serem capturadas as embarcações e levadas até Serra Leoa, onde foram julgadas.
De Serra Leoa para o Recife, Rufino, como toda a tripulação e os comerciantes do trato de gente, teve de computar os prejuízos do empreendimento, não levado a cabo em função da captura inglesa nas costas do continente africano. Em Recife, Rufino se fixaria na rua da Senzala Velha, nome representativo para um ex-cativo e traficante, como ele. Os autores fazem uma primorosa análise do perfil e das características das práticas religiosas na Recife do século XIX, onde Rufino não estaria sozinho, haja vista a pluralidade étnica, cultural e religiosa ali presente. Como alufá, Rufino conhecia os meandros de sua religião, e a sua prática o ajudou a ultrapassar aquele período conturbado. Quando foi detido em meados de 1853 pela prática de rituais religiosos, Rufino manteve uma atitude serena, apesar de a “preocupação das autoridades pernambucanas” ter sido “atiçada não só porque sabiam que na Bahia os rebeldes possuíam papéis escritos em árabe como aqueles encontrados com Rufino, mas também porque, segundo as notícias que circularam o país, muitos dos rebeldes malês eram africanos libertos e nagôs como ele” (p.331). Dito isso, vale destacar ainda que “Rufino certamente desenvolveu uma visão cosmopolita de um mundo dificilmente alcançada pela maioria dos africanos e, menos ainda, dos brasileiros seus contemporâneos” (p.355), o que torna mais representativa sua trajetória.
Portanto, os autores nos oferecem a interpretação de um personagem rico e complexo, inserido no próprio núcleo do movimento dinâmico do tráfico de cativos do século XIX. Desse modo, tracejando pela microanálise (com a trajetória de Rufino) e pela macroanálise (com o estudo pormenorizado do tráfico de escravos), o texto também sugere avanços e traz inovações sobre o uso desses instrumentais metodológicos de análise das fontes e apresentação dos dados.
Diogo da Silva Roiz – Doutorando em História (UFPR), bolsista do CNPq. Departamento de História da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Campus Amambai. Cidade Universitária de Dourados. Caixa Postal 351. 79804-970 Dourados – MS – Brasil. E-mail: diogosr@yahoo.com.br.
REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus Joaquim de. O alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico negro (1822-1853). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 481p. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.31, n.61, 2011. Acessar publicação original
[IF]
“La Recuperación de Tecnologías Indígenas: Arqueología, tecnología y Desarrollo en los Andes” – HERRERA (RAP)
HERRERA, Alexander. “La Recuperación de Tecnologías Indígenas: Arqueología, tecnología y Desarrollo en los Andes”. Bogotá: Editorial Universidad de los Andes, 2009. Resenha de: JIMÉNEZ, Andrés Alarcón. Revista Arqueologia Pública, Campinas, n. 4, 2011.
Alexander Herrera é professor da Universidade de Los Andes, em Bogotá, Colômbia e este seu livro foi publicado em 2009 pela editora dessa instituição.
Herrera leciona sobre arqueologia; formou-se em universidades do Peru e da Inglaterra, sua linha de pesquisa está centrada, segundo CV institucional¹, em “paisagens culturais e identidade social”, “sociedades complexas dos Andes Centrais” e “tecnologia indígena” e possui várias publicações nestas áreas². Para escrever essa resenha foram lidas tanto a versão em pdf que está disponível on-line³, como o texto físico, enviado pelo autor ao LAP, Laboratório de Arqueologia Pública da Universidade Estadual de Campinas (a numeração das paginas é diferente em cada versão e, portanto, nas citações usadas nesse texto).
No texto a resenhar, logo de início Herrera aponta: Nuestra revisión de estas críticas no pretende ser una “arqueología del desarrollo” (Agrawal, 2002). Deseamos, más bien, mostrar los caminos por los que podría perderse una bien intencionada arqueología para el desarrollo, antes de abordar la recuperación de tecnologías indígenas como un posible camino para profundizar y ampliar las libertades de individuos latinoamericanos, específicamente, del campesinado andino.
Es decir, mostrar las vicisitudes de un desarrollo en el sentido propugnado por Sem (vide infra) (Herrera 2009:11).
A diferença que Herrera estabelece entre arqueologia do desenvolvimento e arqueologia para o desenvolvimento é parte da estrutura desse livro. É sua posição política. O que veremos é como o texto aponta corretamente, em termos de crítica, à noção de desenvolvimento, e como redefini-la para beneficio de pessoas que, no cotidiano, resultam atingidas física e culturalmente pelo uso e aplicação de modos de produção, e pela preservação e reprodução, sempre violenta, sempre em favor de um status quo, dos modelos socioeconômicos
Notas
¹ O CV dele pode ser consultado aqui: http://antropologia.uniandes.edu.co/cv.php/16/index.php
² http://antropologia.uniandes.edu.co/cv.php/16/index.php
³ http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co/descargar.php?f=vr/Tecnologias_ indigenas.pdf
Andrés Alarcón Jiménez – Antropólogo Universidade Nacional da Colômbia. Mestre e Doutorando do programa de História Cultural no IFCH-UNICAMP. Bolsista CNP. E-mail: qandalajim@yahoo.com
[MLPDB]
Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX | João José Reis
Estudos biográficos de indivíduos que experimentaram a escravidão – e mais ainda daqueles que conseguiram superá-la – representam um gênero narrativo de crescente interesse. Esses estudos se referem, sobretudo, ao complexo escravista do Atlântico Norte. As biografias de africanos e de seus descendentes permitiram perceber sob um novo ângulo, e de maneira mais humana, o movimento amplo da história, seja do tráfico de escravos, da ascensão e queda da escravidão no Novo mundo, da reconfiguração do Velho mundo pela colonização e pelo escravismo, enfim da formação de sociedades, economias e culturas atlânticas. É possível fazer dessas histórias pessoais uma estratégia para entender o processo histórico que constitui o mundo moderno e, em particular, as sociedades plantadas na escravidão que dele brotaram. Prospera, também no Brasil, o interesse por estudos biográficos desse tipo […] do sujeito que viveu na sombra do anonimato, de quem não se tem memória constituída, ou cuja memória pertence mais ao mito do que à história […]. (REIS, 2008, p. 315-6).
Com essas palavras, João José Reis justificou, no início do epílogo de seu novo livro Domingos Sodré, um sacerdote africano, o estudo que empreendeu para analisar a trajetória deste na Bahia escravista dos 800. Leia Mais
No sertão das minas: escravidão, violência e liberdade (1830-1888) – JESUS (HP)
JESUS, Alysson Luiz Freitas de. No sertão das minas: escravidão, violência e liberdade (1830-1888). São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: FAPEMIG, 2007. Resenha de: MEDEIROS, Euclides Antunes. História & Perspectivas, Uberlândia v. 23, n. 43, 15 dez. 2010.
Freedom, determinism, and causality – SOBER (FU)
SOBER, E. Freedom, determinism, and causality. In: E. SOBER, Core. Question in Philosophy: A Text with Readings. 5ª ed. New Jersey: Prentice Hall, p.293-302, 2008. Disponível em: http://criticanarede.com/eti_livrearbitrio.html. Acessado em: 06/03/2009. Resenha de: CID, Rodrigo. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.11, n.3, p.348-350, set./dez., 2010.
A primeira tese de Sober é que não podemos agir livremente, a não ser que o Argumento da Causalidade ou o Argumento da Inevitabilidade tenham alguma falha. O Argumento da Causalidade é o seguinte: nossos estados mentais causam movimentos corporais; mas nossos estados mentais são causados por fatores do mundo físico. Nossa personalidade pode ser reconduzida à nossa experiência e à nossa genética. E tanto a experiência quanto a genética foram causados por itens do mundo físico. Assim, o meio ambiente e os genes são os causadores de nossas crenças e desejos. E estes, por sua vez, causam o nosso comportamento. Como, em última instância, não escolhemos nem os nossos genes e nem o meio ambiente no qual adquirimos as nossas experiências, também não escolhemos o nosso comportamento: ele é causado por fatores além do nosso controle; isso nos faz não ser livres. E o Argumento da Inevitabilidade é exposto por Sober assim: se uma ação foi praticada livremente, então deve ter sido possível ao agente agir de outra forma. Mas, dado que as causas de nossas ações são as nossas crenças e desejos, não poderíamos ter agido diferentemente de como elas nos determinam a agir.
A primeira objeção apresentada no artigo é a de que há categorias de ações não livres, como as causadas por lavagem cerebral e por força da compulsão, e que essas diferem substantivamente das ações que são consideradas livres. A resposta de Sober é dizer que não há essa diferença substantiva, e que, por exemplo, a lavagem cerebral é, assim como a educação, apenas mais um tipo de doutrinação. Logo, se a lavagem cerebral nos priva da liberdade, a educação também o fará. E, no caso da compulsão, a única diferença entre as atitudes de compulsivos e não compulsivos seria no conteúdo do que cada um quer: os compulsivos querem coisas que normalmente não queremos – como, por exemplo, lavar as mãos 50 vezes por dia. Mas isso não é motivo para falarmos que eles são menos livres que os não compulsivos.
Depois de responder a objeção acima, Sober se pergunta se pensar as nossas ações como parte de uma rede causal é inconsistente com pensar que pelo menos algumas ações são livres. Sua resposta começa com uma explicação sobre causalidade, determinismo e indeterminismo e depois mostra que esses conceitos se conectam ao problema do livre-arbítrio. Sober vê a causa de um acontecimento como o conjunto de causas que permitem que um acontecimento ocorra. E ele se pergunta se essas causas, mais que permitem, determinam um acontecimento. Se aceitamos que, ao considerarmos todos os fatores causais relevantes para a ocorrência de um certo fenômeno, só um futuro é possível, estaríamos aceitando o determinismo; e se aceitássemos que uma descrição completa desses fatores causais permite a possibilidade de ocorrência de mais de um futuro, então estaríamos aceitando o indeterminismo.
A discussão entre determinismo e indeterminismo acaba se direcionando para a discussão sobre as partículas fundamentais da realidade: se elas forem determinísticas, então tudo que for composto dessas partículas será determinístico, e se elas forem indeterminísticas, assim também o será tudo que for composto dessas partículas. Assim, se as partículas fundamentais forem determinísticas, então os genes, o meio ambiente, as crenças, os desejos e o comportamento das pessoas serão determinísticos. Se tais partículas forem indeterminísticas, então os genes, o meio ambiente, as crenças, os desejos e o comportamento das pessoas não serão determinísticos, ou seja, esses fatores não determinam o comportamento, apenas tornam a sua ocorrência mais provável. Tal probabilidade, no indeterminismo, representa um aspecto genuíno do mundo, e, assim, o acaso é visto como parte da natureza do mundo. Enquanto, no determinismo, tais possibilidades apenas representam a nossa ignorância com relação à descrição completa do mundo ou de certo fenômeno.
Sober, quanto à relação entre determinismo e indeterminismo com a liberdade, nos diz que, se o determinismo nos tolhe a liberdade, o indeterminismo também o faz. Pois inserir o acaso como algo relevante na formação de pensamentos e desejos não nos tornará mais livres; afinal, o acaso também está fora de nosso controle. E o mesmo ocorreria para as nossas crenças e desejos: adicionar o acaso a eles não fará com que o nosso comportamento seja mais livre. O ponto principal da discussão, diz Sober, é o fato de coisas fora do nosso controle causarem o nosso comportamento, e não se somos ou não sistemas determinísticos.
De qualquer forma, para falarmos de sistemas indeterminísticos, teríamos que asserir que é possível haver causalidade num tal sistema. O exemplo que Sober nos dá de causalidade num sistema indeterminístico é assim: há uma roda de roleta, a qual supomos que é um sistema indeterminístico – rodar a roleta não determinará onde a bola irá cair – e que está conectada a uma pistola, de modo que, se sair zero na roleta, a pistola disparará e matará o gato que estava preso em frente à pistola. Suponhamos também que a roleta foi girada e saiu zero. Neste caso, fazer a roleta girar causou a morte do gato; no entanto, “fazer a roleta girar” é um sistema indeterminístico. Logo, é possível haver causalidade num sistema indeterminístico. Dessa forma, a causalidade não requereria o determinismo; ela seria um fato do mundo, mesmo que o determinismo fosse falso. Com isso, Sober quer mostrar que, embora não seja impossível haver um sistema indeterminístico com causalidade, isso não nos daria liberdade, tal como ser um sistema determinístico não daria. O ponto principal, como já foi dito, é a relação entre a liberdade e o fato dos comportamentos serem causados por coisas fora de nosso controle, e não a questão sobre se somos ou não sistemas indeterminísticos.
Sober termina seu artigo falando um pouco da distinção entre determinismo e fatalismo: o primeiro assere que as pessoas têm destinos que não podem ser modificados, independentemente do que elas façam no presente; e o segundo nos diz que é o presente que determina o futuro, ou seja, ele diz que dado o conjunto de crenças e desejos de um agente, seu comportamento será determinado por eles, mas, ao mesmo tempo, permite que, se o conjunto de desejos e crenças fosse diferente, o comportamento seja diferente. O fatalismo nega que nossos desejos e crenças sejam relevantes para o nosso comportamento e que o nosso comportamento seja relevante para o que ocorre. Aceitar que podemos influenciar o que ocorre, diz-nos Sober, é negar o fatalismo, e não o determinismo.
O problema da tese de Sober é que (i) não é tão clara a diferença entre determinismo e fatalismo, se aceitamos o naturalismo, e que (ii) seus argumentos não provam que seja possível haver causalidade num sistema indeterminístico. Penso que (i), pois se um determinismo completo da realidade for verdadeiro ou se o fatalismo for verdadeiro, então desde o início de todas as coisas – ou desde sempre – o destino de cada objeto já estava traçado. E sobre (ii), penso que não é possível supor que a roleta do exemplo de Sober seja um sistema indeterminístico sem cair num regresso ao infinito ou em petição de princípio. Pois, se queremos provar que há causalidade num sistema indeterminístico, não podemos de início pressupor que um sistema determinístico, tal como uma roleta, seria um sistema indeterminístico, pois é a possibilidade de existência de um sistema indeterminístico que deve ser provada antes de falarmos de causalidade num tal sistema. E sobre o regresso, a pressuposição de que precisamos de uma roleta para indeterminar a situação mostra que, para pensarmos que a própria roleta é indeterminística, devemos pensar que há outra coisa a tornando indeterminística – coisa que nos faria ter de pressupor a existência de outra roleta. Mas, para fazer dessa última roleta um sistema indeterminístico, precisaríamos ainda de outra roleta, e assim por diante.
Entretanto, concordo com Sober que o ponto principal na discussão sobre a liberdade é a causalidade, e não a luta entre determinismo e indeterminismo, pois ambos – se um sistema indeterminístico for possível – nos removem igualmente a liberdade. O que me parece que devemos debater – e que também parece a Sober – é se é verdade que “se causas fora de nosso controle determinam nossas ações, então não somos livres” e “se é possível que as escolhas estejam fora dos processos causais”, ou seja, se o argumento da causalidade é inválido.
Rodrigo Cid – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica Largo de S. Francisco de Paula. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: rodrigorlcid@ufrj.br
[DR]
Le devenir actif chez Spinoza – SÉVÉRAC (CE)
SÉVÉRAC, Pascal. Le devenir actif chez Spinoza. Paris: Honoré Champion Éditeur, 2005. Resenha de: PAULA Marcos Ferreira de. Como tornar-se livre e feliz. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n 22, 2010.
Lançado na França há cinco anos, Le devenir actif chez Spinoza, de Pascal Sévérac, é uma dessas obras de comentário que se tornam “referência obrigatória” assim que são publicadas. O tema de que trata Sévérac toca o cerne da filosofia de Espinosa: como “tornar-se ativo”? Pergunta que, em Espinosa, pode ser perfeitamente reescrita assim: como afinal chegamos a ser livres e felizes? É por isso que devenir, aqui, é melhor traduzido por “tornar-se”, em vez de “devir”, já que o tema do livro não é outro senão o processo mesmo de conquista da felicidade e da liberdade. Há contudo, como veremos, um lugar da obra em que o termo pode ser traduzido como devir.
A importância das paixões alegres
Um pouco na esteira de Deleuze, Sévérac põe a “alegria passiva” no centro do problema do “torna-se ativo”. De fato, pergunta-se Sévérac, pode-se ser feliz, isto é, potente, em meio a uma passividade que é constitutiva, já que somos parte da Natureza em relação com outras partes? Como pensar a passividade ou impotência numa filosofia que propõe uma ontologia da afirmação absoluta? São problemas éticos e ontológicos que poderiam ser focalizados num só ponto: a existência de alegrias passivas. De um lado, elas mostram que não se pode identificar passividade e sofrimento; de outro, elas deixam ver há um paradoxo: enquanto alegria é aumento da potência, mas enquanto paixão é negação da potência; paradoxo que, porém, não chega a ser uma contradição, já que a alegria passiva não é ao mesmo tempo aumento e diminuição, mas aumento e negação que só podem ocorrer em momentos afetivos diversos, e por causas que não dizem respeito à alegria em si mesma. Como se poderia, com efeito, distinguir subjetivamente a alegria passiva da alegria ativa? A diferença objetiva, como bem lembra Sévérac, não é um problema: somos causa parcial do afeto de alegria, num caso, e causa total no outro. Mas se não há diferença, o que explica a passagem? Qualquer leitor de Espinosa sabe que não se trata de dever moral: não somos obrigados a buscar a felicidade, por uma determinação extrínseca à nossa própria experiência afetiva. A questão, portanto, não é o que se deve ou não fazer, mas o que se ganha e o que se perde ao se passar da alegria passiva à ativa. Assim, como indica a leitura atenta que Sévérac faz de Espinosa, é preciso perguntar como se explica o problema, considerando-se a realidade efetiva do desejo. E aqui questão do livro ganha toda a sua força e coerência, indo ao cerne do problema ético: como afinal chegamos a desejar, no interior mesmo da vida passiva, o tornar-se ativo? É assim que a abordagem do problema do “tornar-se ativo” ou da conquista da felicidade passa pela consideração, por um lado, daquilo que na própria vida passiva nos impede de ser ativos, mas, por outro lado, daquilo nela justamente nos leva a desejar o tornar-se ativo. Vê-se então que não saímos do campo das paixões ao explicar a passagem à atividade, porque é aí que o problema se explica.
A estrutura da passionalidade admirativa
E a explicação de Sévérac nos traz uma contribuição original, ao enfatizar o papel de um afeto em particular: a admiratio. A admiração é de fato um afeto bastante particular na teoria das paixões de Espinosa: ela mantém a mente fixada numa coisa através de uma “imaginação singular” (singularis imaginatio) que não tem nenhuma conexão com as outras coisas (Spinoza 2, Def. dos Afetos 4, p. 241). Dada assim a sua estrutura particular, a admiração é o afeto que, segundo Sévérac, oferece o maior obstáculo ao processo liberativo. O problema maior é que, afirma o autor, muitos afetos passivos não comportam a mesma estrutura da admiração, e é por isso que a esses afetos nós tendemos a aderir tenazmente, isto é, de forma obessiva (fixação afetiva).
A fixação e a obsessão nos distraem de outros bens que poderiam aumentar nossa capacidade de agir e pensar. Elas limitam nossa potência. Riqueza, libido e honras são assim, na leitura de Sévérac, bens que nos distraem (o termo de Spinoza é distrahitur), mas a distração não é ela mesma um sofrimento, uma tristeza – ou seja, uma diminuição da atividade de pensar: ela é um impedimento dessa atividade, um obstáculo, uma barreira. Nessa medida, escreve Sévérac: “ (…) a distractio, a qualquer bem que ela se reporte, não envolve nenhum sofrimento em si mesma. Ela consiste de fato em um impedimento para aceder ao verdadeiro bem, mas esse impedimento não é sentido como tal: ele não é sentido como um mal (Sévérac 1, p. 235). A admiração, portanto, impede a potência sem necessariamente entristecer. Eis por que os afetos que ocorrem sob a estrutura da admiração podem nos manter fixados e obsedados num determinado bem, numa determinada coisa ou alegria, limitando nossa capacidade de agir e pensar. Se o tornar-se ativo é a aptidão para o “múltiplo simultâneo”, para usar uma expressão de Chaui, então o maior problema é o pensamento ou afeto obsessivo. É portanto sob a estrutura da admiração que um afeto adere tenazmente. E o afeto tenaz é justamente o grande inimigo a ser combatido, na interpretação de Sévérac. As teorias da admiração, do afeto tenaz e da distração levam a uma outra: a “Teoria da ocupação da mente”, assunto de todo o capítulo IV do. Todas estas teorias estão intimamente interligadas, em Sévérac: a admiração é a estrutura afetiva que leva à fixação em certos afetos, aos afetos que aderem tenazmente; com isso, causando um desejo excessivo e nos fazendo admirá-los sem cessar, nós somos distraídos a tal ponto que não podemos pensar noutra coisa, e portanto não podemos pensar em outro modo de vida melhor, o que em Espinosa significa não pensar num “modelo de natureza humana”; assim, a mente então pode estar ocupada, ou com o que nos distrai, ou com o que nos permite pensar no novum institutum. É da distração, e da fixação num “modelo de natureza humana”, esses dois modos por excelência de ocupação da mente sob as paixões, que trata o capítulo IV.
A idéia de modelo é importante na argumentação de Sévérac. Trata-se de pensar, ainda no campo próprio das paixões, um novo modo de vida. É portanto ainda no campo do imaginário que o tornar-se ativo se impõe. Se tudo se passa no universo passional, ser salvo é ser salvo através do corpo: não podemos, só pela razão, abandonar nossas alegrias. É que a negação da potência não significa necessariamente tristeza, como o demonstra a alegria passiva, mas antes polarização dos afetos, fixação e obsessão afetiva. Mas justamente toda a dificuldade em tornar-se ativo está em que a conquista da felicidade deve ser realizada em meio à passividade alegre, em que o problema é, especificamente, o afeto tenaz. É sob o afeto tenaz que somos dominados pelas paixões, e é esse o maior obstáculo ao devir ativo. O pensamento de um “modelo de natureza humana”, tal como aparece no Tratado da Emenda do Intelecto e no prefácio da Parte IV da Ética, exemplifica a utilidade da imaginação. Para Sévérac, o devir ativo exige a substituição de um “imaginário da obsessão” por um “imaginário da salvação”.
Assim, as paixões que nos dominam devem ser combatidas no próprio campo da passividade: forjamos um “modelo de natureza humana” que é ele mesmo um objeto admirado e sobre o qual nos fixamos de algum modo. Há portanto, ainda no campo da imaginação, uma mudança de idéia, isto é, de afeto. Mas se toda obsessão se dá, como toda paixão, sob a estrutura da passionalidade admirativa; se todo imaginário fixo é “imaginário admirativo”, de que modo o imaginário do modelo não nos manteria fixos numa outra ilusão? A resposta está em como se opera uma tal mudança. E aqui Sévérac não hesita em nos remeter à idéia de que tudo se passa num campo de forças: não basta que uma idéia seja verdadeira para nos livrar de uma paixão, é preciso que ela nos seja um afeto mais forte e contrário aos afetos a serem combatidos. A própria racionalidade encontra então seus meios de se afirmar contra os amores excessivos, exclusivos e fixadores, pela constituição de um imaginário que a toma por objeto (Sévérac 1, p. 434).
o eterno devir ativo
O livro de Sévérac é extenso e sua análise é minuciosa. O leitor tem a impressão de que o autor tenta resolver todos os problemas que aparecem no desenrolar da argumentação, de que todas as questões devem ser enfrentadas sem economia (na medida do possível) de tempo e espaço. Não cabe aqui tratar de todas elas. Mas uma questão importante que Sévérac teve que enfrentar, evidentemente, é a do problema da eternidade em Espinosa. Aqui talvez o termo devenir possa ser melhor traduzido por devir. É o problema do “devenir actif éternel”: como se poderia falar de um devir ativo numa metafísica em que nossa participação no Real, na Natureza e na Substância é proclamada eterna? Ou seja, se somos já de algum modo eternos, como pensar um devir ativo, ou um vir-a-ser feliz? Em outras palavras, o problema da conquista da felicidade, o tornar-se ativo, se colocaria então em termos da conquista de nós mesmos, daquilo sempre fomos mas não sabíamos que éramos. É o assunto do último capítulo do livro.
A eternidade em Espinosa parece pôr em questão a possibilidade do tornar-se ativo como conquista através de um “supremo esforço”, summum conatus. A eternidade é uma descoberta ou uma revelação? Uma invenção ou uma produção? (Sévérac 1, p. 417). O escólio da proposição 34 da Parte V da Ética afirma que os homens têm consciência de sua eternidade, mas a confundem com a imortalidade. Para Sévérac, há duas maneiras possíveis de ler essa afirmação: ou bem há uma eternidade em si que não é por si (ela está lá, dada, mas não temos – a maior parte dos homens – consciência dela); ou bem a crença na imortalidade é uma consciência da eternidade, mesmo que seja uma idéia confusa, e neste caso não há eternidade que não seja ao mesmo tempo em si e para si. O escólio da proposição 23 da Parte V parece concordar com essa segunda interpretação, já que afirma que toda mente é em parte eterna, e, mais do que isso, afirma que nós “sentimos e experimentamos” ser eternos.
Mas o problema da eternidade, diante do tema do tornar-se ativo, aparecerá com toda clareza no escólio da proposição 31 do De libertate, onde Espinosa afirma que, embora só agora estejamos certos da eternidade da mente, consideraremos como se só a partir de então ela começasse a o ser, como se a eternidade da mente tivesse tido um começo no momento em que compreendemos que ela é eterna em parte. Por esse escólio Sévérac afirma que podemos diferenciar o fato de a mente ter uma parte eterna do fato de temos a certeza disso (Sévérac 1, p. 423). Para ele, é justamente porque nos tornamos eternos, porque começamos a experimentar o amor intelectual, que nós fazemos como secomeçássemos a ser eternos (Sévérac 1, p. 424). Contudo, assim como, para formar uma idéia verdadeira do círculo forjando o movimento de um semi-círculo em torno de seu centro, é preciso já ter uma idéia de círculo, assim também, para formar a idéia verdadeira de nossa eternidade é preciso forjar a idéia de seu começo. Porque, segundo o autor, é a ficção do devir eterno que engendra a certeza do devir eterno, da eternidade, com o que nos tornamos verdadeiramente mais e mais eternos:
“Os comentadores sem dúvida insistiram bastante sobre o fato de que nos é preciso ser eterno para em seguida tornarmos-nos certos dessa eternidade; é preciso quanto a nós insistir sobre o fato de que só podemos nos tornar certos de sermos eternos se engendramos a partir da ficção de um devir essa certeza, e portanto essa existência eterna” (Sévérac 1, p. 425).
É então a ficção do devir eterno que nos permite ter a certeza de nossa eternidade (Sévérac 1, p. 426), e é a idéia fictícia do devir ativo – o que ele chama de “ficção verdadeira” – que eliminará contudo a idéia de um engendramento da eternidade: “…a ficção do devir faz vir efetivamente o que retrospectivamente não pode mais ser concebido adequadamente em termos de devir” (Sévérac 1, p. 427). Assim a passagem à atividade é uma idéia fictícia que precisa ser forjada. Não há de fato passagem: o que há é um esforço que vai de uma atividade reduzida, porque limitada pelas potências exteriores, à uma atividade expandida, porque determinada antes de tudo pela atividade interna da mente na produção dos afetos.O devir ativo eterno não é portanto inexplicável. Ele se deixa apreender no momento mesmo em que se realiza. No ponto onde tudo pareceria problemático – de onde um devir eterno se já estamos necessariamente na eternidade? –, tudo se resolve, segundo Sévérac, pois no momento mesmo em que nos tornamos eternos, já não podemos mais nos pensar como não eternos (Sévérac 1, p. 435). Sévérac nos fala assim em processo eterno de engendramento da certeza da eternidade. Partindo da passividade, cabe-nos engendrar a atividade eterna, e é a isso que nos conduz nosso “supremo esforço”, que recorre à ficção de nosso “nascimento na beatitude”, mas essa ficção “faz advir o que retrospectivamente não pode mais ser concebido senão como eterno”. O devir ativo reabsorve todo o passado, que se torna ele mesmo eterno, sendo concebido em sua eternidade. Os estudiosos de Espinosa não deixarão de encontrar, nessas leituras de Sévérac, os motivos de um grande prazer intelectual.
Referencias
- SÉVÉRAC, Pascal. Le devenir actif chez Spinoza. Paris: Honoré Champion Éditeur, 2005.
- SPINOZA, B. de. Ética. Tradução de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
Marcos Ferreira de Paula – Professor de filosofia do Departamento de Saúde, Educação e Trabalho da Unifesp-Santos.
Textos sobre poder, conhecimento e contingência – SCOTUS (V)
SCOTUS, João Duns. Textos sobre poder, conhecimento e contingência. Tradução, introdução e notas de Roberto H. Pich. Porto Alegre: Edipucrs/Edusf, 2008, 508 p. (col. Pensamento Franciscano, XI). Resenha de: LEITE, Thiago Soares. Veritas, Porto Alegre v. 54 n. 3, p. 202-203, set./dez. 2009.
Inserindo-se nas celebrações do VII centenário de falecimento de João Duns Scotus, vem a lume a obra João Duns Scotus. Textos sobre poder, conhecimento e contingência, compondo o décimo primeiro volume da já tradicional coleção Pensamento Franciscano.
Após haver traduzido o Prólogo da Ordinatio (JOÃO Duns Scotus. Prólogo da Ordinatio. Porto Alegre: Edipucrs, 2003, 456 p. – col. Pensamento Franciscano, V) e a questão 15 do livro IX das Quaestiones super libros metaphysicorum Aristotelis (Veritas 53/3 (2008), p. 118-57), o Prof. Dr. Roberto Hofmeister Pich (PUCRS) apresenta sua tradução das três versões dos textos de Duns Scotus sobre os temas “poder”, “contingência”, “conhecimento divino” e “liberdade”, a saber: Lectura I, d. 39-45; Ordinatio I, d. 38-48 (no lugar destinado à d. 39, encontra-se a tradução do apêndice A – Segunda parte da trigésima oitava distin203 ção e trigésima nona distinção) e Reportatio parisiensis examinata I, d. 38-44.
Como é sabido, Lectura I, d. 39-45 constitui-se na parte final do comentário ao livro primeiro das Sentenças de Pedro Lombardo, elaborado por Scotus com a finalidade de docência em Oxford. Já Ordinatio I, d. 38-48 representa a “ordenação” dos textos de Lectura com o objetivo, diríamos hoje, de publicação. Nesse sentido, os textos de Ordinatio seriam a revisão que Scotus iniciara em Oxford e continuara em Paris. Por fim, o terceiro bloco de textos traduzidos (Reportatio parisiensis examinata I, d. 38-44) reporta as anotações de aula de alunos e discípulos que ouviram as preleções de Scotus em Paris e, por ele, examinadas e aprovadas.
Tal coletânea consiste em um projeto único no mundo e tornar-se-ia um cânone no meio scotista mundial caso os textos latinos acompanhassem a tradução, o que caracteriza um primeiro demérito da edição. Pode ser considerado um segundo demérito a ausência de uma revisão mais detida.
Não obstante os problemas acima citados, o volume está repleto de méritos. O primeiro é o já citado fato de, nele, se encontrarem traduzidas as três versões dos textos de Scotus. O leitor que não esteja familiarizado com as obras da Scotus poderá se situar na coletânea de textos apresentada através do Prefácio, escrito por Pich.
Ao Prefácio, segue-se o segundo mérito do volume, a saber: um extenso estudo sobre os temas “contingência” e “liberdade”, no qual Pich, para explicar a tese do Doctor Subtilis sobre o indeterminismo da vontade, realiza uma descrição do que denomina “modo de causalidade do ato da vontade” e “modo de realidade do ato volitivo”. É também digno de nota a bibliografia apresentada ao fim do estudo por ser, ao que tudo indica, a mais atualizada sobre o tema.
Um terceiro mérito consiste na apresentação da estrutura de cada distinção traduzida. Tal modus operandi, que já se tornou característico das traduções de Pich, permite uma rápida visualização do modo como o assunto será desenvolvido por Duns Scotus.
Quanto à tradução, a competência de Pich é inegável. Seu conhecimento sobre os temas abordados por Scotus se faz ver ao longo da tradução, de modo que, por muitas vezes, o tradutor transfere uma clareza tal ao texto que seu original latino carecia. A fluidez da tradução é tamanha que um leitor sem acesso aos originais latinos dificilmente entenderá o porquê Scotus ser conhecido como o Doctor Subtilis.
Enfim, trata-se de uma excelente homenagem a esse filósofo tão pouco conhecido e estudado em nosso país.
Thiago Soares Leite
Acessar publicação original
Black townsmen: urban slavery and freedom in the eighteenth-century Americas – DANTAS (RBH)
Há cerca de três décadas os estudos comparativos das várias regiões do Novo Mundo consideradas como escravistas andam em descrédito entre a maioria dos historiadores especialistas no tema. A renovação historiográfica, iniciada nos Estados Unidos no final da década de 1960, julgava como simplista e inadequada a abordagem que enfatizava as diferenças entre as sociedades escravistas ibero-americanas e anglo-saxônicas, particularmente no que diz respeito à história das suas instituições e culturas distintas.1 Da mesma forma, rejeitava como mecanicistas as análises que insistiam nas semelhanças, naquelas mesmas sociedades, da natureza da escravidão como um sistema de exploração econômica.2 Já a mais conhecida tentativa revisionista de redirecionar os estudos comparativos para a problemática das classes constituintes dos regimes escravistas3 acabou sucumbindo, apesar da matriz marxista compartilhada, diante da crescente influência de E. P. Thompson sobre os estudiosos da escravidão e da consequente preocupação em desvelar o escravo como agente de sua própria história. Desde então, vem prevalecendo a tendência de concentrar os esforços em pesquisas bem delimitadas, seja pelas temáticas,4 seja em termos regionais,5 tendência essa claramente reforçada pela progressiva consolidação das várias correntes da História Social da Cultura. E, é inegável que o resultado tem sido o enriquecimento quase que imensurável da produção em torno da escravidão moderna, erguendo-a a uma posição de grande destaque na historiografia brasileira, caribenha, norte-americana e, de maneira menos impactante, na da América Hispânica continental. Ao mesmo tempo e correlato à crescente especialização dos estudos do escravismo, vem-se assistindo ao surgimento da História da África, cada vez mais aprofundada e nitidamente vinculada aos rumos da História Mundial. Leia Mais
Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX – REIS (RBH)
REIS, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 461 p. Resenha de: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 29 no. 57, JUN. 2009.
João José Reis é merecidamente um figurão da historiografia brasileira. Seus livros, desde o pioneiro Rebelião escrava no Brasil, modificaram o estado da arte dos estudos sobre escravidão, sobre rebelião escrava e movimentos sociais, não só no país, mas internacionalmente. Esse pesquisador meticuloso e apaixonado, esse amante dos arquivos, das bibliotecas, dos documentos e dos livros acaba de lançar mais uma obra, um livro já saudado efusivamente em várias resenhas de especialistas no campo dos estudos sobre escravidão, no campo da chamada História Social: Domingos Sodré, um sacerdote africano. O livro se propõe a fazer um exercício de micro-história, pois toma como fio condutor da análise a vida de um africano liberto que viveu na Bahia do século XIX, e a partir da biografia desse ex-escravo que se tornou uma importante figura entre a população africana da cidade, desse sacerdote preso por ser acusado de práticas religiosas heréticas e diabólicas, o autor traça um amplo panorama das intrincadas relações sociais, das relações de poder, das atividades econômicas e culturais vivenciadas pelos libertos, por essa parte da população que, vivendo nas fímbrias do sistema escravista, sendo resultado dele, mas em muitos aspectos a ele se opondo, é pouco levada em conta quando se trata de contar a história da escravidão brasileira. A trajetória do liberto, do papai Domingos Sodré, que provavelmente nasceu em Onim ou Lagos, na atual Nigéria, por volta do ano de 1797, que morreu em 1887, com estimados noventa anos de idade, que deve ter desembarcado na Bahia, como escravo, entre os anos de 1815 e 1820, até por sua longevidade, por ter atravessado quase todo o século e por ter transitado entre as condições de escravo e de homem livre, permite pensá-lo como um sujeito encruzilhada, sujeito que foi se constituindo e se transformando à medida que transitava por distintos territórios sociais e culturais, que elaborou e vestiu distintas máscaras identitárias, que encarnou distintos lugares de sujeito, que entrou em conflito e teve de negociar com distintas forças e personagens sociais, que conviveu, fez parte e recorreu a distintas instituições sociais, tanto formais como informais, que fez parte tanto do mundo dos pretos, da cidade negra, quanto dos brancos, da cidade oficialmente dita branca e aristocrática. Através de sua vida, João Reis tentou acompanhar as pistas que levam àpresença e àprática do candomblé, na Bahia do século XIX, bem como dar conta da dura repressão que ele sofria, em dados momentos, por parte das autoridades policiais e judiciais, e como, ao mesmo tempo, essas práticas conseguiam resistir e sobreviver por terem, muitas vezes, o apoio de membros das elites e até mesmo das próprias autoridades que deviam combatê-las.
No que tange à contribuição deste livro para o estudo da escravidão, da liberdade e do candomblé, outros autores já se manifestaram e não sou eu o mais habilitado para avaliá-la, já que não sou especialista no tema, nem milito no campo da História Social. Os motivos que me levam a resenhar esta obra, a indicá-la, portanto, como leitura obrigatória para todos os historiadores, independentemente do tema com que se ocupem, do campo da disciplina em que militem, é que a considero uma obra exemplar do que seriam, hoje, as regras que presidem a operação historiográfica; considero-a uma obra exemplar na observância dos procedimentos que dariam estatuto científico ao nosso ofício, mas também a considero exemplar no que tange aos impasses, aos dilemas, aos debates acalorados que dividem, nestes dias que correm, a comunidade dos historiadores. Assim como aborda um sujeito encruzilhada, ela é, também, uma obra onde as encruzilhadas em que está colocado nosso ofício emergem com nitidez. Ela é uma obra exemplar do caráter narrativo da historiografia, do papel que a narrativa desempenha na elaboração e inscrição da história; é obra exemplar das artes e artimanhas que são requeridas de todo historiador, na hora que tem de transformar a pilha de documentos compulsados, as inúmeras pistas e rastros encontrados, num enredo que faça toda essa poalha, essa dispersão, fazer sentido; ela é exemplar do uso do que alguns preferem chamar de imaginação histórica, para não dizer o uso da ficção na escrita da história, ficção entendida não como o oposto da verdade ou da realidade, mas como a capacidade poética humana de dotar as coisas de sentido, de imaginar significados para todas as coisas, sentidos que são sempre, em última instância, uma invenção humana, já que as coisas não trazem em si mesmas um único significado, nem gritam ou dizem o que significam. As evidências nem falam, nem são evidentes; elas são levadas a dizer algo por quem as diz, elas são levadas a serem vistas por quem as põe em evidência.
Em várias passagens do livro, o caráter lacunar das fontes, a falta de documentos sobre a vida de Domingos Sodré e o silêncio dos arquivos sobre a vida dos de baixo obrigam João Reis a imaginar, a ficcionar, a tentar adivinhar como poderia ter sido, o que poderia ter acontecido com o papai Sodré e seus companheiros de condição na cidade da Bahia, em tal ano e em tal situação. Ele não se contém em imaginar que papai Domingos poderia ter estado em dado lugar, conhecido alguns de seus vizinhos, participado de dadas cerimônias, conhecido algumas autoridades, tivesse tomado algumas medidas, sabido de dados eventos e notícias, sempre fazendo questão de deixar claro, nesses momentos, como pesquisador sério e honesto que é, que se tratava de viagens ou visagens de sua própria lavra. Imaginação, ficção que na historiografia é limitada pelas próprias informações que se tem, pelo conhecimento que o historiador tem do período que estuda, por aquilo que sabe sobre o funcionamento da sociedade e da cultura que está estudando. Imagina-se o provável, ficciona-se o possível de ocorrer naquele tempo e lugar, com as pessoas que vivem em dada situação social e segundo dados códigos culturais. No entanto, sem essa capacidade de imaginar, sem a habilidade de criar, de inventar sentidos e significados para os restos do passado que chegam até o presente, a historiografia seria impossível. O próprio João Reis admite o parentesco existente entre o historiador e o adivinho. O historiador, às vezes, também tem que ser um papai, tem que jogar os coloridos búzios das significações que acha possível serem dadas a um evento, tem que exercer suas artes divinatórias, deixar a intuição trabalhar, estabelecer ligações entre os eventos que não estão explicitadas na documentação. Afinal, faz certo tempo que os historiadores sabem que os documentos não dizem tudo e que eles são capazes de provar as teses mais díspares, dependendo dos significados que a eles se atribuem, da leitura que deles se faz.
No epílogo do livro, João Reis vai fazer uma afirmação que é muito reveladora da própria consciência que o autor tem da importância da narrativa, da construção do texto para a versão da história que constrói. Estamos muito longe, aqui, de certa visão ingênua de que é possível estabelecer uma versão definitiva dos eventos e que essa seria a verdadeira versão do passado. O autor vai afirmar que se as informações que se tinha sobre um figurão popular como Domingos Sodré eram poucas e esparsas, o que se sabia sobre a vida de Maria Delfina da Conceição, que foi sua esposa por cerca de dezenove anos, era ainda menos expressivo. Essa mulher que acompanhou os passos, que dividiu a vida, a casa e possivelmente a crença com o papai, deixou pouquíssimos rastros de sua passagem pela história. Se soubéssemos mais sobre ela, diz Reis, o enredo dessa história poderia ser diferente. Nessa passagem, o autor admite, explicitamente, que a história que acabou de contar tinha um enredo: ela foi enredada, tramada, os eventos foram interligados por uma atividade narrativa, por uma arte de contar história. Ao contrário do que alguns historiadores ainda supõem, o enredo da história de Domingos não foi descoberto, encontrado pronto nos arquivos pelo historiador baiano. Ele não está no próprio passado, embora este seja uma referência para criá-lo, embora pequenos pedaços de enredos, pequenas tramas, também narrativas, também escritas tenham chegado até nosso pesquisador. O que Reis está afirmando é que o enredo foi feito no presente, por ele, com as informações que encontrou. Se ele afirma que o enredo poderia ser outro, não é que a história em si mesma pudesse ser outra. Sabemos que o passado não pode mais ser alterado pelo simples fato de que passou, mas o enredo poderia ser outro, pois, de posse de outras informações, de informações sobre a vida da companheira de Domingos, ele poderia escrever a história que escreveu de outro modo, o livro poderia ser diferente do que este que está publicado. A estratégia narrativa podia ser outra, outras as personagens, outras as ligações entre os eventos, outras as tramas, outras as explicações e significações.
O livro Domingos Sodré, um sacerdote africano é uma obra modelar no uso das artes, artimanhas e mandingas de nosso ofício, por isso deve ser bibliografia obrigatória nos cursos de metodologia da pesquisa histórica. Nele estão presentes todas as regras que presidem a operação historiográfica e que permitem que nosso ofício reivindique o estatuto científico: a narrativa mediante documentos; a pesquisa ampla e meticulosa de arquivo, onde o autor expõe nosso parentesco com os detetives; a crítica rigorosa das fontes; o concurso de uma ampla bibliografia na área de estudos a que pertence, incluindo desde obras clássicas, até obras mais recentes, trabalhos sequer publicados; um domínio fino da teoria e da metodologia faz com que ela sustente a análise, esteja presente na carpintaria, na estruturação do texto e de todos os passos da pesquisa, sem que precise aparecer atravancando o texto, em digressões que costumam ser xaroposas e pedantes. Essa leveza, essa fluência, essa beleza do texto, que já fez de Reis um autor premiado, é parte desta outra dimensão inseparável da operação historiográfica, aquilo que Certeau nomeou de escrita, a dimensão artística de nosso ofício, a dimensão ficcional que a narrativa histórica convoca. O bom livro de história, o clássico em nossa área não se faz apenas às custas do tema que se escolhe e da pesquisa documental que se faz, pois a história só existe quando escrita, é no texto que ela se realiza, bem ou mal. Afirmo, e talvez ele nem considere isso um elogio, que grande parte do sucesso dos livros de João Reis se deve à forma como são escritos, à sua habilidade narrativa, a despeito de serem todos fruto de exaustiva pesquisa e do estudo metódico e rigoroso de temas inovadores, muitos deles pouco tratados ainda.
João José Reis possui uma consciência da centralidade da narrativa em nosso ofício, como poucos. Seus livros explicitam as estratégias narrativas que escolheu. Domingos Sodré é um livro que, se fôssemos adotar as sugestões de Hayden White, diríamos vazado no enredo romanesco. É uma trama em que embora Domingos opere como uma metonímia de seu tempo, bem a gosto da micro-história italiana, que inspira teoricamente e metodologicamente o livro, ele é descentrado e disperso por uma dezena de outros personagens que vêm ocupar o seu lugar na trama sempre que as informações sobre ele escasseiam. João Reis deixa explícito que irá adotar na narrativa esse procedimento analógico. Como num romance, o livro de Reis não é um livro de teses, embora defenda algumas ideias, aliás faça algumas conclusões, mas estas não aparecem explicitadas, e sim implícitas, imanentes à trama que ele arma. Ele convoca a nós, leitores, a que cheguemos às conclusões antes que ele as exponha, a partir do enredo que ele elabora. Ele homenageia a inteligência dos leitores, jogando no tabuleiro os seus Fás para que a gente os decifre, para que leiamos a mensagem que quer nos fazer chegar. Em vários momentos da obra, a metonímia Domingos é substituída por outros personagens que atuam como se fossem metáforas do velho sacerdote, outros personagens ocupam o lugar desse sujeito e o dispersam, fazendo-o aparecer com diferentes rostos, em diferentes corpos, em diferentes situações, para em seguida, em outro movimento, tal como ocorre com o Menocchio de Carlo Ginzburg, em quem parece se inspirar, deixar de ser um ser singular, único, para ser um sujeito exemplar, um sujeito resumo de seu tempo, de sua sociedade e de sua cultura. Sua figura, que se dispersa num primeiro momento, no segundo momento unifica, homogeneíza, encarna a situação do liberto na Bahia, no século XIX. Em ambas as situações o caráter ficcional do procedimento é notório, para o mau humor do historiador italiano, que não cessa de fazer diatribes azedas contra a presença da ficção no ofício do historiador. Mas sem a ficção não haveria trama, não haveria enredo, não haveria compreensão, não haveria saber histórico. Tanto no momento em que outros libertos vêm agir, se comportar, falar, como Domingos, tanto no momento em que o autor supõe que se um liberto realizava tais práticas, o papai como um liberto que era também possivelmente fazia a mesma coisa, passava pela mesma situação, quanto no momento em que o sacerdote singular, excepcional, tão único que chegou a merecer biografia escrita por outro figurão da cidade, torna-se um representante de todos os libertos, que sua vida se torna similar à de todos de sua condição, que suas práticas de crença se tornam análogas às de outros praticantes desses rituais, é a imaginação, é a ficção, é a capacidade de dar sentido, de raciocinar por imagens, por figuras, de estabelecer configurações, por parte do historiador, que está agindo. É o historiador João Reis que está produzindo esse enredo, essa versão para o passado, a partir de seu olhar: um olhar formado pela disciplina histórica, pelas regras da disciplina, um olhar informado por dados pressupostos teóricos, um olhar informado por dadas posturas políticas, éticas e morais, e, por que não admiti-lo, um olhar constituído por dados códigos estéticos, por uma dada maneira de figurar o mundo, de vê-lo e de dizê-lo, um olhar tropológico, além de ideológico. A história é um saber de encruzilhada entre o fato e a ficção, entre o feito e o contado, entre a ação e a narração, entre o que se vê e o que se imagina, entre o rastro e o sonho, entre o resto e o desejo, entre o que se lembra e o que se esquece, entre o achado e o perdido, entre a fala e o silêncio, entre o signo e a significação, entre o material e o etéreo, entre os homens e todos os deuses.
Portanto, Domingos Sodré, um sacerdote africano é um bom exemplo de como a “história vista de baixo” é uma impossibilidade, já que ela, como todas aquelas escritas por historiadores, é fruto do olhar do historiador e não do personagem que nela é tratado. No livro de João Reis não lemos a história contada do ponto de vista de Domingos, até porque este está morto e quase nada pode nos dizer para além do pouco que ficou registrado, sempre por outras pessoas, pois, como é comum entre os de baixo, na época tratada por Reis, ele era iletrado, e até os documentos que registram sua presença são escritos e assinados por outros. A história é vista por Reis, não por Domingos, embora caiba ao historiador, esta é uma das mandingas do ofício, tentar adivinhar, imaginar, fabular, idear, intuir o que pensava e sentia o papai. Talvez, quem sabe, João Reis até gostaria de ser um cavalo em que viesse se encarnar o papai Domingos, o mandingueiro famoso, mas, nas artes divinatórias da história, quem frequenta essa encruzilhada costuma fazer seus próprios despachos, encomendar seus próprios feitos e contados. João Reis faz, como todas, uma “história vista de cima”, já que, pelo menos até hoje, em nossa sociedade, os historiadores costumam ocupar os estratos considerados superiores da sociedade. É ele quem olha para Domingos do alto de sua sabedoria, de sua posição social, de seu lugar institucional, de seu lugar de classe, de seu lugar de letrado e doutor, de seu lugar de branco, né meu rei! Sobre a vida do velho sacerdote joga sua rede discursiva, o aprisiona em dados sentidos que estão agora à disposição da comunidade de historiadores para que sejam discutidos, debatidos, repensados, refeitos, reabertos a novas interpretações, a novas invenções. Mas, por isso mesmo, o velho mandingueiro baiano virou de vez figurão, passou a fazer parte da história do país, da história desta ignomínia, desta chaga que não pode deixar de ser reaberta para que continue doendo na consciência dos homens que foram capazes e ainda são capazes de perpetrá-la: a escravidão. Só por isso a invocação e a evocação do preto velho, a sua reencarnação narrativa nas páginas deste livro magistral, escrito por um mestre do ofício de historiar, que pode botar banca como seu personagem negro fazia na cidade da Bahia, já é merecedora de elogios e de leitura atenta. E quando tal intenção política e tal postura ética dão origem a uma narrativa primorosa como o deste Domingos Sodré, deve ser motivo de recomendação, não apenas para todos os santos, não apenas para todos os iniciados nas artes e ofícios da historiografia, mas principalmente para os neófitos, os que ainda estão realizando os atos preparatórios para entrar na nossa seita, os que ainda não estão de cabeça feita, que precisam passar pelos rituais de introdução a este fascinante mundo do sacerdócio, por isso mal remunerado, em nome do passado. Aceitem o sorriso convidativo do autor em sua rede e se enredem no fascínio deste livro escrito com competência científica e sensibilidade artística.
Durval Muniz de Albuquerque Júnior – Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Pesquisador CNPq. Departamento de História – Campus Universitário, BR-101, Lagoa Nova. 59078-970 Natal – RN – Brasil. E-mail: durvalal@pesquisador.cnpq.br.
Dizer o que não se deixa dizer: para uma filosofia da expressão – DUARTE (E-CHH)
DUARTE, Rodrigo. Dizer o que não se deixa dizer: para uma filosofia da expressão. Chapecó: Editora Argos, 2008. Resenha de: KANGUSSU, Imaculada. Especiaria – Cadernos de Ciências Humanas, Ilhéus, v.11, n.19, p.346-348, jan./jun. 2008.
Dizer o que não se deixa dizer: para uma filosofia da expressão, novo livro de Rodrigo Duarte, amigo do saber e figura destacada no cenário internacional da Estética e da Filosofia da Arte, lançado na coleção Debates da Editora Argos, traz como subtítulo “Para uma filosofia da expressão”. Expressão pode ser percebida como “tirar da pressão”, manifestar algo recalcado cujo manifestar- se produz, ao mesmo tempo, um alívio em quem exprime e um apelo sensível ao acolhimento – ainda que este não lhe seja assegurado. Trata-se de fazer aflorar algo até então oculto, dando-lhe uma forma objetiva que pode ser compartilhada. Por não lhe estar garantida a desejada recepção, toda expressão é uma espécie de mensagem na garrafa.
Nos seis artigos que compõem a obra, mostra-se como o conceito fundamental nas obras de arte e na dimensão estética em sua maior amplitude é também um fundamento da filosofi a, tendo como base o pensamento do filósofo crítico Theodor Adorno.
Apresenta-se como a divisão estrita do trabalho intelectual em esferas ultra-especializadas – a partir do sem dúvida fabuloso desenvolvimento das ciências tecnológicas – gerou uma restrição progressiva do pensamento humano que perde com isso a noção de um sentido maior capaz de nortear o desenvolvimento das pesquisas particulares. “No caminho para a ciência moderna, os homens renunciaram ao sentido”, afirmam Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento. É a expressão deste sentido abandonado que parece guiar o autor no livro de linguagem acessível não só aos dedicados às questões fi losófi – cas, mas também a quem quer que esteja familiarizado com os problemas intelectuais postos pelo processo histórico no mundo contemporâneo, dito “globalizado”.
Nesse sentido, é ressaltada a potência da arte como uma forma de cognição, na medida em que o conhecimento envolvido na experiência estética é radicalmente diferente do científico: é capaz de dar a conhecer não apenas o que já conhecido, mas de abrir-se ao novo, ao inaudito. Duarte distingue, portanto, “expressão” de “comunicação”. Enquanto esta última diz respeito ao trânsito de informações, “a uma impalpabilidade das torrentes de dados contínua e simultaneamente transmitidos”, a expressão envolve alto grau tanto de responsabilidade intelectual quanto de refinamento formal. Cito o autor: “o que a qualifica para uma indispensável – ainda que, para alguns, quixotesca – militância teórica pela humanidade”. Trata-se de revelar o invisível, trabalho teórico ligado à produção de novas formas de discurso. A necessidade – para o processo cognitivo – de trazer à tona o que está oculto fica bastante evidente quando lembramos que, apesar de contemplarmos, diariamente, o movimento do sol em torno da terra, sabemos que é a terra que se move em torno dele. E sabemos também quantos mártires foram necessários para que disso soubéssemos. A distinção entre pseudo evidência imediatamente comunicável e trabalho expressivo coloca este último, muitas vezes, sob suspeita, sobretudo na esfera das artes, conforme Adorno nas Mínima moralia: “quanto mais precisa, conscienciosa e adequadamente se expressa [o escritor], o resultado literário será avaliado como mais dificilmente compreensível; enquanto que, tão logo se expressa de modo relaxado e irresponsável, se é recompensado com uma certa compreensão”. A dificuldade advém do entrelaçamento entre forma e conteúdo. Se a forma é conteúdo sedimentado, há uma não-exterioridade entre o que se diz e como se diz. Pensamentos de ponta não encontram elocuções banais. “O que é frouxamente dito é mal pensado”, ainda Adorno, “isso pode ajudar a explicar por que à fi losofi a sua expressão não é indiferente nem exterior, mas imanente à idéia. Seu integral momento de expressão, não-conceitual e mimético, só é objetivado através de apresentação – linguagem […] Onde a filosofia desiste do momento expressivo e do dever da apresentação, ela se iguala à ciência.” A riqueza da ideia exposta reside na possibilidade de se expressar a dimensão pré-conceitual, pré-lógica, que é o fundo de todo pensamento. O momento expressivo caracteriza, assim, também a partir da perspectiva de Duarte, uma differentia specifica entre a filosofia e a ciência. O autor contrapõe-se à ideia de que as questões éticas e metafísicas estão fora das possibilidades do discurso articulado, ao qual se alinhariam as ciências naturais. E enfrenta a célebre proposição 7 do Tractatus lógico-philosophicus, de Wittgenstein, “daquilo que não se pode falar, deve-se calar”, encarando-a como autocensura extremamente positivista imposta pela lógica a toda linguagem que não seja logicamente exata e salientando a impossibilidade (e o autoritarismo, acrescento) de dizer como deve ser o próprio dizer. Duarte adverte que “uma das mais evidentes manifestações da liberdade está associada à possibilidade de expressar aquilo que se pensa, na medida em que configura a liberdade naquele sentido de confluência entre o objetivo e o subjetivo”. Contra Wittgenstein, Adorno considera tarefa filosófica primordial justamente “dizer o que não se deixa dizer”.
Dizer o que não se deixa dizer, o livro, traz ainda figurações do conceito de “expressão” conforme filósofos voltados para a estética, a comparação deste com o movimento nomeado por Freud como “sublimação”, seu papel na linguagem a partir de Walter Benjamin, e o caráter expressivo da música, segundo Adorno. Parodiando este último, pode-se dizer que, na obra de Duarte, a expressão busca conquistar a força sem a qual a vida se dilui sem ser ouvida. E a filosofia aparece como expressão do inexprimível, abismo infinito, desafio incontornável à mente humana. E trabalho sem fi m já que, como bem assinalou a poeta Ana Caetano, há sempre um bis no abismo.
Imaculada Kangussu – E-mail: lkangassu@gmail.com
[IF]
Degrees of Freedom: Lousiana and Cuba after Slavery | Rebecca J. Scott
Rebecca Scott, mesmo para os leitores brasileiros, dispensa apresentação. Autora de diversos trabalhos sobre a abolição da escravidão em Cuba, entre eles Emancipação Escrava em Cuba – a transição para o trabalho livre (1860-1899), Scott publicou em 2005 Degrees of Freedom: Lousiana and Cuba after Slavery, em que desenvolve argumentos inicialmente apresentados no artigo “Raça, trabalho e ação coletiva em Lousiana e Cuba, 1862-1912” no livro Além da Escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação, já publicado no Brasil.
O título do livro, Degrees of Freedom, é um conceito tomado de empréstimo dos físicos e químicos, que enfatiza a necessidade da análise em várias dimensões para se chegar ao estudo de um sistema num dado momento, e é usado como metáfora pela autora que estuda o período pós-emancipação a partir de duas dimensões – a organização do trabalho e a participação política – e discute a inserção do negro na sociedade e as relações raciais em Cuba e na Lousiana após o fim da escravidão. Leia Mais
Canada’s Founding Debates – AJZENSTAT et al (CSS)
AJZENSTAT, Janet; ROMNEY, Paul; GENTLES, Ian; GAIRDNER, William D. Editors. Canada’s Founding Debates. Toronto: University of Toronto Press, 1999. 380p. Resenha de: LeVOS, Ernest. Canadian Social Studies, v.39, n.2, p., 2005.
Here is a book that will interest Canadianists, and those high school and university students interested in constitutional and political developments. Students wanting to do some reading and research on Confederation, and who may not have the luxury of time to read the original legislative records on Confederation, will find Canada’s Founding Debates a valuable source. There is an enormous amount of material packaged into this one volume. Do not skip reading the introduction, since it explains very succinctly that this book is about Confederation. But more specifically, it is a book of excerpts from official reports of the debates in the different colonies (p. 7), that is, Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Canada, Red River and British Columbia, on whether they should join a more viable union. One will read the views of less familiar names such as Robert Carrall, Francis Barnard, and James Ross, along with those more familiar figures like George Brown, George Etienne Cartier, John A. Macdonald and Louis Riel.
The authors have neatly divided the book into five parts covering what was said by the politicians of the seven British North American colonies on liberty (constitutional liberty, responsible government, parliamentary government, the Upper House, equality of representation); individual as well as collective economic opportunity; American, British and Canadian identity; the new nationality(federal union, majority and minority rights), and how to make a constitution (consulting the people and the issue of direct democracy). The book is a convenient source for the views of Macdonald and Brown as well as other lesser known figures. The reader will detect not only individual perspectives and tones, but also the anxieties, enthusiasm and urgency these politicians shared in establishing a new union.
The conservative and liberal views held by the supporters and opponents of Confederation are included in this volume. They were very much like us today, concerned about the future of their country and the well being of future generations. Indeed, they were very concerned about the purpose and form of a new government that would work properly. One will observe that these politicians, at the crossroads of change, brought about by such events as the Civil War in the United States, did not hesitate to study other constitutional models and political systems seeking the best pragmatic insights from these models and systems. As a group of legislators, they were a reservoir of experience and knowledge, men who illustrated their arguments with references to European history through the centuries, the great poets and the Bible, and men who subscribed to the belief that good arguments lead to good resolutions (p. 2).
But the legislators from each colony had their respective concerns. Those from Prince Edward Island did not think they would gain anything from being in the new union. The delegates from Newfoundland worried about their fisheries and the starving population, and feared that they would lose control over their properties, liberties and lives (p. 61). In the Red River Colony, Nova Scotia and New Brunswick, there was the concern that their respective colonies would be overwhelmed by Upper Canada and swamped by newcomers. Above all, they feared the lost of their individual identities.
A large book such as this one can be viewed as a book filled with a lot of details and speeches, but is can prove to be a valuable source. It can be a useful reference source to high school students interested in what the fathers of Confederation had to say on issues such as liberty and identity, and it can be a valuable source to college and university students who wish to compare and contrast the views of either Macdonald and Brown, or another set of politicians, on topics such as responsible government, representation by population, whether the vote should be given to householders, or on other related issues that were debated in their respective legislatures.
While some readers may not bother reading footnotes, it would be a disservice to themselves to ignore them since there are many valuable explanations. The footnotes provide the reader with an understanding of the historical context in which political developments such as responsible government, developed. One example is John A. Macdonald’s view on the debate, in the parliament of the province of Canada, on responsible government: I speak of representation by population, the house will of course understand that universal suffrage is not in any way sanctioned, or admitted by these resolutions, as the basis on which the constitution of the popular branch should rest and in the footnote, William D. Gairdiner, one of the authors, offers this explanation: Macdonald is giving his assurance that the house need not fear the spectre of mob rule, which is what many informed people at the time would have expected from universal suffrage in a democratic system (p. 70-71). These are more than footnotes, they are explanatory notes. Read and reflect on these notes for a fuller understanding of the developments on the road to Confederation.
The book offers much potential for assignments and research topics on the internal aspects of Confederation, as well as on the external influences. It is interesting to learn, as William Ross from Nova Scotia noted, that the Quebec scheme is largely copied from the Constitution of New Zealand (p. 268). Bear in mind, however, that the book is a compilation and, as such, critics of the book may accuse the authors of not portraying the complete views of certain politicians. In this case, one should read the entire speech of that politician in the legislative records. This book, however, is a very good reference source.
Ernest LeVos – Grant MacEwan College. Edmonton, Alberta.
[IF]Liberty & Equality in Caribbean Colombia 1770-1835 – HELG (M-RDHAC)
HELG, Aline. Liberty & Equality in Caribbean Colombia 1770-1835. Londres: Chapel Hill; The University of North Carolina Press, 2004. 363p. resenha de: HENRÍQUEZ, Adolfo González. Memorias – Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Barranquilla, n.1, jun./dic., 2004.
Adolfo González Heríquez – Catedrático del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.
Acesso apenas pelo link original
[IF]
Entre a história e a liberdade: (Luce Fabbri e o anarquismo contemporâneo) – RAGO (RBH)
RAGO, Margareth. Entre a história e a liberdade: (Luce Fabbri e o anarquismo contemporâneo). São Paulo: UNESP, 2001. 368 p. Resenha de: LEITE, Miriam Lifchitz Moreira. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.23, n.46, 2003.
Margareth Rago teve uma oportunidade raríssima: conversar com Luce Fabbri na casa dela, em Montevidéu. Enquanto a autora italiana (1908-2000) se empenhava em terminar de escrever a biografia de seu pai, Luigi Fabbri (1877-1935), relata à brasileira etapas de sua vida e o desenvolvimento de suas idéias.
Apesar da diferença de aproximadamente 40 anos, a historiadora brasileira e a italiana tinham, como professoras universitárias, um universo de discurso comum. Partilhavam inúmeras idéias e aspirações, não só políticas como educacionais. Encontraram as condições ideais para uma troca produtiva de idéias, raramente atingida em entrevistas comuns.
Assim como a biografia de Luigi Fabbri estava inserida na história do anarquismo europeu, a de Luce insere-se na do anarquismo europeu e sul-americano. Houve, portanto, não apenas a oportunidade de comparar experiências, como também a possibilidade de discutir o processo de trabalho que estavam realizando. As duas recuperavam, através de vida intelectual, uma história de que eram representantes e que tem sido desmerecida, deformada e ocultada pela história dos poderosos.
Para Luce, os instrumentos de trabalho e as fontes provinham de amigos de infância, textos escritos, documentos recolhidos através da vida organizados por critério diversos dos da história oficial. Para Margareth Rago, com um gravador e um computador, bolsas de estudo e visitas sucessivas à casa, à biblioteca e ao arquivo de uma anfitriã erudita, tão interessada no seu, como no trabalho da jovem anarquista.
As duas estavam conscientes de estar revelando aos contemporâneos o sentido da libertação social do anarquismo, que vem sendo desprezado como utopia pré-capitalista e soterrado sob o título de utopias românticas. Esta corrente de elos históricos vem desde Malatesta (1853-1922), que no maior Congresso Anarquista, em Amsterdã, em 1907, já teria apresentado o então jovem Luigi como seu “filho.” Esta, amigo de Malatesta até a morte, encarregou-se de sua biografia. O anti-autoritarismo fundamental do anarquismo, a sua busca de uma liberdade solidária e fraternal como um meio de vida e a rejeição os poderes macros e micros da vida social vêm sendo revelados em inúmeras de suas faces por esses biógrafos sucessivos. E agora, através das línguas italiana, castelhana e portuguesa, pelas duas militantes contemporâneas.
A casa em que Luce nasceu tinha um ambiente de compreensão e liberdade sem imposições externas — nem de opiniões, nem de atitudes, nem de religiões. Eram todos antiautoritários e solidários. Nem sequer o anarquismo lhes foi imposto. O pai explicou aos filhos os seus pensamentos a respeito, pediu-lhes que refletissem sobre isso e decidissem quando se sentissem capazes de fazê-lo. Luce estudou Letras na Universidade de Bolonha e seu irmão tornou-se marceneiro, sem qualquer ingerência em suas vocações, nem apelos aos seus gêneros. O pensamento de cada um era respeitado, o que é comprovado pela contestação que Luce, ainda muito jovem, fez ao pensamento de Malatesta, já figura proclamada do pensamento anarquista.
Nessa casa de uma harmonia invejável, Luce teve contato desde muito cedo com os amigos de seu pai, um professor primário e depois secundário, criador de uma Biblioteca popular para os operários, por volta de 1917. Esses contatos constituíram um outro perfil de educação, além da educação formal pequeno-burguesa, e revelou a sua vocação teórica em trabalhos de literatura, história e crítica política que publicava nos jornais criados pelos amigos de seu pai.
O respeito a essa vocação fez com que sua mãe, e depois no Uruguai, seu marido — um operário italiano imigrado e autodidata — a eximissem das “obrigações femininas” da vida privada (com comida e crianças) para que pudesse desenvolver sua vocação. Neste sentido, não passou pelos problemas de gênero que sufocaram inúmeras feministas, proibidas de estudar, proibidas de pensar e de trabalhar fora, consideradas como elementos de Segunda classe. A questão feminina não se apresentava como prioritária em suas reflexões. Considerava que resolvido o problema social, o sexual estava automaticamente decidido. Mais tarde, retomou a questão verificando a possibilidade das mulheres, habituadas a administrar situações não-lucrativas, como cuidar de crianças, de velhos e doentes, serem mais capazes de administrar as associações solidárias.
Sofreu desde a infância as injustiças e os temores provocados pela perseguição política infringida ao seu pai pela polícia fascista. Viver vigiada pela polícia foi uma experiência de toda a vida. Seu pai perdeu o cargo de professor, conquistado em concurso, por não Ter jurado fidelidade ao fascismo italiano, o que ela veio a repetir por ocasião de seu doutoramento na Universidade de Bolonha, com uma tese sobre o geógrafo anarquista Eliseé Reclus.
Perderam assim o direito a ter passaporte, e para sobreviver foram obrigados a sair clandestinamente da Itália, através do auxílio de núcleos anarquista capazes de se articularem sob a truculenta polícia fascista.
Nas mais difíceis condições e deixando para trás o irmão, a família Fabbri emigrou para Montevidéu, onde uma grande população de italianos imigrados os acolheu e auxiliou.
Luigi Fabbri sofreu muito com o afastamento do filho e da terra em que sempre vivera e da qual se afastara obrigado. Luce ainda moça, conhecendo a língua e com um entusiasmo militante, teve condições de aproveitar as características sociais do país a que tinha chegado, com suas associações e ateneus, além de um clima bem mais ameno que o de Bolonha. Ademais, veio a encontrar aí, em sua própria casa, o marido. Trabalhou inicialmente como professora de História, e mais tarde, na Universidade, pôde voltar-se para sua paixão pela literatura italiana, que nunca a abandonara.
Em Montevidéu, formara-se a Comunidad del Sur e uma editora, a Nordan-Comunidad, que funcionavam de acordo com os princípios anarquistas, de autogestão, incorporando a tecnologia contemporânea. A liberdade individual era cultivada como meio de criatividade e desenvolvida por formas educacionais alternativas, através de jornais, panfletos e trabalhos que levavam em conta pensamentos e sentimentos dos componentes da comunidade.
Uma questão mal estudada e que preocupou Luce Fabbri foi o autodidatismo dos trabalhadores. A necessidade de absorver o conhecimento com que ela conviveu desde muito cedo e a sede de instrução que sentiu entre homens e mulheres, sem oportunidade de contar com educação formal, que freqüentavam a Biblioteca Popular, depois de um dia de dez horas de trabalho estafante, estimularam os seus esforços didáticos e suas reflexões dirigidas para a auto-educação. “Caracteres e importância del autodidactismo obrero”, que publicou em Brecha, jornal de Montevidéu, em 1998, foi apenas uma de suas abordagens desse aspecto da educação.
Intercalando as entrevistas com cenas do convívio diário, Margareth Rago nos apresenta uma obra restauradora da confiança no ser humano e em sua capacidade de viver o presente. Embora disfarce as dificuldades da tarefa interlingüística a que se propôs com um entusiasmo contagiante, é possível constatar o esforço exigido para organizar uma bio-bibliografia de tais proporções e de tal conteúdo.
Mostra claramente como a idéia de anarquismo não deve ser pensada como ponto fixo ao qual se deve chegar, mas como um caminho a seguir, como Luce escreveu em 1952, em La Strada. Esse caminho que Luce continuou a percorrer pela vida afora, sempre preocupada em inventar um presente que permitisse a descoberta e a criação de novas alternativas. O conhecimento do passado e das tradições nos é necessário como solo onde é possível enraizar-se e fortalecer-se, para politizar constantemente as palavras e reconhecer o seu poder e a magia da produção poética por sua capacidade criadora. Ao trabalhar sobre a reforma do secundário, insistiu no ensino da língua castelhana em todos os graus, como o grande instrumento de comunicação e congraçamento.
Escrito como tese para obtenção do título de livre-docência, ele deve ser lido mais como um ato de militância e de esperança no momento presente.
Miriam Lifchitz Moreira Leite – Universidade de São Paulo.
[IF]O médico e seu trabalho: limites da liberdade | Lilia Blima Schraiber
O debate sobre a medicina no Brasil tem estado quase sempre fundamentado na razão técnica que, baseando a ética profissional, se desdobra, com iguais doses de normatividade, tanto nos projetos neoliberais quanto nos mais diversos projetos estatizantes. Variando a ênfase, ora posta nas condições de trabalho dos médicos, ora nas condições para o consumo efetivo pelos pacientes, sempre se supõe que o objeto da discussão, o ato médico, consista em aplicações tecnológicas impessoais das ciências médicas, por referência às quais a historicidade, a sociedade e a individualidade só apareçam sob a forma de condicionantes externos, menos ou mais indesejáveis. Portanto, para além da ética profissional, os projetos políticos e ideológicos supõem sempre a instrumentalidade neutra da técnica como fundamento, pretendendo em todos os casos legitimar-se como decorrência imperativa de sua verdade absoluta.
O estudo de Lilia Blima Schraiber tem, entre outras qualidades, o mérito de contribuir para a possível mudança desse estado de coisas, ao se situar distante tanto de qualquer aversão ou compromisso apriorísticos por referência ao ideário liberal, quanto de toda fobia ou simpatia de princípio e sem reservas por um suposto igualitarismo e uma pretensa racionalidade que seriam inerentes às ações estatais. Leia Mais








