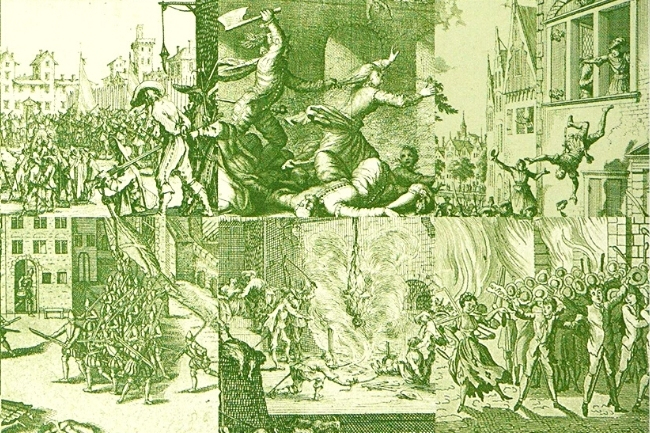Posts com a Tag ‘Ler História (LH)’
Dimensiones del conflicto: resistencia, violencia y policía en el mundo urbano | Tomás A. Mantecón Movellán, Marina Torres Arce e Susana Truchuelo García
Detalhe de capa de Dimensiones del conflicto: resistencia, violencia y policía en el mundo urbano
1Hace ya unas décadas la renovación de la historia del conflicto urbano fue contemporánea a la de la integración de personas y grupos, a la del desarrollo de mecanismos disciplinarios o la de la reacción de las sociedades y de quienes integraban las instituciones contra las fuerzas políticas dominantes. La perspectiva desde la que se podían enfocar en el final del siglo XX estos procesos era diversa y también lo fueron sus raíces historiográficas e intelectuales (más allá de la cita, más o menos rutinaria y cansina, a Foucault o Bourdieu), pero lo cierto es que sí había un intento de ligar dichas dinámicas a una comprensión global de un mundo social y político moderno que se empezaba a percibir como menos mecánico de lo que se había pensado. Un celebrado texto de 2006 de Xavier Gil Pujol1 mostraba cómo precisamente el estudio de la indisciplina había abandonado el recurso de ser la panacea para identificar movimientos sociales y se había convertido en un eficaz instrumento para evaluar dinámicas sociopolíticas muy complejas en la que los actores se adaptaban y negociaban su posición recurriendo en parte, pero sólo en parte, a una violencia explícita que en general se combinaba con otras formas de una negociación que no tenía que conllevar un consenso estable, ni fundarse en una simetría entre las partes; pero que, no por esos límites, dejaba de aunar voluntades y de generar o regenerar las bases sociales sobre las que se asentaba la dominación. Así pues, si el conflicto era muchas cosas, tiene múltiples representaciones y era apropiado por vías diversas, era bueno ubicarlo en la etiología misma de la práctica social y política, pero hacerlo de forma no unitaria, sino plural, lo que llamaba a la necesidad de diversificar las aproximaciones y comprender mejor sus ámbitos, sus implicaciones culturales y a sus protagonistas. Y este libro responde a todo ello. Leia Mais
Political Thought in Portugal and Its Empire/ c. 1500-1800 | Pedro Cardim e Nuno Gonçalo Monteiro
Pedro Cardim e Nuno Gonçalo Monteiro | Imagens: Goodreads Goodreads
1A publicação deste livro é, sem dúvida, um acontecimento editorial que merece ser assinalado. Trata-se de uma seleção criteriosa de textos fundadores do pensamento político em Portugal na era moderna (c. 1500-1800), precedida de uma cuidada e esclarecedora introdução de enquadramento interpretativo que também serve para justificar a razão e a oportunidade da sua tradução e publicação em língua inglesa. A introdução e organização editorial do livro são de autoria de Pedro Cardim e Nuno Gonçalo Monteiro que, deste modo, acrescentam às suas importantes contribuições de análise histórica do período em apreço um relevante serviço de divulgação de fontes primárias que apenas têm estado acessíveis, na sua quase generalidade, a leitores de língua portuguesa. A tradução e edição crítica de tais textos fundadores possibilita, a um público internacional alargado, o conhecimento de alguns dos principais protagonistas do debate político em Portugal nos séculos XVI a XVIII, da sua articulação ou diálogo (implícito ou explícito) com autores de referência no quadro europeu e da especificidade dos problemas de ordem institucional, social e política que emergem no contexto da monarquia portuguesa e do seu espaço imperial.
Leia Mais
El vuelo corto. Mujeres y migraciones en la Edad Moderna | Ofelia Rey Castelão
Ofelia Rey Castelão | Imagem: Unidade de Mulher e Ciencia – Xunta de Galicia
2Firstly, this study examines the relation of women with mobility as well as migration and work, beyond the classical approaches to the study of the topic that either portray women solely as dependent migrants in the context of family mobility and migration, or as victims of male migration and seasonal mobility. Rey Castelao does that in two different ways. On the one hand, the author looks at women as active historical agents in these processes of displacement, namely as migrant workers engaging in short- and long-distance migration with either a seasonal, temporary or permanent character. On the other hand, Rey Castelao reconstructs the trajectories and experiences of women as historical actors that not merely endured the consequences of male migration and temporary mobility but that had agency and actively looked for solutions and tried to take advantage of the new circumstances in which they found themselves in. Leia Mais
The First World Empire: Portugal/ War and Military Revolution | Heler Carvalhal, André Murteira e Roger Lee de Jesus
Croquis do sítio e ordem de batalha de Alcântara diante de Lisboa, por mar e terra. Detalhe de capa de “The First World Empire: Portugal, War and Military Revolution” | Imagem: Wikipedia
Gender and Diplomacy. Women and Men in European Embassies from the 15th to the 18th Century | Roberta Anderson, Laura Oliván Santaliestra e Suna Suner
1 En marzo de 2016 varios especialistas provenientes de diferentes casas de estudio de Europa y Rusia se reunieron en las instalaciones del Don Juan Archiv (Viena) para reflexionar en torno a la relación entre género y diplomacia entre los siglos XV y XVIII. El evento contó con la coordinación académica de Suna Suner, Laura Oliván Santaliestra y Reinhard Eisendle. El libro que reseñamos, publicado en 2021, recoge los trabajos presentados en el mencionado simposio. Se trata de una publicación de referencia que desarrolla una línea de investigación con notoria actualidad en el mundo académico: la historia diplomática de las mujeres. Leia Mais
Tratas, esclavitudes y mestizajes. Una historia conectada, siglos XV-XVIII | Manuel F. Fernández Chaves, Eduardo França Paiva e Rafael M. Pérez García
1 El libro que comentamos se inscribe en lo que desde hace unos años se identifica como historia conectada, cuyo sentido es el de seguir el hilo de la conexión entre ámbitos diferenciados buscando un modo de comprender determinadas realidades a la luz de la comparación y de la interrelación. En este caso el hilo conductor es el estudio de las esclavitudes –plural muy acertado– y las dinámicas de mestizaje desarrolladas en las áreas de expansión de España y de Portugal, así como en la península ibérica, observando cómo presupuestos culturales propios y lógicas económicas ibéricas se conectaron o confrontaron con los de otros pueblos. Por otro lado, la obra es una nueva aportación de un equipo dirigido por Manuel F. Fernández Chaves y Rafael M. Pérez García, que lleva a cabo una intensa e innovadora investigación en la relación y comparación entre los ámbitos hispánico y portugués en las facetas migratoria, social y comercial, para la que cuentan con la asidua colaboración de investigadores del otro lado de la frontera y del otro lado del Atlántico; de ahí que esta edición esté firmada también por Eduardo França Paiva, de la brasileña Universidade Federal de Minas Gerais. Leia Mais
The European Illustrated Press and the Emergence of a Transnational Visual Culture of the News/ 1842-1870 | Thomas Smits
1 O livro em apreço tem origem na tese de doutoramento do autor, defendida em 2019 na Radboud University, tendo sido publicado em 2020 como parte integrante da série Routledge Studies in Modern European History. A obra foi desenvolvida entre acervos físicos, com periódicos que não existem na versão digital, e a busca de palavras-chave em acervos digitais. Bem como já destacado por Laurel Brake e James Mussel, a análise de Smits atenta para a importância de se considerar os dois tipos de acervo, uma vez que o digital fornece um acesso limitado ao passado, mas ao mesmo tempo enseja uma ampliação significativa dos estudos a serem realizados.1 Sendo assim, trata-se de um livro que apresenta uma interessante discussão historiográfica sobre o uso de fontes primárias.
2 Nos anos 1950, os historiadores começaram a considerar como fonte as imagens produzidas na imprensa do século XIX. Tal tendência se intensificou nos anos 1980, com estudos focados no caráter nacionalista e identitário das imagens. Segundo Smits, entretanto, é preciso ir além desta perspectiva e considerar o caráter transnacional dos jornais ilustrados. A base da argumentação do autor está no conceito de história transnacional de Jürgen Osterhammel,2 sendo os periódicos vistos como pontos de comunicação entre espaços nacionais. Por isso, o livro analisa os três principais jornais em circulação entre 1842 e 1870: Illustrated London News, l’Illustration e Illustrirte Zeitung, de procedência britânica, francesa e alemã, respectivamente. Em seguida estende a análise para outros 40 jornais de diversos países ao redor do mundo, a fim de entender como os leitores olhavam para as mesmas imagens. Leia Mais
Os impérios ibéricos e a globalização da Europa (séculos XV a XVII) | BartoloméYun Casalilla
1 El autor, que desde hace varias décadas ha investigado sobre la historia del Imperio español, aborda ahora una comparación entre los dos primeros poderes globales: los imperios español y portugués. El libro está basado en ideas expuestas en su Marte contra Minerva (Madrid: Crítica, 2004), a las que se añaden discusiones teóricas más recientes. Esta edición en portugués es una traducción de una versión en inglés publicada en 2019. Esta historia global de los imperios ibéricos gira en torno a tres temas principales: (i) una evaluación de la leyenda negra; (ii) una crítica de recientes explicaciones neoinstitucionales; (3) la globalización vista desde los mundos ibéricos. Estos tres temas guían al autor en su interpretación del ascenso de los estados ibéricos a la preeminencia global, y las consecuencias que este proceso desencadenó en los equilibrios domésticos. El autor examina algunas narrativas que atribuyen a España y Portugal una imagen de atraso económico. Además, busca explicar el ascenso de las potencias ibéricas no como casos excepcionales, sino como vías alternativas a la modernidad. En esta línea, Yun ofrece explicaciones alternativas sobre los procesos de construcción del Estado desde la perspectiva del sur de Europa. Leia Mais
Terra e Colonialismo em Moçambique. A região de Manica e Sofala sob a Companhia de Moçambique, 1892-1942 | Bárbara Direito
 When Moçambique applied successfully to join the Commonwealth in 1995, a lot of people were taken by surprise, not least the British Government. However, those who knew something of Moçambique’s history understood that, although not formally a British colony, much of country had, during the early colonial period, been ruled by British-owned companies – the Niassa Company, the Moçambique Company and the extensive territories effectively under the control of Sena Sugar, while the largely British-owned South African gold mines had had extensive recruiting rights over the whole Sul do Save region. Bárbara Direito’s book is based on her doctoral thesis and is focused on the agricultural history of one of those British-owned companies, the Companhia de Moçambique, up to the end of its concession in 1942. As she herself admits, she had the experience that all scholars dread – as she was completing her doctoral thesis, which she defended in June 2013, Eric Allina published his detailed study of labour relations in the Moçambique Company territories1 – two theses and ultimately two books focused on the same topic, the agricultural and labour history of the Company territory. Although these two books cover a lot of the same ground, they have different emphases and need to be read together in order to get a fully three dimensional image of this topic.
When Moçambique applied successfully to join the Commonwealth in 1995, a lot of people were taken by surprise, not least the British Government. However, those who knew something of Moçambique’s history understood that, although not formally a British colony, much of country had, during the early colonial period, been ruled by British-owned companies – the Niassa Company, the Moçambique Company and the extensive territories effectively under the control of Sena Sugar, while the largely British-owned South African gold mines had had extensive recruiting rights over the whole Sul do Save region. Bárbara Direito’s book is based on her doctoral thesis and is focused on the agricultural history of one of those British-owned companies, the Companhia de Moçambique, up to the end of its concession in 1942. As she herself admits, she had the experience that all scholars dread – as she was completing her doctoral thesis, which she defended in June 2013, Eric Allina published his detailed study of labour relations in the Moçambique Company territories1 – two theses and ultimately two books focused on the same topic, the agricultural and labour history of the Company territory. Although these two books cover a lot of the same ground, they have different emphases and need to be read together in order to get a fully three dimensional image of this topic.
2The Moçambique Company, founded originally in 1888, was granted its charter in 1892. Its territory covered the region between the Zambesi and the Sabi rivers which, at the time, was part of the kingdom of Gaza. The region was not fully “pacified” and under Company control until 1902 and, in the process, the Company lost the Barue region which was taken under direct government administration. Bárbara Direito’s book looks in detail at the various ways in which the Company tried to bring about economic development within its territory. From the start there were contradictions which were debated within the Company by its administrators and in the Board which oversaw policy in Lisbon. Should the Company be purely concerned with administration, deriving its income from railway and port earnings, African head and hut tax and the granting of licenses and land concessions? Or should it be an active participant in the development of the economy, investing in agricultural enterprises? Bridging these two rival visions of the Company was the issue of labour. The Company conscripted labour to carry out its large public works projects but if the Company’s territory was to be developed largely by private concessionaires, how should these enterprises obtain the labour they needed and to what extent should the Company become involved in its recruitment and in the supervision of the conditions of employment? As Bárbara Direito makes clear, land and labour policy were always intimately connected – “In some parts of Africa displacing populations and expropriating their land was, in effect, an indirect way to obtain labour” (pp. 36-37).
3And there was another problem. Why did so many Africans emigrate? What might be done to prevent this exodus of population and how might the population, and hence the availability of labourers, be increased? From Bárbara Direito’s detailed discussion, it is clear that the Company was never able to decide on satisfactory answers to these questions. There were periods when the Company seemed prepared itself to participate in agricultural production, only to withdraw and rely once again on private entrepreneurs. At other times the Company intervened directly in the recruitment of labour, only to veer in the opposite direction and leave labour recruitment in the hands of private contractors. The politics surrounding the supply of labour could become very divisive, especially when large numbers of European settler-farmers descended on Beira in 1910 and forced the governor, Pinto Basto, to leave for Lisbon and in effect to resign.
4The abuses of the labour system were frequently discussed and its relevance to the issue of emigration was clearly understood by the Company. Bárbara Direito points out that “the actions denounced in the report [Ross report] did not go beyond the panoply of abuses already recorded in official documents, conveniently labelled confidential” (132). However, no effective means were adopted to deal with the issues. This is one of the major themes of Allina’s book but Bárbara Direito does not deal with it in any detail. However, she mentions that when a Comissão de Defesa dos Indígenas was established in 1928 there were two African “chefes” as members, though both came from Beira, not the rural areas. In practice, Africans had no choice but “to flee, boycott and where possible negotiate” (95). Allina had shown how Africans resorted to various methods to mitigate the pressures of forced labour and Bárbara Direito also states that conditions during the Depression led to Africans protesting against the payment of tax, while many continued not to pay taxes at all.
5The Company was, from the very start, accused of “denationalising” its territory by making too many concessions to British farmers and entrepreneurs and for employing too many British personnel, but there was always an acute shortage of Portuguese with capital willing to take up farming concessions. Throughout the period of its charter, the Company was very sensitive to this issue which, in practice, gave considerable leverage to the Portuguese settlers. At first land concessions had been made to European farmers on condition that these were developed within a certain period of time, but many of these concessions were not taken up. Few of the concessionaires had capital and depended on forced labour to achieve any cultivation of their land. By 1929 only 6.3 per cent of the territory had been granted as concessions, a third to companies and the rest to individual farmers, 51.2 per cent of whom were Portuguese, the rest foreigners, mostly British (102). These small-scale farmers were not on the whole successful. They were under-capitalised, too dependent on conscripted African labour and not protected from world price fluctuations. According to Eduardo Costa, the failure of early colonisation schemes was due to the colonos themselves who “have done nothing and do not know how to do anything” (151). In 1929 the Banco de Beira collapsed due to the excessive indebtedness of small farmers to whom it had made loans.
6One purpose of the book is to focus on the different interests involved in the determination of Company policy, which often led to severe conflicts within the colonising community. Two of the major rival interests were the vocal group of small-scale farmers who had to obtain labour either directly from the Company or from private contractors and the large sub-concessionaires which were able to control the labour of the populations that resided within their concessions or within areas conceded to them for this purpose. A key question of importance was the basis on which Africans could have access to the land. Here Bárbara Direito surveys the policy pursued in other colonies, notably South Africa, Southern Rhodesia and Kenya. In a very useful analysis she shows clearly how land policies moved from allowing Africans to remain on the land concessions made to Europeans in return for share-cropping arrangements or for supplying labour, to setting aside reserves for African farmers on the assumption that they would be forced onto the labour market by the inadequacy of the size of the reserves and by the requirement to pay taxes.
7During the period 1914-24 the Moçambique Company created a number of reserves, the largest being that established by Pery de Lind in 1914 which amounted to 790,000 hectares, far bigger than the smaller reserves subsequently created. The reserves were carved out of territory not considered suitable for European colonisation, principally because of tsetse fly infestation. It was apparently hoped that Africans would be attracted to move to these reserves and that this would help to stabilise the population and limit internal migrations and illegal emigration to Southern Rhodesia. Like so many other policies of the Company, it was a failure. “More than a decade later, the Directorate of Native Affairs stated that the removal of populations to the reserves had, in practice, not been carried out” (244). The downside of the policy, which started to become clear by the 1940s, was that land in the reserves deteriorated in a serious fashion through overgrazing by cattle, erosion and the exhaustion of the soil.
8Although the purpose of this book is to look at the history of agricultural policy and the land question, there are gaps in the way it covers the broader picture of Company policy. Little is said about Libert Oury, who became the guiding figure in the Company in the 1920s and 1930s and whose development policy became focused on the building of the Trans-Zambezia railway and the Lower Zambesi Bridge, both of which had been completed by 1935, and which were designed to channel the traffic from the Nyasaland Protectorate through the port of Beira. Although the major sub-concessionary companies like Companhia de Buzi and Sena Sugar are frequently mentioned, little is said about the land and labour policies they followed within their concessions. In particular Vail and White’s detailed study of Sena Sugar and the labour policies it pursued within its huge concessions has not been discussed.2 (Here it is perhaps worth mentioning that the Hornung family who owned Sena Sugar, never controlled the Zambezia Company as is stated on page 63). Mention might also have been made of Lyne’s book on the agricultural development of Mozambique.3 In general, Bárbara Direito has written a very scholarly book. It is concise, well organised, supported by a wide-ranging bibliography and has made an impressive contribution to understanding the fifty years rule of the Moçambique Company.
Notas
1. Eric Allina, Slavery by Any Other Name: African Life under Company Rule in Colonial Mozambique. Charlottesville: University of Virginia Press, 2012.
2. Leroy Vail and Landeg White, Capitalism and Colonialism in Mozambique. London: Heinemann, 1980.
3. Robert Nunez Lyne, Mozambique, its Agricultural Development. London: Fisher Unewin, 1913.
Malyn Newitt – King’s College London, United Kingdom. E-mail: malyn.newitt@kcl.ac.uk
DIREITO Bárbara. Terra e Colonialismo em Moçambique. A região de Manica e Sofala sob a Companhia de Moçambique, 1892-1942, Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 306p. Resenha de: NEWITT, Malyn. Ler História. Lisboa, n.78, p.293-296, 2021. Acessar publicação original [IF]
Manuel Fernandes Tomás. Escritos políticos e discursos parlamentares (1820-1822) | José Luís Cardoso
1 “Ele foi talvez o primeiro que soube achar a época, e o termo preciso, em que o direito de insurreição contra a tirania, é não só uma virtude digna de aplauso dos presentes, da comemoração dos vindouros, e mesmo de apoteose, mas também o exercício de um direito político”.[1] Manuel Fernandes Tomás e o movimento revolucionário de 1820 estão indissoluvelmente ligados. Jurista consagrado, oriundo da Figueira da Foz, concluídos os estudos na Universidade de Coimbra, após o desempenho de diferentes cargos, em 1820 encontrava-se a exercer funções de desembargador no Porto há três anos. Foi um dos membros do Sinédrio, ministro do Interior e da Fazenda da Junta Provisional do Reino, deputado às Cortes Constituintes, reeleito em 1822, ano em pereceu. O seu papel em momentos-chave da implantação do regime vintista foi essencial, a ele se devem textos fundadores, responsabilidades decisivas como a organização das primeiras eleições dentro do quadro liberal, e intervenções parlamentares decisivas. Na memória democrática, ficou consagrado como uma figura impoluta, corajosa, um político competente e um grande orador. Columbano e Veloso Salgado atribuíram-lhe espaço destacado nas duas principais representações pictóricas do edifício da Assembleia da República. “A primeira revolução liberal portuguesa tem a sua personificação em Fernandes Tomás”, escreveu José Arriaga.[2]
2 Contudo, até recentemente não se dispunha de nenhuma ampla antologia dos seus textos, em contraste com outros políticos, como Almeida Garrett ou Passos Manuel, que em vida reuniram os seus discursos parlamentares em livro. As únicas obras dele impressas em vida foram duas notáveis contribuições para a história do direito do Antigo Regime, um estudo sobre a propriedade e um repertório legislativo. O seu precoce desaparecimento, no início da segunda legislatura do regime vintista, e o apagamento da memória do vintismo durante as longas décadas de cartismo e do Estado Novo explicam-no. A recolha dos textos da sua autoria organizada por José Luís Cardoso veio preencher o vazio existente, sendo o livro em boa hora editado no ano do bicentenário da revolução de 1820, seguindo-se a outro seu livro sobre a revolução, com excelente fundamentação e bem organizado, numa linguagem acessível e de grande qualidade gráfica.[3]
3 Manuel Fernandes Tomás e a revolução de 1820 constituem alicerces fundamentais da memória e da história do liberalismo português. Foi valorizada pela corrente republicana, como o comprova a monumental História da Revolução de 1820 de José Arriaga (1886-89), onde Manuel Fernandes Tomas ocupa um lugar destacado. Também Luís Augusto Rebelo da Silva o incluiu em Varões ilustres das três épocas constitucionais (1870). Com o advento do Estado Novo, esta época esteve marginalizada, excluída da história oficial ensinada nas escolas ou difundida publicamente, onde ainda não ocupa o lugar merecido. O século XIX e o primeiro quartel do século XX eram considerados em bloco como um período negro, sobre o qual incidiu um pesado silêncio oficial.
4 Alguns historiadores isolados da oposição democrática principiaram a debruçar-se sobre esta época a partir da década de 1940. Com o restabelecimento de um regime liberal em Portugal, democrático, principiou-se um estudo mais sistemático da história do liberalismo monárquico e republicano. Manuel Fernandes Tomás foi desde logo objeto de um estudo de José Manuel Tengarrinha, acompanhado da publicação de alguns dos mais importantes documentos produzidos por ele e de várias intervenções parlamentares sobre temas fundamentais como a liberdade de imprensa ou o âmbito do sufrágio. Alguns anos decorridos, José Luís Cardoso viria a dedicar-lhe uma biografia (1983), recentemente reeditada (Manuel Fernandes Tomás. Ensaio histórico-biográfico. Coimbra: Almedina, 2020). Deve-se a Cecília Honório a primeira tese de doutoramento que lhe foi dedicada, e que é a biografia política mais completa a seu respeito. Nela são analisadas pela primeira vez as principais intervenções parlamentares e os outros textos da sua autoria (Manuel Fernandes Tomás, 1771-1822. Lisboa: Assembleia da República, 2009).
5 A antologia de textos agora publicada por José Luís Cardoso é precedida de um longo estudo introdutório de cerca de 40 páginas. Nele se faz uma análise abrangente das questões abordadas por Manuel Fernandes Tomás e da sua contextualização, em introduções específicas relativas a cada um dos blocos de textos. Este trabalho analítico é entremeado de útil bibliografia da época acerca de questões similares, um instrumento de trabalho estimulante de futura abordagem comparativa aqui iniciada. De salientar uma contribuição para o estudo das influências ideológicas no meio político, mediante um quadro quantificando as citações de diferentes autores estrangeiros nos trabalhos parlamentares.
6 Os textos selecionados foram agrupados em cinco blocos. No primeiro reúnem-se os manifestos e proclamações, textos anónimos cuja atribuição a MFT é indubitável e que constituem textos emblemáticos do vintismo, a que se juntaram os discursos oficiais e ofícios. Estas páginas permitem-nos acompanhar o processo de implantação do novo regime desde os seus primeiros momentos. O discurso da sala do Risco do Arsenal conduz-nos ao universo das sociedades patrióticas, uma nova forma de sociabilidade característica desta época. Os principais políticos cruzavam-se nessas sociedades, foi o caso de José Xavier Mouzinho da Silveira e Manuel Fernandes Tomás, tendo o primeiro presidido e discursado no jantar comemorativo do 1º aniversário do 24 de Agosto, promovido pela Sociedade Constitucional,[4] e que agora ficamos a saber ter estado igualmente presente na cerimónia comemorativa do 1º aniversário do 15 de Setembro promovida por esta sociedade, na qual discursou Fernandes Tomás (Cardoso, op. cit., 35 e 98-100). Dois textos com estilos e metáforas muito diferentes, mas onde se expressa o mesmo repúdio por uma sociedade baseada nos privilégios e o elogio da liberdade, no caso de Mouzinho associada ao fim da escravatura e à “união em liberdade dos dois separados hemisférios”, uma questão fundamental para a definição do espaço nacional. Tal união viria a ser por ele referida já como periclitante no mesmo círculo, decorrido um ano, a dois meses da independência do Brasil. Em 1823 consideraria urgente dá-la por encerrada para delinear nova orientação do governo.
7 As intervenções parlamentares de M. F. Tomás a respeito da questão brasileira permitem acompanhar a evolução da sua atitude e situá-la na gestão deste problema pelos constituintes neste período de transição, em si já bem estudada.[5] Admitindo a inevitabilidade da independência a longo prazo, considerava que no imediato o novo regime de liberdade permitiria o desenvolvimento conjunto das duas regiões intercontinentais da coroa portuguesa, no interesse recíproco. A “Proclamação aos habitantes do Brasil”, datada de julho de 1821, expressa essa posição de forma convicta num texto dirigido à população, posição retomada no folheto “Lutero, o padre José Agostinho de Macedo e a Gazeta Universal” (1822), incluído na secção III (pp. 190-192). Face às resistências brasileiras, esta posição alterna com a admissão de mau grado da separação do Brasil, excluindo sempre qualquer intervenção militar.
8 O segundo bloco, intitulado “Ação governativa”, é constituído por um único documento, o famoso relatório sobre o estado e administração do reino, fruto da sua própria experiência como ministro do interior e a da fazenda na Junta Provisional, apresentado às Cortes logo no seu início. O terceiro e quarto blocos constituem as partes mais inesperadas para um leitor menos conhecedor desta época. Que um ministro e depois deputado prestigiado tenha publicado anonimamente as Cartas do Compadre de Belém e um pouco mais tarde um jornal juntamente com Ferreira de Moura, deputado com quem estava em alguma sintonia, testemunha de profunda osmose entre a ação política e as novas formas de comunicação impressa. Folhetos e jornais tornam-se, de 1820 em diante, o instrumento novo e inebriante do debate de ideias e de difusão de notícias. Mais de uma centena de jornais são editados no período vintista, com formato, dimensão e duração muito variáveis.
9 A iniciativa de lançar o jornal O Independente (publicado de novembro de 1821 a março de 1822) inseria-se neste movimento descrito de forma entusiástica no editorial do primeiro número: “a variedade de assuntos, a rapidez, com que são tratados; […] a facilidade de se obterem estes escritos e a brevidade com que se leem […]”. Desde os primórdios da imprensa periódica que a desinformação e a invocação errática da “opinião pública” não tardaram a aparecer, como se alerta logo no terceiro artigo, “Testemunhos falsos que se costumam levantar à opinião pública”. Esta iniciativa explica-se também pela ausência de partidos políticos nesta época. O jornal é um instrumento de difusão alargada dos debates parlamentares e uma forma de fortalecer as posições de ambos os deputados nesses debates, por isso se caracteriza por um número elevado de artigos de opinião. José Luís Cardoso agrupou-os em quatro secções temáticas: Cidadania Constitucional, Reformas institucionais, Economia e Finanças, e Segurança pública.
10 O quinto e último bloco de textos, o mais extenso, contém uma ampla seleção dos discursos parlamentares, ultrapassando as duas centenas de páginas. MFT teve intensa participação parlamentar, intervindo como orador em 281 sessões ao longo de 21 meses e 7 dias, em regra com mais de uma intervenção em cada sessão, como nos informa J. Luís Cardoso. O total de registos do seu nome como orador eleva-se a 580. Compreende-se que a obra de Cecília Honório, já mencionada, tenha sido incluída na Colecção Grandes Oradores, dirigida por Zília Osório de Castro. Naturalmente, as intervenções tiveram dimensão e significado muito variável. Para esta antologia foram selecionados 119 discursos, utilmente agregados em dez grupos, de que é impossível dar uma súmula aqui, sendo cada um deles objeto de análise cuidada no estudo introdutório.
11 Pode questionar-se a sua sequência, seria porventura mais lógico que os grupos das intervenções sobre princípios constitucionais, soberania e a divisão de poderes antecedessem o grupo sobre a justiça e a sua organização. Agregar os textos segundo o tema dominante, nem sempre o único, não foi fácil, como releva o autor. Poderia preferir-se que o debate sobre os jurados e a lei de imprensa fosse inserido no grupo acerca deste tema e não no da justiça, ou pelo menos fosse ali referido. Também pode lamentar-se que não se tenha indicado a que projeto-lei se refere cada intervenção ou grupo de intervenções, ou quem é o “preopinante” referido aqui e ali – e uma pequena nota sobre o significado desta palavra caída em desuso podia também ser útil. Sendo possível hoje a consulta on-line do Diário das Cortes, é certo que o leitor poderá fazer essa pesquisa, com maior facilidade do que anteriormente. Nada disto diminui o mérito do trabalho realizado, a seleção e organização temática dos principais discursos parlamentares constitui uma obra da maior utilidade e é porventura a contribuição mais valiosa desta antologia, no seu conjunto com grande interesse histórico.
12 As intervenções parlamentares de Fernandes Tomás foram com grande frequência decisivas, conhecê-las permite compreender o que esteve em jogo e a mentalidade da época, e a capacidade de MFT encontrar a mudança possível, adequada ao momento. Veemente na defesa da abolição da Inquisição, da censura prévia da imprensa ou a favor do sufrágio alargado, foi também conciliador em relação à liberdade religiosa e à reforma dos forais. A sua posição política tem sido assim classificada de gradualista, pontuada de escolhas radicais. A igualdade perante a justiça tornava inadiável a reforma da justiça e J. Luís Cardoso acentua justamente a relevância das reflexões e propostas sobre o sistema de justiça, cuja dimensão passara desapercebida até agora. Também Borges Carneiro, de cujas propostas discordava frequentemente, apontara a prioridade devida à reforma do código penal existente (Portugal Regenerado, 1820).
13 Esta obra ora publicada representa uma contribuição valiosa para o pensamento e a ação de um dos principais políticos do vintismo e abre o caminho à abordagem comparativa entre os diferentes políticos liberais numa base mais consistente, permitindo um conhecimento mais completo acerca desta época.
Notas
1. Ferreira Moura, DCC, 4/1/1823, p. 347, in Cecília Honório, Manuel Fernandes Tomás, 1771-1822. Lisboa: Assembleia da República/Texto, 2009, p. 26.
2. José Arriaga, História da Revolução Portugueza de 1820. Porto: Livraria Portuense, 1886-1889, t. III, p. 632, in Honório, op. cit., p. 15.
3. José Luís Cardoso, A Revolução Liberal de 1820. Lisboa: Clube do Colecionador dos Correios, 2019.
4. Ver M. H. Pereira et al. (eds), Obras de Mouzinho da Silveira. Lisboa: F. Calouste Gulbenkian, 1989, v. I, p. 53 n. 83 e v. II, pp. 1917-20.
5. Ver Valentim Alexandre, “Nacionalismo vintista e a questão brasileira”, in M. H. Pereira et al. (org), O liberalismo na Península Ibérica na primeira metade do século XIX. Lisboa: Sá da Costa Editora, 1982, v. 1, pp. 287-307; Zília Osório de Castro, Portugal e Brasil. Lisboa: Assembleia da República, 2002.
Miriam Halpern Pereira – CIES, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal. E-mail: miriam.pereira@iscte-iul.pt
CARDOSO, José Luís Cardoso (org). Manuel Fernandes Tomás. Escritos políticos e discursos parlamentares (1820-1822). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2020. 538p. Resenha de: PEREIRA, Miriam Halpern. Ler História. Lisboa, n.78, p.296-300. Acessar publicação original [IF]
El Portugués – CLEMENTE (LH)
CLEMENTE, Eloy Fernández. El Portugués. Zaragoza: Doce Robles, 2017, 329 pp. Resenha de: MAURÍCIO, Carlos. Ler História, v.74, p. 284-287, 2019.
1 Pode um historiador escrever um romance histórico? Tendo o mais importante historiador português do século XIX – Alexandre Herculano – sido o autor de três romances históricos, não vejo motivos para uma resposta negativa. Que a erudição académica é inteiramente compatível com a escrita ficcional, prova-o O Nome da Rosa, da autoria do semiótico e filósofo Umberto Eco, que vendeu já mais de 50 milhões de exemplares em todo o mundo. Num dado momento da sua carreira, um historiador pode sentir-se motivado a procurar uma outra forma de expressão, liberta dos parâmetros que condicionam a escrita historiográfica. Uma forma que lhe permita criar um texto factualmente bem fundamentado, mas dotado de uma razoável margem de dramatização, cuja autoridade assente mais na plausibilidade, ou mera possibilidade de ter ocorrido, do que no grau de certeza e na exaustividade da informação que se exige aos trabalhos académicos. Eloy Fernández Clemente reproduz (p. 329) justamente as palavras do escritor e guionista espanhol Javier Moro, no seu romance sobre o imperador do Brasil, Pedro I: “Los personajes, las situaciones y el marco histórico de este libro son reales, y su reflejo fruto de una investigación exhaustiva. He dramatizado escenas y recreado diálogos sobre la base de mi própria interpretación para contar desde dentro lo que los historiadores han contado desde fuera.” Assim sendo, não se estranhe que a recensão deste romance histórico – em que o protagonista e a maioria dos personagens que com ele contracenam foram sujeitos históricos reais – apareça nas páginas de uma revista de história.
2 Eloy Fernández Clemente nasceu em 1942, em Andorra, mas foi viver para Espanha aos três anos de idade. Doutorado em Filosofia e Letras, ele pode ser melhor descrito como um historiador aragonês (em 1997, o Ayuntamiento de Zaragoza concedeu-lhe o título de “hijo adoptivo”). É autor de uma vasta obra historiográfica e um reconhecido especialista em temas da história de Aragão e, em particular, sobre o político e economista Joaquín Costa. Publicou também estudos históricos sobre Portugal e a Grécia. El Portugués assinala a sua estreia no domínio do romance histórico. Através da obra acompanhamos a vida do protagonista – Oliveira Martins – durante o período em que viveu na Andaluzia (1870-1874), exercendo funções administrativas nas minas de Santa Eufémia, então arrendadas por uma sociedade portuguesa. Naturalmente, o autor sabe do que fala, pois é autor de vários trabalhos académicos sobre Oliveira Martins.1
3 A estratégia narrativa utilizada pelo autor assenta no discurso na primeira pessoa. No texto alternam as impressões, relatos, ideias e pensamentos íntimos do protagonista com os seus diálogos com personagens reais que conheceu em Espanha, mas também com personagens ficcionais (os diálogos com o farmacêutico Don Vicente revelam-se um recurso útil para a exposição das ideias do protagonista). Por vezes ainda, reproduzem-se excertos das obras de Martins ou das cartas trocadas com amigos, portugueses ou espanhóis. Não deixa, no entanto, de ser curioso que apenas uma personagem com quem Martins privou quase todos os dias não seja dotada de discurso próprio: a esposa, D. Vitória. Sobre ela, só sabemos o que pensa o protagonista…
4 O romance encontra-se dividido em quatro partes, segundo uma ordem cronológica, a que se segue um epílogo. A primeira começa por introduzir a mina, o mundo operário e as questões mais prementes – técnicas e sociais – com que a administração se depara. Através de pensamentos e ações o protagonista revela amiúde as suas preocupações com a dignificação dos trabalhadores e suas famílias, com especial atenção aos filhos. Afirmando que a escola é a primeira obrigação da empresa, o protagonista cria uma escola, de que a esposa se irá encarregar. Mas, em simultâneo, o autor dá início à exposição da avaliação do protagonista sobre a situação política em Portugal, na Europa (da Guerra Franco-Prussiana à Comuna de Paris), mas sobretudo em Espanha (a Revolução de 1868, que inaugura o Sexénio Democrático, a instauração da monarquia parlamentar, a chegada do novo ocupante ao trono, a transição para a República e o seu colapso). Os avanços organizativos da Associação Internacional dos Trabalhadores, em Espanha como em Portugal, também fazem parte das preocupações do protagonista-narrador. O livro detém-se particularmente nas suas ideias políticas, onde se mesclam um republicanismo federalista com os ideais socialistas proudhonianos. A primeira parte não termina, porém, sem que tenha lugar o encontro que se irá revelar a fonte motora da intriga que durará até às últimas páginas. No hospital de Almadén, o protagonista trava conhecimento com a enfermeira-chefe, Adelaida Rúa (p. 65), e uma afeição por ela vai ganhando progressivamente força.
5 A segunda parte do livro aprofunda o tópico da defesa martiniana de uma federação ibérica, por oposição à união dinástica, para reorganizar as sociedades peninsulares a braços com problemas políticos (governos corruptos, burocracia desmesurada, eleições manipuladas) e sociais (um povo vivendo na miséria, explorado por um bando de agiotas ante uma classe média mergulhada na inércia). E dá a conhecer as cogitações do protagonista sobre o debate entre marxistas e proudhonianos, ou temas como a religião ou o feminismo. Os pensamentos e diálogos do protagonista acerca do conflito entre Marx e Proudhon são, aliás, um tema recorrente no livro. Eis, porém, que o que parecia ser um amor platónico se descobre subitamente um amor reprovado pelas normas sociais: um amor proibido. A cena do beijo (p. 153) revela que o protagonista, seis anos apenas volvidos sobre o seu matrimónio, estava envolvido num affaire bem mais sério. A partir daí vamos encontrá-lo mergulhado num conflito íntimo: abandonar a esposa para seguir Adelaida, manter em paralelo o casamento e uma relação extraconjugal – situação a que Adelaida não se presta (p. 281) – ou afastar-se de Adelaida para não abandonar Vitória.
6 A terceira e a quarta partes giram em torno de dois temas: (1) As vicissitudes que marcam o nascimento da I Internacional nos dois países, processo que o protagonista acompanha com interesse através dos seus contatos em Espanha e da correspondência trocada com Portugal; (2) A meteórica transição da monarquia liberal à I República e o desfazer desta, em Espanha. Entre os encontros que o protagonista tem no país vizinho sobressaem nomes sonantes, como o republicano federalista catalão Pi y Margall, com quem o vemos a conversar pouco após a demissão deste de Presidente da República, ou Don Juan Valera, antigo embaixador de Espanha em Lisboa. É impossível ler este livro sem pensar no contexto em que foi escrito: o do crescimento do nacionalismo catalão, medido nas manifestações de massas de 2012 e 2013, na votação em crescendo dos partidos independentistas nas eleições para o parlamento catalão de 2015 e 2017, e que desembocou no referendo de 1 de outubro de 2017 (o livro seria publicado em novembro seguinte). Os três livros que Oliveira Martins escreveu em Espanha – Ensaio sobre Camões, Teoria do Socialismo e Portugal e o Socialismo – são também sucintamente expostos pelo protagonista. Entretanto, o dilema afetivo com que se debate aumenta de intensidade dramática. Adelaida revela-lhe que esperava um filho seu (facto que ele desconhecia), mas que o filho morrera de parto prematuro. “He llorado – confessa então o protagonista (p. 269) –, he llorado de pena por ella y ese niño, mi único hijo; por mi abandono y desidia; de ira y rabia, por mi impotencia y mis dudas.”
7 Passando agora a uma apreciação global, começarei pelo que me parece ter resultado bem. Revelou-se acertada a escolha da narração na primeira pessoa, ao modo de um diário (e não de memórias), em que o protagonista comunica connosco através dos seus pensamentos, dos diálogos nos quais toma parte e das passagens das suas obras e cartas (umas e outras historicamente factuais). Qualquer arte narrativa vive da progressão, entre o início e o fim, do conflito entre as personagens (e dentro delas), da construção de um clímax – numa palavra: de uma intriga. A intriga em El Portugués repousa sobre o amor socialmente reprovável do protagonista por uma personagem que tem voz própria e sentimentos. Entre os dois nasce a paixão e acaba por se abrir um conflito que atinge o seu clímax perto do final (p. 269-81). A isto acresce o simbolismo forte que recai sobre “ese niño prematuro, estrangulado por su próprio cordón umbilical, que hubiera sido español y português, plenamente ibérico” (p. 311). Bravo, Fernández Clemente!
8 Já outros aspetos da obra me parecem ter sido menos bem conseguidos. Antes de mais, o grande peso da erudição. Um exemplo apenas: ao longo das 320 páginas de texto assomam 465 títulos de livros ou de publicações periódicas, muitas vezes inseridos nos diálogos. Ora, um romance (e o mesmo se dirá de qualquer arte narrativa, do teatro ao cinema ou à ópera) deve captar o leitor não tanto por uma erudição apurada como pela emoção capaz de gerar nele. Este livro surge sobrecarregado de informação (títulos de livros, nomes de figuras históricas, riqueza mineralógica da Andaluzia, descrição detalhada dos pratos), o que torna por vezes a sua leitura pouco apelativa. Ser um profundo conhecedor da biografia do sujeito histórico que se propõe romancear, e do seu universo de interações, não garante por si só a escrita de um romance capaz de cativar um largo público.
9 Em segundo lugar, se o conflito que faz mover a obra é bem urdido, poder-se-ia pensar numa conflitualidade alternativa (ou paralela), não de natureza sentimental, mas racional. Desde o momento em que chega a Espanha até ao seu regresso a Portugal, o pensamento de Oliveira Martins sofre modificações – não tanto como viria a conhecer depois, mas, mesmo assim, reais. Um conflito interno poderia ter sido desenhado sobre o percurso intelectual de Oliveira Martins, com as suas dúvidas e as suas superações. Isso ajudaria a reforçar a progressão do romance, no qual, para além do drama amoroso, a existência e o pensar do protagonista acabam por resultar um pouco estáticos. Dir-se-ia que o acompanhamento em direto do sexénio democrático em Espanha, a Comuna de Paris, a intensa conflitualidade que acompanhou a criação da Associação Internacional dos Trabalhadores, e que levou ao seu rápido desaparecimento, não parecem ter feito infletir o seu pensamento político. Ora, se Martins era um convicto republicano federalista em 1870, quando regressou à pátria, em 1874, era um socialista proudhoniano, a quem a república já não entusiasmava e no qual uma sincera hispanofilia ocupava o lugar do federalismo tout court…
10 Concluindo: este é um livro que será lido com agrado por todos aqueles que, em Espanha como em Portugal, são leitores das obras de Oliveira Martins e conhecem as linhas essenciais da sua vida. O autor fornece uma descrição muito detalhada do que foi (ou poderia ter sido) a sua estadia em Espanha, colocando-a com mestria no contexto histórico então vivido na Península Ibérica e na Europa em convulsão. As manobras diplomáticas das potências, a guerra franco-prussiana, a Comuna de Paris, os acontecimentos vertiginosos em Espanha entre 1868 e 1874, e o processo acidentado da construção da A.I.T. têm uma inserção informada e adequada na trama do romance. Ao mesmo tempo, o romance El Portugués é uma ilustração das dificuldades e dilemas com que um historiador se confronta quando empreende escrever um romance histórico.
Notas
1 Entre os quais: “J.P. d’Oliveira Martins nas minas de Santa Eufémia, 1870-1874”, Ler História, 54 (…)
Carlos Maurício – CIES-IUL, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, Portugal. E-mail: carlos.mauricio@iscte-iul.pt.
Poderes Y Personas: Pasado y Presente de la Administración de Poblaciones en América Latina – BRETÓN (LH)
BRETÓN, Víctor; VILALTA, María José (eds). Poderes Y Personas: Pasado y Presente de la Administración de Poblaciones en América Latina. Icaria: Institut Català de’Antropologia, 2017, 304 pp. Resenha de: RODRIGUES, Isabel P. B. Fêo. Ler História, v.74, p. 280-284, 2019.
1 Theoretically and methodologically inspired by the influential anthropological work of Andrés Guerrero in the Andes, this edited volume is organized around his conception of population control and administration of populations deemed to be inferior or incapable of ruling themselves. The volume fuses anthropology with history in order to interrogate the colonial and postcolonial historical processes as well as the everyday socio-cultural mechanisms that gave rise to a blinding form of domination specifically designed to control and silence entire populations, particularly the indigenous peoples across Latin-America. As nineteenth-century hegemonic conceptions of territory and nation encased Latin America’s nation-states, the act of governing inextricably involved the creation of institutions and daily practices designed to administer entire territories and a plurality of populations that were excluded from the institutions of power that formed the postcolonial state apparatus. All ten chapters that compose this volume, present case studies that illustrate different practices and mechanisms of domination across specific historical times and regions paying close attention to the interface between state domination and its effects on the subaltern groups that were and still are subjected to state control and colonialism. The majority of the case studies are on Ecuador, with Peru and Mexico offering comparative studies that illustrate the vast potential of Guerrero’s theoretical and methodological contributions to understand the dual and paradoxical processes of constructing citizenship while simultaneously and producing exclusion and subjugation of indigenous populations across Latin America.
2 The volume is organized into two parts aimed at bringing together the historical development of mechanisms of rule and population control and those who are subjected and made the targets of such domination. The first part, Administración de poblaciones or administration of populations, aims to provide the historical bedrock on which modern states built their mechanisms of domination. The second part, Poblaciones administradas or administered populations, focuses on the actual view from bellow and the acts of resistance indigenous populations and Afro-Ecuadorian devised to gain access to their land, resist state control, and undermine the actual mechanisms of domination and exclusion.
3 Most case-studies are theoretically grounded on Michel Foucault’s conceptions of power as a capillary instrument operating through multiple agents and institutions designed to discipline, punish, surveil, and regulate daily practices orchestrated to homogenize populations and produce conforming citizens. In addition to Foucault, Antonio Gramsci’s conception of hegemonic power operating through the entwined forces of ideology and praxis, enabling acquiescence and conformity, plays a strong analytical role in all the case-studies. Fittingly, the volume starts with María José Vilalta whose work examines the controversial role of the clergy and parish priests during colonial times in producing population registries which enabled the colonial state to control and administer populations extending its tentacles across the Andes, ensnaring the Quechua population into a regime of servitude. Catholicism operated to evangelize and convert souls for the Spanish empire while simultaneously producing a body of texts and registries —from baptismal registries to marriage and death— which were instrumental in deciphering and organizing data during colonial rule. Furthermore, through religious control and early data basis they enabled the extraction of indigenous tribute or tributo indígena contributing to a process of labor extraction to benefit the colonial state and the Spanish descent population.
4 This state of affairs extended beyond the Andes as María Dolores Palomo’s work shows in the case of Chiapas, Mexico. She argues that the emergence of the nation-state transformed the relationship between the new nations and the indigenous populations into new projects of control. The colonial system invented the indio, and the Indian village organized along Spanish principles of urbanization and Catholic morality. There, they imposed a logic of empire which was subsequently recycled into postcolonial municipalities. In municipalities, the separation between indio and ladino implied the superiority of the latter. Ladinization became an instrumental mechanism of cultural and symbolic control conforming to Catholic morality and its domination over minds and bodies.
5 Along the same lines, but engaging the postcolonial state, Eduardo Kingman’s work examines how nineteenth-century Ecuadorian state developed the notion of national security in order to normalize hierarchies and bring about nation-state consolidation. The city became a privileged site of control and Quito the first city in modern Ecuador to have a standing police force regulating public spaces, imposing order, and administering migrations, many of whom were indigenous peoples escaping the oppressive and decrepit hacienda system. Part and parcel with the development of a police force, was the enforcing of Catholic morality. Hence, the act of policing and moral disciplining went hand in hand with Catholic charities playing an instrumental role in sanitizing urban public spaces and creating a moral economy that enhanced the elite’s social capital. With the consolidation of the modern state, the policing, and particularly the policing of urban spaces, is enhanced by infrastructural developments, which facilitated the regulation of population movements and migratory fluxes. As he shows, the city and the modern nation-state became interdependent. From urban areas emanated the instruments of control, which would play a critical role in forming conforming citizens from the nineteenth century through the present.
6 The development of mechanisms of control, as Ana María Goetschel demonstrates, is indispensable to organize how the state apparatus relates to its population. Critical to this organization is the administration of populations based on census and statistical data. The census creates social categories and produces over time a large body of statistical information, which will be used to regulate populations, create the first criminal registries, and design mechanisms more efficient mechanism of extraction and policing. Not surprisingly, the indigenous population has avoided being counted and participating in national census and registries. Nevertheless, the use of census categories can also be instrumental in the construction of ethnic categories and in enhancing the visibility of certain populations. Such is the case-study of Afro-Ecuadorian populations by Carmen Martinez Novo. She argues that during the 1990’s the indigenous movement in Ecuador was quite powerful and successful in creating effective institutions for the education and development of indigenous peoples. Nevertheless, only 7% of Ecuadorians identified as indigenous people in the census of 2010, suggesting that the indigenous population continues to distrust the census as a mechanism historically used to extract their labor and impose tribute. In contrast, the Afro-Ecuadorian population have only been counted since 2001 and their newly gained visibility is tied to its participation in the census. Influenced by North American hypodescent racial conceptions, Afro-Ecuadorians brought the conception of “raza” through, which is also used by the contemporary neo-liberal state to fracture the population into several ethnicities ultimately enhancing state control.
7 The second part of the volume, Poblaciones Administradas, starts with Víctor Bretón on the political dimensions of identity across the Andes. He argues that the indigenous Identities in the Andes have not been static, but have changed along historical axis tied to access to land and indigenous resistance. The end of the hacienda system facilitated and accelerated new migrations, which led to a pan-indigenous consciousness. Subsequently, the land reforms of the 1960’s and 1970’s in Ecuador accelerated internal process of differentiation among the Quechua population. After the 1980’s, the neoliberal state will open to international ONGs working with subaltern populations coopting indigenous leaders and reinforcing ethnic boundaries as the prime organizational principal of international cooperation producing new forms of ventriloquism and ethnic essentialism. Delegating the administration of the indigenous people to the private realm as was the case with the hacienda system, as Luis Alberto Tuaza shows enabled the domination of the white-mestizo population over the indigenous people and the impunity of a colonial patriarchal regime that has silenced the daily forms of oppression including sexual violence. Resistance and collectivism were among the indigenous strategies of survival still based on ancient systems of reciprocity.
8 Likewise, Jordi Gascon, in his case-study on Peru documents the hacienda as a system of domination overtaking the state’s role in population management and indigenous rural areas. The brutality of this regime left its marks across the region denying basic human and civil rights just as Latin American nations were constructing citizenship and codifying civil rights. As such, resistance to this form of structural violence was key, such is the case with indigenous paintings that Laura Soto studied in Tigua, Ecuador. This naïve art became an alternative language of cultural survival used to inscribe indigenous history and culture and create a new semantics capable of documenting the indigenous way of life in their own terms. As Ecuador’s neoliberal state reinvents new ways to manage populations, the rise of NGO’s across the region and competing foreign economic interests have become new agents of territorial and population control. Particularly in the Amazonian region where Javier Martinez Sastre takes place. As he documents, indigenous people had to reorganize and define themselves along the syntax of ethnicity that was recognized by international players.
9 These rich case-studies altogether highlight regional nuances without losing sight of the interstices between historical similarities and regional specificity deployed to effectively enact the governing of plural populations. Ultimately, all case-studies show how the act of governing and administering subjected populations is processual and deeply embedded in social life and daily forms of producing and enacting power and control, which over time become hegemonic and unchallenged. Thus, the necessity to interrogate the mechanisms that render power and domination invisible must be central to the social sciences as this volume demonstrates in a language that is theoretically well grounded and yet accessible to students.
Isabel P. B. Fêo Rodrigues – Department of Anthropology & Sociology, University of Massachusetts Dartmouth, USA. E-mail: irodrigues@umassd.edu.
Portugal e a questão do trabalho forçado: um império sob escrutínio (1944-1962) – MONTEIRO (LH)
MONTEIRO, José Pedro Monteiro. Portugal e a questão do trabalho forçado: um império sob escrutínio (1944-1962). Lisboa : Edições 70, 2018, 401 pp. Resenha de: CASTELO, Cláudia. Ler História, v.75, p. 296-299, 2019.
1 Licenciado em relações internacionais, mestre em ciência política e relações internacionais e doutor em História, José Pedro Monteiro é um investigador jovem com um currículo científico invulgarmente internacionalizado e consistente, mas que não tem descurado a vertente da divulgação para a sociedade portuguesa (refiram-se, em colaboração com Miguel Bandeira Jerónimo, os ensaios e entrevistas da série “Histórias do presente” saída no jornal Público ao longo de 2018, ou a exposição “O direito sobre si mesmo : 150 anos da abolição da escravatura no império português”, inaugurada em Julho de 2019, na Assembleia da República). Também o livro que temos em mãos, uma versão revista e editada da sua tese de doutoramento, se dirige a um público que extravasa a academia, interessando-o por um problema central na história do último império colonial português : a questão laboral africana.
2 O autor contribui para o avanço do conhecimento sobre o tema do ponto de vista empírico, conceptual e analítico. Baseado em pesquisa de fontes primárias publicadas e manuscritas (de arquivos portugueses, britânicos, norte-americanos e da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra), e numa bibliografia actualizada e pertinente, este livro enquadra-se nos debates historiográficos recentes sobre “a mútua constituição, interdependência e intersecção” de dois processos históricos que marcaram o século XX : o internacionalismo e o imperialismo (p. 21). Revela-nos como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) condicionou os debates e processos de tomada de decisão política respeitantes à questão do “trabalho indígena” (e modalidades aparentadas) no império colonial português no contexto de gradual contestação à legitimidade imperial após o fim da Segunda Guerra Mundial. Percebemos que o problema do trabalho forçado deve ser equacionado levando em consideração as dinâmicas internacionais e transnacionais que influenciaram a produção e avaliação de políticas e práticas imperiais, nomeadamente através de processos de escrutínio regular, cotejo normativo, denúncias internacionais e projectos e esforços de reforma, mesmo que sem tradução prática.
3 A estrutura do livro promete seguir a ordem cronológica dos eventos em quatro momentos : 1945-49, 1950-54, 1955-60 e 1961-62. A segunda parte, porém, volta ao início dos anos 40, não se cingindo, efectivamente, ao período indicado na introdução (p. 23). A organização diacrónica, não introduzindo inovação, oferece-nos uma narrativa detalhada do problema e espelha a sua complexidade. Somos confrontados com persistentes práticas laborais coercivas em várias geografias e envolvendo populações “indígenas” e “cidadãos” cabo-verdianos, desfasadas da evolução verificada nos impérios europeus congéneres, denunciadas não só por actores internacionais e transnacionais, mas também por agentes do estado-império português, envolvidos num “processo de autorreflexão imperial durante o período posterior à Segunda Guerra Mundial” (p. 64). Percebemos que, não obstante diversas críticas internas incisivas (para além da que ficou mais conhecida, a de Henrique Galvão), as iniciativas “reformistas” ficavam sempre aquém das soluções que visavam uniformizar os sistemas laborais metropolitanos e coloniais. Isto porque a grande preocupação dos críticos era arranjar formas de assegurar a respeitabilidade internacional do país e a legitimidade externa do império (p. 82), sem nunca pôr em causa o dever moral do “indígena” de trabalhar (p. 98).
4 Passamos a conhecer com minúcia os processos de decisão no seio do Estado Novo, assentes na gestão da tensão entre, por um lado, “a vontade de preservar a soberania imperial na definição das políticas sociais coloniais e de contrariar a sua internacionalização” e, por outro, “a necessidade de aprofundar a integração internacional neste domínio” (p. 52). Verificamos que foi a dimensão internacional que, na segunda metade dos anos 50, forçou o governo português a ratificar diversas convenções da OIT. O momento mais saliente da pressão externa, a queixa do Gana contra Portugal por violação da Convenção da Abolição do Trabalho Forçado, no seio da OIT, e a actividade da comissão de inquérito, além de levar à “multiplicação de instâncias de autoescrutínio” na máquina burocrática imperial e colonial, deu azo a “iniciativas que visavam emendar alguns dos aspectos mais gravosos da política social ‘indígena’” (p. 330). Também aqui – na capacidade de colaboração, acomodação e contemporização nos círculos internacionais – se evidencia a “arte de saber durar” do Estado Novo.1 Não esqueçamos que se o trabalho dos africanos foi a trave-mestra do império, da durabilidade deste dependia a existência do próprio regime.
5 Vejamos agora algumas questões que poderiam ter sido esclarecidas ou aprofundadas. Em que medida o recrutamento de trabalhadores cabo-verdianos para outras colónias portuguesas se pode inserir na problemática do “trabalho indígena”, não sendo os naturais de Cabo Verde abrangidos pelo indigenato (p. 248) ? Nos anos 40 a migração cabo-verdiana para São Tomé e Moçambique, “com o impulso das autoridades (…) adquiriu um nítido carácter forçado”.2 O trabalho contratado para as roças são-tomenses e plantações de Angola ou Moçambique equiparava-os na prática a “indígenas”, sendo tutelados pelos serviços de “Negócios Indígenas” e sujeitos a sanções pelas faltas laborais previstas no Código de Trabalho Indígena. Às normas jurídicas sobrepunham-se o pragmatismo económico, os interesses do recrutamento, a política de controlo social e a diferenciação racial no seio do império.3 Estou em crer que a mão-de-obra africana de Angola, Moçambique e Guiné, anteriormente categorizada como “indígena”, terá continuado sujeita à mesma “indigenização” informal após o fim legal do indigenato e do trabalho forçado. No contexto das guerras coloniais/de libertação, estradas e outras obras de “interesse público” continuariam a ser construídas sem que os trabalhadores africanos auferissem qualquer salário ; autoridades administrativas não cessariam de imediato de colaborar no fornecimento de mão-de-obra africana ao sector privado. Mas, como refere José Pedro Monteiro, só estudando o período posterior a 1962 será possível “aferir da transformação real das práticas que as mudanças legislativas impulsionaram (ou não)” (p. 369).
6 Outro feixe de questões relaciona-se com os tempos (tardios) e os modos (parcelares) de ajustamento ao standard internacional. Havendo entre os inspectores (e não só) do Ministério das Colónias/do Ultramar um tão amplo conhecimento dos abusos, da violência, da corrupção das autoridades administrativas, porque é que no império português a resistência à mudança foi mais duradoira do que noutros impérios ? Porque se tardou tanto a aceitar que a exploração económica se devia subordinar ao bem-estar das populações autóctones ? Porque é que “os limites da imaginação burocrática imperial continuavam presos a referenciais que se encontravam em processo de gradual deslegitimação internacional” (p. 274) ? Algumas passagens do livro parecem remeter-nos para a persistência entre os portugueses (autoridades e particulares) de uma visão “paternalista” (racista, diria) sobre os trabalhadores africanos (por exemplo, pp. 71, 77, 99 e 259), na contramão da tão propalada à época “tradição não-racista” dos portugueses. Mas outras razões poderiam ser aduzidas. Desde logo, o modelo de exploração económico vigente, que dependia da manutenção de um sistema laboral dual.
7 As Conferências Interafricanas de Trabalho patrocinadas pela Comissão de Cooperação Técnica na África ao Sul do Saara (CCTA) e o Instituto Interafricano do Trabalho, organismo especializado da Comissão, surgem pontualmente ao longo do livro, mas não são alvo de tratamento específico. Que papel desempenhou a participação portuguesa nesta cooperação técnica regional nas dinâmicas de ajustamento às demandas internacionais ? O que podemos ganhar acrescentando de forma mais explícita a escala de análise interimperial e intercolonial ? Convém ter em conta, como salienta José Pedro Monteiro, que o problema do trabalho nas colónias portuguesas do continente africano era um problema indissociavelmente ligado ao êxodo de trabalhadores rurais para países vizinhos (p. 83).
8 Finalmente, deixo pequenos reparos. Na bibliografia foram incluídas fontes primárias impressas (produzidas na época por actores objecto de estudo, como Silva Cunha, Afonso Mendes, José Pereira Monteiro ou Adriano Moreira), embora mais à frente apareça autonomizada uma lista de fontes primárias impressas da OIT. A lista das fontes primárias é, de facto, uma lista de fontes de arquivo. Teria sido preferível apresentar primeiro as fontes primárias manuscritas ou de arquivo, depois as fontes primárias impressas e finalmente a bibliografia. O elenco das fontes de arquivo deveria apresentar os títulos dos fundos, secções, séries documentais ou colecções consultadas e não listas de códigos de referência ou de cotas topográficas. BIT (Bureau International du Travail, o secretariado da OIT) não chega a aparecer por extenso. As convenções são muitas vezes indicadas apenas pelo número. A inclusão de listas de siglas e das convenções teria ajudado o leitor. Trata-se de uma edição sóbria e cuidada, enriquecida com um índice remissivo. Estranha-se, no entanto, que ONU seja sistematicamente grafada num tamanho de letra inferior às restantes siglas.
9 Nada do que foi apontado como menos positivo invalida que se recomende vivamente a leitura deste livro. Trata-se de um trabalho incontornável, sério e rigoroso, no âmbito da história do colonialismo português tardio e especificamente da sua pedra angular – o trabalho forçado –, que expande o campo de observação à escala internacional, merecendo ser tido em conta pelos que se ocupam do estudo comparado das formações imperiais na era da descolonização (para isso recomenda-se a sua tradução para inglês), sendo também relevante para pensar o regime do Estado Novo.
Notas
Já foram examinados como factores explicativos da longevidade do Estado Novo português, o papel d (…)
2 Augusto Nascimento, O sul da diáspora : cabo-verdianos em plantações de S. Tomé e Príncipe e Moça (…)
3 Ibidem, pp. 206-209.
Cláudia Castelo – Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, Portugal. E-mail: claudiacastelo@ces.uc.pt
Política e Justiça na I República. Um regime entre a legalidade e a excepção. vol. II (1915-1918) – CHORÃO (LH)
CHORÃO, Luís Bigotte. Política e Justiça na I República. Um regime entre a legalidade e a excepção. vol. II (1915-1918). Lisboa: Letra Livre, 2018, 669 pp. Resenha de MATOS, Sérgio Campos. Ler História, v.75, p. 291-295, 2019.
1 Há hoje duas tendências muito frequentes nos estudos históricos, que aliás não são recentes. A primeira é a sua subordinação a agendas políticas parciais e a pré-conceitos que reduzem a multiplicidade de possibilidades que qualquer conjuntura histórica encerra em si mesma – esquecendo que qualquer tempo passado transporta consigo uma memória plural e expectativas de futuro que não se podem reduzir a um caminho único ; por exemplo, toma-se a I República em todo o seu percurso, indiferenciadamente e sem distinções mais finas, como um regime “radical e violento” ou até como um “regime terrorista” – o que impede a sua compreensão histórica. A outra tendência, que podemos designar de narrativista, prende-se com a ilusão de que uma narrativa linear de acontecimentos numa escala meramente individual e em ordem cronológica é suficiente para compreender os problemas. Esta tendência exprime-se na atracção pela biografia entendida do modo mais simples : como se a sucessãolinear de acontecimentos que se vão sucedendo numa vida pudesse explicá-la. O que não quer dizer que não encontremos excelentes biografias publicadas nos últimos anos por autores portugueses.
2 Ora, Luís Bigotte Chorão foge a estas duas tendências. Consciente da complexidade da época que estuda, escolheu um caminho bem mais difícil, prosseguindo um projecto iniciado há anos – o de analisar detalhadamen-
te as relações entre política e direito no tempo da I República. Um projecto coerente que se distingue por interesses históricos amplos. O autor já publicou um volume sob o mesmo título em 2011,1 e incide agora nos anos que coincidem com a I Guerra Mundial, anos críticos em que a recém-instaurada República foi posta à prova perante outras potências europeias que constituíam ameaças à sua integridade territorial e à própria independência nacional : o Império alemão e a Espanha. O problema do relativo isolamento internacional da I República e as ameaças externas e internas que a atingiam explica em larga medida a intervenção portuguesa na Grande Guerra. A difícil conjuntura em que se dá a intervenção na guerra permite-nos compreender, em larga medida, a dialéctica entre legalidade e excepção num regime que não chegou a durar 16 anos.
3 O historiador baseia-se num largo leque de fontes de carácter muito diverso : imprensa periódica, diários da Câmara dos Deputados e do Senado, memórias, depoimentos, panfletos, variada documentação de arquivo, etc. E dá-nos referências dessas fontes em frequentes e extensas notas. Mas as análises detalhadas que encontramos nas 670 páginas deste livro estão também escoradas em estudos actualizados, muitos deles internacionais (designadamente sobre a Grande Guerra). E também estes passam pelo bisturi crítico de Luís Bigotte Chorão, que por vezes discorda dos seus pares – geralmente com bons e provados argumentos –, sobretudo quando outros historiadores nos dão interpretações parciais de factos, não escoradas em provas. É que o autor é comandado por uma intenção central de veracidade histórica, dando voz aos múltiplos agentes e orientações políticas que sempre se confrontam numa comunidade nacional. O autor é avesso a pré-conceitos que estreitem a compreensão do passado e reduzam o leque de problemas e expectativas que coexistem em determinada conjuntura histórica. Esta é, pois, uma obra em que domina um regime rigoroso de verdade (ou não fosse o seu autor jurista de profissão) e um sentido analítico que não é acessível a qualquer leitor, pois convoca actores históricos, alguns de segundo plano, hoje esquecidos do leitor médio, acontecimentos, problemas e conceitos políticos e jurídicos, tudo isto com um detalhe que por vezes torna a sua leitura difícil para quem desconheça a história da I República.
4 Há uma preocupação de situar as dificuldades políticas de múltiplos ângulos, tendo em conta problemas estruturais, económicos e sociais, dados da história económica comparada – por exemplo, “o PIB per capita de Portugal era de cerca de um terço do dos países mais desenvolvidos, o mais pobre da Europa ocidental e dos mais pobres de toda a Europa” (p. 210) – com largas referências à crise das subsistências e à política de abastecimentos durante a guerra. Sem esquecer as políticas sociais debatidas na época ; o modo como foi considerada a participação de Portugal na Grande Guerra entre os juristas da Faculdade de Direito de Lisboa e a acção de vários ministros da justiça ; a atenção a problemas sociais – caso da vadiagem, ou do agudizar da conflituosidade e violência social que, na conjuntura de princípios de 1916, o autor caracteriza como “uma insurreição popular contra a carestia de vida, tendo por finalidade o assalto aos estabelecimentos comerciais de géneros alimentícios, calçado, roupa e casas de penhores” (p. 414). Mas a lente do historiador dá também atenção a faits-divers e a acontecimentos singulares sintomáticos que se repercutiram politicamente, caso do acidente de Afonso Costa num carro eléctrico, logo explorado criticamente pelos jovens futuristas ligados à Orfeu, entre eles Fernando Pessoa, pela voz de Álvaro de Campos. Ou o caso do soldado Ferreira de Almeida, único exemplo de um militar a ser executado, em Setembro de 1917, sentenciado que fora a pena de morte, acusado de ter passado para o lado do inimigo – em contraste com as centenas de militares de outras nacionalidades que foram sentenciados à pena máxima.
5 Destacarei cinco tópicos em que o autor abre horizontes de pesquisa pouco explorados pela historiografia portuguesa, situando-os numa perspectiva transnacional, e contribuindo para alargar o conhecimento da situação de Portugal no tempo da guerra, tanto no cenário interno como no âmbito internacional. O primeiro tem que ver com amnistias e indultos. O autor alude à “generosa tradição amnistiadora” da República, com múltiplos diplomas que remontam aos primórdios do regime (o primeiro datado de 4 de Novembro de 1910, três em 1911, um em 1912, um em 1913, quatro em 1914) além dos indultos e das comutações de penas (p. 40) – o que envolve o problema das relações do novo regime republicano com os seus detractores, e mostra bem a moderação que caracterizou o exercício da justiça na I República. Se o regime de separação de serviço de funcionários adoptado em 1915 suscitou reservas, desde logo pela sua natureza de lei de excepção (lei nº 319 de Junho de 1915, que afastava aqueles que não dessem “uma completa garantia da sua adesão à República e à Constituição”), a verdade é que as sucessivas amnistias e indultos adoptados durante a I República se inscrevem numa tradição humanista do democratismo republicano em que deve igualmente situar-se a abolição da pena de morte (só retomada em 1916 para alguns crimes militares). Por exemplo, segundo a lei de 17 Abril de 1916, só os funcionários que tivessem sido membros do anterior governo de Pimenta de Castro continuaram fora de serviço, mas a receber os seus vencimentos e sem prejuízo de aposentação ou reforma.
6 O segundo tópico é o que respeita às diferentes e matizadas posições políticas face à Grande Guerra : do intervencionismo ao pacifismo e direito das gentes ; posições partidárias, incluindo as de políticos socialistas e anarquistas, radicalmente contrários à intervenção. E sem esquecer tomadas de posição muito significativas no plano internacional. Por exemplo, a de Charles Maurras, que qualificava a guerra de “à la sauvage” e de extermínio : “L’attentat dont les passagers innocents de la Lusitania sont victimes achève de prouver que nous sommes en présence d’une guerre à l’antique et à la sauvage : dépossession, extermination” (p. 346, n. 1141). A este respeito, acrescentemos, Sigmund Freud, num notável ensaio sobre a Grande Guerra,2 referir-se-ia a um regresso a comportamentos instintivos e primitivos.
7 O terceiro tópico que destaco é o problema da neutralidade no grande conflito. Rui Barbosa, um jurista brasileiro citado, notou que a neutralidade, ao tempo, assumiu “um papel diferente daquele que desempenhara outrora”, até pela razão da interdependência dos estados entre si (p. 147). Luís Bigotte Chorão mostra como a violação da neutralidade da Bélgica teve profundo impacto nas diplomacias e opiniões publicas europeias. E lembra que a neutralidade desta pequena nação constituíra “uma condição do reconhecimento da sua independência de acordo com os tratados de 15 de Novembro de 1831 e de 19 de Abril de 1839, assinados em Londres” (p. 122). Aliás, na prática, Portugal já violara a neutralidade antes de entrar na guerra na Europa (p. ex. abastecendo e permitindo a passagem de tropas inglesas pelos seus territórios). E a declaração de 7 de Agosto de 1914, que Bernardino Machado, então chefe do governo, lera no parlamento foi uma “proclamação de neutralidade” que traduziu a dupla posição de Portugal de não-beligerante e de aliado da Grã-Bretanha.
8 O quarto tópico refere-se ao pangermanismo e anti-pangermanismo. As páginas que o autor dedica a este respeito trazem para primeiro plano um factor fundamental para a compreensão da Grande Guerra, o da propaganda e contra-propaganda, recorrendo a esclarecedora bibliografia francesa, brasileira, alemã e portuguesa. Considera a germanofilia de um intelectual e historiador como Alfredo Pimenta. Ou a posição crítica em relação ao pan-germanismo de autores tão diversos como o sociólogo E. Durkheim ou o jornalista A. Charadame, entre outros. Note-se que a propaganda pangermanista obedecia à intenção de criar um grande império alemão na Mitteleuropa. Lembremos que, muito mais tarde, Norbert Elias contribuiu para a compreensão deste projecto expansionista invocando a tardia unificação política da Alemanha – com o consequente tardio investimento na partilha colonial –, o sentimento de declínio que dominou as suas elites, e a curta experiência liberal por que passou, tudo factores que explicariam a seu ver esse expansionismo.3
9 Por fim, destaque-se o problema do perfil político da I República, um regime entre legalidade e excepção – débil legalidade, segundo o autor. Lembre-se que o conceito de estado de excepção envolve a suspensão do ordenamento jurídico como medida provisória e extraordinária, em domínios específicos. Ora, a I República viveu uma situação excepcional durante a Grande Guerra, como afirmou um jornalista de A Capital em 1915 : “Quem dirá que esta situação não é excepcional ? E sendo excepcional, evidentemente todos os problemas da vida portuguesa tomam aspectos excepcionais” (p. 215). Exemplos : a censura prévia adoptada por proposta do ministro da justiça Mesquita Carvalho (lei nº 495, de 28 de Março de 1916) ; as medidas excepcionais adoptadas contra a presença em território nacional de súbditos alemães (pp. 507 e ss) ; ou ainda o já referido afastamento do serviço, com carácter definitivo, dos funcionários que não garantissem “adesão à República e à Constituição” (lei nº 319 de Junho de 1915, criticada por Raul Proença). Mas qual a fronteira entre excepção e legalidade ? Em que sentidos deve tomar-se este conceito de excepção ? Pode aplicar-se indiferenciadamente a toda a vigência da I República ? Evidentemente que não. Se for no sentido de regime ditatorial moderno, nele não há separação de poderes. Poderá decerto esclarecer-se melhor esta tensão entre legalidade e excepção num próximo volume. Se houve momentos em que a I República resvalou para a ditadura num sentido oitocentista do termo – caso da governação de Pimenta de Castro –, noutros, diríamos, aproximou-se de um modelo autoritário contemporâneo, com Sidónio Pais – regime aqui bem visto “em ruptura com a ordem jurídico-constitucional de 1911 e sua substituição” (p. 639).
10 Concluindo, o autor distancia-se criticamente de interpretações redutoras e parciais ainda hoje aceites. Por exemplo acerca do 14 de Maio, que derrubou a ditadura de Pimenta de Castro e foi designada como “segunda revolução republicana” : “a história interna do 14 de Maio [comprova] não ter sido a decisão revolucionária exclusiva de democráticos, e mais, a solução governativa saída da revolução foi diferente da tentada pela Junta Revolucionária” (p. 364). Resultado de prolongada investigação, com dados e interpretações novas, este livro carreia fundamentos para uma compreensão mais distanciada da I República de um ponto de vista que faltava : o da relação entre o estado e o direito. Novidade tanto mais significativa quanto nos últimos anos se têm multiplicado os estudos sobre a participação de Portugal na Grande Guerra sem que este ângulo tenha sido privilegiado sistematicamente como Luís Bigotte Chorão o faz. Seria bom que, no final do seu projecto – haverá mais um ou dois volumes até chegarmos a 1926 ? –, o autor nos desse uma síntese mais breve e acessível a um público médio, não especializado, acompanhada de uma orientação de fontes e bibliografia seleccionadas. Está de parabéns não só o historiador, por mais este resultado do seu rigoroso ethos profissional, mas também o editor Letra Livre pelo cuidado que investiu na execução gráfica do livro.
Notas
1 Política e Justiça na I República. Um regime entre a legalidade e a excepção. Vol. I (1910-1915). (…)
2 Ver “Considerações de actualidade sobre a guerra e a morte” [1915], in O mal-estar na civilização (…)
3 Ver Os alemães. A luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX. R. Janeiro: Zahar (…)
Sérgio Campos Matos – Universidade de Lisboa, Centro de História, Portugal. E-mail: sergiocamposmatos@gmail.com
Inmigración, Trabajo y Servicio Doméstico en la Europa Urbana, Siglos XVIII-XX – ISIDORO DUBERT (LH)
ISIDORO DUBERT, Vincent Gourdon (org). Inmigración, Trabajo y Servicio Doméstico en la Europa Urbana, Siglos XVIII-XX. Madrid: Casa de Velázquez, 2017, 304 pp. Resenha de: ABRANTES, Manuel. Ler História, v.75, p. 288-291, 2019.
1 O estudo do trabalho doméstico tem florescido na última década, ganhando visibilidade em vários campos científicos. A contiguidade destes campos é tão evidente quanto os benefícios do diálogo interdisciplinar. Ao debruçar-se sobre o livro Inmigración, Trabajo y Servicio Doméstico en la Europa Urbana, Siglos XVIII-XX, um sociólogo que estuda as características contemporâneas deste sector de trabalho não tarda a recordar certas leituras iniciáticas ; e, assim impelido a abrir mais uma vez o extraordinário tratado de Wright Mills sobre a imaginação sociológica, reencontra as páginas nas quais o autor norte-americano propõe que “as ciências sociais são elas próprias disciplinas históricas” e que “precisamos da variedade disponibilizada pela história até para formular questões sociológicas de forma apropriada, quanto mais para lhes responder”.1
2 O livro aqui analisado, organizado pelos historiadores Isidro Dubert e Vincent Gourdon a partir de um colóquio que se realizou em Santiago de Compostela em 2013, é constituído por três partes encadeadas numa ordem lógica : de uma matriz mais geral (visões panorâmicas) para uma matriz mais particular (análises de casos específicos). A primeira parte é dedicada à relação entre a mobilidade populacional campo-cidade e os processos de urbanização e industrialização. O foco empírico incide sobre cidades da Europa que, tendo vivido estes processos em graus e ritmos diversos, têm em comum o facto de se distinguirem do paradigma de industrialização tout court privilegiado nos estudos anglo-saxónicos. Como se sublinha desde logo no capítulo introdutório do livro, os desenvolvimentos ocorridos em Paris, Turim, Santiago de Compostela, Lisboa ou Porto, ainda que difusos ou ambíguos, são exemplificativos de uma parcela substancial do fenómeno de urbanização no continente europeu.
3 Começamos por um texto de enquadramento, no qual Jean-Pierre Poussou sintetiza grandes tendências do século XVIII aos dias de hoje. De seguida, Teresa Ferreira Rodrigues e Susana de Sousa Ferreira concentram-se no período de 1850-1930 em Portugal, examinando as ligações entre migrações internas, sistema urbano e políticas de industrialização. Para este fim, tomam em consideração não só os fluxos demográficos mas também os padrões de comportamento em dimensões como a nupcialidade, a fecundidade, os quotidianos e os modos de apropriação do espaço urbano. São elementos importantes para compreender os desequilíbrios de um país que se movia a diferentes velocidades ; um país cuja população aumentou de 3,5 milhões em 1850 para 6,8 milhões em 1930, aumento absorvido em larga medida pelos movimentos migratórios que resultavam de assimetrias regionais de crescimento demográfico e desenvolvimento. Por outro lado, as autoras não deixam de salientar várias diferenças significativas em função do género (percursos de homens e de mulheres), da duração (migrações permanentes, temporárias e sazonais) e da distância geográfica (migrações internacionais, do interior para o litoral, e das zonas rurais para as zonas urbanas). As redes migratórias que na mesma época se desenvolviam em Madrid e Paris são estudadas por Rubén Pallol Trigueros e Manuela Martini, respetivamente.
4 A segunda parte do livro reúne trabalhos que procuram compreender a concomitante transformação dos mercados de trabalho rurais e urbanos, detendo-se com especial atenção nas dinâmicas associadas à composição familiar e ao ciclo de vida. Llorenç Ferrer-Alós dedica-se ao caso da Catalunha no século XIX e Isidro Dubert à cidade de Santiago de Compostela nos séculos XIX e XX, enquanto François-Joseph Ruggiu nos leva ao século XVIII em Charleville, actualmente Charleville-Mézières. Por último, os capítulos da terceira parte cruzam a análise estatística com a reconstrução de percursos de vida – a partir de fontes diversas como recenseamentos, registos fiscais ou testemunhos orais – para examinar a relação entre fluxos migratórios, mercados de trabalho e serviço doméstico ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX. Aprofundamos assim a compreensão de dinâmicas específicas do trabalho doméstico pago em Turim (por Beatrice Zucca Micheletto), Charlevillle (por Fabrice Boudjaaba e Vincent Gourdon), Granada (por David Martínez López e Manuel Martínez Martín) e Corunha (por Luisa María Muñoz Abeledo). O capítulo sobre Granada, por exemplo, mostra que nessa cidade as consideráveis flutuações na dimensão do sector do serviço doméstico dentro dos limites temporais do estudo – de 1890 a 1930 – não seguiram um padrão linear, antes acompanhando transformações culturais relacionadas com práticas e atitudes de classe, com a economia da prestação de cuidados e com a própria (des)valorização deste tipo de trabalho. A segmentação entre serviço interno e externo comporta uma clara marca de género que lança luz sobre desenvolvimentos posteriores do sector.
5 Se o capítulo de David Martínez López e Manuel Martínez Martín destaca a dimensão de género na organização do serviço doméstico, faz-nos falta o reconhecimento desta dimensão noutros momentos do livro, sob risco de se negligenciar a exploração das mulheres e o carácter estruturante da desigualdade entre mulheres e homens, tanto nas relações hierárquicas de classe como nas dinâmicas internas à classe trabalhadora e à burguesia. Esta perspectiva é fundamental para explicar as tensões e transformações do serviço doméstico – quer em retrospectiva, quer na actualidade. Como argumenta Rosemary Crompton, o género nunca deixou de ser, ao longo dos séculos XIX e XX, um elemento determinante na repartição de responsabilidades, na ideologia da vida privada e da vida pública enquanto esferas separadas, e nos modelos de divisão do trabalho daí decorrentes.2
6 A pluralidade dos estudos reunidos no livro, a par do diminuto conhecimento histórico do autor desta recensão, dificulta a elaboração de uma linha comum de leitura e interpretação. Certo é que o livro dá um contributo importante para se reconhecer a centralidade do serviço doméstico na História das sociedades europeias – seja de um ponto de vista económico, enquanto sector de trabalho volumoso, complexo e dinâmico, seja na estruturação das relações sociais e, por conseguinte, na organização das práticas quotidianas. Daqui decorre um convite claro a perscrutarmos as segmentações internas do serviço doméstico, das suas realidades mais públicas às dinâmicas mais íntimas e informais, estas últimas obscurecidas pela subalternização histórica das vozes e das experiências das mulheres – e, sobretudo, das mulheres da classe trabalhadora. Mas o desafio será também não perder de vista o quadro mais amplo ; não acantonar o serviço doméstico como objecto de investigação ; realçar as suas singularidades sem esquecer as interligações com outros sectores de trabalho e com outras componentes das relações de género.
7 Do ponto de vista metodológico, os organizadores do livro defendem consistentemente o potencial das genealogias e das análises de ciclo de vida para um entendimento mais fino das mudanças sociais. Propõem uma lente mesoscópica capaz de captar a agência dos indivíduos, as redes, as mediações, as relações com a cidade, as dinâmicas familiares. Rejeitando uma noção dos contextos de partida e de chegada como estanques, constatamos com efeito que a destruição das vidas e economias rurais esteve na origem de fluxos campo-cidade que pouco devem a aspirações pessoais. Ou seja, o aprofundamento do estudo das condições individuais não nos leva, de modo algum, a cair nas falácias de um individualismo metodológico : pode justamente ser um passo necessário para reduzir o factor individual à medida apropriada. Por tudo isto, o livro aqui recenseado é também um convite a reler o notável trabalho de Inês Brasão, que estuda a condição servil em Portugal entre 1940 e 1970 a partir dos processos de dominação e de resistência que a caracterizaram, baseando-se num conjunto amplo de fontes que vai de censos a testemunhos orais, de legislação a excertos de imprensa, de relatórios públicos a fotografias pessoais.3 A linha que pode unir as criadas de servir em épocas passadas e as empregadas domésticas do presente está por traçar ainda. O diálogo interdisciplinar é uma condição favorável para a concretização desta tarefa, bem como um elemento promissor para reforçar o diálogo entre as ciências sociais e a política pública relativa ao trabalho doméstico.
Notas
1 Charles Wright Mills, The Sociological Imagination. Oxford : Oxford University Press, 1959, pp. 1 (…)
2 Rosemary Crompton, Employment and the Family : The Reconfiguration of Work and Family Life in Con (…)
3 Inês Brasão, A Condição Servil em Portugal : Memórias de Dominação e Resistência a Partir de Narr (…)
Manuel Abrantes – SOCIUS/CSG, ISEG, Universidade de Lisboa, Portugal. E-mail: manuelabrantes@gmail.com
Linguagens da identidade e da diferença no mundo ibero-americano (1750-1890) – NEVES et. al (LH)
NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das; MELO FERREIRA, Fátima Sá; NEVES, Guilherme Pereira das (org). Linguagens da identidade e da diferença no mundo ibero-americano (1750-1890). Jundiaí: Paco Editorial, 2018, 322 pp. Resenha de: ARAÚJO, Ana Cristina. Ler História, v. 75, p. 284-288, 2019.
1 Este livro resulta do projeto internacional “Linguagens da identidade e da diferença no mundo ibero-americano : classes, corporações, castas e raças, 1750-1870”, coordenado atualmente por Fátima Sá e Melo Ferreira e por Lúcia Bastos. Procura identificar, na linguagem e nos conceitos dos personagens históricos, traços constantes que vinculam ideias, expectativas, convenções, práticas e representações comuns, ou seja, expressões coletivas e atuantes de modos de ser, pensar e dizer a realidade no mundo ibero-americano, no período compreendido entre 1750 e 1890. A cronologia de longa duração evidencia permanências estruturais e diferentes fenómenos de contágio político que encontram eco em linguagens e conceitos partilhados. Os marcadores de identidade e alteridade de que nos falam os organizadores do livro são precisamente os conceitos e as linguagens usados, nos planos territorial, étnico, político e social, para exprimir laços de pertença e desatar nós diferenciadores de formas de nomeação coletiva, como sejam, “brasileiros” versus “portugueses”, “pueblos orientales” versus “cisplatinos”, no processo de independência e união da região do Rio da Prata, “bascos” e “espanhóis”, na revista Euskal-Erria de San Sebastián (1880-1918).
2 Nos campos em que se buscam agregações convergentes ou divergentes de sentido – território, raça, formações nacionais ou transnacionais – os conceitos são encarados não como entidades estáticas ou atemporais mas como ferramentas de temporalização histórica. Daqui advém o potencial hermenêutico da linguagem para nomear o social. Existe, todavia, uma brecha entre os acontecimentos históricos e a linguagem utilizada para os dizer ou representar. A consciência da historicidade do intérprete, neste caso, do historiador, afasta a compreensão do passado do tradicional objetivismo factualista, centrado na pretensa evidência do facto. Por outro lado, na relação com as linguagens do passado, a noção de historicidade previne um outro perigo, o das extrapolações conceptuais fundadas na atualidade, fonte de anacronismos e de todo o tipo de “presentismos” deformantes e esvaziadores da memória histórica. Neste contexto, é aconselhável aliar a História analítica à História conceptual para responder às questões centrais colocadas por Reinhart Koselleck e pela tradição da Begriffsgeschichte.
3 Para simplificar, talvez se possam formular assim algumas das questões levantadas neste livro : qual é a natureza da relação temporal entre os chamados conceitos históricos e as situações ou circunstâncias que ditaram a sua utilização ? Os conceitos e especialmente os conceitos estruturantes, a que Koselleck chama “conceitos históricos fundamentais” (como, por exemplo, o moderno conceito de revolução), permaneceram na semântica histórica para lá do tempo em que foram formulados ? Será que cada conceito fundamental contém vários estratos profundos, ou várias camadas de significados passados unidos por um mesmo “horizonte de expectativa” ? Na resposta a estas questões, Koselleck assinala, no processo de construção da semântica histórica da modernidade, quatro exigências básicas de novo vocabulário, social, político e histórico : a temporalização, a ideologização, a politização e a democratização. Porém, como bem sublinham os organizadores deste livro, nem sempre são sincronamente documentáveis estas quatro condições nos processos analisados na era das revoluções no mundo ibero-americano.
4 A mudança conceptual no campo da história intelectual e das ideias é também valorizada tendo em atenção o contributo de Quentin Skinner que aponta para uma linha mais analítica e contextualista nos usos da linguagem, partindo da fixação lexicográfica consagrada nos dicionários. Ao estudar as técnicas, os motivos e o impacto das mudanças conceptuais valoriza também a utensilagem retórica, aquilo a que chama rethorical redescription, que consiste em usar relatos diferentes para descrever uma mesma situação, recorrendo a certas palavras e a certos conceitos que, pelo seu impacto social, instauram novas interpretações e se impõem como guias de compreensão de outros discursos. A ideia de um léxico cultural de base conceptual ilumina, numa outra perspetiva, o horizonte compreensivo da história intelectual, dado que os usos da linguagem não são desligados da intencionalidade dos autores e dos efeitos que os seus discursos produzem.
5 Neste livro, as questões relacionadas com a classificação e a nomeação preenchem a primeira parte da obra. Os três ensaios, da autoria, respetivamente, de Fátima Sá e Melo, Guilherme Pereira das Neves e Javier Fernández Sebastián, revestem-se de um carácter problematizador e sinalizam bem a abrangência do conceito mutável de identidade que, como explica Fátima Sá e Melo, começa por conotar, no século XVIII, aquilo que é similar, por exclusão do que é diferente, para, cem anos mais tarde, e segundo o Dicionário de Moraes Silva (1881), traduzir uma forma de autorrepresentação. A este respeito, Fátima Sá e Melo salienta que esta definição de identidade começa por ser fixada primeiro num dicionário espanhol de 1855, acabando por ser consagrada pela lexicografia portuguesa em 1881. Logo a seguir, coloca o problema da formulação do conceito de identidade na primeira pessoa e na terceira pessoa.
6 Na ausência de uma perspetiva individualista, fundada no autorreconhecimento do poder e vontade dos indivíduos, valiam as categorias jurídicas do Antigo Regime que fixavam, numa base particularista e corporativa, a visão do todo social (A. M. Hespanha). Nos umbrais das revoluções liberais o nós identitário forjado no mundo ibero-americano não se desfaz de um dia para o outro dos traços orgânicos e particularistas do passado colonial. Estes traços são bem evidentes no estudo de Ana Frega sobre a revolução artiguista de 1810-1820 e no ensaio de Lúcia Bastos Pereira das Neves que analisa “antigas aversões” reconstruídas no decurso do processo de independência entre ser português e ser brasileiro ou ter direito a ser brasileiro, por lei de 1823. A autora sublinha que apesar das persistências sociais e culturais, o discurso político da independência e em defesa da Constituição contribuiu para reconfigurar a sociedade brasileira pós-independência apontando para uma vaga identidade, forjada na variedade de povos e raças que compunham a população brasileira. Estes traços de autorreconhecimento foram objeto da retórica antibrasileira do jornal baiano Espreitador Constitucional, favorável à causa portuguesa, que lamentava, em 1822, que “os netos de Portugal – estabelecidos no Brasil – abandonassem os sobrenomes dos seus antepassados para adotarem orgulhosos os de Caramurus, Tupinambás, Congo, Angola, Assuá e outros” (p. 139).
7 Sobre a questão da adequação das classificações e marcas de linguagens pretéritas às classificações e conceitos do historiador, Javier Fernández Sebastián assina um esclarecedor capítulo, de cunho teórico. Segundo este historiador, o problema das classificações conceptuais reside em saber se é razoável usar retrospetivamente conceitos e categorias atuais que não existiam numa determinada época para classificar e dar sentido às linguagens do passado. Considera que o conceito de identidade forma com outros conceitos uma espécie de galáxia significante. O seu campo semântico convoca distinções jurídicas, étnicas, políticas, socioeconómicas e ideológicas. Assim, e apreciando cada contexto histórico focado neste livro, é razoável o uso do conceito de identidade associado a classes, etnias e territórios. Dois estudos documentam este ponto de vista. O primeiro remete para o enfrentamento da escravatura negra e da emigração branca em Cuba ao longo do século XIX. Como explica Naranjo Orovio, o ideal de cubanidade condensa elementos culturais e étnicos patentes nas linguagens de identidade insular, nas quais o estigma negativo e o medo do negro se combinam com a atração pelo discurso civilizacional dos reformistas criollos (1830-1860).
8 O binómio civilização versus barbárie aparece também associado à forma como são percecionados os afrodescendentes em Buenos Aires até 1853-1860. Segundo Magdalena Candioti, num primeiro momento, as diferenças físicas, morais e culturais atribuídas aos afrodescendentes limitam a sua participação política. Os negros e pardos são definidos como os “outros” do novo corpo soberano e excluídos da cidadania instaurada pela nova república, porque a abstração requerida pelo conceito de cidadania igualitária ou tendencialmente igualitária colidia com as marcas impressas pela natureza e pela cultura herdadas da colonização espanhola. Formalmente, a partir dos anos 20 do século XIX, os textos legais não estabelecem reservas especiais ao sufrágio dos negros libertos, contudo persistem as representações estigmatizadas sobre a negritude, impedindo, na prática, a consagração plena da cidadania política. Este tipo de exclusão viria a ser ideologicamente suportado pelas linguagens cientificistas da segunda metade do século XIX, inspiradas no positivismo e no darwinismo social. A visão evolucionista da sociedade, assente na constituição física, na hierarquia das raças e, consequentemente, na superioridade do homem branco, acabou por complementar, com outros argumentos, o binómio civilização/barbárie constitutivo das identidades em construção na Ibero-América. A mesma visão antinómica caracteriza as distinções gentílicas da nova entidade política e cultural nascida com a revolução Bolivariana, ajudando a forjar o mito da nação mista criolla na Venezuela, conforme salienta Roraima Estaba Amaiz.
9 A uma escala transnacional – e este é também um dado a destacar neste livro –, o desenvolvimento do conceito de raça no mundo latino-americano associa-se ao aparecimento do pan-hispanismo, que, de certo modo, retomou, numa perspetiva expansionista, a autoperceção etnocêntrica e neocolonial dos países de matriz hispânica da América do Sul, conforme detalha David Marcilhacy. Este tópico tem ressonâncias fortes e remete, a cada passo, para a porosidade entre discursos, ideologias e linguagens vulgares ou de uso corrente. Como sublinha Ana Maria Pina, o conceito de raça, entendido em termos biológicos, é tardio. Antes do século XIX andava associado à pecuária e era também usado para identificar linhagens, nações ou povos. No século XIX ganha uma conotação biologista e essencialista, porque se aplica à classificação de tipos humanos, distinguidos pela sua origem, cor de pele e características físicas. Para esta mutação muito contribuíram as teses racistas e poligenistas de Gobineau, bastante divulgadas na época, os tratados de Darwin e também as teses antropométricas de Paul Broca, fundador da Sociedade Antropológica de Paris.
10 O eco destas influências em Portugal é percetível em autores como Teófilo Braga, Júlio Vilhena e outros nomes menos conhecidos. Subtilmente, insinua-se na linguagem artística e na literatura, nomeadamente em Eça de Queirós e Ramalho Ortigão. E se, antes deles, Almeida Garrett e Alexandre Herculano haviam sinalizado as idiossincrasias da raça portuguesa, foi, porém, Oliveira Martins quem melhor exprimiu a ideia da miscigenação de raças na raiz do ser português. Oliveira Martins estava genuinamente interessado em compreender a originalidade dos povos ibéricos e a originalidade da civilização que se desenvolveu, ao longo de séculos, na Península Ibérica, conforme assinala Sérgio Campos Matos. A História da Civilização Ibérica, título de uma obra de Oliveira Martins, engloba, num “nós transnacional”, portugueses, espanhóis e outros povos de descendência hispânica. Temos assim um conceito totalizante que fixa uma conceção de história, uma visão antropológica territorializada e uma unidade de experiência com sentido político, social, económico, cultural e moral para ele, Oliveira Martins, e para os seus contemporâneos portugueses e espanhóis.
11 O capítulo final de Sérgio Campos Matos convoca a atenção do leitor para a reflexão em torno da “história como instrumento de identidade”, tema também tratado por Guilherme Pereira das Neves. Este autor realça a ideia de que a história funcionou, desde o século XIX, no Brasil, como instância compensadora e conservadora de aspirações sociais e políticas das elites brasileiras, referindo a formação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o contributo da metanarrativa de Varnhagen. Questiona não só a ideia de história mas também o lugar do historiador, dos curricula liceais e das universidades brasileiras, desde os anos 30 do século XX em diante. Refere que com os governos de Getúlio Vargas se assiste à criação da Universidade de São Paulo, em 1934, e se institucionaliza a formação estadual de professores diplomados em história. Por fim, salienta que os maiores sucessos editoriais no campo da história no Brasil pouco devem à historiografia académica. Entre a ação e o discurso, entre a história que se faz e a linguagem que dela se apropria para uso público parece haver espaço para uma espécie de imaginário alternativo, fantasiado, é certo, envolvendo numa trama insignificante episódios históricos narrados livremente mas não totalmente desprovidos de marcas de identidade.
12 Em síntese, a leitura desta obra é fundamental pelo enfoque transnacional dos seus capítulos e pela perspetiva de história conceptual comparada que preside à reavaliação dos processos e linguagens de identidade e alteridade forjados no espaço ibero-americano, especialmente no decurso do século XIX. Sendo tributário dos caminhos de pesquisa abertos pelo Diccionario político y social del mundo ibero-americano, dirigido por Javier Fernández Sebastián, este livro concita também outros estudos, quiçá diferentes, mas igualmente indispensáveis para a compreensão das ideias e dos nexos sociais e culturais que presidiram à constituição e à renovação política dos territórios independentes ibero-americanos.
Ana Cristina Araújo – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Portugal. E-mail: araujo.anacris@sapo.pt.
Familias en el Viejo y el Nuevo Mundo – CASTELÃO; COWEN (LH)
CASTELAO, Ofelia Rey; COWEN, Pablo (eds). Familias en el Viejo y el Nuevo Mundo. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2017, 471 pp. Resenha de: VILATA, María José. Ler história, 72, p. 235-238, 2018.
1 Tres cuestiones resultan fundamentales para dar cuenta del sentido, importancia e interés de esta publicación: adscripción, contenido y justificación científica. Vamos por partes. La primera tiene que ver con la inclusión de este volumen en la Colección de Monografías HisMundI, enmarcada en la Red Interuniversitaria de Historia del Mundo Ibérico: del Antiguo Régimen a las Independencias (Red y colección HisMundI), a partir de una iniciativa compartida entre historiadoras e historiadores de las universidades argentinas de La Plata, Rosario y Mar del Plata, y de las españolas de Cantabria y País Vasco. Precedido por un volumen anterior editado también en 2017,1 se trata del inicio de una andadura ambiciosa que pretende profundizar en los procesos históricos que definieron las sociedades ibéricas en época colonial a uno y otro lado del Atlántico, primando una perspectiva comparativa. Cada libro resultante se presenta en formato digital y acceso abierto, opción que, dada la complejidad y los costes implicados en los circuitos de distribución clásicos, resulta muy pertinente y de gran utilidad para compartir y difundir con inmediatez nuevo conocimiento científico.2
2 La segunda cuestión concierne a los contenidos. Estamos frente a una nueva y valiosa compilación de estudios, articulados a través del eje de la organización familiar como problema de investigación. Al inicio, en la presentación, Maria Marta Lobo de Araújo define con una precisa palabra la perspectiva que caracteriza el libro: “una mirada”. Es decir: sale a la luz pública un nuevo referente singular a añadir al avance y consolidación de esta muy importante trayectoria de investigación. Se presenta, pues, una obra que reúne tres tipos de aportaciones diferentes: primero, una justificación científica de la edición a manera de introducción (Ofelia Rey Castelao y Pablo Cowen); segundo, un interesante estado de la cuestión y de la bibliografía reciente sobre el tema, ejercicio complejo y siempre de gran valor, tanto para público en general, como y principalmente, para quienes compartimos esta línea de trabajo (Francisco García González y Francisco Javier Crespo Sánchez), y, tercero, trece trabajos de investigación inéditos, a cargo (por orden de aparición) de Rocío Sánchez Rubio, Isabel Testón Núñez, Alberto Angulo Morales, Francisco Andújar Castillo, Enrique Soria Mesa, María Luisa Candau Chacón, Ángela Atienza López, José Luis Betrán Moya, Fernando Suárez Golán, Bibiana Andreucci, Carlos María Birocco, Cristina Beatriz Fernández, Josefina Mallo, Osvaldo Otero y María Cecilia Rossi, cuyas variadas temáticas, enfoques, problemas y conclusiones se sintetizan en las páginas introductorias (pp. 10-20 y 36-41). La diversidad de los asuntos tratados en la recopilación se puede concretar, en síntesis, en cuestiones como movilidad social, formas de sociabilidad (correspondencia, sentimientos, objetos cotidianos), matrimonio, estrategias familiares, redes clientelares y de poder, composición étnica y social de la migración a Indias, transmisión de patrimonios y el papel de la mujer. El tratamiento de cada uno de los artículos pretende, por un lado, hilvanar las relaciones a uno y otro lado del Atlántico y, por otro, recordar que todos los contenidos se entrecruzan en los diferentes textos, a fin de avanzar en la delimitación de los problemas multifactoriales que subyacen en la investigación sobre la vida en familia. La finalidad implícita, por consiguiente, persigue abordar “de forma muy diversa procesos de funcionamiento, cambio, implantación y valorización de las familias del Viejo y del Nuevo Mundo, mostrando lógicas de supervivencia, redes de solidaridades y complicidades, pero también de afirmación y de pujanza social” (p. 20).
3 El tercer objetivo a enfatizar aquí tiene que ver con la justificación científica. Los editores han optado por un planteamiento a dos bandas que deriva de la misma propuesta de título del libro. En primer lugar, partimos de las familias del Viejo Mundo para adentrarnos en una “breve perspectiva historiográfica sobre España”. En este ámbito, Ofelia Rey Castelao presenta una breve, pero clarificadora síntesis donde se remarca la importancia de una trayectoria que partió de la demografía histórica, usando como guía y con intensidades desiguales los diferentes modelos europeos, en especial los siempre referenciales francés e inglés, para adentrarse, luego, a partir de la exploración de documentación considerablemente diversa, en sendas muy variadas que se han constituido en fundamento imprescindible de la construcción de la historia social ibérica a lo largo de los siglos xvi al xix.
4 A renglón seguido, viajamos hacia el Nuevo Mundo y, allí, Pablo Cowen sitúa los problemas sustanciales de lo que denomina como una “arqueología” de las formaciones familiares (actuales) en el Río de La Plata. Plantea reflexiones que surgen a partir de los datos y los análisis propuestos en relación al virreinato de más tardía fundación y organización, tarea que permite comprobar su validez como un interesante punto de referencia respecto a lo acontecido en América central y del sur en el tiempo largo que va desde las diversas fases de la colonización hasta el triunfo de las Independencias. Es significativa, en este sentido, la conflictiva coexistencia-confrontación, cuando menos, de dos modelos familiares: el tradicional colonial (en su infinita complejidad) y el que las nuevas leyes republicanas impulsaron y defendieron. La exploración de esta dualidad y sus implicaciones profundas se suma a una ya larga tradición de investigación que, en Argentina, reúne a varios grupos destacados3 que se agregan a las tareas en auge en el conjunto de América Latina y a los proyectos en intercambio y colaboración con grupos radicados en la península ibérica.
5 ¿Qué se desprende, en fin, de este volumen? ¿Cuáles son sus principales logros? Primero, se debe subrayar la aportación de nuevo conocimiento a partir de investigaciones que se incardinan en una iniciativa coordinada en equipos agrupados en redes, difundida en formato digital y acceso abierto a fin de facilitar la comunicación y el intercambio científico. Segundo, es preciso señalar que se ha añadido un peldaño más para avanzar en la reflexión sobre las estructuras articuladas bajo el polisémico concepto de “familia”, que sirve de puente para el análisis de la estática y la dinámica del conflicto social, a través de la indagación sobre los entramados privados y públicos en los que se desarrolla la vida de las personas en cualquier tiempo y lugar. Familia se consolida, en consecuencia, como fundamento imprescindible de la historia social, siempre en construcción, como recordó el maestro Pierre Vilar. Tercero, la heterogeneidad de las aportaciones invita a una consideración sobre perspectivas de futuro. No sólo “parece imperioso pasar de la historia de la familia a la historia de las familias” (p. 33), sino que quizás será necesario delimitar, en proyectos y publicaciones posteriores, los diferentes ámbitos que alberga el enorme caparazón protector que ofrece el concepto, tal y como se propone, por ejemplo, en la “panorámica temática” en cuatro bloques presentada en el estado de la cuestión.4
6 Y esto es así en tres sentidos principales: uno, en la diversidad de asuntos a tratar, ya comentada y puesta de manifiesto al exponer el contenido del libro; dos, en la necesidad de plantearlos teniendo en cuenta los factores diferenciales derivados de los entrecruzamientos de etnia y clase social, aspecto de crucial importancia en América Latina, y, tres, en la relevancia de la amplitud y heterogeneidad territorial que está implícita en una mirada a ambos lados del Atlántico, puesto que si bien es bien cierto que las dos metrópolis radicadas en la península definieron normas y pautas de conducta de forma incesante, todavía lo es más que, a medida que avanzaron y se normativizaron las variantes del asentamiento de norte a sur, la realidad americana devino incontestablemente diversa respecto al modelo de partida y, por ello, singular y autónoma en su organización propia.
Notas
1 Susana Truchuelo y Emir Reitano (eds), Las fronteras en el mundo atlántico (siglos XVI-XIX). La P (…)
2 El libro digital completo de esta reseña se encuentra disponible en: http://www.libros.fahce.unlp (…)
3 Resulta interesante destacar aquí los trabajos recientes reunidos por otro potente equipo investi (…)
4 Los ámbitos prioritarios de agrupación de las investigaciones se concretan, siguiendo la propuest (…)
María José Vilalta – Departament d’Història de l’Art i Història Social, Universitat de Lleida, Catalunya. E-mail: vilalta@hahs.udl.cat
The Dasmariñases, Early Governors of the Spanish Philippines – CROSSLEY (LH)
CROSSLEY, John Newsome. The Dasmariñases, Early Governors of the Spanish Philippines. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016, 264 pp. Resenha de: BOTIJA, Antonio Real. Ler História, v.72, p.231-235, 2018.
1 Esta novedad bibliográfica se inserta en la temática de los trabajos sobre los gobernadores hispánicos de las islas Filipinas. Su autor es John Newsome Crossley, cuya carrera docente e investigadora se ha caracterizado por un enfoque multidisciplinar en instituciones de Reino Unido y Australia. Esta ha transcurrido entre su interés por las matemáticas, la informática y la historia de las matemáticas desde la década de 1970 y sus investigaciones más recientes sobre la presencia hispánica en las islas Filipinas pasando por su inquietud por la Parisian music theory en la década de 1990. Actualmente, Crossley continúa investigando sobre dicha teoría, es Profesor Emérito en la Universidad de Monash y prepara una traducción de una historia no publicada de las islas Filipinas, conocida como Lilly Historia, datada en torno a 1600. Más concretamente en el terreno de sus investigaciones sobre las islas Filipinas, Crossley ha publicado numerosos trabajos –entre ellos, se destaca Hernando de los Ríos Coronel and the Spanish Philippines in the Golden Age (Ashgate, 2011)– que han sido bien recibidos por el mundo académico.
2 Este último libro de Crossley sobre los Dasmariñas ha sido publicado a través de Routledge, Taylor & Francis Group en Londres y Nueva York en 2016 y contiene dos particularidades destacables con respecto a los anteriores estudios sobre gobernadores del archipiélago, los cuales se han concentrado en Legazpi o figuras del siglo XVII y XVIII. En efecto, como el propio título indica, The Dasmariñases, Early Governors of the Spanish Philippines trata el papel de Gómez Pérez Dasmariñas y Luis Pérez Dasmariñas, es decir, dos miembros de una familia (padre e hijo respectivamente) que ejercieron dicho cargo de gobernador en una etapa inicial del periodo colonial (siglo XVI) en el archipiélago. La principal relevancia de esta aportación estriba en desarrollar los desafíos a los que ambos tuvieron que hacer frente en el ejercicio de dicho oficio en virtud de la combinación de su cultura política hispánica y la diversidad cultural con la que se encontraron tanto en el propio archipiélago, como en las entidades políticas colindantes.
3 La organización del trabajo presenta una estructura en dieciocho capítulos y un epílogo. Crossley también añade un glosario con términos al inicio de la obra e introduce imágenes de un viaje personal al archipiélago y del Códice Boxer a lo largo de la misma. De hecho, el autor propone una sugerente interpretación sobre el origen de dicho códice en el capítulo 13: se trataría de un proyecto comisionado por el propio gobernador Gómez Pérez Dasmariñas. Asimismo, Crossley reproduce las instrucciones dadas a dicho Gómez Pérez Dasmariñas en agosto de 1589 tras su nombramiento como gobernador de las islas Filipinas al final del libro.
4 El inicio del trabajo (capítulos 2 y 3) está dedicado a explicar las razones que condujeron a la elección de Gómez Pérez Dasmariñas para servir en la defensa de la religión y del rey como nuevo gobernador del archipiélago filipino: su devoción religiosa y limpieza de sangre (originario del noroeste peninsular, es decir, de un área con escasa penetración de al-Andalus, asiduo en las celebraciones religiosas y caballero de la Orden de Santiago) y su experiencia militar y administrativa en un espacio de frontera hispánica con el Islam (corregidor en Murcia). La supresión de la audiencia del archipiélago suponía que la única autoridad colonial del mismo fuera Gómez Pérez Dasmariñas, desconocedor de este escenario del sudeste asiático, pero motivado para continuar su servicio contra el enemigo musulmán al sur del mismo según Crossley. No obstante, la contemplación de este aspecto era reducido en sus instrucciones, en las cuales se insistía en la necesidad de preservar la pacificación conseguida en el archipiélago y la extensión de los dominios cristianos (el anhelo de la conquista de China), así como se instaba al gobernador a acabar con los abusos con respecto a los nativos, enseñarles la doctrina religiosa y salvaguardar a la población castellana y/o novohispana a través del pago a los soldados y la construcción de navíos.
5 Las instrucciones también contemplaban la culminación de la catedral y las fortificaciones de Manila por parte del nuevo gobernador y su apoyo a los hospitales y al colegio de huérfanas. El autor muestra mediante cartas de los pobladores de las islas cómo la puesta en marcha de estas medidas al inicio de la llegada de los Dasmariñas supuso una buena recepción en las islas (capítulo 4). No obstante, la presencia del nuevo gobernador implicó también asperezas con respecto a Domingo de Salazar, obispo del archipiélago, puesto que la principal prioridad para el primero era que los naturales pagaran el tributo por la evangelización y la protección, pero el segundo exigía que no se aplicara dicho cobro en los casos en los que los nativos del archipiélago no recibieran la formación religiosa, especialmente, por falta de compromiso de los encomenderos. Asimismo, el obispo reclamaba que la Corona cuidara de los chinos de las islas a través de las eliminaciones de las restricciones de su comercio por parte del gobernador, aunque no fueran súbditos del rey (capítulo 5). De hecho, Gómez Pérez Dasmariñas tuvo que lidiar a lo largo de su gobierno con su deseo de controlar la presencia china en el archipiélago por su excesivo número, el cual hacía temer un ataque, y su dependencia económica para el funcionamiento del galeón (capítulo 10). Crossley desarrolla entre ambos capítulos las expediciones de pacificación al valle de Magat, situado al norte de la isla de Luzón, durante el gobierno de Gómez Pérez Dasmariñas (capítulos, 6, 7, 8 y 9).
6 Posteriormente, se tratan, por un lado, dos graves problemas de su gobierno plasmados en la amenaza japonesa sobre el archipiélago (capítulo 11) y la ausencia de respuestas a sus cartas desde la Corte (capítulo 12) y, por otro lado, el final del mismo con la redacción de su testamento (capítulo 13) y su muerte en 1593 a manos de los remeros chinos de la embarcación en la que se desplazaba en una expedición hacia Ternate, es decir, contra el mencionado enemigo musulmán (capítulo 14). El gobierno interino de Luis Pérez Dasmariñas (hasta la llegada de Antonio de Morga, nuevo teniente de gobernación, en julio de 1595, así como del nuevo gobernador, Francisco Tello de Guzmán, un año más tarde) y su presencia posterior en las islas se desarrollan en los capítulos finales del trabajo (capítulos 15, 16 y 17) hasta su muerte en la revuelta de los sangleyes de 1603 (capítulo 18). Finalmente, se debe mencionar que Crossley abre y cierra este estudio con el destino común de padre e hijo (capítulo 1) y sus cualidades (epílogo) respectivamente.
7 Precisamente, esta estructura supone el punto fuerte de la obra de Crossley porque permite apreciar las continuidades y las diferencias en el gobierno del padre y el hijo en virtud de su mencionada cultura política y dicha diversidad cultural con la que ambos se encontraron en el archipiélago. En efecto, el primer capítulo, los capítulos dedicados a la figura de Luis Pérez Dasmariñas y el epílogo muestran al lector aspectos a los que el hijo tuvo que hacer frente en relación con la experiencia de su padre: por ejemplo, la defensa de la fe contra el Islam (Luis Pérez Dasmariñas también formó parte de la expedición hacia Ternate), la preocupación y la dependencia con respecto a los chinos del archipiélago y el tipo de fallecimiento (la pérdida de la cabeza en un levantamiento chino). De hecho, dicho planteamiento del trabajo contribuye a probar la hipótesis de Crossley, la cual se basa en que el comportamiento intolerante de estos dos gobernadores con respecto a los musulmanes del sudeste asiático y su ambigüedad en relación a la población china de las islas demostraban tanto las dificultades que ambos experimentaron en el ejercicio de su oficio, como el arraigo secular de la lucha contra el Islam en la cultura política hispánica. Asimismo, Crossley refleja también las diferencias entre el padre y el hijo: la organización de expediciones más ambiciosas y menos realistas por parte del segundo (Camboya) y, en cuanto a la devoción religiosa, la dependencia del hijo más estrecha que la del padre con respecto a los religiosos, concretamente, los dominicos.
8 Este trabajo presenta pocos puntos débiles, pero es necesario señalar dos aspectos que lo podrían haber completado. Por un lado, el autor insiste a menudo en que padre e hijo sirvieron en la defensa de la religión y del rey sin ánimo de lucro en función de las apreciaciones contempladas en diversas cartas de sus contemporáneos y de cronistas posteriores. Sin embargo, Crossley no menciona ninguna referencia a la sección de Contaduría del archipiélago filipino del Archivo General de Indias en la que, posiblemente, hubiera podido apreciarse una relación más estrecha de la familia Dasmariñas y/o de sus allegados con el galeón y las cajas reales. Esta documentación podría haber consolidado dicha idea de la ausencia de ánimo de lucro o, quizás, podría haber mostrado otra faceta menos positiva de los gobiernos de padre e hijo.
9 Por otro lado, Crossley plantea el problema de la comunicación en virtud de la ausencia de respuesta a las cartas del gobernador Gómez Pérez Dasmariñas por parte del rey, puesto que solo dos barcos llegaron desde Acapulco a Manila durante su gobierno y ninguno con correspondencia regia. Asimismo, la dependencia de las islas con respecto al virrey novohispano tampoco se plasmó en una documentación significativa procedente de México. Si bien es cierto que el autor muestra acertadamente sus principales objetivos, como el papel de Oriente en el desarrollo del mundo y de las civilizaciones europeas a través del impacto de la diversidad cultural en el gobierno de los Dasmariñas o el traslado de la concepción del enemigo musulmán de Europa a Asia en la mentalidad de dichos gobernadores, el problema de la distancia en la cultura política hispánica no fue exclusivo de las islas Filipinas. Por tanto, alguna referencia a dicho problema en otros espacios del imperio con situaciones similares (por ejemplo, Chile con respecto a Lima y la Corte) hubiera sido interesante en relación a la mencionada cultura política.
10 En cualquier caso, estos dos aspectos no ensombrecen en absoluto una obra completamente recomendable para estudiar los problemas de gobernanza de la Monarquía Hispánica en el sudeste asiático en los inicios del periodo colonial.
Antonio Real Botija – Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), España. E-mail: antoniorealbotija@hotmail.com.
An Agrarian History of Portugal, 1000-2000: Economic Development on the European Frontier – FREIRE (LH)
FREIRE, Dulce; LAINS, Pedro (Eds). An Agrarian History of Portugal, 1000-2000: Economic Development on the European Frontier. Leiden/Boston: Brill, 2017, 347 pp. Resenha de: RIBEIRO, Ana Sofia. Ler História, v.72, p.227-231, 2018.
1 Dulce Freire e Pedro Lains, investigadores do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, coordenaram a publicação da primeira síntese da história agrária portuguesa vista a partir de uma perspectiva de longa duração. A obra cobre um vasto período cronológico, desde cerca do ano 1000 até ao ano 2000, ou mais exactamente desde os tempos da reconquista cristã da Península Ibérica e do movimento que viria a resultar na independência de Portugal face ao reino de Leão e Castela até ao século XXI. Esta monografia colectiva de 347 páginas estende-se por nove capítulos, uma introdução e um apêndice muito útil de figuras, que incluem, por exemplo, mapas ou gráficos. Além dos editores, outros nove historiadores participam nesta publicação, sendo a maioria vinculada a universidades de Lisboa. Os editores procuram neste volume participar no que chamam de “renovação da história económica europeia”, propondo a inclusão do caso português no debate sobre os diferentes padrões e ritmos do crescimento económico europeu ao longo do tempo, variáveis em que se sustenta a historiografia corrente para a explicação da divergência do desenvolvimento económico entre o centro e as periferias do continente europeu (p. 1).
2 Partindo da ideia (preestabelecida?) da existência de um atraso português crónico e do seu padrão divergente de desenvolvimento (p. 3), este livro pretende (re)interpretar as características macroeconómicas do crescimento da produtividade e do produto agrícolas portugueses na longa duração, comparando-os com um cenário internacional mais vasto e integrando-os no desenvolvimento de outros sectores de actividade da economia nacional. Para isso, cada um dos nove capítulos analisa seis variáveis: (1) evolução demográfica e urbanização; (2) regimes de exploração e propriedade da terra; (3) padrões de povoamento e fixação à terra e produto agrícola; (4) mercados interno e externo; (5) mudanças tecnológicas; e (6) políticas relacionadas com a economia rural. Os nove capítulos encontram-se distribuídos por três partes, organizadas numa abordagem cronológica tradicional: a Idade Média, a época moderna, e a contemporaneidade, respectivamente. Uma quarta parte é constituída por um capítulo de reflexão e balanço sobre os resultados da actividade agrícola portuguesa no último milénio.
3 Contudo, esta divisão torna-se aqui e ali um pouco artificial, uma vez que os ritmos de evolução agrícola não se compadecem, frequentemente, com os cortes artificiais com que nós, historiadores, recorrentemente nos orientamos. Por exemplo, o corte cronológico feito exactamente em 1500, entre os capítulos 2 e 3 parece algo forçado por dois motivos. O primeiro, prende-se com uma série de continuidades e até de alguma redundância de conteúdos quanto a algumas das características da agricultura portuguesa, sendo a distinção mais relevante a introdução, ainda que limitada, das novas culturas ultramarinas e dos novos mercados facultados pela integração nos circuitos da economia colonial, pós-1500. Em segundo lugar, o próprio capítulo 6, “Gross Agricultural Output: a quantitative, unified perspective, 1500-1850”, revela uma acentuada diminuição no produto interno agrícola durante a década de 1520 (fig. 6.1, p. 187). Na realidade, este pode ser um dos novos dados deste livro e o corte entre capítulos faria mais sentido nesta cronologia. Por outro lado, parece aqui faltar um primeiro capítulo relativo à evolução das estruturas ambientais que suportaram o desenvolvimento da agricultura portuguesa: características climáticas, possibilidades químicas dos solos, recursos orográficos e hidrográficos. Um capítulo interdisciplinar escrito por geógrafos, engenheiros agrónomos, geólogos e especialistas climáticos poderia constituir uma grande mais-valia nesta obra, revendo e actualizando o valioso trabalho de Orlando Ribeiro1 e conferindo uma nova contribuição científica que orientaria o conhecimento histórico em geral e o trabalho deste volume, em particular.
4 É impossível sintetizar o conteúdo de cada capítulo nestas breves linhas. Por isso, esta recensão centrar-se-á nas grandes conclusões e equilíbrios da obra. Este livro é muito mais do que uma síntese do vasto número de monografias sobre o passado agrário português. Alguns capítulos partiram de uma análise mais detalhada da historiografia referente a cada período, mas conferindo uma consistência nacional que faltava, devido ao facto de muitos destes trabalhos se focarem em realidades locais ou regionais. Esta tarefa é bem conseguida no capítulo 2, da autoria de Ana Maria Rodrigues, referente aos impactos da Peste Negra na produtividade agrícola e nos mecanismos de recuperação emergentes após a epidemia. Também Margarida Sobral Neto, no capítulo 4, faz um excelente cenário da agricultura portuguesa desde 1620, debatendo sustentadamente a existência verdadeira de uma crise da agricultura portuguesa no complexo século XVII. Outros capítulos tentam reutilizar anteriores abordagens sub-sectoriais para elaborar séries econométricas mais detalhadas sobre o produto agrícola e a produtividade, assim como sobre o papel e o impacto do sector agrário no contexto geral da economia. Isto torna-se evidentemente possível na época estatística da contemporaneidade, entre 1820 e 2000. Os capítulos 7 e 8, da autoria de Amélia Branco e Ester Gomes da Silva, Luciano Amaral e Dulce Freire, representam mais do que uma abordagem quantitativa, uma vez que explicações qualitativas são necessárias para a compreensão dos cenários apontados. Além de constituírem uma boa ferramenta de trabalho e estudo para um público académico, pela sua proximidade cronológica, estes capítulos são uma boa base de consulta para os que tomam decisões no presente.
5 Mas são dois os capítulos que mais novidades trazem para este campo de investigação histórica. O primeiro, “The Reconquista and its Legacy, 1000-1348” (capítulo 1), de António Castro Henriques, deve-se tornar um capítulo de referência na historiografia medieval portuguesa a curto prazo. Ele não só é essencial para a compreensão do desenvolvimento agrário medieval português, mas também para a percepção do quão determinantes foram as características dos diferentes ritmos da Reconquista, no território que se tornaria Portugal, para a evolução do desenvolvimento agrícola. Eles estabeleceram as distintas estruturas de direitos de propriedade, os diferentes modelos de exploração da terra, os distintos regimes de plantação e de cultura, assim como ajudaram a condicionar as estratégias de diferentes instituições que tiveram a seu cargo a tarefa de povoar e desenvolver o território. Este período marcará indelevelmente as diferenças entre o norte e o sul do país, a forte persistência do regime senhorial de exploração da terra até bastante tarde, as preferências regionais entre monocultura ou policultura, entre as distintas adaptações do sector à agricultura de mercado ou à pecuária ou ainda à agricultura de subsistência, ainda tão presente em algumas regiões do país.
6 O segundo capítulo que saliento é o de Jaime Reis, o acima mencionado capítulo 6. Pela primeira vez, retrata a evolução do produto agrícola bruto em Portugal em época pré-estatística (1500-1850). Ainda que possa haver alguma cautela sobre a modelização desta informação e da representatividade da amostra documental, este é um grande avanço para a historiografia económica moderna portuguesa. Permite destacar um instável século XVI, um mais estável mas mais estagnado século XVII, e um crescimento assinalável no século XVIII, até cerca de 1740. Depois de 1757, o produto agrícola cresce até 1772, começando a decrescer até ao final das Invasões Francesas. Os fenómenos de setecentos estão bem contextualizados no capítulo anterior, de José Vicente Serrão. A queda das remessas do ouro brasileiro, as alterações políticas entre reinados e o envolvimento de Portugal em conflitos internacionais afectaram a produtividade agrícola, assim como condicionaram o acesso aos mercados de exportação tão importantes para o crescimento da primeira metade da centúria. Acredito que a segunda parte da obra, referente ao período moderno, ganharia se esta abordagem quantitativa (cap. 6) surgisse antes dos capítulos mais qualitativos (3, 4 e 5), pois salientaria a sua complementaridade. Estes explicam detalhadamente a evolução apresentada no capítulo 6. Esta é uma experiência que gostaria de sugerir ao leitor.
7 O volume termina com o capítulo 9, “Agriculture and Economic Development on the European Frontier 1000-2000”, da autoria de Pedro Lains, que se afigura muito além de uma súmula das conclusões anteriores. Depois de observar as grandes fases de crescimento da agricultura portuguesa, conclui que, na realidade, esta teve um crescimento lento, mas contínuo, ao longo do segundo milénio. As grandes inovações neste sector, ainda que chegando normalmente atrasadas e entrando com menos intensidade de que em outros países europeus, foram introduzidas, ainda que sem nenhum movimento disruptivo. Lains argumenta que esta evolução “bem sucedida” da agricultura portuguesa foi sobretudo impulsionada pela conjuntura interna de cada período (condicionantes ambientais, demográficas, de capacidade de investimento), embora reconheça que a “globalização e o crescimento das relações económicas internacionais” foram também relevantes na performance da agricultura nacional (p. 307).
8 Está já provado como o império não teve um impacto muito relevante na economia portuguesa,2 e é já conhecimento consolidado como o ouro foi crucial para o desenvolvimento da agricultura de mercado no século XVIII, em Portugal, mas acredito que as contingências históricas internacionais foram determinantes para o aumento das exportações agrícolas portuguesas, modificando mercados, procura e oferta. Falta ainda avaliar o peso das exportações no consumo total de produtos agrícolas portugueses, que estudos recentes já indiciam.3 O autor compara ainda a realidade portuguesa com a de outros espaços europeus, contestando as teorias da “divergência” ou da “pequena divergência”4 entre os ritmos de desenvolvimento agrícolas do norte e do sul da Europa, nomeadamente desde o século XVI. Comparando as taxas de crescimento do produto agrícola, o capítulo prova que Portugal seguiu as mesmas tendências da maioria dos países europeus, e que os casos da Holanda e da Inglaterra são excepcionais. Esta nova abordagem necessita ainda de um maior debate nacional e internacional entre historiadores económicos e também entre os especialistas em história rural. Esta recensão procura difundir estes resultados e promover tal discussão. Por exemplo, são os dados dos diferentes países compatíveis para serem comparados, nomeadamente no que toca ao período pré-estatístico?
9 Ainda que os diferentes autores da obra venham de diferentes escolas historiográficas – uns com formação puramente de história e outros de formação em economia –, e que tenham escolhido abordagens mais ou menos inovadoras, este volume apresenta uma forte consistência e coesão. Por um lado, todos os autores tentaram respeitar uma grelha de inquérito comum composta pelas seis variáveis acima descritas; por outro lado, os autores remeteram frequentemente para outros capítulos da obra, fazendo notar um esforço colectivo e um cuidado de contínuo conhecimento do trabalho simultâneo dos colegas. O livro foi pensado e preparado como um todo e não como uma soma de contribuições individuais, um processo difícil de implementar neste tipo de publicação. A obra é um excelente manual para o estudo do desenvolvimento da agricultura portuguesa para um público académico, não só nacional, mas também internacional. Uma vez que foi publicada em inglês, permite uma futura abordagem comparativa, em que o cenário português pode ser considerado. Ainda que tenha sido orientado para participar nos actuais debates sobre o fenómeno da divergência económica liderada pelo mundo ocidental,5 o livro acrescenta valor à historiografia portuguesa sobre a temática. Partindo de uma síntese, propõe novas interrogações e abordagens, assim como coloca a agricultura portuguesa em perspectiva face a outros espaços europeus, entrando em contradição com a ideia prevalente de um desenvolvimento agrário baseado na tradição e num atraso crónico.
Notas
1 Orlando Ribeiro, Portugal. O Mediterrâneo e o Atlântico: estudo geográfico. Lisboa: Letra Livre, (…)
2 Leonor Freire Costa, Nuno Palma, Jaime Reis, “The great escape? The contribution of the empire to (…)
3 Cristina Moreira, Jari Eloranta, “Importance of «weak» states during conflicts: Portuguese trade (…)
4 Robert Allen, “Economic structure and agricultural productivity in Europe, 1300-1800”. European R (…)5 Kenneth Pomeranz, The Great Divergence. China, Europe, and the Making of the Modern World Economy (…)
Ana Sofia Ribeiro – Universidade de Évora, Portugal. E-mail: asvribeiro@uevora.pt
El joven Pierre Vilar, 1924-1939. Las lecciones de Historia – CONGOST (LH)
CONGOST, Rosa. El joven Pierre Vilar, 1924-1939. Las lecciones de Historia. València: Publicacions de la Universitat de València, 2018, 440 pp. Resenha de: CASTEALO, Ofelia Rey. Ler História, v.73, p.270-273, 2018
1 Este libro de Rosa Congost está dedicado a los estudiantes de Historia, lo que me parece significativo y adecuado por cuanto el Pierre Vilar (1906-2003) que aparece en este largo texto es un joven en fase formativa. Sin embargo, los lectores a los que va destinado son más bien los de generaciones de historiadores que en estos momentos tienen ya una trayectoria larga y se criaron, en gran medida, en la lectura de la obra del Vilar historiador pleno. Para unos y otros valdrá para comprender la génesis intelectual de la obra histórica del gran historiador francés, ya que, como muy bien indica la autora, durante el período abarcado “no existe ninguna obra que analizar”. En efecto: este libro se basa en la frecuente e intensa correspondencia mantenida desde 1924 a 1939 entre Pierre y su hermana Marie, su tía Françoise y otros componentes de su círculo familiar y de amistad, de modo que a su través, Rosa Congost persigue todos los indicios que iluminan el proceso de formación de un historiador para así entender su aportación a la Historia.
2 El libro no es una recopilación de cartas, sino que se reproducen párrafos significativos que ilustran aspectos clave de la vida intelectual y humana de Vilar. Es Rosa Congost quien las hilvana, las relaciona, las explica y les da sentido para los lectores actuales, no en vano no estaban escritas para la posteridad, sino que eran un vínculo de relación entre personas cercanas en cuyo núcleo estaba Vilar. Como es lógico, las cartas contienen muchos hechos y situaciones personales, familiares y cotidianos, y están llenas de personajes que formaron parte de la existencia de Vilar –profesores y compañeros en los centros de enseñanza a los que asistió, amigos y amigas episódicos o estables– pero también de la Francia intelectual, universitaria y política de aquellos años que arrastraban a Europa hacia una segunda gran guerra.
3 En las cartas aparecen referencias a instituciones que en muchos casos son poco conocidas fuera de Francia y que Rosa Congost explica con cuidado, ya que no serviría de nada exponer qué eran sino lo que significaban en los años jóvenes de Vilar o incluso hoy en día: el liceo Louis-le-Grand de París, l’École Normale, incluso la Sorbonne de por entonces. Igual de importante es la extensa explicación que da Rosa Congost del competitivo mundo académico francés y de su exigente sistema concursal, con epicentro en los exámenes de agregación, que servía para retener a una minoría cualificada –¿una elite?– que combinaba capacidad intelectual y discursiva; aunque las cartas de Vilar no ocultan las deficiencias del sistema, la ansiedad, los agobios y las decepciones que le producía. También permiten ver que Vilar le fue tomando la medida a profesores aferrados a ideas y métodos tradicionales, haciéndose cada vez más observador de quienes aportaban algo diferente, que en muchos casos no eran historiadores sino geógrafos. Por supuesto, valen también para descubrir que Pierre Vilar no era un estudiante extraordinario que desde el primer momento supiera que quería –ni siquiera qué buscaba–, sino un joven con hábitos de estudio y de lectura bastante convencionales, propios de muchos estudiantes de la época.
4 El recorrido por la experiencia académica de Vilar nos revela que se fue haciendo consciente de que era necesario darle la vuelta a la forma tradicional de hacer historia, sobre todo en lo que se refería a las relaciones entre política y economía, pero que no encontró un reflejo de esta inquietud en la universidad y por esto se encaminó hacia la Geografía, “lo que se parecía más, en aquellos momentos, a lo que podría ser la historia total” (p. 131). Eso no obsta para que admirara a algunos historiadores como Albert Mathiez, pero tardó en conocer la revista de Annales. Es muy interesante ver los sucesivos descartes que el Vilar joven iba haciendo, es decir, queda claro lo que le disgustaba e insatisfacía, y que, por lo tanto, lo apartaba, lo que, finalmente, también lo llevaría de la Geografía a la Historia.
5 La vida colectiva que Vilar llevó en París se desarrolla en el tercer gran capítulo de la primera parte del libro, de modo más breve pero intenso, ya que contiene importantes referencias a la dimensión humana del protagonista, indefectiblemente unida a la faceta académica, en especial la evolución de sus ideas políticas y religiosas. Vilar era un hombre formado en una familia católica, y él mismo se mantuvo en la práctica religiosa de forma asidua hasta 1926, dejando de hacerlo en torno a 1928. En paralelo, se produjo su politización y su progresivo acercamiento a posiciones de izquierdas, participando en movimientos colectivos como el Grupo de Estudios Socialistas, de 1925 a 1929, y la Unión Federal de Estudiantes, en los que se movió con intensidad, pero con cierta indecisión entre socialistas y comunistas. En este mismo capítulo se expone la preparación militar que le correspondía como estudiante de la École Normale y el servicio militar propiamente dicho, y la “educación sentimental”, tanto desde el punto de vista amoroso como el de la amistad.
6 La segunda parte del libro se distribuye en tres capítulos que recorren la parte final de la formación de Pierre Vilar y su primera visita a Barcelona en 1927 y su instalación en la ciudad. El viaje a la capital catalana obedeció a un objetivo académico: la elaboración y redacción de un trabajo para alcanzar el diploma de estudios superiores de Geografía que tenía que presentar en la Sorbonne, que hacía bajo la dirección de Albert Demangeon. Sus visitas a organismos económicos barceloneses –como la Cámara de Industria y Navegación, la Federación de Fabricantes de Hilados y Tejidos, entre otros muchos–, donde encontró abundantes datos, le permitieron llegar a donde pretendía, la redacción del trabajo, que luego saldría publicado en 1929 en la revista Annales de Géographie bajo el título “La vie industrielle dans la région de Barcelona”. El artículo establecía la tipología industrial de la ciudad y los factores de desarrollo, y concluía subrayando la potencia de la economía barcelonesa y la de sus empresas, así como el comercio portuario y la creciente población. Vilar ya no dejaría el tema catalán y en 1933 se instaló en Barcelona: en ese período, que dura hasta 1936 y el inicio de la Guerra Civil, se consolida su trayectoria, con publicaciones que lo iban revelando como un especialista en temas de geografía económica. En 1930 tuvo una beca para residir en la Casa de Velázquez de Madrid, aunque esa estancia no parece haberlo marcado como lo hizo la de Barcelona, a donde retornó: durante la Guerra, que coincide con el final del ciclo formativo de Vilar, concibe lo que será su tesis, para lo que fue escorándose hacia el siglo XVIII. No obstante, en los trabajos que publicaba o presentaba en congresos por entonces, dominaban los temas de actualidad, como el aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos españoles, el papel de España en el comercio mundial del corcho, el puerto de Barcelona –en el que aparece una síntesis histórica de este–, la obra de Capmany y Monpalau “modelo de método histórico”, el tren y el problema general de los transportes en España, y un artículo destinado a Annales d’Histoire Économique et Sociale (1935) sobre la historia social de Cataluña. Rosa Congost sintetiza estas aportaciones de la primera fase de la producción vilariana, lo que permite ver su paso y evolución de la Geografía a la Historia y el progresivo conocimiento de la ciudad y del territorio gracias a la intensiva consulta de fuentes las bibliotecas y archivos de Barcelona.
7 El final del ciclo formativo de Vilar como historiador se produce de nuevo en Francia, debido al estallido de la Guerra Civil, de la que, con el tiempo, haría una historia breve. Vemos como en París colaboró con el Círculo de Cervantes, que pretendía agrupar a los intelectuales franceses que querían colaborar con los republicanos españoles, lo que revela el compromiso que Vilar había contraído. Estos años de intensidad política inusitada, en los que Hitler asomaba desde el horizonte alemán, no impiden que Vilar siga su propio avance como historiador: en 1937, cuando era profesor de secundaria en un liceo cercano a París, redactó dos textos sobre la enseñanza de la Historia que permiten seguir su pensamiento combativo en este campo; y dos artículos para la revista La Pensée “revelan sus posiciones críticas sobre la función social del historiador y sobre la historiografía española en aquellos años” (p. 327). Y sobre todo, en esos años, diseña lo que será su tesis, Cataluña en la España Moderna, con el objetivo de “juzgar” históricamente las relaciones Cataluña-Castilla, esto es, resolver la disyuntiva entre dos modos de entender la política y la articulación territorial, una tarea para la que, a diferencia de sus contemporáneos, se consideraba preparado y pertrechado; su Historia de España, cuya redacción confirmaba en una carta de 1939, sería un avance de su proyecto.
8 El libro termina con un epílogo extenso en el que la autora –que es catedrática de historia económica en la Universidad de Girona– no se limita a sintetizar el manantial de información y de ideas que aparecen a lo largo de la obra, sino que da sentido a esta como un ejercicio en el que se combina un análisis fino y pausado de la formación de un historiador con el trato personal que la unió a Pierre Vilar. Esa larga amistad y colaboración permiten a Rosa Congost organizar y orientar el nutrido conjunto de cartas que ha tenido la oportunidad de manejar, y comentar lo que el propio Vilar en su madurez pensaba del joven Vilar. Después del epílogo se aportan un glosario de términos, una cronología con los hechos clave de los años comprendidos en el libro y un extenso índice onomástico, tres complementos de gran utilidad para que los lectores puedan moverse con facilidad en un texto denso en nombres, fechas, lugares, conceptos, etc. Finalmente, es necesario decir que este libro tuvo su primera edición en catalán (Les lliçons d’historia. El jove Pierre Vilar, 1924-1939, L’Avenç, 2016) y que la traducción es obra de Ferran Esquilache Martí.
Ofelia Rey Castelao – Universidad de Santiago de Compostela, España. E-mail: ofeliareycastelao@gmail.com.
Uma nova história do novo cinema português – CUNHA (LH)
CUNHA, Paulo, Uma nova história do novo cinema português. Lisboa: Outro Modo Cooperativa Cultural, 2018, 254 pp. Resenha de: SAMPAIO, Sofia. Ler História, v.73, p.266-270, 2018.
1 A história do cinema português esteve, durante muitos anos, a cargo de investigadores com ligações próximas ao sector cinematográfico. A “história” que contavam era, frequentemente, parte integrante (e necessariamente selectiva) de uma história pessoal, motivada por interesses conjunturais nem sempre claros ou declarados. Talvez por se reportar a um período relativamente recente cujos principais protagonistas ocupam ainda posições públicas de relevo (no plano simbólico ou mesmo prático), o chamado “novo cinema português” é um capítulo particularmente nebuloso dessa história. O seu estudo tem repercussões que ultrapassam o âmbito de um período (ou “movimento”), fazendo-se sentir nos alicerces desse edifício em construção que é a historiografia do cinema português – ou, se quisermos ser mais rigorosos, a historiografia do cinema feito, visto e vivido em Portugal.
2 É este o importante e lúcido ponto de partida deste livro, uma versão abreviada da tese de doutoramento defendida pelo historiador Paulo Cunha, em 2014,1 que se propõe, como o título anuncia, a contar “uma nova história” desse período e, como a introdução acrescenta, a “desenvolver um novo olhar sobre a história do cinema em Portugal” (p. 11). O que enforma este “novo olhar” é a atenção a novos objectos e a novas problemáticas, tais como: géneros e formatos que têm sido desconsiderados (“o filme turístico, a publicidade, o filme industrial, o filme cultural, o jornal de actualidades, entre outros” – p. 11); relações económicas e sociais (distribuição, exibição, recepção) que o viés fílmico e textual da maior parte dos estudos tem feito ignorar; perspectivas internacionais e transnacionais, que uma preocupação excessiva com questões e temáticas nacionais, aliada a uma espécie de nacionalismo metodológico, tem empurrado para fora dos radares dos investigadores.
3 A história que aqui se conta começa por ser diferente nas balizas cronológicas (invulgarmente dilatadas) que adopta: 1949, data da saída de António Ferro do Secretariado Nacional de Informação, Turismo e Cultura, e 1980, data da remodelação da Cinemateca. A justificá-lo está o enfoque nas políticas públicas que nesses anos foram gizadas para o cinema, um enfoque que vem acompanhado da tese de que o “desinvestimento estatal no fenómeno cinematográfico” abriu caminho para “uma mudança de paradigma na produção e recepção de cinema em Portugal” (p. 13). Adoptando uma perspectiva alargada atenta a “transformações estruturais” (p. 73), o autor vê, no centro desta mudança, a instalação de um novo “modo de produção”, apresentado desde cedo como o conceito-chave (p. 11) deste trabalho.
4 O livro divide-se em três partes: na primeira, “Histórias da história do cinema português”, o autor aborda questões historiográficas e de constituição do objecto de estudo, diagnosticando problemas e sugerindo alternativas; na segunda parte, “O Estado e o cinema em Portugal: Que políticas públicas? (1949-1980)” – a mais longa do livro – mergulhamos numa análise, sustentada em várias fontes, das políticas públicas que moldaram a relação entre o Estado e o cinema no período em causa; na última parte, “O que foi o Novo cinema português?”, que conta com apenas dez páginas, o autor retoma argumentos, para concluir que os cineastas e prosélitos do “Novo cinema português” desempenharam um papel central na definição de “uma ideia de cinema português” que acabou por se traduzir numa “efectiva política cultural do Estado português” (p. 226) que permaneceu dominante até aos nossos dias.
5 Talvez não seja de surpreender que uma parte importante deste estudo se dedique à análise da “construção crítica” (p. 30) do novo cinema português, ocorrida antes, durante e depois dos ‘factos’, à qual se vêm juntar discursos institucionais, jornalísticos e memorialísticos. É-nos mapeado um campo de posições que disputam o significado do “novo cinema” em torno de noções como alteridade, juventude, renovação e oposição (política e/ou estética). Parte da contenda diz respeito à escolha do nome, sobressaindo duas opções: novo cinema português, considerado “mais geral” (p. 49), e cinema novo português, que o procura alinhar com movimentos cinematográficos coevos, como o Cinema Novo brasileiro. A preferência do autor recai sobre a primeira designação, ainda que com uma grafia pouco usual (“Novo cinema português”), que nunca é justificada. A importância desta discussão reside não tanto nos argumentos esgrimidos para cada opção (que caem por terra quando constatamos que, na prática, as duas expressões tendem a confundir-se), como no facto de conseguir dar relevo ao carácter essencialmente construído deste objecto, que nos chega sob a forma de uma “grande narrativa” (p. 73) “oficial” (pp. 12, 38, 50) que as instituições-chave do cinema em Portugal – a Cinemateca, o Instituto Português do Cinema, a Rádio Televisão Portuguesa (RTP) e a Escola Superior de Cinema – lograram tecer e consolidar, tendo como principal objectivo a consagração de um determinado cinema (português) nos meios cinematográficos internacionais mais prestigiados.
6 É neste ponto que nos deparamos com uma contradição fulcral e de difícil resolução. Se, por um lado, o autor se procura afastar de um conceito unitário de “novo cinema português”, nisso convergindo com cineastas que viram nessa etiqueta “uma unidade que nunca existiu” (p. 43), por outro lado, o uso reificado que faz da designação “Novo cinema português” ameaça contaminar a proposta teórico-metodológica que nos está a oferecer. São vários os momentos em que o autor insiste numa definição de “Novo cinema português” mais ampla (de cariz temporal), colando-a a realidades plurais e heterogéneas cujo denominador comum é a “renovação” (ex. pp. 58; 59; 228). No entanto, as dificuldades são manifestas: como escapar, como o autor pretende (p. 58), a um corpus de filmes e a um cânone de autores associados ao “Novo cinema português” se o objecto de análise continua a ter esse nome? Como tratar o novo cinema português simultaneamente como um discurso dominante e uma entidade histórica plural e difusa?
7 Esta contradição é reveladora do curto-circuito que, na prática, se faz ainda sentir – apesar das intenções do autor e dos seus esforços em contrário – entre uma abordagem que se pretende ultrapassar, devedora da história da arte e assente na periodização e identificação de movimentos estéticos, e o tipo de abordagem histórica e materialista que se pretende promover e aprofundar. Trata-se, de certo modo, de uma contradição típica de um estudo de transição, que escolhe enveredar por caminhos novos sem uma rede de apoio de trabalhos teóricos e empíricos consistentes, pela simples razão de que não existem (pelo menos, em Portugal).2 Como o autor reconhece, “a petite histoire do cinema português ainda está por fazer” (p. 61). Esta ausência faz-se sentir ao longo do livro – por exemplo, para corroborar a tese de que a narrativa sobre o “Novo cinema Português” foi “imposta”, uma vez que o autor não deixa de chamar a atenção para as incoerências que marcaram a relação entre os profissionais de cinema e o Estado (pp. 153-159), em parte proporcionadas pelo tipo de “relações pessoais e institucionais” intrincadas que existiam (pp. 158, 232). A ausência da pequena história também se faz sentir a um nível mais geral, já que só ela permite contrariar a apetência pelas grandes narrativas que tem dominado a historiografia do cinema português, e da qual esta obra não parece estar completamente isenta.
8 É certo que o autor faz um trabalho notável de desconstrução da “narrativa-mestra” (p. 12) do novo cinema português, sublinhando a forma como ignorou factos (como a produção de curtas metragens no chamado “ano zero”), produziu dogmas (como a comparação dos anos 50 a uma espécie de “idade das trevas” – p. 87) e subestimou influências (como o neo-realismo italiano – pp. 102-103). No entanto, também o autor acaba por se inserir nessa narrativa, a fim de poder tomar partido sobre questões (sem dúvida importantes) que lhe estão subjacentes. Isto é sobretudo visível na última parte do livro, na qual a questão “do que foi o Novo cinema português” se vê inesperadamente transformada na questão “do que é” (ou continua a ser) o “Novo cinema português”. É como se, depois de relatar os efeitos, na história, da “grande narrativa”, o autor não conseguisse resistir ao seu poder de atracção.
9 Uma das principais características das “grandes narrativas” é a capacidade que possuem de omitir ou neutralizar elementos de difícil incorporação, frequentemente reduzidos ao estatuto de ‘excepções que confirmam a regra’. O objectivo é preservar a linearidade da narrativa, que se apresenta como completa e única. Pelo contrário, algumas das mais recentes abordagens historiográficas e materialistas ao cinema têm explorado alternativas que valorizam as contradições. Mais do que substituir uma narrativa por outra, estas abordagens pretendem rejeitar os princípios de linearidade, causalidade e unicidade que estão na base das grandes narrativas sobre o cinema, de modo a encorajar o aparecimento de histórias paralelas, descontínuas e cruzadas, que preservam (ao invés de mitigarem) o carácter multifacetado e intrinsecamente complexo do objecto ‘cinema’.3
10 Em suma, Uma nova história do novo cinema português é uma obra importante, que deve ser lida e dada a ler a vários públicos, como a escolha da editora faz, de resto, antecipar. Edições futuras poderão beneficiar de uma revisão atenta: foram detectadas gralhas, redundâncias, falhas na referenciação bibliográfica, bem como elipses e incoerências que atrapalham a leitura, provavelmente decorrentes do trabalho de reformulação de uma tese num livro. Há também hesitações entre as grafias pré- e pós-acordo ortográfico que, por serem cada vez mais frequentes na esfera editorial, já quase as tomamos como aceitáveis. São problemas de fácil correcção que não diminuem o valor deste estudo, que merece a atenção de todos os que investigam e leccionam estas matérias. Paulo Cunha é um dos investigadores mais activos nesta área e um dos exemplos mais notáveis daquilo que ele próprio designa por “produção historiográfica independente” (p. 60), que urge desenvolver e impulsionar no nosso país.
11 Na base deste tipo de produção está um conjunto de reorientações teóricas e metodológicas importantes, que incluem: a revisitação de fontes directas conhecidas (escritas e orais); a incorporação de objectos negligenciados; a valorização de arquivos privados e de âmbito local; a compilação e interpretação de indicadores económicos dispersos; o resgate do cinema de domínios puramente discursivos, textuais, estilísticos e estéticos; a abertura a outras disciplinas, no sentido de uma história social do cinema (p. 18); a integração de perspectivas internacionais; a valorização de micro- e meso-análises (mormente, através da pequena história), cuja ausência ou fragilidade compromete a elaboração, também ela importante, de macro-análises. Acrescentaria que, para singrar, este impulso de renovação terá que se fazer acompanhar de um esforço de teorização e reconceptualização, em linha com o que de melhor se tem feito lá fora. Como o estudo aqui recenseado demonstra, as possibilidades de pesquisa nesta área sob estas orientações são inesgotáveis e verdadeiramente estimulantes.
Notas
1 Paulo Cunha, O Novo Cinema Português: Políticas Públicas e Modos de Produção (1949-1980). Coimbra: (…)
2 Os poucos que existem são referidos, tal como o trabalho de José Filipe Costa sobre as políticas de (…)
3 Veja-se, por exemplo, Thomas Elseasser, Film History as Media Archaeology. Amesterdam: Amsterdam Un (…)
Sofia Sampaio – CRIA, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, Portugal. Email: psrss@iscte-iul.pt.
A Diplomacia do Estado Novo: Crepúsculo do Colonialismo (1949-1961) – PEREIRA (LH)
PEREIRA, Bernardo Futscher. A Diplomacia do Estado Novo: Crepúsculo do Colonialismo (1949-1961). Lisboa: D. Quixote, 2017, 312 pp. Resenha de: REIS, Bruno Cardoso. Ler História, v.73, p. 262-266, 2018.
1 Bernardo Futscher Pereira é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Columbia, foi jornalista antes de ingressar na carreira diplomática, foi embaixador na Irlanda de 2012 até 2017, período durante o qual redigiu esta obra. Embora eu resista à ideia de reduzir uma obra às circunstâncias ou a uma das identidades de quem a escreve, parecem ser de notar estes dados biográficos, pois poderão ajudar a perceber algumas das suas opções de partida. A obra assume-se, como seria de esperar, como a continuação, em termos cronológicos e de abordagem, do livro anterior do autor sobre A Diplomacia de Salazar, 1932-1949 (Lisboa: D. Quixote, 2012). Este é, portanto, “um livro essencialmente de história diplomática” o qual “procura sintetizar, em registo narrativo, os lances essenciais da política externa portuguesa, situando-os no contexto internacional da época”, oferecendo numa linguagem acessível uma visão geral da forma como a elite governativa e diplomática portuguesa foi gerindo os principais desafios da política externa.
2 Isso fará sentido tendo em conta as tendências atuais na História? A resposta é sim, a não ser que se queira impor (à maneira do Estado Novo) uma determinada agenda à História. Se o que se pretende é alargar os horizontes da disciplina então trata-se de adicionar novas dimensões às tradicionalmente dominantes, não de eliminar estas últimas. É tão legítima e válida a história “a partir de baixo” como “a partir de cima”, tudo depende das perguntas a que se quer responder. Independentemente das modas, a “alta política” e a diplomacia continuam a ser altamente relevantes. Veja-se o enorme impacto na vida de todos os portugueses, angolanos, moçambicanos, guineenses, e no curso da história nacional e global, das guerras coloniais tardias do Estado Novo. Guerras que, como este livro mostra, foram o pesado preço a pagar pela política seguida por Salazar na defesa do império ultramarino português.
3 Futscher Pereira também deixa claro que esta obra “baseia-se essencialmente em fontes secundárias e em fontes primárias publicadas”. É o normal em obras de síntese deste tipo, que quando muito complementam a sua síntese de obras e fontes publicadas com pesquisa de arquivo sobre alguns temas não suficientemente tratados na literatura existente. Foi o que Futscher Pereira fez, em especial sobre as “provações de Portugal nas Nações Unidas”, a que dá justificado destaque. Significa isto que esta obra se destina apenas ao público em geral, e não tem especial interesse para historiadores focados em análises originais? Como iremos procurar mostrar, esta é não apenas uma obra de referência útil, desde logo para o ensino destes temas, ela tem também elementos novos que merecem ser debatidos no quadro da agenda de investigação da história da política externa portuguesa neste período. É uma obra de divulgação, mas não é simplesmente descritiva.
4 Futscher Pereira avança efetivamente com uma interpretação geral deste período da política externa do Estado Novo. A tese central do livro, que justifica o seu subtítulo, é a de que já neste período a Guerra Fria europeia foi secundária, e o anticomunismo foi instrumental na política externa de Salazar. O foco principal de atenção ao longo da década de 1950, a prioridade da ação externa do regime salazarista, era já, defende o autor, a defesa das colónias, em particular a mais diretamente ameaçada neste período – o Estado Português da Índia. O principal alvo da política externa de Salazar era já o anticolonialismo militante da União Indiana, muito ativo nos fora multilaterais da ONU. Isso importava mais do que a NATO, a defesa face à ameaça soviética, ou mesmo a relação bilateral com os EUA, todas elas, segundo esta obra, estavam subordinadas à prioridade máxima que era a defesa da dimensão ultramarina, colonial de Portugal. Esta é uma ideia fundamental a que voltaremos no final desta recensão.
5 Como avaliar genericamente esta primeira história geral da diplomacia do Estado Novo por um só autor? Desde logo, notando que esta é uma obra bem escrita, numa linguagem acessível, adequada ao seu objetivo de fazer divulgação de qualidade. Tem uma estrutura clara. Embora nos pareça questionável a opção por os títulos dos capítulos serem um par de datas. Os títulos temáticos dos subcapítulos tornam, apesar disso, relativamente fácil navegar na obra; dão também uma ideia de algo em que os praticantes da política externa insistem: a dificuldade de terem de lidar com problemas urgentes e inesperados em partes muito diversas do mundo simultaneamente ou em rápida sucessão. Mas isso não deixa de afetar um pouco a coerência da exposição e da análise. Depois, deve ser sublinhado que este tipo síntese, um tour d’horizon por um só autor, é uma novidade. Existem outras sínteses da história da política externa do regime de Salazar, mas não por um só autor e como parte de obras mais genéricas.1 Além disso, há que destacar que a obra tem uma base empírica e bibliográfica sólida. Como já vimos anteriormente, o livro resulta da consulta de fontes publicadas, mas também de alguma pesquisa original de fontes de arquivo. De notar também como ponto positivo que o autor utiliza inclusive algumas teses de doutoramento ainda inéditas sobre temas relevantes.2
6 Antes de terminarmos destacaríamos duas interpretações mais específicas desta obra, uma que nos parece particularmente pertinente, e a outra que nos suscita dúvidas. Sendo que, no entanto, qualquer delas nos parecem ser contribuições pertinentes para o debate sobre a política externa do Estado Novo. Quanto à primeira, um ponto forte desta obra é efetivamente a análise dos principais atores da política externa portuguesa. Poucos discutirão a afirmação de Futscher Pereira de que embora Salazar deixe de ser formalmente Ministro dos Negócios Estrangeiros, em 1947, continua a ser a figura central da política externa portuguesa. Apesar da mudança de título deste volume para o anterior, a Diplomacia do Estado Novo, é, no fundo, mais um volume sobre a Diplomacia de Salazar. O peso de Salazar é especialmente marcante quando o titular da pasta é fraco, como é o caso de Caeiro da Matta, entre 1947 e 1950. Mas Salazar continua a pesar na diplomacia portuguesa mesmo com os mais sólidos Paulo da Cunha, entre 1950 e 1958 (sendo que este terá ficado diminuído por razões de saúde a meio do seu consulado), ou Marcelo Mathias, entre 1958 e 1961.
7 Salazar nunca abdicou de escolher os principais embaixadores e de comunicar diretamente com eles. Vários deles são ainda, neste período, escolhas pessoais e políticas do ditador vindos de fora da carreira. É nova, no entanto, a tese de Futscher Pereira de que entre os diplomatas “no estrangeiro” neste período “o papel de maior destaque coube a Vasco Garin”, pois que “como embaixador em Nova Deli e, de seguida, em Nova Iorque, foi ele que, na primeira linha, sofreu o embate dos conflitos diplomáticos” mais importantes. Este parece-nos um ponto válido. Garin é, claramente, uma figura a merecer um bom estudo de fundo. Também de notar, por ser rara a valorização da história das informações e das operações especiais neste tipo de obra, é a atenção de Futscher Pereira à figura menos ortodoxa de Jorge Jardim, que por várias vezes foi os olhos e os ouvidos de Salazar em zonas de crise. O real papel de Jardim pode ser difícil de avaliar com rigor, mas esta dimensão de diplomacia paralela e recolha de informações secretas merece atenção.
8 Outro ponto forte na análise por Futscher Pereira dos atores da política externa é o destaque dado Delgado, a Henrique Galvão e à ação internacional da oposição. Uma oposição que desenvolve, pela primeira vez, uma estratégia internacional paradiplomática e mediática eficaz que cria dificuldades sérias ao regime. Teria sido interessante que o autor tivesse dado mais atenção ao papel da rede diplomática na vigilância e gestão da presença internacional da oposição, assim como ao papel do PCP e da sua relação especial com a URSS. A acção internacional dos movimentos independentistas africanos é referido pelo autor – sobretudo a presença do líder da UPA em Nova Iorque, aquando do início do levantamento armado no norte de Angola, feita precisamente para coincidir com a discussão da situação angolana no Conselho de Segurança da ONU.
9 Um ponto fraco da análise do autor, do meu ponto de vista, é a apreciação repetida ao longo da obra de que as chefias militares leais ao general Botelho Moniz – como Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e, depois, como ministro da Defesa entre 1958 e 1961 – tinham uma boa visão da política internacional e, por isso, defenderam uma boa estratégia militar e política de resposta ao desafio independentista africano, bloqueada pela austeridade cega de Salazar. Ora, como o autor bem assinala, Salazar frequentemente mostrou nas suas comunicações privadas temor pelo elevado preço que seria preciso pagar internacionalmente para o Estado Novo manter a África portuguesa, em contraste com a confiante retórica pública da sua propaganda. Um temor que aumentou com as conhecidas reservas relativamente ao colonialismo do jovem senador John Kennedy, eleito presidente dos EUA em 1960. A realidade é complexa e parece-me claro que Salazar pode ter estado errado na sua opção de política externa para Portugal, mas esteve certo na sua análise da política internacional. Já os militares em torno de Botelho Moniz, a meu ver, estão menos unidos quanto ao que fazer antes e depois do início da luta armada em Angola; estão menos certos quanto à análise que fazem do contexto internacional; e estão claramente errados quanto às possibilidades de uma mudança limitada da política colonial portuguesa ser viável a prazo ou ser recompensada internacionalmente. Moniz e os seus próximos aparentemente acreditavam que Portugal, sem Salazar, manteria as possessões coloniais durante pelo menos uma década e conseguiria consolidar uma federação lusófona depois disso. Estas chefias militares também me parecem sobretudo desejosas de defender o interesse corporativo das Forças Armadas em obter mais recursos, em vez de, como pretendia Salazar, com recursos semelhantes mudarem radicalmente de prioridades e passarem de uma guerra convencional na Europa para uma guerra de guerrilha em África.
10 Para terminar voltamos à tese central desta obra. Afirma o autor: “a disputa com a União Indiana acerca de Goa, Damão e Diu foi a questão principal que ocupou a diplomacia portuguesa nestes anos.” Afirma também que o comunismo no quadro da Guerra Fria é uma ameaça meramente instrumental para a diplomacia de Salazar. Discordo desta última tese. Creio que se trata mais propriamente de um caso da diplomacia de Salazar acreditar na sua própria propaganda. Havia, efetivamente, a ideia na elite salazarista de que muitos destes movimentos anticoloniais eram hostis ao bloco ocidental e estavam dispostos a aliar-se ao bloco soviético, fossem ou não propriamente comunistas. O próprio Futscher Pereira nota de forma pertinente que, em plena Guerra Fria, “a ameaça comunista era o fator decisivo na política externa dos EUA e da Grã-Bretanha, as duas grandes potências ocidentais e atlânticas que eram, também, os principais aliados de Portugal”, acrescentando que “durante a quase totalidade deste período estiveram no poder em Washington e em Londres governos de direita, que olhavam para o Estado Novo com complacência”. Também nos parece apressado dar por adquirido “o descrédito completo das doutrinas raciais” no bloco ocidental ou, mesmo, no soviético. Ainda havia muito racismo, embora de uma variante mais paternalista. Isto não significa que discordemos do autor de que se deve dar muito maior peso à questão colonial na diplomacia de Salazar logo na década de 1950, e de que este facto tem sido algo descurado em favor de uma maior atenção dada à Guerra Fria. Parece-nos, porém, que ambos os contextos estão intimamente ligados, mesmo que seja necessário repensar a respetiva ordem de prioridades na política externa do Estado Novo.
Notas
1 Um exemplo recente são os capítulos sobre política externa nos cinco volumes de António Costa Pinto (…)
2 O que não significa que não seja possível sugerir alguma adição ou notar alguma gralha. Por exemplo (…)
Bruno Cardoso Reis – ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal. E-mail: bcreis37@gmail.com.
Consultar publicação original
Contra o vento. Portugal, o império e a maré anticolonial (1945-1960) – VALENTIM (LH)
VALENTIM, Alexandre. Contra o vento. Portugal, o império e a maré anticolonial (1945-1960). Lisboa: Círculo de Leitores, 2017, 840 pp. Resenha de: NASCIMENTO, Augusto. Ler História, v.73, p. 257-261, 2018.
1 Contra o vento, um de três livros sobre “um tempo mais longo” do império português, foca a resistência do governo de Salazar à descolonização entre 1945 e 1960. De uma perspectiva comparativa e global, esta excelente narrativa histórica do mundo em tempos de descolonização equaciona os condicionalismos dos múltiplos actores, desde as entidades internacionais aos colonizados, passando por Salazar, cujos processos decisórios escrutina minuciosamente, conquanto o livro não se debruce sobre Salazar e a sua política. Um dos condicionalismos é o contexto internacional – diga-se, uma variável crucial para o império português desde a sua constituição em oitocentos –, do qual, a par da emergência do bloco afro-asiático, da abdicação das potências coloniais e das disputas na ONU, avulta a política americana, pautada pela inclinação para a autodeterminação dos povos, com maior ou menor convicção consoante as conveniências do combate ao comunismo, que por vezes favoreceram as aspirações nacionalistas.
2 Contra essa determinante, o vento, Salazar, chefe quase incontestado, tentou ganhar tempo para manter a arquitectura política interna. Dos estéreis areópagos institucionais, atentos sobretudo ao lado de onde soprava o vento, brotava a corroboração da palavra do chefe. À luz da rígida subordinação prevalecente nos meandros do regime, percebe-se que, aquando da adopção da ideia de “nação una” contra a mística imperial, começava um debate de ilusões. As personalidades acreditavam ou forçavam-se a acreditar por força do corriqueiro acatamento das intenções do chefe, que passavam pela instrumentalização da ideia de integração nacional que, diz-nos o autor, teve uma função retórica, de justificação de soberania colonial – sobretudo quando esta se encontrava ameaçada do exterior. A mutação terminológica de “colónias” para “províncias ultramarinas” indiciava o intuito de recusar qualquer solução gradualista e prenunciava a resistência à descolonização, aparentemente em consonância com o consenso nacional acerca do património colonial.
3 Ao tempo, avultava a questão de Goa, que levou a que no PCP – cujos militantes não escapavam à crença generalizada na bondade da colonização – se advogasse o direito à autodeterminação já em 1955. Porém, tal posição do PCP era irrelevante para o regime, que a usava como prova de que o anticolonialismo era um manejo comunista contra o ultramar português. Com uma visão anacrónica do mundo, Salazar não se apercebeu da amplitude da retirada do poder colonial na Ásia, forçada pelos movimentos nacionalistas e pela crise das potências europeias. Desprezando os sinais do tempo – a propósito do Padroado, a Santa Sé sapou os fundamentos ideológicos da presença colonial –, Salazar acreditou em vão na fragmentação da Índia e não quis ver a aposta inglesa na interlocução com o Congresso Nacional Indiano. Se o recurso ao Tribunal de Haia constituiu um engulho para União Indiana, já da descrição das conversações secretas se infere uma obstinada cegueira perante as várias possibilidades oferecidas a Goa. Este livro não se queda nos meandros das dilações e mais expedientes diplomáticos na defesa do indefensável, evidentes no caso de Goa. Proporciona-nos uma viagem pelas várias situações coloniais – entre elas, o modus vivendi em Macau e o indirect rule em Timor – de que, ao arrepio do palavreado, se compunha a recém-baptizada “nação una”.
4 Portugal acordaria para o enorme hiato entre a imagem que a “nação construía de si e do seu Império” e as opressões vividas nas colónias por força da ameaça resultante da vaga descolonizadora que, além de rápida, era perturbante por fazer implodir os planos das potências coloniais de controlar o processo de descolonização. Contagiado por esta evolução política, subitamente o ambiente nas colónias de África tornou-se volátil, também devido às debilidades da administração e às sujeições impostas aos colonizados. Os massacres de finais dos anos 50 desmentiriam a vangloriada pax lusitana, aparente porque assente na repressão. A realidade era pouco conforme à harmonia racial ou, de outro modo, à presunção da subordinação natural do negro à tutela portuguesa. Todavia, mesmo se em perda, a sobranceria racista, incomparavelmente mais operante do que as lucubrações em torno do luso-tropicalismo à la carte e do benfazejo paternalismo dos portugueses, induzia ilusões quanto à capacidade de prevenir e conter a insurgência. Por exemplo, advogava-se a repressão dura, “dentro das leis que eles entendem”, de qualquer acto violento ou desrespeitoso para evitar o surgimento de uma “Argéliazinha” corrosiva de recursos e de energias, tal a expressão do optimismo baseado nos presumidos resultados da repressão infrene e selvagem, cinicamente justificada com a selvajaria imputada aos africanos.
5 Por convicção ou cedência aos interesses instalados, o poder colonial manteve até aos anos 50 formas arcaicas de exploração – trabalho forçado e culturas obrigatórias –, evidenciando relutância em subscrever a convenção de 1930 sobre trabalho forçado. Portanto, não estava em causa o “fracasso de uma política de integração”, mas, sim, a “aplicação de uma política que de integradora nada tinha”. Afinal, até nos relatórios de matiz reformista se obliterava a instituição marcante do colonialismo, o indigenato (conquanto possamos supor que a abstenção da menção ao indigenato, revelando muito da rigidez hierárquica do regime, não significasse que a sua abolição não estivesse pensada enquanto consequência das propostas reformistas). Não se aboliu o indigenato nos anos 50, retocando-se apenas os aspectos mais chocantes que poderiam chamar a atenção da opinião pública mundial.
6 Nestes anos, o rumo do colonialismo compôs-se do atrito entre o monolitismo da política colonial e as tentativas reformistas, para Valentim Alexandre, genuínas, mesmo se falhadas. Dada a rigidez do controlo das instituições e a consequente expressão apenas das ideias com cunho oficial, os alvitres reformistas tinham de ser ambíguos e contidos para poderem ser apresentados conquanto depois inexoravelmente rejeitados por afrontarem, minimamente que fosse, interesses instalados. Nada pareceria menos certo do que o idealismo de reformistas, para quem o pressentimento dos perigos levaria os colonos a mudar a posição relativamente aos negros. Como já há décadas Valentim Alexandre chamou a atenção, aos colonos que lidavam com as “realidades” no terreno, os idealismos afiguravam-se risíveis… Como convencer os colonos e os potentados de que, afinal, o interesse nacional era diverso do que vigorara durante décadas a seu benefício? Aventar que só com uma política indígena sã e verdadeira se asseguraria a confiança e a lealdade dos indígenas, base de uma ordem interna estável e sólida, afigurava-se um idealismo sem sentido. Nas colónias, e não só, sabia-se que tal não era verdadeiro. Por exemplo, cria-se que não seria por se pagar melhores salários que se obteria mão-de-obra (a que acrescia o desinteresse na redução do sobrelucro esperado nos empreendimentos coloniais).
7 Maior certeza subjazia à predição de que era mais do que duvidosa a sobrevivência de qualquer governo ao abalo da eventual perda das colónias. Justamente, dada a subordinação de tudo à preservação do seu poder, Salazar pendia para a PIDE e para os que, contrariamente às sugestões reformistas – que, diga-se, não salvariam as colónias –, achavam que a repressão era a chave da resolução de qualquer crise. No equivocado debate sobre a política colonial, truncado no tocante a conteúdos e condicionado porque operando desigualmente entre indivíduos e Salazar, a opção pela repressão foi levando a melhor sobre as reformas, para Valentim Alexandre, duas faces da política tendente a preservar a soberania sobre o império. Ao mesmo tempo que os luso-tropicalistas e reformistas produziam relatórios com sugestões para correcção das injustiças, já operava a disposição de conduzir o país para a guerra.
8 Em suma, contra o vento… ganhar tempo? A tal se resumiu a estratégia do governo de Portugal, cujos interesses foram subordinados aos de Salazar. Contra a aura de “estadista”, a história aqui narrada sugere, para não dizer que confirma, a senda de um ditador norteado pelo desejo de não querer assistir ao fim do seu poder, instrumentalizando tudo e todos, pouco lhe importando os portugueses. Para isso, construiu uma narrativa – composta de denúncias das frágeis verdades da conjuntura e, até, da duplicidade dos aliados de momento, assim como de antevisões etnocêntricas e racistas conquanto parcialmente confirmadas pelas convulsões supervenientes às independências – aparentemente irrebatível, sobretudo, por a ditadura vedar qualquer discurso dissonante. A este respeito, afigura-se sugestivo o facto de Salazar, cônscio da precariedade da soberania em Goa, auscultar o Conselho de Estado sobre (remotíssimas, se não falaciosas) hipóteses de um plebiscito ou de uma entrega institucional – soluções inconstitucionais –, qual forma de “apalpar o terreno” no topo do estado, de onde, presume-se, recolheria opiniões condicionadas não só pelos bordões do regime, mas até pela eventual intuição dos conselheiros de estar à prova a sua fidelidade.
9 Este livro insere breves diálogos com outros autores. Reconhece a António José Telo o mérito de aludir às mudanças nos apoios internacionais em finais da década de 1950, contestando, todavia, a ideia de inversão de alianças, até pela pouca firmeza dos apoios, pontuais e não comprometidos para o futuro. O autor discorda da qualificação, de Bruno Cardoso Reis, de Portugal como um estado pária, incluso na categoria dos estados que se colocavam contra as normas globais. Ora, apesar de isolado, Portugal pertencia à ONU, à NATO, à EFTA e tinha apoio da França e da Alemanha. Mais, as “relações com muitos dos novos países africanos” viriam a ser “mais complexas do que à primeira vista parecem”, uma perspectiva particularmente relevante para quem queira entender os posteriores desenvolvimentos em África.
10 A par destes diálogos, sopesam-se problemáticas, por exemplo, a da equiparação entre nazismo e colonialismo. Para o autor, a equiparação das práticas coloniais às nazis não deve ser levada longe por subsistirem diferenças, desde logo, por o poder colonial ser, não necessariamente mais humano, mas mais cônscio dos limites. Apesar de nem todos terem resultado de desmandos, os massacres coloniais tinham um carácter instrumental, não sendo, por regra, uma solução final ou uma política em si mesma. Ditatorial, o colonialismo português desdobrava-se facilmente na prevalência da arbitrariedade administrativa sobre a lei, factor propício a processos similares aos dos sistemas totalitários. Ainda assim, e mesmo que se desvalorize a ideologia que buscava a legitimação do colonialismo na missão evangelizadora e na integração, atente-se, por exemplo, na debilidade da ocupação administrativa, que limitava os efeitos das práticas discriminatórias e opressivas.
11 Nesta obra assente num vastíssimo leque de fontes, é notável a profundidade com que são retratados actores, situações conjunturais, possibilidades, estratagemas, decisões políticas, episódios e cenários de uma história global. O conhecimento não reproduz a vida, mas este livro quase nos torna testemunhas presenciais dos processos e das vicissitudes dos desempenhos na luta “contra o vento”. Esta narrativa, a que não falta, aqui e além, uma coloquialidade bem-humorada, não é uma história exaltante nem ideologicamente orientada. Pauta-a a atenção à multiplicidade de posições, incluindo a ambiguidade das enunciações para serem interpretadas pelo chefe providencial e tendencialmente absoluto. Traçados os caminhos da concretização dos supostos e reais objectivos da acção colonizadora, o autor arrola, sempre que pertinente, as várias interpretações possíveis. Pela criteriosa selecção das questões e perspectivas, valorizada pela exímia escolha de trechos citados, mormente dos papéis de Salazar, Valentim Alexandre foge ao maniqueísmo, que comummente não inspira senão a mera enunciação do consabido rol de malfeitorias insanáveis do colonialismo.
12 Obviamente, emergirão questões para responder, entre elas, a (eventualmente calada) percepção da parca valia do que se dizia (o que, aduza-se, tanto vale para os colonialistas, como, noutras circunstâncias, para os anti-colonialistas), a que se segue a questão de saber da convicção com que se lutava… “contra o vento”. Escasseiam as dúvidas: uma refere-se ao “regime colonial português tardio”, noção a aclarar pelos historiadores quanto ao período a que respeita e ao que caracteriza. Outra atém-se à grande influência do massacre de Pindjiguiti na evolução do nacionalismo guineense, do que se poderá duvidar, menos por se poder infirmar a asserção do que pela intuitiva relutância ao que poderá compor mais uma “biografia perfeita” do que uma relação intrínseca na génese do nacionalismo guineense, decerto avivado pelas influências advindas dos países limítrofes.
13 Esta obra interpela quanto às consequências de uma política que, independentemente das duras provas e de pequenas vitórias diplomáticas, não tinha saída: não se tratava de não se poder deixar de sacrificar os filhos à pátria, tratava-se de os instrumentalizar quando provavelmente já prevaleceria a consciência de que tal era inútil. Se esta hipótese estivesse certa, então, tudo não teria servido senão para Salazar preservar o poder até à morte, fito a que imolou o país. Fascinante viagem no tempo, esta é uma obra que, à margem dos nebulosos “factores de impacto”, nos enriquece. Resulta do exercício livre e competente do ofício de historiador, para que a sociedade e, infelizmente também, as universidades parecem ter deixado de ter tempo… Seja lá como for, após este, ficamos à espera dos próximos livros.
Augusto Nascimento – Centro de História da Universidade de Lisboa, Portugal. E-mail: anascimento2000@yahoo.com
Casa dos Estudantes do Império: Dinâmicas Coloniais, Conexões Transacionais – CASTELO; JERÓNIMO (LH)
CASTELO, Cláudia; JERÓNIMO, Miguel Bandeira (org). Casa dos Estudantes do Império: Dinâmicas Coloniais, Conexões Transacionais. Lisboa: Edições 70, 2017, 271 pp. Resenha de: ALMADA e SANTOS, Aurora. Ler História, v.72, p.238-241, 2018.
Cláudia Castelo e Miguel Bandeira Jerónimo apresentam-nos um livro cujos capítulos resultam das comunicações apresentadas num colóquio internacional realizado em Lisboa, em 2015. A obra tem por ambição cumprir dois objetivos: refletir sobre as diferentes facetas da Casa dos Estudantes do Império e estabelecer uma relação com a mobilização transnacional de ideias, atores e práticas por parte dos estudantes. Num momento em que se assinala o 50º aniversário dos movimentos estudantis de Maio de 1968 em França, que tiveram repercussões em inúmeros países, o livro vem problematizar uma dimensão da contestação ao colonialismo português que, como os próprios organizadores reconhecem, tem recebido um tratamento superficial.
2A publicação do livro permite-nos estabelecer o diálogo com outra literatura recente que tem sido produzida quanto ao processo de descolonização europeu e português no pós-II Guerra Mundial. Fazendo um grande uso de fontes primárias, a obra encontra-se estruturada em treze capítulos, dos quais o primeiro, ao abordar o contexto nacional e internacional, serve de enquadramento para os demais autores explorarem as suas temáticas. Os nove capítulos seguintes reportam-se às especificidades da Casa dos Estudantes do Império, ao passo que os últimos três remetem-nos para outras realidades onde igualmente teve lugar o entrecruzar entre as ações das organizações estudantis e a contestação ao domínio colonial ou às decisões dos governos pós-coloniais.
3Seguindo-se à introdução dos organizadores, o primeiro capítulo, da autoria de Valentim Alexandre, embora sem trazer novidades substanciais, faz um ponto de situação do contexto no qual a Casa dos Estudantes do Império atuou. As considerações apresentadas vão de encontro às que o autor tem vindo a veicular nos seus trabalhos, reafirmando que a resistência portuguesa à descolonização assentava na irrealidade política, tendo havido uma conjugação entre o reformismo e a repressão como forma de salvaguardar a manutenção das colónias. Mais inovador, o capítulo de Margarida Lima de Faria e Sara Boavida incide sobre a análise sociológica dos membros da Casa, tendo por base a informação disponível nas fichas de associados das delegações de Lisboa, Coimbra e Porto conservadas no Arquivo da PIDE/DGS. Os dados reproduzidos permitem-nos estabelecer comparações e conhecer o número, a naturalidade, as idades, a profissão, o nível de ensino ou as áreas de estudo dos sócios. Contudo, como indicado pelas autoras, tal informação não pode ser considerada como definitiva, pois existe um conjunto de perguntas às quais ainda não permitem dar resposta.
4O terceiro e o quarto capítulos particularizam as vivências dos membros goeses, cabo-verdianos e guineenses da Casa. Retratados por Aida Freudenthal, os estudantes goeses são apresentados como tendo sido influenciados pelo convívio com associados de outras colónias, o que terá contribuído para a sua consciencialização política. Embora refira as reações dos estudantes quanto aos acontecimentos de Dadrá, Nagar-Haveli e Goa, o capítulo não faz uma caracterização cabal dos sócios goeses. A análise efetuada poderia ser mais consistente se, a título de exemplo, a autora tivesse também traçado o percurso de alguns desses estudantes dentro e fora da Casa. Quanto aos cabo-verdianos e aos guineenses, o capítulo de Ângela Coutinho interliga-se com o de Margarida Lima de Faria e Sara Boavida, onde vai buscar dados sobre os sócios nascidos em Cabo Verde e na Guiné. Concluindo que as experiências vividas em Portugal pelos estudantes foram relevantes para os futuros movimentos de libertação, a autora esclarece no entanto que a Casa dos Estudantes do Império não terá sido um local privilegiado de recrutamento dos dirigentes do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). São apontados espaços de sociabilidade política alternativos como o liceu Gil Eanes, em Cabo Verde, o que permite enquadrar a Casa dos Estudantes do Império na devida perspetiva, não sobrevalorizando a sua importância para os nacionalistas cabo-verdianos e guineenses.
5Num capítulo com bastante profundidade, Alexandra Reza debruça-se sobre o boletim Mensagem publicado pelos sócios da Casa dos Estudantes do Império. Examinando o boletim, Reza infere que os estudantes da Casa cunharam o conceito de unidade com diferença, para contrariar o de unidade sem diferença veiculado por Portugal, e que procuraram estabelecer ligações não somente entre as diferentes realidades existentes nas colónias portuguesas mas também com o que se passava além-fronteiras. A autora entende que utilizaram plataformas internacionais, como a revista Présence Africaine, indicando que aqueles que lutavam contra o colonialismo situavam-se no cruzamento entre fronteiras linguísticas e imperiais. Apoiando-se em reflexões quanto ao papel da literatura nas lutas de libertação, no capítulo subsequente, o sexto, Inocência Mata detalha as obras de ficção publicadas na coleção “Autores Ultramarinos”, organizada pela Casa. Verificamos porém que a autora ultrapassa o seu objetivo inicial, pois além de abordar as questões sugeridas pelas obras de ficção faz igualmente uma incursão na poesia produzida pelos estudantes, considerando que em alguns casos constituíam uma escrita de memórias.
6Victor Andrade de Melo questiona no capítulo sétimo se o envolvimento dos membros da Casa dos Estudantes do Império em atividades desportivas poderá fornecer elementos sobre a dinâmica de funcionamento da associação. Na sua principal conclusão, entende que existiu uma correlação entre desporto e atividades políticas, tendo o primeiro sido utilizado para escapar à vigilância que o aparelho repressivo do Estado Novo exerceu sobre a Casa. No seguimento de tais afirmações, Marcelo Bittencourt discorre sobre a diversidade, as escolhas e os contextos nas memórias referentes à instituição. Apesar do seu interesse, a abordagem efetuada por Bittencourt é ainda assim em grande parte genérica, focando-se superficialmente nas trajetórias e lembranças dos sócios angolanos, o que de início foi definido como o seu interesse principal.
7Uma outra perspetiva quanto à memória associada à Casa dos Estudantes do Império é introduzida por Margarida Calafate Ribeiro no capítulo nove, sobre os filhos dos associados. Todavia, poucos são os detalhes quanto ao conteúdo das memórias da segunda geração, os designados “filhos da Casa”, que a autora se propôs estudar. O texto aborda questões teóricas em torno da pós-memória, que somente de forma muito superficial são colocadas em diálogo com as experiências dos filhos dos associados da Casa dos Estudantes do Império. O livro ganharia em profundidade se esse capítulo fosse alargado, com a promoção desse diálogo. A finalizar a secção dedicada à Casa dos Estudantes do Império, a obra contempla um capítulo de Manuela Ribeiro Sanches que tenta explorar a contribuição dos associados para a descolonização da Europa, entendida enquanto libertação do colonizador à semelhança da libertação do colonizado. Concluindo que esse processo de descolonização ainda estava por concretizar, a autora que de início tinha o propósito de analisar os contributos de um grupo de estudantes salienta no entanto a figura de Mário Pinto de Andrade, na qual centra a sua narrativa.
8Como referido anteriormente, os últimos capítulos destinam-se a inserir a Casa dos Estudantes do Império na história transnacional do anticolonialismo e da contestação estudantil. Esse esforço é concretizado através de estudos de caso que se reportam a França, ao Reino Unido e ao Daomé, o que constitui indiscutivelmente um dos pontos fortes da obra, dado que permite-nos contextualizar melhor as atividades da Casa. No que se refere a França, Nicolas Bancel procura evidenciar que a radicalização dos movimentos estudantis coloniais esteve intimamente relacionada com os acontecimentos da guerra da Argélia. Para o Reino Unido, Hakim Adi expõe-nos o envolvimento dos estudantes africanos nas atividades anticoloniais, estudando a African Association, a West African Student Union, a Pan-African Federation ou o Committee of African Organisations. Por fim, Alexander Kesse foca-se na participação da Front d’Action Commune des Etudiants et Elèves du Nord na discussão sobre a evolução do Daomé após a independência, apresentando os estudantes daomeanos enquanto atores políticos.
9O final da obra consiste num posfácio de Cláudia Castelo, que deixa-nos pistas para futuras investigações sobre a Casa dos Estudantes do Império. Assim, Cláudia Castelo propõe que no futuro o programa de pesquisa contemple as causas que nortearam o comportamento do estado em relação à Casa, a comparação com outras associações de estudantes africanos e asiáticos nas metrópoles e nas colónias, o estudo da instituição no contexto de uma história compartilhada da solidariedade anticolonial, o cruzamento com a história social dos migrantes coloniais em Lisboa, a análise das formas de solidariedade antifascista e anticolonialista que a influenciaram e/ou foram por ela alimentadas, o exame do seu contributo para a disseminação do internacionalismo negro e as histórias de vida dos seus associados. Tais sugestões evidenciam que falta ainda explorar muitas dimensões sobre a temática, embora o livro no essencial atinja os objetivos propostos inicialmente. Efetivamente, retrata uma imagem matizada e pouco linear da Casa dos Estudantes do Império, que é enquadrada numa dimensão transnacional. Não obstante algumas debilidades, com o livro os nossos conhecimentos sobre o tema são consideravelmente enriquecidos, sendo que da publicação podemos retirar contributos para a promoção de novas preocupações historiográficas.
Aurora Almada e Santos – IHC – NOVA FCSH, Portugal. E-mail: auroraalmada@yahoo.com.br.
Do Reino à Administração Interna. História de um Ministério (1736-2012) – ALMEIDA; SILVEIRA. (LH)
ALMEIDA, Pedro Tavares de; SILVEIRA, Paulo Sousa (Coord.). Do Reino à Administração Interna. História de um Ministério (1736-2012). Lisboa: INCM e Ministério da Administração Interna, 2015. 574 pp. Resenha de: SUBTIL, José. Ler História, n. 70, 2017.
1 Convém, desde já, chamar a atenção para um elemento que condiciona a apreciação desta obra e que diz respeito ao facto de se tratar de uma “encomenda”, ou seja, “um contrato de investigação celebrado entre a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a FCSH da UNL, em finais de 2010”. Não é, portanto, um trabalho que resulte de uma iniciativa científica, integrada ou não num centro de investigação. Estas encomendas tornaram-se frequentes nos últimos anos, muitas vezes satisfeitas por “curiosos” ou indivíduos ligados às instituições estudadas e, de uma forma geral, de qualidade inferior. Neste aspeto, a presente obra é uma exceção, na medida em que é realizada por historiadores, obedece a requisitos de qualidade historiográfica e a SG do Ministério da Administração Interna aceitou a “plena liberdade intelectual na conceção da obra e na redação dos textos”, o que é de realçar e aplaudir.
2 A obra está dividida em quatro partes, sendo que uma quinta diz respeito à prosopografia das elites. Na introdução adota-se uma exposição diacrónica do ministério, mas não se elucida o leitor sobre a escolha temática dos capítulos. Também teria sido útil uma justificação do plano e das fontes. A primeira parte, correspondente a cerca de 19% do texto, trata do “aparelho e os agentes” num leque temporal repartido entre 1736 e 2011, sem que haja referência ao período entre 1807-1834, o que nos leva a colocar a questão se a obra não deveria ser limitada ao período entre 1834 e 1922, uma vez que aos anos de 1736 a 1834 (35% do período) correspondem, apenas, 3% do texto. A abordagem mais completa quanto à evolução orgânica e os recursos humanos é de Rui Branco (1852-2011), se bem que o texto de Joana Estorninho se refira a um curto período (1834-1851) onde, apesar de tudo, explica a construção do modelo ministerial. O texto de Nuno Monteiro, que cobre o reinado de D. João V, desde 1736, e termina com as invasões francesas, é um remake de ideias já conhecidas, que, para além da caraterização já bem conhecida do sistema político do Antigo Regime, dizem respeito àquilo que o autor considera, em termos de dinâmica reformista, a superioridade da “mutação silenciosa” do reinado de D. João V sobre o impacto “político e simbólico” do período pombalino, insistindo no argumento da importância da reforma das secretarias de estado de 1736. Trata-se de uma interpretação polémica, que é aqui retomada, sem vantagem para a definição das funções que iriam ser assumidas pelo Ministério do Reino no final do Antigo Regime.
3 A segunda parte (30% da obra), intitulada “administrar e coordenar”, tem a colaboração permanente de Paulo Silveira e Sousa, sozinho para o governo no Antigo Regime e para os governos civis e poderes locais (1834-1926), e acompanhado por Rita Almeida de Carvalho no capítulo sobre os governos civis, municípios e freguesias (1926-2011), e por Jorge Miguéis e Pedro Tavares de Almeida sobre a administração das eleições. A terceira parte (cerca de 37% do texto) é designada por “proteger e controlar” e cobre o tema das polícias entre 1736 e 2011, a cargo de Diego Cerezales e António Araújo. O primeiro texto é relacionado com a questão da segurança e o segundo com os serviços de informação, para terminar com uma análise sobre as mobilidades populacionais (1736-2011), de Victor Pereira. A quarta parte, “auxiliar e regular”, é a mais pequena (13% da obra) e tem a colaboração de Rita Garnel, com um curto texto sobre a saúde pública (1834-1958), e de Paulo Jorge Fernandes e Paulo Silveira e Sousa sobre bombeiros, proteção civil e segurança rodoviária (1736-2011). Segue-se a parte mais inovadora com um capítulo, sem texto, sobre ministros e secretários de estado (1834-2012), de José Tavares Castilho, e outro sobre secretários-gerais (1835-2012) e directores-gerais (1859-2012), de Pedro Silveira, informação completada com um valioso anexo.
4 Uma ideia central que persegue a história do Ministério do Reino é a de que esta instituição, desde o início do século XVIII, constituiu uma reserva imensa de funções governativas que, à medida que foi crescendo a população e se foi estruturando o modelo ministerial de tipo “estadualista”, perderia muitas dessas funções para outros órgãos, e inclusive daria origem a novos ministérios. Temos assim que, no século XVIII, ao lado da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, existiram apenas outras duas secretarias de estado destinadas a assuntos “fora” do Reino (política externa, guerra e ultramar). O primeiro sinal de exautoração funcional foi dado no final do século com a criação de Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. Seguiram-se outros, ao longo dos séculos XIX e XX, pelo que o atual Ministério da Administração Interna tem já pouco do que foi o “velho” Ministério do Reino. Justamente por isto, a explicação desta dinâmica deveria corresponder à primeira parte da obra, acompanhada por gráficos representativos e pela evocação dos organismos que foram herdando funções do Ministério do Reino. Embora na introdução se faça uma breve síntese desta evolução, sem dúvida que tal ficou por fazer, à parte a inovadora abordagem sobre os contingentes dos funcionários públicos e a sua comparação com os recursos humanos do Ministério do Reino.
5 Uma segunda ideia, estruturante para caraterizar uma instituição como o Ministério do Reino, tem a ver com o recenseamento das áreas de governo que fizeram parte da sua missão ao longo dos três séculos cobertos pela obra, algumas das quais se foram autonomizando com o seu esvaziamento político. O que ressalta deste estudo é que as áreas do Ministério da Administração Interna foram privilegiadas em relação às do Ministério do Reino, em que algumas nem sequer foram estudadas. Uma das mais significativas é, sem dúvida, a saúde pública. Esta área esteve, no Antigo Regime, a cargo do Provedor-mor da Saúde, Junta do Protomedicato, Junta da Saúde, Físico-mor, Cirurgião-mor e outros agentes tutelados pelo Ministério do Reino. Depois da revolução liberal, o Ministério do Reino enquadrou a ação do célebre Conselho de Saúde Pública, a rede distrital das estações e delegações de saúde, o Instituto Vacínico, o Lazareto, o Conselho Superior de Higiene e a sanidade marítima dos portos, além da gestão e do controlo financeiro e administrativo de muitos hospitais. Esta faceta está muito ausente do trabalho, descontando as 24 páginas de síntese a cargo de Rita Garnel (de 1834 a 1958), que incide nos órgãos centrais e retrata o que a legislação permite dizer, o que é, de facto, muito pouco para caraterizar esta imensa atividade do Ministério do Reino.
6 Uma outra área, igualmente fundamental, é a instrução pública. Antes da revolução liberal, o Ministério do Reino tutelou politicamente, durante o período josefino e mariano, a Junta da Providência Literária, a poderosa Junta da Diretoria Geral de Estudo e Escolas do Reino e a Real Mesa Censória para, no século XIX, coordenar o Conselho Geral de Instrução Pública e toda a rede de escolas de instrução primária e secundária por cada distrito, intervir no ensino superior (Universidade de Coimbra, Academia Politécnica do Porto, Escolas Médico-Cirúrgicas do Funchal, de Lisboa e do Porto e Escola Politécnica do Porto). Também aqui não há nenhuma aproximação a esta área de governo da qual viria, aliás, a surgir o Ministério dos Negócios da Instrução Pública (1870) retomado em finais do século (Ministério da Instrução Pública e Belas Artes, 1890-1892). Nada é dito sobre esta função charneira assumida pelo Ministério do Reino até praticamente à República.
7 Uma terceira área esquecida está relacionada com a assistência social, uma matéria política que sempre serviu para aferir a dimensão da clivagem entre conservadorismo e inovação. Antes do liberalismo, o Ministério do Reino esteve implicado na gestão da rede das misericórdias, confrarias, hospitais e casas pias e, depois, na Monarquia constitucional, com o Conselho Geral de Beneficência, Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, colégios, recolhimentos, asilos e misericórdias. O mesmo se passa, também, com a supervisão das obras públicas, trabalhos geodésicos, cadastrais e topográficos, oficinas de conservação e restauro de monumentos históricos, bem como o planeamento e construção de estradas. Ou, ainda, com diversas superintendências como, entre outras, sobre o Arquivo da Torre do Tombo, Biblioteca Nacional de Lisboa, Biblioteca Pública de Évora, Imprensa Nacional, Academia Real das Ciências, Academia de Belas Artes, bibliotecas, museus, arquivos e o apoio ao Conselho de Estado e ao Supremo Tribunal Administrativo.
8 De facto, as áreas emblemáticas do Ministério do Reino estudadas foram a segurança e o controlo periférico. A primeira sempre fez parte da matriz do Ministério do Reino (no Antigo Regime com a Intendência Geral da Polícia, Guarda Real e, no liberalismo, com a GNR, PSP e polícias de informação). Já o controlo à periferia foi diferente, uma vez que durante o Antigo Regime esteve a cargo do Desembargo do Paço e, depois de 1820, seria assumido pelo Ministério do Reino em articulação com os governos civis. Sem dúvida, um dos temas mais desenvolvidos, a par da administração dos processos eleitorais. Por outro lado, talvez a escolha do controlo das mobilidades populacionais e a emigração (1736-2011), os bombeiros, proteção civil e segurança rodoviária pudessem ter uma análise diferenciada para o Ministério do Reino e o Ministério da Administração Interna num período tão longo.
9 Finalmente, uma observação metodológica e epistemológica. A abordagem historiográfica a uma instituição político-administrativa não pode prescindir do seu acervo arquivístico porque representa o “espelho” das funções, competências, perfil organizacional, tramitação documental, práticas burocráticas, sistema de informação/decisão e os canais de comunicação política e administrativa. O núcleo do Ministério do Reino à guarda da Torre do Tombo é um repositório monumental que permite, graças à qualidade das intervenções arquivísticas, uma consulta sistemática que devia ter sido feita (nem que fosse por amostragem) para revelar detalhes da “maquinaria” institucional deste ministério. À parte uma ou outra meritória evidência na utilização deste recurso, o certo é que a investigação se serviu, fundamentalmente, de bibliografia, coleções de legislação e orçamentos. Uma aproximação à história custodial teria sido útil, visto tratar-se de uma instituição de onde se autonomizaram outros órgãos da administração central. Uma nota, ainda, para a conceção gráfica, que cria dificuldades na leitura e gera confusão na consulta.
10 Apesar das lacunas e insuficiências apontadas, trata-se de uma obra útil para se compreender o processo de construção política e administrativa do Estado liberal e o alvor da democracia. O leitor comum ganhará uma visão geral da governação e o estudioso da história institucional colherá detalhes e estatísticas de grande relevância.
José Subtil – Universidade Autónoma de Lisboa
The New Christians of Spanish Naples, 1528-1671: A Fragile Elite – MAZUR (LH)
MAZUR, Peter A., The New Christians of Spanish Naples, 1528-1671: A Fragile Elite, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013. 197 pp. Resenha de: TAVIM, José Alberto. Ler História, n. 67, 2014.
1 A presente obra de Peter Mazur versa uma comunidade periférica em duas dimensões fundamentais: a sua situação na esfera da soberania espanhola, mas num reino exterior à Península Ibérica, ainda que económica e estrategicamente crucial no contexto da península italiana e do Mar Mediterrâneo – o reino de Nápoles -; e também numa posição geograficamente “extrema” face às outras comunidades de conversos que viviam maioritariamente em Espanha, Portugal e nos seus domínios ultramarinos. Talvez a única comunidade que se aproxima desta, em termos de uma mesma singularidade, é mais antiga dos conversos portugueses que residiam nos Países Baixos sob domínio espanhol, nomeadamente naquela que foi a grande capital económica do norte europeu – a cidade de Antuérpia – e onde pontificaram as famílias Ximenes, Rodrigues d´Évora e Veiga1. Contudo, excepto na primeira metade do século XVI, onde por ordem do imperador Carlos V (1516-1558) se realizaram investigações sobre a idoneidade religiosa do famoso Diogo Mendes (Benveniste) e seus homens, não se verificou aqui o estabelecimento de um braço da Inquisição como no reino de Nápoles. Tal facto vai moldar uma forma de actuação distinta da comunidade conversa do reino de Nápoles cindida, também ao contrário do que acontecia nos Países Baixos Espanhóis, entre conversos de origem aragoneses e conversos de origem portuguesa, chegados mais tarde. E é esta diacronia controversa, de pessoas de origem conversa, de diferentes longitudes, agindo como gente de negócios, de conselheiros e de informadores das autoridades napolitanas, e com parentes permanecendo na Península Ibérica, frequentemente apanhada por uma teia inquisitorial segundo o modelo ibérico, que o livro de Peter Mazur nos dá conta.
2 O livro está constituído por cinco capítulos. Os dois primeiros – “1: From Jews to New Christians: Religious Minorities in the Making of Spanish Naples”, e “2: Conversos in Counter-Reformation Italy” – possuem uma visão geral e de contextualização da evolução identitária e social destes grupos de origem judaica, no reino de Nápoles sob domínio espanhol. Os dois seguintes – “3 – ´El de los Catalanes´: The First Campaign against the New Christians, 1569-1582”, e “4 – The Rise of the Portuguese Merchant-Bankers, 1580-1648” – analisam outra dimensão fundamental, de uma forma mais específica, ou seja, a existência de dois grupos de origem conversa, que se estabeleceram no reino de Nápoles em momentos diferentes, sendo ambos alvo de perseguição sócio-religiosa. Trata-se de uma realidade que diferencia esta comunidade de outras, como a dos Países-Baixos, constituída maioritariamente por indivíduos de uma só origem – a Portuguesa – e recorda o que aconteceu em outras paragens orientais, por exemplo em Monastir, na actual República da Macedónia, em que judeus de origem aragonesa e portuguesa, seguidos de conversos das mesmas origens (mas que ali assumiram uma identidade judaica) se estabeleceram, mantendo a sua idiossincrasia, mesmo de forma conflituosa2. Mas, como já acentuámos, e como se denota pelo título do capítulo 3, em Nápoles lidamos com um conjunto de pessoas que não podiam assumir uma identidade judaica (os judeus foram expulsos em 1541), e portanto estamos também perante uma realidade bem diferente daquela que se vislumbra no Império Otomano3. O capítulo cinco apresenta um enfoque ainda mais específico – como que uma micro-história exemplar do dilema que caracterizou este grupo e o diferenciou como permanecendo fora da Península Ibérica e seus territórios ultramarinos – “The Inquisition against the Vaaz”.
3 Além da “Conclusion” saliente-se a publicação de um valiosíssimo apêndice documental intitulado “Documents from the 1569-1581 Campaign” (ou seja, contra os conversos de origem catalã). Trata-se da transcrição de algumas peças fundamentais de suporte, como processos inquisitoriais pertencendo ao fundo Sant´Ufficio do Archivi Storico Diocesano di Napoli, mas também cartas do fundo Stanza Storica do Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, no Vaticano. A obra assenta também num conjunto largo de fontes impressas, e de uma bibliografia especializada, quer sobre Nápoles, quer acerca dos cristãos-novos e suas rotas de negócios, e ainda acerca da actuação e evolução dos Tribunais Inquisitoriais. Saliente-se ainda a existência de um precioso Índice Geral.
4 O resultado é uma obra sólida, de documentos bem analisados e interpretados, à luz dos conhecimentos adquiridos em obras de suporte, que permitem ao autor captar a já referida especificidade da vida destas elites de origem judaica no sul da Itália.
5 É esta demonstração de uma especificidade, revelando como as elites de origem conversa agem em função do contexto que encontram, mesmo sob o domínio de uma Coroa Ibérica, o cerne de um trabalho científico conseguido. Citando o autor:
“This research joins that of a growing number of scholars who have shifted their gaze beyond the question of converse religious identity and toward an understanding of the place that they occupied in the societies of Spain and Portugal and their territories across the globe” (p. 7).
6 Salientemos as páginas em que recorda, no primeiro capítulo, as condições que explicam a oposição e mesmo a insurreição da população e das elites do reino contra a instalação de uma Inquisição segundo o modelo espanhol (revolta de Maio de 1547), porque tal afectaria os laços de convivência social e económica com os dinâmicos cristãos-novos de origem ibérica; mas também porque sentiam que a instauração desse modelo de tribunal religioso representava a intromissão de uma política espanhola centralista, que se mostraria negativa para a prossecução dos interesses tradicionais locais. O facto de, mesmo quando foram instaurados processos contra os cristãos-novos, se verificarem tensões entre os funcionários do Santo Ofício e os vice-reis, mostra que a implantação de um tribunal religioso sob o controle das autoridades napolitanas facilitou em muito a permanência destas famílias de cristãos-novos no reino, “substituindo” em outra dimensão, aquela que havia sido a necessária estadia dos judeus em Nápoles até 1541. De facto, segundo o modelo romano finalmente aprovado, o vice-rei passou a ter direito de veto, limitando por exemplo o poder do Santo Ofício no confisco da propriedade dos heréticos e seus familiares. Um dos motivos apontados para esta solidariedade entre muitos dos vice-reis e os grupos de cristãos-novos é o facto de aqueles necessitarem destes para a construção, “in loco”, de um estado moderno, ou seja, à margem do poder da aristocracia terra-tenente local.
7 Após a contextualização muito bem conseguida, no capítulo dois, da política gizada em relação aos judeus e conversos, em vários estados da Itália, no século XVI, e da forma diferenciada de operacionalidade da Inquisição Romana em relação às Hispânicas, Peter Mazur passa a analisar, nos dois capítulos seguintes, a situação social dos dois grupos de cristãos-novos estabelecidos no vice-reinado, e a reacção inquisitorial face a estes.
8 O capítulo três – ´El de los Catalanes´ – traça o devir histórico do grupo mais antigo de conversos, de origem catalã, também alvo da primeira incidência da Inquisição entre 1569 e 1582, que produziu 15 volumes de documentação e devastou por exemplo o poderoso clã dos Pellegrino, interrompendo a sua ascensão social e a sua posição nos assuntos financeiros do vice-reinado. Mas como outros clãs, como os Sanchez, raramente foram tocados, o grupo, em geral, manteve a sua actividade. Os Sanchez, por exemplo, foram mesmo elevados ao marquesado, chegando a ser governadores de cidades tão importantes como Àquila, Nola, Bari, Taranto, Cápua e outras. Um membro de outra importante família de conversos de origem catalã – Girolamo Vignes – foi mesmo chamado para lidar com as questões financeiras dos colégios jesuítas e missões estabelecidas no sul da Itália e no estrangeiro. Na verdade, como acentua Peter Mazur, a campanha inquisitorial napolitana de 1569-1582, mais que erradicar fenómenos de criptojudaísmo, afinal acelerou o processo de assimilação destes conversos na sociedade local, através de um processo de aculturação, casamentos mistos e adaptação.
9 Os vice-reis continuaram contudo a ter necessidade de auxílio nos sectores administrativo e financeiro, sobretudo face à pressão fiscal de Espanha. Foi então que outro grupo de cristãos-novos, de origem portuguesa, aliciados por esta oportunidade, e usufruindo das prerrogativas da União Dinástica de 1580, decidiram estabelecer-se também em Nápoles, desempenhando o papel que coubera agora aos assimilados catalães. É este o grupo alvo do quarto capítulo – “The Rise of the Portuguese Merchant-Bankers, 1580-1648)” – constituído por famílias como os Vaz (Vaaz ou Vaez), negociando em grão, cochinilha, lã e seda, entre outras mercadorias. A figura mais famosa desta família seria Miguel Vaz, que cerca de 1610 entrou ao serviço do vice-rei Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, administrando o reino em seu favor, como por exemplo quando controlou a alfândega de Benevento. E tal como os Catalanes, mostrou-se interessado na aquisição de propriedades, como parte essencial da sua estratégia de investimento e afirmação social. O autor também demonstra que os Vaz revelaram uma inegável lealdade para com a Coroa Espanhola, mesmo nos momentos mais conturbados de revolta da população napolitana.
10 No entanto, a princípio, este isolamento dos Vaz não lhes foi benéfico. Embora tivessem sucesso nas suas estratégias de aliança com a nobreza local, nunca conseguiram juntar-se a importantes linhagens, de forma a fazer crescer as suas propriedades e prestígio. Pelo contrário, investiram mais na endogamia – no casamento entre primos – de forma a manter intacto o seu património. E, embora tal como os catalães apostassem no “low profile” para evitar problemas, acabaram por ser alvo, devido à sua idiossincrasia, no século XVII, da pena de alguns influentes observadores da sociedade napolitana.
11 É então o momento de compreender a investida da Inquisição contra os Vaz, objecto do capítulo cinco desta obra. A situação é complicada, com a existência de dois tribunais da Inquisição – o local e o outro criado pela Congregação do Santo Ofício Romano, insatisfeita com a autonomia e registo desigual da corte episcopal. Os Vaz atraíram as atenções quando em 1616 três nobres denunciaram Duarte Vaz, conde de Mola, por práticas judaicas, contando a Inquisição com o apoio do duque de Osuna, Pedro Téllez-Girón, que via naquele um perigoso especulador, contrário a um bom governo. As confissões de Duarte e seus familiares fizeram com que se insinuasse o clássico tópico da “conspiração marrana”. Em 1661, no Santo Ofício de Roma, verificou-se a abjuração de Vaz, que foi considerado formalmente apóstata, sentenciado a cárcere perpétuo e a uma multa de 2.000 ducados. Também nessa data o vice-rei Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda, aproveitou para ordenar, em Nápoles, o confisco dos seus bens. Foi no entanto a incidência da aristocracia local em manter os seus privilégios que salvou de um destino pior os cristãos-novos portugueses. Quando o inquisidor Camillo Piazza se atreveu a prender um criado do duque de Noci teve que fugir do vice-reinado, temendo pela sua vida. E chegou mesmo a ser produzido um tratado contra as consequências dos excessos da Inquisição nas prerrogativas dos cidadãos napolitanos. A agitação dos representantes populares e da aristocracia em favor dos Vaz, para que o rei repusesse os seus direitos, devem entender-se assim mais no contexto do receio da imposição de um regime autoritário em Roma, no qual as condenações ordenadas pela Igreja serviriam para enriquecer e fortalecer excessivamente o Estado. E embora os Vaz tivessem de facto recuperado em parte as suas propriedades e títulos, o seu destino assemelhar-se-ia ao dos cristãos-novos catalães: transformaram-se numa nobreza rural, visto que não conseguiram competir com a nova geração de permissivos cobradores de impostos e de funcionários régios.
12 A conclusão assinala os principais vectores que, segundo o autor, minaram a vitalidade da rede sefardita no início do século XVIII, e termina mostrando como um dos mais poderosos sinais reveladores da plena integração destes grupos na sociedade napolitana é o facto de se tornarem indistintos da sociedade circundante.
13 Seria interessante saber se houve alguma aproximação entre os dois grupos de cristãos-novos catalães e portuguesas, mesmo depois da sua “ruralização”. Mas sem dúvida que estamos perante uma obra segura, que conjugando material vário, analisado em profundidade, permite perscrutar a idiossincrasia adaptativa destes grupos de pessoas. Enfim, de forma prosaica, leva-nos para o Il Gattopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa que, nos anos cinquenta do século XX, nos apresenta um Don Fabrizio siciliano consciente que a classe aristocrática terra-tenente – uma classe tão ambicionada pelos variados peões do prestígio e do poder – em Maio de 1860, perante o desembarque de Giuseppe Garibaldi, está inexoravelmente a perder a supremacia: só então.
Notas
1 Vide, entre outros, J.A Goris, Étude sue les colonies marchandes meridionales (Portugaises, Espagno (…)
2 Vide Jennie Lebel, Tide and Wreck. History of the Jews of Vardar Macedonia, Bergenfeld, Avotaynu, 2 (…)
3 Entre outros vide Joseph Hacker, “The Sephardim in the Ottoman Empire in the Sixteenth Century”, in (…)
José Alberto Tavim – Instituto de Investigação Científica Tropical.
Atlantic Ports and the First Globalisation, c.1857-1929 – BOSA (LH)
BOSA, Miguel Suárez (Cord.). Atlantic Ports and the First Globalisation, c.1857-1929. Cambrige Imperial and Post-Colonial Studies Series (col.): Palgrave MacMillan, 2014. pp.203. Resenha de: FERNANDES, André. Ler História, v.67, p.194-196, 2014.
1 A obra em apreço, coordenada por Miguel Suárez Bosa (Universidade de Las Palmas de Gran Canaria), propôs-se a aprofundar o conhecimento sobre a Primeira Globalização (1857-1929). Em particular sobreas transformações dos portos do Atlântico Sul, no contexto da revolução tecnológica e subsequente expansão do comércio internacional ocorrida na segunda metade do século XIX: a evolução das infra-estruturas portuárias, as características de cada porto, os tráfegos, a administração e a actividade portuária, contam-se entre os vários aspectos analisados. Para o efeito, os nove capítulos que constituem a obra seguem uma abordagem comum que, não descurando as especificidades dos diferentes espaços portuários e dos factores determinantes das suas metamorfoses, nunca perde de vista a sua compreensão no quadro de uma matriz relacional determinada (i) pela organização do sistema económico mundial, (ii) pelo desenvolvimento tecnológico e industrial, e (iii) pelos novos fluxos migratórios e de mercadorias.
2 Com uma particularidade interessante que apela à originalidade da obra. Ao invés do enfoque nos grandes portos metropolitanos, o trabalho debruça-se sobre um conjunto de portos periféricos, a saber: Casablanca (Marrocos), Dakar (Senegal) e Lagos (Nigéria), em África, a que acrescem os portos das Ilhas Canárias e o Porto Grande de S. Vicente (Cabo Verde) nas ilhas da Macaronésia; Santos (Brasil) e La Guaira (Venezuela) na América do Sul; e, o porto caribenho de Havana (Cuba).
3 No capítulo introdutório, Miguel Suárez Bosa procede à contextualização e sistematização da abordagem adoptada, ensaiando uma proposta de modelo interpretativo dos portos do Atlântico Sul, centrando-se em três dimensões analíticas, transversais aos capítulos subsequentes: as reformas portuárias e a globalização; as transformações tecnológicas; e, os modelos de gestão portuária. Sobre este último aspecto, e pela sua relevância e oportunidade, não é possível deixar de salientar a discussão em torno da adequação das classificações tradicionais de modelos de gestão portuária, assim como da dificuldade destas em captar a complexidade das situações reais. Algo que o autor questiona tendo como suporte os contributos decorrentes dos estudos de caso aprofundados no livro, que colocam em evidência, entre outros factores, o papel dos condicionalismos sociais na escolha do modelo gestão de cada porto.
4 De seguida, Luis Cabrera Armas (Universidade de La Laguna) aborda a evolução funcional dos portos das Ilhas Canárias. Começando por destacar o posicionamento geoestratégico deste território – factor impulsionador da sua constituição como nó fundamental da navegação a vapor e como importante plataforma de articulação intercontinental –, o autor analisa as grandes transformações determinadas pela necessidade de adaptação às modificações tecnológicas no transporte marítimo (com destaque para as fontes de energia, dimensão dos navios e especialização do transporte). Ainda no contexto dos portos das Ilhas da Macaronésia, Ana Prata (Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa) analisa a actividade portuária no Porto Grande de S. Vicente. Uma análise que para além de correlacionar os ciclos de desenvolvimento e declínio deste porto com a evolução do comércio de carvão, interpreta com grande rigor e detalhe as transformações na actividade portuária que estão subjacentes a este processo.
5 O Capítulo 4, redigido por Miguel Suárez Bosa e Leila Maziane (Universidade Hassan II Mohammedia/Casablanca), transporta o leitor para a África Continental, mais precisamente até ao Porto de Casablanca, aquele que se constituía à data como o principal porto de Marrocos. Neste capítulo, os autores apresentam uma análise detalhada das opções que estiveram subjacentes ao desenvolvimento desta infra-estrutura, debruçando-se ainda sobre a gestão do porto e sobre a actividade portuária, dimensão em que enfatizam, entre outros aspectos: (i) a relação com o seu hinterland, enquanto porta de entrada e de saída de mercadorias e como rótula de articulação modal entre os transportes marítimos e os transportes terrestres; e, (ii) o seu papel enquanto importante entreposto comercial. Ainda em África, Daniel Castillo Hidalgo (Universidade de Las Palmas de Gran Canaria) analisa, no Capítulo 5, o Porto de Dakar, dando particular atenção ao modelo de gestão portuária e ao processo de modernização tecnológica do porto. Abordagem semelhante é aplicada por Ayodeji Olukoju (Universidade de Lagos) ao Porto de Lagos, destacando o seu papel regional alicerçado nas relações estabelecidas com o hinterland através da laguna. Meio que facilitou o transporte de diversos produtos, tais como o óleo de palma ou a borracha.
6 Rumando ao continente americano, Francisco Suárez Viera (Universidade de Las Palmas de Gran Canaria) apresenta-nos o Porto de Havana, “the gate way of Cuba”. A análise desenvolvida pelo autor é estruturada em três partes interconexas: (i) a complexa evolução do porto, entre os finais do século XIX e o princípio do século XX; (ii) a transição e consolidação de Havana como porto de importação-exportação; e, (iii) a história da gestão do porto, com enfoque nas infra-estruturas, serviços e transportes. Mais a Sul, Catalina Banko (Universidade Central da Venezuela) analisa, no Capítulo 8, o Porto de La Guaira, dando particular destaque às mudanças ocorridas na administração portuária e à sua influência nas transformações verificadas no porto. Por fim, no Capítulo 9, Cezar Honorato (Universidade Federal Fluminense) e Luiz Cláudio Ribeiro (Universidade Federal do Espírito Santo) debruçam-se sobre as transformações nas infra-estruturas e na gestão do Porto de Santos, o grande porto de exportação de café do Brasil, aquando do seu processo de emergência e desenvolvimento, entre os finais do século XIX e as vésperas da Primeira Grande Guerra. Uma investigação que não deixa ainda de levar em linha de conta as relações estabelecidas pelo porto com o seu hinterland, suportadas pela acessibilidade ferroviária.
7 Em suma, estamos perante uma obra de grande interesse, que lança um novo olhar, que reinterpreta a partir de uma perspectiva diferenciada, as relações comerciais no Atlântico aquando da primeira globalização, focando primordialmente as transformações funcionais e a gestão portuária num conjunto de portos da periferia. Isto através de um difícil exercício que, captando em profundidade a natureza, características e especificidades de cada porto, não descora a contextualização do seu papel, do seu posicionamento e da sua actividade no quadro da matriz relacional supra enunciada (i.e. organização do sistema económico mundial, desenvolvimento tecnológico e industrial e novos fluxos migratórios e de mercadorias).
André Fernandes – IHC-FCSH/UNL
European Empires and the People: Popular responses to imperialism in France, Britain, the Netherlands, Belgium, Germany and Italy – MACKENZIE (LH)
MACKENZIE, John M. European Empires and the People: Popular responses to imperialism in France, Britain, the Netherlands, Belgium, Germany and Italy. Manchester: Manchester University Press, 2011, 242 pp. Resenha de: REIS, Célia. Ler História, n.67, p. 190-193, 2014.
1 Há várias décadas que o editor deste livro, John M. Mackenzie, se dedica a estudar as manifestações do imperialismo na vida cultural da metrópole e da identidade nacional e aqui continua nesse campo de trabalho. Se isto é, incontestavelmente, importante, este volume da série «Studies in Imperialism» (dirigida pelo mesmo) ainda se mostra mais relevante ao seguir uma linha que não é habitual: a comparação entre os casos de seis países, França, Grã-Bretanha, Holanda, Bélgica, Alemanha e Itália. Com esse fim, em Julho de 2009, MacKenzie reuniu à sua volta – em todo o sentido da palavra porque o encontro ocorreu na sua própria casa – quatro investigadores de vários países (a exceção foi apenas Giuseppe Finaldi, impossibilitado pela sua estadia na Austrália) e com eles discutiu as diversas questões que resultaram nesta obra; o trabalho continuou depois através dos novos meios de comunicação. Encontramo-nos assim perante o que o editor considerou mais uma coautoria do que uma coleção de ensaios (p. 16).
2 O resultado foi um livro cujo tema central é, como se encontra logo na introdução, a “colonização da consciência” (‘colonisation of consciousness’) e o “imperialismo internalizado” (‘internalised imperialism’), expressões que MacKenzie foi buscar às obras de Comaroff e D. A. Low (p. 1), usadas inicialmente noutros contextos mas que aqui correspondem, fundamentalmente, ao desenvolvimento da ideia imperial entre as próprias populações de cada Estado, entre os finais do século XIX e a primeira metade da centúria seguinte. Com efeito, como se assegura, o imperialismo correspondeu a um processo múltiplo, que se alargou não só às populações indígenas e colonos mas igualmente aos habitantes metropolitanos (p. 6). Assim, a leitura proporciona-nos a análise de situações diferenciadas mas que, no seu global, nos situam perante duas abordagens principais: a procura da conciliação entre os efeitos económicos do imperialismo e os seus resultados sociais, canalizando as tensões internas para outra dimensão; a apreciação das particularidades culturais e de propaganda do imperialismo, a parte com maior destaque na sucessão das páginas do livro. Ou, visto numa outra via, e considerando que a realidade é mais complexa, numa infiltração entre o social e o cultural (pp. 4-5).
3 A conjugação de todos estes elementos tem na sua base um aspeto não menos relevante: o «outro». Para além do nativo dos territórios ultramarinos, sobre quem se desenvolveram teorias raciais da diferença integradas no contexto do darwinismo social, ou do colono, o imperialismo teve como pano de fundo as relações intereuropeias. Com efeito, estava-se perante um facto transnacional, desenvolvido numa teia de relações muito diversas entre os Estados. Apesar das rivalidades, evoluíram no mesmo processo, fomentando formas e teorias comuns – «learned from and copied each other» (p. 7); mesmo os americanos e japoneses assumiram estes modelos. E, não obstante as variantes nacionais, os diversos capítulos apelam frequentemente ao uso de meios similares. Mas em relação ao «outro» cresceram também as competições, os ressentimentos e o medo, dos «inimigos» tradicionais (entre a França e a Inglaterra, por exemplo), ou dos novos, criados pelas ambições dos competidores e que foram mudando num contexto que em muito alargava as fronteiras ultramarinas.
4 Neste contexto, na obra são consideradas instituições e formas de transmissão da ideia imperial. O período sobre o qual se debruça, aliás, potencializava esta propagação: desenvolvia-se a escolarização, propagavam-se os meios de comunicação de massas, alargava-se o sufrágio, expandiam-se os mercados de consumo, surgiam novas disciplinas e técnicas, etc. As instituições culturais, políticas, religiosas, científicas, educativas, ou outras, assumiram um papel preponderante, com a criação de museus, organização de exposições, realização de cerimoniais, integração dos temas nos currículos escolares, publicação de livros das mais variadas formas, criação de heróis nacionais, difusão de imagens, monumentalização de factos e pessoas, entre outros, de que os diferentes autores vão dando conta. Entre as instituições um papel destacado é concedido às de evangelização das diferentes confissões: para além do seu conhecido e desconhecido papel na pregação e no alargamento da influência dos Estados europeus por terras ultramarinas, o destaque dá-se aqui ao seu papel na difusão do imperialismo nas metrópoles.
5 Estas questões mais gerais ganham lugar na individualidade de cada um dos Estados, considerados em cada capítulo e mostrando que houve diferentes níveis de aceitação dos factos imperiais.
6 Berny Sèbe, em «Exalting imperial grandeur: the French empire and its metropolitan public», mostra como, apesar das dificuldades metropolitanas e da importância dos valores agrários em França, se sustentou o interesse pela expansão ultramarina. Vindo já de épocas anteriores, ele converteu-se numa parte importante das ideias da III República e incrementou-se ao longo do tempo, entrando na cultura popular. Se o período entre guerras conheceu maior incremento, ganhou ainda maior dimensão durante com a II Guerra, como contraponto à fraqueza interna. O momento final do seu colonialismo foi, deste modo, o do seu paroxismo.
7 O capítulo dedicado à Grã-Bretanha, «Passion or indifference: popular imperialism in Britain, continuities and discontinuities over two centuries», é devido ao próprio John M. MacKenzie, que aqui reafirma as suas anteriores proposições sobre o imperialismo na cultura popular: apesar da contestação oferecida por alguns autores, são considerados os sinais que, de formas diversificadas, mostram o encantamento com o império. Na sua conclusão, “apesar nem sempre visível, o imperialismo popular esteve sempre presente” (p. 82) – todavia, apesar da sua expressão desde o século XVIII, foi no final de oitocentos que assumiu maior peso na cultura popular.
8 Envolvida no colonialismo desde o século XVII, ao iniciar-se o século XX a Holanda estava essencialmente ligado a dois espaços, as Índias holandesas e a África do Sul. Ao longo do capítulo três, «Songs of an imperial underdog: imperialism and popular culture in the Netherlands, 1870-1960», Vincent Kuitenbrouwer examina como a ideologia imperial se tornou parte importante no processo de desenvolvimento da afirmação da identidade nacional, ligada à modernidade – apesar da incerteza experimentada por um pequeno país com um grande império colonial (p. 118). Prossegue até aos traumas suscitados pelos efeitos da II Guerra, da descolonização e do apartheid.
9 Matthew G. Stanard escreveu «Learning to love Leopold: Belgian popular imperialism, 1830-1960» onde se dedica ao estudo da alteração de atitudes em torno da figura do rei Leopoldo II, de mal-amado a celebrado, e da relação com os belgas com as suas colónias, da indiferença ao entusiasmo. Em todo este processo, a ameaça alemã proporcionou uma mudança, que se desenvolveu pelas atividades internas, organizadas com este fim.
10 Apesar da Alemanha só ter possuído colónias entre 1884 e 1918, a ideia imperial prolongou-se no tempo, numa aspiração ao que o país deveria ter, como destacou Bernhard Gissibl em «Imagination and beyond: cultures and geographies of imperialism in Germany, 1848-1918» (p. 161). Com efeito, já anteriormente à unificação se constatava o assunto; apesar dos efeitos do Tratado de Versalhes, as fantasias imperialistas resistiram através de uma variedade de formas, almejando a satisfação de necessidades nacionais – embora não se tenham manifestado especialmente para com as colónias durante o nazismo. Porém, a ligação entre o nacionalismo e o colonialismo não foi similar em todos os grupos nem em todo o país.
11 Para concluir, no último capítulo, «’The peasants did not think of Africa’: empire and the Italian state’s pursuit of legitimacy, 1871-1945», Giuseppe Finaldi observa como a ligação entre o imperialismo e o Estado prosseguiu ao longo dos regimes que se sucederam entre a unificação e a II Guerra Mundial: o império tornou-se essencialmente a mensagem de comunicação Estado/povo, envolvendo a todos numa «cidadania comum» (p. 224), um esforço para ligar o povo com os vários regimes (p. 196). Neste sentido contradiz a frase de Levi que colocou no título, pois considera que o império se tornou, se facto, um sonho generalizado.
12 Apesar da pertinência de toda a sua análise, o livro enferma de algumas lacunas, aliás reconhecidas na própria introdução. Assim, num nível mais geral não é contemplada a descolonização. Mas se esta é uma decisão que engloba todos os países, podemos considerar que a omissão é mais grave deixando a Espanha e Portugal de fora, por razões de espaço. Se o primeiro destes Estados atravessava a sua fase de perda, já o nosso país, não obstante a sua fraqueza, era indubitavelmente um ponto central destas questões no período em causa. E a sua debilidade poderia eventualmente ser confrontada com a posição que Kuitenbrouwer apontou para a Holanda, a de uma pequena nação descobrir o seu lugar como detentora de um vasto império. No nosso caso interno lamentamos também a exclusão de Portugal porque proporcionaria uma conjugação de elementos que já se começaram a fazer e o incentivo ao seu prosseguimento. Esperamos pois que, como John MacKenzie escreveu, haja outra possibilidade de superar essa falta.
13 No contexto europeu seria igualmente de considerar outras possibilidades de alargamento desta análise. Por exemplo, como é que o imperialismo se refletiu na cultura de países que não estiveram diretamente envolvidos mas certamente experimentaram nele as suas consequências. Alguns teriam, provavelmente, uma relação mais intensa devido ao seu passado, como sucedeu com a Dinamarca. O estudo destes fenómenos contribuiria, sem dúvida, para um melhor conhecimento das dinâmicas europeias. E, apesar do imperialismo ter assumido mais destaque no Velho Continente, seria igualmente desejável compreender o mesmo fenómeno para outras potências que foram adquirindo espaço, os Estados Unidos da América e o Japão.
14 Não obstante estas questões, estamos perante uma obra de grande pertinência, levantando questões variadas e linhas de trabalho muito sugestivas, que se espera que venham a frutificar.
Célia Reis – IHC-FCSH/UNL.
Frontera y guerra civil española: dominación,resistencia y usos de la memoria – SIMÕES (LH)
SIMÕES, Dulce. Frontera y guerra civil española: dominación,resistencia y usos de la memoria. Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, 2013, 400 pp. Resenha de: ROVISCO, Eduarda. Ler História, n. 67, p.196-199, 2014.
1 Resultante de uma tese de doutoramento em antropologia orientada por Paula Godinho e José María Valcuende del Río, este livro focado em Barrancos enquanto vértice do ângulo transfronteiriço formado com Oliva de la Frontera e Encinasola constitui uma minuciosa etnografia retrospetiva sobre os acontecimentos relativos à concentração e repatriamento de refugiados espanhóis em Barrancos em 1936, entretecida com uma análise sobre dominação e resistência nos campos raianos do sul durante as primeiras décadas das ditaduras ibéricas.
2 Dividido em seis capítulos, este é um livro que – tomando de empréstimo a expressão proferida por Afonso Cruz a propósito do primeiro romance de Ana Margarida de Carvalho – segue a rota do parafuso de pisão de Heráclito, enquanto síntese da reta e da curva, furando a direito e prendendo o leitor num movimento giratório ao longo de quatro capítulos em direção ao seu núcleo: o acontecimento descrito no capítulo quinto.
3 Nos primeiros dois capítulos dedicados à guerra civil espanhola e à fronteira, o leitor é introduzido no diálogo entre a história e a antropologia, nos movimentos sociais pela memória, e nos contextos sociais e históricos da fronteira e das povoações que compõem este triângulo. Nos dois capítulos seguintes, Dulce Simões procede a um segundo nível de contextualização do acontecimento colocando as peças sobre o lado português deste tabuleiro: ricos, pobres e representantes do Estado na fronteira de Barrancos. Os conceitos de hegemonia de Gramsci e de resistência de James C. Scott emergem aqui como eficaz matriz teórica que sustenta a análise.
4 Na abertura do terceiro capítulo, o leitor torna-se refém da brilhante narrativa de Dulce Simões ao ser colocado na praça central de Barrancos, entre os sócios da Sociedade União Barranquense (Sociedade dos Ricos) e da Sociedade Recreativa e Artística Barranquense (Sociedade dos Pobres), sentados frente a frente. A partir desta imagem da estratificação social, a autora inicia uma descrição contrastada do “sumptuoso” campo onde Juan de Bourbon ia caçar a convite da oligarquia agrária barranquenha, com a miséria dos trabalhadores rurais (assistida pelas sopas deslavadas da União de Caridade das Senhoras de Barrancos) e as suas práticas de resistência quotidiana que evitavam o conflito aberto.
5 No capítulo seguinte são explanados tópicos relativos ao papel do conflito espanhol como detonador do modelo fascizante do Estado Novo, ao apoio prestado por Portugal às forças nacionalistas e às estratégias cénicas do posicionamento de Salazar na arena internacional que auxiliam a compreensão do caracter singular do repatriamento para Tarragona dos refugiados republicanos acoitados em Barrancos. Este segundo nível de contextualização é encerrado com uma caracterização das forças de prevenção e vigilância contra a “ameaça roja” na fronteira de Barrancos. Esta vigilância foi intensificada após o golpe militar, passando a integrar o exército, a Guarda Fiscal, a GNR e a PVDE, sendo tecnicamente dirigida pelo Tenente António Augusto Seixas, então comandante da Secção da Guarda Fiscal de Safara.
6 O terror do plano de extermínio posto em prática pelas forças nacionalistas – colocando milhares de pessoas em fuga, muitas das quais para Portugal – descerra a descrição dos dois fluxos de refugiados para Barrancos. O primeiro fluxo, proveniente de Encinasola, ocorreu na segunda semana de Agosto de 1936 e integrou várias famílias apoiantes do golpe militar. Este movimento foi iniciado devido ao receio de que a coluna composta por mineiros de Riotinto e milicianos de Rosal de la Frontera (que havia já participado no assalto ao quartel da Guardia Civil de Aroche) se dirigisse para Encinasola. O segundo fluxo, procedente de Oliva da la Frontera (onde se concentravam milhares de refugiados das províncias de Badajoz e Huelva), derivou da tomada de Oliva pelos nacionalistas a 21 de Setembro de 1936, sendo composto maioritariamente por republicanos. Possuindo sinais político-ideológicos contrários, estes dois fluxos despoletaram formas de acolhimento diferenciadas. Enquanto os refugiados de Encinasola foram acolhidos pelas autoridades locais barranquenhas e alojados em casas da vila, os refugiados republicanos de Oliva viram-se confinados às margens da fronteira (nas herdades da Coitadinha e das Russianas) numa espécie de “quarentena social” contra o contágio ideológico, enfrentando a escassez de alimentos, a ausência de abrigos e “a incerteza sobre o seu destino” (p. 276).
7 Centrando-se nos refugiados pertencentes ao segundo fluxo, a autora relata a vida nos campos, o conjunto de ações das forças de vigilância, as manobras de resistência do Tenente Seixas assentes na manipulação de ordens recebidas e na ocultação do grupo reunido nas Russianas (que lhe valeu a condenação a dois meses de inatividade e à reforma compulsiva, sendo reintegrado em 1938, após ter recorrido da sentença), bem como as operações logísticas de repatriação para Tarragona dos 1.020 refugiados em Barrancos, muitos dos quais viriam a integrar as frentes de combate ou a partir para o exílio.
8 O sexto e último capítulo comporta uma análise do pós-guerra focada no terror enquanto “elemento estruturante do franquismo” (p. 314) e no contrabando como “principal atividade económica durante o pós-guerra” (p. 348), explicitada através da história de vida de Fermín Velázquez, um dos refugiados de Oliva acolhidos na Coitadinha. Durante a primeira década do pós-guerra, a vida deste carabineiro que havia jurado ser fiel à república desenrolou-se entre a sucessão de prisões e a clandestinidade em Portugal, comprovando que nestes anos a “mera existência se converteu numa experiência ameaçadora” (p. 338). Voltando a Oliva de la Frontera em 1948, Fermín Velázquez, como tantos outros republicanos, passa a dedicar-se ao contrabando aqui entendido como “arma dos fracos” e parte integrante da memória da guerra na fronteira.
9 Desta investigação de Dulce Simões havíamos já colhido importantes resultados, de que são exemplo a obra Barrancos na encruzilhada da Guerra Civil de Espanha. Memórias e Testemunhos (publicada em 2007 em Portugal e em 2008 em Espanha) ou o documentário “Los refugiados de Barrancos” produzido pela Asociacíon Cultural Mórrimer (em que participou como consultora) e que foram vitais na divulgação destes acontecimentos. Estes resultados, difundidos no decurso da investigação em ações enquadradas pela Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, contribuíram para a atribuição da Medalha da Extremadura ao povo de Barrancos em 2009 como reconhecimento pela sua solidariedade no acolhimento de refugiados, bem como para a edificação de um memorial em Oliva de la Frontera em 2010. Neste sentido, deve também ser referido que estes reflexos da investigação merecem a atenção da antropóloga que se desdobra num duplo movimento analítico assente no exame do acontecimento e do seu reflexo, sobretudo no que concerne às recentes formulações de Barrancos como “comunidade solidária”.
10 Marcante contribuição para a história da guerra civil de Espanha na raia luso-espanhola e para o estudo das fronteiras ibéricas, este livro inserido nas “lutas pela memória” constitui também uma inspiradora arma para as “lutas pelo futuro” que hoje se travam na Península Ibérica.
Eduarda Rovisco – ISCTE-IUL, Centro em Rede de Investigação em Antropologia.
A Guerra que acabou com a Paz. Como a Europa trocou a Paz pela Primeira Guerra Mundial – MACMILLAN (LH)
MACMILLAN, Margaret. A Guerra que acabou com a Paz. Como a Europa trocou a Paz pela Primeira Guerra Mundial. Lisboa: Temas e Debates/Círculo de Leitores, Fevereiro de 2014. Resenha de: PIRES, Ana Paula. Ler História, v.66, p. 169-174, 2014.
1 A crise de Julho de 1914 e as origens da Primeira Guerra Mundial têm sido debatidas de forma exaustiva e continuada desde os primeiros dias de Agosto de 1914, quando a Guerra eclodiu no continente europeu. Apesar deste tema ser um clássico da historiografia dos conflitos militares – em 1991 o historiador norte-americano John Landgon identificou 25 000 livros publicados só em língua inglesa sobre as origens da Grande Guerra1– a verdade é que, como tem sido visível, neste início de centenário, através do enorme fluxo de publicações sobre o tema, as questões políticas, económicas, sociais e diplomáticas em torno das consequências do assassínio, em Sarajevo, do herdeiro do trono da Áustria-Hungria, a 28 de Junho de 1914, continuam a ser um campo vasto de investigação e análise. Contudo, mais do que procurar identificar os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, estudos recentes, tanto de historiadores como de politólogos, têm sublinhado a polarização da Europa durante o período da belle époque e os impactos resultantes da divisão do continente em dois sistemas de alianças (a tríplice entente e a entente cordiale) no desenvolvimento e consolidação de diversas teorias internacionais de conflito2. Os recentes debates teóricos em torno das origens da Grande Guerra, tanto no âmbito da historiografia, como das relações internacionais, têm concentrado a sua atenção em torno de questões centrais para o estudo das origens do primeiro conflito mundial, nomeadamente o papel dos homens; diplomatas, políticos e militares, que tiveram nas suas mãos a decisão da entrada da Europa em guerra.
2 Foi em torno destes homens, da sua personalidade, ambições e ligações familiares que a historiadora canadiana Margaret MacMillan centrou o seu mais recente e sugestivo livro A Guerra que acabou com a Paz. Como a Europa trocou a Paz pela Primeira Guerra Mundial. MacMillan uma professora de história da Universidade de Oxford – cujas principais áreas de investigação são a história das relações internacionais e o imperialismo britânico entre o final do século XIX e o início do século XX – é bisneta de um desses protagonistas, David Lloyd George, primeiro-ministro britânico entre 7 de Dezembro de 1916 e 22 de Outubro de 1922. Num esforço hercúleo e ao longo de mais de 800 páginas, MacMillan identificou e analisou, a partir da acção de políticos e diplomatas, mais ou menos conhecidos, as ambições das principais potências europeias da época concluindo que, e esta é a sua tese principal, apesar da Grande Guerra ter sido fruto de escolhas individuais, os homens que conduziram a Europa ao confronto, líderes fracos e atormentados, acabaram por desempenhar um papel menor em todo este processo complexo, ainda que, segundo o argumento de MacMillian, nenhum dos líderes europeus tivesse tido coragem, força, ou vontade suficientes para contrariar os argumentos dos que consideravam inevitável a eclosão de uma guerra no continente.
3 Recorde-se, de resto, que em Portugal o primeiro-ministro Afonso Costa, tinha defendido, em Maio de 1913, quase no final da primeira guerra balcânica, a necessidade do nosso País definir com brevidade a sua atitu-
de num cenário eminente de eclosão de uma guerra na Europa, a Repú-
blica tinha, segundo Afonso Costa, «(…) obrigação de, lançando os olhos para o mapa da Europa, ver qual é a sua situação e preparar-se para a sustentar (…)»3.
4 Ao analisar a tomada de posição da Rússia no desenrolar da crise de Julho de 1914, MacMillan revela-nos, precisamente, os contornos sinuosos da diplomacia russa, e descreve o papel extremamente importante desempenhado pelo círculo mais próximo de Nicolau II, na tomada de posição do País, destacando, em particular, a influência do ministro dos Negócios Estrangeiros Sergei Sazonov, acérrimo defensor da ideia de que a missão histórica da Rússia era proteger as nações balcânicas. Há semelhança do que Sean McMeekin4 havia já defendido Sergei Sazanov foi um dos homens que, com o apoio da França, mais teria contribuído para a transformação de um conflito regional num confronto continental. A autora não hesita ainda em rejeitar o argumento tradicional que atribuiu a Guilherme II a principal responsabilidade pela eclosão da guerra, afirmando, logo nas páginas iniciais do livro, que a conflagração nunca foi inevitável: «A Europa não tinha de entrar em Guerra em 1914; teria sido possível impedir uma Guerra generalizada até ao último minuto do dia 4 de Agosto em que os britânicos decidiram finalmente participar nela»5. Milhões de pessoas não teriam que ter morrido durante a I Guerra Mundial, e o velho continente e o Mundo, defende MacMillan, teriam evitado a ruína e o sofrimento. A autora acaba ainda por não atribuir a Alfred von Schlieffen a responsabilidade pela estratégia militar ofensiva prosseguida pela Alemanha, no entanto, seguindo uma linha de raciocínio bastante próxima da tese de Fritz Fischer, defende que os alemães adoptaram uma posição de agressividade, a que as potências da entente cordiale reagiram6.
5 O volume encontra-se dividido em vinte capítulos, redigidos unicamente com base em fontes secundárias, cada um dedicado à analise de um momento específico do percurso que levou a Europa da guerra à paz. O próprio título escolhido por MacMillan para o livro deixa, desde logo, subentendido que a Europa era um continente extraordinariamente pacífico antes da harmonia do sistema internacional ter sido quebrada em 1914. Em 1900, ano escolhido para abrir o volume, coincidente com a Exposição Universal de Paris e com as segundas olimpíadas da idade moderna, não existia uma guerra que envolvesse as principais potências europeias há 85 anos. Uma das principais qualidades da obra é, sem dúvida, a forma como MacMillan consegue transportar o leitor para uma Europa efervescente e em plena transformação cultural, científica, política e económica, reconstruindo de forma detalhada a atmosfera de confiança relativamente ao futuro que contaminava um continente «(…) habituado à paz(…)»7.
6 A leitura dos primeiros capítulos do livro descreve-nos um mundo interconectado, assente numa economia global única apoiada numa rede cada vez mais densa de circulação de pessoas, capitais e mercadorias, realidade visível, aliás, num movimento de interdependência contínua, e crescente, entre países desenvolvidos e o mundo subdesenvolvido8. É neste contexto que importa perceber as posições anti-guerra da city londrina e a postura britânica que, no início do século, defendia que a única forma de evitar um colapso total no crédito europeu era, num cenário de guerra na Europa, a Grã-Bretanha optar pela neutralidade. Recorde-se que desde 1890 todas as potências europeias, os Estados Unidos da América e o Japão, partilhavam a mesma unidade monetária internacional: o padrão-ouro, o que acabou por determinar que as transacções fossem calculadas com base em moedas de valor praticamente imutável. A rede de transacções de bens e pessoas estendera-se trazendo para o centro da economia-mundo espaços remotos e periféricos (segundo MacMillan o crescimento exponencial da marinha alemã foi o principal responsável pelo envenenamento das relações entre germânicos e britânicos). As exportações europeias quadruplicaram entre 1848 e 1875, a navegação mercante mundial passou, entre 1840 e 1870, de 10 para 16 milhões de toneladas, e a rede de caminhos-de-ferro, cresceu de 200 000 quilómetros, em 1870, para cerca de 1 milhão pouco antes da Primeira Guerra Mundial.
7 É a este Mundo que a eclosão da Grande Guerra em Agosto de 1914 vem colocar um ponto final. A síntese de MacMillan não coloca, no entanto, como vimos, a Europa no rumo da guerra (a historiadora canadiana descreve de forma clara quais as consequências das crises, sucessivas, que abalaram o continente durante os anos finais da «Belle Époque»: a primeira crise marroquina de 1905-06, a anexação da Bósnia em 1908, a crise de Agadir de 1911 e as duas guerras balcânicas de 1912 e 1913) defendendo que a Europa em 1914 era um continente em paz, cujos líderes, políticos e diplomatas, apesar de crises e tensões sucessivas, tinham sempre conseguido evitar uma guerra generalizada: «Durante as crises anteriores, algumas delas tão graves como a de 1914, a Europa não ultrapassara certos limites (…)»9. A questão a que MacMillan procura responder ao longo do livro, é porque é que esse equilíbrio tradicional de poderes não funcionou no Verão de 1914, arrastando a Europa e o Mundo para um conflito de dimensões sem precedentes, elencando várias possíveis causas: uma Rússia ferida pelos revezes que tinha sofrido nos Balcãs e pela derrota sofrida em 1904-05 na guerra com o Japão; uma Alemanha ávida por construir um império e por ver a sua posição de potência emergente consolidada no continente e, olhando para a Europa do Sul e para o Mediterrâneo, uma Itália que desejava ascender ao estatuto de grande potência.
8 A 23 de Julho, após a garantia dada por Guilherme II de que, em caso de guerra, a Alemanha alinharia ao lado do Império Austro-Húngaro, Viena dirigiu um ultimato à Sérvia. Nos primeiros dias de Agosto, cinco das principais potências europeias (Grã-Bretanha, França, Rússia, Áustria-Hungria e Alemanha) estavam já em guerra; apenas a Itália conseguira permanecer neutral. Um conflito secundário, situado nos Balcãs transformara-se numa guerra europeia, cujas repercussões se fariam sentir no extremo oposto do Continente. Neste jogo de destruição e morte não havia lugar para empates: travava-se uma «(…) guerra que só poderia ser totalmente ganha ou totalmente perdida»10. Não deixa de ser irónico, no entanto, como Margaret MacMillan demonstra, ter sido o assassinato do arquiduque Francisco Fernando, que em conflitos anteriores na região dos Balcãs tinha intervindo a favor da paz detendo a impetuosidade do chefe das forças armadas austro-húngaras Conrad von Hotzendorf, o principal detonador da grande guerra. A morte de Francisco Fernando retira de cena, segundo a autora, um dos principais advogados da paz do império austro-húngaro.
9 O livro de MacMillan não nos fornece uma explicação nova quanto às causas que estiveram por trás da eclosão da Grande Guerra, contudo o que a historiadora canadiana faz, magistralmente, é descrever o drama humano que conduziu à primeira guerra mundial, numa escrita que coloca, muitas vezes, frente a frente, o ano de 1914 e a nova realidade geo-política actual, relembrando ao leitor os perigos inerentes ao desenvolvimento do nacionalismo, numa narrativa em que fica claro que tanto no século XXI como em 1914, o Mundo transporta em si o potencial para reavivar a violência à escala global, mas onde, tal como há cem anos, a guerra continua a não ser inevitável, ainda que a inevitabilidade se continue a afigurar, muitas vezes, como uma das suas principais causas.
Notas
1 Cf. Christopher Clark, «The First Calamity» in London Review of Books, Vol. 35, n.º 16, 29 August 2 (…)
2 Jack Levy e John A. Vasquez, «Historians, political scientists, and the causes of the First World W (…)
3 Diário da Câmara dos Deputados, 86.ª Sessão Ordinária do 3.º Período da 1.ª Legislatura, de 1 de Ma (…)
4 Sean McMeekin, The Russian origins of the First World War, s/l, Belknap Press, Dezembro de 2011.
5 Ver, Margaret MacMillan, A Guerra que acabou com a Paz. Como a Europa trocou a Paz pela Primeira Gu (…)
6 Fritz Fischer, Germany’s Aims in the First World War, s/l, W.W. Norton & Company, 2007.
7 Margaret MacMillan, A Guerra que acabou com a Paz…, p. 24.
8 Veja-se David Stevenson, 1914-1918. The History of the First World War, London, Penguin Books, 2004 (…)
9 Cf. Margaret MacMillan, A Guerra que acabou com a Paz. Como a Europa trocou a Paz…, p. 24.
10 Expressões utilizadas por Eric Hobsbawm. Cf. Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos – História Breve do (…)
Ana Paula Pires – IHC-FCSH-UNL.
The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 – CLARK (LH)
CLARK, Christopher M. The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914. London: Penguin Books, 2013. Resenha de: ASSIS, Jóse Luiz. Ler História, n.66, p.161-169, 2014.
1 Christopher Munro «Chris» Clark é um historiador australiano que estudou na Grammar School na University of Sydney e na Freie Universität Berlin. Desenvolve a sua carreira académica em Inglaterra como professor de História Moderna da Europa na Faculty of History, St. Catherine’s College na University of Cambridge. Os seus interesses estão direcionados para o estudo da História da Alemanha e da Europa Continental. No seu primeiro trabalho The politics of conversion: missionary Protestantism and the Jews in Prussia, 1728-1941. Oxford: University Press, que compreende o estudo de, sensivelmente, dois séculos de atividade protestante, analisa os aspectos teológico, social e racial na relação entre a maioria da população cristã e a minoria judaica na Prússia Oriental. Desde então, publicou vários artigos e ensaios sobre temas relacionados com a religião, a política e a cultura e livros dos quais destacamos: Kaiser Wilhelm II. Harlow, England & New York: Longman; Culture Wars: secular-Catholic conflict in nineteenth-century Europe. Cambridge UK & New York: Cambridge University Press; Iron kingdom: the rise and downfall of Prussia, 1600-1947. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
2 Christopher Clark, neste seu trabalho, apresenta-nos um novo olhar sobre as origens da Primeira Grande Guerra Mundial. Afasta-se do estudo das grandes batalhas e dos danos provocados pela guerra que de certo modo têm caracterizado a historiografia (Gilbert: 2013) e centra-se nos factos e nas relações políticas e diplomáticas complexas que levaram os diferentes líderes europeus ao conflito. Com um carácter marcadamente científico, mas também didático, o docente e investigador da Faculty of History da University of Cambridge sintetiza de forma pragmática, mas extremamente esclarecedora, a produção científica da sua investigação sobre as origens da Guerra realizada nos arquivos das principais potências envolvidas (Clark, 2013, p. XXVIII). A partir da narrativa dos factos e dos cortes de relação entre os principais centros de decisão política localizados em Viena, Berlim, São Petersburgo, Paris, Londres e Belgrado, recria o itinerário que levou as nações à guerra (Ibid.). Faz uma análise das décadas de história que antecederam os acontecimentos de 1914 e pormenoriza as incompreensões entre os diferentes líderes europeus que em pouco mais de um mês atiraram a Europa para uma situação de conflito (Ibid.). Percebe-se a necessidade do autor em dividir o seu livro em três partes estruturantes. Na parte I – Caminhos para Sarajevo compreende os pontos 1 e 2, Fantasmas Sérvios e Império sem Qualidades, focaliza-se no estudo dos dois antagonistas, a Sérvia e a Áustria-Hungria, seguindo pormenorizadamente a sua interação até às vésperas do assassinato de Sarajevo (Id., 2013, pp. 3-99). Na parte II – Um continente dividido compreende os pontos 3. Polarização da Europa, 1887-1907, 4. As muitas vozes da política externa europeia, 5. Envolvimentos Balkan, 6. Última oportunidade: desanuviamento e perigo, 1912-1914. Nesta parte afasta-se da abordagem narrativa dos acontecimentos para procurar responder a quatro questões em cada um dos quatro pontos: como ocorreu a polarização da Europa em blocos opostos? Como é que os Balcãs, uma região periférica afastada dos centros de poder e da riqueza da Europa, deram lugar a uma crise de enorme grandeza? E, por fim, como é que o sistema internacional, que parecia estar numa era de détente proporcionou uma guerra geral entre as nações? (Id., 2013, pp. 121-361). Na parte III – Crises, compreende os pontos 7. Assassinato em Sarajevo, 8. O alargamento do círculo, 9. Os franceses em São Petersburgo, 10. O Ultimato, 11. Tiros de aviso, 12. Últimos dias. Esta parte começa com os assassinatos do arquiduque Francisco Fernando (1863-1914) e de sua mulher Sofia Shotek (1868-1914) em Sarajevo e apresenta uma narrativa da crise de julho de 1914. Examina as interações entre os centros políticos, referenciando as decisões que proporcionaram o evoluir da crise (Id., 2013, pp. 367-562). É um argumento central deste livro que os acontecimentos de julho de 1914 só fazem sentido quando analisados a partir das medidas dos principais decisores. Nesse sentido, o autor mais do que simplesmente rever as consequências da crise internacional que antecedeu o início da guerra, procurou entender como é que esses eventos foram produzidos em narrativas que estruturaram as percepções e motivaram os diferentes comportamentos e reconstrói as posições ocupadas pelos principais atores durante o Verão de 1914 (Id., 2013, p. XXIX).
3 Sobre as origens da Guerra, Clark começa por afirmar que os in-
vestigadores devem ter em atenção as interações multilaterais entre as cin-
co grandes nações (a Alemanha, a Áustria-Hungria, a França, a Rússia e a Grã-Bretanha) e a Itália e outros atores soberanos estrategicamente importantes como o Império Otomano e os Estados da Península Balcânica, região de grande tensão e instabilidade política nos anos que precederam a guerra (Id., 2013, p. XXIV). Esta perspectiva é também considerada por MacMillan (2014, pp. 541, 573-612) no seu recente estudo A Guerra que Acabou com a Paz. Contudo, Gilbert (2013) no seu trabalho a Primeira Grande Guerra, afasta-se desta ótica e concentra-se especificamente nos paradigmas da guerra.
4 Clark (2013, p. XXIV) alerta para outro aspecto que considera importante: o facto de as políticas dos Estados envolvidos não serem totalmente transparentes. As estruturas de soberania que criaram e implementaram as políticas durante a crise estavam extremamente desunidas o que criou incertezas quanto à localização do poder que moldava a política dentro dos executivos (Ibid.). As políticas não vinham diretamente do topo do sistema político, podiam emanar de pontos periféricos: do aparelho diplomático, da hierarquia militar, de funcionários ministeriais e de embaixadores que muitas vezes eram os decisores políticos (Ibid.). Neste contexto, também MacMillan (2014, p. 23) alerta para os aspetos relacionados com as forças, as ideias, os preconceitos, as instituições, os conflitos e, obviamente, os atores políticos que tinham o poder de decisão de desencadear ou de parar a guerra. Clark (2013, p. XXIV) anota a sua preocupação com as fontes existentes na medida em que em consequência da sua natureza ajudam a explicar a diversidade de estudos e interpretações sobre as origens da Guerra. Realça que as publicações documentais europeias alemãs, austríacas, francesas, inglesas e soviéticas, além do seu inegável valor histórico para a compreensão dos acontecimentos que levaram à guerra, contêm omissões tendenciosas que criaram uma imagem desequilibrada do papel de cada nação nos acontecimentos do prelúdio da Guerra (Id., 2013, p. XXI). Do mesmo modo, as «memórias» de estadistas, de militares e de outros decisores, embora indispensáveis, também são problemáticas (Ibid.). Algumas são mesmo duvidosas em questões importantes. Clark dá-nos como exemplo: as reflexões sobre a Guerra publicadas em 1919 pelo chanceler alemão Theobald von Bethmann Hollweg (1856-1921) pouco referem sobre os assuntos em que ele e os seus colegas estiveram envolvidos durante a crise de julho de 1914; as «memórias» políticas do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Dmitrievich Sazonov (1860-1927), são intermitentemente falsas, pomposas e desprovidas de informação sobre a sua ação nos assuntos mais sensíveis; as «memórias» do presidente Raymond Poincaré (1860-1934) publicadas em dez volumes são propagandísticas e encerram discrepâncias entre o recordar dos acontecimentos durante a crise e os apontamentos no seu diário; as «memórias» do British Foreign secretary Sir Edward Grey (1862-1933) são vagas sobre a delicada questão dos compromissos que tinha assumido com as potências da Entente antes de agosto de 1914 e o papel desempenhado durante a crise (Id., 2013,
p. XXII). Muito permanece desconhecido acerca dos contactos entre Viena e Berlim quanto às medidas a tomar em resposta aos assassinatos de Sarajevo. As atas da reunião realizada em junho de 1914 em São Petersburgo entre os líderes políticos franceses e russos, que são da maior importância para se compreender esse momento, nunca foram descobertas e os responsáveis diplomáticos franceses não encontraram a versão francesa (Id. 2013, p. XXIV). Esta documentação sobre as origens da Grande Guerra consultada e divulgada por Christopher Clark representa um incomensurável acervo colocado à disposição dos investigadores para apoio à elaboração dos seus estudos.
5 Clark (2013, p. 3) deu início à sua obra sobre as causas da origem da Primeira Grande Guerra Mundial com o assassinato de Alexandre I (1876-
-1903) rei da Sérvia e da rainha Draga (1864-1903) em Março de 1903 pela rede terrorista secreta «Mão Negra» que anos depois, em Sarajevo, capital da província Austro-Húngara da Bósnia e Herzegovina, estaria envolvida no assassínio do arquiduque Francisco Fernando (1863-1914) a 28 de junho de 1914, o que daria origem ao conflito militar mais sangrento da Europa.
6 Na primeira parte do livro delineia os contornos do sistema internacional, em que a Europa em 1913 parecia estar a entrar num período de détente (Id. 2013, pp. 3-118). Partes da história são familiares: a Aliança Germano-Austríaca (1879); a Aliança Franco-Russa (1894-1917); a Entente Cordiale entre a França e a Grã-Bretanha (1904); e o mais dramático de tudo a Entente Anglo-Russa ou Convenção Anglo-Russa (1907) entre os antigos adversários, a Grã-Bretanha e Rússia. De forma brilhante coloca o conflito no contexto da época, mostrando como nos momentos que precederam 1914 a Europa estava numa situação instável e dilacerada por fações étnicas e nacionalistas (Id., 2013, p. XXVI). Esta ideia de uma Europa despedaçada está presente em estudos realizados por Gilbert (2013, pp. 29-49) e MacMillan (2014, p. 22).
7 Devemos ter presente que recentemente, os estudiosos das origens da Grande Guerra acreditavam que a questão da destruição de séculos de progresso técnico e científico na Guerra de 1914-1918 estava resolvida com a opinião de que a Alemanha teria avançado para o conflito temendo o crescente poder Russo (Stone: 2011, 30). Esta corrente germanocentrica começou a perder sentido com os estudos que têm vindo a ser publicados, nomeadamente por Clark nesta sua obra onde é restabelecida a importância dos Balcãs num conflito militar que teve o seu início a 28 de Março de 1914 com o assassinato em Sarajevo. O autor, além de outros pontos, descreve o crescimento do antagonismo entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, passando pela anexação da Bósnia-Hersegovina em 1908 e as Guerras Balcânicas de 1912-1913 em que a Sérvia conseguiu aumentar a sua área territorial. Faz uma descrição da diplomacia europeia como se de uma peça de teatro do dramaturgo Harold Pinter se tratasse na qual todas as personagens se conhecem muito bem umas às outras, mas não se estimam (McMeckin, 2014, p. 4). Estabelece o seu ponto de vista numa discussão «hipertrófica de masculinidade» em que os intérpretes são todos homens, contrariamente ao que acontecera anos antes em que predominavam as mulheres de Estado (Idid.). Laqueur (2014, pp. 11-16) acha a discussão de Clark em torno da «crise de masculinidade» pouco convincente porque é muito difícil de afirmar se Bismark era mais seguro na sua masculinidade do que von Moltke. Contudo, os problemas com a «masculinidade» têm estado no centro das guerras desde o século XII a.C. (Id., 2014, p. 8). Parece-nos fazer mais sentido o argumento levantado por MacMillan (2014, pp. 22, 26-27) relacionado com as exigências impostas pela honra e pela virilidade que implicavam não recuar nem demonstrar sinais de fraqueza, ou o darwinismo social que classificava as sociedades humanas como se fossem espécies e promovia a fé não só na evolução e no progresso, mas também na inevitabilidade da luta. Devemos estar conscientes que se estava na presença de uma sociedade bélica, guerreira que aparentemente não é relevada pelo autor.
8 No entender de Clark (2013, p. XVI) a crise de julho de 1914 e o assassinato em Sarajevo são tratados em muitos estudos como um mero pretexto – uma ocorrência com pouca influência sobre as forças que originaram o conflito. Esta ideia tem vindo a ser alterada, nomeadamente com o estudo de MacMillan (2014, pp. 663-697) que lhe atribui especial importância. Trabalhos recentes mostram que não foram os acontecimentos em si mesmos que levaram à guerra, mas o uso que foi feito desse acontecimento (assassinato em Sarajevo) é que levou as nações ao confronto militar (Richar & Holguer: 2004, p. 46). MacMillan, (2014, p. 672) entende que o assassinato de Sarajevo foi o momento oportuno para a Áustria-Hungria resolver a questão dos eslavos do sul, o que significava a destruição da Sérvia e o primeiro momento para a afirmação do domínio Austro-Húngaro nos Balcãs. Clark, (2013, p. XVI) procurou compreender a crise de julho de 1914 como um evento contemporâneo, no seu dizer o mais complexo dos tempos contemporâneos e talvez de todos os tempos. Está mais interessado em compreender como é que a guerra aconteceu do que saber a razão do seu surgimento. Essa visão levou o autor a abordar o acontecimento em duas vertentes distintas. As questões de «como» e «porquê», embora inseparáveis, levam-nos em diferentes direções. A questão do «como» levou o autor a dirigir a sua atenção para a sequência das interações que produziram determinados resultados. A questão do «porquê» dirige-nos para as causas remotas – o imperialismo, o nacionalismo, o armamento, as alianças, a alta finança, as ideias de honra nacional, a mecânica de mobilização. Laqueur (2014, pp. 11-16) também partilha da ideia de que a guerra teve grandes causas: a crise do imperialismo; o nacionalismo em finais do século XIX; a corrida ao armamento; o sistema de alianças; as políticas internas de esquerda e direita; e como referiu o professor Arno Mayer as grandes pressões que começaram a varrer os velhos regimes da Europa em 1789 e finalmente o conseguiram em 1918 (p. 4). Também a historiadora MacMillan (2014, p. 22) aponta nesse sentido.
9 Na análise de Clark, (2013, p. XXV) complexa, brilhante e esclarecedora, podemos ver debatida a ideia de se atribuir a culpabilidade da tragédia apenas a uma nação – a Alemanha. A este respeito importa salientar que também a historiadora MacMillan (2014, pp. 32-33) levanta a questão da culpabilidade da guerra, uma guerra, em que os diferentes Estados proclamavam a sua inocência e apontavam o dedo uns aos outros. Stone (2011, p. 30) por seu lado, indica dois aspectos que poderão tê-la precipitado: a construção da marinha alemã (perfeitamente desnecessária) cujo propósito era atacar a Grã-Bretanha e os militares alemães que queriam claramente uma Guerra, sendo surpreendidos depois no dia 31 de julho pela mobilização geral de São Petersburgo. Clark analisa e evidencia a ação dos diferentes atores em termos de carácter, influência política interna e externa e também de percepção geopolítica. Coloca a ação humana com todas as suas fraquezas, equívocos, falta de lógica e emoções na narrativa dos acontecimentos. Recria as diferentes alianças e crises que antecederam o assassinato do arquiduque Francisco Fernando para depois destacar o elemento humano cujos erros originados pelas más decisões levaram ao detonar da catástrofe mundial.
10 A mestria das últimas duzentas páginas de Os Sonâmbulos está na autoridade científica com que o autor nos elucida de como o desastre aconteceu. Releva que a 6 de julho a Alemanha parecia falar a uma só voz em resposta às súplicas austro-húngaras que o Kaiser Guilherme II e o seu chanceler Theobald von Bethmann-Hollweg (1856-1921) prometeram apoiar, garantindo que o exército estava pronto. Esta ideia sugere que, contrariamente à falta de planos de guerra e mesmo de uma guerra localizada, os líderes alemães demonstram que o seu exército estava preparado para um eventual conflito militar. Foi a conhecida situação do designado «cheque em branco» da Alemanha que alguns historiadores defendem que precipitou a eclosão da guerra (MacMillan: 2014, 705). Contudo, para Clark, (2013, pp. 469-470) existem fortes sinais de que a Alemanha não pretendia a Guerra, mas antes limitá-la a uma guerra local entre a Áustria-Hungria e a Sérvia. Acrescenta que o exército alemão não tinha elaborado os seus planos para uma guerra geral e o Kaiser acreditava que o conflito seria realmente localizado. MacMillan (2014, p. 18) contraria essa ideia e anota que, de facto, a Alemanha tinha planos que implicavam uma guerra em duas frentes, com uma ação de contenção contra a Rússia, o inimigo do leste, e uma rápida invasão e derrota da França a oeste. Entretanto, os alemães esperavam que a Bélgica, país neutro, aceitasse a situação tranquilamente, enquanto as tropas alemãs atravessassem o seu território em direção ao Sul. Essa suposição revelou-se errada, as autoridades belgas decidiram resistir, o que destruiu as pretensões alemãs e levou a Grã-Bretanha, depois de alguma hesitação, a entrar na guerra contra a Alemanha (Id., 2014, p. 18 e 29).
11 Devemos ter presente que a elite militar alemã tinha o exército organizado de modo a que em 17 dias conseguiria colocar 3.000.000 de soldados, 86.000 cavalos, peças de artilharia e respectivas munições em prontidão operacional na fronteira (Stone: 2011, p. 31). Esta versão de MacMillan e de Stone que corroboro, contraria Clark quanto à inexistência de um plano geral de guerra alemão e revela-nos que a Alemanha tinha planos de ação para um conflito de grandes dimensões. Tendo como suporte as opiniões de MacMillan e Stone consideramos que qualquer uma das grandes potências atuais com todo o seu poder científico e tecnológico dificilmente colocaria no mesmo período temporal aquele número de efetivos em prontidão operacional. Nenhuma nação do mundo prepara um efetivo militar daquela dimensão se não tiver objectivos políticos-militares muito precisos.
12 Na Alemanha, também não se entendeu o significado do afastamento do primeiro ministro russo Vladimir Nicolayevich Kokovtsov (1853-1943). Tanto os russos como os britânicos acreditavam que o partido pro-alemão estava em ascensão. Se os russos, de facto, pretendiam aproveitar a ocasião para entrar numa guerra, o momento seria oportuno, uma vez que era melhor nesse momento do que mais tarde. A Alemanha tinha cooperado com a Grã-Bretanha nos Balcãs e, por esse motivo, acreditava que a Inglaterra não se envolveria.
13 O outro aspecto tem a ver com o ultimatum Austro-Húngaro à Sérvia enviado a 23 de julho com as exigências ao governo do reino da Sérvia que poderia ter sido um documento muito diferente. O primeiro lorde do almirantado britânico Winston Churchill escreveu à sua mulher que a Europa «tremia na eminência de uma guerra geral» e que o ultimatum era «o mais insolente documento do seu género alguma vez imaginado» (Gilbert: 2013, p. 60) cujo objetivo seria a criação de um «casos belli» com a Áustria-Hungria a invadir e a punir a Sérvia. A ousadia das exigências referidas no ponto 5 e 6 do ultimatum, frequentemente referido como um impedimento ao compromisso, era uma certeza de um conflito nos Balcãs e, de forma mais ampla, eventualmente uma guerra Mundial. O primeiro deles exigia que a Sérvia permitisse «Aceitar a colaboração de organizações do governo Austro-Húngaro na supressão de movimentos subversivos direcionados contra a integridade territorial da monarquia» e o segundo a «Iniciar uma investigação judicial contra os cúmplices da conspiração de 28 de junho que estão em território sérvio, com órgãos delegados pelo governo Austro-Húngaro fazendo parte da investigação». A França, a Rússia e Belgrado entenderam a atitude da Áustria-Hungria como um ultraje sobre a soberania Sérvia e que o ultimatum era uma declaração de Guerra. Segundo Clark (2013, p. 303) o ultimatum austríaco violou menos a soberania Sérvia que o Acordo de Ramboillet 1999, que Henry Kissinger entendeu como «uma provocação uma desculpa para iniciar o bombardeamento». Para Clark (2013, p. 385) não está claro que foi o papel da Sérvia no plano de 28 de junho e o seu cumprimento que originaram a situação. Além disso, parece que o primeiro ministro sérvio Nikola P. Pašić e os seus colegas estavam concentrados no ultimatum e em evitar uma guerra. Para o autor, foi o pedido de resistência da Rússia à Sérvia e a mobilização do exército que mudaram a situação. Enquanto isso, representantes franceses e russos reuniam-se em São Petersburgo. Aconteceu que mesmo depois disso ocorreram alguns momentos de indecisão (2013, p. 426).
14 A 29 de julho, na resposta ao famoso telegrama «Querido Nicky», o Czar Nicolau II não podia assinar a ordem de mobilização geral, mas finalmente a 30 de julho assinou (p. 352). Segundo Clark (2013, pp. 358-361), os líderes britânicos, depois de várias hesitações e expetativas de se conter a guerra quanto à invasão da Bélgica pela Alemanha, que aliás não consideravam um «casos belli» desde que o exército alemão ficasse a sul da linha Sambre-Mense, a 4 de julho declaravam guerra à Alemanha e a Entente fortalecia a sua aliança.
15 Na sua conclusão, Clark apresenta uma explicação geral e esse é o ponto em que Laqueur entende que Clark está errado. Para Clark (2013, p. 562) os «Protagonistas de 1914» eram sonâmbulos, vigilantes mas adormecidos, assombrados por sonhos, ainda não despertos para a realidade do horror que estava prestes a trazer ao mundo. Para Laqueur (2014, pp. 11-16), há três aspectos errados em tudo isso. Em primeiro lugar, os «passos calculados e vigilantes» de que nos fala ao longo das páginas não constituem sonambulismo. Em segundo lugar, a evidência que Clark mostra para a falta de visão dessa época não é mais do que um gesto baseado num artigo de auto-congratulação publicado em Le Figaro de 5 de Março de 1913 no qual se exalta a «força terrível» das armas francesas e a organização médica da Nação. Em terceiro, de acordo com Laqueur (2014,
pp. 11-16) era mais fácil não dar importância aos horrores provocados por uma guerra convencional do que seria nos momentos posteriores a uma guerra nuclear. Por isso, a Guerra Fria foi a maior guerra da história do mundo e houve maior sensibilidade dos atores políticos para os horrores que podia provocar do que houve nos decisores que levaram, na altura, à Primeira Grande Guerra (Ibid.).Ver o artigo de Le Figaro como sonambulismo é não perceber a questão importante do porquê dos contemporâneos perfeitamente alerta imaginarem o curso da guerra de forma confiante e não conseguirem ver as evidências de que a guerra seria horrorosa (Ibid.). Os protagonistas europeus que tiveram responsabilidades na guerra deveriam saber que a Guerra Civil Americana tirou a vida a centenas de milhares de homens quando em campos abertos progrediam contra o fogo das armas inimigas. Posto isto, Laqueur reforça a sua crítica, lembrando que a História da imaginação não é uma história de Sonambulismo (Ibid.).
16 Os Sonâmbulos é uma obra muito estimulante que combina uma investigação minuciosa com uma análise sensível dos acontecimentos que levaram a Europa a um conflito cruel. Pela extraordinária organização, quantidade e qualidade das fontes consultadas e natureza científica dos seus conteúdos apresentados, é um estudo que os futuros investigadores das origens da Primeira Grande Guerra Mundial não poderão deixar de consultar.
17 Como a obra de Barbara Tuchman The Guns of August publicada em 1960, foi uma referência para o seu tempo, também Os Sonâmbulos é um livro para os tempos de hoje quanto ao seu realce e contingência no que diz respeito ao que o autor designa de múltiplos «mapas mentais».
José Luís Assis – CEHFCi – UE. IHC – UN. E-mail: joselassis@gmail.com.
Na Primeira Presidência da República Portuguesa. Um rápido relatório – ARRIAGA (LH)
ARRIAGA, Manuel de. Na Primeira Presidência da República Portuguesa. Um rápido relatório (estudo introdutório e notas de Joana Gaspar de Freitas e Luís Bigotte Chorão). Horta: Associação dos Antigos Alunos do Liceu da Horta, 2013. Resenha de: MATOS, Sérgio Campos. Ler História, n.66, p. 174-178, 2014.
1 Em boa hora decidiu a Associação dos Antigos Alunos do liceu da Horta reeditar esta obra do primeiro presidente da República portuguesa, publicada originalmente em 1916, um ano depois da sua demissão. A nova edição em fac simile vem enriquecida com um estudo introdutório e anotações da autoria de Luís Bigotte Chorão e Joana Gaspar de Freitas que contribuem para a compreensão deste relevante testemunho político, não raro esquecido pelos historiadores. Refira-se de passagem que as notas dos referidos historiadores, muito úteis do ponto de vista informativo, alargaram o formato do livro numa margem direita que, além do valor das notas, oferece ao leitor espaço para nele inscrever apontamentos pessoais manuscritos.
2 Como se pode caracterizar esta obra? Trata-se de «um rápido relatório», como refere o subtítulo. Mas, mais do que isso, diremos que, em larga medida, o texto se inscreve no género memorialístico, não fosse a intenção de Manuel Arriaga deixar um testemunho pessoal sobre o seu exercício da função presidencial. E não só, também envolve uma memória do seu percurso político anterior.
3 Há neste livro uma preocupação do seu Autor que comanda a escrita, numa luta contra o tempo: a de registar a sua versão dos acontecimentos em que estivera envolvido enquanto presidente da república (1911-1915). Tanto mais que fora muito criticado e, em conjunturas como a do início de 1915, acusado de ter sido ditador. Arriaga já tinha uma idade avançada e sentia a morte rondar. Queria deixar para a posteridade o testemunho de alguém que vivera por dentro os acontecimentos. Salientemos, em primeiro lugar, os problemas centrais que a leitura da obra suscita. Num segundo momento, destacaremos o contributo que os organizadores desta nova edição fornecem ao leitor.
4 Note-se o lugar donde fala o autor e a obsessão memorial de Arriaga que não pode deixar indiferente o leitor. Arriaga não se considerava «político de profissão» e posiciona-se num lugar acima dos conflitos de facção entre os republicanos. Diz a certa altura que só podia candidatar-se à presidência em nome da união dos portugueses e das diversas tendências políticas. Nunca como representante de uma facção. Antecipava assim o lema «presidente de todos os Portugueses» que será nos finais do século XX, num contexto bem diverso, invocado por outros presidentes da República. Constrói-se neste livro uma ética da independência em relação aos partidos políticos que se afirma na intenção de conciliar interesses partidários e de acabar com lutas entre facções. Insinua-se neste plano um discurso utópico que o leva, quase nas «últimas palavras» a pronunciar a seguinte exortação: «Acabem, pois, com as discórdias entre cidadãos da mesma Pátria; com a intolerância das ideias contrárias que arrasta consigo a incompatibilidade das pessoas; com os enredos, as maledicências e as calúnias que deturpam a verdade dos factos, e nos deixam ficar aos olhos dos estrangeiros numa situação deprimente!» (p. 189). Arriaga distanciava-se assim de uma intriga política que se esgotava em pequenos conflitos de interesses pessoais e de clientelas. Mas seria possível acabar com os conflitos em política? Veremos adiante como esta aspiração se traduz numa visão idealizada da política.
5 No que toca a estratégia memorial, Manuel de Arriaga erige-se a si próprio no estaututo de «cronista de si mesmo», partindo do princípio que a sua verdade não poderá ser relatada senão por si próprio. Daí correr contra o tempo. Mas também Arriaga selecciona documentos – e são muitos os que transcreve, especialmente cartas que lhe foram dirigidas por protagonistas políticos ou que ele próprio expediu. E há um relevante documento que Joana de Freitas e Luís Bigotte Chorão transcrevem: o seu testamento, publicado na imprensa periódica da época (O Século de 6 de Março de 1917) mas logo esquecido. O testamento é muito revelador da personalidade do primeiro presidente da República, na detalhada especificação dos objectos pessoais – incluindo livros – que deixa a familiares e ao amigo António José de Almeida. Destaque-se a passagem em que refere que deixa os documentos do seu arquivo pessoal ao seu filho Roque de Arriaga «para fazer deles o uso que melhor entender, com a condição expressa e categórica de inutilizar, de reduzir a cinzas, na sua presença, todos os papéis que se refiram a desinteligências e intrigas entre republicanos (ou que se dizem republicanos), pois não desejo ver ligado o meu nome, por qualquer forma, a uma causa que tanto conturbou a minha vida política e a encheu de inquietações e de torturas durante a minha presidência da República» (p. 53). Insinua-se aqui uma estratégia memorial que, todavia, não terá sido inteiramente cumprida pelo seu filho (vd. Correspondência política…). Se Roque tivesse cumprido rigorosamente esta instrução do pai, muita correspondência teria sido destruida, inclusivamente algumas das cartas que o próprio Manuel de Arriaga transcreveu nesta obra e que, justamente, dão conta de profundas divergências entre republicanos. Donde, pode concluir-se que no testamento há sobretudo uma intenção de distanciação relativamente ao grande obstáculo que o ex-presidente encontrou na sua acção política: a impossibilidade de construir uma estratégia consensual entre os partidos em que se fragmentara o velho PRP. Refira-se ainda que o próprio governo não cumpriu uma outra vontade do testamento: que o seu funeral fosse singelo, «sem convites, sem coroas, sem discursos» como pretendia o primeiro presidente da república. Na verdade, acabou por ter honras de Estado, com a presença do Presidente Bernardino Machado e de diversos políticos no velório, entre eles o chefe do governo, Afonso Costa e vários minsitros, Norton de Matos e Augusto Soares.
6 Teve Arriaga uma estratégia política? Sem dúvida. Essa estratégia ficou marcada pela intenção de, a partir de uma reconciliação entre católicos e não católicos, entre ultramontanos e anticlericais, entre republicanos e monárquicos, construir uma convergência nacional que, em torno dos valores republicanos, superasse as clivagens que se haviam acentuado na sociedade portuguesa desde 1911. Daí, em 1913, as suas propostas de clemência em relação aos bispos e padres que se haviam oposto às medidas laicizadoras da República. Mas sobretudo essa estratégia estava centrada na nomeação de ministérios suprapartidários. É verdade que Arriaga nomeou personalidades prestigiadas para chefiar esses governos: João Chagas, Augusto de Vasconcelos e Duarte Leite. Em princípios de 1913, esgotada esta via, e ante a recusa de António José de Almeida em chefiar um governo «por lhe faltar apoio parlamentar» (p. 80), acabou por nomear o lider do partido maioritário, Afonso Costa. Apesar da sua larga maioria parlamentar, a pressão política e da opinião pública contra a prática do governo (caso do não cumprimento das disposições do artº 25 da Constituição) terão levado o Presidente da República a dirigir uma carta-programa aos lideres dos três partidos políticos republicanos solicitando o seu apoio para um governo extra-partidário. O próprio Arriaga reconhece que foi esta sua proposta que levou à demissão Afonso Costa (p. 84). Insistiu depois na construção de um pacto de compromisso dos três partidos. Mas este pacto envolvia um programa: «revisão da lei da separação (…) uma amnistia ampla para os crimes políticos» e novas eleições (p. 91). Afonso Costa não aceitou o pacto, alegando que «embora determinada pela intenção de bem servir o país, está em contradição com os princípios constitucionais» e saía «inteiramente para fora do quadro constitucional das atribuições do Chefe do Estado, e não corresponde a menhuma indicação parlamentar» (p. 93). E demitiu-se. Por seu lado António José de Almeida considerou a proposta utópica. E Brito Camacho mostrou-se disponível para a apoiar. Teve Arriaga consciência de que exorbitava dos poderes que a Constituição atribuia ao Presidente? Creio que sim, pois em diversas passagens se refere às limitações dos seus poderes, até mesmo em política externa. «A nossa liberdade de acção, além de restrita pelo código, está sujeita ao referendo dos respectivos ministros e à ditadura permanete das maiorias parlamentares que, como se sabe, não derivam da pureza do sufrágio» (p. 129).
7 Se é inegável que Arriaga desenvolveu uma estratégia e intentou arbitrar a vida política, também é evidente que a constituição de 1911 não lhe fornecia instrumentos para o fazer: não podia dissolver o congresso, não dispunha de um conselho de estado para se aconselhar, os seus actos tinham que merecer a aprovação dos ministros. É neste quadro que deve entender-se o seu isolamento. Um exemplo: em 15 de Janeiro de 1915, numa conjuntura difícil, Arriaga convocou diversas personalidades para consultas sobre a política a adoptar em relação à Grande Guerra, incluindo os principais lideres partidários. A essa reunião faltaram os seus ex-apoiantes António José de Almeida e Brito Camacho (p. 122).
8 A ausência de um forte partido conservador que alternasse no poder com o Partido Democrático, e dificuldade em encontrar políticos independentes e em constituir ministérios suprapartidários fragilizava ainda mais a posição do Presidente da República. Compreendem-se assim os apelos quase desesperados a homens como João Chagas (p.66) e depois a Pimenta de Castro («não me abandone»). E a ilusão de que este último «poderia salvar-nos» (p. 170). Exorbitou dos seus poderes? Sem dúvida. Como explicá-lo se, tudo indica, Arriaga não tinha perfil para ser um ditador? Aliás a ditadura de Pimenta de Castro corresponde ao tipo de ditadura praticada no século XIX, quando os executivos funcionavam prescindindo do parlamento e depois mediante o chamado bill de idemnidade se aprovavam ou não as medidas promulgadas por decreto pelos executivos anteriores.
9 Manuel de Arriaga foi não raro qualificado de idealista na política. Acrescente-se que foi idealista não só na intervenção política mas também na visão que construiu do povo português e da sua história. Por diversas vezes refere-se à revolução republicana do 5 de Outubro como «a mais bela que até hoje se arquiva na história» (p.24). Olha o passado nacional numa óptica que coincide no essencial com a narrativa que os historiadores republicanos haviam construido, responsabilizando a monarquia e a Companhia de Jesus pelo desvio da missão histórica da nação. E caracteriza o povo português como «afectivo» e «apaixonado pelas belezas do seu país», «meio panteísta e meio pagão./Adora o cristianismo porque está de acordo com a sua indole bondosa; ama as parábolas de Cristo e não se importa com os dogmas da Irgeja» (p. 26).
10 Voltemos à presente edição e, particularmente ao aprofundado estudo introdutório da autoria de Joana G. de Freitas e Luís Bigotte Chorão. Em primeiro lugar, é de louvar o distanciamento crítico dos seus autores em relação à fonte que estão a examinar. Em segundo lugar são de registar as novidades que este estudo encerra, entre elas, a receptividade que a obra teve, com três tiragens logo em 1916, num total de 3000 exemplares, o que mostra a elevada procura que teve na época, decerto não apenas entre a elite política: a memória dos primeiros anos da I República e da presidência de Arriaga estava ainda muito viva. Depois os autores chamam a atenção para uma posição política que Manuel de Arriaga adoptou em finais de Julho de 1911 e que terá deixado marcas: no entender de Arriaga, nenhum dos membros do governo provisório deveria ser elegível no acto eleitoral que se ia seguir para escolher quem iria desempenhar o cargo de Presidente da República. As notas fornecem ainda elementos valiosos para que se compreenda a resistência que as iniciativas presidenciais desencadearam entre os seus adversários políticos, nomeadamente as razões porque escolheu Pimenta de Castro. Podemos então concluir com uma pergunta: porque razões acabou Manuel de Arriaga por adoptar uma prática política presidencial que ultrapassou os limites constitucionais? Creio que esta pergunta só pode encontrar resposta se tivermos em conta o profundo sentimento de crise, agravado pela Grande Guerra, que se vivia nesse anos. E, porventura, as insuficiências da Constituição de 1911.
Sérgio Campos Matos – Faculdade de Letras da UL. E-mail: sergiocamposmatos@gmail.com.
A geografia dos afectos pátrios. As reformas político-administrativas (sécs. XIX-XX) – CATROGA (LH)
CATROGA, Fernando. A geografia dos afectos pátrios. As reformas político-administrativas (sécs. XIX-XX). Coimbra: Almedina, 2013. 406 p. Resenha de: MARQUES, Tiago Pires. Ler História, v.66, p. 179-182, 2014.
1 É difícil fazer justiça, em poucas páginas, a um livro denso, de esmagadora erudição, que complica consideravelmente a história do Estado-nação português, ao mesmo tempo que oferece inovadoras linhas de intelecção dos seus processos. Com efeito, sob pretexto de uma análise histórica da organização administrativa do território do Portugal contemporâneo, o novo livro de Fernando Catroga mapeia os imaginários de modernidade em confronto, no seio das elites governantes e intelectuais intervenientes no espaço público, e observa os efeitos das sucessivas rearticulações territoriais na história política e sócio-cultural do país. Obra construída a partir de um conjunto de textos autónomos publicados desde 2004, tal como nos explica o autor em nota final, a sua novidade está, para além de alguns acrescentos inéditos, na forma como constrói uma perspectiva unitária da concretização de uma modernidade portuguesa. É que, abdicando do habitual dispositivo sequencial, este livro claramente não é uma soma de elementos, mas um conjunto de unidades que se vão encaixando umas nas outras no interior de uma circunferência comum. Concretizando, tal circunferência parece-nos definida por um tema, um problema e uma perspectiva: 1) pelo tema da institucionalização de um ordenamento político-administrativo e territorial adequado aos princípios da soberania nacional, da divisão de poderes e do carácter público de todas as funções administrativas (p. 31); 2) pelo problema da fraca base social para apoiar tal processo de institucionalização, que se corporizou socialmente em diversas formas de integração e de tensão entre centro e periferia; e 3) por uma perspectiva, a saber, de que no debate entre centralistas e descentralistas se jogou a questão da organização territorial e governo das populações, sendo esta indissociável de ideias de pátria, nação e cidadania (p. 12). Assim, esta obra constitui-se por uma operacionalização do conceito foucaultiano de governamentalidade que integra os imaginários de ordem político-social da modernidade portuguesa.
2 O livro compõe-se formalmente de quatro partes, cada uma delas percorrendo a totalidade do período analisado. Vamos assim avançando em espiral, desde a circunferência mais ampla do território (Parte I), à região ou província (Parte II), à organização dos micro-poderes locais (Parte III), e, enfim (Parte IV), à organização dos afectos patrióticos que, à maneira de eixo central, ligaria o imaginário nacional aos fogos familiares, «fisiológicos», do lugar. Na primeira parte, o autor ataca a questão ampla do território nacional, nomeadamente a sua ocupação pelo poder estatal na mira de governar a população. Trata aqui de seguir, no debate em torno dos modelos de divisão administrativa, dos alvores do Liberalismo ao Estado Novo, o olhar estratégico dos políticos e administradores sobre o alinhamento entre centro e periferias, ao tentarem fazer repercutir o sentido universal do contrato social fundador do poder central nos poderes regionais e locais. Catroga mostra como em torno do «município» se constituiu uma luta política e simbólica, opondo liberais e restauracionistas, e diferentes modos liberais de entender a «liberdade dos modernos» (p. 37). Para os liberais descentralistas, o município surgiu como resposta à dificuldade prática de operacionalizar o sistema representativo na governação do território nacional. Construindo-se sobre a noção anglo-saxónica de «self-government», para os descentralistas o município parecia assim «saído das mãos de Deus» (nas palavras citadas de Alexandre Herculano), já que dava um conteúdo palpável, uma factualidade institucionalizada, à noção «abstracta» e «artificial» de nação sobre o qual o também abstracto «pacto social» adquiria um conteúdo concreto: as «sociabilidades naturais» cristalizadas pela história. Para outros, porém, o município permitia mobilizar uma versão mitificada do passado com uma finalidade restauracionista (p. 38). Vingou a solução do «constitucionalismo histórico», a demarcação distrital do país ao serviço, segundo Catroga, de uma visão hierárquica do poder que subalternizava as periferias ao centro político do Estado-nação (p. 53 e sgs.). Esta malha saída do modelo triunfante de poder – finalmente, ao estilo jacobino – teria estruturado, na prática, as formas observadas pela sociologia histórica comparativa da modernização política portuguesa, nomeadamente o caciquismo, o clientelismo e o nepotismo. Formas de sociabilidade típicas das «capitalidades distritais», elas seriam o complemento funcional da figura, tão diabolizada, do «burocrata» (p. 86).
3 A segunda e terceira partes podem ler-se conjuntamente como uma genealogia do provincianismo e paroquialismo portugueses enquanto forma de organização do poder na base de uma certa «cultura», ancorada não só nos discursos dos políticos mas também na história social do país. A ausência histórica de ordens intermédias entre o centro político e as periferias locais gerou dinâmicas supletivas, apoiadas nos modelos do regionalismo francês e espanhol, que viriam a desembocar nos diversos movimentos federalistas da segunda metade do século XIX e da I República e, em sentido antiliberal, nos movimentos favoráveis à noção de «província», de ressonâncias imperialistas, visando casar regionalismo e patriotismo (p. 152). Este segundo modelo triunfou, como sabemos, como forma de organização territorial do Estado Novo. Tornam-se claros os elos entre as sociabilidades que floresceram no Portugal contemporâneo – grémios, casas regionais, associações, congressos, partidos políticos com lógicas clientelares, movimentos militantes (ex. a Cruzada Nun’Álvares) e político-intelectuais (ex. o Integralismo Lusitano) – e estas diferentes formas de estruturação territorial do poder. Neste sentido, é luminosa e convincente a análise de uma governamentalidade característica do caso português, cujas linhas de compreensão se devem buscar em combinatórias de escalas – nacional, regional e paroquial.
4 A quarta parte do livro é porventura a mais ousada e sugestiva. Articulando agora estas várias governamentalidades estruturantes da sociedade portuguesa, Fernando Catroga analisa os afectos que produziram e de que se alimentaram para a sua própria reprodução. Os processos históricos em causa revelam uma mesma tensão estrutural: como fazer surgir patriotismos locais e nacionais, isto é, à escala do lugar étnico e do lugar cívico – consoante o posicionamento ideológico –, que não só não fossem antagónicos, mas que se reforçassem mutuamente? Esta questão atravessou os três regimes observados, tendo obtido com o Estado Novo uma solução relativamente original que autor chama de «patriotismo de campanário». Neste, as pequenas pátrias de que se fazia a grande pátria – e que nas visões liberais coincidia com a pátria cívica e contratual – foi complementada com a ideia de uma protecção divina de legitimação católica (p. 383). Na linha do Integralismo Lusitano, o Estado Novo enfatizou a ideia de «sociabilidade natural» – que, no entanto, já encontramos em descentralistas como Herculano –, recorrendo agora a uma argumentação biológica e psicológica colhida na ciência, e sacralizou-a através de um providencialismo católico que abrangia, bem entendido, a «missão» político-espiritual do Império. Seria, assim, dialéctica e eminentemente ideológica a via portuguesa para o autoritarismo e corporativismo. Por um lado, o Estado Novo construiu-se num discurso que, contrariamente ao fascismo italiano, atribuía prioridade ôntica à nação, entidade simultaneamente histórica e fisiológica, e não ao Estado. Por outro, na prática, o regime traduzia a necessidade de ajustar a sociedade a uma suposta natureza histórica através de uma bem conduzida concepção pastoral da política. Neste sentido, o Estado Novo assumiu a função condutora na concretização histórica do que alegava ser, em nome dos «factos», a essência da nação. Por outras palavras, se no plano discursivo o Estado Novo assentava no mote «from nation to state», na prática, e porque se tratava de «colocar a nação no Estado», a sua acção foi no sentido «state to nation» (p. 380). O Estado Novo foi, nesta óptica, um jacobinismo erguido em nome do anti-jacobinismo (p. 385), construindo-se culturalmente como um «positivismo do espírito» (p. 389).
5 Como vemos, a estrutura concêntrica do livro é possibilitada pela observação de que o debate entre centralismo e descentralismo, com todas as suas gradações e efeitos de sociabilidade, atravessou a Monarquia Constitucional, a I República e o Estado Novo. Porém, o dispositivo interpretativo que possibilita ao autor conduzir com eficácia o seu empreendimento é a noção foucaultiana de governamentalidade, explicitada nas páginas iniciais. Contrariamente a algumas críticas feitas aos que em Foucault buscam utensílios de análise, a leitura da história pela perspectiva do poder não funciona como rolo compressor das singularidades históricas. Pelo contrário, Fernando Catroga singulariza uma diversidade de lógicas de governamentalidade, nelas vendo inter-relações específicas também no plano dos afectos políticos que produziram. Contudo, e embora o autor nunca o afirme, a obra sugere um determinismo último de configurações de poder, observadas a partir da aplicação de modelos. Esta perspectiva, ainda que meta-histórica, é certamente legítima. Ficam, no entanto, por explorar as formas de mobilização de indivíduos e colectivos e os processos da sua adesão a imaginários e instituições: se parece certo que os poderes produzem afectos, não é de descartar que estes se liguem a recursos simbólicos a imaginários com força criativa relativamente autónoma. Ora, esta acção criativa dos afectos parece-me mais eficazmente observável numa história de interacções sociais que, sem deixar de lado a problemática dos poderes, permita equacionar a relação entre assimetrias sociais concretas (urbano vs. rural, classe e status, diversos capitais simbólicos) e significados culturais.
Tiago Pires Marques – Centro de Estudos Sociais – Universidade de Coimbra. E-mail: tiagopmarques@gmail.com.
D. Dinis (Atas dos Encontros sobre D. Dinis em Odivelas) – FERNANDES et al (LH)
FERNANDES, Carla Varela; DIAS, Isabel Barros; FRESCO João; JÚDICE Nuno; BARBOSA, Pedro Gomes; MATOS, Sofia Correia de; PALMA Victor; D. Dinis (Atas dos Encontros sobre D. Dinis em Odivelas). Lisboa: Edições Colibri – Câmara Municipal de Odivelas, 2011. Resenha de: GOUVEIA, Mário de. Ler História, n.64, p.215-217, 2013.
1 A obra que agora se apresenta, intitulada D. Dinis, corresponde às Atas dos Encontros sobre D. Dinis em Odivelas, publicadas sob coordenação geral de Corália Rodrigues, Ana Santos Silva, Estela Pontes Correia e Rui Boaventura, da Divisão de Cultura, Turismo e Património Cultural da Câmara Municipal de Odivelas, em Lisboa, com a chancela das Edições Colibri e da Câmara Municipal de Odivelas, em 2011. Trata-se do sexto volume da coleção «Patrimónios», inteiramente dedicada a temáticas relacionadas com o património material e imaterial concelhio.
2 O volume é formado por um total de cento e vinte e uma páginas, com reproduções fotográficas a preto e branco. Inicia-se com uma nota de abertura, da autoria de Susana Amador, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, em que se chama a atenção do leitor para a necessidade de se proteger e valorizar o património concelhio, como fator estruturante da identidade coletiva, muito particularmente no tocante ao legado deixado pelo rei Dinis na localidade, materializado quer no Convento de S. Dinis, hoje classificado como Monumento Nacional, quer no Memorial, interpretado como padrão de couto que demarcaria os limites territoriais da área de jurisdição do Convento. Segue-se-lhe uma nota de agradecimento, subscrita por Mário Máximo, Vereador do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Odivelas, em que não só se sublinha o empenho da equipa técnica do Setor do Património Cultural na realização dos Encontros, como também se agradece a todos quantos, entre Docentes, Investigadores e Patrocinadores, tornaram possível a sua concretização.
3 O programa dos Encontros publicado nas páginas iniciais do volume, decorridos a 2 de abril, 7 de maio e 4 de junho de 2009, estruturou-se à volta de três painéis temáticos, desenvolvidos após uma sessão de abertura acompanhada por uma comunicação proferida pela Dr.ª Susana Amador. O primeiro, intitulado «D. Dinis na consolidação do reino de Portugal», tendo como comunicantes os Professores Doutor Bernardo Sá Nogueira (FL-UL/Centro de História), cuja comunicação versou o tema «D. Dinis e a construção do Estado»; o Doutor Hermenegildo Fernandes (FL-UL/Centro de História), sobre «D. Dinis e a definição das fronteiras do reino»; e o Doutor Pedro Gomes Barbosa (FL-UL/Centro de História), sobre «Grupos marginais no período dionisíaco. Mouros, Judeus e outros». O segundo, por sua vez, intitulado «D. Dinis, poeta e músico», moderado pelo Dr. Miguel de Sousa Ferreira, tendo como comunicantes os Professores Doutor Nuno Júdice (FCSH-UNL), cuja comunicação abordou o tema «A mestria do poema e a poética dionisiana»; a Doutora Isabel Barros Dias (UAb), sobre «D. Dinis e a poesia. Cortes cultas e prática poética (o tema do olhar)»; e o Dr. Victor Palma (Museu da Música), sobre «Instrumentos musicais do tempo de D. Dinis». O terceiro, por fim, intitulado «D. Dinis, Odivelas e a Ordem de Cister», moderado pelo Dr. Edgar Luís Simões Valles, tendo como comunicantes a Professora Doutora Teresa Alves (FL-UL/Centro de Estudos Geográficos), que não pôde comparecer à sessão, segundo consta do programa publicado no volume; a Dr.ª Carla Varela Fernandes (CMC/Divisão de Museus), sobre «O bom rei sabe bem morrer. Reflexões sobre o túmulo de D. Dinis»; e o Dr. João Fresco e a Dr.ª Sofia Correia de Matos (CMO/Divisão de Cultura, Juventude e Turismo), sobre «D. Dinis e Odivelas». Seguiu-se a cada sessão um período de debate. A cerimónia de encerramento dos Encontros foi presidida pela Dr.ª Fernanda Franchi, Vereadora do Pelouro da Cultura da CMO.
4 Embora estando programadas nove comunicações, o volume agora publicado apenas reúne textos correspondentes a seis, dado que as comunicações proferidas pelos Professores Doutor Bernardo Sá Nogueira e Doutor Hermenegildo Fernandes, bem como a inicialmente prevista pela Doutora Teresa Alves, não foram dadas à estampa. Ficamos, portanto, com a impressão de que o volume, embora reunindo textos interessantes para a compreensão do reinado de Dinis – uma conjuntura de centralização e afirmação do poder e autoridade régios, numa altura em que Portugal havia terminado o processo de «Reconquista» dos territórios controlados pelo Islão, com a tomada de Faro, em 1249, e as suas fronteiras se encontravam definidas na sequência da celebração do Tratado de Alcañices, em 1279 –, pouco ou nada acrescenta ao que se ficou a saber desde que, há poucos anos, José Augusto de Sotto Mayor Pizarro (FL-UP) publicou uma biografia de referência sobre Dinis (s.l., Círculo de Leitores, 2005). Embora alguns textos se mostrem mais interessantes do que outros, por o respetivo objeto de estudo não ter sido tratado de forma aprofundada por este Docente e Investigador, a impressão com que se fica, uma vez percorrido o volume, é que este não chega a constituir sequer um estado da questão sobre as investigações em torno deste reinado, por aí se compilarem textos que aparentam não ter qualquer relação entre si – apesar de integrados em três painéis temáticos – e que, a bem dizer, apenas reproduzem aquilo que de há muito se sabe sobre o rei, o mecenas, o trovador, o músico.
4 Concluímos, pois, esta breve recensão crítica com uma sugestão que talvez pudesse ser ponderada num futuro próximo pela Divisão de Cultura, Turismo e Património Cultural da Câmara Municipal de Odivelas, a entidade promotora destes Encontros: a realização de um encontro científico que tivesse como ponto de partida não as várias facetas de Dinis, mas sim o património histórico legado por este rei ao atual concelho, muito especialmente o Convento de S. Dinis, Monumento Nacional que ainda aguarda um estudo consentâneo com a sua efetiva importância, no quadro das escassas realizações artísticas de estilo gótico subsistentes nesta zona do País, e que, como é de conhecimento geral, constitui o ex libris da cidade de Odivelas.
Mário de Gouveia – Instituto História Medieval – FCSH-UNL. Doutorando em História Medieval e investigador do Instituto de Estudos Medievais FCSH–UNL. E-mail: mario_de_gouveia@yahoo.com.
La Historia contraataca – PÉREZ (LH)
PÉREZ, Santana, MANUEL, Juan, La Historia contraataca. Barquisimeto: Fundación Buria, 2013. Resenha de: CASTEAO, Ofelia Rey. Ler História, p. 189-190, n.65, 2013.
1 El nuevo libro de Juan Manuel Santana retoma algunos de los temas abordados por él en publicaciones anteriores, pero apuesta por una renovación de sus propios planteamientos a la luz de la rápida evolución de la disciplina histórica y de la multiplicación de sus practicantes, un proceso acelerado en el que a simple vista se detecta un empobrecimiento de la reflexión, de la crítica y, en general, de las bases teóricas en las que la historia debe apoyarse. El libro no se presenta como un manual universitario, pero su estructura, su redacción y su desarrollo, lo harían útil para ese objetivo; debe tenerse en cuenta que en los actuales planes de estudios de las universidades españolas, se han sacrificado las materias teóricas en beneficio de la historia por épocas o por temas, debido a la compresión temporal de los estudios de grado. Este sacrificio en aras de lo práctico, que no se ha denunciado ni por parte de los docentes ni por parte de los estudiantes, se notará de modo creciente en los próximos años, cuando ya no quede rastro de la formación teórica que se impartía en las antiguas licenciaturas. A esto se añade que en el sistema actual de acceso al profesorado universitario se han eliminado las pruebas en las que los candidatos tenían que demostrar un cierto dominio de la tradición historiográfica, de la teoría y de las filosofías de la Historia, y tenían, además, que implicarse y adoptar una posición crítica al respecto de su propio quehacer como historiador; no hay duda de que la desaparición de esta especie de requisito, resta presión ideológica y moral al profesor y al investigador y le permita pensar que todo vale, lo que consideramos una notable pérdida profesional pero sobre todo, para la sociedad a la que nuestro trabajo va destinado.
2 Expresadas quizá de otra manera, estas ideas subyacen al libro de Juan Manuel Santana, que expone sus convicciones en la introducción y en la extensa «fundamentación teórica», en la que deja claro su posicionamiento personal y los caracteres generales de nuestra disciplina en los últimos años. Los tres siguientes obedecen a una configuración más clásica, en especial el dedicado a «la historia pre-científica», pero también los relativos a los paradigmas del siglo XX y a los «encuentros y desencuentros en la Historia», en los que rinde cuentas de los debates vividos en los últimos treinta años y repasa las idas y venidas dialécticas entre modernidad y posmodernidad. Estos capítulos, que ocupan casi la mitad del libro, son los que desde nuestro punto de vista lo hacen útil como texto universitario destinado a docentes y estudiantes.
3 La segunda parte del libro retoma el hilo «de combate» de las páginas introductorias y es en la que se advierte mejor la implicación teórica del autor y la lógica a la que responde el militante título de la obra. Si el primero de los capítulos de esta parte se ocupa de las influencias historiográficas de los «mitos económicos», en el segundo se refuerza el sentido combativo del texto, bajo un enunciado sin ambages – «los neocons secuestran a Clío»-, que marca a los tres finales. De los tres, uno está dedicado, en palabras del autor, a la «reina de las últimas décadas», es decir, la historia cultural, un capítulo en el que quizá no se considera que la verdadera reina de los últimos años es una historia política más renovada en la apariencia que en el fondo. Otro, uno de los de mayor interés para los lectores europeos, se dedica a una historiografía pujante, la latinoamericana, a la que se envuelve en la «emergencia de la periferia», lo que es básicamente correcto, aunque desde Europa se reconoce ya desde hace años que la creatividad, la innovación y algunas fortalezas teóricas están del otro lado del Atlántico; debe tenerse en cuenta que la obra está publicada en Venezuela, lo que permite pensar en que el autor ha pensado también en los lectores americanos. Finalmente, el tercero, titulado «el retorno de la Historia Crítica», retoma el hilo del comienzo e incide en el posicionamiento del autor – «gran parte de nuestras propuestas proceden del materialismo histórico y todas admiten como método general la dialéctica y la preponderancia última de los elementos materiales» (p. 236) – así como en la reivindicación de la utilidad de la Historia como ciencia social al servicio de la sociedad y de sus potencialidades para la crítica y para el cambio.
4 La obra termina con una extensa bibliografía que contiene obras clásicas de la historiografía del siglo XX y las aportaciones más recientes, sobre cuya lectura crítica está basada. Un simple repaso permite ver que la bibliografía refleja bien la paulatina pérdida de obras de reflexión, una pérdida que Juan Manuel Santana se ha propuesto mitigar con este libro.
Ofelia Rey Castelao – Professora Catedrática no Departamento de Historia Medieval y Moderna da Universidade de Santiago de Compostela (FGH-USC). E-mail: ofelia.rey@usc.es.
A vertigem da Palavra. Retórica, Política e Propaganda no Estado Novo – ACCAIUOLI; FERRO (LH)
ACCAIUOLI Margarida; FERRO, António. A vertigem da Palavra. Retórica, Política e Propaganda no Estado Novo. Lisboa: Bizâncio, 2013. Resenha de: VICENTE, Filipa Lowndes. Ler História, n.65, p. 182-188, 2013.
1 Em 1923, António Ferro publicou no Brasil A Idade do Jazz Band1. O texto fazia um elogio ao jazz – um símbolo «frenético, diabólico, destrambelhado, ardente» da contemporaneidade. Num momento em que este tipo de música era ainda incompreendido por uma vasta maioria, vilipendiado por atentar contra a harmonia musical e usado para fundamentar teorias racistas que o associavam à música negra, o jazz era para Ferro o símbolo de uma Europa renascida depois da Grande Guerra, e aberta ao que vinha do outro lado do Atlântico.
2 Nas décadas de 20 e 30, Ferro era ainda um jovem intelectual inquieto. Politizado, sem ser ainda político. Sempre em movimento, num entra e sai do país. Manifestava-se em múltiplos escritos – uns para consumo interno, outros destinados a públicos externos. Foi o caso da entrada que redigiu sobre o regime político português, na prestigiada Encyclopédie Française dirigida pelo historiador Lucien Febvre (1933)2. Uma sinopse do «Estado Novo», integrada num capítulo dedicado aos «outros regimes autoritários», aqueles que não cabiam na categoria dos «regimes fascistas», nem nos «regimes nacionais-socialistas». Uma entrada que era, sobretudo, um elogio a Salazar e ao seu modo de ser um português suave com mão de ferro.
3 Mas a vasta obra publicada de Ferro não foi um gesto silencioso e solitário. Intelectual de ação, a sua palavra impressa era, em geral, registo de um discurso oral, do diálogo-entrevista, da conferência proferida, no Rio de Janeiro ou em Lisboa. Em voz alta, pronunciada à frente de um público, discursada ao microfone, Ferro aprendeu bem a utilizar o melhor de todos os meios de comunicação disponíveis, quer na sua própria escrita, quer nas múltiplas vertentes de comunicação usadas pelos órgãos institucionais ou culturais que dirigiu.
4 Ferro traz para Portugal o mundo «lá de fora» onde ele identifica os traços do que era «moderno» na música, literatura, pintura, arquitetura ou escultura, bem como nos protagonistas dos novos fascismos europeus. Enquanto repórter jornalístico fez entrevistas a D’Annunzio, Mussolini ou mesmo Hitler, e transformou-as no livro Viagem à volta das Ditaduras, que antecedeu as suas conversas, mais longas, com Salazar. Destes diálogos nasceu a ligação que faria deles cúmplices na ação política e na construção das suas imagens públicas.
5 Um destes diálogos teve lugar num automóvel, em andamento, como se vê numa das fotografias publicadas em Salazar. O homem e a sua obra (1933). Para que o entrevistado não perdesse o pouco tempo que tinha para equilibrar as finanças do país? Ou para que a imagem do católico tradicionalista que tinha vindo da província fosse marcada pela modernidade do século? A conversa entre os dois homens foi marcada pelo click imediato da fotografia instantânea, bem como pelo movimento do automóvel, tal como o Chevrolet que levara Álvaro de Campos de Lisboa a Sintra.
6 Em 1933, já diretor do recém-criado Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), o escritor da contemporaneidade – ou o historiador do presente – passa a ser o político do espírito. Foi, então, que o seu cosmopolitismo deu lugar à construção de uma ideia de «Portugalidade» definida em várias frentes. Um Portugal dos sentidos para aqueles que sabiam ler, mas também para aqueles – a maioria – que só sabia ver. O Bailado do Verde-Gaio, a hesitar entre a reinvenção de um folclore esquecido e uma tradição clássica internacional; os múltiplos prémios literários e artísticos, a construir os cânones da época – onde A Romaria do Padre Vasco Reis ganhou o prémio de poesia de 1934, relegando a Mensagem de Pessoa para um prémio de consolação; as pousadas de Portugal, para que os portugueses pudessem americanizar os seus lazeres e viajar na própria terra; o concurso da aldeia mais portuguesa de Portugal e a definição etnográfica de uma cultura popular (o povo deveria continuar a ser povo, mas um povo ciente das tradições que o identificavam e que deveria reproduzir); as intervenções numa Lisboa urbana, entre o culto do bairro de Alfama, com vasos de flores à janela para o rio, e a abertura das avenidas novas, com nomes de colónias e países estrangeiros; ou a tentativa de regulamentar o estilo decorativo através das «campanhas do bom gosto». Um estilo que os críticos chamavam, ironicamente, o «estilo secretariado».
7 Esta última é uma das poucas referências feitas no livro à contestação da política cultural do regime ou à resistência àquilo que muitos também viam como um excesso de regulamentação que pouco ou nada se coadunava com a prática da criatividade. Face à multiplicação de prémios e concursos para todos os tipos de escrita ou de arte, a revista Presença pôs o dedo na ferida. Onde estava aquele Ferro que, no passado, tinha escrito sobre a incompatibilidade entre a liberdade da produção cultural e a intervenção política?
8 A autora do livro dá bastante ênfase aos discursos proferidos por Ferro aquando da sua saída do Secretariado, em 1950. Foi através destes discursos que Ferro aproveitou para responder às críticas de que naturalmente também foi alvo, entre as múltiplas homenagens. Mas ficamos com vontade de saber mais sobre o que suscitou estes discursos justificativos. Em que margens se encontra a contestação ao regime, para lá do texto de Almada ou de António Pedro a questionar a ideia de converter os portugueses ao «bom gosto»? Onde estão os artistas, escritores e intelectuais que ficaram de fora? Por exemplo, segundo Jorge Segurado, Ferro teria dito que «era uma pena que o Arlindo Vicente não tivesse aderido ao Estado Novo». Que possibilidade de resistência – ou sobrevivência – é que tiveram aqueles que não aderiram? E as organizações que foram extintas pelo regime, como o Conselho Nacional de Mulheres Portuguesas, principal organismo feminista, liderado pela intelectual Maria Lamas? Em 1947, este conselho organizou, na Sociedade Nacional de Belas Artes, uma Exposição de Livros Escritos por Mulheres de todo o Mundo e foi, em parte, o sucesso deste evento e dos colóquios que o acompanharam que acabaria por levar à sua extinção compulsiva.
9 E onde ficam as mulheres de uma história cultural do Estado Novo? Não aquelas que apareciam com trajes de minhota nas fotografias a preto e branco ou nas aldeias populares reconstituídas na exposição de 1940, mas as que escreviam, pintavam, ilustravam livros ou coreografavam espetáculos de dança e teatro. O livro refere vários nomes de mulheres, sobretudo as que ganharam prémios literários ou participaram nas muitas exposições patrocinadas pelo SPN (um útil apêndice mostra todos os premiados). Mas não faz qualquer abordagem de género. E é pena, pois o próprio António Ferro refletiu várias vezes sobre a contemporaneidade ou sobre a criatividade através daquilo que identificou como sendo valores femininos ou masculinos. E aqui, longe de «modernas» – Virginia Woolf, por exemplo, publicaria A Room of one’s own em 19293 –, as posições de Ferro correspondiam à ideologia dominante em relação à incapacidade da mulher para a escrita e para a criatividade.
10 Ferro aproveitou a sua entrevista à escritora francesa Colette para escrever sobre o assunto: por um lado, elogiou-a, nas vésperas de ser condecorada com a Legião de Honra, afirmando que só em França isso seria possível4. Uma Colette portuguesa, escreveu Ferro, seria uma imoral, fútil e – como todos aqueles «que se limitam a ser de hoje» – seria considerada «futurista». Mas, por outro lado, para ele a literatura era uma «arte masculina», a mulher era «o manequim da literatura», a musa inspiradora e a exceção que só servia para confirmar a regra da incapacidade da mulher para a escrita. Ou seja, aquelas que escreviam bem faziam-no por terem «cabeça de homem» e por não serem «mulheres de carne e osso».
11 Este é o mesmo homem que escolheu casar com uma mulher intelectual. Fernanda de Castro, uma escritora de múltiplos registos e vasta obra, da tradução, à poesia, ao teatro ou romance5. Como tantas outras mulheres de intelectuais do seu tempo, também ela contribuiu ativamente para consolidar a carreira do marido, traduzindo-lhe os discursos ou colaborando em muitas das iniciativas do SNI. Mas claramente existe uma opção de cingir a biografia a aspetos da vida pública de Ferro e não da sua vida familiar e privada. No entanto, o papel cultural ativo e interveniente de Fernanda de Castro subverte esta fronteira entre público e privado.
12 A «masculinização» de uma estética dos regimes fascistas europeus, para lá do óbvio domínio masculino do poder tem sido um tema abordado noutros casos europeus. De que forma é que este culto do corpo masculino se fazia sentir em Portugal? Por exemplo, Ferro escreveu que só admirava aqueles escritores que tinham «músculo na prosa» (Colette, p. 28). A iconografia da propaganda do Portugal dos anos 40 dá-nos outros exemplos – erotizados? – desta masculinidade visível. É o caso do livro Portugal 1940, publicado pelo SPN, que mostra imagens de homens a construir pontes em tronco nu ou a escavar a terra em mangas de camisa, os braços erguidos em uniformes militares ou em perfeitas coreografias de ginástica, homens negros a dançar seminus numa fotomontagem destinada a ilustrar a viagem do Presidente da República às colónias, ou um homem que, qual estátua grega, noutra sobreposição fotográfica, parece dominar o novo Estádio Nacional6.
13 À vertigem da palavra, bem notada no subtítulo do livro, será necessário acrescentar a vertigem da imagem. Enquanto «moderno», Ferro reconhecia naturalmente a relevância crucial da fotografia e do cinema, quer enquanto arte, quer enquanto instrumento de propaganda. Margarida Acciaiuoli reconhece a importância da imagem, dedicando um capítulo específico aos usos que Ferro, através do SPN/SNI, fez das tecnologias visuais. Mas não legenda, apropriadamente, as magníficas fotografias do livro. Sem autoria, sem identificação e sem data, muitas das imagens acabam por ser abordadas não como um documento histórico, mas apenas como uma ilustração. Neste uso da fotografia, como superfície de representação e não como um objeto em si que precisa de ser contextualizado historicamente e abordado criticamente, acabam por se reproduzir os modos como a própria fotografia foi usada no passado: como ilustração e não como documento.
14 Entre os casos mais interessantes que são referidos no livro, estão as encomendas dos álbuns fotográficos Portugal 1934 e Portugal 1940 – ambos com a enorme sofisticação gráfica comum a tantas das publicações do Secretariado. Com a participação de vários fotógrafos e a utilização das diferentes técnicas de montagem disponíveis na época, o próprio meio de propaganda correspondia à mensagem de modernidade que se queria transmitir. Da permanente relação contemporânea entre a fotografia e as exposições, Ferro tinha plena consciência. Em algumas exposições, a fotografia era usada negativamente – para mostrar aquilo que se queria rejeitar; noutras, positivamente, para expor aquilo que se pretendia celebrar.
15 O passado recente que se queria renegar era o da I República, como bem nota Acciaiuoli. A fotografia, retrabalhada em montagens que favoreciam o contraste, serviu de prova da «desordem» que o Estado Novo viera erradicar. Ao recorrer ao arquivo do fotógrafo Joshua Benoliel, com as suas reportagens visuais da politização das ruas republicanas, António Ferro tentou demonstrar uma consciência das potencialidades políticas da imagem que caracterizou todo o século XX. A Exposição Anticomunista, realizada em 1936 na sede do SPN, foi mais um exemplo dos usos políticos da fotografia, para os quais contribuíram as fotomontagens de Mário Novais. A mesma técnica foi também usada por Novais nos Pavilhões de Portugal nas exposições universais de Paris (1937) e de Nova Iorque (1939) para propagandear um país simultaneamente moderno e tradicional, consciente do seu passado, mas a viver o futuro.
16 Em 1942, António Ferro promoveu uma exposição do britânico Cecil Beaton, já então um fotógrafo de prestígio, conhecido pelos seus retratos sofisticados e produções de moda, na Vogue como nos círculos de Hollywood. Beaton fora pago pelo governo britânico para fotografar as personagens políticas do Portugal de Salazar, mas Ferro compreendeu a oportunidade única de poder mostrar ao público do Palácio Foz um Carmona, um Cerejeira ou um Duarte Pacheco. Este último, de cigarro entre os dedos, a olhar para um mapa de Lisboa, um belo homem fotografado como um ator de cinema. Esta foi, talvez, uma das raras oportunidades para Ferro mostrar algo de «internacional» em Portugal. Como demonstram muitos casos referidos no livro de Acciaiuoli, era quase sempre Portugal a ser exportado para fora – os pavilhões de Portugal nas exposições internacionais, os redescobertos Pauliteiros de Miranda no Royal Albert Hall de Londres em 1933, a exposição de arte popular portuguesa em Genebra, em 1935, ou a companhia de bailado Verde-Gaio apresentada num teatro parisiense em 1949.
17 O arquivo fotográfico do SPN/SNI, hoje na Torre do Tombo, é o arquivo de um Portugal de Trás-os-Montes a Timor. Um Portugal que se podia fotografar e que se podia divulgar. Estas imagens eram usadas nas múltiplas publicações do SNI, mas também cedidas para os portugueses ou estrangeiros que quisessem participar nesta divulgação. O guia de Portugal para estrangeiros que a embaixatriz britânica Ann Bridge e Susan Lowndes publicaram em 1949 é exemplo disso7. Muitas das fotografias que ilustram o Selective Traveller in Portugal foram escolhidas pelas autoras no arquivo fotográfico do SNI, instituição que também apoiou, logisticamente, as viagens que as duas inglesas fizeram pelo país nos finais da década de 1940. Um Portugal ainda a preto e branco, feito de igrejas restauradas, casas caiadas, e monumentos modernos em homenagem a feitos antigos – um cânone visual que a ação do SNI contribuiu muito para consolidar e que somente uma revolução política veio perturbar.
18 Este era também um Portugal para «inglês ver». Traduzido em inúmeras línguas e exportado numa linguagem estética moderna, mas não modernista, onde além dos «feitos do passado» se queria mostrar a «obra do presente», com as colónias a ocuparem um lugar central. Mais tarde, o SPN passou a chamar-se Secretariado Nacional da Informação (SNI), assinalando uma passagem da ideia de «propaganda» para a ideia de «informação» que não foi acidental. Mas a ideia de criação de uma «imagem» de Portugal – para fora ou para dentro – esteve sempre presente em Ferro. Nesta consciência e ação de um nacionalismo exportado está um dos aspetos mais fascinantes da sua obra institucional, pois é nela que melhor se consubstanciam as ideias de cosmopolitismo e nacionalismo.
19 Parecia existir uma tensão entre a modernidade tal como ela era sentida por Ferro – da moda ao jazz, na estetização das ditaduras, ou nas potencialidades do visual consubstanciadas na fotografia, nas exposições ou no cinema – e a crescente resignação em aceitar que o caminho cultural de Portugal tinha que ser o de um Portugal «português». Um exemplo poderia ilustrar esta hesitação, ou mesmo conflito, entre diferentes modos de pensar uma política cultural nacionalista. Em 1945, Villas-Boas teve um programa de música jazz na Emissora Nacional, a rádio oficial dirigida por Ferro. Mas, pouco depois, o programa passou para o Rádio Clube Português, por se considerar que não era adequado à ideia de «Portugalidade» que o SNI definia sempre com maior precisão. Tivera Ferro que abdicar do seu «cosmopolitismo» para não suscitar grande oposição do próprio regime? Porque é que o homem que não acreditava no passado, que renegava a nostalgia e a saudade, e que tanto tinha escrito sobre a necessidade da arte e da escrita celebrarem o presente, e mesmo o futuro, colaborava agora na construção de uma estética do passado português?
20 António Ferro. A vertigem da palavra teria beneficiado com abordagens de género, com um outro uso das fotografias fascinantes que o ilustram, com uma maior distanciação do discurso oficial das próprias fontes para melhor explorar as vozes de resistência e, também, com uma abordagem transnacional do assunto, atenta àquilo que de semelhante se passava para lá das fronteiras nacionais. O livro dialoga com os textos do seu biografado, dando-nos uma súmula muito útil do pensamento de Ferro, mais do que com uma bibliografia secundária de teses de doutoramento já publicadas ou por publicar. Do livro de Ellen Sapega, Consensus and Debate in Salazar’s Portugal: Visual and Literary Negotiations of the National Text, 1933-19488, ou o de Vera Alves, sobre arte popular e nação no Estado Novo9, à tese recente de Marta Prista sobre as Pousadas de Portugal10, são muitas as investigações interessantes que sobre este período têm sido realizados. Falta, agora, desenvolver uma maior consciência do contexto cultural internacional em abordagens transnacionais e comparativas.
21 Este é um livro bem escrito e com referências especialmente interessantes para a história dos museus, exposições e arquitetura do Estado Novo, onde uma narrativa mais centrada na figura de Ferro, e sobretudo no seu discurso, é intercalada com referências à cultura oficial do tempo. Tal como o nome da revista criada por Ferro para divulgar a cultura e a arte portuguesas, este livro constitui um panorama para quem se interesse pela história cultural, e política, do período. Desperta a curiosidade para outras leituras sobre o assunto, para a própria obra de Ferro e para os muitos traços estéticos e monumentais que a «política do espírito» deixou nas ruas e edifícios do país. Porém, cabe ao leitor assumir um papel ativo. Lendo para lá da voz reproduzida do biografado e interpelando uma narrativa que por vezes oficializa a história oficial. Sem problematização, a estética do Estado Novo, com a sua atração inegável, corre o risco de se despolitizar, e nos deixar com saudades de brincar, na ilusão da liberdade infantil, no Portugal dos Pequeninos.
Notas
1 António Ferro, A Idade do Jazz Band, São Paulo, Monteiro Lobato, 1923.
2 António Ferro, «L’État Nouveau», pp. 10’88-15, Encyclopédie Française publiée sous la direction gen (…)
3 Virginia Woolf, Um Quarto que seja seu, pref. de Maria Isabel Barreno, trad. de Maria Emília Ferros (…)
4 António Ferro, Colette, Colette Willy, Colette , Lisboa – Porto, H. Antunes, 1921.
5 As suas obras foram recentemente republicadas: Fernanda de Castro, Obra literária completa, com a i (…)
6 Barros, J. Leitão (dir.), Portugal 1940, Lisboa, Secretariado da Propaganda Nacional, 1940.
7 Bridge, Ann e Susan Lowndes, The Selective Traveller in Portugal, Londres, Chatto & Windus, 1949.
8Sapega, Ellen W., Consensus and Debate in Salazar’s Portugal: Visual and Literary Negotiations of t (…)
9Alves, Vera Marques, Arte Popular e nação no Estado Novo. A política folclorista do Secretariado de (…)
10Prista, Marta, Discursos sobre o Passado: Investimentos Patrimoniais nas Pousadas de Portugal, Lisb (…)
Filipa Lowndes Vicente – Investigadora Auxiliar no Instituto de Ciências Sociais (UL). E-mail: filipa.vicente@ics.ulisboa.pt
A Separação do Estado e da Igreja. Concórdia e conflito entre a Primeira República e o Catolicismo – MATOS (LH)
MATOS, Luís Salgado de. A Separação do Estado e da Igreja. Concórdia e conflito entre a Primeira República e o Catolicismo. Lisboa: D. Quixote, 2011. Resenha de: CARVALHO, David luna de. Ler História, v.65, p. 179-181, 2013.
1 O livro A Separação do Estado e da Igreja. Concórdia e conflito entre a Primeira República e o Catolicismo de Luís Salgado Matos apresenta logo no subtítulo uma indicação preciosa sobre o seu contributo para a historiografia, a de que também houve concórdia no processo de separação do Estado da Igreja! Segundo o autor, o próprio processo de implementação da Lei da Separação demonstra mesmo que numa fase inicial o projeto da lei era de molde a não levantar problemas; devido a um acordo tácito entre o Estado e a Igreja as cultuais eram, na prática, voluntárias e o culto paroquial livre.
2 Não saindo da tradicional vertente da história da I República – a História Política – Luís Salgado Matos inova no entanto ao demonstrar que cada um dos dois intervenientes no processo em análise, o Estado e a Igreja, longe de serem entidades homogéneas, decompunham-se numa heterogeneidade de protagonistas e interesses contraditórios. Para exemplo podemos ver como o autor avalia a sensibilidade em matéria religiosa por parte do Estado, ou seja dos republicanos. A existência de diversas sensibilidades como as dos evolucionistas e unionistas, adeptos de uma política de atração e para quem a Igreja só devia ser reprimida se fizesse política contra a República, até aos democráticos, considerados como os mais radicais e para quem defender a República era reprimir a igreja já era conhecida, mas Salgado Matos debruça-se ainda sobre outra categoria, a dos laicistas. O autor demonstra que os mais radicais não foram os democráticos, mas sim os laicistas. Estes consideravam a religião como algo a extinguir ao contrário dos democráticos que a concebiam de um modo positivo.
3 Partilhando a conceção de que a questão religiosa foi central na «vida e morte» da I República, Salgado Matos demonstra como a organização política esteve refém da «dialética dos extremos», quer no interior do Estado Republicano quer no da Igreja Católica. No campo republicano, o do Estado, a tendência laicista mais radical pressionava a corrente laica e no campo do Catolicismo os católicos monárquicos constitucionais, representados pelo rei exilado, D. Manuel, pressionavam a hierarquia eclesiástica e os partidários da indiferença face à questão do regime político, como os membros do Centro Católico.
4 Os republicanos laicos, pretendendo um relacionamento com o topo da hierarquia católica, o Vaticano, não conseguiam dissociar-se de um laicismo intolerante, de tal modo que fundamentavam a importância dessa relação praticamente apenas na salvaguarda do empreendimento colonial. A hierarquia católica, reforçada por já não partilhar o seu poder com o Estado Regalista, não se demarcou das ofensivas monárquicas e do próprio constrangimento proveniente do rei exilado ser considerado um rei «fidelíssimo», tornando-se «refém do seu imaginário de vítima perseguida».
5 No cerne de toda a questão religiosa esteve, segundo o autor, a questão da personalidade jurídica da Igreja Católica. Contrariamente às teses que consideram que o Estado republicano era irredutível, atribuindo a personalidade jurídica apenas à associação dos cidadãos crentes em cultuais e que a Igreja também o era, considerando apenas a hierarquia eclesiástica, para Luís Salgado Matos houve entendimentos que consideravam soluções intermédias. Estas soluções existiam no próprio texto da lei, pois as cultuais aí consagradas constituíam mais de que uma categoria, além das cultuais a serem criadas de novo existiam também as cultuais baseadas em organizações tradicionais como as misericórdias, irmandades e outras instituições seculares da Igreja. Ainda que as Irmandades tivessem de alterar os seus estatutos, muitas não o fizeram, não sendo postas em causa e, além disso, não tardou que existisse legislação atribuindo ao clero a acreditação dos membros cultualistas como católicos. Esta foi uma solução de compromisso aceite pelos moderados de ambas as partes e contrariada pelos seus extremistas, demonstrando que a Lei da Separação portuguesa não era uma cópia da lei francesa de 1905, mas sim uma lei original.
6 As irmandades foram, segundo o autor, o terreno de encontro entre o Estado e a Igreja e esta prática remontava ao Estado monárquico liberal. O desejo dos republicanos laicos era o de uma reconfiguração que não abandonasse totalmente o regalismo, tendo chegado a negociar com o Vaticano e com os bispos antes da publicação da Lei da Separação, algo que o papa de então, Pio X não aceitou. Posteriormente, sobretudo devido a um novo papa, Bento XV, advogando uma política de ralliement, e a Sidónio Pais, com medidas segundo as quais os associados teriam de ter o aval do clero, a questão religiosa foi resolvida em termos institucionais.
7 Com o cuidado de não equiparar a separação da Igreja do Estado com a Lei da Separação, pois que aquela foi realizada também em muitas medidas anteriores a esta, a tese fundamental de Salgado Matos é a de que nem o Estado nem a Igreja pretendiam a separação que acabou por ocorrer, mas após o processo se ter iniciado cada uma das entidades foi ultrapassada e os seus objetivos alterados de um modo antes inimaginável. A divulgação da pastoral dos bispos em fevereiro de 1911 constituiu o marco dessa clivagem, não obstante o culto ter prosseguido com normalidade na maioria das paróquias. Mesmo com a sua conciliação depois da primeira guerra, nem o Estado republicano nem a Igreja católica tinham conseguido dominar os seus extremistas.
8 Sendo eu próprio um historiador da «Separação» em Portugal, embora numa perspetiva menos política e mais social e cultural, as conclusões de Luís Salgado Matos são particularmente preciosas, não apenas por aquelas que são coincidentes, mas também devido às que são divergentes.
9 No que respeita a conclusões convergentes com as minhas existe uma coincidência fundamental, concluímos ambos não ter existido uma guerra religiosa no processo de laicização e o autor considera que esse processo não constituiu uma perseguição, mas apenas um combate, com a «violência de forças opostas».
10 No respeitante a conclusões divergentes será muito interessante tentar perceber a sua razão de ser. Pela minha parte pude concluir que a faceta mais conflitual da «Separação» se tinha verificado no contexto da realização dos cultos, pois a grande maioria dos tumultos inventariados referia o constrangimento desses atos como pretextos de rebelião. Para Luís Salgado Matos, porém, o fulcro do conflito entre o Estado e a Igreja foi o da organização dos cultos uma vez que colocava em causa a personalidade jurídica da Igreja. Creio que esta divergência se deve exatamente ao diferente tipo de universo que ambos estudámos, no meu caso observei as reações dos fiéis comuns face aos implementadores locais da lei, enquanto Luís Salgado Matos observou essas reações sobretudo no topo das duas esferas, o Estado e a Igreja. Mais difícil de explicar é o autor não ter atribuído importância à «Lei do Registo Civil Obrigatório», anterior à «Lei da Separação», no que diz respeito à sua prescrição de proibição do cortejo fúnebre religioso no espaço público. Na minha inventariação de conflitos o maior pico mensal de tumultos verificou-se precisamente após a implementação dessa medida. Porque não terá havido eco nas esferas superiores da contenda, quando sabemos que foi a única ocasião em que os mais altos representantes do Estado republicano consideraram a possibilidade de um «conflito passional de natureza religiosa»?
11 A terminar uma breve alusão positiva à preocupação do autor em explicitar constantemente o significado de muitos conceitos pouco acessíveis a quem não tiver alguma especialização neste domínio, algo que não é muito vulgar!
David Luna de Carvalho – Doutorado em História Contemporânea e investigador do Centro de Estudos de História Contemporânea (ISCTE-IUL). E-mail: davidlunadecarvalho@gmail.com.
As Armas de Papel – PEREIRA (LH)
PEREIRA, José Pacheco. As Armas de Papel. Lisboa: Temas e Debates/Círculo de Leitores, 2013. Resenha de: CORDEIRO, José Manuel Lopes. O problema dos stencils que se rasgavam. Ler História, n.64, p. 221-228, 2013.
1 Nos últimos anos tem-se assistido ao surgimento de inúmeros trabalhos sobre a história da extrema-esquerda na década final do Estado Novo, desde livros e artigos académicos a teses de mestrado e de doutoramento, assim como à realização de Encontros, Seminários, Conferências ou Debates sobre esta temática. Este interesse resulta de uma nova geração de investigadores que despontou para o estudo da história desta corrente, assim como do reconhecimento da importância que a mesma então exerceu junto de vários setores da sociedade portuguesa e, também, do distanciamento com que é já encarada, permitindo uma análise objetiva e aprofundada.
2 José Pacheco Pereira vem agora prestar o seu contributo com a publicação de um livro interessante, As Armas de Papel (Temas & Debates/Círculo de Leitores, 2013), que se propõe constituir um repertório sobre as «publicações periódicas clandestinas e do exílio ligadas a movimentos radicais de esquerda cultural e política», editadas entre 1963 e 1974.
3 O livro é constituído essencialmente por duas partes. A primeira, aborda de uma forma muito completa os vários aspetos relacionados com a produção deste tipo de publicações, nas décadas de sessenta e setenta, até ao 25 de abril, tais como as suas diferentes tipologias, os meios técnicos e tecnologias adotadas, as tiragens e a periodicidade, o grafismo, o texto, a distribuição, contemplando ainda a sua cronologia e geografia, ilustradas com inúmeros exemplos dessas publicações e dos diversos equipamentos técnicos então utilizados. Apresenta, também, os critérios para a inclusão das publicações recenseadas, tendo em consideração as características que então definiam a extrema-esquerda e a esquerda radical.
4 A primeira parte do livro, a mais original, constitui muito mais do que a mera enumeração dos aspetos relacionados com a produção destas publicações, uma vez que analisa muitas das características das organizações que as editavam e as condições em que as mesmas atuavam, efetuando também uma abordagem daquele período. Dá-nos conta do universo muito rico e diversificado em que estas organizações se movimentavam, proporcionando elementos úteis para a compreensão daquela época, em Portugal e no exílio, assim como dos contornos políticos deste tipo de oposição, mais radical. A profundidade que aplica na análise faz com que constitua a parte mais bem conseguida do livro e a que mais se aproxima do anunciado desiderato de contribuir para o «retrato de uma geração».
5 Esta primeira parte não está, contudo, isenta de pequenos erros [a organização referida na p. 62 são os CCR (M-L) e não a OCMLP, para além de que a crise que afetou esta última em março-abril de 1974 não teve uma grande implicação na edição do O Grito do Povo, que continuou a ser publicado] e de imprecisões [quando afirma que «os textos da segunda metade da década de sessenta, já influenciados pela Revolução Cultural, como são tipicamente os do MRPP» (p. 91), pois este só foi fundado em setembro de 1970]. Mas são de outra natureza as observações que aqui merecem ser destacadas. Assim, é incompreensível afirmar, com base no n.º 2 do jornal, que a retirada da foice e martelo do título (cabeçalho) do O Grito do Povo (p. 78), resultava da necessidade de o «marcar» menos politicamente quando, no próprio exemplar que utilizou para fazer tal afirmação se vê claramente que o símbolo do comunismo permanece na primeira página, com grande destaque, para além de que regressará ao título logo no n.º 3, de onde, aliás, não mais sairá até ao final da sua publicação, em maio de 1987. Trata-se, numa apreciação benévola, de um erro (grosseiro) de interpretação. Quanto à alteração do cabeçalho do jornal, a verdadeira razão deveu-se ao facto de a substituição da letra «G» pela foice e martelo poder originar uma leitura errada do título, confundindo-se com «O Rito do Povo». É também pouco rigoroso afirmar que os conflitos existentes em algumas escolas do Porto tinham como protagonistas «militantes da UEC (M-L) e os da OCMLP» (p. 99), uma vez que os militantes estudantis desta última estavam organizados nos CREC’s, para além de que os membros da OCMLP não atuavam no meio estudantil. Constitui também uma interpretação pouco rigorosa, afirmar que em 1974 se verificou «um certo esgotamento do espaço político da extrema-esquerda pelos títulos já existentes» (p. 106) – não poderiam surgir, continuamente, novos títulos –, retomada na entrevista ao Diário de Notícias (de 16 de março), ao declarar que as publicações de extrema-esquerda, «na prática» acabaram com o 25 de abril «porque vivem do clandestino e do exílio» (p. 14), embora, como é sobejamente conhecido, tenha sido o contrário o que se verificou. Explicando melhor o seu ponto de vista, reitera que «existe também uma crise do esquerdismo em vésperas do 25 de abril, em que se verifica uma tendência para a social-democratização devido a um esgotamento destas organizações» (Diário de Notícias, p. 14). Tendência essa que apenas o autor conseguiu detetar.
6 A explicação que oferece sobre uma putativa mudança de títulos (p. 110) que se teria verificado após o 25 de abril também não é correta. Primeiro, no que respeita à quase totalidade das organizações, não existiu qualquer mudança de títulos; segundo, o exemplo citado do PCP (R) ocorreu já muito depois do 25 de abril, no rescaldo do período revolucionário, e por razões óbvias; terceiro, provavelmente não sabe, mas Diógenes Arruda – que, na prática, dirigia então aquele partido – defendeu que no Norte, o PCP (R) deveria relançar O Grito do Povo (não saberia que se continuava a publicar, pela OCMLP reorganizada), devido à tradição que o jornal tinha naquela região. Surpreendentemente, Pacheco Pereira também não levou em consideração a única fonte disponível para se conhecerem com exatidão as condições em que se publicava e difundia um dos jornais clandestinos editado a partir de 1969, o Unidade Popular, do CMLP/PCP (M-L). Aquando da comemoração do seu 10.º aniversário, o jornal publicou uma série de artigos que revelaram, pela primeira vez e de uma forma muito pormenorizada, os mais diversos aspetos ligados à sua redação, produção e distribuição antes do 25 de abril, artigos que foram ignorados pelo autor ou cuja existência este desconhece.
7 A segunda parte do livro constitui um repertório da imprensa clandestina publicada em Portugal e no exílio, de 1963 ao 25 de abril de 1974, recenseando 158 títulos, correspondendo a cada um deles uma entrada. É mais do que um simples repertório, efetuando também uma apreciação de alguns dos aspetos da história das organizações que os publicavam, embora numa perspetiva que obnubila uma das componentes essenciais da análise. De facto, o conteúdo desta imprensa, principalmente o das publicações especificamente editadas para a luta política imediata, tem de ser analisado, precisamente, nessa perspetiva, compreendendo os seus objetivos e o respetivo contexto; por esta razão é que não fazem sentido as observações, expostas ainda na primeira parte, acerca da sua superficialidade, a «língua de pau» utilizada, a sua «ortodoxia política», os «slogans», a falta de «criatividade» e de «imaginação» (p. 91), de «que não se podia soltar a caneta» ou a perda da «espontaneidade inicial» (Diário de Notícias, p. 15). Terão sido só «slogans» e linguagem «de pau»? Estas organizações não desenvolviam atividade política? Não será este o aspeto fundamental a considerar na apreciação histórica da sua atuação? Esta visão redutora também não pode ser encarada como correspondendo à totalidade daquelas publicações, bastando para tal consultar, por exemplo, os textos da «Revolução Popular» ou da «Estrela Vermelha». Aliás o autor acaba por reconhecer que tal tinha muito a «ver com as condições de clandestinidade e de repressão que não favoreciam um pensamento e uma linguagem mais soltos do dogma» (p. 94), se bem que, ancorado no seu próprio dogma, o que classifica depreciativamente como «dogmas» não sejam mais do que as respetivas orientações ideológicas e políticas.
8 O contributo de Pacheco Pereira para o conhecimento da história da imprensa da extrema-esquerda assume um maior interesse no que respeita às publicações (e organizações) não marxistas-leninistas, uma vez que estas últimas têm sido objeto de um maior número de estudos, alguns deles bastante aprofundados. Destacam-se, em particular, as entradas relativas ao BAC, CIP, Cadernos de Circunstância, Cadernos Necessários e Polémica. No entanto, possivelmente porque não teve conhecimento do mesmo, não levou em consideração um incontornável artigo de Fernando Medeiros sobre os primórdios (1965/66) dos Cadernos de Circunstância, onde este explica a gestação e a maturação daquele projeto.
9 Variando na sua dimensão, de acordo com a importância e longevidade das publicações, o conjunto das entradas permite a compreensão de algumas das suas características, assim como das vicissitudes por que passaram as organizações que as editavam, principalmente no exílio, para cujo estudo as fontes são mais detalhadas. No que respeita às publicações do interior do país, nota-se uma maior dificuldade em proceder do mesmo modo, principalmente porque, como veremos, revela desconhecer aspetos importantes da história das organizações que as publicavam.
10 Num país em que não há grande tradição de publicar repertórios temáticos, como acontece por exemplo no mundo anglo-saxónico, merece ser destacado o trabalho de compilação efetuado. É uma obra útil, não apenas para os arquivos e bibliotecas, como refere, mas principalmente para os investigadores, que não refere, em especial para uma nova geração de jovens investigadores que tem descoberto e continua a descobrir esta temática da extrema-esquerda antes do 25 de abril, encontrando aqui um ponto de partida. Aliás, para os arquivos, não terá assim tanta utilidade, pois os poucos que conservam este tipo de publicações já as têm devidamente identificadas. No entanto, ao não nomear as bibliotecas e arquivos onde é possível consultá-las – para além, subentende-se, no arquivo da Marmeleira –, retira ao repertório uma das suas funções essenciais.
11 Uma das características fundamentais deste tipo de livros, e que deriva do próprio facto de constituírem obras de referência, é a do indispensável rigor dos dados que apresentam, sob pena de não corresponderem ao principal objetivo com que são elaborados. O rigor é fundamental, e sem rigor não há obra de referência. E, neste domínio, o livro ostenta um número demasiado elevado de incorreções, algumas delas surpreendentes, pois o autor apresenta-se como uma autoridade na matéria. É certo que, prudentemente, Pacheco Pereira assume uma inaudita postura defensiva, alertando que possivelmente haverá erros e omissões, que serão colmatados no seu blog: «irei progressivamente colocar em linha no site pessoal dedicado ao meu próprio arquivo (Ephemera), estas publicações em formato digital, assim como todas as informações (e correções) complementares que entretanto venham completar este livro» (p. 18). Mas não é a mesma coisa, nem é tão prático como um livro, pois muitos dos leitores poderão não ter conhecimento dessas eventuais correções, e só uma nova edição desta obra, (bastante) corrigida, poderá obviar o problema. Também há erros e erros. Alguns serão compreensíveis e, até, inevitáveis, em virtude da investigação não se encontrar esgotada; outros inaceitáveis, particularmente numa obra que se pretende de referência, na qual o autor trabalhou vinte anos, ou mais, lendo estas publicações «com frequência, duas ou três vezes» (p. 18), e relativa a uma temática em que, segundo o próprio, só «uma pequena minoria, que nalguns casos até foi só de um, que fui eu, começou a tentar fazer a história da esquerda, particularmente do PC e hoje da extrema-esquerda» (entrevista à SIC, em 5 de março). Deste modo, a fim de que os investigadores que vierem a debruçar-se sobre esta temática não repitam esses erros, assinalaremos alguns dos mais significativos, agrupando-os por categorias, prestando assim um primeiro contributo para as correções a inserir no Ephemera.
12 Denominações erradas de organizações: é surpreendente que o autor, que foi dirigente do PCP (M-L), o denomine por Partido Comunista Português (e não, de Portugal) (Marxista-Leninista) (p. 14). Aliás, sucede o mesmo em inúmeros «posts» que já publicou no Ephemera. Poderá parecer uma questão bizantina, ou apenas formal, mas na realidade é importante, tanto mais que constituía uma das condições (a 17.ª) estipuladas em 1920 para a admissão dos partidos na Internacional Comunista, um património que a corrente «antirrevisionista» pretendia recuperar. Também o nome do MRPP aparece como Movimento Revolucionário (e não Reorganizativo) do Partido do Proletariado (p. 14). Mas o caso mais enigmático é o da sigla PC de P (M-L) (pp. 14, 31 e 484). Poderia tratar-se do PCP (M-L), mas este nunca grafou desse modo a sua sigla, embora alguns dos seus antagonistas, por vezes, o tenham feito. A determinada altura do texto percebe-se que a organização a que se refere é o Partido Comunista de Portugal (em construção), mais conhecido por «O Bolchevista». Só que, até setembro de 1974, não se denominava PC de P (e.c.) – nem, muito menos, PC de P (M-L) –, mas sim Comité Marxista-Leninista de Portugal (CML de P), pelo que seria esta a denominação correta com que deveria ter sido designado no repertório.
13 Incorreções relativas aos títulos recenseados: Boletim (p. 186): a referência da sua ligação à LCI não faz sentido uma vez que esta organização só foi fundada em 1973, devendo ser atribuída aos Grupos de Ação Comunista (GAC); CAP (p. 255): não era realizada por estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa, mas sim por Fernando Rosas e Maria da Conceição Lino Neto; EDE (p. 289): os textos que publicava não eram dos autores que cita, tendo sido todos escritos por Fernando Rosas, como este já revelou em público, pelo menos por duas vezes; Luta Operária e Luta Operária. Marxista-Leninista (pp. 403 e 406): embora refira que o segundo é a continuação do primeiro, o facto de o jornal manter a numeração sequencial não justificava duas entradas independentes – pois, na realidade, não são dois jornais diferentes, mas o mesmo jornal, que a partir do n.º 6 acrescentou um subtítulo –, tal como procedeu, corretamente, para com O Grito do Povo, que inicialmente tinha como subtítulo «jornal operário comunista» e, depois, «órgão da OCMLP», mantendo igualmente a numeração sequencial. Aliás, foi esse o critério adotado pelo Centro de Documentação 25 de abril. O Partido (p. 441): a OCMLP não teve «vários» boletins internos, apenas dois; afirma também que «não foi possível verificar» se a sua publicação se iniciou antes do 25 de abril, mas poderia tê-lo feito muito facilmente, evitando incluir um título que só surgiu após aquela data e que, por conseguinte, não devia constar no repertório. Seara Vermelha (p. 513): ao contrário do que afirma, a revista não deixou de se publicar após o 25 de abril, tendo sido editados mais oito números, até 1978.
14 Incorreções sobre a história das organizações: LCI (p. 320): a LCI não podia ter participado na crítica às eleições de outubro de 1973 pois só foi fundada em dezembro desse ano; as posições trotskistas eram então defendidas pelos GAC; O Grito do Povo (pp. 325-330): em relação à Organização que publicava este jornal e que veio a denominar-se OCMLP há inúmeras incorreções, entre as quais: o «Américo» não foi o responsável pela imprensa (p. 325) mas sim pela última tipografia clandestina, o que é bem diferente; o nome OPR (p. 326) nunca foi usado em público, apenas era conhecido internamente, e só no início da sua atividade; é também errado afirmar que o setor Sul do «O Comunista» não queria aceitar o «O Grito do Povo» (p. 328) como direção do interior, pois essa questão apenas foi discutida no exterior; não existiu uma mera fusão das duas organizações (p. 328), mas sim a integração do «O Comunista» na Organização do «O Grito do Povo», o que é completamente distinto, com base na aceitação por parte daquele de um documento com 14 exigências, entre as quais a que envolvia a sua clara opção pelo marxismo-leninismo e a subordinação do exterior ao interior; as cisões verificadas no «O Comunista» (p. 329) não se deveram a um suposto conflito exterior-interior, tendo sido a consequência natural da luta ideológica travada no exterior, que fora exigida pelo «O Grito do Povo».
15 Incorreções sobre os militantes das várias organizações: MRPP: Arnaldo Matos nunca foi do PCP (p. 289); OCMLP: entre os fundadores falta Rui Loza (p. 325), que foi o seu principal dirigente após a prisão de Pedro Baptista; uma das debilidades do livro diz respeito, precisamente, à enorme falta de rigor com que o autor se refere à composição dos membros das diferentes organizações (principalmente das m-l) e aos cargos que exerciam como, por exemplo, se verifica com a FEM-L e os CREC’s; assim, quanto à FEM-L (p. 330): Fernando Rosas só exerceu as funções de controleiro até à sua prisão em agosto de 1971, cargo que depois passou para Danilo Matos; o autor atribui indiscriminadamente vários militantes à FEM-L, mas não refere os seus fundadores, que foram Danilo Matos, Camilo Inácio e Duarte Teives, embora este a tenha abandonado; quanto ao CREC de Coimbra (p. 518): a sua primeira composição, responsável pela edição do Servir o Povo, contava apenas com José Queirós, Rui Carmo e Teresa Veludo; alguns dos outros nomes referidos nunca integraram a Organização dos CREC’s.
16 Pequenas incorreções: o nome da Sociedade de Construções Eletromecânicas, de São Mamede de Infesta, é SEPSA e não CEPSA (p. 423); o mesmo se verifica com Francisco Martins Rodrigues, que aparece como Francisco Maria Rodrigues (p. 477); e, já agora, não me chamo Lopes Cardoso (p. 130). No Índice Remissivo, algumas das páginas indicadas não correspondem ao autor citado; também não se compreende que algumas das capas reproduzidas estejam cortadas. Aliás, quanto aos aspetos gráficos e formais, é inevitável comparar este livro com um outro publicado em 2011 no Brasil sobre idêntica temática (As Capas desta História. A imprensa alternativa, clandestina e no exílio, no período 1964-1979, Instituto Vladimir Herzog) e constatar como é possível apresentá-los de um modo exemplar.
17 Relativamente à imprensa selecionada para o repertório é muito discutível incluir publicações das correntes associativas estudantis e não o fazer para as de carácter mais abertamente político, como as do MAESL (Intervalo e Ao Trabalho, assim como os vários jornais que publicava por escola, O Grito, Movimento outubro, Impulso, etc). Para além de vários títulos em falta, há também uma quantidade considerável de jornais paralegais que não foram incluídos – de organismos culturais, cooperativas, círculos culturais, etc –, animados pela extrema-esquerda, que um pequeno esforço de investigação no Centro de Documentação 25 de abril, ou o contacto com outros investigadores, resolveria facilmente, embora, como é óbvio, o autor esteja no seu pleno direito de efetuar um «trabalho individual» (p. 17). Contudo, ao assumir essa postura de auto-exclusão da comunidade científica (que inclui «não académicos»), que há muitos anos tem vindo a investigar a história da extrema-esquerda e já proporcionou várias teses de mestrado e uma de doutoramento (premiada), para além das que estão em curso, o autor ignora (e desconsidera) o que tem sido debatido, estudado e publicado. Caso contrário, não só evitaria alguns dos erros «de palmatória» acima apontados, como não teria qualquer dificuldade em obter exemplares de todos (e de mais alguns) os títulos que refere «não ter sido possível encontrar algum exemplar». Deste modo, não é surpreendente que não se iniba em afirmar que «tenho consciência de que a história da imprensa clandestina esquerdista e radical nos últimos quinze anos da ditadura começa aqui» (p. 20) ou que «90% da informação sobre estas publicações é inédita» (Diário de Notícias, p. 15).
18 Em suma, um trabalho desequilibrado, com um bom ensaio inicial (não isento de incorreções), algumas entradas muito boas, mas com demasiados erros, omissões e imprecisões, assim como vários casos de investigação deficiente, numa obra que se pretende de referência. Incorreções, algumas delas tão flagrantes, que só se podem compreender no caso de o livro não ter sido sujeito a uma adequada revisão editorial (como o próprio diria, no seu programa da SIC «Ponto/Contraponto», «mau trabalho»). Apesar de ter sido recebido acriticamente pela comunicação social – o Jornal de Letras (de 6 de março) considerou-o uma «investigação excecional» (sic) –, pelo acima exposto facilmente se constata que, independentemente dos aspetos positivos já assinalados e do interesse geral que o livro apresenta, o autor desperdiçou uma boa oportunidade para elaborar uma exemplar obra de referência.
José Manuel Lopes Cordeiro – Professor auxiliar do Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e investigador do Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória». E-mail:
cordeiro@ics.uminho.pt.
Património Arquitetónico e arqueológico. Noção e Normas de proteção – LOPES (LH)
LOPES, Flávio. Património Arquitetónico e arqueológico. Noção e Normas de proteção. Lisboa: Caleidoscópio, 2012. Resenha de: VIEIRA, Clara Bracinha. Ler História, n.63, p. 199-203, 2012.
1 A obra consiste numa análise das políticas de salvaguarda do património cultural em Portugal, nos últimos cem anos, através da investigação sobre a legislação aplicável e o conceito de património cultural imóvel.
2 Flávio Lopes é arquiteto e executa, desde há mais de duas décadas, tarefas no âmbito da proteção do património edificado, como técnico no Instituto Português do Património Cultural (IPPC), depois IPPAR e IGESPAR, tendo desempenhado em diversos momentos funções de direção e, assim, acompanhado as mudanças políticas e as consequentes alterações dos conceitos e das prioridades.
3 Na primeira parte da obra, é analisada a evolução histórica do quadro legislativo e dos procedimentos para a conservação dos bens imóveis com valor histórico ou artístico, de 1901 a 2001. Na segunda parte é feito um resumo dos conteúdos da legislação posterior a 2001.
4 Começando pelo Alvará de 20 de agosto de 1721 constata-se a determinação de inventariação e conservação de todos os monumentos antigos que expressam o passado de Portugal.
5 Com a extinção das ordens religiosas em 1834, colocou-se a questão de saber o que fazer com os edifícios notáveis das igrejas e conventos reconhecendo-se a importância da sua conservação. É mencionada a corrente de opinião que levou o Estado a fazer obras de restauro em alguns dos monumentos mais representativos e, em 1880, a constituir a Lista dos Edifícios Monumentais do Reino.
6 Mas é sobretudo sobre o período que decorre de 1901 a 2001 que incide o estudo. Logo em 1901 foi aprovada a orgânica do Conselho dos Monumentos Nacionais a quem competia estudar e propor as medidas de preservação do património monumental, e aprovado o decreto que estabelece os critérios de classificação, assentes em valores históricos, arqueológicos e artísticos. São classificados 454 monumentos nacionais. O mesmo decreto prevê expropriações e o conflito de interesses públicos e privados.
7 Com a República foram mais uma vez extintas ordens religiosas e agudizou-se a urgência de acautelar a preservação do património edificado, sendo nesse contexto criado, em 1911, o Conselho de Arte e Arqueologia que tinha como missão proceder à classificação dos monumentos, bem como propor e apreciar projetos de restauro. É ainda prevista a possibilidade do Estado executar obras nos edifícios classificados de propriedade particular se provada a incapacidade financeira dos seus proprietários para as realizar.
8 A partir de 1919 é ao Ministério da Educação Pública que cabe decidir sobre o património monumental. Em 1924, a Lei n.º 1700 permitiu a intervenção do Estado nos espaços envolventes dos imóveis classificados que deles distassem menos de 50 m, possibilitando o exercício do direito de preferência de compra e a expropriação para a demolição de edifícios, alegando motivos estéticos, de insalubridade ou de enquadramento. A expressão «Imóvel de Interesse Público» passa a ser usada para designar os imóveis com considerável interesse artístico, histórico ou turístico.
9 De 1926 a 1932, três diplomas legais criam a possibilidade de classificação do património arquitetónico e arqueológico em graduações inferiores à de monumento nacional, estabelecem proteção aos bens em vias de classificação e instituem zonas de proteção. Nessas zonas é obrigatório parecer do Conselho Superior de Belas Artes para novas construções ou intervenções no existente.
10 A difusão das teorias de Giovannoni sobre o interesse na proteção
das áreas envolventes dos bens classificados leva à publicação, em 1932, do decreto que aprofunda a noção de proteção da envolvente dos bens classificados e cria a possibilidade de demarcação de áreas vedadas à construção, acautelando o enquadramento urbanístico, artístico e paisagístico.
11 Entretanto, em 1929, depois de uma disputa de poderes entre o ministério que tutelava as obras públicas e o Ministério da Instrução Pública e Belas Artes, é criada a DGEMN, a quem caberá conservar e restaurar o património monumental e elaborar propostas de delimitação de zonas de proteção de monumentos nacionais e de imóveis de interesse público, excluindo os imóveis sob tutela das forças armadas.
12 Em 1936, foi extinto o Conselho Superior de Belas Artes e criada a Junta Nacional de Educação, a quem coube a responsabilidade da proteção de monumentos e na área da arqueologia. A zona de proteção do património arquitetónico era agora entendida como defesa estética. Quanto à proteção dos terrenos envolventes das escavações arqueológicas, foi fundamentada pela necessidade de precaver futuras escavações.
13 Em dezembro de 1940, foi estabelecida uma nova divisão administrativa do país e atribuídas às câmaras municipais competências para as tarefas de preservação, defesa e aproveitamento dos monumentos e da paisagem, e para as apoiar foram criadas as Comissões de Arte e Arqueologia que emitiam pareceres e sugeriam às câmaras municipais o que entendessem conveniente para a preservação dos valores arquitetónicos e valores paisagísticos e para o desenvolvimento turístico.
14 A primeira referência legislativa à classificação de conjuntos classificados foi feita em 1948, com a classificação do aglomerado urbano de Marvão.
15 Em 1949, as câmaras municipais passaram a poder propor a classificação como monumento nacional ou imóvel de interesse público, de elementos ou conjuntos com valor arqueológico, histórico, artístico ou paisagístico que existissem no concelho, promovendo a sua classificação como valor concelhio.
16 Quanto às competências dos responsáveis pelos projetos de novas construções em zonas de proteção de monumentos houve, em 1954, a determinação de serem assinados por arquitetos ou por construtores civis. Mas só em 1988, será atribuída exclusivamente aos arquitetos a responsabilidade de subscrever projetos de arquitetura de obras de recuperação, conservação, adaptação ou alteração dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação e das respetivas zonas de proteção.
17 A Junta Nacional de Educação verá as suas atribuições regulamentadas e consolidadas em 1965, em 1970 e em 1971, mas é então criada a Direção-Geral dos Assuntos Culturais, com funções de organização do cadastro dos bens inventariados ou classificados e a defesa e valorização de todos os bens culturais.
18 O conceito de «zona de proteção» vai evoluindo criando-se, para além da que decorre da distância de 50m do monumento, a «zona especial de proteção» que exige reconhecimento de utilidade pública.
19 Entre 1975 e 1980, houve reestruturações orgânicas na área da cultura e o Instituto Português do Património Cultural passou a depender da Secretaria de Estado da Cultura, e a ter como competências planear, promover a pesquisa, proteger e salvaguardar os bens do património cultural e definir diretrizes para a defesa e conservação desse património.
20 Os bens imóveis foram agrupados nas categorias de monumentos, conjuntos e sítios, sob influência da Convenção do Património Mundial Cultural e Natural promovida pela UNESCO em 1972.
21 A Lei n.º13/85, de 6 de julho, foi a primeira Lei de Bases do Património Cultural Português, e traduz as orientações do Conselho da Europa. Os critérios de avaliação são baseados nos valores histórico, arqueológico e artístico, mas são acrescentados os «interesses científico, técnico e social». Surgem ainda critérios complementares como os de integridade, autenticidade e exemplaridade. Há disposições para que se mantenha a relação entre o bem cultural e o local onde foi criado, e de proteção ao enquadramento «orgânico, natural ou construído» dos bens culturais imóveis. É o reconhecimento do valor atribuído ao enquadramento.
22 Por outro lado, os proprietários passaram a poder requerer ao Estado, em defesa dos seus interesses, a expropriação dos seus bens quando se localizassem em zonas de proteção.
23 A noção de «conservação integrada» do património cultural, defendida pela UNESCO que, desde 1975, difundia os conceitos de «salvaguarda dos conjuntos históricos» e de «planos de salvaguarda», bem como a Lei Malraux sobre a salvaguarda de áreas urbanas antigas, vem a traduzir-se numa disposição da Lei n.º 13/85 que determina a elaboração de planos de salvaguarda para as áreas classificadas. Os objetivos e o conteúdo material destes planos não estão ainda definidos nesta lei, ficando dependentes de legislação futura. Teve como consequência a aprovação em 1985 do Programa de Reabilitação Urbana (PRU), alterado em 1988 pelo Programa de Reabilitação de Áreas Degradadas (PRAUD), que financiavam a reabilitação de edifícios em áreas degradadas, e levam à delimitação de áreas de reabilitação urbana e criação de gabinetes técnicos locais (GTL).
24 Na segunda parte da obra, são analisadas as normas e os conceitos desde 2001, ano em que foi publicada uma nova Lei de Bases do Património Cultural, até 2012. Nessa altura, a salvaguarda do património cultural estava sob a responsabilidade do IPPAR e do IPA criado em1997.
25 A Lei n.º 107/2001, ao assentar a proteção do património arquitetónico e arqueológico na classificação e inventariação dos bens, responsabilizou os proprietários e as entidades que os administravam pela sua preservação.
26 Foram ainda redefinidos os critérios de classificação, essencialmente os valores estéticos, os valores religiosos, os valores históricos, os valores da memória coletiva e o interesse científico e é feita a conversão das antigas classificações para as novas designações. Assim, os antigos «valores concelhios» passaram a ser «bens de interesse municipal», as categorias de «conjunto» e «sítio» serão objeto de revisão e as anteriores classificações de bens culturais imóveis e zonas de proteção avaliadas caso a caso. Também os conceitos de «conservação» e «restauro» foram alterados, passando a incorporar a compreensão da obra, o conhecimento da sua história e o seu significado, bem como as ações para garantir a sua preservação, restauro e valorização.
27 Em 2007 com o Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE) os dois organismos fundiram-se num único, o Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR). No mesmo ano foram criadas as Direções Regionais de Cultura do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.
28 Em 2012, o Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), a salvaguarda do património arquitetónico e arqueológico ficou a depender da Direção Geral do Património e das Direções Regionais de Cultura do Norte, Centro, Alentejo e Algarve.
29 A alteração dos conceitos levou à alteração dos critérios de classificação, pelo que a lei da Reabilitação Urbana regulamentou as figuras do Plano de Pormenor de Salvaguarda e do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana, permitindo finalmente a sua concretização, de iniciativa municipal, onde ficarão estabelecidas as hierarquias dos valores e regras de gestão urbana dos conjuntos arquitetónicos. Mas mantém-se o parecer vinculativo do IGESPAR, I.P., sobre projetos ou intervenções em imóveis individualmente classificados de interesse nacional mesmo que inseridos em área abrangida por um plano de pormenor de salvaguarda.
30 Estabelece ainda o mecanismo da venda forçada de imóveis, que obriga os proprietários que não realizem as obras a que foram intimados, à alienação dos bens em hasta pública.
31 O último capítulo trata das normas aplicáveis aos bens classificados como Património Mundial, e também dos conceitos e dos critérios de classificação.
32 Da bibliografia constam autores que vão desde os teóricos da preservação de bens culturais até aos juristas que estudaram ou produziram alguma da legislação referida. Nas últimas páginas figura uma utilíssima listagem da legislação referida ao longo do texto, de 1901 a 2012.
33 Da leitura da obra ressaltam como constantes, a disputa pela tutela do património entre a Educação, a Cultura e as Obras Públicas e entre a administração central e a administração local, as tentativas de sobrepor os interesses do Estado aos interesses dos particulares, a influência da UNESCO e do Conselho da Europa na alteração dos conceitos, e o progressivo alargamento do conceito de imóvel classificado, passando do bem individual para a zona envolvente de proteção do monumento e desta para o conjunto arquitetónico e para a área de reabilitação integrada.
34 Não foi mencionada a legislação que regulamenta a proteção das paisagens como, por exemplo, os planos de ordenamento das áreas protegidas que, de outra forma, tiveram também um papel importante na defesa dos valores da paisagem rural portuguesa. Subjacente à sucessiva redação legislativa está a interação dos atores particulares, investidores, técnicos e construtores, com os poderes públicos da administração local e central, espelhada na constante alteração dos conceitos.
35 Falta a avaliação da eficácia deste corpo legislativo na real proteção do património construído e da paisagem em Portugal.
Clara Bracinha Vieira – Doutoranda em História Moderna e Contemporânea no ISCTE-IUL e investigadora do CEHC-ISCTE-IUL. A sua área de investigação são as técnicas de construção em Lisboa. E-mail: claravieira_583@hotmail.com
Bohêmes. De Léonard de Vinci à Picasso [Le Catalogue de l’Exposition] – AMIC (LH)
AMIC, Sylvain (Dir). Bohêmes. De Léonard de Vinci à Picasso [Le Catalogue de l’Exposition]. Paris: Réunion des Musées Nationaux, 2012. Resenha de: VAZ, Cecília. Ler História, n.63, p. 204-207, 2012.
Fait couler le rocher et fleurir le désert
Devant ces voyageurs, pour lesquels est ouvert
L’empire familier des ténèbres futures.
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (1857)
1 A boémia artistica moderna corresponde a um fenómeno cultural, social e político fundamental na História da Arte ocidental. É este tema, a par da exploração das suas origens, que guia a exposição «Bohèmes. De Léonard de Vinci à Picasso», comissariada por Sylvain Amic, que pôde ser vista no Grand Palais em Paris, de 26 de setembro de 2012 a 14 de janeiro de 2013. A mesma exposição é apresentada na Fundación MAPFRE, em Madrid, de 6 de janeiro a 5 de maio de 2013, com o título «Luces de bohemia. Artistas, gitanos y la definición del mundo moderno».
2 Os diferentes títulos espelham a dificuldade linguística na tradução do jogo de linguagem francês. O plural do título reflete uma polissemia que marca o termo que, a partir do século XV, é utilizado genericamente para designar uma série de indivíduos que possuem traços comuns e são reconhecidos por uma vida errante e sem regras. «Bohémien» é sinónimo de vagabundo, nómada ou membro do povo Cigano. De facto, «égyptien» – que em inglês dará origem ao «gypsy» – é outro termo que remete para a mesma realidade, marcada pelo reconhecimento do estrangeiro e de um certo exotismo oriental. Se esta é a aceção original, a própria língua francesa vai, no século XIX, criar um novo sentido que se impõe. A partir de cerca de 1830 o termo é por extensão usado para nomear um movimento artístico que nasce em Paris. Os «bohèmiens» passam a ser também os que vivem uma vida boémia: artistas, pintores, poetas, filósofos e músicos sem formação académica, que se colocam à margem da sociedade e vivem precariamente. Com Murger e o sucesso da sua peça Scénes de la vie bohème (1849), o termo «bohème» e o movimento artístico da boémia impõe-se na linguagem até que a ópera de Puccini (1896) o consagra, tornando-o uma referência universal. A própria língua portuguesa, tal como outras línguas, integra no seu vocabulário o termo «boémio» neste último sentido.
3 As obras artísticas reunidas nesta exposição guiam-nos pelos caminhos desta dicotomia entre a representação artística de uma identidade e a identificação do artista com a identidade que representa.
4 A exposição encontra-se organizada em dois grandes núcleos: o primeiro apresenta obras plásticas – maioritariamente pintura – inspiradas nos «boémios» na sua aceção original e percorre um período de quatro séculos (1493 a 1910), abrangendo artistas provenientes de variados países europeus. Na transição para o segundo núcleo, feita por uma teatral escadaria do Grand Palais, encontramos um pequeno espaço consagrado à música, ao espetáculo e à ficção, que aposta em materiais mais interativos. No piso superior, o segundo núcleo foca-se na boémia artística parisiense ao longo de cerca de um século, apresentando pintura, desenho, caricaturas, fotografias e ilustrações. A contrastar com uma certa formalidade na disposição e exibição das obras do primeiro núcleo, aqui a cenografia da exposição faz-se sentir mais intensamente: entramos pela mansarda do artista, passamos ao seu atelier, precorremos diversas visões da boémia e desembocamos nos cafés e cabarets de Montmartre. A terminar, uma sala despojada e fria evoca os antípodas da tolerância pela liberdade e um modo de vida marginal.
5 A representação dos «boémios» na cultural ocidental sublinha desde o início o fascínio dos artistas por um universo que é simultaneamente próximo e totalmente diferente. As primeiras referências a «boémios» na Europa Ocidental datam do princípio do século XV e as suas representações artísticas surgem no final desse mesmo século, espelhando a construção de uma identidade baseada na sua origem misteriosa, na sua linguagem própria, no seu peculiar modo de vida e reforçado pela sua capacidade de adivinhar o futuro que os envolve ainda mais numa aura de magia.
6 O tema da mulher que lê a sina na palma da mão traduz a sedução e o perigo que este universo representa: a capacidade de adivinhação do futuro serve, não raramente, para distrair a sua vítima no presente e roubá-la. Veja-se o quadro de Geoges de La Tour, La Diseuse de bonne aventure (c. 1630) que põe em cena esta envolvência que tem por objetivo o logro. Se a fortuna pode ser lida indiferenciadamente tanto a um homem como a uma mulher, é sempre uma mulher que o faz. A representação desta mulher é marcada pela sua não convencionalidade. Associada a cenas de sedução, a divertimentos como o jogo, o submundo das tabernas, a dança e a música profana, a mulher é assim representada com uma aura de subversiva sensualidade que a distingue das demais, por vezes com intenções moralizantes.
7 Outros temas recorrentes, como os acampamentos, a eterna viagem, a ligação à natureza e a liberdade e exotismo que o modo de vida destas figuras implica, podem remeter para uma imagem de mendicidade e vadiagem. Por outro lado, evocam também o ideal rousseauniano do bom selvagem, enaltecendo um estado natural e puro antes da corrupção da civilização, apesar do seu contacto com esta.
8 Um quadro de Gustave Courbet, Le Rencontre ou Bonjour M. Courbet (1854), sugere já o núcleo que se seguirá na exposição dedicado à boémia artística. Representando a sua conceção de renovação da arte na «solução» do encontro entre o burguês mecenas e o artista livre e independente, como outrora fora entre senhores e «boémios» errantes, o pintor coloca em cena a afinidade entre dois mundos. Para além do imenso fascínio que os «boémios» exercem sobre os artistas, reconheçe-se a própria identificação do artista com este universo: figuras errantes, marginais, insaciáveis, hábeis, irredutíveis à norma, que perturbam e provocam uma sociedade acomodada, inerte e limitada. A imagem do vagabundo torna-se uma componente da modernidade artística para qualificar a natureza do artista como essencialmente livre, sem nada de seu, que não se submete a obrigações impostas por outros e responde apenas à sua própria inspiração.
9 A «vida boémia» e o seu novo estatuto para o artista, que se irá tornar uma referência dominante, é o momento de emancipação da arte. Representar a boémia é uma forma crucial de nela participar. A boémia artística é simultaneamente uma forma de vida e uma encenação tanto dessa vida como da sociedade à qual responde. Apesar do desprendimento que marca a boémia, esta é, acima de tudo, uma prova de fogo para o artista. A vida boémia é a reivindicação da marginalidade em que o artista se encontra. O artista é representado como uma figura marcada pela indeterminação da sua posição económica e do seu papel na sociedade, como um individuo naturalmente atormentado, destinado a lutar obstinadamente contra a adversidade e cuja carreira irá necessariamente acabar em abnegação, fracasso, desespero, loucura ou suicídio. Jules Blin dá desta temática uma imagem impressionante ao representar-se no seu atelier devastado, com um revólver na mão, pisando uma tela, numa obra dramaticamente intitulada Art, misère, désespoir, folie! (1880).
10 Em contraste com a ligação com a natureza predominante no primeiro núcleo, encontramos aqui espaços fechados como o atelier do artista ou os cafés, os cabarets artísticos, os teatros, as tabernas e outros locais que espelham a vida urbana moderna. Estes são locais marcados por uma animação féerica a par de uma inquieta melancolia.
11 Montmartre é o palco principal desta vida boémia marginal, vivida numa quase obscuridade, e irá marcar determinantemente a imagem da cidade das luzes, constituindo ainda hoje uma importante atração turística.
12 Esta viagem pelas várias boémias termina abruptamente com um conjunto de obras de Otto Mueller, que recuperam a representação da figura do Cigano como aquele que encarna o «outro» no seio da sociedade ocidental. As vanguardas retomam este tema para com ele simbolizar a atração pelo diferente e a libertação das convenções sociais, particularmente as sexuais. O ano de 1937 é a data que marca a rejeição e condenação de um povo e da sua representação.
13 Percorrer esta exposição é também perceber o mote para a construção da identidade do artista moderno. Se começa por representar uma identidade recorrentemente, o artista acabará por se identificar com o universo representado, assumindo a sua condição de «outro» na sociedade.
14 No catálogo, a reprodução das obras exibidas é complementada por dez ensaios que focam temas explorados ou apenas aflorados na exposição, focando temas como os espaços de sociabilidade privilegiados pela boémia parisiense ou as representações musicais, literárias e até cinematográficas, essenciais na construção destas identidades boémias. A boémia impõe-se assim como um tema complexo, apropriado e explorado por várias áreas, uma questão rica que permite diversas e multifacetadas abordagens encetadas por várias áreas do conhecimento. A identidade do «boémio» assume diversas facetas, reflete-se em variados suportes, e ainda hoje marca o imaginário e as vivências urbanas.
Cecília Vaz – Doutoranda em História Moderna e Contemporânea no ISCTE-IUL e investigadora do CEHC-ISCTE-IUL. É bolseira da FCT. A sua área de investigação são as sociabilidades boémias contemporâneas. E-mail: cecilia.vaz@iscte.pt
Dicionário dos Historiadores Portugueses – Da Academia Real das Ciências até ao final do Estado Novo – MATOS (LH)
MATOS, Sérgio Campos de (Coord). Dicionário dos Historiadores Portugueses – Da Academia Real das Ciências até ao final do Estado Novo. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2015. Resenha de: PEREIRA, Miriam Halpern. Ler História, v. 62, p. 193-197, 2012.
1 Excelente ideia a de produzir um dicionário deste teor. Já existem noutros países europeus, Espanha, França ou noutros países mais distantes como o Brasil. Mas o dicionário português apresenta numerosas singularidades. Ser on-line, até agora este tipo de obras tem sido editado em papel. Também é novidade ser lançado no site da Biblioteca Nacional de Portugal uma obra em construção, os e-books costumam editar-se completos, este produto virtual assemelha-se às antigas edições em fascículos. Por enquanto tem só 30 entradas e listas das futuras entradas agrupadas por historiadores, temáticas, instituições e revistas. São essas listas que permitem compreender um pouco melhor o sentido da construção da obra, que anuncia como ponto de partida a Academia Real das Ciências e como ponto final o dia 25 de abril de 1974. As fronteiras são discutíveis. Na minha opinião ou se começava em Fernão Lopes ou em Alexandre Herculano, tal como têm sido as escolhas de outros países: em França, Christian Amalvi (2004) optou por principiar em Grégoire de Tours, em Espanha (2002) optou-se por 1840.
2 Mas intrigante e pouco claro é o ponto final: 25 de abril de 1974, data do final do Estado Novo. O que se entende por isso? Incluem-se os historiadores já existentes nessa data, ou seja que tinham obra publicada até então? Uma rápida leitura da lista dos nomes on-line mostra que não. Será em função da carreira universitária? Ou o doutoramento? Também não se acerta. Continuam a ser evidentes as ausências, além de tal não se coadunar com o critério anunciado de incluir autodidatas e personalidades de diferentes formações e não só académicos, o que, sendo sempre adequado, ainda o é mais quando se conhece o poderoso filtro ideológico e político que foram as instituições universitárias durante o Estado Novo. Mas tendo incluído Álvaro Cunhal, dever-se-ia incluir também Mário Soares, autor de As Ideias Políticas e Sociais de Teófilo Braga, com prefácio de Vitorino Magalhães Godinho (Centro Bibliográfico, Lisboa, 1950). Aliás a obra de Álvaro Cunhal, As lutas de classes em Portugal nos fins da Idade Média, só consta como editada em 1975, no Catálogo da BNP e é pena que a edição clandestina anterior não esteja depositada na BNP. O interesse de homens políticos pela escrita histórica, que explica a inclusão de vários outros nomes, é uma tradição portuguesa, que se deve valorizar hoje, face à «transmutação» atual de gestores tecnocratas em políticos, com demasiada frequência falhos de cultura histórica.
3 A grande notoriedade posterior a 1974 parece explicar a presença de autores que não tinham quase nada publicado no domínio da historiografia até o dia 25 de abril de 1974 e só depois daquela data, às vezes vários anos mais tarde, é que vieram a publicar obras de vulto de natureza histórica. O crivo não foi pois a relevância científica das obras publicadas antes de 1974, critério que é evidente não ter sido aplicado. O critério da morte terá sido o que explica uma dessas presenças, a de João Bénard da Costa, segundo me foi explicado pelo coordenador. Mas mesmo seguindo esse critério, continuam as ausências. Não constam Rómulo de Carvalho, Ana Maria Alves, César de Oliveira, Sacuntala de Miranda, Maria Ioannis Baganha, Jill Dias, António Candeias, entre outros. O critério da morte, adotado no caso francês, para evitar a tendência hagiográfica, podia até ter a vantagem de rejuvenescer o dicionário português. Estando prevista a sua conclusão em 2015, estarão excluídos desta obra 41 anos de produção historiográfica portuguesa! Por acaso trata-se, como é geralmente sabido, de um período de intensa renovação da historiografia e das ciências sociais em Portugal. Mas mesmo entre os autores clássicos encontrei uma lacuna inexplicável: como se pode omitir José Acúrsio das Neves autor da História das Invasões Francesas?
4 Uma boa ideia foi incluir os historiadores estrangeiros que escreveram sobre a história de Portugal, aliás bem poucos, mas também houve aqui esquecimentos importantes, recordo apenas H. E. S. Fisher, Rebecca Catz ou ainda Lucia Perrone que não constam, mantendo-se aqui a falta de um critério de escolha compreensível. E eis que se descobre nova indefinição: será que não se inclui a historiografia sobre as antigas colónias?
5 Autores estrangeiros prestigiados que estudaram a história colonial portuguesa em África, como Herman Bauman, Beatrix Heintze, David Birmingham, Allen Isaacman, Douglas Wheeler, René Pélissier, Basil Davidson não constam, embora várias das suas obras tenham sido editadas nos anos 50, 60 e início de 70. Foram fundamentais nesta área, numa época em que entre os portugueses quase só funcionários do Estado Novo escreviam sobre a África dita «portuguesa», sobretudo no que se refere aos séculos XIX-XX.
6 E como explicar também a reduzida presença de brasileiros, cuja produção sobre a história colonial portuguesa no Brasil é enorme? Consta Novais, cujo primeiro livro data de 1975 (portanto fora do período demarcado), mas não se avistam vários autores, alguns bem anteriores, como Tarquínio de Sousa, Alice Canabrava, E. Viotti da Costa, Carlos Guilherme Mota, entre tantos outros. Infelizmente o francês Abade Raynal escreveu o célebre livro O estabelecimento dos portugueses no Brasil (1770) antes de 1779, data da criação da Real Academia das Ciências.
7 Em relação à Asia, como se pode omitir Donald F. Lach, autor do notável livro Asia in the making of Europe (1.ª edição1965, reeditado 1971), em que se dedica a Portugal diferentes capítulos em cada um dos 4 volumes desta grande obra? Como ainda não se traduziu este livro magistral? Pannikar, autor de Asia and western dominance – a survey of Vasco da Gama epoch of Asian History (1959), também não está previsto. Só me tenho referido a autores com obra dentro das balizas atuais deste dicionário, ainda que as considere questionáveis. Talvez Gaston Perera, historiador do Sri Lanka, que estudou a ocupação portuguesa no seu país, em obras recentes, tendo falecido subitamente em 2011, pudesse também ser incluído…
8 A dificuldade em excluir a produção de 38 anos de intensa vida científica ou intelectual torna-se evidente quando se consultam as duas únicas entradas temáticas já existentes, História de Arte e História Cultural, a bibliografia referida é num caso posterior a 1979 e no outro a 1990. E naturalmente que a baliza temporal também ultrapassa largamente 1974 nas biografias e bibliografias ativas e passivas de algumas das principais entradas já existentes.
9 Consultando a lista das instituições, encontram-se as Faculdades de Letras e de Direito, mas aqui também as ausências surpreendem, não constam nem o ISCEF (predecessor do ISEG), nem sequer o GIS, predecessor do ICS, nem a Faculdade de Economia de Coimbra, nem o ISCTE (a comemorar este ano os 40 anos de existência). Quanto às revistas, só constam revistas fundadas antes de 1974, mas está indicado como termo limite do âmbito em consideração a data de 2011-2012, quando elas ainda existem. Porém, nenhuma das novas revistas que surgiram nesse período estão incluídas: a Revista da História das Ideias, a Revista de História Económica, a Ler História, entre outras. Ainda mais estranha é ausência da Revista de Economia, que antes de 1974 publicou estudos importantes de história.
10 Face às balizas temporais adotadas surpreende menos que ao mencionar as fronteiras da história com outras ciências humanas, se não refira nem a sociologia, nem a ciência política, embora já existissem com nome camuflado. O regime estado-novista tinha os seus gostos (des-gostos) linguísticos e semânticos. É mais um lapso.
11 Na apresentação on-line conclui-se que o dicionário será acrescentado regularmente com novas entradas e poderá beneficiar com sugestões críticas dos seus leitores. Aqui ficam as minhas. No que me diz respeito, embora o meu primeiro livro, que é o texto também da tese de doutoramento, tenha sido publicado em 1971, e tenha tido grande impacto e embora tenha vários artigos publicados em revistas estrangeiras e portuguesas prestigiadas antes do 25 de abril, e já então fosse professora universitária, espero e prefiro estar viva em 2015 e continuar a escrever e a publicar a meu gosto, a estar morta para ser incluída no dicionário, o que mesmo assim seria incerto… Desejo também nessa altura festejar os longos anos de José Manuel Tengarrinha, alguns bem menos de José Sasportes, de Maria Beatriz Nizza da Silva, e meus também. Todos nós com obra publicada antes de 1974 somos ainda demasiado jovens para este dicionário desatualizado de 41 anos. O dicionário espanhol, publicado em 2002, avançava até 1980, e mesmo assim foi criticado por não se prolongar mais. Bem equilibrada e transparente foi a opção do Dicionário Histórico de Economistas Portugueses, organizado por José Luís Cardoso, incluindo na sua seleção dos economistas aqueles que tivessem completado 70 anos à data da publicação. Útil também salientar que o critério de relevância científica, em detrimento de funções universitárias, administrativas, políticas ou outras, presidiu a essa escolha, assim como a prioridade dada à análise da obra científica, reduzindo a parte biográfica, em geral já retratada em outras obras de referência. O que também não constituiu norma comum nas entradas já disponíveis neste dicionário.
12 Não há nenhuma referência a um motor de busca por nomes ou temas, de forma a cruzar informação. Seria desde já útil. Quem se interessasse por António Sérgio poderia encontrar a referência à polémica com Mário de Albuquerque, referida por Ana Leal Faria, mas que não mereceu a atenção de Romero de Magalhães, com ou sem razão, essa não é a questão. Esperemos que, no que parece ser o primeiro dicionário virtual do mundo neste domínio, esta funcionalidade seja introduzida rapidamente. Não o fazer seria um desperdício dos novos meios tecnológicos. Um contrassenso. Mais um.
13 Sem qualquer sombra de dúvida, este dicionário merece ser revisto, remodelado com base em critérios transparentes e naturalmente atualizado – prolongando-o até o final do século XX, para não constituir uma ocasião perdida de prestar um excelente serviço à comunidade científica, evitando um considerável desperdício de meios humanos e financeiros, e podendo vir a contribuir para uma boa imagem nacional e internacional das instituições envolvidas, a Biblioteca Nacional de Portugal e o Centro de História da FLL-UL.
Miriam Halpern Pereira – Professora catedrática emérita do ISCTE-IUL e investigadora do CEHC, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. E-mail: miriam.pereira@iscte.pt
Diccionário Biográfico Español (1808-1833), de los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista – NOVALES (LH)
NOVALES, Gil, Alberto, Diccionário Biográfico Español (1808-1833), de los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista. Madrid: , Fundación Mapfre (Instituto Cultural), 2010. (3 volumes + CD interativo). Resenha de: PEREIRA, Miriam Halpern. Ler História, n.62, p. 197-199, n. 62, 2012.
1 O autor é um prestigiado especialista das origens do liberalismo em Espanha. Doutorou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Saragoça, tendo continuado a sua carreira na Alemanha, Estados Unidos e, ao regressar a Espanha, após um período de alternância entre as Universidades de Madrid e Barcelona, acabou por estabilizar na Universidade Complutense. É atualmente professor emeritus desta Universidade. Dirige desde 1983 a revista Triénio- Ilustración y liberalismo.
2 A sua obra mais recente é o Diccionário biográfico español (1808-1833), de los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista, fruto de mais de três décadas de investigação. Este culminar de uma vida de labor científico insere-se numa obra em que o interesse pela origem do liberalismo espanhol foi acompanhada desde longa data pela valorização do papel do indivíduo na história. Principiando por uma abordagem clássica no estudo sobre Joaquim Costa (tese defendida na Faculdade de Direito da Universidade de Saragoça), desde cedo sucedeu-lhe uma abordagem prosopográfica no amplo estudo sobre as Sociedades Patrióticas, inovadora análise sobre a sociabilidade política: Las Sociedades Patrióticas (1820-1823): Las Libertades de expresión y de reunion en el origen de los partidos políticos (Madrid, 1975, 2 vols.). Alberto Gil Novales veio a Lisboa, creio que pela primeira vez a uma reunião científica, quando participou no colóquio O Liberalismo na Península Ibérica na 1ªmetade do século XIX, a primeira de um conjunto de intervenções em colóquios portugueses que viria a realizar nos anos subsequentes. Seria extremamente interessante ouvi-lo agora falar-nos sobre esta sua recente obra, que inclui um CD interativo, permitindo dois tipos de pesquisa, uma simples pesquisa alfabética, e um tipo de pesquisa livre, pela palavra ou pelo nome no conjunto da obra.
3 O objetivo do Diccionário é, retomando palavras do autor «refletir as vidas, ideias, vicissitudes e aspirações dos nossos compatriotas de aqueles anos e dos não-espanhóis que estavam em contacto próximo com eles». Conhecer as vivências de um indivíduo ajuda a compreender não só as suas ideias, como as suas atitudes. A rede de relações sociais, de parentesco e de amizade, os altos e baixos do percurso individual esclarecem comportamentos porventura menos previsíveis. Estudo biográfico e estudo da sociedade em que viveu o biografado completam-se e cruzam-se nesta obra.
4 Esta monumental obra inclui 25.000 notícias biográficas, de todos os que tiveram um papel relevante, por pequeno que tenha sido, durante o reinado de Fernando VII. Recorde-se que durante este reinado tiveram lugar acontecimentos decisivos na história de Espanha: a Guerra da Independência, correspondente ao que em Portugal tem a designação de invasões francesas, as Constituições de Cádiz e de Bayonne, a independência das colónias sul-americanas e o Triénio Liberal. Trata-se de uma obra elaborada pelo autor ao longo de 35 anos. Foi sendo precedida de publicações parciais, colocando-se à disposição da comunidade científica e do público interessado sucessivos conjuntos já em si muito valiosos. Os Dicionários do Triénio Liberal (em colaboração, 1991), Dicionários biográficos de Extremadura (1998) e o aragonês (2005), precederam este grande marco da historiografia espanhola.
5 O período abrangido não se cinge às balizas temporais anunciadas, naturalmente há personagens que nasceram no século XVIII e outros que só desapareceram na década de 70 do século seguinte. Nestas notícias biográficas, intercaladas de algumas pequenas biografias mais alargadas (como é o caso de General Álava, Flórez Estrada, Riego, entre outros) estão presentes dominantemente homens. A presença feminina é menor do que se poderia desejar, nas palavras do autor, mas a época não permite mais.
6 Permitiu sim ao autor percorrer os diversos estratos da sociedade espanhola. Desde os burgueses e pequeno burgueses, capitalistas, empresários, comerciantes, industriais, viajantes, proprietários, lavradores, homens do campo, artesãos, operários, toureiros, oficias do Exército e da Marinha, guerrilheiros, conspiradores, agentes de polícia, espias, ladrões, bandidos, e até escravos residuais. O clero também está presente – frades e sacerdotes, bispos, algumas freiras milagrosas – assim como a aristocracia, a família real (recobrindo três reinados, Carlos IV, Fernando VII, José I), os altos funcionários administrativos, os chefes políticos, os deputados, das províncias e das Cortes, o corpo diplomático estrangeiro residente no reino e o espanhol em funções no estrangeiro, os jornalistas, os escritores, os poetas, os atores e atrizes de teatro, os artistas, os homens de ciência, os juristas e os eruditos, num desfile colossal de personagens que permitem reconstituir a trama social desta época. Não só todas as regiões de Espanha estão presentes, mas também gente das Américas e de outras zonas do mundo. Naturalmente que todas posições ideológicas, religiosas e políticas estão presentes nesta magnífica obra. Para sua realização, a enorme erudição e o profundo conhecimento desta época pelo autor foi determinante na meticulosa e inteligente análise de grande variedade de fontes, entre as quais se contam: registos paroquiais, guias vários, atas de sociedades, colégios e instituições de ensino, ordens religiosas e de igrejas seculares, imprensa, folhetos, correspondência privada.
7 O Dicionário biográfico encontra-se disponível na Biblioteca Nacional de Portugal, onde, face ao reduzidíssimo intercâmbio cultural luso-espanhol, entendi dever colocar à disposição do público português o exemplar que me foi oferecido, guardando para mim unicamente o CD, dada a inexistência de um serviço de documentos audiovisuais nesta instituição.
Miriam Halpern Pereira – Professora catedrática emérita do ISCTE-IUL e investigadora do CEHC, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. E-mail: miriam.pereira@iscte.pt
O Cinema em Portugal: Os Documentários Industriais de 1933 a 1985 – MARTINS (LH)
MARTINS, Paulo Miguel, O Cinema em Portugal: Os Documentários Industriais de 1933 a 1985. [Lisboa]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2011. 318 pp. Resenha de: SAMPAIO, Sofia. Ler História, n.62, p. 199-206, 2012.
1 O documentário industrial tem suscitado pouco interesse como objeto de estudo académico. É conhecida a tendência, nos estudos de cinema, para privilegiar o filme de ficção – e, consequentemente, a longa-metragem – a par de modelos de análise autorais assentes na ideia do realizador como génio criador e do filme como obra de arte. Os resultados dessa tendência têm sido, por um lado, a constituição de um cânone de filmes e autores e, por outro, a bifurcação disciplinar (que, no mundo anglo-saxónico, se traduz na divisão entre film studies e film history) entre abordagens textuais, que sob a influência dos estudos literários sublinham as propriedades internas dos filmes, e abordagens contextuais, que procuram produzir uma história do cinema entendida quer como história das tecnologias e das técnicas cinematográficas quer como história dos autores e dos movimentos artísticos. De fora ou nas margens, ficam os filmes de não ficção, de curta e média metragem que, paradoxalmente, representam a maior fatia da produção cinematográfica mundial.
2 A partir de finais da década de 80, este cenário começou a mudar. A problematização do conceito de cânone e das conceções exclusivamente autorais do cinema (em parte, sob o impulso dos estudos culturais), veio permitir que uma série de filmes de «utilidade» – entre os quais os filmes industriais – fossem resgatados ao esquecimento. Igualmente importante foi o trabalho de preservação de filmes e organização de arquivos, que encontrou em tecnologias como a digitalização e a internet um renovado impulso. Na década de 90, cresceu o interesse pelos filmes «efémeros» (publicitários, educativos, industriais e amadores) e «órfãos» (i.e. filmes de arquivo não identificados ou negligenciados), dando origem a uma área de investigação que começou por ser marginal, mas que hoje é amplamente reconhecida: a título de exemplo, o congresso de 2012 da revista Screen foi dedicado aos «outros filmes» (um termo que não deixa de evocar a importância que o cânone continua a ter). Entre nós, a Cinemateca Portuguesa tem incluído na sua programação documentários não-ficcionais de curta e média duração, nomeadamente na rubrica regular «Abrir os Cofres».
3 É neste contexto que o livro de Paulo Miguel Martins deve ser lido. De cariz essencialmente informativo, o volume reúne, pela primeira vez, alguns dos dados mais importantes sobre os filmes industriais produzidos em Portugal entre o período de 1933 a 1985 – i.e. entre o início do Estado Novo (que coincidiu com a criação da Tobis Portuguesa) e a assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. Como fontes primárias, Martins recorreu ao Arquivo Nacional da Imagem em Movimento (ANIM), aos arquivos da Torre do Tombo e da Biblioteca Nacional, bem como ao testemunho oral de realizadores e técnicos envolvidos na produção de alguns destes filmes.
4 O estudo divide-se em cinco secções ou capítulos, não numerados, mas que passo a enumerar por motivos de clareza. São eles: (1) «o filme como fonte histórica», em que o autor defende a importância dos filmes industriais como documentos históricos; (2) «traços gerais da história do cinema português», cujo propósito é «situar e contextualizar em traços gerais os documentários realizados em Portugal no conjunto da produção cinematográfica do País» (p. 47); (3) «o cinema documentário em Portugal», que faz uma introdução geral à história do documentário (não apenas em Portugal, como o título indica, mas no contexto internacional), terminando com uma subsecção sobre o documentário industrial; (4) «o documentário industrial português nas palavras dos próprios autores», em que o filme industrial português é analisado a partir dos dados compilados (alguns já referidos) e das entrevistas que o autor realizou a técnicos e realizadores; (5) por fim, «os filmes em análise», onde são discutidos cinco filmes industriais, nomeadamente: Bodas de Ouro da Empresa Fabril do Norte (1957); O Pão (1959/ 1964); Trabalho de um Povo (1959-1960); As Palavras e os Fios (1962); e Um Homem – Uma Obra (1971).
5 O ponto de partida desta investigação é uma conceção do cinema como «fonte de conhecimento» da realidade social (p. 9) e, consequentemente, «fonte de acesso ao passado» (pp. 14, 32, 34). Martins afirma em vários momentos que este acesso é sempre um acesso mediado (pp. 20, 30, 33, 186), mas isso não o impede de descrever o documentário, em geral, como um «retrato da realidade» (pp. 14, 17) e o documentário industrial, em particular, como um «retrato económico, sociológico e cultural das empresas» (p. 15) e, por extensão, da realidade socioeconómica do país numa determinada época (p. 9). Do mesmo modo, apesar de reconhecer que o passado é sempre apreendido através do presente (p. 21), o autor atribui aos filmes (e aos documentários industriais em particular) um valor histórico intrínseco, que os coloca ao nível de outros documentos históricos e que lhes confere um papel central no processo de formação de uma memória coletiva.
6 Na segunda secção, Martins elabora um panorama geral da história do cinema em Portugal, década a década, desde as suas origens até 1985. Num registo predominantemente descritivo, são-nos oferecidos elementos sobre a formação e evolução do campo cinematográfico português: a rápida ascensão e falência de empresas de produção e distribuição (o que revela a extrema volatilidade do meio); a natureza e o número das salas de exibição; as revistas de divulgação especializadas; os jornais de atualidades; os principais realizadores e os seus filmes; a criação de legislação e de instituições de apoio (estatais e privadas); os prémios e os festivais de cinema. São muitas e preciosas as informações recolhidas e apresentadas; no entanto, o pendor generalista e a proliferação de pormenores (que não distingue entre o que é e o que não é diretamente pertinente para o tema) impedem o aprofundamento das questões relativas ao documentário industrial, que aparecem dispersas, sem o destaque e o tratamento que merecem. A título de exemplo, a análise comparativa do número de salas em Lisboa, Porto, Madrid e Milão, nas décadas de 1910, 1920 e 1930 (pp. 62-64) apresenta dados que são interessantes por si só, mas cujo contributo para o tópico da investigação não é claro. Por outro lado, temas como a relação do documentário com a Campanha Nacional de Educação de Adultos, a organização de festivais temáticos (pp. 95-96), os dois Planos de Fomento e o II Congresso dos Economistas e da Indústria Portuguesa (pp. 81-82) justificariam maior desenvolvimento. Dizer que os dois últimos se mostraram favoráveis ao documentário industrial, sem uma análise mais detalhada, parece-me simultaneamente óbvio e pouco elucidativo. No geral, a secção cumpre a função de contextualização; no entanto, a síntese que apresenta acaba por reproduzir uma série de ideias feitas que carecem de adequada fundamentação empírica, bibliográfica e/ou teórica (é o caso da ideia de «divórcio» entre o cinema português e o público, ou da noção de que os fundos europeus para o cinema «nem sempre foram aproveitados», p. 104).
7 O capítulo seguinte prossegue no mesmo registo, repetindo muito do que foi dito, agora a propósito do género documentário, que o autor insiste ser uma «fonte de conhecimento e informação» (pp. 107, 119). Na última parte, a subsecção intitulada «documentários industriais», é finalmente definido o âmbito da investigação, nomeadamente: os documentários industriais do período sonoro (entre 1933 e 1985) com uma duração de 6 a 20 minutos, incluindo filmes sobre artesanato, mas excluindo filmes sobre o contexto colonial, tendo sido identificados um total de trezentos e dez filmes (pp. 120-121). Munindo-se de elementos predominantemente quantitativos, Martins discute os anos de maior produção de filmes industriais, as empresas cinematográficas e os realizadores mais prolíferos, assim como as indústrias mais retratadas (classificadas por atividade económica). A quantidade de informação reunida e disponibilizada impressiona pela positiva. A análise, porém, fica aquém das expectativas, sendo notória a inclinação para se estabelecerem correspondências diretas entre tendências económicas e os filmes produzidos – como quando se conclui que «há uma forte relação entre as empresas mais representadas em determinada década e o género de atividade económica sobre a qual mais se investia nessa altura» (p. 140). Um dos exemplos que o autor dá – a incidência de documentários sobre as indústrias vidreiras e cimenteiras na década de 40, uma época de grandes obras públicas (p. 134) – não convence. Este número corresponde apenas a cinco filmes em dez anos, tendo sido largamente ultrapassado na década de 60. Para além do desenvolvimento económico setorial, haveria que considerar outros fatores, tais como a dinâmica das próprias empresas e desenvolvimentos ao nível do campo cinematográfico.
8 Estes aspetos acabam por emergir nas duas últimas secções que constituem (juntamente com a subsecção que as precede) a parte mais importante e original deste estudo. Com a entrevista a doze realizadores e técnicos e a análise de cinco filmes, o autor acede a um nível de análise que lhe permite, por exemplo, corrigir afirmações generalizantes (p. 179). Entramos no domínio das relações entre cineastas (produtores e realizadores), as entidades estatais e privadas que encomendavam os filmes e os organismos supervisores, e eventualmente controladores, como o SNI. Baseando-se nas entrevistas que realizou (cujo guião nos é fornecido, em anexo), Martins caracteriza os diferentes processos de encomenda, os objetivos das empresas/instituições contratantes, os modos de produção (duração do processo, margem de manobra criativa, seleção da equipa e acesso ao equipamento) e algumas questões de foro laboral (contratação, orçamentos, carreiras profissionais). O último capítulo retoma e, nalguns casos aprofunda, esta caracterização. Com o auxílio de uma grelha de análise (que consta do anexo) e recorrendo pontualmente às entrevistas para ilustrar um ou outro pormenor, o autor discute cinco documentários industriais em relação a cada um dos seguintes parâmetros: recursos estéticos e técnicos mobilizados; contexto; objetivos; significado e impacto causado (p. 188). Este nível de análise consegue colocar em evidência a variedade que caracteriza o documentário industrial (designadamente, no que diz respeito a objetivos, estética, circuitos de distribuição e exibição). Um dos estudos de casos – o documentário Trabalho de um Povo (1959-60), uma encomenda do SNI e da Inspeção Superior do Plano de Fomento que visava a divulgação do II Plano de Fomento Nacional – vem demonstrar a importância de fazer acompanhar as análises de conteúdo dos filmes com outros documentos históricos. Através do material consultado (disponibilizado nos anexos) – que inclui o contrato firmado entre o SNI e o produtor, a correspondência oficial entre os principais intervenientes, o guião anotado por um dos inspetores do Plano de Fomento, e o registo do percurso de exibição do filme – o autor consegue retirar conclusões mais sustentadas e, consequentemente, mais convincentes. A análise comparativa entre o guião do filme e os comentários do responsável pela encomenda revela-se particularmente útil na difícil tarefa que é compreender de que forma fatores como a entidade contratante e os constrangimentos orçamentais interferem na composição final de um filme.
9 O Cinema em Portugal é um estudo de cariz essencialmente informativo que tem o mérito de reunir, pela primeira vez e num único volume, dados sobre o documentário industrial que, para além de escassos, têm estado dispersos e fora do alcance dos investigadores. É de louvar o esforço, inédito no nosso país, de levantamento e inventariação do filme industrial, que faz desta obra uma referência obrigatória para investigações futuras. Porém, a tendência para pormenores irrelevantes, para a repetição (frequentemente sinalizada pelo autor – cf. p. 114, p. 115) e, em menor grau, para a duplicação de dados (o quadro nº 17 é repetido no anexo B.1. – pp. 148 e 250), sugere que o texto teria beneficiado de uma revisão mais atenta. Do ponto de vista analítico, teria sido mais frutífero (para a investigação) e estimulante (para a leitura) um envolvimento mais direto, desde as primeiras páginas, com o tópico de análise. É dececionante verificar que as partes mais importantes do livro – a subsecção sobre o documentário industrial e as duas últimas secções – representam apenas um terço (pp. 120-221) da totalidade das páginas. Do mesmo modo, o nivelamento de diferentes camadas de informação faz com que alguns dos contributos mais valiosos não tenham a força e o destaque que mereciam.
10 Se o livro é forte em conteúdo informativo, é consideravelmente mais fraco em termos teóricos e analíticos. A escolha dos cinco documentários a analisar reflete problemas deste tipo. O corpus de análise, que inclui filmes posteriores a 1957 e anteriores a 1971, deixa de fora grande parte do período em estudo. A justificação do autor – que os autores destes filmes eram vivos à data, podendo ser entrevistados – é pouco convincente, até porque, não obstante o título da penúltima secção, são poucas «as palavras dos próprios autores» a que temos acesso (e quando temos, pouco acrescentam ao que vem sendo dito). Não há dúvida que o critério decisivo foi um critério artístico, e não histórico: todos os filmes foram escolhidos por serem «documentários indicados pelos próprios cineastas e críticos do cinema como os mais representativos de diferentes décadas e de diferentes realizadores» (p. 185). Daí a exclusão do trabalho de Maria Luísa Bívar, a realizadora que mais documentários industriais produziu, mas que Martins não considera um caso paradigmático (p. 149). Daí, também, outros enfoques analíticos: o papel que os documentários industriais desempenharam como terreno de experimentação para os cineastas do «novo cinema»; a importância atribuída (sobretudo na primeira parte) às salas de cinema convencionais, em detrimento de outros públicos e circuitos de exibição (ex. Casas do Povo, cineclubes, escolas, sanatórios, igrejas, as próprias empresas, que Martins, de resto, refere, mas não desenvolve – pp. 89-90, 126, 206); e a sobrevalorização de dois dos muitos usos a que o filme industrial se prestava, nomeadamente, o prestígio e a construção de uma memória coletiva, cujas ramificações e implicações sociais não são suficientemente exploradas.
11 Apesar de proclamar o filme industrial como uma fonte histórica e de acesso à realidade, Martins acaba por abraçar uma visão estetizante do filme industrial, que radica na noção (tendencialmente a-histórica) do cinema como arte. Esta é, aliás, a surpreendente conclusão que o autor retira no final da quarta secção – que «o cinema é uma arte» (p. 183) – uma secção que, pelo contrário, colocara em evidência as densas relações sociais – pessoais e profissionais; materiais e simbólicas; formais e informais – que tornaram possível a produção destes filmes. Contrariando a tendência teórica dos estudos mais recentes sobre o filme industrial, o autor acaba por convergir com perspetivas autorais que tendem a valorizar o documentário industrial pelo seu contributo, sobretudo ao nível formal, para o cânone ficcional, ou a ver em alguns destes filmes os contornos de um novo cânone (em ambos os casos, a grande referência de Martins é, sem dúvida, o «novo cinema» dos anos 50 e 60).
12 Na base destas opções e confusões teóricas está também um entendimento pouco sofisticado da relação entre cinema e história, arte e realidade – um tema complexo que tem feito correr rios de tinta. A defesa do valor histórico dos filmes não é nenhuma novidade (esteve, por exemplo, na base da formação de instituições como as cinematecas e os arquivos de imagem), e é relativamente consensual. Mais difícil é aferir como é que este valor histórico se manifesta nos filmes: leituras simplistas, que procuram estabelecer correspondências diretas ou relações de causa-efeito entre os filmes e a realidade/ história, têm hoje pouca credibilidade. No entanto, Martins facilmente resvala para este tipo de leitura, por exemplo, quando pretende ver nos filmes analisados reflexos das políticas económicas vigentes (p. 192) ou, de forma mais geral, retratos de uma época. Não podemos esquecer que, para além de submetidos a uma ordem ficcional e narrativa (como qualquer filme), os documentários industriais são moldados por fins, se não abertamente publicitários, pelo menos manifestamente promocionais (daí o descrédito a que gerações de historiadores os tinham votado). Uma das formas mais interessantes de contornar este problema é através da atenção ao que não é incluído – as ausências e lacunas do filme, que Martins, a dada altura, também refere (p. 221), mas às quais não dá a devida importância nas suas análises.
13 Por fim, ao fazer coincidir «realidade» e «passado» (incorrendo num certo essencialismo), Martins tende para uma conceção do documentário industrial como um «lugar de memória» (p. 30). O que o documentário industrial foi, na sua época, confunde-se com o que o documentário industrial é, na nossa – segundo o autor, um garante de acesso, a cada visionamento, a um passado que ficou preservado em filme (p. 19). De um ponto de vista teórico, teria sido útil separar estes dois momentos de receção, a fim de preservar uma das características mais importantes do filme industrial: o seu profundo enraizamento no «presente». Como vários autores têm vindo a demonstrar (veja-se o trabalho de Vinzenz Hediger, Patrick Vonderau e Thomas Elsaesser), os filmes industriais foram produzidos para responder a necessidades específicas e imediatas, encontrando-se presos a determinada ocasião, objetivo e destinatário – a tríade Auftrag–Anlass–Addressat1, que se sobrepõe ao autor, e que cabe ao investigador recuperar, identificar e teorizar. O Cinema em Portugal toca em muitos destes aspetos (o livro de Hediger e Vonderau é citado), mas não de forma aprofundada, sistemática e teoricamente consequente.
14 A questão do que estes filmes representam hoje, para nós, fica igualmente por equacionar. Martins concentra os seus esforços numa discussão relativamente longa (pp. 22- 30) sobre o cinema e a memória coletiva (estranhamente explicada à luz da memória individual), deixando de fora um problema, a meu ver, mais interessante: como compreender que, numa época como a nossa, descrita como pós-industrial, o filme industrial venha a despertar a atenção de críticos e espectadores? Ou seja, como compreender que, no contexto atual de pós-industrialização, a memória coletiva se venha a congregar em torno de uma memória industrial? Ao lançar as bases para a cartografia do que tem sido, até agora, um vasto «território não cartografado»2, não há dúvida de que o livro de Paulo Miguel Martins representa um bom ponto de partida para a resolução destas e de outras questões, sendo a sua leitura, também por esta razão, de recomendar
Notas
1 O termo é de Thomas Elsaesser, em ‘Archives and Archeologies: The Place of Non-Fiction Film in Cont (…)
2 A expressão é de Vinzenz Hediger e Patrick Vonderau, na introdução a Films that Work, p. 10.
Sofia Sampaio – Investigadora de pós doutoramento do CRIA, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. Pesquisa sobre a indústria cultural, o cinema, com enfoque nas questões do turismo. E-mail: psrss@iscte.pt
Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin – SYNDER (LH)
SYNDER, Timothy. Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. New York: Basis Books, 2010. 524 p. Resenha de: LOI, Stefano. Ler História, n.62, p. 206-210, 2012.
1 Uma parte importante da historiografia contemporânea é constituída pelos estudos que se debruçam sobre o confronto político e bélico entre as ideologias – e os Estados construídos em volta delas – que marcaram profundamente a vida europeia da primeira metade do século XX, nomeadamente o comunismo na sua realização russa e as ideologias de extrema-direita como o fascismo e, especialmente, o nacional-socialismo alemão. A obra de Timothy Snyder inscreve-se nesta corrente historiográfica, pois tenta oferecer novas perspetivas sobre as consequências que a aplicação das ideologias políticas acima referidas teve na população que as experienciou e que viveu o confronto bélico entre os países moldados por estas ideologias, ou seja, a União Soviética e a Alemanha. Daí a ambivalência do título da obra do historiador americano: as Bloodlands não foram só as zonas das batalhas europeias da II Guerra Mundial, numa Europa dominada pelas figuras de Hitler e Estaline. Elas foram, de uma forma mais vasta, o espaço geográfico compreendido entre o rio Oder e a Roménia, no Oeste, e Leningrado e Estalinegrado, no Leste, onde os Estados nazi e comunista colocaram em prática os princípios ideológicos do comunismo e do nacional-socialismo. Foram, depois, o lugar físico onde se confrontaram militarmente a União Soviética e a Alemanha durante a II Guerra Mundial. As «Terras Sangrentas» são, portanto, os lugares politica e militarmente disputados por Hitler e Estaline, ou seja, a Europa, numa declinação política do confronto entre o ditador austríaco e o ditador georgiano, com destaque no Leste europeu, em particular, na vertente sobretudo ideológica e militar deste confronto, um espaço mais limitado no coração da Europa Oriental.
2 O objetivo principal da obra de Snyder é a descrição dos eventos que marcaram as «Terras Sangrentas» entre 1933 e 1945, período em que, com a evolução política em sentido ditatorial da Alemanha hitleriana, a interação política entre Alemanha e União Soviética marcou o início de uma nova fase da vida europeia. O mesmo autor sugere uma cronologia da dúzia de anos que analisa: a primeira fase, entre 1933 e 1939 é marcada por uma mais acentuada atividade de repressão por parte do regime soviético, com destaque para a grande carestia na Ucrânia entre 1932 e 1934 e a Grande Purga de 1936-1938; a segunda fase, entre 1939 e 1941, é a fase da aliança entre as duas ditaduras através do Pacto Molotov-Ribbentrop, fase caracterizada por uma ação militar ofensiva e repressiva comparável entre as duas potências; enfim, uma terceira fase, entre 1941 e 1945, na qual é a Alemanha nacional-socialista a causar o maior número de mortos e na qual se enquadra o drama da Shoah. Ainda mais, o campo de investigação do historiador americano limita-se à violência desencadeada nas Bloodlands no período acima referido, excluindo as vítimas dos combates entre os exércitos alemão e russo começados com a invasão da Polónia pela Wehrmacht e acabados em maio de 1945, com o cerco de Berlim pelo Exército Vermelho. Snyder quantifica os holocaustos contra a população civil e os judeus nas Bloodlands em cerca de 14 milhões de mortos.
3 A ampla obra de Snyder estrutura-se num prefácio, introdução, onze capítulos e conclusão. O objetivo do prefácio é enquadrar a obra, explicando o que são as Bloodlands, o que lá aconteceu, quando aconteceu, e introduzir os «protagonistas» da obra: Estaline, Hitler e as vítimas do furor ideológico dos ditadores. A introdução e os onze capítulos do livro constituem uma ampla descrição dos eventos que marcaram a história das «Terras sangrentas» entre a tomada do poder por parte de Hitler até à queda de Berlim, em 1945, com algumas referências à situação política na Europa oriental entre o final da I Guerra Mundial e 1933 – o período em que se criaram os pressupostos políticos e sociais para o desenvolvimento do estalinismo e do nacional-socialismo – e alguns aspetos da política interna soviética entre a queda de Berlim em 1945 e a morte de Estaline em 1953. Do ponto de vista de escrita histórica, ao corpo central da obra de Snyder faltam muitos aspetos de problematização dos acontecimentos, sendo a narração orientada quase exclusivamente para a descrição sic et simpliciter dos holocaustos que foram perpetrados nas regiões da Europa Oriental. Deste ponto de vista, os objetivos de síntese e descrição que o autor estabeleceu são cabalmente cumpridos através da análise minuciosa de um amplíssimo conjunto de fontes primárias e secundárias que exploram os testemunhos diretos dos massacres e obras de síntese sobre os principais acontecimentos daqueles anos. A capacidade de síntese de Snyder emerge da sua habilidade em criar um fio condutor entre política, economia, ideologia e imanência dos acontecimentos bélicos que contribuíram para a criação das «Terras sangrentas».
4 Como já foi referido, o problema principal na introdução e no corpo central da obra é a falta da problematização dos factos históricos. A escrita do autor segue os princípios da historiografia descritiva, adotando uma estrutura dos capítulos recorrente, resumível na tríade dos números – quantos mortos houve na fração temporal examinada –, descrição dos factos e apresentação dos testemunhos através das suas próprias palavras. A problematização dos acontecimentos, as razões dos eventos e o cruzamento com o devir histórico estão ausentes da maior parte da obra, embora se coloquem questões interessantes que, todavia, não foram aprofundadas: é o caso das ligações entre o tratamento dos judeus e dos prisoneiros de guerra soviéticos por parte das autoridades nacional-socialistas consoante a dicotomia necessidade de alimentos / necessidade de mão de obra; a avaliação das várias «soluções finais» previstas por Hitler e seus colaboradores perante a «ameaça judaica»; a ligação entre os massacres e os momentos de crise na União Soviética e na Alemanha nacional-socialista; o papel desempenhado pelos outros países beligerantes no que diz respeito aos massacres contra as populações civis e os judeus no período da aliança entre Alemanha e União Soviética, bem como nas fases finais da guerra.
5 A falta de problematização histórica no corpo central do livro virá a ser recuperada nas conclusões, provavelmente a parte mais fecunda de toda a obra. Aí o historiador americano, para além de um resumo das cifras de mortos no período analisado, tenta problematizar os acontecimentos e explicar mais em profundidade as razões que o levaram a escrever o livro. Entre os problemas historiográficos mais interessantes que o autor refere vale a pena citar a ideia dos massacres como resposta natural de ambas as ditaduras perante uma «falha», ou seja, um resultado não alcançado ou um desvio dos planos estabelecidos que, por causa da rigidez das ideologias, não podia ser pensado (unthinkability nas palavras de Snyder) e que, desta forma, era considerado como uma conspiração de alguém contra a ordem estabelecida e contra a tentativa de desenvolvimento destas sociedades. Para além desta «teoria dos massacres», Snyder propõe nas conclusões uma interessante comparação articulada entre os sistemas político-ideológicos nacional-socialista e comunista, referindo-se também aos estudos de Hannah Arendt e de Vasily Grossman. Segundo Snyder para reconhecer as diferenças entre os dois sistemas é necessário reconhecer os pontos em comum. Por fim, Snyder explica melhor os meios que os nazistas – sobretudo as Waffen-SS – usaram para perpetrar os massacres contra os judeus e os prisoneiros de guerra, especialmente entre 1941 e 1945, tentando assim quebrar um conhecimento aproximativo dos acontecimentos, dos meios e das razões que levaram aos massacres nos campos de concentração e nos locais da morte (killing sites) de milhões de pessoas, conhecimento esse que se encontra difundido na maioria do público não académico interessado pela história da II Guerra Mundial.
6 Provavelmente a perspetiva mais interessante do livro encontra-se nas últimas páginas das conclusões, onde se referem os objetivos mais profundos que levaram o autor a escrever a obra. O assunto sobre o qual o autor se interroga diz respeito ao uso dos números na narração histórica. O historiador americano expressa claramente e inteligentemente que os números, como no caso das vítimas dos massacres da II Guerra Mundial, servem essencialmente para sustentar uma política, uma ideologia ou uma propaganda direcionada para um objetivo claro e, por esta razão, é necessário ponderar muito o uso das cifras no trabalho historiográfico, particularmente no caso de acontecimentos históricos recentes. Essa utilização dos números ainda hoje exalta os ânimos da sociedade, como no caso da Shoah ou dos holocaustos da época de Estaline. O autor considera ainda que a tarefa do historiador é ligar os números à memória e não fornecer dados brutos que, implicitamente, podem ser usados por propagandistas para apoiarem as suas teses, tornando-se por isso factos políticos e já não elementos de análise histórica, como de facto já acontece, por exemplo, com os revisionistas da Shoah. O objetivo principal da obra de Snyder é, assim, criar ligações entre os números e as memórias de quem viveu aqueles momentos trágicos da história que não é só a história das Bloodlands mas também a história europeia e a história de cada indivíduo. Por esta razão, não se deveria pensar nos catorze milhões de mortos nas Bloodlands como um enorme número de mortos, porque os grandes números levam necessariamente ao anonimato; o objetivo de Snyder é pensar neste enorme número de mortos como catorze milhões vezes um, pois cada pessoa leva um fragmento singular de uma memória do passado que deve tornar-se história e consciência compartilhada. As palavras de Snyder, neste sentido, são emblemáticas: os regimes nazi e comunista tornaram as pessoas em números e é nossa tarefa, como humanistas, transformar novamente os números em pessoas, caso contrário Hitler e Estaline não modificaram somente o nosso mundo mas também a nossa humanidade1.
7 O objetivo há pouco descrito foi cumprido admiravelmente pelo historiador americano e justifica as amplas partes da sua obra dedicadas aos testemunhos diretos dos massacres perpetrados nas «Terras sangrentas». Pelo contrário, é o mesmo amplo uso de fontes diretas que contribui de forma significativa para a construção de uma narrativa que tem o claro objetivo de impressionar o leitor, de causar uma reação emotiva e suscitar comoção, quando não mesmo horror. Sendo a cadência do corpo central do livro muito descritiva, a construção da narrativa desempenha um papel fundamental nos equilíbrios da obra; é como se o autor tivesse tentado moldar a configuração dos vilões aos protagonistas da história, Hitler e Estaline, corroborando esta tentativa com as vozes das testemunhas, para que um leitor não especialista de história se sentisse familiarizado nas descrições, ou para que, pelo menos, estas coubessem bem na típica dicotomia «bem/mal», sempre muito apreciada pelo grande público. Os primeiros capítulos do livro, de facto, podem parecer uma obra de Robert Conquest2 sem que se vislumbre algum novo equacionar de problemas ou aprofundamento historiográfico. É opinião de quem escreve que não foi por acaso que esta obra, sem dúvida nenhuma interessante e bem escrita, não foi publicada por uma University Press americana, mas sim por uma editora comercial e se tornou um bestseller em quatro países. A construção narrativa de Snyder desvalorizou parcialmente uma obra otimamente estruturada do ponto de vista bibliográfico e que, apesar de tudo, propõe algumas sugestões e problemas historiográficos de claro interesse para a comunidade académica.
8 Retomando afirmações anteriores, provavelmente o problema principal da obra de Snyder é a falta de uma maior problematização dos eventos descritos e uma narrativa que resulta às vezes parcial. Contudo, estas características não devem desvalorizar a força da obra do historiador americano e o enorme trabalho de pesquisa, de avaliação das fontes documentais e a ampla bibliografia em que se alicerça a obra. Em particular, o objetivo que o autor propõe sobre a utilização dos números na narrativa histórica e a problematização do papel dos humanistas perante tragédias como a da Shoah, para além das descrições precisas e pormenorizadas dos factos que aconteceram, tornam Bloodlands uma obra de grande interesse sobre a história contemporânea da Europa Oriental.
Notas
1 Snyder, Timothy, Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin, New York, Basis Books, 2010, p. 383.
2 Refiro-me aqui a Conquest, Robert, The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror Fa (…)
Stefano Loi – Doutorando em História Moderna e Contemporânea e membro do CEHC, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. A sua área de pesquisa é a história militar dos séculos XIX e XX. E-mail: kazam82@gmail.com
Hiroshima – The Word’s Bomb – ROTTER (LH)
ROTTER, Andrew J. Hiroshima – The Word’s Bomb. Nova Iorque: Oxford University Press, 2008. 371 pp. Resenha de: PINTO, André. Ler História, n.62, p.210-215, 2012.
1 O livro Hiroshima – The world’s bomb de Andrew J. Rotter descreve, sob várias perspetivas, um dos incidentes mais marcantes do século XX. O alcance das bombas atómicas lançadas sobre o Japão deu a conhecer ao mundo uma arma com um poder destrutivo de tal ordem que Estados em guerra se poderiam destruir mutuamente em segundos. A ameaça atómica esteve no centro de um dos conflitos mais longos do século XX – a Guerra Fria – e está, ainda hoje, no centro de vários conflitos entre potências regionais. É então uma obra relevante para a coleção Making of the Modern World, da Oxford University Press. O objetivo desta coleção é juntar narrativas de momentos chave na história do século XX, explorando o seu significado para o desenvolvimento do mundo moderno.
2 Andrew J. Rotter, professor de História na Colgate University e Presidente da Society for Historians of American Foreign Relations, apresenta a tese principal da obra no seu subtítulo. Rotter tenta concretizar dois objetivos: o primeiro é mostrar a relevância da bomba atómica para a construção do mundo moderno – o objetivo da coleção onde está inserido; o segundo é globalizar o advento do lançamento da bomba atómica, tanto na sua produção, como na sua evolução no pós-guerra. No entanto, Rotter inclui mais uma análise globalizante na sua narrativa.
3 Uma tese secundária é a do declínio da moral dos bombardeamentos feitos pelos vários países envolvidos na II Guerra Mundial, culminando no lançamento da bomba atómica pelos Estados Unidos. Rotter descreve como, de ambos os lados da contenda, a ofensiva superou a filosofia de ataques a alvos militares e a moral associada ao ataque a populações civis foi esquecida, suplantada por objetivos quantitativos e pela falta de exatidão das armas utilizadas. Esta tese, tal como a anterior, é bastante clara na narrativa de Rotter.
4 No entanto existem mais dois pontos de interesse na construção da obra. O primeiro ponto de interesse é o relevo dado à assumption theory, segundo a qual a bomba, a partir do momento em que a decisão do seu fabrico foi tomada, seria sempre utilizada. Rotter não subvaloriza nenhuma das razões da bibliografia tradicional – militares, diplomáticas e culturais – no entanto, dá enfoque a uma razão burocrática, mostrando como o decisor último, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, foi confrontado com uma decisão de Roosevelt à qual vai apenas dar continuidade. O segundo ponto pode ser representado pela dicotomia entre «guerra justa» e «justiça na guerra». Esta dicotomia tem interesse na narrativa, pois Rotter coloca-a na experiência do homem da ciência, traçando o caminho da ação científica desde a sua tradição universalista pré-guerra, até ao serviço do estado-nação característico da II Guerra Mundial. Este quarto ponto conclui a divisão da obra em quatro vetores analíticos, horizontais a toda a obra.
5 Na narrativa podem ser identificados os pontos de vista militar, diplomático, político, científico, tecnológico e cultural. Como qualquer obra abrangente, este livro não satisfará por completo o especialista de cada um dos campos, mas sim um público geral que se interesse pela matéria, objetivo da coleção onde a obra é incluída. A narrativa está organizada em oito capítulos, cada um composto por vários subcapítulos.
6 No primeiro capítulo o autor descreve a «república científica» transnacional do pré-guerra e desenvolve o tema da ética científica associada ao possível poder destruidor dos avanços científicos. Para ilustrar este desenvolvimento, Rotter recorre ao exemplo da utilização do gás como arma na I Guerra Mundial, fazendo a ponte com a moral militar na utilização de armas insidiosas, traçando um paralelo entre o gás e a radiação.
7 O segundo capítulo é dedicado ao Reino Unido. Aqui é apresentado o laboratório de Cavendish como instituição-mãe da bomba atómica. Sob a orientação de Rutherford, cientistas de vários países desenvolvem a parte teórica que permitirá a construção da bomba. Rotter fomenta a globalidade da origem científica da bomba descrevendo as nacionalidades dos vários intervenientes e apresenta as motivações científicas por detrás do trabalho desenvolvido – o poder bélico, o poder dissuasor e o avanço científico em si, com todas as utilizações possíveis.
8 No terceiro capítulo, dedicado à Alemanha e ao Japão, Rotter define os pontos chave no sucesso da construção da bomba. O acesso à matéria-prima – urânio e rádio –, a liberdade de produção científica interdisciplinar e a coordenação dos vários projetos multidisciplinares. Descrevendo os falhanços da Alemanha e Japão nestes fatores-chave, Rotter deixa a narrativa aberta para a explicação dos fatores de sucesso na produção da bomba pelos Estados Unidos.
9 Os quarto e quinto capítulo dedicam-se ao desenvolvimento da bomba pelos Estados Unidos e à sua utilização. O autor identifica a origem britânica do relatório MAUD – onde, pela primeira vez, é apresentada a viabilidade da construção da bomba atómica e elencadas as condições necessárias ao seu fabrico. No quinto capítulo, Rotter utiliza os pontos de vista militar, político e diplomático para descrever o contexto e promover a discussão sobre lançamento da bomba. Um dos pontos principais da obra está na descrição de três pontos de vista de decisores relevantes, dois presidentes americanos e o secretário de Guerra da altura. São as análises de Truman – logo após o lançamento da bomba indicando como motivação a vingança pelo ataque a Pearl Harbour –, Eisenhower – perante o contexto da época, considerava não ser necessário o bombardeamento – e Stimson – indicando, como motivos para o uso da bomba, a razão militar e a poupança de vidas de ambos os lados, considerando a alternativa de uma invasão terrestre. A estas análises, Rotter acrescenta vários fatores, tais como a preocupação em evitar a intervenção russa no Pacífico, a vontade expressa da sociedade norte-americana e a razão burocrática. Um outro fator relevante nestes capítulos é a descrição do bombardeamento incendiário de Tóquio que, sendo prévio ao lançamento de bomba atómica, é equivalente no grau de destruição descrito na obra.
10 O sexto capítulo descreve o contexto militar japonês mostrando, por um lado, a fragilidade da posição japonesa no Pacífico e a existência de uma elite que procurava a rendição condicionada e, por outro, a irredutibilidade dos militares japoneses e o poder que exerciam sobre o Imperador japonês.
11 O sétimo capítulo debruça-se sobre a União Soviética, num ponto de vista pós Hiroshima. Rotter analisa o poderio diplomático desta arma, desenhando-se o conflito latente das próximas quatro décadas e o papel que as armas de destruição maciça representarão, tanto na alimentação do conflito, como elemento dissuasor de concretização da guerra. Ao mesmo tempo que descreve o processo de decisão russo e as suas componentes, Rotter abre caminho para o oitavo capítulo, onde descreve os esforços de Reino Unido, França, Israel, África do Sul, China, e Índia para obter a bomba atómica.
12 Rotter apresenta uma narrativa multidisciplinar para um público-alvo generalista, ou uma narrativa bem construída para o início de um curso de História sobre o tema. Do ponto de vista científico, não perde tempo explicando o mecanismos de reações nucleares. No entanto, os conceitos utilizados permitem ao público-alvo procurar mais informação e ao autor complementar a narrativa. Dos pontos de vista militar, político e diplomático, recorre tanto a fontes primárias como secundárias, de uma forma expositiva e crítica, o que faz com parcimónia, enriquecendo a sua narrativa. Do ponto de vista cultural, não estudando a fundo os efeitos do bombardeamento na psique japonesa, não deixa de exemplificar os efeitos aos níveis de produção cultural e comportamental.
13 Pode resumir-se a relevância da obra na referência ao doomsday clock. Este mecanismo de monitorização, divulgado pela publicação de Chicago Bulletim of the Atomic Scientists, em 1947, apresenta o perigo de um desastre mundial como inversamente proporcional aos minutos em falta para a meia-noite. Observando os valores que o relógio já registou, durante a guerra-fria o valor esteve entre 2 e 12 minutos, registando o valor máximo de 17 minutos no início dos anos 90. Em 2012, o relógio apresenta 5 minutos para a meia-noite, sendo este valor justificado pelo perigo da queda de armas atómicas nas mãos de organizações terroristas transnacionais, pelo conflito regional entre as Coreias e pela facilidade das potências nucleares em provocar destruição maciça com o toque num botão.
14 Rotter distribui a narrativa ao longo de quatro linhas de análise. Três com um objetivo definido – mundialização do processo de produção atómica; queda generalizada da moralidade associada ao bombardeamento de civis no período anterior ao lançamento da bomba; e descrição das razões que levam ao lançamento da bomba – e uma linha analítica aberta – a moralidade científica na dicotomia entre «guerra justa» e «justiça na guerra». Sendo Rotter norte-americano é muito provável que o leitor identifique, nos dois primeiros eixos de análise, uma manobra para incluir o resto do mundo numa ação unilateral norte-americana. Aceitando essa intenção, o leitor notará também que o autor é claro na responsabilização norte-americana, «Americans, of course, did finally imagine and build and use the atomic bomb. There is no point denying that fact, no point in shifting responsibility for these decisions onto anyone else» (p. 95).
15 Na sua primeira linha de análise, Rotter apresenta três argumentos principais: as várias nacionalidades dos cientistas, a corrida das nações envolvidas na II Guerra Mundial para a produção da bomba e a disseminação do poder atómico do pós-guerra. Enquanto os dois últimos são argumentos fortes e bem construídos, a inclusão do avanço científico internacional contribui mais para o enfoque no Estado individual do que na comunidade mundial. Isto porque tanto os meios necessários e a construção da multidisciplinariedade, como a decisão da sua utilização, não são atributos da comunidade científica. Este argumento só poderá visto em função do dilema ético do cientista que constrói a bomba e não como fator globalizante da produção da bomba atómica.
16 Na segunda linha de análise, os argumentos mais fortes são as várias descrições da violência sobre civis dos bombardeamentos de ambas as partes até à bomba atómica. Rotter é claro ao afirmar que «The atomic bombs provided an exclamation point at the end of a continuous narrative of atrocity» (p. 147). O efeito da radiação é discutido na obra, tendo Rotter a consciência de que é o ponto fraco desta linha argumentativa, pois nenhuma arma anteriormente utilizada se lhe assemelha nesse aspeto. Se, por um lado, recorre a fontes primárias, afirmando que o efeito seria desconhecido dos decisores militares e da comunidade científica, é também perentório ao duvidar que fosse de facto assim. Para este leitor, é muito difícil encaixar a bomba atómica no contínuo escalar de violência da II Guerra Mundial, tanto pelo seu poder destruidor duradouro, como pelo efeito que teve, e continua a ter, em todos os seres humanos de todas as nações. napalm e a bomba atómica pertencem a duas categorias muito diferentes de armamento.
17 Na sua terceira linha de análise, Rotter descreve em pormenor as razões militares, diplomáticas e culturais apresentadas pela historiografia para o lançamento da bomba. Rotter dá então relevo à razão burocrática: «What mattered more was the assumption, inherited by Truman from Roosevelt and never fundamentally questioned after 1942, that the atomic bomb was a weapon of war, built, at considerable expense, to be used against a fanatical Axis enemy» (p. 170). Entenda-se este relevo como corajoso pela parte Rotter. Ao fazê-lo, indica que no processo de decisão do governo americano, a burocracia, foi tão relevante que a produção de uma arma pode tornar-se razão da sua própria utilização, por si só, ignorando-se os efeitos da mesma. Rotter é inteligente na junção de todos estes fatores, não eliminando ou criticando nenhum, já que todos explicam, de alguma forma, a utilização da bomba atómica.
18 A quarta linha argumentativa pode ser resumida numa única questão, já repetida em cursos de ética científica: se um cientista, no lugar de Oppenheimer, aceitaria construir a bomba atómica? Esta questão, que é a chave do dilema apresentado por Rotter, encontra na narrativa uma resposta parcial. Se, por um lado, Rotter se dedica a analisar a equipa de cientistas que participou na produção da bomba, por outro, deixa de fora os que foram convidados e não aceitaram. É compreensível que o faça, pois a bibliografia não é clara e, apesar de haver referências a convites a Einstein e Bohr, a participação destes foi limitada, ambivalente e pouco clara. Einstein é o melhor exemplo. Apesar de escrever uma carta a Roosevelt para que a bomba seja produzida e de ter uma participação de dois dias no projeto Manhattan, sempre condenou a utilização da bomba, escrevendo a Niels Bohr em 1944: «when the war is over, then there will be in all countries a pursuit of secret war preparations with technological means which will lead inevitably to preventative wars and to destruction even more terrible than the present destruction of life»1.
19 A questão moral na evolução científica é resolvida facilmente pelas definições de ser humano e pela natureza que nos rodeia. A natureza dos avanços científicos é, na maioria dos casos, benévola. Os avanços que permitiram a bomba atómica destinavam-se, e são hoje usados, na medicina, produção de energia e telecomunicações. O fator que provoca desequilíbrio é a apropriação pelos Estados, e hoje pelas empresas, dos avanços científicos. É o ponto em que o avanço científico deixa de ser uma resposta e passa a ter impacto na vida humana. Neste ponto, a moralidade do homem de ciência é tão relevante como a de qualquer outro homem.
20 Sabendo o que se sabia em 1941, eu, que sou engenheiro químico, teria aceite produzir a bomba. Caso a questão fosse posta após o lançamento da bomba, não teria aceite. É esta a natureza e o resultado de um dos principais acontecimentos do século XX, da qual a obra de Rotter é uma excelente narrativa.
Notas
1 Clark, Ronald W. Einstein: The life and times (1974), Nova Iorque, Avon Books, p. 698.
André Pinto – Engenheiro químico. Doutorando em Ciência Política no ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. andretpinto@gmail.com
Europe in the Era of Two World Wars. From Militarism and Genocide to Civil Society, 1900-1950 – BERTGHAHN (LH)
BERGHAHN, Volker R. Europe in the Era of Two World Wars. From Militarism and Genocide to Civil Society, 1900-1950. Princeton: Princeton University Press, 2006. 163 pp. Resenha de: NEVES, João Campos. Ler História, n.62, p.216-219, 2012.
1 Volker R. Berghahn é professor de História na Universidade de Columbia, em Nova Iorque. É doutorado pela Universidade de Londres e lecionou na Alemanha e em Inglaterra, antes de passar pela Brown University dos Estados Unidos. Trata-se de um especialista em história da Alemanha contemporânea e da relação entre os Estados Unidos e a Europa, focando-se essencialmente no estudo da Guerra Fria, sob esta perspetiva. É autor de uma obra relevante e diversificada, na qual se inclui The German Empire, 1871-1914: Economy, Society, Culture and Politics, que se centra no império conduzido por Bismarck, e mais tarde por Guilherme II. Trata-se de um estudo que pretende explicar como é que a Alemanha imperial eminentemente aristocrática, como foi a Alemanha do Kaiser e do chanceler Bismarck deu lugar ao Terceiro Reich, a partir de 1933. Publicou também America and the Intellectual Cold Wars in Europe que aborda as relações entre os Estados Unidos e a Europa durante a Guerra Fria, assente numa análise sobre a influência cultural americana na Europa do após II Guerra Mundial.
2 Europe in the Era of Two World Wars é um estudo histórico focado na análise das dinâmicas modernizadoras, económicas, sociais, culturais e políticas que marcaram a história europeia desde finais do século XIX até ao após II Guerra Mundial. O autor aplica o seu modelo teórico à história da Alemanha deste período, fazendo aproximações mais generalizantes à história do pensamento político, cultural e intelectual europeu, indissociável daquilo que levou ao eclodir dos dois conflitos mundiais. A sua proposta para compreender a Europa entre guerras baseia-se em duas alternativas políticas radicalmente opostas, que consubstanciavam formas de organização social modernas. Ao contrário dos teóricos liberais, Volker recusa categoricamente associar à modernidade a existência exclusiva de comunidades políticas baseadas nos princípios de abertura política, económica e cultural, avessas à violência e regidas pelos pressupostos democráticos da solidariedade e da justiça. As sociedades governadas pelos «homens de violência» são também um produto e uma consequência da modernidade. A dicotomia central da obra é entre uma sociedade democrática, parlamentar e liberal, que deveria adotar o modelo económico americano dos anos 1920, orientando a produção industrial para o consumo e satisfação das necessidades materiais dos seus cidadãos numa conjuntura de paz, e uma sociedade totalmente militarizada, que deveria reproduzir a utopia da «comunidade das trincheiras» da I Guerra Mundial, governada por «homens de violência», com o desiderato de dirigir toda a produção industrial para o futuro esforço de guerra. Os Estados Unidos formaram a alternativa de sociedade pacífica ainda antes de 1914, em oposição aos regimes europeus que propugnavam a guerra total. A paz entre os cidadãos só poderia ser garantida pelo contínuo progresso económico e material; de outro modo, um clima de conflito e guerra civil poderia pôr em causa a democracia, como aconteceu na República de Weimar.
3 A metodologia utilizada no livro consistiu no transporte de dois modelos de análise teóricos, aplicáveis ao passado histórico europeu, inserindo a teoria no trabalho empírico. A opção metodológica de analisar a Alemanha explica-se pelo conhecimento profundo que Volker tem da história e da cultura alemãs e pelo facto dos dois modelos de sociedade que caracterizam a sua análise terem tido uma concretização histórica na Alemanha entre guerras. A república de Weimar, antes da sua progressiva decadência consubstanciada nos últimos executivos de Brüning, Von Papen e Sleicher, foi um regime democrático, com uma constituição moderna que garantia a liberdade dos cidadãos e da imprensa, encaixando cabalmente na definição de sociedade cívica. Já o nazismo foi o apogeu do regime comandado pelos «homens de violência», alicerçados numa visão racial e biológica da história e da humanidade. O autor não cai em determinismos redutores nem aceita propostas contra-factuais aplicáveis ao passado histórico, não existindo no seu entendimento uma noção de inevitabilidade perante o triunfo dos «homens de violência» durante os anos 30. Esta visão da sociedade materializou-se, mas para Volker a alternativa cívica também poderia ter tido sucesso, não fossem as condicionantes históricas estruturais que pesaram sobre a Alemanha, como as imposições decorrentes do tratado de Versalhes que alimentaram o ressentimento e o sentimento de vingança do povo alemão, a que se juntou uma crise económica irresolúvel e um clima de guerra civil que sucedeu ao armistício de 1918 e reapareceu no aftermath do crash bolsista de 1929. O precário estabelecimento da primeira experiência democrática alemã fracassou devido à ação dos «homens de violência» e à subsequente adesão das massas ao programa de militarismo e racismo extremo de Hitler como solução para a crise económica, institucional e social.
4 O livro foca-se numa narrativa que pretende explicar como as diferentes propostas de sociedade surgiram e foram entendidas pelos protagonistas políticos da primeira metade do século XX. Sendo um estudo muito específico, não tem como objetivo narrar exaustivamente a história política, militar e cultural do século XX europeu. Tem propósitos menos ambiciosos que se coadunam com a perspetiva teórica e analítica adotada, fornecendo uma explicação para o desenvolvimento de uma violência de massas sem grandes precedentes na história, excetuando a violência colonial em África, que é descrita em detalhe no primeiro capítulo. As noções de violência de massas, mobilização total da nação para a guerra e de aniquilação do inimigo não foram um exclusivo do militarismo alemão, sendo as comparações realizadas com outros Estados europeus um dos trunfos do livro, ao desmistificar esta falsa ideia. Os Estados-Maiores da França, da Rússia e do Império Austro-húngaro também planearam e pensaram a guerra em termos da aniquilação total do inimigo.
5 Os objetivos teóricos, analíticos e conceptuais que presidiram à reflexão de Volker têm elementos de continuidade que se complementam e justificam entre si, baseados na contradição estruturante da história da Europa contemporânea: ao ser simultaneamente o berço da cultura democrática, cívica e liberal e das formas mais violentas de militarismo, expansionismo e extremismo ideológico. A sua explicação para o sucesso dos «homens de violência» resulta duma conjugação de fatores, entre os quais o ethnonationalism, aliado ao culto dos valores heroicos da violência e à presença dum darwinismo social radical que se coadunou com o desenvolvimento de noções pseudocientíficas sobre o valor constitutivo da raça.
6 O capítulo «Violence Unleashed, 1914-1923» versa sobre o acontecimento fundador do século XX europeu, rutura decisiva em todos os aspetos da vida social e humana. Nos impérios centrais, a elite militar tomou uma posição de predomínio devido à excecionalidade da situação internacional, afastando os políticos da condução da guerra. A mobilização total dos recursos humanos e materiais da nação foi aqui inaugurada, incluindo tanto a frente de guerra como a home front; tal como a violência de massas dirigida contra as populações civis em solo europeu, compreensível à luz da necessidade de aniquilar totalmente as nações adversárias.
7 A maior originalidade da proposta de Volker está em não considerar o caminho para a rutura revolucionária e violenta preconizada pelos movimentos fascistas como o inevitável destino para parte da Europa dos anos 1920. Não procedendo a um exercício de história contra-factual, que é necessariamente do domínio da literatura e não da história científica, o autor pensa que a possibilidade de formação de sociedades cívicas no coração da Europa foi muito real. Reproduzindo a organização social americana, deveriam ser comunidades políticas democráticas e parlamentares, em que o bem-estar dos cidadãos seria assegurado pela produção em massa de matriz fordiana, que levaria aos mercados produtos de qualidade a um preço comportável para o indivíduo comum. A assinatura do pacto de Locarno, em 1925, e a adesão à Liga das Nações em 1926 dá credibilidade ao pressuposto de que a Alemanha nos anos 1920 não era propriamente um pária internacional e que, inevitavelmente, iria assistir à ascensão dos «homens de violência».
8 Entre os aspetos menos conseguidos do livro, saliente-se a importância exagerada dada aos dois modelos conceptualizados, como se estes tivessem sido as duas únicas alternativas políticas na Europa entre-guerras. Diversos regimes não se enquadram nem no modelo de sociedade cívica, nem no de sociedade totalmente militarizada, e dominada pelos «homens de violência»: o Estado Novo de Salazar ou o franquismo, em Espanha, não se adequam cabalmente aos paradigmas propostos, tal como a França de Vichy ou o «austro-fascismo» de Dolfuss. A explicação da organização e estruturas paramilitares dos «homens de violência» é superficial, existindo uma ausência interpretativa do papel fulcral desempenhado pelos partidos políticos na sua ascensão e legitimação eleitoral e política. A utilização dos meios de comunicação modernos e da cultura de massas pelos extremistas não é devidamente enquadrada, havendo somente pequenas referências à sua importância decisiva para a adesão ao fascismo vinda debaixo. O sentimento de decadência civilizacional e de apocalipse, produto da filosofia e do pensamento intelectual do século XIX está totalmente ausente da obra, tendo este sido um propulsionador fundamental para a destruição dos regimes liberais. A apologia da violência e da guerra por grupos de intelectuais, como o da Action Française não é referida, nem a repercussão que as suas ideias tiveram na extrema-direita europeia. Os movimentos artísticos, obcecados com a violência, como os Surrealistas, os Expressionistas e os Futuristas, que transportaram o sentimento de decadência civilizacional para o século XX também não estão presentes na obra nem tão pouco a influência que tiveram sobre uma ideologia centrada nos valores heroicos da guerra, da rutura revolucionária e da violência.
João Campos Neves – Doutorando em História Moderna e Contemporânea e membro do CEHC, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. A sua área de pesquisa é a história política e militar em Portugal durante o Estado Novo. E-mail: neves_zaratustra@hotmail.com
Baluartes da Fé e da Disciplina. O enlace entre a Inquisição e os bispos em Portugal (1536-1759) – PAIVA (LH)
PAIVA, José Pedro. Baluartes da Fé e da Disciplina. O enlace entre a Inquisição e os bispos em Portugal (1536-1759). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011. Resenha de: XAVIER, Ângela Barreto. Ler História, n.61, p.189-194, 2011.
1 O título deste livro propõe uma tese que é, por assim dizer, contraintuitiva: a de que se verificou um enlace – uma aliança? – entre os bispos e a inquisição no processo de controlo da ortodoxia (e, em concreto, de repressão da heresia) e de disciplinamento social que se pode identificar no Portugal da época moderna. Para quem defende a natureza jurisdicional da monarquia portuguesa, na qual cada «corpo» da respublica era demasiado ciente das suas prerrogativas, a ideia de um enlace entre inquisição e bispos não é, de facto, evidente. Partindo do conceito de campo forjado por Pierre Bourdieu, é o próprio José Pedro Paiva a lembrar, aliás, nas páginas introdutórias do livro, e cito, que a Igreja era «uma instituição heterogénea, um corpo pluricelular, formada por diversos grupos e uma multidão de indivíduos. Estes possuíam uma cultura heteróclita, uma formação moral e princípios religiosos com alguma margem de diferenciação» (p. 8). E é o próprio autor a afirmar que o surgimento da Inquisição em Portugal, em 1536, tinha originado uma situação inédita, obrigando a uma reorganização dos equilíbrios de poder no campo religioso.
2 Apesar disso – e é sobre esta situação improvável que o livro incide – a história da relação entre os bispos e a inquisição, dois incontornáveis protagonistas do campo religioso, seria, até 1745, uma história feliz, mais feita «de laços do que de limites» (p. 188). Contrapondo-se aos que têm atribuído quase exclusivamente ao Santo Oficio a missão de velar pela defesa da ortodoxia católica no Portugal da época moderna, José Pedro Paiva apresenta, ao invés, uma paisagem na qual esta missão era executada por esses dois baluartes da fé que eram o episcopado e o Santo Ofício.
3 Mas antes de passar aos conteúdos do livro, creio que, para o melhor podermos apreciar, ele deve ser situado, em primeiro lugar, na produção historiográfica do próprio autor. Os primeiros dois livros de José Pedro Paiva – Práticas e crenças mágicas. O medo e a necessidade dos mágicos na diocese de Coimbra (1650-1740) (Coimbra: Livraria Minerva, 1992), e Bruxaria e superstição num país sem caça às bruxas: 1600-1774 (Lisboa: Editorial Notícias, 1997) – incidiram, como é sabido, sobre temas sobre os quais pouco ou nada se escrevera em Portugal, mas que eram amplamente discutidos no contexto internacional. Dessa forma, José Pedro Paiva deu um contributo muito importante para o entendimento das práticas inquisitoriais a este nível, mas também, para um conhecimento mais aprofundado da sociedade portuguesa da época e, nomeadamente, a sua religiosidade. Com os capítulos de sua autoria publicados no 2º volume da História Religiosa de Portugal, os quais providenciam um excelente mapeamento de muitos aspetos da história institucional da Igreja da época moderna, nomeadamente na sua relação com o poder político, começa a configurar-se, com alguma visibilidade, aquilo que se poderia apelidar de projeto sistemático – para o qual os anteriores livros acabam por concorrer. Com a publicação, em 2006, de Os Bispos de Portugal e do Império – 1495-1777 (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra), de Os Baluartes da Fé, em 2011, bem como de um outro projeto bibliográfico já na forja, parece tornar-se claro que José Pedro Paiva se constitui como um dos mais importantes renovadores da história portuguesa da época moderna – nomeadamente da sua história religiosa –, recolocando o fenómeno religioso, as instituições e os agentes religiosos, numa história mais geral, e, em concreto, na história política, da qual foram muitas vezes expulsos.
4 Este output historiográfico torna cada vez mais visível, importa dizer, a impossibilidade de se fazer uma boa história política, social, cultural, da época moderna, sem atender ao papel estrutural que a dimensão religiosa nela teve. Note-se, ainda, que este revisionismo historiográfico que em Portugal tem contributos essenciais de outros autores – Francisco Bethencourt, José Adriano Freitas de Carvalho, Maria de Lurdes Correia Fernandes, Federico Palomo, e mais recentemente Giuseppe Marcocci –, dialoga diretamente com o que de melhor se faz, a este nível, internacionalmente.
5 Dito isto, passe-se, então, a uma descrição muito sucinta do livro que se desenvolve em cinco longos capítulos.
6 Os primeiros dois capítulos privilegiam a dimensão institucional do diálogo entre bispos e Inquisição e o modo com ambos colaboraram na repressão da heresia.
7 A fundação da Inquisição, as alterações que necessariamente comportou para o campo religioso, potenciadas pelas estratégias desenvolvidas (com frequente proteção do poder político, nomeadamente do cardeal D. Henrique, e do poder papal) no sentido de aumentar as suas competências sobre matérias de jurisdição da fé, colidindo com áreas tradicionalmente reservadas à esfera episcopal (nomeadamente em matéria de confissão, de repressão das heresias, e até mesmo de censura), constituem as temáticas abordadas no primeiro capítulo.
8 Apesar das áreas de inevitável colisão entre ambos, e apesar da complexidade do processo, o autor mostra que o ajuste do episcopado em relação à nova situação jurisdicional, ocorreu desde muito cedo – a começar pelos bispos diretamente envolvidos no processo de fundação da Inquisição, ou nos que foram inquisidores, e continuando na «estrutura estável disseminada por todo o reino, que o esquadrinhava até ao nível da mais pequena paróquia» que os bispos dispunham, cujos agentes – párocos, vigários, curas –, e dispositivos – as visitas pastorais – reuniam um caudal de informação que desembocava na Inquisição, sugerindo, inclusive, matérias nas quais esta podia e devia intervir. Em suma, esse ajuste de objetivos permitiu que entre bispos e Inquisição houvesse uma relação de «grande harmonia, estreita colaboração e profunda complementaridade» (p. 140), relação que é atestada por um conjunto de documentação que Paiva utiliza de forma convincente.
9 Os dois capítulos seguintes incidem sobre «o enervamento de matriz ideológica» que impregnava a boa relação entre as duas instituições – objeto do terceiro capítulo –, o qual melhor se entende no contexto dos processos de disciplinamento social que caracterizaram os «estados confessionais» da época moderna, analisados no quarto capítulo.
10 Esse enervamento de matriz ideológica tinha no mal-estar em relação aos cristãos-novos o principal pólo unificador, expresso em sermonários, tratadística e catecismos. A sintonia ideológica de que nos fala José Pedro Paiva, fazia tanto mais sentido quanto era estruturante a convicção de que os cristãos-novos eram um perigo para a coesão da respublica, constituindo-se, por isso mesmo, como um obstáculo ao próprio poder político. Daí a relevância da aliança entre a coroa e a igreja – da qual a relação entre bispos e inquisição se constituía como mais uma, e muito importante, declinação.
11 No capítulo seguinte, uma excelente introdução à operatividade do conceito de «disciplinamento social» para analisar os processos políticos e sociais que ocorreram na época moderna, e o papel que bispos e inquisição aí tiveram, Paiva mostra que, e cito, «bispos e inquisição vigiaram espaços diferenciados, concentraram a atuação sobre estratos de populações distintos, puniram crenças religiosas e comportamentos de diferente tipo (…)» – apesar de os bispos terem julgado mais gente e de, no geral, terem uma severidade punitiva bastante menor, marcados pelo seu ethos de pastores, revelado, aliás, na opção por «estratégias mais pedagógicas, educativas e doces» (p. 292), em contraponto com a «severa e pública repressão das heresias» que caracterizava o trabalho dos «vigias», i.e., dos inquisidores.
12 Estes quatro capítulos visam demonstrar a tese central do livro: de que a relação entre estas duas instituições foi feita, nestes dois séculos, mais de laços do que de limites. Contudo, e de modo a complexificar a paisagem, o autor dirige a sua objetiva, no capítulo final, para dois pontos distintos: para o lado, e para o interior.
13 Na primeira parte do capítulo final, compara as experiências antes descritas, com os casos espanhol e italiano, para reiterar a ideia – antes enunciada – que a experiência portuguesa, fazendo jus ao tradicional provérbio dos «brandos costumes», tinha sido muito mais pacífica do que as vizinhas. Isto é, o «corporativismo institucional» – se é legítimo falar assim – seria muito maior naqueles territórios do que em Portugal, onde, no final de contas, as próprias instituições de disciplinamento eram disciplinadas…
14 Na segunda parte deste capítulo mostra que esse disciplinamento de ambas instituições – e repare-se que no livro fala-se, quase sempre de bispos e de Inquisição, e raramente de bispos e inquisidores – não silenciava posições dissonantes. Como em qualquer bom e duradoiro enlace, também no casamento entre o Santo Oficio e os bispos «existiram desconfianças, receios, problemas e até discórdias» (p. 322), e grandes conflitos. Ou seja, a harmonia entre as duas instituições também se construiu tensionalmente, no século XVIII, com a querela que opôs Inácio de Santa Teresa à Inquisição, prolongada na questão do sigilismo, cavar-se-ia um fosso inultrapassável entre Inquisição e bispos, os quais deixariam de se submeter, doravante, à hegemonia entretanto alcançada pela Inquisição. Ao mesmo tempo que se anunciavam os novos ventos da secularização. Ou seja, o enlace que caracterizara dois séculos de relação e que, para muitos, explicava esse Portugal «limpo de scismas e erros» (p.427) perderia agora a vitalidade que o caracterizara, nele passando a medrar, nas palavras do autor, «mais limites do que laços» (p. 418). Intui-se, pela leitura do livro, que no fim desse casamento vislumbrava-se, também, o fim de um sistema, cujos primeiros golpes surgiriam, logo, com a chegada do Marquês de Pombal ao poder.
15 Para além das inúmeras virtualidades que o livro encerra que se podem declinar das observações anteriores, e de outras que, por economia de espaço, não podem aqui ser desenvolvidas, algumas opções de caráter metodológico também devem ser salientadas. Desde logo, a sua amplitude geográfica e o jogo de escalas que permite, pois aí se contam, simultaneamente, uma história macro, uma narrativa maior – e não apenas portuguesa –, e várias histórias micro (e aí se pressente a lição de Ginzburg) que, de uma ou de outra forma, para ela concorrem. Por exemplo, ficamos a conhecer mais sobre a densidade e variabilidade das vidas no interior do reino, em vez de nos ficarmos por alusões ao que se passava nas grandes cidades, i.e., as cidades onde havia Inquisição. Esse pulsar da vida das gentes de Viseu até Évora, e daqui a Goa ou a Lisboa, é, a meu ver, muito enriquecedor. Ou seja, José Pedro Paiva consegue apresentar um elegante equilíbrio para as difíceis articulações entre o macro e o micro, entre estrutura e agency, entre análise e processo, o que, como é sabido, é extremamente difícil de alcançar.
16 Esta verificação convida a uma segunda observação: a dimensão sociológica (e a marca de Pierre Bourdieu é explícita) e antropológica de trabalhos anteriores do José Pedro Paiva, também aqui está bem presente. Não só na identificação de regularidades grupais (a Inquisição como bloco, os bispos), mas também no mapeamento das minudências da vida concreta, e ao modo como estas deram textura ao processo histórico, não se deixando domesticar completamente (não se deixam disciplinar?), pelo olhar, pelos modelos teóricos, pela escrita do historiador.
17 Ainda assim, a autora destas páginas não ficou totalmente convencida com o argumento desenvolvido por José Pedro Paiva. A meu ver, os Baluartes da Fé e da Disciplina permitem uma contraleitura. I.e., uma leitura igualmente densa da narrativa aí contada – assente na mesma documentação e nos muitos casos elencados pelo autor – pode suscitar mais dúvidas em relação à «grande harmonia, estreita colaboração e profunda complementaridade» (p. 140), que, segundo José Pedro Paiva, teria caracterizado a relação entre bispos e Inquisição nos séculos XVI e XVII, e para além das ambiguidades referidas pelo próprio. O exemplo de D. Gaspar de Leão, primeiro arcebispo de Goa, a quem coube estabelecer a Inquisição naqueles lugares é, a esse respeito, sintomático. A carta pastoral com que abre a tradução do tratado de Jerónimo de Santa Fé, publicado em Goa em 1565, expressa uma tendência, presente em vários outros prelados em optar pelas vias doces em vez de escolher as vias repressivas que a Inquisição corporizava na relação entre cristãos e judeus e/ou cristãos-novos. Mas outras situações, também exploradas por José Pedro Paiva, como as dificuldades dos anos iniciais, os conflitos de precedências no âmbito cerimonial, ou as discórdias mais substantivas às quais o autor dedica várias dezenas de páginas, podem também revelar que não foi com bons olhos que os bispos assistiram à implantação da Inquisição, e às suas tentativas desta – e dos seus inquisidores – em ser reconhecida como a principal instituição eclesiástica portuguesa. Mas estas minhas dúvidas são, também elas, ancoradas em posicionamentos historiográficos igualmente explícitos, os quais formatam, inevitavelmente, a interpretação deste livro incontornável para quem quiser compreender os processos políticos, institucionais, sociais e culturais do Portugal da época moderna, pelo que convido o leitor a, por si só, inquirir da natureza da relação entre estes dois baluartes da fé – bispos e inquisidores – e avaliar as suas características.
Ângela Barreto Xavier – ICS – Universidade de Lisboa
A História da Construção em Portugal – Alinhamentos e Fundações – MATEUS (LH)
MATEUS, João Mascarenhas. (Coord). A História da Construção em Portugal – Alinhamentos e Fundações. Coimbra: Edições Almedina, 2011. Resenha de: FERNANDES, José Manuel. Ler História, n.61, p.194-195, 2011.
1 Integrada na coleção «Cidades e Arquitetura», dirigida por Carlos Fortuna e José António Bandeirinha, a obra A História da Construção em Portugal – – Alinhamentos e Fundações foi coordenada pelo engenheiro João Mascarenhas Mateus, e publicada nas Edições Almedina S.A. de Coimbra, em 2011.
2 A obra constitui-se no resultado direto da I Conferência sobre a História da Construção em Portugal, realizada em 2010 no CIUL – Centro de Informação Urbana de Lisboa, pela iniciativa do CES – Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, funcionando de algum modo como atas do referido encontro, e contando a edição ainda com o apoio da empresa STAP, por via de Vítor Coias, desde há muto ligado aos temas de reabilitação urbana.
3 João Mascarenhas Mateus tem um percurso académico e formativo que o recomenda para a temática que agora desenvolveu e aprofundou: nascido em 1964, é investigador do CES, e doutorado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico da UTL; fez o mestrado na Universidade Católica de Lovaina, na área das Ciências da Arquitetura, Conservação de Monumentos e Sítios Históricos.
4 A História da Construção constituiu-se paulatinamente como disciplina autónoma desde há décadas em alguns países, nomeadamente em Espanha e Inglaterra; mas em Portugal avança ainda nos seus primeiros passos – donde a oportunidade deste livro é fundamental, como um quase primeiro documento congregador de metodologias, temáticas e áreas de estudo específicas.
5 A pertinência de uma História da Construção, abrangente e compreensiva, é imensa, desde a desvalorização da temática construtiva tradicional que a Arquitetura Moderna, assente no total domínio das novas tecnologias (aço, betão), encetou ao longo do século XX. Trata-se de uma área de conhecimento que, estruturante no seu domínio, permite articular de uma forma renovada a História da Arquitetura, com a da Engenharia, com a das Ciências e Técnicas – sem esquecer a ligação aos domínios da Economia, da Sociologia, da Antropologia.
6 Efetivamente, a construção e as suas longas, seculares e enraizadas tradições vive e depende do mundo dos materiais, da arquitetura, das obras e suas estruturas, dos técnicos, operários e comunidades especializadas, e dos respetivos custos, investimentos e iniciativas.
7 Em Portugal, quase tudo estava ainda por fazer, no aspeto do estudo e do conhecimento das múltiplas interações historicamente havidas entre todos estes domínios. É este trabalho que o livro aqui apreciado enceta, em termos organizados e projetivos: ao longo dos oito textos que inclui, os seus oito autores vão abordando assuntos que se completam e para os quais preparam o leitor, sucessivamente. A formação diferenciada desses mesmos autores facilita essa concretização, e justifica a sua inclusão.
8 Num plano introdutório e sistematizador, surgem: o texto do coordenador, que procura na apresentação dos trabalhos incluídos uma síntese dos temas fulcrais da história da construção em Portugal; e o trabalho por Santiago Huerta, que sistematiza as tradições, as características e o percurso recente da disciplina internacionalmente.
9 Nos seis textos seguintes, organizados cronologicamente, cada contributo refere seis temas concretos, dentre os muitos possíveis, que apontam para estudos de caso pertinentes e quase sempre incontornáveis: o estaleiro medieval de obra e os seus agentes mais diretos, com o caso do Mosteiro da Batalha (por Saul António Gomes); o longo processo da construção do Palácio da Ajuda (aqui em articulação com os temas provindos da História da Arte, suas contradições e sucessos), por José Monterroso Teixeira; e a essencial temática da construção pombalina, aqui sintetizada (talvez demasiado) por Jorge Mascarenhas.
10 Os três textos seguintes estabelecem-se já no plano dos tempos industriais e pós-industriais: a construção dos caminhos de ferro na fase oitocentista, referindo-se aos aspetos da produção e utilização do ferro, do aço, às questões de produção nacional e de importação, ao domínio das comunidades de operários e à industria (por Magda Pinheiro); os primeiros exemplos das obras em betão armado executadas no país, nomeadamente pontes e depósitos de água, por uma famosa firma nacional da especialidade, no arranque de Novecentos (por André Tavares); e o caso profissional e de personalidade criativa do grande engenheiro Edgar Cardoso, no tema da conceção de pontes, por Manuel Matos Fernandes.
11 Muitos outros temas ficam certamente por tratar – para só citar dois, os relacionados com a produção nacional da construção nos espaços coloniais, ou o da construção no quadro da arquitetura popular ou vernácula – mas os caminhos básicos ficam abertos ou apontados, e os seus temas de investigação lançados; e, ainda, de algum modo, desejadas e previstas as próximas iniciativas de reunião científica que permitirá avançar mais o conhecimento neste ramo. O livro cumpre, pois, os seus objetivos essenciais, de apresentação do estado da questão em Portugal, de sistematização e de abertura do conhecimento a uma área fulcral do saber técnico-artístico.
José Manuel Fernandes – Arquiteto
Community, Culture and the Makings of Identity: Portuguese-Americans along the Eastern Seaboard – HOLTON (LH)
HOLTON, Kimberly Da Costa; KLIMT, Andrea (Eds.). Community, Culture and the Makings of Identity: Portuguese-Americans along the Eastern Seaboard. North Dartmouth: University of Massachusetts Dartmouth, 2009. Resenha de: AZEVEDO, Joana. Ler História, n.61, p.196-200, 2011.
1 A coletânea Community, Culture and the Makings of Identity da emergente coleção «Portuguese in the Americas Series», editada pelo Center for Portuguese Studies and Culture da Universidade de Massachusetts Dartmouth, reúne um conjunto de estudos, sobre os contextos históricos, políticos e culturais que caracterizam a emigração portuguesa para os Estados Unidos da América e, em particular, o modo como os emigrantes se fixaram ao longo da costa leste. De forma menos aprofundada, integra ainda um pequeno conjunto de reflexões sobre outras populações imigrantes de língua portuguesa, como a brasileira e cabo-verdiana.
2 Os Estados Unidos da América são actualmente, e conjuntamente com o Canadá, um dos principais destinos das migrações internacionais. No caso português, o fluxo migratório transatlântico inscreve-se no primeiro grande ciclo migratório, iniciado em meados do século XIX até às primeiras décadas do século XX e, posteriormente, na vaga migratória dos anos 1960. Os emigrantes que chegaram aos EUA eram oriundos na sua maioria dos arquipélagos dos Açores e da Madeira e estabeleceram-se principalmente na área da Califórnia e de Massachusetts. Os EUA mantiveram-se, com oscilações, um importante destino da emigração portuguesa até ao início dos anos 1990. Atualmente estima-se que aí se estabeleceram cerca de 210 mil imigrantes nascidos em Portugal, número que ascende a 1,5 milhões de pessoas se considerarmos todos aqueles com origem portuguesa.
3 O fenómeno das migrações tem sido amplamente estudado pelas ciências sociais portuguesas, mas a produção científica sobre a emigração portuguesa, considerada uma característica estrutural da demografia nacional, diminuiu significativamente após os trabalhos de referência relativos às grandes vagas migratórias da década de 60 e só mais recentemente se tem vindo a renovar o interesse por este campo de estudos. Um dos fatores que contribuiu para relegar este âmbito de estudo para segundo plano foi o facto de Portugal se ter tornado, a partir dos anos 1980, um destino de imigração, acompanhando uma tendência observada noutros países do espaço europeu. É hoje reconhecido que no padrão migratório português coexistem duas dinâmicas, uma de imigração e outra de emigração, sendo, no balanço, esta última muito mais expressiva.
4 Os organizadores da obra, na sua nota introdutória, mostram precisamente como também nos Estados Unidos da América a imigração portuguesa foi objeto de reduzida produção científica, apesar dos fluxos substanciais e continuados. Neste sentido, a presente obra propõe-se antes de mais como um contributo para estruturar um campo de estudos sobre a experiência luso-americana. Caracteriza a vários níveis a presença dos portugueses nos EUA ao longo de dois séculos. Compila vinte contributos multidisciplinares situados no âmbito das ciências sociais, em parte inéditos, em parte já previamente publicados, mas com pouca visibilidade e difusão.
5 As contribuições para esta coletânea estão organizadas em torno de cinco eixos de análise. O primeiro debruça-se sobre as questões da cidadania, da pertença e da comunidade. Parte-se de um estudo de Irene Bloemraad sobre a questão da «invisibilidade política» dos portugueses. Na literatura, a invisibilidade foi atribuída aos baixos níveis de escolarização dos portugueses, à experiência de uma ditadura que desincentivou formas de participação cívica e política e a traços culturais enraizados que teriam determinado historicamente o seu reduzido envolvimento político. A partir de uma comparação dos níveis de participação política dos portugueses em Boston e Toronto, Bloemraad vem mostrar que tais interpretações não tomaram suficientemente em consideração o efeito das instituições políticas e das políticas para a imigração no país de acolhimento. Explorando as diferenças entre os dois contextos, conclui que há entre os portugueses de Toronto maiores níveis de cidadania e uma maior visibilidade política, atribuíveis a políticas governamentais de apoio às comunidades locais, ao discurso multiculturalista e à relação do sistema político com as elites migrantes. Segue-se o texto de Bela Feldman-Bianco que aborda o debate sobre transnacionalismo a partir de investigação conduzida em Portugal e em New Bedford. Trata dois momentos distintos: o período da depressão económica dos anos 1920 e 1930, e no contexto da internacionalização da economia global, nos anos 1970 e 1980. Em análise, as (re)construções diferenciadas da classe, etnicidade e nacionalismo ao longo de diferentes gerações migrantes, no contexto da criação por parte do Estado português de uma nação portuguesa desterritorializada assente, segundo Feldman-Bianco, na reinvenção da memória coletiva e da saudade. Por fim, o texto de Andrea Klimt reconstitui o processo de formação de duas comunidades, nos EUA e na Alemanha, comparando trajetórias de vida de emigrantes portugueses, respetivamente, no sudeste de Massachusetts e em Hamburgo. Klimt identifica diferentes configurações relativamente aos modos de integração e aos projetos de vida: na Alemanha mais orientados para o retorno a Portugal e sem intenção de fixação, nos EUA, mais orientados para a fixação permanente no país de destino.
6 O segundo eixo de análise reflete sobre identidade, representações nos media e cultura expressiva. O primeiro contributo é o de João Leal, centrado na celebração das festas do Espírito Santo entre os imigrantes de origem açoriana em East Providence. No ritual dos «Impérios Marienses» coexistem duas dinâmicas: a recriação rigorosa das tradições e um processo de inovação cultural que foi incorporando diversas transformações que refletem o novo contexto sociocultural onde ocorrem. Por um lado, mantém e reforça a ligação dos imigrantes entre o local de origem e de destino, por outro, encerra uma função de tradução e de diálogo com a cultura americana. Já Kimberly DaCosta Holton dá conta de uma pesquisa etnográfica em torno do folclore português recriado no contexto de Newark. Os ranchos folclóricos dão expressão a específicas dinâmicas transnacionais de ligação económica, emocional e social a Portugal, criando «um só espaço de ação social». Entre outras implicações o folclore sustenta, segundo Holton, políticas migratórias na origem e no destino, reforçando o domínio da língua e valores portugueses, dos fluxos económicos entre os dois países, bem como a visibilidade política dos portugueses. Seguem-se os textos de Lori Batista e de Katherine Brucher nos quais se analisa o lugar da cultura expressiva e as políticas de negociação de identidades imigrantes a partir de dois casos ilustrativos: o primeiro, uma exposição sobre imagens da Virgem Maria na arte portuguesa, organizada nos anos 1990 pelo The Newark Museaum; o segundo, a digressão de uma banda portuguesa de Rhode Island a Portugal. A partir da análise de arquivos do jornal Diário de Notícias, no período entre 1919 e 1973, Rui Correia discute o papel da imprensa imigrante, em particular, enquanto espaço de pluralismo e dissenso durante o regime salazarista. O lugar dos media é objeto também do contributo de Onésimo Teotónio Almeida. Em análise o caso do Big Dan’s, um acontecimento media made dos anos 1980 na imprensa americana, a representação mediática produzida a este respeito e as implicações em termos da construção da imagem da comunidade portuguesa.
7 Na terceira parte, a obra aborda o tema da educação, mobilidade social e cultura política. No texto de M. Glória Sá e David Borges discute-se a ideia de que os menores níveis de mobilidade social dos portugueses são atribuíveis a uma herança cultural que subvaloriza a educação. Com base na análise de dados longitudinais relativos a educação, ocupação e rendimento por local de residência, os autores mostram que os baixos níveis educacionais dos portugueses de Massachusetts são resultado de estratégias racionais para fazer face aos constrangimentos do mercado laboral e das oportunidades educativas. Clyde Barrow procura desconstruir a ideia de que os portugueses apresentam menores níveis de participação cívica e política do que outros grupos étnicos nos EUA. Com base em três inquéritos realizados no sudeste de Massachusetts, em finais dos anos 1990, Barrow mostra que os níveis de participação, o comportamento e as preferências políticas dos portugueses se correlacionam em larga medida com os seus níveis educacionais e estatuto socioeconómico. Adeline Becker aborda o papel da escola e os efeitos das políticas educativas na identidade étnica de estudantes imigrantes portugueses na área urbana de New England.
8 Um quarto eixo de análise explora os temas do trabalho, do género e da família. A pesquisa de Penn Reeve debruça-se precisamente sobre a participação laboral dos portugueses do sudeste de Massachusetts, num período de grandes transformações do movimento laboral nos EUA, entre os anos 1920 a 1950. Reeve argumenta que apesar dos estereótipos dominantes, historicamente os portugueses foram parte ativa dos movimentos laborais da época, com uma participação moldada pelas lutas e tensões entre forças políticas conservadoras e radicais/de esquerda no seio dos sindicatos e da sociedade. Louise Lamphere, Filomena Silva e John Sousa restituem os resultados de um vasto projeto de investigação que analisa as estratégias mobilizadas por mulheres trabalhadoras na zona industrial de New England nos domínios do trabalho, das redes de parentesco e da organização dos papéis familiares. Ann Bookman aborda um estudo de caso na indústria elétrica procurando identificar os fatores que concorreram para a sindicalização feminina e reconstruir o processo de mudança social que engendrou formas de ativismo político entre trabalhadoras migrantes. Observando a interseção entre família, local de trabalho e comunidade, Bookman conclui que a sindicalização constitui uma forma de empowerment das mulheres imigrantes, que reforça a sua rede social no local de trabalho; há, no entanto, uma grande variabilidade nos padrões de empowerment entre diferentes grupos.
9 Por último, um quinto eixo analítico é dedicado à raça, pós-colonialismo e contextos diaspórios e integra etnografias sobre outros grupos imigrantes oriundos do espaço lusófono. O texto de Miguel Moniz traz a debate a questão controversa do reconhecimento legal das minorias migrantes nos EUA e reconstrói o processo etno-histórico de exclusão dos portugueses do estatuto legal de minoria étnica. Colocando em evidência a natureza política deste processo, Moniz mostra como as categorias de raça e etnia são estrategicamente convocadas, de forma fluida, ambivalente ou mesmo contraditória, pelo Estado e pelos atores sociais. Entre os imigrantes lusófonos e seus descendentes este processo teve como consequência a emergência de duas categorias inter-relacionadas que definem o ser white portuguese e o ser black portuguese. O único contributo relativo à imigração brasileira nos EUA surge no trabalho etnográfico de Ana Ramos-Zayas que analisa os modos como se produzem as interações quotidianas de mulheres brasileiras com a comunidade portuguesa de Newark, num contexto fortemente racializado e permeado por estereótipos de género. Na etnografia que nos apresenta, Gina Gibau explora as políticas da identidade de cabo-verdianos a residir em Boston, examinando a questão da relação dialética entre os processos de atribuição racial e de autoidentificação na construção das identidades individuais e coletivas deste grupo. Com um segundo contributo, Holton aborda agora os movimentos pós-coloniais e a experiência dos retornados portugueses em Newark. Seguindo as memórias de alguns retornados, reconstrói as dinâmicas sociais e políticas, os laços afetivos e os processos decisionais que informaram as trajetórias entre Portugal, Angola e os EUA. As narrativas falam de uma integração não conseguida em Portugal e de identidades que têm Angola como principal referência. Por último, Marilyn Halter examina as transformações que atravessaram os movimentos migratórios de cabo-verdianos em finais do século XIX e, posteriormente, na vaga pós-colonial, examinando em particular as questões da raça e do reconhecimento, etnicidade, formação da identidade cultural.
10 Caroline Brettell encerra a obra com uma síntese das problemáticas aí exploradas, delineando propostas de investigação futuras que, somadas às questões deixadas em aberto por cada um dos autores, definem, num certo sentido, uma espécie de agenda de investigação científica atual nesta área.
11 Esta é uma obra marcada por uma enorme pluralidade de autores, abordagens conceptuais, períodos históricos de análise, metodologias, mas também quanto aos grupos tomados como objeto de investigação. O que a obra acrescenta em diversidade de conteúdos perde, no entanto, nalguns casos, em qualidade, representatividade dos grupos e rigor comparativo. Entre os seus objetivos propõe-se debater um conjunto de questões inovadoras e ainda pouco exploradas relativas à história, cultura e às dinâmicas sociais de portugueses e outros grupos étnicos lusófonos inter-relacionados, resgatando-os de uma certa invisibilidade social e académica.
Joana Azevedo – CIES – Instituto Universitário de Lisboa
Historia de la civilización ibérica – MARTINS (LH)
MARTINS, J. P. Oliveira. Historia de la civilización ibérica. Con un estudio preliminar de Sérgio Campos Matos. Pamplona: Urgoiti Editores, 2009. Resenha de: MAURÍCIO, Carlos. Ler História, n.60, p.193-195, 2011.
1A História da Civilização Ibérica de Oliveira Martins acaba de ser publicada pela sétima vez no país vizinho. Após seis edições pela mão de editoras madrilenas, coube agora a vez a uma casa editorial de Navarra. Esta sétima edição, que reproduz, com algumas correcções e acrescentos, a tradução pioneira de Luciano de Taxonera (1894), caucionada pelo próprio Martins, traz ainda um detalhado estudo introdutório da autoria de Sérgio Campos Matos. Após uma breve introdução ao historiador, destinada ao público de língua castelhana, S.C.M. descreve as relações de Oliveira Martins com Espanha e com o mundo intelectual do país vizinho, o contexto cultural em que foi escrita a História da Civilização Ibérica e os combates em que se inseriu, a recepção da obra em Espanha e o historial das suas traduções e edições no mundo hispânico.
2 É sobre alguns aspectos deste estudo que a presente recensão se debruça. Oliveira Martins terá sido o intelectual português, do seu tempo, que melhor conheceu Espanha e as culturas hispânicas. A História da Civilização Ibérica (originalmente publicada em 1879) foi a primeira – e até agora a única – tentativa de história integrada da Península Ibérica. Facto que não passou despercebido a diversos autores espanhóis. Salvador de Madariaga, na primeira edição da obra em língua inglesa (em 1930), sublinhava o facto de a primeira perspectiva ibérica sobre a história da Península ter sido escrita por um português. E já em 1886, Menéndez Pelayo comentava a propósito do livro: «es hasta ahora lo más ibérico que ha salido de pluma alguna española ni de allá ni de acá». A recepção favorável da História da Civilização Ibérica em Espanha, escreve S.C.M., deveu muito à utilização que dela foi feita no combate político e cultural contra o incipiente nacionalismo catalão. Em meados do século passado, esta recepção estendeu-se a vários países da América Latina, como o atestam duas edições na Argentina, uma no Peru e outra no México. Eu acrescentaria ainda que, para a cultura e a política portuguesas, o iberismo foi quase sempre um «fantasma de serviço», muito útil como arma de arremesso (Basta lembrar o alarmismo provocado ainda há poucos anos pelas considerações de Saramago). Já para a Espanha, o receio de uma absorção pelo pequeno Portugal nunca fez qualquer sentido. Daí não ser de espantar o sucesso editorial desta obra do outro lado da fronteira, a contrastar com as traduções para castelhano da restante bibliografia martiniana: Navegaciones y descubrimientos de los portugueses anteriores al viaje de Colón (Madrid, 1892) e Los hijos de Don Juan I (Buenos Aires, 1946).
3 É verdade que, da parte dos autores espanhóis, as críticas não deixaram também de se ouvir. A mais eloquente terá sido talvez a de Sánchez Moguel, que acarinhou, com Oliveira Martins, o projecto de uma Liga Ibérica. Entre os objectivos desta iniciativa estava a produção de uma historiografia peninsular capaz de transcender as dimensões regionais. Ora, após o início da publicação das monografias relativas à Casa de Avis, Moguel pôs em dúvida a sinceridade da hispanofilia ostentada por Martins na obra de 1879. No entender deste crítico, as monografias de 1891 e 1893, onde aflorava um «particularismo regional», vinham contradizer as grandes linhas que presidiam à História da Civilização Ibérica. Esta contradição também não escapou a diversos autores portugueses contemporâneos do historiador, embora lhe dessem, geralmente, uma interpretação diversa: depois de uma fase demolidora, plasmada na trilogia da História da Civilização Ibérica (1979), História de Portugal (1979) e Portugal Contemporâneo (1881), Martins passara a uma fase de reconciliação com o passado pátrio.
4 O iberismo de Oliveira Martins é naturalmente um dos temas centrais deste estudo preliminar. O iberismo da História da Civilização Ibérica não é de natureza política, sublinha S.C.M., mas eminentemente cultural. No final dos anos 80, Martins advogava uma cooperação entre os dois Estados visando um melhor conhecimento recíproco das respectivas histórias e culturas bem como eventuais alianças diplomáticas. Sob o influxo do Ultimatum, o escritor consideraria mesmo desejável a extensão desta aliança às antigas colónias peninsulares na América Latina com o fim de contrariar a asfixiante hegemonia britânica no mundo. O significado do iberismo martiniano foi um tópico bastante controverso até aos anos 40, em Portugal, e continua sendo debatido hoje. É certo que, até 1870, Martins fez a apologia da reorganização federativa do estado português num quadro republicano e peninsular. Depois, sob o influxo do pensamento proudhoniano, entrosou o seu iberismo republicano com o socialismo mutualista (1872/73). Depressa se desiludiu porém com o ideário federal e a ideologia republicana, distanciando-se também do seu mestre Proudhon. Em poucos anos, evoluiu para uma concepção organicista da sociedade, onde o Estado adquiria uma posição predominante e a questão do regime deixava de ter importância. Em 1885 cortou os últimos laços com os políticos anti-sistémicos e encetou uma carreira política na monarquia. Em 1892 ascendeu a Ministro da Fazenda e incitou o jovem rei D. Carlos a prosseguir na via de um cesarismo democrático. Até ao fim dos seus dias Martins continuou a intitular-se socialista, tendo-se aproximado dos princípios do socialismo catedrático. Ao contrário do Príncipe de Salina, em Oliveira Martins foi necessário que alguma coisa permanecesse para que tudo o mais mudasse. E o que permaneceu foi essa hispanofilia dos vinte e poucos anos de idade e uma postura anti-liberal estribada na percepção/construção socialista do dilema liberdade-igualdade.
5 O iberismo vertido na História da Civilização Ibérica tinha porém outras dimensões, como nota S.C.M.. Era uma resposta – ibérica – à lenda negra que fora sendo gerada nas nações protestantes do Norte da Europa e que retratava as sociedades peninsulares como atrasadas, onde imperava o medo, a superstição e um mau uso das riquezas ultramarinas. Ao utilitarismo e ao materialismo dos anglo-saxónicos – um dos seus ódios de estimação – Martins contrapunha o génio peninsular, feito de idealismo e acção. Quando esse utilitarismo entrasse em declínio, aos povos peninsulares estaria destinado iluminar espiritualmente o mundo. Uma questão que mereceria alguma reflexão é a seguinte: dispondo de modelos consagrados de histórias da civilização francesa (Guizot, 1832) ou espanhola (Tapia, 1840), Martins entendeu escrever uma história da civilização ibérica, mas não uma história da civilização portuguesa. À história nacional dedicou a História de Portugal (1879) e o Portugal Contemporâneo 1881), é certo, mas os contrastes entre a História da Civilização Ibérica e a narração do caso português têm merecido a atenção de múltiplos estudiosos. S.C.M. vê nesta dicotomia a maneira de o historiador harmonizar uma abordagem das dimensões institucionais, sociais e de mentalidades de uma sociedade com uma abordagem, mais narrativa, dos seus sucessos políticos. Pela minha parte, a dicotomia entre a perspectiva idealista, com tonalidades messiânicas, patente na História da Civilização Ibérica e a perspectiva iconoclasta e pessimista com que as outras duas obras estão escritas foi a solução encontrada por Martins para lidar com uma tensão, muito estrutural no seu pensamento, entre o plano do ideal e a execução real. A regeneração da Península parecia-lhe sorrir num futuro algo distante, mas só muito esporadicamente reconhecia aos portugueses a capacidade de se auto-regenerar. Martins foi toda a sua vida um pregador de penitência, tão mais convicto da sua missão quanto mais sabia que um paraíso de bonança era possível – se bem que muito difícil – de alcançar. É também por esta contradição tão íntima que continuamos hoje a (re)lê-lo.
Carlos Maurício – CEHC – Instituto Universitário de Lisboa
Protecção Social em Portugal na Idade Moderna – LOPES (LH)
LOPES, Maria Antónia, Protecção Social em Portugal na Idade Moderna. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010. Resenha de: CASTELAO, Ofelia Rey. Ler história, n.60, p. 196-197, 2011.
1 La obra que comentamos merece toda la atención de los estudiantes universitarios a los que va destinada y a los que está dedicada por la autora junto a «todos os que sentem o fascínio da História». Publicada dentro de la serie Estudos: Humanidades de la Universidad de Coimbra, se presenta como una «guía de estudo e investigaçao» para los alumnos de los tres ciclos de enseñanza superior y para la formación de investigadores. Los objetivos de Maria Antónia Lopes son, por lo tanto, los esperables: aclarar conceptos, poner a la luz las fuentes documentales y sus problemas, explicar los métodos más adecuados en cada caso, mostrar la evolución historiográfica del tema e incitar a la reflexión crítica y a la renovación de perspectivas. Sin embargo, el libro resultante de estos objetivos académicos tan ajustados a las nuevos planes de estudios universitarios, ha conseguido mucho más y ha logrado hacer una excelente síntesis de una cuestión esencial de las sociedades de todos los tiempos – la protección de sus componentes más débiles – y de un tema central de la historia social.
2 Así pues, no se trata de un manual como tantos otros, sino que desde su propia experiencia como investigadora, la autora propone un recorrido general sobre los sistemas y fórmulas de asistencia social en el Portugal de los siglos modernos, haciendo un especial hincapié en la última parte del siglo XVIII y en el tránsito al siglo XIX, no en vano, desde el inicio del gobierno del Marqués de Pombal hasta la invasión francesa, se produjeron cambios trascendentales que modificaron el sistema de protección, intentando poner en práctica las ideas ilustradas al respecto.
3 La obra tiene un amplio preámbulo en el que se encuentras tres elementos importantes: el esclarecimiento de conceptos – pobreza, asistencia, filantropía, etc. – que por su ambigüedad o por sus diferentes interpretaciones pueden generar confusión en los lectores actuales; el contexto europeo en lo concerniente a la pobreza y sus soluciones y una síntesis del pensamiento portugués sobre esas cuestiones. Al final del libro se incluye una amplísima bibliografía con todo lo relativo al Portugal moderno, además de numerosas referencias sobre Brasil y sobre Europa; la autora ofrece este elenco organizado temáticamente, de modo que los estudiantes puedan tener una útil guía para sus trabajos y sobre todo, para que puedan localizar aquellos autores y obras a los que Maria Antónia Lopes hace referencia en los estados de la cuestión con los que abre cada capítulo.
4 Entre ambos extremos, la obra se organiza en dos partes. La primera y más extensa es una exposición sistemática de la organización de la protección social, empezando por las «misericordias» y abarcando todas la formas institucionales – hospitales, «rodas de expostos», colegios de huérfanos, cofradías- o institucionalizadas – dotes para casar doncellas, repartos de limosnas- que se encargaban de atender al amplio espectro de «pobres y pauperizables» que en el Portugal moderno, como en el resto de Europa, desbordaban a la propia sociedad; dentro de esta primera parte se dedica una especial atención a la acción de la monarquía de la Ilustración, decidida a intervenir en esas instituciones y a controlarlas dentro de un contexto más amplio de control sobre los grupos «ociosos» y de «aprovechamiento» útil de quienes los gobernantes consideraban una carga social. Esta parte cuenta con la ventaja de que los historiadores portugueses han investigado desde hace años esas instituciones, en especial las «misericordias», habida cuenta de la originalidad de su planteamiento, de su enorme número y de su indudable trascendencia. La segunda sección del libro – para la que hay menos bibliografía por problemas de fuentes – se ocupa de las personas, esto es, de quienes dirigían las instituciones – viendo cuáles eran sus verdaderos intereses de ascenso social, de rentabilidad económica, de ejercicio del poder –, de los trabajadores asalariados de esos centros y sobre todo de los beneficiarios del sistema en sus diferentes tipologías y sobre todo de las mujeres, a las que se dedica el último capítulo. Entre cada capítulo, la autora expone sus intenciones dirigiéndose a sus estudiantes, con una clara orientación pedagógica que es sumamente útil también para quienes leemos esta obra desde fuera.
5 La coherencia de este planteamiento se corresponde con una narración ordenada y de fácil lectura, con el apoyo constante en la comparación y en una cuidada referencia a los diferentes tiempos y ritmos. Si hubiera que matizar las evidentes calidades de esta obra, podríamos decir que se echa de menos alguna bibliografía española que le permitiría a la ver autora más similitudes entre los sistemas asistenciales ibéricos y coloniales que las diferencias que ella subraya en el libro; por otra parte, se obtiene la impresión de que el papel de la Iglesia en la asistencia era mayor en el ámbito portugués del que le reconoce Maria Antónia Lopes, o al menos, no parece que fuera menor del que tenía en los demás países de la órbita católica. Finalmente, convendría hacer algunas referencias a los hospitales especializados, no solo a las leproserías. Pero esto son solo puntos de debate que están abiertos en la investigación actual y de los que la autora es consciente en su condición de especialista en el tema. Consideramos que esta «guía» es mucho más que eso y que debería servir como modelo para las publicaciones docentes en España.
Ofelia Rey Castelao – Universidad de Santiago de Compostela
Jogos de Identidade Profissional: Os engenheiros entre a formação e a acção – MATOS (LH)
MATOS, Ana Cardoso de; DIOGO, Maria Paula; GOUZÉVITCH, Irina; GRELON, André Grelon (eds.). Jogos de Identidade Profissional: Os engenheiros entre a formação e a acção. Lisboa: Colibri, 2009. Resenha de: PINHEIRO, Magda. Ler História, n.60, p. 198-200, 2011.
1 O livro agora publicado inscreve-se num contexto de colaboração científica entre investigadores de dois centros de pesquisa portugueses, o Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora e o Centro Universitário de História das Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e investigadores do Centro Maurice Halbwachs do CNRS. Esta colaboração que se tem estendido ao ensino é um exemplo de rede internacional temática e interdisciplinar com resultados muito positivos que se exprimem nesta publicação. A evolução das instituições de investigação faz aliás com que o Centro Universitário de História das Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa se tenha entretanto unido ao Centro de História da Ciência Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa formando um centro de maiores dimensões.
2 Jogos de Identidade Profissional: Os engenheiros entre a formação e a acção é um livro assumidamente trilingue em que se procuram os vectores através dos quais se elaborou a tomada de consciência da especificidade profissional dos engenheiros. Trata-se de uma publicação com avaliação científica de parte das comunicações apresentadas a um colóquio internacional que teve o mesmo título. Os estudos são originários de mais de 11 países e abarcam o período que vai dos finais do século XVIII à actualidade.
3 O tema também é aliciante já que aborda a identidade profissional dos engenheiros, grupo a que, na introdução, André Grelon atribui uma imagem social positiva. Questionando-se sobre a permanência de uma identidade comum, em face da multiplicação de tarefas e funções traduzida num trabalho cada vez mais diferenciado, conclui pela sua actual ausência. Cedo, refere-nos, a identidade colectiva foi atravessada por conflitos entre instituições e formações. Ao explicitar os conflitos de fronteiras e formações que presidiram à constituição desta, como de outras identidades profissionais, a abordagem aqui publicada distancia-se de epopeias ainda hoje comuns nesta área de estudos. Uma grande evolução tem porém vindo a afirmar-se e este livro denota-o.
4 O estudo comparativo ao nível internacional é, neste caso, particularmente adequado dados os traços comuns presentes nas diversas experiências nacionais. Traços ligados às formações e à precoce existência de organizações e certames internacionais. A estes tópicos acrescentaria as circulações de capitais que também favoreceram transferências culturais e identitárias.
5 Este livro foi organizado em cinco grandes eixos temáticos dos quais os dois primeiros dizem respeito às instituições de ensino e à formação de professores, o terceiro ocupa-se das áreas de acção profissional e o quarto às associações representativas da profissão de engenheiro. O quinto eixo de enfoque considera aspectos nacionais e imperiais de uma identidade profissional que, sendo baseada nas ideias de perfectibilidade e de progresso, se adequava particularmente à acção imperial.
6 Não é possível recensear as 26 comunicações presentes neste livro. Começarei por salientar a pertinência e novidade do conjunto das comunicações apresentadas pelos portugueses. Algumas são resultantes de estudos doutorais, outras de projectos colectivos. Salientarei pela sua novidade as comunicações de Rui Branco sobre o trabalho de campo dos engenheiros cartográficos, o de Ana Carneiro e Vanda Leitão sobre a profissionalização dos geólogos e a carta geológica de Portugal e ainda o de Paulo Simões sobre o debate entre arquitectos e engenheiros no Portugal da segunda metade do século XIX. Tiago Saraiva aborda o papel dos engenheiros na criação dos novos espaços madrilenos do século XIX sem nos trazer grandes novidades, pois a história do Ensanche madrileno é por demais conhecida. Também os investigadores sénior Maria Paula Diogo, Ana Cardoso de Matos e Álvaro Ferreira da Silva apresentam estudos muito relevantes sobre temas que já vinham focando ou trouxeram de novo. Maria Paula Diogo aborda o papel dos engenheiros na expansão colonial portuguesa.
7 Os estudos publicados abarcam o mundo mediterrânico, a Rússia, a República Checa, o México, o Brasil e a Tunísia. O mundo anglo-saxónico e a Alemanha ficam em grande medida de fora, salvo no estudo de Ian Inkster da Universidade de Trent que aborda comparativamente a emergência do papel dos engenheiros no registo de patentes, ou seja, como inovadores. Chama a atenção para o bem conhecido aumento do papel do Estado nos paises late comers. Em Inglaterra, a data da mudança de uma maioria de patentes registadas por artesãos para uma maioria de registos apresentados por formados em engenharia parece-lhe situar-se em torno de 1850. Em 1850-70 já 42% das patentes eram registadas por engenheiros, enquanto apenas 20% provinham de profissões tradicionais. Londres começou a ser a localização da maioria dos pedidos de registo no mesmo momento. Antes de 1860 a cultura da oficina seria ainda considerada em Inglaterra a melhor escola, emergindo a engenharia neste país em estreita simbiose com os meios artisanais. A identidade do engenheiro nasceu aqui no mesmo cadinho onde se afinavam as outras profissões qualificadas, uma cultura de saberes urbanos que não carecia tanto de certificação.
8 A emergência da engenharia como inovação, segundo o autor deste estudo, pode encontrar-se também em países como a Alemanha, em finais do século XIX. Em 1912 havia 3,4 milhões de patentes no mundo. Entre 1905 e 1910, só os alemães tinham registado 25.900 patentes noutros países, sendo seguidos pelos americanos com 25.200 e os britânicos com 16.800. A expansão do consumo de bens resultando, nos países precocemente desenvolvidos, de uma subida do nível de vida das classes médias estaria também ligada a uma nova estética – a do movimento Arts and Crafts – trazendo um renovar do trabalho artisanal e da invenção a este associada.
9 Mesmo na Alemanha 70% dos aprendizes estariam, entre 1850 e 1914, empregues em pequenas firmas mas tenderiam a mudar ao longo da carreira para firmas dominadas pela engenharia industrial. As escolas estatais que davam certificação foram apoiadas por um Estado confrontado com técnicas mais complexas e por isso mais aberto a arcar com os custos da inovação. Nestes casos o estatuto dos engenheiros destacava-se face ao dos artesãos.
10 A estes modelos o autor acrescenta o das nações coloniais onde a engenharia será uma poderosa alavanca, mas onde a identidade dos engenheiros naturais é posta em causa pelo poderio comercial, téncico e social dos colonizadores. Assim, o autor postula uma relação entre inovação e identidade dos engenheiros que não demonstra cabalmente, mas constitui uma interessante hipótese de pesquisa.
11 A problemática da constituição das ordens de engenheiros é também abordada sendo particularmente interessante a comunicação de Éric Gobe sobre os engenheiros tunisinos e a sua «ordem». Neste estudo mostra-se que a inscrição na «ordem», deixando de ser rentável – ou possível – para os jovens engenheiros, muito mais numerosos do que os fundadores, faz com que o seu monopólio desaba numa crise de representatividade. Um problema que podemos associar não à modernidade mas à pós-modernidade que parece tardar a ser integrada por uma profissão que se auto-associa ao progresso.
Magda Pinheiro – CEHC – Instituto Universitário de Lisboa
The Familiarity of Strangers. The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period – TRIVELLARO (LH)
TRIVELLARO, Francesca. The Familiarity of Strangers. The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period. New Haven: Yale University Press, 2009. Resenha de: TAVIM, José Alberto R.S. Ler História, n.58, p. 235-235, 2010.
1 Em 1964 Susan Sontag escreveria um ensaio subversivo (para muitos), que designaria «Contra a interpretação». Nele considerava que a função da crítica de arte devia ser «mostrar como é o que é, ou mesmo que é o que é, em vez de mostrar o que significa»1.
2 De facto, é difícil não considerar esta obra como uma pièce d`art, inclusivamente quando Aron Rodrigue opina «This is a superb and sophisticated book…». O livro está escrito de uma forma aliciante, e estruturado quase artisticamente, interpretando a enorme e diferente massa documental de uma forma inteligente, até porque convence o leitor. De qualquer forma, tal não significa que seja de leitura fácil, pois o leitor passa por assuntos de teor diferente, de capítulo para capítulo, enunciados de forma densa.
3 Então a questão fundamental é que parece uma pièce d`art do ponto de vista da escrita e da complexa estruturação interna mas trata-se objectivamente de um livro de História, melhor, de histórias, que Francesca Trivellato tenta entrelaçar, como está espelhado no título. Daí podermos avançar para «o que é» e lançar hipóteses sobre «o que significa».
4 É uma obra essencialmente sobre Cross-Cultural Trade partindo da análise da documentação de uma firma judaica de Livorno no século XVIII? Não. O que a autora pretende explicitar de uma forma incisiva é que não devemos deixar de contextualizar muito cuidadosamente os nossos objectos de estudo, nomeadamente quando se utiliza um conceito que nasceu depois da pós-modernidade. Quando o livro se fecha e vemos o falhanço destas poderosas famílias de mercadores judeus de Livorno – os Ergas e os Silveras – por causa de um grande diamante não vendido ficaremos para sempre alerta sobre o uso anacrónico de determinada terminologia, como a de «firma judaica». Trata-se portanto de um livro cheio de preciosismos técnicos e de contextualizações que se espraiam ao longo de dez capítulos. Entre estes destacamos a introdução metodológica e historiográfica, que remete para os paradigmas destes estudos, como os de Philip Curtin e seus críticos; o capítulo com informação actualizadíssima sobre a complexa diáspora sefardita e sua prática negocial, nomeadamente no Mediterrâneo, uma área esquecida, como salienta Francesca, para o século XVIII, face ao desabrochar das potências do Norte, como os Países-Baixos e a Inglaterra; o tratamento das formas de transacção económica dentro da comunidade que acompanham intrinsecamente as transacções sociais que eram o casamento, o dote, entre outros; o acento na heterogeneidade das redes comerciais dos Ergas e Silveras, que abarcavam outros sefarditas, conversos, italianos e até hindus de Goa; a exploração temática do complexo comércio de troca entre o coral mediterrânico (com magníficas imagens da época sobre o processo da sua extracção) e os diamantes da Índia, e sobre os agentes envolvidos; e finalmente, como já foi referido, a tragédia final do grande diamante, nunca vendido e que arruinou os esforços de investimento das duas famílias de Livorno.
5 Pessoalmente encontrei a solução para questões que colocava há muito e para as quais não encontrava resposta satisfatória. Por exemplo, para o facto da diáspora dos Arménios, por comparação, atingir uma densidade humana e geográfica mais limitada no Ocidente. Por outro lado, a exploração da etiqueta nas letras dos mercadores, como factor de solidificação e controle social, mesmo fora do ethos judaico, era uma temática que esperava ser tratada há muito tempo e que aqui é focada magistralmente.
6 O que significa esta obra? Que a História Económica e Social não será a mesma, sobretudo para quem não está interessado na temática da Diáspora Judaica. Passo a explicar: para quem está interessado na temática da Diáspora Judaica e se mantém actualizado, já há muito que explora esta matéria vasta tendo em conta a diversidade das conjunturas, a heterogeneidade social dos parceiros, os jogos institucionais e culturais da credibilidade, e sobretudo sabe que a História Económica e Social da Diáspora Sefardita é não só indissociável da complexa História Cultural das várias comunidades, como também lhe é intrínseca: por isso, a detalhada e excelente obra de I.M. Bloom, The Economic Activities of the Jews of Amsterdam2 está datada, e o livro de Jonathan Israel, Diasporas within a Diaspora3, passou a ser referente. De qualquer forma, até porque nesta obra, como a autora assume, se trata de um estudo de caso como partida para uma História Global, a eficácia do caminho epistemológico acima enunciado está facilitado.
7 Quem não pretende estar interessado na temática da Diáspora Judaica porque chega a negar uma especificidade face à clássica História Económica e Social, que comporte a necessidade epistemológica de uma área científica designada Estudos Judaicos ou similar, ficou ultrapassado. Quem ler a obra de Francesca Trivellato tomará consciência que é caricato, em termos académicos, esgrimir hoje considerações científicas contra uma Historiografia Portuguesa – até Lúcio de Azevedo – que pretendia demonstrar a equivalência entre modernismo negocial e exclusividade étnica, que em alguns casos assentava em considerações eugénicas. Essa historiografia e outra devem ser devidamente contextualizadas e Francesca Trivellato demonstrou que estes cientistas sociais devem isso sim estar suficientemente actualizados para compreender o funcionamento cultural das relações internas de cada grupo em questão, no sentido de apreenderem as matizes das relações que entre eles se mantinham. Lucubrar acerca das potencialidade positivas de um grupo, no sentido de demonstrar que afinal, per se, ocupava um espaço económico-social de excelência outrora atribuído unicamente a um outro (por exemplo, o dinamismo dos mercadores cristãos-velhos face ao dinamismo dos mercadores cristãos-novos e judeus), transforma-se num empreendimento tão relativo como evidenciar parcerias, mesmo sem insistir que afinal nestas o peso de um grupo (por exemplo, os cristãos-novos) era menor do que se pensava. Com esta obra entendeu-se que era imprescindível, no âmbito da História Económica e Social, compreender o contexto social em que o grupo actuava, quais as potencialidades e limites da especificidade de actuação económica e social dos seus membros, dentro e fora da comunidade, e como tentavam lidar com as suas limitações e possibilidades, num determinado contexto, para rentabilizar as suas actividades junto de outros grupos, que no caso dos Ergas e Silveras, viviam em Amesterdão, no Médio Oriente e até na longínqua Goa – algo que o estudo social de um grupo utilizando com singularidade o cosmopolita conceito de elite tornaria redutor. Numa posição oposta, e perante o desfecho do diamante, seria até absurdo considerar, como ainda hoje se assiste em algumas paragens, que a atitude essencialista de mostrar a positividade de um determinado grupo, face a forças consideradas opressivas, é um trabalho de cidadania.
8 Pelo contrário, quando acabamos a leitura desta obra, ficamos com a sensação que da operacionalidade sobre a matéria apurada surgiu um objecto maior que transcende a História dos Ergas e dos Silveras (cheguei a esquecer-me deles em algumas páginas da obra): a da densidade social e cultural que preside a qualquer contrato económico, dificilmente observada na estrita História Económica – por vezes da Globalização avant la lettre – das formas de circulação dos produtos, do capital, do crédito, dos preços, etc. Assim, a História Económica Social torna-se Humana, ou seja o homem torna-se o seu principal objecto, e não o produto ou o gráfico. Ou parafraseando Hanna Arendt: «É com palavras e actos que nos inserimos no mundo humano»4. E qualquer transcendência interpretativa de teor económico, cultural ou até de transgressão política (caso da cidadania) fica verdadeiramente mais limitada.
9 Resta acrescentar algumas sugestões. Como é frequente para estudos de períodos mais tardios do Antigo Regime, falta alguma retrospectiva que tornaria este caso de Cross-Cultural Trade menos singular, sobretudo envolvendo judeus e o Oriente, e que provavelmente o incluiria numa tradição secular bem visível na relação entre Portugueses e grupos até de muçulmanos no espaço asiático, desde o século XVI. Por outro lado, constatando-se pela leitura da obra que é fundamental ultrapassar clichés que não passam pela perspectiva de Cross-Cultural Trade, tomada numa acepção mais dinâmica que tem em conta todos os contextos em que naquele as personagens envolvidas agem, seria necessário então aprofundar outra vertente de análise: no que respeita concretamente aos judeus sefarditas e conversos, e para além dos Ergas e Silveras, como se estruturam as diferentes dialécticas das relações sociais internas e junto de outros grupos sociais e poderes institucionais, que tornaram possível um secular envolvimento em Cross Cultural Trade’s, não tendo estes ao mesmo inflectindo, decisivamente, no desaparecimento das fronteiras sociais da coesão do grupo?
Notas
1 Susan Sontag, «Contra a Interpretação», in Contra a Interpretação e outros ensaios, Lisboa, Gótica, (…)
2 Herbert I. Bloom, The Economic Activities of the Jews of Amsterdam in the Seventeenth and Eigteenth (…)
3 Jonathan Israel, Diasporas within a Diaspora. Jews, Crypto-Jews and the World Maritime Empires (154 (…)
4 Hanna Arendt, A Condição Humana, Lisboa, Relógio d`Água, 2001, p. 225.
José Alberto R.S. Tavim – Departamento de Ciências Humanas – IICT
Ottoman Expansion towards the Indian Ocean in the 16th Century – ÔZBARAN (LH)
ÔZBARAN, Salih, Ottoman Expansion towards the Indian Ocean in the 16th Century. Istanbul: Bilgi University Press, 2009. Resenha de: CASALE, Giancarlo. Ler História, n.58, p. 235-238, 2010.
1 For more than forty years, the history of Ottoman expansion in the Indian Ocean has been a subfield virtually synonymous with the name Salih Özbaran. As the first Turkish historian to have ventured into the Portuguese archives in the 1960s, he has since then produced an uninterrupted stream of new research on the subject, and is today internationally recognized as its foremost authority. Until recently, however, the majority of his scholarly contributions have taken the form of focused studies on specific episodes of this history, rather than larger works that analyze the subject as a whole. It is therefore with particular excitement that historians have anticipated his latest contribution, Ottoman Expansion towards the Indian Ocean in the 16th Century, which stands as a definitive synthesis of Özbaran’s scholarship over the past half century.
2 The book is divided into four main sections. The first, «Expansion», takes the form of a chronological narrative of Ottoman military and naval activities in the Indian Ocean. While this narrative contains comparatively little in the way of new material or original insights, it is particularly useful for English speakers because it offers a comprehensive overview that has until now only been available in Özbaran’s publications in Turkish.
3 Part two, «Provincial/Fiscal Organizations», leaves narrative history aside and instead presents a structural analysis of the Ottomans’ administrative and fiscal apparatus in what Özbaran refers to as «the southern territories», with separate chapters devoted to each of the Ottomans’ five Indian Ocean provinces: Egypt, Yemen, Ethiopia, Basra, and Lahsa. The main focus of these chapters is the land-tenure and revenue collection system in this region, which, as Özbaran shows, was based from the very beginning on tax farms and the payment of cash salaries for state officials. As a result, he argues that the administrative character of the southern territories differed substantially from the core areas of the empire in the Balkans and Anatolia, where the timar system of land grants was not phased out in favor of tax farms until much later, during the period of extended empire-wide crisis in the seventeenth century.
4 These arguments are complemented by the material presented in part three, «Military Structures», which confronts the question of how the empire recruited soldiers and sailors in the southern territories, where it recruited them from, and under what terms of employment. Here the most interesting material is provided by Özbaran’s work with the Mevacib or payroll registers from the Ottoman archives, which he uses to show both the surprising ethnic diversity of the military personnel in the region, as well as the very high percentage of recent converts to Islam. As in the case of his analysis of the region’s fiscal infrastructure, these conclusions too stand in stark contrast to most existing scholarship on this subject, which has instead been based on the assumption that Ottoman military personnel in the southern territories was overwhelmingly composed of Anatolian Turks.
5 Finally, part four, «Trade», tackles the thorny problem of determining the actual volume of the spice trade through Ottoman controlled routes, and the extent to which the Ottomans were able to profit from this trade at the expense of their rivals, the Portuguese. Until now, virtually all relevant data used by scholars to answer this important question has been based on European sources, prompting Özbaran to piece together Ottoman figures from a variety of different bureaucratic records, including cadastral surveys, tax regulations, and provincial account books. However, because of the fragmentary nature of these sources and their lack of uniformity in terms of the information they provide, he refrains from drawing any firm conclusions about how these figures might alter the existing scholarly consensus about the flows of trade from a macroeconomic perspective.
6 Overall, Ottoman Expansion towards the Indian Ocean stands as an impressive monument to Özbaran’s scholarly achievement, particularly in light of the humble state of scholarship in the field outside of Özbaran’s own contributions. Given the overwhelming range of sources Özbaran has consulted, the thoroughness of his research, and his encyclopedic knowledge of the subject, it is certain to remain a defining work for many years to come.
7 But like any book, Ottoman Expansion is also not without shortcomings. Most basically, it must be said that the production staff of Bilgi University Press has not done editorial justice to the manuscript, which is filled with an egregious number of typos, grammatical errors, and awkward phrasings (including several on the very first page). Better attention from the editors might also have helped give the book a more coherent feel in terms of its prose, which is repetitive in many places and often gives the impression of being an uncomfortable compromise between a synthetic work and a simple anthology of articles.
8 More substantively, one is left to wonder about the overall thrust of Özbaran’s conclusions, which in addition to emphasizing the administrative idiosyncrasies of the Ottomans’ southern territories, also have the cumulative effect of minimizing both the scale and the importance of the Ottoman imperial presence in the Indian Ocean, in some cases almost to the point of irrelevance. In his opening political narrative, for example, Özbaran’s final word about the Ottomans’ many campaigns at sea is to dismiss them as «the sporadic actions of a land-bound empire». Later, in his chapters on fiscal administration, he speculates (on the basis of rather slender evidence) that the southern provinces ran a chronic budget deficit and were therefore never profitable for the Ottoman treasury. In his discussion of military infrastructure, he likewise stresses the extremely small number of land and sea forces actually employed by the state, which he rates as barely adequate for local defense. And in his concluding section, he questions whether the state, despite the obvious benefits, ever had a serious interest in promoting trade with the wider Indian Ocean region.
9 In making such arguments, of course, Özbaran finds himself comfortably placed within a much larger genealogy of scholarship about the political economy of the early modern world. But in his case, what is most surprising about this insistence on emphasizing the Ottomans’ «inadequacies» (the word is his) is that it seems to contrast so sharply with the conclusion of his own earlier scholarship. When reading Özbaran’s earliest work, particularly his articles from the ‘60s and ‘70s, one gets instead a vivid sense of the excitement he felt as he encountered Portuguese sources for the first time – sources that contained such a wealth of information about the Ottomans’ activities in the Indian Ocean that they seemed to contradict everything that scholars had previously believed about the empire’s lack of interest in region’s geography, its trade networks, and its political economy.
10 In more recent decades, Özbaran’s attention has shifted away from these Portuguese sources, and moved instead in the direction of exploring what the Ottomans’ own archival records have to say about their activities in the Indian Ocean. But while it is undoubtedly this shift in focus that has led to the decidedly more restrained conclusions of his latest book, one wonders how these conclusions might have differed had he embraced the discrepancy between the surviving Ottoman and Portuguese sources as a question in its own right. After all, Özbaran’s own arguments about the unique fiscal and administrative basis for Ottoman rule in the southern territories suggests one possible reason why the archival evidence about Ottoman activities there – in a way completely independent of the «facts on the ground» – is so sparse compared to other regions of the empire. So against this backdrop, one cannot help but wonder whether the inadequacies that Özbaran describes are really indicative of the Ottomans’ own shortcomings, or whether they may not instead be a reflection of the inadequacy of the surviving archival record.
11 This possibility, namely that Ottoman historical agency might be diminished rather than accentuated by historians’ privileging of the Ottomans’ own archival record, is one that is both troubling and rich with implications for fields far beyond the confines of Özbaran’s own chosen area of study. Considering Özbaran’s versatility as a researcher, and the feverish pace with which he continues to produce new scholarship (at last count, he had published five books in as many years), we can only hope that this intriguing question is one that he is saving for a fuller consideration in his next major work. Until then, scholars will find more than enough to hold their interest, and inspire their own research, within the pages of Ottoman Expansion towards the Indian Ocean.
Giancarlo Casale – Departamento de História – Universidade de Minnesota (EUA)
Recasting Culture and Space in Iberian Contexts – ROSEMAN; PAKHURST (LH)
ROSEMAN, Sharon R.; PAKHURST, Shawn S. (Eds.). Recasting Culture and Space in Iberian Contexts. Albany: State University of New York Press, 2008. Resenha de: FONSECA, Inês. Ler História, n.58, p. 238-243, 2010.
1 Organizado por dois antropólogos (Sharon R. Roseman, da Memorial University of Newfoundland e Shawn S. Parkhurst, da University of Louisville), este livro tem por objectivo analisar a interdependência entre as relações de poder e os processos de construção e transformação cultural, atribuindo uma centralidade aos contextos espaciais em que estes ocorrem. Para tal, conta com o contributo de vários autores consagrados que têm dedicado as suas investigações antropológicas a terrenos situados na Península Ibérica: João Leal, Brian Juan O’Neill, António Medeiros, Susan M. DiGiacomo, Oriol Pi-Sunyer, Maria Cátedra, José Manuel Sobral, Jacqueline Urla e James W. Fernandez.
2 Inicialmente, através de um olhar superficial, surgem duas objecções relativamente à organização da obra e à temática enunciada e que se prendem com as dificuldades inerentes a este tipo de colectâneas. Em primeiro lugar, porquê a selecção destes autores e não de outros (que também se ocupam do contexto da Península Ibérica), uma vez que é imediatamente visível a participação de autores nacionais ou de influência anglo-saxónica em detrimento da possível participação de autores francófonos, por exemplo, que também se ocupam da mesma àrea geográfica. E em segundo lugar, que identidade cultural e social é essa que parece ser sugerida na alusão do título ao «contexto ibérico» e na referência da introdução à «Ibéria», que unidade existe entre estes terrenos e o que é que os distingue de outros (no sul da Europa, por exemplo)? Na verdade, trata-se aqui da publicação de um conjunto de ensaios apresentados originalmente num painel do congresso da American Anthropological Association – é este o motivo inicial que confere unidade ao conjunto dos textos e que justifica a presença de cada um na publicação final. Simultaneamente, a totalidade dos artigos ganha uma coerência e um significado próprio através do texto de apresentação (escrito pelos organizadores), onde se estabelece como fio condutor da obra e denominador comum entre os artigos a questão da importância do elemento da espacialização nas configurações culturais analisadas.
3 O livro está organizado em quatro partes – 1. Espaços Coloniais e Identidades Nacionais; 2. Fascismo, Espaços Culturais e Políticas de Memória; 3. Regionalismo e Espaço e 4. Políticas Culturais e o Global – onde se observam diferentes escalas espaciais (global, nacional, regional, local) e as suas conexões, nas quais as relações entre poder e cultura se conjugam produzindo identidades e subjectividades relativamente a cada um dos espaços considerados.
4 No texto intitulado Culture and space in iberian anthropology, da autoria dos organizadores da obra, refere-se a existência de uma antropologia ibérica, conceito que temos alguma dificuldade em aceitar sem crítica e cuja definição não fica bem explicitada – trata-se de uma antropologia praticada em terrenos da Península Ibérica ou sobre temáticas especificamente relacionadas com esta delimitação geográfica? A existência desta unidade cultural e social fica por explicar. No entanto, é feita, uma excelente síntese sobre a temática principal aqui tratada: a importância do factor espacial na construção das identidas e das relações de poder.
5 Na primeira parte da colectânea, é tratada a questão da produção de identidades nacionais em contextos e espaços coloniais vs. colonizados.
6 No texto inicial, João Leal questiona a identidade nacional portuguesa na perspectiva da sua relação com dois espaços (o território nacional continental e o império). O autor começa por fazer alusão ao paradoxo da distinção (proposta por G.Stocking) entre os estudos antropológicos das «culturas primitivas» pelos países imperialistas e das «tradições e costumes populares nacionais» pelos países preocupados em construir uma unidade nacional – o caso português constitui um cúmulo das duas situações. Esse facto reflecte-se não só na cultura popular, mas também no pensamento de intelectuais e antropólogos, cujos discursos (mesmo quando se referem à construção de uma identidade nacional) incluem um sub-texto relativo ao império (sempre presente, mesmo quando escondido).
7 Por sua vez, Brian Juan O’Neill refere-se à actual construção identitária de um grupo minoritário (a comunidade Kristang) em Malaca (antiga colónia portuguesa). Esta é o resultado de uma justaposição de identidades sucessivas, recriadas em diferentes fases e obedecendo a distintas lógicas: de aproximação à cultura e identidade portuguesa, de afastamento relativamente aos malaios, de supressão de elementos não-malaios, etc. O processo culmina com a construção daquilo que o autor considera uma identidade hiperportuguesa, semelhante à das comunidades de emigrantes protugueses. Trata-se de uma tentativa por parte deste grupo em se distinguir relativamente aos grupos vizinhos próximos (geografica e culturalmente).
8 Finalmente, no último artigo deste grupo, António Medeiros refere-se ao aparelho ideológico imperialista do Estado Novo e através do estudo da exposição colonial portuguesa (celebrada em 1934, no Porto) mostra como este se preocupou em construir uma identidade nacional com base na simultaneidade de elementos distintos – através da representação do território rural português (com o folclore de algumas regiões do país – Minho e Trás-os-Montes) e da representação das colónias. Trata-se de questionar e explorar os processos de construção, por parte do regime fascista, de uma certa ideia da nacionalidade portuguesa expressa no célebre slogan «Portugal: do Minho a Timor» e que tinha como objectivo a inclusão de todas as províncias do império (do continente e ultramarinas) numa unidade.
9 Na segunda parte, são abordadas as construções de memórias daqueles que se viram forçados ao exílio ou que viveram sob regimes ditatoriais e interroga-se a contribuição de diferentes espaços culturais nesses processos.
10 No artigo de Susan M. DiGiacomo, analisam-se dois sistemas educativos, ao longo do século XX em Espanha: um de tradição progressista e de inovação pedagógica e outro de tradição conservadora e ultramontana. Ambos são analisados como metonímias dos respectivos regimes (republicano e franquista) e nesse sentido, a sala de aula é entendida como um espaço onde têm lugar relações de poder: entre dominantes e dominados e as suas respectivas visões do mundo. As memórias sobre o que foi esse espaço de poder (onde, aparentemente, apenas os dominantes dominam!) são o resultado do posicionamento de cada um face ao poder exercido (do lado dos dominados ou dos dominantes). O facto de algumas dessas memórias sobre o passado se manifestarem através do humor (como refere a autora) demonstra que a resistência é possível.
11 No texto que apresenta, Sharon R. Roseman analisa a acção da sección femenina da Falange, durante a ditadura franquista, junto dos grupos de mulheres no contexto rural da Galiza. Trata-se de uma intervenção que tem como objectivo fazer penetrar a ideologia estatal e os seus agentes numa região e junto de populações que até então tinham tido pouco contacto com o Estado Espanhol. Esta tarefa é realizada através de um esforço de modernização do estilo de vida das populações camponesas e cumpre-se através da imposição de novas práticas e actividades quotidianas relativas não só ao espaço de trabalho (os campos) como também ao espaço privado das famílias (as casas). A autora mostra-nos como, apesar de uma certa resistência manifestada pelas populações relativamente a práticas inovadoras pouco adaptadas ao seu quotidiano, a maioria das memórias sobre a sección femenina e a sua acção são positivas – no sentido de reconhecer a introdução de melhorias nas condições de vida destas populações, que o Estado fazia assim participar na sua ideologia (nomeadamente, no que diz respeito ao papel da mulher na sociedade).
12 No último artigo desta parte, Oriol Pi-Sunyer revela-nos as suas memórias relativas à infância vivida no seio de uma família republicana catalã que se viu obrigada a várias migrações (primeiro, da cidade para a província de Barcelona; depois, para França) até, finalmente, se instalar em Inglaterra. O autor refere a existência de «culturas portáteis» e conta como, durante todo o período de exílio, na sua própria família alguns elementos da cultura catalã (maneira de ver o mundo, gastronomia, idioma, etc.) foram transportados e reproduzidos (com maior ou menor dificuldade) nos vários locais por onde passaram. Por outro lado, novos elementos das culturas onde se integraram foram sendo adoptados – entre outros, ressalva a partilha da preocupação com o conflito bélico e o posicionamento da sua família contra os fascismos europeus, solidária com os franceses e ingleses. Finalmente, o autor alude a essa cultura familiar híbrida, que constitui o resultado dos diversos movimentos e exílios por que passaram, demonstrando que os processos de construção cultural e de memória social nunca ocorrem em sentido único.
13 A terceira parte desta obra centra-se na problemática dos contextos regionais e das clivagens que eles implicam (urbano-rural / norte-sul / centro-periferia).
14 No estudo de María Cátedra, o culto da Virgem de Sonsoles em Ávila e a rivalidade entre esta e a Santa Teresa de Ávila servem de pretexto para explorar a distinção urbano-rural existente na sociedade daquela cidade. Se a Santa Teresa é amplamente reconhecida, a partir do exterior, como símbolo de Ávila, enquanto que a Virgem de Sonsoles (padroeira do Valle de Amblés) tem menos notoriedade e é sobretudo uma santa daquele contexto rural, a autora interroga-se sobre a importância atribuída a esta última pelos habitantes da cidade. Através de uma descrição dos conflitos que têm existido ao longo do século XX, entre as confrarias e a hierarquia da igreja católica (no sentido de determinar quem detém a responsabilidade sobre a gestão dos assuntos da Virgem de Sonsoles) e dos vários grupos sociais envolvidos, vemos emergirem por detrás destas disputas o factor que justifica a sua existência – os interesses económicos.
15 No texto de José Manuel Sobral, o autor parte de uma série de acontecimentos das últimas 3 décadas e de alguns aspectos veiculados nos discursos populares, relativos à existência de uma conflitualidade norte-sul em Portugal, para demonstrar que se trata da herança de um discurso intelectual sobre a identidade portuguesa que cruza os factores raça e espaço. Recorrendo às obras de vários autores dos séculos XIX e XX (geógrafos, antropólogos, historiadores, escritores) que se debruçaram sobre a questão da identidade nacional, demonstra a construção de estereótipos sobre o país. Estes revelam a existência de uma primeira fase, com a presença de argumentos de carácter racial, que justificariam a divisão do país entre: o norte (de herança ariana) e o sul (de herança semítica). O autor defende que as actuais relações da região norte do país (periférica) e o centro geopolítico (considerado o sul, por oposição) – Lisboa – constituem um elemento fundamental na continuidade desse discurso sobre a divisão norte-sul que ainda hoje se verifica (nomeadamente, ao nível do comportamento dos eleitores: mais conservadores, a norte e progressistas, a sul).
16 O objecto de análise, no texto de Shawn S. Parkhurst, são as representações dos jornais regionais do Alto Douro e o modo como contribuem para a fabricação de uma homogeneidade simbólica relativa à sua região de referência. Partindo da leitura de artigos de um correspondente local, publicados em jornais regionais, refere-se a conexão entre o contexto espacial e o posicionamento social do seu autor. Neste sentido, surgem à luz do dia as tensões presentes nos diferentes níveis espaciais (a aldeia, a região, o país, a união europeia) através de uma construção identitária.
17 Na quarta parte é a relação entre o local e o global que é problematizada, através da observação das culturas políticas e da participação cívica.
18 No início do seu texto, Jacqueline Urla explicita que não pretende analisar a relação entre o local e o global enquanto par de opostos, mas no sentido de questionar aquilo que possa existir da conexão entre um e outro. Através da observação de um espaço de diversão urbano (o Kafe Antzokia) a autora revela uma transformação recentemente ocorrida na construção identitária no País Basco, pondo em evidência a relação entre os seus limites (linguísticos, espaciais e culturais) localizados e uma abertura ao pluralismo e ao global, que resulta no que parece um paradoxo: uma identidade basca cosmopolita.
19 No seu Posfácio, James W. Fernandez.revê os artigos presentes na obra e trabalha dois conceitos que os atravessam, estabelecendo a diferença entre «espaço» (enquanto entidade territorial, limitada) e «sítio» (no sentido da construção social do espaço e das significações que lhe são atribuídas).
20 Concluindo, esta obra apresenta-nos um conjunto de estudos etnográficos em torno de uma temática comum: a construção social e cultural de espaços, em diferentes contextos geográficos, sociais, culturais e históricos (desde os séculos XIX e XX até à actualidade). A perspectiva de análise adoptada – que salienta as relações de poder que estão presentes e participam nesse processo – torna-a um contributo interessante para os investigadores de diferentes domínios das ciências sociais.
Inês Fonseca – Departamento de Antropologia e CRIA – FCSH-UNL
A Grande Tentação. Os Planos de Franco para Invadir Portugal – AGUDO (LH)
AGUDO, Manuel Ros. A Grande Tentação. Os Planos de Franco para Invadir Portugal. Alfragide: Casa das Letras, 2009. Resenha de: MARCOS, Daniel. Ler História, n.58, p. 228-231, 2010.
1 Um dos livros que mais fez vibrar os escaparates das livrarias portuguesas durante o ano de 2009 foi, sem dúvida, o mais recente livro do historiador espanhol Manuel Ros Agudo, intitulado A Grande Tentação. Os Planos de Franco para invadir Portugal. Talvez por uma escolha da linha editorial, esta obra foi dada à estampa com um subtítulo que pode induzir o leitor a pensar tratar-se de um livro unicamente sobre um conjunto de planos imperialistas levados a cabo por Francisco Franco, líder do regime autoritário espanhol a partir de 1936, para tomar Portugal. Tal não é verdade. Como mostra a sub-capa da edição portuguesa, A Grande Tentação aborda o tema mais geral de Franco, o Império Colonial e o projecto de intervenção espanhola na Segunda Guerra Mundial, em que a invasão do território continental português era, somente, um pequeno passo estratégico para alcançar objectivos mais importantes para o regime espanhol: Gibraltar e a expansão territorial de Espanha no Norte de África (p. 224-225). Este é o primeiro e, praticamente único, reparo que se pode fazer à edição desta obra, já que a tradução da mesma parece de grande qualidade.
2 Mas mais importante do que a questão do título do livro trata-se do tema da obra em si. Como o próprio autor afirma logo no prólogo, o seu objectivo central é contribuir para o desenvolvimento de uma nova historiografia espanhola, pondo-se à margem das tradicionais visões polémicas sobre o regime franquista que, na opinião do historiador, procuram usar a História como «arma política para esmagar o opositor» (p. 11). Ros Agudo nem sempre consegue este objectivo, já que ao longo do texto usa recorrentemente expressões qualificativas que acabam por reflectir uma qualquer tomada de posição sobre o assunto. Por exemplo, ao qualificar de «errónea» a crença do Caudilho de que a guerra seria curta e vitoriosa para o Eixo (p. 110), o autor não está a ter em conta que, na realidade, poucos eram os líderes políticos daquela época que não pensavam o mesmo. Mais adiante, ao classificar a propaganda colonialista da Junta de Defesa Nacional espanhola como «disparates linguísticos»
(p. 117), Ros Agudo não está a contribuir para a explicação do que foi a retórica imperialista europeia do período de entre as guerras e que só mudaria com a entrada em cena dos Estados Unidos na política mundial.
3 Quem estiver a seguir esta recensão pode estar inclinado a duvidar da qualidade deste livro. Desta forma, há que fazer um alerta importante. A Grande Tentação é, sem dúvida um importantíssimo trabalho para quem se interessa pela história colonial em geral e pela história espanhola em particular. Por duas grandes razões: em primeiro lugar, porque se debruça sobre um dos menos trabalhados impérios coloniais europeus do século XIX e XX, isto é, o império espanhol em África. Na verdade, a historiografia internacional pouca relevância dá ao esforço colonial desenvolvido pelos regimes espanhóis desde os finais do século XIX. Em especial, se nos centrarmos nas questões da descolonização, um tema tão em voga na historiografia actual, são praticamente inexistentes as análises feitas ao colonialismo espanhol. Este, apesar de breve e tardio, não deixou de marcar a história do século XX e com consequências que ainda hoje se fazem repercutir na cena internacional, como por exemplo na questão do Sara Ocidental. Em segundo lugar, esta obra de Manuel Ros Agudo aborda de forma relevante a história do franquismo e todas as tentativas expansionistas que este regime procurou delinear no início da II Guerra Mundial. Desta forma, torna-se num livro fundamental para compreendermos o regime autoritário espanhol à luz da história dos regimes totalitários e autoritários de direita que surgiram na Europa após a I Guerra Mundial.
4 Ao longo do texto, o autor leva-nos a compreender de que forma as aspirações territoriais espanholas modelaram a política externa de Espanha durante o conflito de 1939 a 1945. Torna-se claro que o ditador espanhol procurou, por via diplomática – sem descurar o recurso ao uso da força – aumentar o espólio imperial da Espanha no Norte de África, incorporando o Marrocos francês no protectorado espanhol, expandindo a sua jurisdição sobre a região em torno da cidade de Orão, na Argélia e aumentando a dimensão da Guiné espanhola. Estas exigências territoriais procuravam rectificar, de acordo com o general Franco e com a cúpula africanista do seu regime, o erro histórico que tinha sido a constante usurpação feita pela França (com o apoio da potência marítima, isto é, da Inglaterra) das aspirações territoriais de Espanha no Norte de África. Como demonstra o autor na primeira parte de A Grande Tentação, desde a Conferência de Algeciras em 1906 até ao estabelecimento do Marrocos espanhol no Tratado de Fez em 1912, os africanistas espanhóis sentiram estes acordos diplomáticos como um vexame para os interesses de Espanha. A acrescentar a este sentimento, em 1923 deu-se a criação do enclave internacional em Tânger, dentro do protectorado espanhol de Marrocos, numa acção que beneficiava mais os interesses do Reino Unido e da França e que demonstrava que as principais potências coloniais não queriam Tânger sob controlo da Espanha. De resto, desde 1921, a monarquia espanhola demonstrava dificuldades em controlar as rebeliões nacionalistas – que custaram a vida a cerca de 8 mil espanhóis – lideradas por Abd-el-Krim. O prestígio de Espanha como potência protectora decaía e contribuiu para que Primo da Rivera não tenha conseguido ganhar a sua autoridade sobre aquela área.
5 Assim, apesar da governação internacional, a França manteve uma hegemonia sobre a cidade portuária de Tânger. Esta situação fazia com que os apoiantes do império, em Espanha, nomeadamente algumas facções do exército, vissem o Protectorado internacional como «um espaço estranho, como uma espinha sob administração internacional encravada no meio do Protectorado espanhol». Era um enclave que «não só comprometia a homogeneidade de conjunto da zona espanhola, como podia colocar em perigo a sua própria segurança e defesa». Era uma verdadeira «humilhação» das potências internacionais sob a Espanha e que contribuiu decisivamente para atear os desejos africanistas da elite política em torno de Franco (p. 37). Dividida entre irredentistas – os que desejavam, apenas, a rectificação das fronteiras espanholas em Marrocos, argumentando o direito espanhol à colonização – e imperialistas – com o início da II Guerra e a derrota da França, defendiam a anexação do Marrocos francês, o departamento de Orão na Argélia e uma ampliação substancial da Guiné espanhola – ambas as opções se traduziram numa acção diplomática seguida pelo governo de Franco: conversações diplomáticas com Londres e Vichy, a propósito das exigências mínimas ou irredentistas, e negociação com Berlim das exigências máximas ou imperialistas. Como demonstra Manuel Ros Agudo, se a primeira exigia somente que Franco permanecesse neutral, a segunda obrigava-o a entrar no conflito, do lado das forças do Eixo (182-183).
6 Do ponto de vista militar, as Forças Armadas espanholas não desdenharam a segunda solução. Com Adolf Hitler a desejar a entrada de Espanha no conflito para, em conjunto com a Alemanha, invadirem Gibraltar e controlarem a passagem do Atlântico para o Mediterrâneo, o alto comando militar espanhol desenhou pormenorizadamente, com a autorização do Caudilho, um conjunto de operações militares de grande envergadura contra o rochedo. Fica, assim, demonstrado que Franco estava verdadeiramente decidido a entrar na guerra como terceiro parceiro do Eixo, sendo que apenas a falta de garantias de Hitler em relação à cedência à Espanha dos territórios franceses do Norte de África mantiveram o governo espanhol fora da II Guerra Mundial.
7 Por último, não podemos deixar de fazer uma referência mais detalhada sobre as referências a Portugal ao longo do livro. Ros Agudo demonstra que Portugal pouco interessava para os planos de Franco. A invasão fazia-se unicamente para evitar que Portugal fosse usado como uma cabeça-de-ponte da Inglaterra para invadir a Península, após o ataque das forças do Eixo a Gibraltar. Os próprios planos militares espanhóis afirmavam isso: «A conquista de Portugal não deve ser considerada uma acção isolada, mas [por estar] intimamente ligada com a Inglaterra, representa um aspecto da luta contra a última nação» (p. 225). Desta forma, pouco importava ao Caudilho o Pacto de Amizade e Não Agressão luso-espanhol de 17 de Março de 1939 e o protocolo adicional de 30 de Julho de 1940. Na nossa opinião, a análise da questão portuguesa necessitava de mais profundidade. Independentemente do pouco interesse que Franco dava a Portugal, a utilização de fontes e bibliografia portuguesa contribuía para o enriquecimento da obra e para uma melhor contextualização da posição de Espanha no sistema internacional. Nomeadamente no período em análise na obra de Ros Agudo, ao longo dos anos 30 e 40 do século XX, Portugal desenvolveu uma intensa actividade diplomática, por vezes pouco visível, com vista a isolar os sectores intervencionistas e germanófilos da Falange e do Exército, que mal conseguiam disfarçar os desígnios anexionistas relativamente a Portugal. Na delicada conjuntura do Verão de 1940, a assinatura do Protocolo Adicional ao Tratado de Amizade e Não Agressão em 29 de Julho de 1949, não pode ser, portanto, completamente desvalorizado. Em parte, a par da recusa de Hitler em garantir o aumento do território colonial no Norte de África, a acção do governo português muito contribuiu para que Franco pusesse de lado os seus desejos de intervenção e optasse pela neutralidade na II Guerra Mundial.
Daniel Marcos – CEHC-ISCTE-IUL
The Portuguese in India and Other Studies, 1500-1700 – DISNEY (LH)
DISNEY, Anthony. The Portuguese in India and Other Studies, 1500-1700. Ashgate (Variorum Collected Studies Series), Farnham (Surrey) & Burlington (Vermont), 2009, Resenha de: FLORES, Jorge. Ler História, n.59, p. 283-284, 2010.
1 Quem são os historiadores anglo-americanos que, do pós-guerra aos dias de hoje, moldaram verdadeiramente o nosso conhecimento da «Ásia portuguesa» no período moderno? Para além do incontornável Charles Boxer, há um punhado de nomes que importa considerar. Entre eles, seguramente o de Anthony Disney.
2 Treinado em Harvard por J. H. Parry (autor de The Age of Reconnaissance e The Spanish Seaborne Empire), Disney fez toda a sua (longa) carreira na La Trobe University, Melbourne (Austrália). Optou por se especializar na história do Estado da Índia entre o final do século XVI e os meados da centúria seguinte, sendo que o seu primeiro trabalho de fôlego – The Twilight of the Pepper Empire: Portuguese Trade in Southwest India in the Early Seventeenth Century (Harvard University Press, 1978; trad. portuguesa, Ed. 70, 1981) – trouxe muita novidade no que respeita à estrutura e dinâmica económicas do império asiático português. Mas Disney foi sempre historiador de (bons) artigos, mais do que de livros, pelo que 2009 resultou tão atípico quanto frutífero. A Cambridge University Press publicou nesse ano A History of Portugal and the Portuguese Empire, obra em dois volumes que começa agora a fazer o seu caminho entre a comunidade académica. Quase em simultâneo, foi dada à estampa uma colectânea de 19 estudos publicados pelo autor ao longo das últimas três décadas (1977-2007) e é essa obra que aqui analisamos.
3 The Portuguese in India and Other Studies é mais uma das colectâneas da Variorum Collected Studies Series, espécie de best of de um dado autor que a Asghate vem publicando há anos e que tem concedido amplo relevo ao trabalho de vários historiadores do império português, de Charles Boxer, M. N. Pearson e George Winius a Geneviève Bouchon, Francis Dutra e Roderich Ptak. O volume de Disney estrutura-se em quatro partes: I) The Portuguese in India; II) Viceroy Linhares and his Era; III) Travel and Communications by Land and by Sea; IV) Historiography and Problems of Interpretation. Mais do que uma referência individualizada a cada um dos estudos aqui publicados, o que se propõe é um exercício de reflexão acerca das constantes e do sentido global da produção do autor.
4 Apesar da distância física entre Lisboa e Melbourne, um relance de olhos pelos lugares de origem dos trabalhos aqui reunidos revela um forte vínculo com Portugal: a maioria dos artigos foram publicados em revistas portuguesas ou sobre Portugal (Studia, Anais de História de Além-Mar, Portuguese Studies) e, bem assim, em volumes colectivos como as actas dos seminários de história indo-portuguesa, encontros científicos de que Disney é hoje figura tutelar. Ao longo da sua carreira, o autor esteve sempre muito atento à historiografia portuguesa sobre Portugal moderno e o seu império, que soube articular com o que se escreve na Índia e no mundo anglo-saxónico sobre o assunto.
5 Disney alicerça o seu trabalho em massiva investigação documental cuja evidência utiliza com rigor e mestria para sugerir pertinentes conexões entre a economia, a política e a sociedade do Estado da Índia. O leitor dado aos estudos pós-coloniais ficará certamente desapontado com este livro, dado que é uma obra pouco devotada à teoria, um tanto empírica, muito próxima das fontes primárias. Daí a fragilidade de alguns artigos (XVI e, na sua parte final, também o XV), em que o autor cede à tentação artificial de participar nas discussões correntes sobre multiculturalismo e Orientalismo.
6 The Portuguese in India ensina-nos muito sobre o Estado da Índia, da fracassada Companhia portuguesa de comércio dos anos de 1620-1630 ao ritual político da «entrada» de um novo vice-rei em Goa. Ensina-nos muito também acerca das rotas e tecnologias de comunicação por mar e por terra entre Portugal e a Índia (excelente o artigo sobre a ilha de S. Helena como escala da Carreira). Mas a secção mais significativa do livro é, sem sombra de dúvida, o conjunto de seis artigos sobre D. Miguel de Noronha, conde de Linhares, que Disney confessa no prefácio constituir um dos seus «longstanding interests». Vice-rei da Índia entre 1629 e 1635, Linhares conheceu uma longa e riquíssima carreira ultramarina e ibérica, que o levou de Lisboa a Tânger, de Tânger a Goa e de Goa a Madrid em 1636, cidade que não quis trocar por Lisboa em 1640. Ao serviço de Filipe IV, esteve para ser nomeado primeiro vice-rei do Brasil (que declinou) e acabou por servir como capitão-geral das galés da Sicília antes de morrer em 1656. A atribulada trajectória de D. Miguel de Noronha, escorada em fontes abundantes e ricas como o seu próprio diário, permitem a Disney entregar-se a um sofisticado e ímpar exercício de história social do império português, que interessava alargar a outros governadores e vice-reis do Estado da Índia. Anthony Disney ainda não escreveu a prometida biografia de Linhares, mas percebe-se bem a sua predilecção pelo género. Não é decerto por acaso que o volume conclui com um artigo-homenagem a Charles Boxer enquanto biógrafo.
Jorge Flores – Brown University (EUA)
A tradição da contestação. Resistência estudantil em Coimbra no marcelismo – CARDINA (LH)
CARDINA, Miguel, A tradição da contestação. Resistência estudantil em Coimbra no marcelismo. Coimbra: Angelus Novus, 2008. Resenha de: OLIVEIRA, Luísa Thiago de. Ler História, n.59, p. 285-287, 2010.
1 Resultante de uma dissertação de mestrado defendida, em 2005, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, orientada por Rui Bebiano, esta obra tem como objectivo caracterizar e compreender a politização estudantil em Coimbra de 1968 a 1974, dialogando com a situação nacional e internacional.
2 O objectivo é cabalmente cumprido num texto que se estrutura em 5 capítulos: dissidência estudantil e autonomia associativa; contexto e conteúdo da «crise académica de 69»; mudança social, oposições e juventude; 1970-74: um olhar a partir de Coimbra; culturas, sociabilidades e compromisso.
3 Trata-se de um trabalho de grande qualidade, teoricamente sustentado, na esteira dos estudos historiográficos que mostram a visibilidade da condição juvenil e a afirmação da sua cultura nos «longos anos 60», de que Rui Bebiano é uma indiscutível referência em Portugal, após um trabalho pioneiro de Nuno Caiado que como tal permaneceu por largos anos1. Todavia, este estudo, centrado em Coimbra, que não é de modo algum um estudo de História local e regional, aproxima-se, nalgumas páginas, da micro-história, dela convocando as potencialidades.
4 Com uma empiria sólida, que passou por muitas fontes primárias escritas, nomeadamente muita literatura cinzenta e imprensa periódica, metodologicamente alicerçada em análise textual, esta obra revela um maior trabalho com as palavras escritas do que com as orais. Parco na utilização da História Oral, MC afirma contudo as suas potencialidades para aos estudos historiográficos, ofuscados pela injustificada «crença na superior autoridade do documento escrito» (p. 19). A finura de análise textual é bem patente na análise das organizações maoístas ou das organizações de direita, por exemplo. MC capta as transformações de mentalidades bem como as sucessivas agendas políticas em textos cheios de palavras-de-ordem onde a diferença pode estar nas subtilezas da defesa de um «ensino popular» ou «ao serviço do povo» ou «popular, democrático e de massas». Sendo uma pesquisa difícil, esta reverteu num texto sintético, de grande clareza e rigor.
5 Criticando a tendência para «glorificar momentos particulares» (p. 17) de luta estudantil, como a crise de 1969, MC estuda os afrontamentos épicos mas também as resistências no campo mais do quotidiano, numa perspectiva de estruturação de culturas de resistência e este constitui um dos muitos méritos da obra.
6 Nos processos de mudança analisados, MC salienta a superação da visão temerosa ou pejorativa da política, existente nos anos 50 (característica encontrada também na ditadura franquista por Susan Narotsky e Gavin Smith), por uma outra forma de a encarar nos anos 60 e 70. A política constitui então um campo largo, que exige novas atitudes e comportamentos em áreas até então vistas com «não-políticas».
7 Olhando para este tempo de transformação, dum Portugal anacrónico, MC debruça-se sobre as mudanças de práticas culturais, as sociabilidades, a entrada significativa das mulheres no espaço público e a emergência da guerra colonial como um problema não só sentido como também objecto da agenda reivindicativa dos estudantes portugueses.
8 É nesta atenção à reconfiguração da cultura estudantil que MC analisa, por exemplo, os debates em torno da praxe, tema obviamente relevante quando se fala da academia coimbrã, e que MC perspectiva à luz da chamada problemática da «invenção da tradição» e cujo significado identitário de incorporação na Coimbra dos doutores sublinha.
9 Tal como é nesta óptica da reformulação do universo estudantil, que MC examina os confrontos existentes em torno de reportórios, textos e encenações, ensaios, espectáculos e itinerâncias dos grupos teatrais da Coimbra da época marcelista, que levam a posicionamentos perante o Oficina de Teatro da Universidade de Coimbra (OTUC), o Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra (TEUC) e o Círculo de Iniciação Teatral da Universidade de Coimbra (CITAC), sendo que destas acções resultaram cargas policiais, tiros e um ferido.
10 Num século marcado pela emergência dos movimentos juvenis e numa conjuntura de visibilidade da condição da juventude, até como actor social, também em Portugal se afirma a nova «cultura-mundo» com os seus gostos, por exemplo, na música, no cinema, na literatura, na banda desenhada, no vestuário, nas novas práticas de sociabilidade, na aventura das viagens. Porém, no contexto português, o colonialismo e o regime ditatorial (que, nesses anos, alguma imprensa, em renovação, tentava contornar) implicavam referenciais específicos para o protesto estudantil, que então se exprimiu com novo radicalismo embora sem a mesma dimensão festiva da «Nova Esquerda» ocidental. É nomeadamente nos «novos radicalismos de expressão marxista», constituídos por uma constelação de grupos de extrema-esquerda que criticam, simultaneamente, as «modernas sociedades de consumo ocidentais» e o «burocratismo soviético» (p.104) que MC se debruça.
11 MC encara os grupos estudantis como tendo um «habitual deficit de memória» (p.16) devido à sua renovação e curta permanência nas escolas. Contudo, os estudantes parecem manter redes de sociabilidade (associações de antigos alunos, círculos profissionais, por exemplo), tais como outros grupos que viveram experiências marcantes que exigiam uma nova socialização. Se parece plausível que a transmissão de memória entre gerações estudantis possa ser mais frouxa, por outro lado, a própria natureza transitória dessa experiência, transitória mas destacada, poderá levar a «memória de grupo» a fortalecer-se e a reproduzir-se através das redes sociais entretecidas e mantidas ciclicamente através de sucessivos actos comemorativos.
12 Feitas estas observações pontuais, salientem-se sobretudo as conclusões desta obra que são solidamente defendidas.
13 Assim, o processo que, em 1969, leva à greve às aulas e aos exames não emerge de repente, enquadrando-se num processo de mudança e politização anterior, iniciado pela luta contra o Decreto-Lei nº 40.900 em 1956/7 e pela crise de 1962 e acentuado, já nesta década, pela denúncia de realidades de fundo como o carácter repressivo do regime e a guerra colonial ou por acontecimentos datados como a apoio às vítimas das cheias de 67.
14 Do mesmo modo, o termo da crise de 1969 também não representa o fim da luta estudantil: a crítica frontal ao colonialismo ganha terreno, há uma nova crise em 1971, a cultura politiza-se, pululam novas organizações.
15 Esta mudança não é apenas política num sentido estrito, sendo que, mesmo neste campo, se verificam as inovações mencionadas. A mudança é também cultural e social, expandindo-se, difusa mas subtilmente, e gerando um novo clima. O estudante vê-se como comprometido com a luta pela transformação do mundo, da vida e do quotidiano e a ele próprio cabe já ser actor dessa mudança, manifesta no campo da cultura, das relações de género e das sociabilidades. E é neste sentido que “tudo é político”.
16 Estamos, pois, perante uma obra de referência que resulta de uma investigação difícil, sustentada, inovadora, que contribui fortemente para o renovar dos estudos sobre os movimentos estudantis, juvenis e as oposições nos anos 60 e 70 do século passado.
Nota
1 Ver nomeadamente: Bebiano, Rui, O Poder da Imaginação. Juventude, Rebeldia e Resistência nos Anos 6 (…)
Luísa Tiago de Oliveira – CEHC – ISCTE-IUL
Helsinki – Helsingfors – Historic Town Atlas. Scandinavian Altas of Historic Towns – HIETELA et al (LH)
HIETELA, Marjatta; HELMINEN, Martin; LAHTINEN, Merja. Helsinki – Helsingfors – Historic Town Atlas. Scandinavian Altas of Historic Towns. Comissão Internacional de História das Cidades, 2009. (Plano detalhado de Helsingfors stadt de 1:2500 de 1878). Resenha de: PINHEIRO, Magda. Ler História, n.59, p. 288-291, 2010.
1 O Atlas de Helsínquia e da sua região, da autoria de Marjatta-Hietala, Martin Helminen e Merja Lahtinen, insere-se num projecto internacional de Atlas das Cidades promovido pela Comissão Internacional para a História das Cidades. Dada esta circunstância é prefaciado pelo seu presidente, Michel Pauly, da Universidade do Luxemburgo.
2 Publicar a cartografia das diversas fases da evolução do tecido urbano nas cidades europeias foi desde o início desígnio muito importante da Comissão Internacional para a História das Cidades. Em 1955, quando a associação foi fundada, muitas cidades europeias ainda tinham sinais evidentes da destruição causada pela II Guerra Mundial e o debate sobre a reconstrução nem sempre se saldava na opção por manter o tecido urbano pré-existente aos bombardeamentos. O estudo das estruturas urbanas na sua longa duração implicava a existência de instrumentos de trabalho disponibilizáveis para os investigadores e para os técnicos, assim como a sua comparabilidade. Em 1968, no congresso realizado em Oxford, as linhas comuns foram formuladas de forma flexível através do estabelecimento de alguns itens indispensáveis a cada volume publicado. Logo em 1969 saiu o British Atlas of Historic Towns. Nas últimas quatro décadas foram publicados atlas de cidades alemãs, escandinavas, belgas, francesas, Islandesas, Irlandesas Italianas, austríacas e suecas. Novos projectos de publicação envolveram nos anos 90 a Polónia, a Roménia, a República Checa e a Suíça. Já no século XXI, na Alemanha, Croácia, Hungria e Grécia prepararam-se novas publicações. A coordenação tem sido assegurada por Anngret Simms e Ferdinand Ollp, constituindo um grupo dentro da ICHT. Até 2008, um total de 400 atlas de cidades foram produzidos no âmbito deste projecto1.
3 Espanha e Portugal têm permanecido alheios a este movimento, razão pela qual Howard B. Clarcke, da Royal Irish Academy, publicou um memorando de aconselhamento para a Península Ibérica que discute as bases de comparabilidade estabelecidas nos anos 60 e os ajustamentos a que têm sido sujeitas. Fora da organização internacional, foi publicado pelo Centro de Cultura Contemporânea da Universidade de Barcelona, em conjunto com a Universidade Politécnica da Catalunha, um Altas Histórico das Cidades Europeias que inclui as cidades de Lisboa e Porto mas não assegura a comparabilidade.
4 A comparabilidade assegurada pela organização internacional prende-se com a existência da publicação de peças tipo, de que um mapa cadastral na escala de 2500 por 1000, apresentando a cidade pré-industrial é o elemento essencial. A data considerada ideal para este mapa é 1830, mas isso depende das circunstâncias locais, visto que o mapa publicado não é uma reconstituição. Deve ser um plano cadastral da época. Ainda do mesmo tipo será o mapa regional de uma escala inferior 25 por 1000 ou, na sua inexistência, de 100 por 1000 também geralmente da primeira metade do século XIX. A publicação inclui necessariamente um mapa actual de referência, preparado pelo organismo oficial com essa atribuição em cada país. Mapas interpretativos sobre as fases de crescimento urbano, mapas de épocas anteriores, ilustrações e outros mapas exprimindo informação sócio-topográfica, de distribuição, económica ou de outra natureza também são desejáveis.
5 Na verdade muitas cidades conheceram fortes remodelações antes de 1830, este é evidentemente o caso de Lisboa. Os mapas existentes ou reconstruídos de períodos anteriores podem e devem ser elementos importantes nestas publicações. As fotografias aéreas podem também ser relevantes elucidando sobre a evolução do tecido urbano. Os Atlas comportam ainda um texto histórico explicativo com elementos fotográficos relacionados com a evolução do tecido urbano. No caso da cidade de Helsínquia, este estudo conta com a colaboração da conhecida historiadora Marjatta Hietala.
6 Alguns dos atlas publicados procuraram uma dimensão regional o que torna o financiamento mais fácil e fornece um enquadramento desejável. Nas cidades que se tornaram metrópoles, naturalmente, este aspecto foi contemplado. O Altas Histórico de Helsínquia, que aqui recenseamos, tem essas características e é um volume inserido na colecção de atlas das cidades escandinavas. Trata-se de um infolio cujos estudos são publicados em inglês e finlandês.
7 Publicado no aniversário do grande fogo de Helsínquia de 1808, este atlas contem informação sobre a cidade desde 1550. Em Helsínquia os vestígios desse período são apenas arqueológicos e o primeiro plano contendo a divisão das propriedades corresponde ao período de 1696/1707.
8 Naturalmente o mapa dos quarteirões atingidos pelo incêndio tem destaque no atlas por estar na origem dos planos que configuraram o actual coração da cidade antiga. O texto do atlas compreende um largo espectro de informações sobre o desenvolvimento da cidade. Nesse estudo são abordados os problemas do urbanismo sem esquecer elementos como a habitação e da sua precariedade. A existência em 1850, nas margens do plano aprovado em 1825, de habitação precária e degradada é referida. O aumento das despesas públicas da cidade entre finais do século XIX e princípios do século XX é associado às melhores condições de vida oferecidas aos habitantes cujo número cresceu após a construção da primeira gare ferroviária, em 1862. O porto com docas secas foi ligado à rede ferroviária em 1895. Os primeiros sinais de suburbanização, fora dos limites administrativos da cidade, estavam então a manifestar-se.
9 Foi então que as divergências sobre o urbanismo se manifestaram pondo em confronto os defensores das «beautifull street vistas» e os da eficiência das redes de transporte. A primeira escola valorizava os princípios estéticos e a diversidade. As novas ideias chegaram a Helsínquia através de viagens, exposições e leituras sobretudo das obras de Camillo de Sitte2. Em 1898 um primeiro concurso público de ideias para o plano de Helsínquia teve lugar.
10 O planeamento enfatizou edifícios públicos e comunicações mas a cidade veio encontrar limites na especulação imobiliária pelo que começou a comprar terrenos para poder implementar o seu planeamento. Em 1917, Helsínquia transformara-se na capital do novo país, em 1916-18 o plano da área metropolitana foi elaborado por Elie Sarinen e Jung.
11 As destruições devidas à II Guerra Mundial, muito sentidas, parecem ter sido limitadas e a cidade retomou o seu crescimento no pós-guerra. Lotes de terreno foram então distribuídos aos veteranos, viúvas e órfãos. Os limites administrativos foram alargados em 1946. Uma evolução evidenciada no mapa. O Atlas de Helsínquia traça a história do planeamento da área metropolitana assim como do crescimento da forma urbana e da inovação arquitectónica, aspectos de que a Finlândia se orgulha particularmente. Este traço marca aliás a identidade urbana nos seus aspectos estratégicos.
12 Helsínquia, que tinha crescido rapidamente até aos anos 20 do século XIX, conheceu dificuldades no período posterior à II Guerra Mundial, quando a Finlândia teve de pagar pesadas indemnizações à União Soviética. Na segunda metade dos anos 50, porém, a cidade recomeçou a crescer. Para documentar as transformações das vivências do espaço urbano posteriores a este período, são eleitas algumas ruas. Graças a esta abordagem documenta-se a evolução da ocupação das áreas centrais com as modificações do uso das áreas construídas. Merece também particular destaque o estudo do desenvolvimento área portuária, situada na ilha de Katapanokka, que recebeu actividades provenientes de zonas agora ocupadas pelos russos.
13 A emergência de novas centralidades representadas por shopping centers é também documentada, iniciando-se o seu estudo com a abertura, em 1950, da primeira loja em regime de self-service. Uma realidade que substituiu progressivamente a dos Departments Stores. Estes, em Helsínquia, situavam-se na antiga zona central anexa à Esplanade, existindo desde finais do século XIX.
14 Está também documentada através de mapas e imagens a história das redes de transporte colectivo na cidade e na metrópole. Ainda aqui enfatiza-se a qualidade arquitectónica de equipamentos, como a gare Central do arquitecto Elie Saarinen, datada de 1914.
15 Naturalmente é visível a influência da obra de Marjatta Hietala neste trabalho, pois estão amplamente descritas e documentadas em capítulos especiais as evoluções e localizações de serviços sociais, como a educação, a religião, as bibliotecas e os teatros, os jardins infantis e as instituições de saúde3.
16 Parece-nos assim particularmente importante que os historiadores portugueses possibilitem uma história comparada das cidades portuguesas integrando esta rede que estabelece sobre bases sólidas uma história comparada das cidades.
Notas
1 Howard B. Clarke, «Joining the Club: a Spanish Historic Town Atlas?», Royal Irish Academy, p. 23.
2 P. 60.
3 Hietala, Marjatta, 1987, Services and Urbanization at the turno f the century, the diffusion of Inn (…)
Magda Pinheiro – CEHC – ISCTE-IUL
Os Açores na História de Portugal – Séculos XIX e XX | Fátima Sequeira Dias
1 A obra em apreço é fundamental para compreender a Economia Açoriana nos séculos XIX e XX. As suas características são dissecadas, em especial, quanto à ilha de São Miguel, principal motor do desenvolvimento económico do arquipélago.
2 A autora, professora catedrática da Universidade dos Açores, reuniu neste volume mais de uma dezena de estudos que evidenciam o seu perfeito domínio da pesquisa arquivística de fontes primárias e constituem peças essenciais à edificação da História Económica dos Açores.
3 A «Nota Liminar», com que abre o livro, constitui uma magnífica síntese da unidade que envolve os artigos, ocupados com a caracterização dos ciclos do modelo agro-exportador, dos serviços de navegação que se lhes associavam, de infra-estruturas como o porto artificial de Ponta Delgada e dos agentes que nalguma fase do processo exportador se destacaram. Dá-nos, ainda, o retrato de dois homens salientes na sociedade micaelense: um, oriundo de Aveiro, que emigrou novo para S. Miguel e veio a distinguir-se como comerciante interessado por actividades pouco desenvolvidas na ilha: banca, seguros, indústria. O outro, um grande historiador micaelense, prendeu a atenção da autora pela dimensão e variedade do património.
4 Porém, a caracterização dos ciclos exportadores da laranja e do ananás, esteios centrais da vida económica açoriana nos dois séculos em análise, é feita com observância da escassa repercussão que tiveram nas populações: a pobreza não foi erradicada.
5 Esta é uma tónica essencial na obra de Fátima Sequeira Dias, desde a sua tese de doutoramento, que ganhou o prémio internacional Recent Doctoral Research in Economic History atribuído à melhor tese apresentada em Universidades de todo o mundo ocidental entre 1993 e 1997: a preocupação com o bem-estar da população açoriana, expressa, tanto no seu labor de cientista como na militante intervenção cívica a pugnar pelo progresso cultural e económico da população do seu arquipélago. Situação exuberantemente reflectida no empenho em prestigiar e ver prestigiada a Universidade dos Açores, e em se manter actuante na terra que a viu nascer.
6 O «ciclo da Laranja», que enforma a Economia Açoriana do século XIX, é objecto de três importantes artigos. No primeiro, há criteriosa análise dos processos de cultivo, comercialização e exportação do citrino, sendo que nas duas últimas fases indicadas o comerciante-exportador estabelecido em Ponta Delgada – classe em que preponderavam cidadãos britânicos – tinha posição fulcral. O final do «período da laranja» – bem evidenciado por escassos 697 mil réis que a sua exportação rendeu em 1909 – é objecto de análise, tornando-se evidente terem os critérios de salvaguarda da qualidade, que impunha o produto no mercado britânico, sido postergados pela cupidez com que se aumentava a quantidade vendida acrescentando citrinos de baixa qualidade. A ganância falou mais alto e ajudou ao processo de deperecimento desta cultura.
7 A pretexto de «A decadência da “Economia da Laranja”» a autora traça um importante quadro da era de oitocentos: «a actividade agrícola constituía a base em que se firmava a riqueza micaelense e insular. A comercialização das produções agrícolas animava o sector import-export, fomentava as navegações de cabotagem, inter-ilhas, nacional e internacional, dinamizava o consumo, pressionava o alargamento e acessibilidade ao crédito, sustentava, enfim, a notabilidade dos terratenentes», mas «as benfeitorias na agricultura feitas pelos gentlemen farmer não conseguiram quebrar nem as inércias, nem os estrangulamentos de uma organização económica arcaica, rotineira e injusta na sua distribuição da riqueza». Findo o ciclo da Laranja, enquanto os proprietários rurais continuavam a exibir o seu «estilo de vida ostensivo, e o seu poder político» e a economia insular se afundava atingida, também, pela crise financeira de 1891/92, foram os comerciantes micaelenses a emergir como os grandes agentes da modernidade!
8 O que dizer da vastidão, variedade e profundidade da pesquisa realizada para escrever o texto «Que foi feito dos “Ingleses” do “Ciclo da Laranja” na ilha de S. Miguel? Factos e Hipóteses»? Fátima Sequeira Dias não se ocupou, apenas, dos mais afamados, estendendo a investigação mesmo àqueles que não chegaram a deixar descendência e a comerciantes de outras nacionalidades.
9 No artigo «A redescoberta das ilhas: a construção de um imaginário (a visão nem sempre “politicamente correcta” do viajante nas ilhas)» volta a manifestar-se a grande capacidade de investigação da autora, que, pacientemente, articulou as múltiplas observações de visitantes ilustres, de forma geral, depreciativas para a população micaelense e, mesmo, para a sua elite.
10 Ainda foi o «Ciclo da Laranja» – que percorre todo o século XIX açoriano – a animar os transportes marítimos e a contribuir para o financiamento das obras da importante infra-estrutura que foi o porto artificial de Ponta Delgada, cuja construção se iniciou em 1861 mas só veio a concluir-se em 1940. Dois interessantes artigos são-lhes consagrados.
11 A prosperidade permitida pela exportação da laranja e pela dinamização de tantos sectores, desde a produção do citrino até às várias tarefas associadas à preparação do produto a exportar, não foi suficiente para fazer despontar um sector industrial digno desse nome. Esta problemática é analisada em importante estudo que demonstra como apenas as actividades artesanais domésticas quase só alimentavam o auto-consumo, até que, já no final de oitocentos, surgiram as «fábricas de tabaco, de produção de álcool e de açúcar, de chá, de lacticínios e de cerveja», sectores que permanecem actuantes.
12 O «ciclo do Ananás» inicia-se, ainda, em meados do século XIX, sobrepondo-se, em parte, ao «da Laranja». Cultura forçada, obrigada a desenvolver-se em estufas para proporcionar à planta as condições próprias do clima tropical das regiões de origem, entrou pelo século XX, defrontando as adversidades de duas guerras mundiais, que, praticamente, lhe retiraram os mercados estrangeiros de exportação, os quais, no século XIX, eram os seus destinos de eleição. O artigo «O Ananás dos Açores: ascensão e declínio de uma “cultura forçada” que, de crise em crise, forçadamente tem sobrevivido» apresenta completa panorâmica desta produção agrícola vocacionada para a venda ao exterior, e que, além da «Economia» do gado bovino, foi o motor da vida económica micaelense de novecentos.
13 Outro artigo com projecção temporal no século XX é o que, ocupando-se das «Alfândegas nos Açores», caracteriza os vários períodos que, no arquipélago, conheceram desde o tempo do Marquês de Pombal até aos nossos dias.
14 «Algumas reflexões sobre a difusão da Instrução no concelho de Ponta Delgada, no século XIX» inicia-se com um denso ensaio sobre a História do Crescimento Económico, em que emerge a desenvoltura com que Fátima Sequeira Dias, formada na Escola Historiográfica, se move nos domínios da Ciência Económica e do Pensamento Económico. O quadro apresentado para a Instrução em Portugal, em geral, para os Açores, em particular e, mais em particular, ainda, para São Miguel, no século XIX, tem o negrume próprio das causas perdidas. O subdesenvolvimento gera o subdesenvolvimento e era impossível esperar algo de grandioso de uma sociedade em que a elite não ia além de «quinhentas pessoas»! No entanto, talvez o ensino no Liceu Nacional de Ponta Delgada não fosse tão mau como tudo leva a crer, quando se verifica a quantidade e qualidade de alunos que forneceu à Universidade de Coimbra. Aliás, a autora incentiva a que se faça a competente pesquisa aprofundada.
15 A maioria dos artigos conta com abundante informação quantitativa, correctamente interpretada. Estudiosa voraz, a autora disponibiliza manancial imenso de bibliografia de qualidade, associada à variada temática abordada na obra.
16 Last but not least, o artigo inaugural – «”Ponta Delgada: de ermo a cidade”. Agenda para uma reflexão sobre a História dos Açores com particular incidência no exemplo micaelense» – apresenta notável programa de acção para a abordagem científica do estudo da História Económica dos Açores.
17 Fátima Sequeira Dias, com a autoridade de principal especialista desta matéria, suscita um vasto conjunto de questões a radicar no dualismo da sociedade insular, apenas um pouco mais notório do que o verificado no continente português, na mesma época. É certo existirem algumas especificidades aberrantes, como a da proibição da livre circulação de mercadorias, no arquipélago e deste para o continente, que só foi revogada por uma lei de 1970!
18 Mas o elenco de linhas de pesquisa que apresenta é muito estimulante e assegura que, havendo vontade de prosseguir as suas directivas, a História Económica dos Açores pode vir a ser, a muito breve prazo, um dos domínios mais frutuosamente estudados na historiografia nacional.
António Alves Caetano – Economista.
DIAS, Fátima Sequeira. Os Açores na História de Portugal – Séculos XIX e XX. Lisboa: Livros Horizonte, 2008. Resenha de: CAETANO, António Alves. Ler História, n.59, p. 225-228, 2010. Consultar a publicação original
A Invenção de Goa: Poder Imperial e Conversões Culturais nos Séculos XVI e XVII – XAVIER (LH)
XAVIER, Ângela Barreto. A Invenção de Goa: Poder Imperial e Conversões Culturais nos Séculos XVI e XVII. Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2008. Resenha de: GUPTA, Pamila. Ler História, n.57, p. 149-152, 2009.
1 The idea of «invention» invokes a double dislocation, one of space and time. This is the premise upon which Ângela Barreto Xavier sets out to explain how Goa – what we understand it to be, that is – was invented in the context of the experience of imperial Portuguese expansion overseas during the span of the 16th and 17th centuries and in a particular region of South India. Certain viable political and economic conditions allowed for this invention to happen diachronically, and thus for there to be a very real Portuguese presence in Goa. At the same time, «Goa» was equally determined by the role of what Xavier describes as «another Goa» that consistently articulated with the first, that of the place of rural Goa and its inhabitants. Both factors were integral in shaping the nature of Portuguese imperial power during the historical period under study. This finely researched book is a revised version, including an updated bibliography, of a doctorate successfully defended by the author at the Instituto Universitário Europeu (Florença), four years prior.
2 In the very first pages, Xavier introduces us to the intriguing figure of António João Frias, an Indian Catholic clergyman living and evangelizing at the end of the 17th century in Goa. He serves as an emblematic figure for understanding the complexities of colonial expansion in this transitional period between pre-modern and modern, between the articulation of power and their consequences in the construction of new identities (social, cultural and political), and between the colonizer and the colonized. For Xavier, Frias is also a point of anchorage amidst the «grand narratives, inquietudes, and contradictions» (p. 19) that sustained imperialism. His personhood invokes the idea of «tensions of empire» (following Cooper and Stoler, 1997) that were necessarily part of the hierarchy and difference upon which colonialism more generally was predicated, and which took on a particular guise under the Portuguese at Goa. Thus to examine processes of Christianization in Goa is to not assume the existence a priori of an (Indian) population ripe for conversion; instead, persons were necessarily dynamic subjects who very often intervened (and collaborated in and were compromised by) the historical processes in which they were involved. Frias, as a subject of and in history, once again reiterates Xavier’s larger argument–to give space to the multiple voices that constituted and were constituted by the imperial experience (p. 23) in Goa. Moreover, it is both contexts of power and contexts of interpretation (p. 25) following Foucault that allows us to think of dichotomies (of dominator, dominated; colonizer/colonized) as less rigid in space and time, as having plasticity and as directly tied to the histories (parallel, consonant, and divergent) of all those actors involved, Frias being one of many who defines what we consider «Goa» to be. Finally, Xavier’s introduction also serves as an object lesson in Goan historiography at the interstices of postcolonial studies, subaltern studies, and comparative colonialisms. She delineates – very effectively I might add – different schools of thought and discusses the writings of particular authors on the topic of Goa (Catarina Madeira Santos, Luís Filipe Thomaz, Maria Jesus dos Mártires Lopes, Rowena Robinson, Teotónio de Souza, P.D. Xavier) who have been seminal in conceptualizing and contextualizing «Goa» as a subject for historical inquiry and analysis, including some of their often veiled sentiments of Orientalism. To use the Portuguese case to understand colonialism as a history of transformation is to view it as colonizing both the imaginary (following Serge Gruzinski, p. 27) and the conscience (following the Comaroffs, p. 27) such that changes in behaviors, attitudes, ethics, and aesthetics were not only first produced in (colonial) subjects, but then, just as importantly, were taken up by their descendents.
3 The monograph is organized into seven chapters. The first two chapters, set in the period between 1530 and 1540, take up as their subject of inquiry the attempts of D. João III to politically and administratively reorganize the Portuguese overseas territories, the result being a specific conceptualization of the «idea of imperialism» (p. 31). Herein the kings of Portugal were set up to oversee a vast territory with people living under their jurisdiction, in a territorial sense, and depending on both direct and indirect forms of domination. The first chapter then is dedicated strictly to providing a general overview from the extant historiography on the rule of João III, relying on the idea of «reform» rather than «crisis» to understand his reign. Here the role of political power (inspired by the Roman model) and religious power (both Catholic and Protestant) in Europe more generally serves as a backdrop for «recasting» the tensions of empire that took place between metropole and colony in the Portuguese case and during its beginning conceptualization, that is in the crucial period between the 15th and 16th century specifically. The second chapter picks up where the first leaves off. Its object of inquiry is those ways in which certain political, religious, and cultural practices were homogenized and thus developed specifically for export to the subject populations in the overseas territories. However, as Portugal created for itself the image of a new republic, this had repercussions, both short and long term, setting up processes of imperialism as far more heterogeneous, and thus with more arbitrary options available to both colonizer and colonized. The political culture of the elites, now relatively well established locally in Goa’s territories, could potentially filter down through to the subject populations.
4 These same aspirations are evidenced in the clergymen who are the main protagonists of chapters three and four. Here it is members of the Franciscan and Jesuit religious orders who, in their attempts to Christianize and convert the people of Goa, upheld these same ideals of political culture, inserting themselves into village life to transform local cultures more fundamentally. Whereas chapter three focuses specifically on the means by which the clergy was able to accumulate power in the context of the longstanding political alliance between church and crown, and at the same time inscribe themselves into pre-existing local networks, chapter four addresses the social mechanisms (education, aid, etc.) that Franciscan and Jesuit fathers adopted and adapted to reproduce distinct «cultures of conversion», and thus to effect change on a quotidian basis.
5 Chapter five is groundbreaking research in its attempt to complicate our anthropological understanding of conversion. By taking up Vicente Rafael’s crucial argument to look at conversion as a process of translation,1 only now applying it to the historical and cultural specificities of the Goa case, Xavier returns to her thesis, complicating Goa’s «invention» in the process. Her case study is the island of Chorão, and the attempts to convert the native population on the part of the clergy based there. Only her analysis is from the viewpoint of those subject to conversion, rather than from those Portuguese holding elite positions of power. This «inversion of perspective» (p.33) or writing of «history from below» to return to one Xavier’s central arguments set out in the introduction, allows the reader to realize the full range of behaviors and attitudes – from acts of resistance to those of pragmatism – that local groups and individuals took on in the face of conversion. Here Xavier argues convincingly that conversion, seen in this light, can more effectively be understood as also always a political act of dissension, following the work of Gauri Viswanathan who examined similar processes in the context of British India. Thus, for some of the more impoverished social groups on this island, conversion to Christianity constituted a choice, one which rejected pre-existing social and economic patterns of local dominance for a different set of political matrices. Chapter six takes on the idea of resistance as a set of explicit modalities, using the well documented case of the «Martyrs of Cuncolim» that took place in 1583 to frame a larger discussion of resistance in the quotidian (following the works of Scott, 1992 and Adas, 1985). Even as realized acts of resistance such as that of Cuncolim failed to destroy the dominance of imperial power and presence in Goa, it did have serious consequences – in the types of concessions the imperial crown ceded afterwards, in the way the memory of the repression affected the shape of future acts of resistance, and finally, in the way that subsequent generations of local indigenous elites, an expanding group now, including seminal figures like Frias whom Xavier introduced early on, defined and configured themselves in relation to imperial power.
6 The final chapter, with its intriguing title, «Apologias da ‘verdadeira nobreza’. Conflitos de memória, identidade e poder» returns to the author’s set of original themes by looking at how the diachronic effects of Portuguese imperial rule produced a distinct culture of conversion, one which allowed for a subject such as António João Frias to exist between colonizer and colonized. His spiritual writings, glorifying the faith of God, alongside many others produced by native subjects not dissimilar to him with regard to their identity politics, contributed to the beginnings of a collective local memory in Goa, one produced very importantly by members of the elite who operated as the mediators of crown rule, in the interstices of religious and political power. Relying on the language of the Bible, having access to local social and economic networks, and in the name of or for love of country, members of the local nobility of Indian origin like Frias flourished, reproduced, and in some ways set the pre-conditions for the infamous «Pinto Rebellion» which was to take place in 1787, and which was dramatically poised to expose the fissures between the ideals of Portuguese domination and the realities of social equality for Goa’s native populations moving up the political, religious and social ladders of hierarchy and difference.
7 Historian Anthony Pagden’s argument that «the world is a place much larger and more varied than we can imagine» (p. 24) is not only taken up in historically «inventive» ways by Xavier in this theoretically grounded monograph, but contributes greatly to understanding the complexities of the colonizer/colonized dichotomy by focusing on the historically little known figure of the colonized (and converted) elite who functioned in the in between niches, both constitutive of and constituting «Goa» through space and time. At another level, Xavier builds on and contributes to our deeper understanding of Goan history and historiography for the 16th and 17th centuries, respectively. I only hope that in the near future, Xavier takes up this same endeavor, only to extend her historical analysis to the later centuries of Portuguese colonial rule in Goa.
Notas
1 Rafael, Vicente L., Contracting Colonialism: Translation and Christian Conversion in Tagalog Societ (…)
Pamila Gupta – University of the Witwatersrand (África do Sul)
El Imperio Luso-Español y la Persia Safávida. Tomo I: 1582-1605 – FERNÁNDEZ (LH)
FERNÁNDEZ, Luis Gil. El Imperio Luso-Español y la Persia Safávida. Tomo I: 1582-1605. Madrid: Fundación Universitaria Española, 2006. Resenha de: BORGES, Graça Almeida. Ler História, n.57, p. 153-156, n. 57, 2009.
1 Luis Gil Fernández, Professor Emérito da Universidade Complutense de Madrid, tem centrado a maior parte da sua obra no domínio da Filologia Clássica, mas este livro não é o primeiro contributo do autor para o desenvolvimento das matérias de que se ocupa1, e sobre a sua qualidade bastará dizer que foi distinguido em 2007 com o Prémio Nacional de História de Espanha, atribuído pelo Ministério da Cultura daquele país.
2 As relações entre a Europa e a Pérsia Sefévida nos séculos XVI e XVII têm sido, na última década, alvo de um crescente interesse por parte da comunidade académica. Parte da literatura produzida tem-se ocupado das relações diplomáticas, e particularmente daquelas que adquiriram maior intensidade, ou seja, as que se desenvolveram entre a Monarquia Sefévida e a Coroa dos Habsburgos espanhóis. O que não é de estranhar, visto que, do lado persa, a maior abertura ao ocidente europeu se verificou precisamente no período em que Portugal, a principal potência europeia então instalada em Ormuz e no Golfo Pérsico, se encontrava integrado na Monarquia hispânica dos Habsburgos.
3A obra aqui em apreço – El Império Luso-Español y la Persia Safávida – vem assim juntar-se a outros trabalhos recentes, assinados por Rudi Matthee, Willem Floor ou Rui Loureiro. Rudi Matthee enquadrou a necessidade de encontrar parceiros europeus no quadro da política económica do Xá Abbas I (r. 1587-1629)2. Willem Floor, num trabalho sobre a história política e económica de cinco importantes portos do Golfo Pérsico – Ormuz, Baçorá, Bandar-Abbas, Mascate e Bandar-e Kong – durante o período sefévida, onde reserva especial atenção para a influência europeia na região, dá relevo às principais aproximações diplomáticas entre a Pérsia e a Europa3. Rui Loureiro, por sua vez, tem dedicado os seus últimos trabalhos tanto a Ormuz como a alguns intermediários na diplomacia entre os dois reinos, como Don García da Silva y Figueroa e Frei António de Gouveia4.
4É também um pouco de cada um destes tópicos que Luis Gil procura desenvolver nos cinco capítulos em que se divide este seu último livro. Não há, contudo, um fio condutor explícito a ligar os vários capítulos. Se nos dois primeiros, mais gerais, o autor procura contextualizar a aproximação diplomática entre a Coroa Ibérica e a Pérsia Sefévida, nos restantes reserva maior atenção para os pormenores das embaixadas trocadas entre os dois reinos, nas suas principais motivações, nas particularidades dos seus embaixadores, nas vicissitudes das suas aventuras diplomáticas e nos resultados, positivos ou negativos, conseguidos junto de ambos os soberanos.
5A obra ressente-se, aliás, da falta de uma introdução, que teria sido importante não só para o autor esclarecer o modo como estruturou este livro e os seus presumíveis sucedâneos (já que este se apresenta como o vol. I), mas também para situar o leitor nos pressupostos problemáticos e nas ideias principais em que assenta este trabalho.
6Apesar de a escolha deste período específico (1582-1605) carecer de uma fundamentação explícita por parte do autor, é inegável que Luis Gil escolheu um período-chave, uma época em que o relacionamento entre persas e ibéricos ganha uma nova intensidade, marcada inicialmente por interesses comuns que se foram gradualmente dissipando com o desenrolar do primeiro quartel do século XVII. O autor inicia a baliza temporal deste primeiro tomo em 1582, ano que aponta equivocadamente para as Cortes de Tomar (p. 25), quando as coroas de Portugal e Espanha se unem sob o reinado de Filipe II5, monarca que daria um novo impulso à diplomacia entre a Coroa Ibérica e a Pérsia. É necessário ter em conta que esta é a primeira parte de uma obra constituída por dois volumes, terminando o segundo (ainda sem data de publicação anunciada) com a expulsão dos portugueses de Ormuz pelos persas, em 1622, auxiliados por ingleses e holandeses, inimigos dos Habsburgos na Europa e no ultramar, pelo que a data escolhida pelo autor para fechar este primeiro tomo não parece ter especial relevância.
7A maior intensidade de relações com a Coroa Filipina está em larga parte relacionada com o controlo que os portugueses mantinham sobre Ormuz. Ormuz constituía o elo de ligação mais forte entre estas duas potências geograficamente tão afastadas e a presença portuguesa na região desde o início do século XVI permitia um conhecimento bastante profundo daquela potência do Médio Oriente, o que, por si só, em muito facilitava a diplomacia. Luis Gil demonstra bem a importância da presença portuguesa no Golfo Pérsico para as relações entre os dois reinos ao dedicar-lhe o primeiro capítulo deste livro, que se concentra particularmente na situação instável de Ormuz em finais de Quinhentos, dando a pequena ilha o mote para uma boa parte dos diálogos diplomáticos entre ambos os soberanos.

9O autor vai enquadrar os interesses de Filipe II dentro de uma preocupação mais geral que envolvia toda a Europa, precisamente a de minimizar o assédio turco constante nas suas fronteiras orientais e no Mediterrâneo. Dedica especial atenção às principais iniciativas conjuntas levadas a cabo a partir da sexta década de Quinhentos pelos governantes europeus, entre os quais se contavam sempre o Papa, o Imperador Habsburgo e o soberano espanhol, além de outros, entre os quais os monarcas portugueses, nomeadamente D. Sebastião.
10Os três últimos capítulos do livro em análise são essencialmente descritivos. Não se pode dizer que o autor sustente a sua obra numa tese, mas sim nalgumas ideias fortes que procura realçar no decorrer do livro, nomeadamente os motivos que suportavam cada empreendimento diplomático: a concertação de esforços contra o inimigo otomano; as relações comerciais entre a Pérsia e a Europa, particularmente no que dizia respeito ao comércio da seda; a salvaguarda do domínio português sobre Ormuz e sua presença no Golfo Pérsico; o desvio da seda persa por Ormuz em detrimento da rota do Levante; e a missionação religiosa na Pérsia.
11Dando sempre particular relevo à correspondência que as diferentes embaixadas e os seus representantes faziam correr entre o Xá e os soberanos habsburgos, nestes três últimos capítulos Luis Gil segue de perto as movimentações destes emissários em toda a Europa. Com uma base documental extremamente rica, o autor consegue desenhar (quase) todo o percurso diplomático dos principais agentes nas relações entre os dois reinos (maxime Sir Anthony Sherley e Frei António de Gouveia), salientando constantemente as suas ambiguidades, entendimentos, desavenças, sortes e azares, e demonstrando um interesse particular no cerimonial inerente a cada embaixada. Para tal, o autor levou a cabo um intensivo trabalho de investigação, baseando-se num considerável número de fontes primárias, algumas delas desconhecidas. O recurso a relatos de viagem e memórias, bem como às cartas intensivamente trocadas entre os emissários diplomáticos, o soberano espanhol e os seus representantes na Europa, e o próprio Xá, provou-se muito enriquecedor para a obra. Esta é, aliás, uma das principais contribuições do trabalho de Luis Gil, que o completou com o recurso a uma consistente bibliografia, a qual pecará apenas por não ser um pouco mais actualizada.
12Em resumo, o contributo deste livro para o desenvolvimento da matéria tratada é notável, uma vez que nos traz informação fresca, principalmente no que diz respeito aos pormenores das embaixadas trocadas entre a Coroa Filipina e a Pérsia Sefévida. Este é, no entanto, um tema que continua ainda a carecer de maior aprofundamento historiográfico. E, uma vez que esta se apresenta como a primeira parte de uma obra mais vasta, é o que se espera do próximo volume que Luis Gil Fernández vier a dedicar ao tema.
Notas
1 Do autor, ver também: «Sobre el trasfondo de la embajada del shah Abbas I a los príncipes cristiano (…)
2 Rudi Matthee, The Politics of Trade in Safavid Iran: Silk for Silver, 1600-1730, Cambridge: Cambrid (…)
3 Willem Floor, The Persian Gulf: A Political and Economic History of Five Port Cities, 1500-1730, Wa (…)
4 Rui Loureiro, Ormuz: 1507-1622. Conquista e Perda, Lisboa, Tribuna da História, 2007; «After the Fa (…)
5 Recorde-se que as Cortes de Tomar tiveram lugar em 1581.
Graça Almeida Borges – CEHCP-ISCTE-IUL
História Comparada das Mulheres – COVA (LH)
COVA, Anne (Dir.). História Comparada das Mulheres. Lisboa: Livros Horizonte, 2008. Resenha de: BALTAZAR, Isabel. Ler História, n.57, p. 159-161, 2009.
1 A História das Mulheres tem merecido a atenção dos historiadores, conscientes do muito trabalho a realizar. Muitos centros de investigação, no estrangeiro, um pouco por todo o mundo, como também em Portugal, dedicam-se a esta área, preenchendo lacunas na história que o tempo veio mostrar essenciais para mostrar a verdadeira identidade humana, composta de homens e de mulheres. Num verdadeiro impulso investigativo, as mulheres, que já eram protagonistas da História, ganharam, agora, maior visibilidade. Como escreveu Gisela Bock «Uma história que ignora metade da humanidade, não é sequer meia história, pois sem as mulheres a história não faria justiça tão-pouco aos homens» (p.8).
2 Para divulgar esta história muito contribuem, também, as editoras que permitem veicular o resultado das investigações académicas, muitas vezes, pouco divulgadas. É, por isso, de elogiar, no caso concreto, os Livros Horizonte, que tiveram a ousadia de correr contra uma cultura de massas, proporcionando livros de inquestionável qualidade. Trata-se da colecção A Mulher e a Sociedade, que acaba de publicar a História Comparada das Mulheres, na sequência de outros interessantes e apelativos títulos como, por exemplo, Nem Gatas Borralheiras, nem Bonecas de Luxo. As mulheres portuguesas sob o olhar da História (séculos XIX-XX), da autoria de Irene Vaquinhas, o primeiro da colecção, e outra “Cabelos à Joãozinho”. A Garçonne em Portugal nos anos Vinte, de Gabriela Mota Marques, o que antecede este agora apresentado.
3 Esta obra, tradução em português de um livro publicado originalmente em inglês nos Estados Unidos, sob a direcção de Anne Cova com o título Comparative Women’s History: New Approaches, editado por Columbia University Press (2006), mereceu a actualização bibliográfica na edição portuguesa. Curiosamente, a História Comparada das Mulheres: Novas Abordagens é o resultado de um workshop realizado na Universidade Aberta intitulado «Como escrever uma História Comparada das Mulheres?», com o propósito de «estimular o debate e dar um novo ímpeto à História das Mulheres» (p.11).
4 Anne Cova revela que «a ideia deste livro surgiu à medida que me envolvia num estudo comparado das federações feministas em França (Conseil national des femmes françaises), Itália (Consiglio nazionale delle donne italiane), e Portugal (Conselho nacional das mulheres portuguesas) durante a primeira metade do século XX» (p.11).
5 A introdução tem o sugestivo título «As promessas da História Comparada das Mulheres». Que promessas? Diz Anne Cova: «Este volume pretende abrir novas perspectivas sobre a escrita da História comparada das mulheres. Procura examinar as promessas que tal empreendimento encerra sob pontos de vista diferenciados, ao mesmo tempo que confronta as dificuldades que se lhe deparam. O ponto de partida e cerne deste livro é a questão: Como escrever uma História comparada das mulheres?» (p. 13). Estas linhas programáticas avisam o leitor do objectivo deste estudo: a necessidade de comparação na História das Mulheres.
6 Estamos perante uma história cruzada, uma história transnacional, perspectivas complementares na abordagem da História das Mulheres ou da História do Género, designações para o mesmo tipo de abordagem. Por outro lado, está, ainda, pressuposta a ideia de que a História das Mulheres «é essencial para uma correcta compreensão da História em geral» (p. 13). Por fim, a tentativa de empreender «novas abordagens», sugerindo a ideia que «a globalização exige o desenvolvimento de novas perspectivas na História comparada das mulheres, que permitam melhorar a nossa compreensão do passado, e reescrever uma História comparada que inclua as mulheres» (p.14). A este propósito refira-se a excelente e paradigmática obra sobre o assunto da autoria de Gisela Bock, Women in European History, ou a já clássica História das Mulheres no Ocidente, coordenada por Georges Duby e Michelle Perrot, que nortearam os paradigmas desta agora apresentada. Françoise Thébaud tem insistido na utilidade da perspectiva comparada ou «numa História que faça uma análise cruzada com práticas e debates estrangeiros; a História das mulheres como um fenómeno internacional, tem beneficiado tanto de trocas interculturais» (p.16).
7 Outros estudos comparativos são apresentados por Anne Cova sobre o estado da arte nesta temática, tanto na Europa como numa perspectiva mais global, tornando esta introdução verdadeiramente indispensável como ponto de partida para novas abordagens. Para além dos estudos sobre o assunto, não podemos deixar de elogiar a excelente teorização sobre a questão das fontes e os problemas inerentes a qualquer estudo comparado. Adverte a autora: «Como se faz comparação? Se qualquer projecto de pesquisa deve começar por justificar as delimitações geográfica e cronológicas, então este exercício pode ser mais complicado nos estudos comparados em virtude das dificuldades que a comparação levanta. É essencial estar muito atenta(o) à contextualização de qualquer fenómeno, quaisquer que sejam as sociedades que irão ser comparadas. Analisar as semelhanças e as diferenças é comum a todo o trabalho comparativo. Estabelecer as convergências, pontos comuns, e semelhanças que existem entre os casos sob comparação, ao mesmo tempo que se analisam diferenças, divergências, singularidades, e especificidades, leva-nos a dar mais importância a quê? Ou dito de outro modo, as diferenças são mais esclarecedoras do que as semelhanças, ou vice-versa?» (p.25).
8 O primeiro estudo, da autoria de Karen Offen, é sobre «Erupções e Fluxos: reflexões sobre a escrita de uma história comparada dos feminismos europeus, 1700-1950», mostrando a ausência do feminismo no estudo ou no ensino da História. Pretende a autora que esta situação seja alterada: «Esta História negligenciada ou esquecida – ou o que é pior, reprimida –, que a(o)s estudiosa (o)s feministas agora reclamam, é central para a nossa compreensão da história política e intelectual, assim como da história social, económica e cultural de praticamente todas as sociedades europeias» (p. 29). Porquê? A história dos feminismos vem preencher uma lacuna na História, dando visibilidade ao que existia na sociedade, sem passar à História o que, afinal, está na essência da sociedade. Trata-se de recuperar fontes primárias de documentação escrita, ou seja, de olhar de dentro para fora. Fazer a história dos feminismos é diferente de fazer a História das Mulheres ou das Organizações femininas; é tentar decifrar a face oculta dos factos, ler o que está implícito na História.
9 Bonnie S. Anderson conta-nos a história vivida na década de 1970 quando trabalhava numa História narrativa das mulheres na Europa. Era a história de mulheres que pretendiam uma igualdade cívica, política e social. Com a consciência da dificuldade em captar toda a realidade, a «História comparada vale bem o esforço. Sem ela, nunca descobriríamos as semelhanças e as diferenças que são essenciais para saber se iremos viver toda(o)s junta(o)s em harmonia e de forma produtiva neste próximo século» (p. 59).
10 Em «Erro de tradução? A História das Mulheres numa perspectiva transnacional e comparada», Ann Taylor Allen chama a atenção para o facto da história comparada estar, ainda, a dar os primeiros passos e para a sua real importância, também para a História do Género. Tanto para o investigador como para o professor de História global. Por último, Susan Pedersen explica as convergências e divergência da História comparada e a História das Mulheres. Um estudo que problematiza e faz pensar: «Haverá uma afinidade particular entre o método comparativo e a área da História das Mulheres? Acredito que sim e que essa relação tem a sua própria história» (p. 79). É necessário cruzar saberes e construir pontes para perceber melhor a realidade.
11 Eis uma verdadeira lição sobre o método de fazer História comparada, útil a qualquer aprendiz, mas que também faz pensar, pelos problemas que levanta, o especialista. Uma obra de referência.
Isabel Baltazar – FCSH – UNL
Esportare il fascismo. Collaborazione di polizia e diplomazia culturale tra Italia fascista e Portogallo di Salazar (1928-1945) – IVANI (LH)
IVANI, Mario. Esportare il fascismo. Collaborazione di polizia e diplomazia culturale tra Italia fascista e Portogallo di Salazar (1928-1945). Bolonha: CLUEB, 2008. Resenha de: NUNES, João Arsénio. Ler História, n.57, p. 162-166, 2009.
1 Com este livro Mario Ivani prolonga o trabalho de comparação entre o fascismo italiano e o regime salazarista, acerca da qual já em 2005 publicara o que se pode considerar, até hoje, a síntese mais conseguida1. Objecto de análise é agora não tanto o confronto entre os dois regimes como o estudo da relação entre eles, tomando como ângulo de observação a tentativa italiana de alargar a sua influência política e cultural em Portugal.
2 O capítulo 1 descreve o nascimento do Estado Novo salazarista, partindo da análise das diversas componentes da ditadura militar instaurada em 1926 e da posição que Salazar nela ocupou. Ivani situa em 1936, com a eclosão da guerra civil de Espanha, a viragem decisiva que «reduziu em muito as distâncias entre o Estado Novo e o modelo político fascista». É a partir do segundo capítulo que a problemática das ideias e organizações fascistas portuguesas é abordada com autonomia. Regista-se pertinentemente que, desde início, «o advento do fascismo suscitou em Portugal uma grande atenção nos meios nacionalistas e reaccionários» e que a influência dos movimentos portugueses de derivação fascista tem sido em geral subvalorizada. Ivani deixa claro como tais movimentos, do Nacionalismo Lusitano ao Nacional-sindicalismo e à Liga Nacional 28 de Maio, se relacionaram directamente com a implantação e os primeiros anos de existência da ditadura, bem como o papel que personalidades a eles ligadas, como António Ferro, vieram a ter no regime salazarista, qualificado pelo mesmo Ferro como «fascismo em acto».
3 A tentativa italiana de «exportação» do modelo fascista constitui o objecto central da obra. Numa primeira fase, tal tentativa assume uma forma essencialmente propagandística, sendo contemporânea de outras iniciativas internacionais do regime mussoliniano, como o Congresso internacional fascista de Montreux (1934). Consistiu ela na criação dos «comités de acção pela universalidade de Roma» (CAUR) e de uma «Liga de acção universal corporativa» que, embora tendo chegado a atrair a adesão de um certo número de figuras de relevo intelectual, não lograram alcançar implantação significativa. Para o autor, o aspecto importante da acção do fascismo italiano no sentido de influenciar o Estado Novo salazarista não se situa tanto nestas tentativas de carácter directamente propagandístico como num processo de penetração orgânica mais difusa e prolongada. Numa perspectiva em que é visível a lição de Gramsci, o autor sublinha a necessidade de encarar «o conúbio entre repressão e máquina do consenso» na consolidação das ditaduras europeias e as implicações do quadro internacional em que ela decorre: «com o advento do nazismo, o antifascismo tinha superado a fase essencialmente italiana para assumir uma consumada dimensão internacional, em resposta à qual as ditaduras de direita intensificaram a colaboração de polícia.»
4 Antes de entrar propriamente na análise da colaboração orgânica entre as organizações policiais italiana e portuguesa, o livro dedica um capítulo à atitude das autoridades portuguesas perante o afluxo dos refugiados. Mostra-se como abundam os juízos racistas em relatórios da PVDE, e sobretudo como foram adoptadas medidas bastante amplas tendentes a obstaculizar a entrada de judeus ou a promover a sua expulsão: medidas que decorriam logicamente do juízo expresso pelo chefe da polícia política, segundo o qual «o hebreu estrangeiro é, por norma, moral e politicamente indesejável». Foram perseguidas, tanto em Portugal como no estrangeiro, através da colaboração com outras polícias, as redes que tentavam organizar a passagem de refugiados para Portugal. O italiano Virgilio Bartolini, acusado de implicação numa destas redes, passou três anos nas prisões e no campo de concentração do Tarrafal, sem nunca ter sido julgado. Também os judeus portugueses, nomeadamente os envolvidos na actividade de difusão religiosa da Obra do Resgate, foram objecto de discriminações, vindo o principal animador desta, o capitão Barros Basto, a ser expulso do Exército.
5 Um dos capítulos de maior interesse do livro é o que respeita às relações entre as polícias italiana e portuguesa, nomeadamente a minuciosa e inovadora análise da actividade dos membros da missão de Polícia italiana enviada a Portugal em 1937, dois dos quais permaneceram no país por quase três anos. O envio da missão nasceu de uma iniciativa do próprio Salazar perante o impasse da investigação acerca do atentado de 4 de Julho de 1937, que por pouco o não vitimou. Com efeito, a polícia política portuguesa partiu do pressuposto da responsabilidade comunista no atentado e rapidamente conseguiu, com os seus métodos habituais, a confissão dos acusados. Viria a verificar-se que eram todos inocentes mas, no curso da detenção, dois deles perderam a vida. O livro deixa claro o alcance que esta missão tinha para os agentes italianos – «alargar os espaços de manobra no interior dos aparelhos portugueses significava também estender por essa via a influência do fascismo entre as elites locais, contribuindo num esforço conjunto com os órgãos de propaganda para a tentativa de exportar o modelo fascista para Portugal» –, e bem assim as fortíssimas resistências que suscitou na direcção da polícia política portuguesa. A missão italiana recusou o caminho de estabelecer relações privilegiadas com instituições, como a Legião Portuguesa, que as procuravam, preferindo manter-se no quadro das relações estáveis com as autoridades designadas pelo governo português. O resultado cifrou-se sobretudo na conclusão de um acordo técnico entre as duas polícias (semelhante a análogo acordo italo-alemão). Com base neste acordo se deu nos anos seguintes uma reforma dos métodos da polícia política portuguesa, tendo como efeito uma muito maior penetração e sistematicidade da recolha de informações entre a população, no sentido do controle e infiltração dos meios oposicionistas.
6 Quase metade da obra é dedicada à «exportação da ideia: diplomacia cultural e propaganda fascista em Portugal» (capítulo 4). Partindo dos modestos inícios da fundação do Instituto em 1928, é analisada com detalhe a acção, que se intensifica a partir de 1933, tendente a «constituir entre os intelectuais portugueses uma espécie de partido filo-italiano». Uma série de conferências, realizadas neste ano por nomes destacados da cultura literária e científica portuguesa, lançou aquilo que na imprensa de Lisboa era descrito como «um movimento de aproximação intelectual com a Itália». Tal acção não se encerrou nas paredes do Instituto Italiano. O director do Instituto de Ciências Económicas e Financeiras, Moses Amzalak, tomou a iniciativa da criação na sua Faculdade de uma «sala italiana», inaugurada em princípios de 1935, onde chegaram a iniciar-se os trabalhos de uma «escola sindical italiana». Não menos interessante é o teor das declarações produzidas nas conferências, tendentes a reclamar os pergaminhos portugueses na história do fascismo europeu: segundo um dos conferencistas, Mussolini, Salazar e Hitler encarnavam o ideal preconizado no princípio do século XX pelo rei português D. Carlos, «figura eminente na origem da actual concepção da suprema política de guiar os povos» e continuado por João Franco e Sidónio Pais.
7 O movimento de difusão cultural fascista sofre uma breve quebra, em 1935, em relação com a agressão italiana à Etiópia e a adesão do governo português à política de sanções económicas contra a Itália, adoptada pela Sociedade das Nações. Tal adesão deveu-se em larga medida à orientação anglófila do ministro dos Negócios Estrangeiros, Armindo Monteiro, no ano seguinte demitido por Salazar2. Este contexto diz muito sobre as realidades portuguesas da época, ao mesmo tempo que explica a observação do ministro italiano em Lisboa, citada no livro, acerca da imprensa portuguesa: «hoje a parte que nos é mais favorável é a mais próxima do governo que entretanto, o paradoxo é só aparente, segue uma política decididamente inglesa».
8 Um aspecto com uma presença marginal, mas não irrelevante, na obra de Mario Ivani, são as acções de agitação anti-fascista que, apesar da perseguição policial, persistem na sociedade portuguesa e encontram ainda forma de expressão pública. Assim por exemplo, a contestação de que são objecto os leitorados de italiano nas três universidades do país, chegando-se em Lisboa, no fim de uma lição inaugural, a «gritos de ‘viva a Abissínia’ e ‘viva o comunismo’ no meio de uma algazarra geral», como é referido num relatório diplomático. Mais tarde, em 1939, uma exposição do livro italiano na «sala do Império» da Universidade de Coimbra será alvo de uma acção clandestina de sabotagem que leva à anulação da cerimónia e a um protesto oficial do governo italiano.
9 A vitória militar italiana na Etiópia relança as manifestações de solidariedade política luso-italiana. Mas sobretudo a guerra civil de Espanha, a partir de Julho de 1936, vai presenciar a unidade dos regimes italiano, alemão e português no apoio à rebelião franquista e abrir novas oportunidades à acção do Instituto de cultura, que «obtém crescentes consensos no interior da camada política e intelectual salazarista.» São relançadas as conferências de personalidades italianas e portuguesas sobre as afinidades das instituições dos dois países nos mais diversos campos. Figuras de destaque da política italiana, como Federzoni, presidente da Academia de Itália e anteriormente do Senado, visitam Portugal. Em 1937, as comemorações do centenário da Universidade de Coimbra, a que Salazar assiste, «transformaram-se num explícito tributo às delegações italiana, espanhola e alemã» e manifestação da unidade dos fascismos. São italianos a receber então o maior número de doutoramentos honoris causa.
10 O autor dedica ainda espaço a uma outra questão acerca da qual não havia investigação anterior, a da influência dos estudos eugénicos, analisando o Congresso de Ciências da População, realizado no Porto em 1940, e a criação em 1936 da Obra das Mães para a Educação Nacional, inspirada na italiana Opera Nazionale per la Maternità e l’Infanzia.
11 A parte dedicada à «acção sobre a imprensa portuguesa» é uma das mais interessantes, no aspecto da revelação do grau de identificação de importantes sectores da sociedade e da política portuguesa com as orientações do fascismo italiano, no período que precede a II Guerra mundial. O adido de imprensa da representação diplomática italiana desenvolve um trabalho sistemático de distribuição de propaganda a figuras influentes vistas como simpatizantes e cuida, além disso, do acompanhamento da imprensa portuguesa. Consegue não só fazer publicar em jornais portugueses, sob pseudónimo, os seus artigos, mas também que textos enviados pelo Ministério da Cultura Popular italiano fossem publicados no Século como artigos do seu «correspondente em Roma». Esta parte da investigação é ainda importante pelo que mostra da orientação governamental, através da União Nacional e do seu órgão de imprensa: «No decurso de 1939, o Diário da Manhã radicalizou a sua orientação a favor do modelo político italiano», correspondendo à visão de Salazar, no princípio da II Guerra mundial, da Itália como garante de uma «zona de paz». Esta italofilia não foi afectada pela publicação das leis raciais em Itália, pelo contrário: «no decurso de 1939 a aproximação do Diário da Manhã às posições do fascismo incluiu uma mais explícita exposição em sentido anti-semita».
12 O autor não restringe a análise aos jornais da capital. Também a imprensa da província é sujeita a escrutínio, constatando-se, na segunda metade dos anos 30, «o florescer de uma série de publicações periódicas de orientação limpidamente fascista, difundidas mesmo nos pequenos centros urbanos». São analisados em detalhe os instrumentos de influência italianos sobre esta imprensa, que tinham de se defrontar com os recursos financeiros superiores da concorrência, não só francesa e inglesa, mas também dos aliados alemães.
13 A partir da entrada da Itália na Guerra, as exigências decorrentes da manutenção da neutralidade portuguesa impunham limites mais estreitos à propaganda italiana. No entanto, são-nos dadas a conhecer em pormenor as actividades, legais e «clandestinas», então desenvolvidas, a distribuição de propaganda a simpatizantes (e quem eram), a recolha de informações sobre os inimigos, as formas de apoio à imprensa legal, nomeadamente de carácter local, que permanece «fiel». Não cessou nesta época a actividade político-cultural do Instituto, através de concertos, sessões de poesia e também de conferências não isentas de alcance político, nas quais continuaram a participar altas personalidades do regime salazarista. Sobretudo, é a partir de então que se verifica uma concentração de esforços na difusão da língua nas escolas portuguesas: na primavera de 1943, havia no país 57 institutos de nível médio e superior com cursos de italiano, contando com mais de 3500 inscritos, número considerável nas condições da escolaridade portuguesa da época.
14 Também a análise do período que medeia entre o 25 de Julho de 1943, data da demissão de Mussolini, e o derrube definitivo do fascismo italiano em 25 de Abril de 1945, não é deixada de lado: destinos diversos e contraditórios do pessoal diplomático e educativo italiano em Portugal, consoante aderiu ao novo governo de Badoglio ou à república de Salò, continuação da actividade fascista a coberto da direcção do Instituto no Porto, relações com os representantes dos Aliados, recusa da polícia portuguesa a impedir a actividade dos partidários de Salò em Portugal, são alguns dos elementos referidos.
15 Um último capítulo, sobre «a comunidade italiana como instrumento de propaganda», em que são sucessivamente passados em revista os «fasci all’estero» (cujo aparecimento em Portugal é anterior a 1926), a Igreja italiana e a actividade das escolas italianas em Portugal, conclui a obra.
Notas
1 «Il Portogallo di Salazar e l’Italia fascista: una comparazione», Studi storici, aprile-giugno 2005 (…)
2 Valentim Alexandre, O Roubo das Almas, D. Quixote, Lisboa, 2006, nomeadamente pp. 110-114.
João Arsénio Nunes – Dep. História – CEHCP – ISCTE-IUL
Iberismos. Nação e Transnação, Portugal e Espanha, c. 1807-c. 1931 – MATOS (LH)
MATOS, Sérgio Campos. Iberismos. Nação e Transnação, Portugal e Espanha, c. 1807-c. 1931. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017, 362 pp. Resenha de: GÓMEZ, Hipólito de la Torre. Ler História, v.74, p. 277-280, 2019.
1 Hoy ya no puede decirse que la historia de la relación entre Portugal y España en la época contemporánea sea asignatura pendiente de la historiografía peninsular. En poco tiempo, los libros de Juan Carlos Jiménez Redondo, José Miguel Sardica, César Rina, el coordinado por Sergio Campos Matos y Luis Bigotte Chorão, el que viene de editar en formato digital Luis Fernando de la Macorra y, en fin, éste que aquí se comenta –por no referirme a artículos y actividades de investigación colectiva– demuestran precisamente todo lo contrario. La historia de lo ibérico ha dado en el último lustro un salto muy notable, no solo en el conocimiento empírico, sino también en la renovación de enfoques y de perspectivas metodológicos.
2 Conociendo el fuste intelectual del profesor Matos, y su familiaridad con los estudios sobre cultura e imaginarios del nacionalismo portugués, la temática iberista le viene como anillo al dedo. Captar el Portugal y la España contemporáneos interactuando en sus percepciones e interpretaciones del otro, en sus proyectos para el conjunto –conservadores, correctores o superadores del dualismo político peninsular– tal es el meritorio empeño de esta importante obra. Su resultado es un dibujo amplio, rico y bien matizado de un flujo de pensamientos y prospectivas, transversales a todas las corrientes políticas (p. 315), sobre la naturaleza y las posibilidades convergentes de las entidades nacionales de la península ibérica. Eso, que se llamó y llamamos iberismo, tan manido y en apariencia tan simple en sus contornos intelectuales, cobra compleja vida en el inteligente y detallado análisis de sus variantes, como el que Sérgio Campos Matos lleva cabo en esta obra.
3 No pasó el iberismo al terreno de las realizaciones nacionales, como aconteció por ejemplo en Italia, porque carecía, explica el autor, de “base social, carácter orgánico y unidad programática”. No fue tanto un nacionalismo, como una “constelación de idearios relacionados con diferentes tendencias nacionalistas” (p. 18). Sirve, a mi juicio, en su incapacidad de realizarse, para mostrar la solidez de la construcción histórica portuguesa. Y sirve, en positivo, a un retrato de la historia del pensamiento y de los imaginarios nacionales peninsulares. O sea, a una mejor comprensión de las sustancias intelectuales, y hasta emocionales, de las naciones peninsulares. Incluyendo, con indudable acierto, la perspectiva temática, cuando rebasaba los marcos cronológicos dominantes, éstos se le imponen al lector con facilidad, y en todo caso facilitan la labor de reseñar un estudio tan rico y plural como lo es éste. Hay una alta edad contemporánea, de fuerte densidad iberista, que culmina en las décadas de 1850-1870; vienen luego, desde los años de entresiglos, un decaimiento y reformulación del iberismo ortodoxo; y sigue, en fin, un periodo, de tensión política y político-internacional entre los dos países que refuerza el nacionalismo hispanófobo de Portugal, y solo refluye –aunque aún provisionalmente– en la década de los años veinte.
4 El periodo de construcción liberal de los Estados asiste a un apogeo de los postulados iberistas que diríamos clásicos, bien en su vertiente unionista, bien en dimensión federal. Monárquicos los primeros; republicanos, los segundos. Se inscriben ambos dentro de la cultura liberal imperante, revolucionaria, que fundamenta las realidades nacionales sobre la libre expresión de las poblaciones, y muestra, en las unificaciones de Italia y Alemania, ejemplos atrayentes de grandes realizaciones estatales. Del lado de España, el iberismo no ofrece dificultades de monta porque agranda y fortalece siempre su entidad nacional. Precisamente por eso, en Portugal es mucho más problemático, y tiene como resultante el refuerzo de un nacionalismo teñido de prevenciones frente a las propuestas unionistas del vecino. La realidad acontecida demuestra la fragilidad social y política de la marea iberista. D. Fernando II rechazando el ofrecimiento del trono español vacante por la revolución de 1868; La Comisión 1º de Diciembre (grupo de presión, con significativos vínculos personales al poder, a la que el profesor Matos dedica una treintena de páginas muy bien documentadas) levantando la bandera del nacionalismo reactivo portugués.
5 En el último tercio del siglo, la polémica iberista decae de forma manifiesta. Nada puede extrañar, porque la revolución, dentro y fuera de la Península, había llegado a su término y, con ella, la pleamar del iberismo. Era el tiempo de una gobernanza realista (Cánovas; Fontes), y de un proyecto colonial que, en sus propias dificultades, internas e internacionales, canaliza desde fin de siglo un nacionalismo lusíada, tan exacerbado y popular, que arrastró –y hasta acabó por colocar en su vanguardia– al propio republicanismo. Decae, sí, el iberismo clásico, pero la cuestión ibérica se reformula. Hay que leer con atención las páginas sobre la generación del 70 para apercibirse de la crisis iberista. Pero hay que leer sobre todo el magistral estudio que el autor dedica a Oliveira Martins para captar esa reformulación en toda la hondura y alcance. Imposible reconstruir los atinados análisis del profesor Matos sobre tantos temas capitales como suscita el pensamiento de Oliveira Martins: la naturaleza polémica de la nación “española”; la especificidad de Portugal dentro del conjunto hispánico; la discusión sobre el apogeo y decadencia peninsulares –sus momentos históricos, sus factores.
6 Y, para evaluar el significado de cuanto defiende el insigne polígrafo portugués, siempre la oportuna referencia del profesor Matos a las coordenadas intelectuales externas: al concepto de civilización, extendido fuera (de Voltaire a Guizot) y dentro (Eugenio Tapia, Morón, Menéndez Pelayo, Altamira) de la Península; a la inextinguible leyenda negra, especialmente arraigada en el mundo anglosajón (W. Prescott, H.T. Buckle). Oliveira Martins –explica el autor– distanciado del providencialismo histórico y de la teleología positivista, fue “o primeiro historiador a adotar o conceito de uma civilização ibérica, correspondente ao todo peninsular” (p. 182). Y, apelando a grandes figuras del ensayismo lusitano del XX, puede afirmar que “foi mais longe do que qualquer outro autor português na sua indagação acerca de Portugal” (p. 183). Podría añadirse, sin exageración, que la fórmula del iberismo martiniano representó un antes y un después en las relaciones peninsulares: acabó por resolverlas.
7 Antes, las suspicacias que genera el célebre encuentro republicano de Badajoz (1893), las episódicas y epidérmicas repercusiones de solidaridad generada por las crisis del 90 y del 98, o la más que sospechosa campaña española de “armonía ibérica” (1917), apenas si revelan la defunción de la ortodoxia iberista. De sobra justificada por las iniciativas anexionistas de la España alfonsina en el escenario de la crisis interna portuguesa y la gran crisis mundial (1907-1919). España es el “peligro español”. Pero, entre tanto, la huella del pensamiento martiniano se hace patente en el avance de una metamorfosis de indudable calado, que tendrá su momento de arranque en la inmediata posguerra y constituirá política oficial de la dictadura del general Primo de Rivera. Los conceptos –aireados ya desde fines del XIX– de panhispanismo, hispanoamericanismo, iberoamericanismo recogen, y amplían al mundo de estirpe portuguesa y española, la poderosa herencia del concepto de una civilización ibérica transcontinental (aunque en Portugal, João de Barros o Bettencourt Rodrigues postulasen la marca propia de panlusitanismo).
8 Y, sobre todo, esa reformulación martiniana halla su mejor expresión en la alianza peninsular de António Sardinha: dos naciones políticas, unidas en una proyección internacional común, como reflejo de identidad de civilización. El peninsularismo de António Sardinha, imbuido, como su propio autor, de ideología contrarrevolucionaria, tendría fraternal acogida entre sus homólogos españoles de la futura e influyente Acción Española. Cuando la contrarrevolución se hiciera realidad política en Portugal (tras el derrumbe de la democracia liberal) y en España (bajo la dictadura de Primo de Rivera, y más tarde, en el franquismo); cuando se liquidara el periodo de regímenes antagónicos que siempre estuvo en el origen de la desavenencia peninsular, la fórmula aliancista de Oliveira Martins, retomada en clave ideológica por Sardinha, tendría asegurado definitivo éxito. Resultó también muy importante que los autores de esa fórmula fueran portugueses, y no cualesquiera, sino portugueses ilustres convertidos por largas estancias en España (tanto Martins como Sardinha) y estrecha relación con intelectuales españoles “à lareira de Castela”.
9 No sé si, en la atracción fatal que inspiran tantas y tan complejas cuestiones como suscita este interesantísimo libro de Campos Matos, no habré dejado ya, con mi involuntaria huella, algunas observaciones críticas. Voy a ello. Pienso por ejemplo que hubiera valido la pena resaltar más los encuadramientos históricos –internos e internacionales– de la Península, porque son ellos los que condicionan y motivan en gran medida la intensidad de las pulsiones y la naturaleza de los planteamientos iberistas. Tampoco acabo de explicarme por qué el profesor Matos se detiene en 1931, en vez de abordar toda la década de los años treinta, que interrumpe, en el antagonismo político-ideológico de los respectivos regímenes, la fórmula de entendimiento descubierta por Oliveira Martins, y reforzada, con estratégicas y oportunas dosis de ideología conservadora por António Sardinha. Incluso veo el final de esta historia en el triunfo del franquismo, que reúne a mi juicio esas condiciones fundamentales de paz política peninsular, sintonía ideológica contrarrevolucionaria y homologación (desde 1945) de ambos países en un mismo sistema internacional.
10 Y ya un interrogante final. ¿Por qué no mantener iberismo, en vez de iberismos? En singular, como siempre se dijo, el término sugiere una sustantividad que en plural se pierde, tornándose circunstancial. Ahora bien, lo sustantivo es la persistencia del objetivo unionista final, que da sentido a sus variantes, vías estratégicas puntuales (ideológicas, económicas, políticas, etc.) generadas en la circunstancia histórica. El término iberismo debe entenderse, por tanto, como marco referencial finalista de todas y cada una de sus variantes (iberismos), a las que presta un norte conceptual y un recorrido de larga duración. Que es precisamente lo que hace el autor, contemplando con indudable maestría en cada árbol el conjunto del bosque. E incluso, si la terminología resultase problemática, ¿por qué no expresarla con el título de Iberismo(s)?
11 Nada de esto reduce en lo más mínimo el valor de este sobresaliente libro de Sérgio Campos Matos, no solo muy bien documentado en la abundancia de títulos, de fuentes archivísticas y hemerográficas, sino –lo que suele ser menos frecuente y desde luego mucho más complicado– escrito con erudición e inteligencia interpretativa. El resultado es una obra de altura, que reconstruye con éxito un capítulo fundamental de la historia intelectual portuguesa y española: la que reflexiona sobre el “ser” propio y del otro, mirando a una definición retrospectiva y prospectiva de cada uno y de los dos en el marco conceptual de lo ibérico.
Hipólito de la Torre Gómez – Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. E-mail: htorre@geo.uned.es.
Ler História | ISCTE-IUL | 1983
Criada em 1983, a Ler História (Lisboa, 1983-) uma revista académica portuguesa na área científica da História, dedicada principalmente à história de Portugal, do império português e dos países lusófonos, nas épocas moderna e contemporânea.
A Ler História inclui também no seu campo de interesses outras cronologias e geografias, como a história ibérica e ibero-americana, a história de África e a história da Ásia, entre outras, sendo particularmente receptiva às abordagens de história comparada, transnacional ou global.
A revista dedica, desde sempre, uma especial atenção às questões de natureza historiográfica, incluindo a reflexão teórica e metodológica.
Ler História é uma publicação do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) e publica em português, inglês, espanhol e francês.
[Periodicidade semestral]. [Acesso livre].ISSN 2183-7791
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos