Posts com a Tag ‘Justiça’
Libro de acuerdo para pleitos de recusaciones de oidores y para pleitos propios de oidores y de su família/año 1564 | Ana María Presta
En la publicación de este libro se conectan el quehacer de la historiadora Ana María Presta (a quien se debe obras fundamentales para la comprensión de las dinámicas sociohistóricas en Charcas en la segunda mitad del siglo XVI), las investigaciones iushistoriográficas emprendidas por el historiador Sergio Angeli en el estudio de los oidores de la Audiencia, el estudio sistemático de la obra jurídica de Juan de Matienzo desarrollada por el historiador Germán Morong; además de la historia de los proyectos editoriales impulsados por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. En 2007, se publicaron los Acuerdos de la Real Audiencia de La Plata de los Charcas, en 10 volúmenes, bajo la dirección de José Miguel López Villalba. De acuerdo con Marcela Inch (1946-2015), exdirectora del ABNB, el proyecto editorial comenzó a gestarse a fines de la década de 1990 por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. A inicios del siglo XXI, Josep Barnadas (1941-2014) formuló un anteproyecto por petición del ABNB. Finalmente, en 2004, el ABNB presentó el proyecto de transcripción y publicación de los Acuerdos al Programa de Justicia de AECI. Este fue aprobado en noviembre de 2005 y ejecutado durante trece meses.
En el volumen 9 se publicó un conjunto de documentos indispensables para el estudio de la actividad judicial en la Audiencia de La Plata: “Penas de Cámara, 1566-1813”, “Testimonios de Autos Acordados, 1664-1826” y “Pleitos propios, 1564”. Este último es objeto de una nueva transcripción en el libro editado por Ana María Presta. ¿Qué ha justificado volver sobre un documento ya publicado? Para Ana María Presta, junto con los errores de transcripción y la omisión de las notas en latín redactadas por el licenciado Juan de Matienzo, la edición descuidó no solo que se trataba de un documento escrito por los oidores de la Audiencia de La Plata, sino que también el “valor iustoriográfico de la pieza y el contenido político que guardan sus páginas, más allá de soslayar la cultura jurídica del oidor vallisoletano que no es otra que la de su época” (p. 7). En esta perspectiva, la edición de Ana María Presta ofrece una copia facsimilar acompañada de una transcripción crítica y anotada del Libro de acuerdo para pleitos de recusaciones de oidores. A este califica de rara avis por cuanto se trata de una documentación que no se encuentra con frecuencia en las audiencias americanas. De hecho, es el único que se halla entre los papeles de la Audiencia de Charcas, aunque no fue infrecuente el recurso a la recusación. Leia Mais
Saber hacer y decir en justicia. Culturas jurídicojudiciales en la zona centro-sur de Chile (1824-1875) | Víctor Brangier
En Saber hacer y decir en justicia. Culturas jurídico-judiciales en la zona centro-sur de Chile (1824-1875), Víctor Brangier ofrece el trabajo realizado en su tesis doctoral. En el contexto de la historia de la justicia, su estudio aborda el uso estratégico de argumentos y prácticas que actores legales pusieron en práctica en casos penales judicializados para persuadir a los jueces con el fin de obtener algún beneficio durante el siglo XIX en Chile. El argumento principal de la obra es que los justiciables tenían un conocimiento sobre el mundo judicial que les permitía navegar sus casos legales de una forma estratégica con miras a maximizar las posibilidades de un resultado favorable debido a que compartían con los jueces -en particular jueces legos sin formación jurídica- un mismo mundo sociocultural, lo que hacía que tuviesen valores similares, por lo cual los jueces eran propensos a empatizar con sus argumentos. Leia Mais
In the Shadow of Justice. Postwar Liberalism and the Remaking of Political Philosophy | Katrina Forrester
Notas
1 Un esfuerzo similar puede verse en el estudio de la interacción entre “constelación de ideas” y los diferentes tipos de instituciones (departamentos académicos, comités de investigación y think thanks) que fundaron las bases de las teorías de la modernización emergentes en el contexto de la Guerra Fría. Véase Nils GILMAN, Mandarins of the Future. Modernization Theory in Cold War America, Nueva York, Johns Hopkins University, 2007. Leia Mais
Comprender y juzgar. Hacer Justicia en las ciencias sociales | Patricia Funes
Los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura conforman un elemento particular, dinámico y significativo en la historia política argentina contemporánea. Es comprensible que a partir de esa riqueza los juicios se hayan convertido en un objeto de interés para las ciencias sociales, despertando diversos interrogantes sobre la vida social que exceden ampliamente el lenguaje y los objetos del derecho. Inversamente, ha acontecido en los juicios contemporáneos, desde su reapertura a mediados de los dos mil, un fenómeno novedoso y particular: el conocimiento producido desde las ciencias sociales sobre aquel pasado abyecto ha despertado un creciente interés en las lógicas y praxis de los tribunales, recurriendo a las voces de los científicos sociales como herramientas de la acción judicial. Y en ese marco, como analizan Funes y Catoggio en su introducción al volumen aquí presentado, se han producido transformaciones en ambos campos, intersecciones y desencuentros, fruto de esa cooperación. Leia Mais
Saber hacer y decir en justicia. Culturas jurídico-judiciales en la zona centro-sur de Chile (1824-1875) | Victor Brangier
Victor Brangier | Imagem: UBO
Víctor Brangier se propone abordar, principalmente, el fenómeno de la justicia criminal contemporánea desde la ribera social y cultural de sus protagonistas. Entiende que resulta imposible pensar la justicia penal decimonónica como un aparato efectivo de control y disciplina social. En ese sentido, el análisis documental le permite comprobar que los sujetos en el siglo XIX no solo eran hábiles en responder y defenderse de las ofensivas persecutorias de alguna autoridad, sino que también queda claro que conocían cómo usar los resortes de la justicia criminal para enfrentar sus conflictos previos a la judicialización, en la arena social, y así obtener beneficios. Explica que los extremos temporales de su trabajo se asientan, por un lado, en el Reglamento de Administración de Justicia de 1824 y, por el otro, en la Ley de Organización y Atribución de Tribunales de 1875. Se avanzó entonces en un análisis institucional-oficial contrastado con las dinámicas vivas de su ejercicio en los juzgados. Concentró su mirada en la zona centro sur de Chile, particularmente en las provincias de Maule y Colchagua.
En función de ese objeto de estudio delimitado, se generan las preguntas que permitirán abordar los expedientes de archivo. Las mismas se centraron en determinar qué ideas políticas y jurídicas y qué clase de normativa delinearon la justicia criminal; qué características geográficas, administrativas, económicas y sociales tenía la zona centro sur del país; quiénes eran los actores sociales y los agentes de justicia; cuáles eran las raíces y horizontes de aquel saber y decir en justicia y cómo, por qué y para qué los actores lo ponían en práctica y actualizaban en los juzgados. Leia Mais
Comparing Transitions to Democracy. Law and Justice in South America and Europe | Cristiano Paixão e Massimo Mecarelli
Ce livre collectif, réunissant quatorze auteurs sous la direction de Cristiano Paixão et Massimo Meccarelli est une contribution innovante à l’étude des transitions démocratiques du XXe siècle en Amérique du Sud, en Espagne, au Portugal et en Italie étudiées sous l’angle de l’histoire du droit, plus particulièrement de l’histoire de la justice dans les périodes de sortie de la dictature et de la difficile reconnaissance des crimes commis avant le processus démocratique. En rappelant le combat récent des familles de victimes pour retrouver les corps de leurs parents disparus et le poster du président Bolsonaro (quand il était membre du Congrès) affirmant que « seuls les chiens recherchaient des os », ce livre montre, s’il en était besoin, combien est vive, chez tous ceux qui ont perdu un être cher dans les crimes des dictatures du XXe siècle, la mémoire de ces tragiques événements et la volonté de connaître la vérité, sinon de voir punis les responsables de ces atrocités. En donnant des évaluations précises du nombre des victimes, de celui (beaucoup plus faible) des actions intentées et de celles (encore moins nombreuses) ayant abouti à des condamnations, en décrivant les obstacles rencontrés par les victimes et leurs familles face aux lois d’amnistie et aux politiques fondées sur l’oubli, cet ouvrage est un salutaire rappel pour les lecteurs du monde entier sur la persistance des crimes contre l’humanité et sur leur poids dans la psychologie de millions de personnes à travers tous les continents.
Au-delà de l’émotion que peuvent ressentir les lecteurs, même ceux bien informés de ces questions dans leur pays, mais ayant eu rarement accès à une étude comparative de cette ampleur, ce livre est un très bel exemple d’histoire du droit à l’époque contemporaine, ou si l’on préfère de l’histoire du temps présent. Dans beaucoup de pays, la discipline de l’histoire du droit s’est d’abord développée pour étudier les traditions nationales, qu’elles remontent à l’Antiquité, au Moyen Âge ou aux Temps modernes. Il a fallu, au cours de ces dernières décennies, des engagements individuels et collectifs de quelques spécialistes de l’histoire du droit pour que l’étude du XIXe , puis du XXe siècle, devienne un objet de recherches et d’enseignements à part entière. Sur la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale, il a été longtemps objecté que le recul manquait pour apprécier des événements dont les chercheurs avaient pu être des contemporains, du moins dans leur jeunesse. Depuis longtemps cette objection, qui par nature s’affaiblit d’année en année, a été réfutée par les historiens généralistes qui traitent de la seconde moitié du XXe siècle, qu’il s’agisse de l’établissement des régimes démocratiques en Europe après 1945, de la guerre froide, de la décolonisation ou de la fin de l’URSS. Il n’y a aucune raison pour qu’il en aille différemment pour l’histoire du droit : de la part d’auteurs qui sont pour la plupart séparés des événements analysés par l’espace d’une ou deux générations et qui s’efforcent à l’objectivité en travaillant sur les archives et les discours des acteurs de cette histoire contemporaine, l’on peut trouver la même « objectivité » que chez les historiens étudiant des périodes plus anciennes avec un vocabulaire et un regard qui eux sont nécessairement contemporains. De plus, le sujet traité dans ce livre concerne au plus haut point l’histoire du droit : il s’agit d’analyser le contenu et la portée de textes constitutionnels, de lois (particulièrement de lois d’amnistie), de jugements, de prises de position doctrinales qui constituent autant de pièces de dossiers pouvant être vérifiés ou discutés (« falsifiables » selon le vocabulaire de Popper). Leia Mais
Mujeres criminales. Entre la ley y la justicia | Martha Santillán Esqueda
Martha Santillán, especialista en la criminalidad femenina en el decenio de 1940 en México, nos presenta en Mujeres criminales. Entre la ley y la justicia, los casos de cinco mujeres: Clementina, María Antonieta, Amalia, Teresa y Carmen, quienes, entre las décadas de 1930 y 1940, fueron procesadas ante los tribunales por cometer actos delictivos en la Ciudad de México. Clementina fue acusada de asesinar a su marido tras una riña conyugal, María Antonieta por asesinar a su hermano tras años de violencia sexual; Amalia y Teresa fueron arrestadas por abortar, y Carmen fue imputada por el robo y asesinato del propietario de una cantina. Leia Mais
La giustizia in scena. Diritto e potere in Eschilo e Sofocle | Emanuele Stolfi
La giustizia in scena rappresenta un contributo innovativo nel vasto panorama degli studi sul diritto greco antico, ponendosi come modello per l’interlocuzione scientifica tra gli storici dei diritti antichi e gli studiosi della tragedia. L’Autore, pur riconoscendo l’attenzione di giuristi e filosofi del diritto ai quesiti posti dai testi tragici alla moderna sensibilità giuridica e la recente fortuna della corrente di studi «Law in Literature», rileva un limitato interesse da parte degli storici dell’esperienza giuridica. Questo libro indica le possibili direzioni del contributo degli studiosi di diritto greco all’esame del teatro di Eschilo e Sofocle, proponendo un’integrazione del metodo storico-giuridico entro ampie linee di indagine (filologicoletterarie, linguistiche, antropologiche) per illustrare questioni nevralgiche rappresentate dai tragediografi. Leia Mais
Confianza en la Administración de Justicia: lo que dicen les abogades: una encuesta en el Departamento Judicial La Plata | Olga Luisa Salanueva
Olga Luisa Salanueva | Foto: Ismael Francisco
 La presente reseña tiene por objeto acercar a la comunidad académica un trabajo que reviste especial importancia para la reflexión sobre la administración de justicia. Este trabajo, presenta y discute los resultados del Proyecto de Investigación 11/J161 ¿Quiénes son los usuarios de la administración de justicia? Medición de los niveles de confianza en La Plata, llevado adelante por un grupo de investigación con una amplia trayectoria en el análisis de problemas socio jurídico, coordinado por la Doctora Olga Luisa Salanueva.
La presente reseña tiene por objeto acercar a la comunidad académica un trabajo que reviste especial importancia para la reflexión sobre la administración de justicia. Este trabajo, presenta y discute los resultados del Proyecto de Investigación 11/J161 ¿Quiénes son los usuarios de la administración de justicia? Medición de los niveles de confianza en La Plata, llevado adelante por un grupo de investigación con una amplia trayectoria en el análisis de problemas socio jurídico, coordinado por la Doctora Olga Luisa Salanueva.
El rigor y el excelente procesamiento de datos, junto con la profundidad del análisis teórico y metodológico, lo hacen un texto de referencia para el análisis de la realidad regional, aportando elementos que nos permiten reflexionar sobre un tema de actualidad, como lo es el funcionamiento del Poder Judicial. Leia Mais
La cultura giuridica dell’antica Grecia. Legge/politica/giustizia | Emanuele Stolfi
La cultura giuridica dell’antica Grecia è un libro portatore di novità nel vasto panorama di studi sul diritto greco. Esso si inserisce, infatti, come voce nuova all’interno di un dibattito assai vivo e produttivo, il quale, soprattutto a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, ha portato ad un rinnovamento e ad un progressivo ampliamento delle prospettive e delle modalità di interpretazione dell’esperienza giuridica ellenica. In questo orizzonte, il contributo di Stolfi si presenta come l’esito maturo di una riflessione di ampio respiro, fondata sui temi e sui metodi della storia dei diritti antichi, ma che attinge anche a categorie storico-antropologiche. L’argomento e il taglio dell’opera sono visibili già nel titolo: studiare la cultura giuridica dei Greci implica lo scostamento da un esame di complessi normativi, istituti e procedure, per indagare l’esperienza giuridica della civiltà greca individuando le «forme di pensiero razionale» (p. 63) che l’hanno costituita.
Il volume si articola in dieci capitoli, preceduti da una breve ma importante Premessa (pp. 11-12), finalizzata all’illustrazione del senso di un lavoro che si caratterizza per la sua peculiarità entro la contemporanea letteratura di studi giuridici. Questa peculiarità risiede nella scelta, esplicitata da Stolfi, di percorrere una strada diversa rispetto a quella, ampiamente esplorata, di una «trattazione esaustiva» (p. 11) e manualistica delle leggi e degli istituti che fanno parte dell’esperienza giuridica greca, rivolgendosi, invece, alla «trama teorica» (ibidem) inerente alla legge e alla giustizia elaborata dalla civiltà greca e della quale le testimonianze letterarie sono espressione. L’Autore propone, infatti, «un itinerario […] attorno alle peculiarità del lessico, dell’immaginario concettuale e dei grandi quesiti che, dalle società omeriche sino all’avvento macedone, possiamo individuare in relazione al diritto» (p. 11): lo studio viene svolto a partire dall’analisi delle occorrenze e dei significati assunti dai termini afferenti la vita giuridica, per approdare alla costruzione di una visione d’insieme, seppur complessa e problematica. Centro dell’indagine non è il volto tecnico e procedurale del diritto, ma «il nesso con la dimensione politica e le forme mentali proprie del contesto storico» (pp. 11-12), e dunque il pensiero sotteso ad esso – che è pensiero mitico, filosofico, religioso, politico, e che costituisce il contenuto più puramente culturale del fenomeno giuridico greco. Leia Mais
Statelessness: A Modern History / Mira Siegelberg
Mira Siegelberg / Foto: TAUVOD /
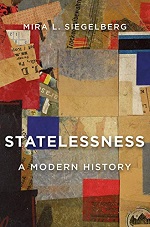 Mira Siegelberg’s important monograph retrieves and explores the debates in a range of different forums on a subject of fundamental significance: how, in the author’s words, ‘the problem of statelessness informed theories of rights, sovereignty, international legal order, and cosmopolitan justice, theories developed when the conceptual and political contours of the modern interstate order were being worked out, against the background of some of the most violent and catastrophic events in modern history’. With this bold opening statement, Siegelberg promises to cast fresh light on the history of the 20th century. The result is a scintillating display of erudition and an abundance of original insight on a subject that demands close scrutiny.
Mira Siegelberg’s important monograph retrieves and explores the debates in a range of different forums on a subject of fundamental significance: how, in the author’s words, ‘the problem of statelessness informed theories of rights, sovereignty, international legal order, and cosmopolitan justice, theories developed when the conceptual and political contours of the modern interstate order were being worked out, against the background of some of the most violent and catastrophic events in modern history’. With this bold opening statement, Siegelberg promises to cast fresh light on the history of the 20th century. The result is a scintillating display of erudition and an abundance of original insight on a subject that demands close scrutiny.
One way of telling the history of statelessness is to trace the origin of international agreements, notably the adoption by the United Nations General Assembly in 1954 of the Convention Relating to the Status of Stateless Persons in 1954, according to which a stateless person is anyone ‘who is not considered as a national by any State under the operation of its law’. Siegelberg does not dispute the importance of such a foundational moment—it forms part of her final chapter—but she insists upon the need for a non-teleological and more nuanced perspective, based upon a close reading of texts that emanated from multiple actors, including but not confined to a relatively small cast of international lawyers. These texts had consequences for the prospects of countless men and women. Statelessness thus becomes a touchstone for thinking about the relationship between the state, the international legal order, and the individual, and how that relationship was constantly reimagined. Leia Mais
Historia y justicia. Cultura/ política y sociedad en el Río de la Plata (Siglos XVI-XIX) | Darío Barriera
Darío Barriera escribió un libro sobre historia y justicia de los siglos modernos en tierras extensamente rioplatenses, y lo hizo tanto desde la objetividad científica como desde la subjetividad del investigador; un lujo que no cualquiera puede darse, solo quien esté en condiciones de respaldar cada palabra expresada.
La objetividad científica no está definida por un tema sino por un método. Como si fuera un científico decimonónico, de aquellos que tomaban diferentes puntos de abordaje porque el parroquialismo disciplinar todavía no existía, Barriera no se limitó a un recorrido o a una sola trama epistemológica sino que puso a prueba su objeto de estudio, abordándolo desde todos los ángulos posibles, formulando preguntas, desde las más -aparentemente- sencillas a las historiográficamente más complejas. Complejas, porque están construidas por sucesivas capas aluvionales de indagaciones dialógicas, en las que cada pregunta o cada formulación está atada a numerosos debates, trucos y retrucos de decenas de discusiones entre académicos de diferentes tiempos y latitudes. Sencillas, en apariencia, porque utiliza palabras corrientes con figurada candidez –¿cuánto es lejos?, ¿cuánto es cerca?– para poner a los discursos frente a sus propias contradicciones o, mejor dicho, frente a sus móviles no explicitados. El poder nunca muestra sus arcanos. Leia Mais
Matters of Justice: Pueblos/ the Judiciary/ and Agrarian Reform in Revolutionary Mexico | Helga Baitenmann
Resenhista
Kevan Antonio Aguilar – University of California. San Diego.
Referências desta Resenha
BAITENMANN, Helga. Matters of Justice: Pueblos, the Judiciary, and Agrarian Reform in Revolutionary Mexico. Lincoln: University of Nebraska Press, 2020. Resenha de: AGUILAR, Kevan Antonio. Historia Agraria De América Latina, v.1, n.2, p. 130-133, nov. 2020. Acesso apenas pelo link original [DR]
La administración de justicia en el Río de la Plata: agentes, competencias y prácticas (siglos XVII-XIX) | Memoria Americana | 2020
A principios del siglo XIX, y al calor de los primeros movimientos independentistas -en el caso americano- y de la Corte gaditana -para la Península-, comenzaron a definirse con mayor precisión las tareas que correspondían a los tribunales de justicia, deslindándolas expresamente de los actos de gobierno. Se pretendía con ello avanzar contra una de las particularidades más fuertes del régimen que se buscaba superar; esto es: la justicia entendida como tarea de gobierno. No obstante, algunos aspectos de lo que suele llamarse Antiguo Régimen persistirían, tales como: fueros especiales; coexistencia de ordenamientos jurídicos diversos; desigualdad jurídica vinculada a la noción estamental y supuesta calidad innata de las personas; desagregación territorial y discontinuidad impositiva -enraizadas en una cultura jurisdiccional secular-, por señalar solo los pilares más destacados y que mayor resistencia opondrían hasta, al menos, la segunda mitad del siglo XIX. En la práctica, estas características centrales se traducían en un mapa de jurisdicciones superpuestas y configuraciones competenciales concurrentes que ocasionaban conflictos judiciales permanentes y sobre los cuales buscaba imponerse, no siempre con éxito, la preeminencia de la justicia monárquica en todo su orbe jurisdiccional comprendiendo, claro está, el amplio espacio americano.
Durante siglos y en base a un esquema que tenía en su vértice al rey -considerado Vicario de Dios en la tierra para hacer justicia en su nombre-, la administración de justicia se alzaba como eje central y vertebrador del gobierno de la Monarquía. Desde ya que el funcionamiento cotidiano del gobierno, y con él de la justicia, adquirían rasgos particulares en los diversos espacios que coexistían en la amplia jurisdicción de la Monarquía Hispánica, como señoríos -laicos o eclesiásticos-, ciudades, encomiendas, reducciones de indios y un largo etcétera; sin embargo, aun con sus diferencias, en cada uno de de ellos se replicaba un aspecto esencial: la justicia se encontraba ligada al gobierno y, por ende, al poder político. Leia Mais
Saber hacer y decir en justicia. Culturas jurídico-judiciales en la zona centro-sur de Chile (1824-1875) | Victor M. Brangier
No cabe duda que, dentro de las vertientes historiográficas que han estado en boga durante los últimos años, la historia de la justicia aparece como una de las más fructíferas. En efecto, su desarrollo ha permitido construir muchos puentes entre la investigación histórica, el mundo jurídico, y su impacto en la sociedad, problema que ha llevado a la gestación de iniciativas y a la publicación de una serie de trabajos sobre este tema, que dan cuenta del gran potencial que posee esta temática, que en Chile cuenta con un acervo documental importante en lugares como el Archivo Nacional Histórico, que gracias a su gran cantidad de fuentes de carácter judicial le entregan al historiador elementos de análisis y soportes que, a partir de ellos, son necesarios para formular preguntas1.
El presente libro, escrito por Víctor Brangier, corresponde a un nuevo resultado que el desarrollo de este enfoque le ha entregado a la historiografía nacional. A través de estas páginas, el autor expone una amplia investigación, que está sustentada en una serie de juicios criminales provenientes de los fondos de juzgados de letras y del ministerio de justicia, y que tuvieron como escenario al Maule y Colchagua durante el siglo XIX. Desde la imagen del mundo rural que conformó al Chile decimonónico durante las primeras décadas de construcción republicana, Brangier aterriza su estudio, el que a pesar de tener como materia prima los expedientes judiciales, a lo largo del texto le da prioridad a los relatos que desde los casos obtiene, con el propósito de construir, a partir de ellos, las prácticas y valores de quienes eran los protagonistas de los conflictos, como una forma de darnos luces sobre la cultura jurídico-judicial que ellos manejaban. Leia Mais
Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX) – DOMINGUES et al (FH)
DOMINGUES, Ângela; RESENDE, Maria Leônia Chaves de; CARDIM, Pedro (orgs). Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX). Lisboa: Atlantica Lisbon Historical Studies. Centro de História da Universidade de Lisboa, CHAM – Centro de Humanidades (NOVA FCSH-UAc) e Programa de Pós-Graduação em História/Universidade Federal de São Joao del-Rei (PPGH-UFSJ), 2019. 364 p. Resenha de: ARAÚJO, Lana Gomes de. Protagonismos indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.486-492, jan./jun., 2020.
Em 2019, sob a organização de Ângela Domingues, Maria Leônia Resende e Pedro Cardim, foi publicado o livro Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX) composto por vários artigos de pesquisadores que entendem a sociedade colonial não só como um espaço dinâmico, mas complexo, diverso e criativo, onde o tratamento dado aos indígenas gerava uma pluralidade de respostas e das suas justiças frente à cultura jurídica da sociedade colonial da América espanhola e portuguesa.
Abrindo as discussões, Ailton Krenak denuncia as violências reais e simbólicas sofridas pelo povo Krenak ao longo dos séculos. Foram perseguidos, tiveram suas famílias escorraçadas, massacradas, despejadas, expulsas de suas próprias terras e perambularam por diversas regiões do Brasil. Situação agravada durante o regime militar, quando juntamente com outras etnias foram jogados em um Reformatório, sob a desculpa governamental de que precisavam ser reeducados, enquanto tomavam-lhes as suas terras. Terras que as famílias indígenas nunca desistiram.
Em Os Povos Indígenas, a dominação colonial e as instâncias de Justiça na América portuguesa e espanhola, Pedro Cardim discute os esforços dos próprios indígenas ao longo da história em se afirmarem enquanto grupo étnico. Apontando que o movimento indígena, a produção acadêmica mais recente desenvolvida pelos próprios pesquisadores indígenas, a aproximação da história com outras disciplinas, métodos, conceitos, assim como as técnicas de manuseio de fontes documentais e as influências do conceito de subaltern studies1, têm sido importantes ferramentas para “superação dos silêncios nada inocentes e mostrar a voz e o rosto dos ameríndios”2. (FISCHER, 2009 apud CARDIM, 2019, p.31) Apesar dos avanços, Pedro Cardim destaca que é preciso estar atento ao “vocabulário da conquista” (CARDIM, 2019, p. 41), referindo-se aos termos comumente encontrados nos documentos coloniais como “índio”, “gentio”, “bárbaro” e outros. Uma vez que estes possuíam efeitos jurídicos diferentes dentro do cenário da América portuguesa e podiam significar manutenção ou perda de direitos, por exemplo.
Em Da ignorância e rusticidade: os indígenas e a inquisição na América portuguesa (séculos XVI-XIX), Maria Leônia Resende traz uma importante abordagem sobre a atuação do Tribunal da Inquisição e como a produção historiográfica sobre tratou o tema, apresentando uma luta ideológica entre as diversas facções religiosas da Europa na Idade Moderna: ora uma visão detratora por sua crueldade, ora pelo certo grau de misericórdia diante aos considerados ataques ao catolicismo.
Todavia a história institucional do dito Tribunal se deu no plural na Europa e nos domínios ultramar, ao ponto de podermos afirmar que houve Inquisições. E, os estudos das denúncias e processos têm mostrado as maneiras que a Inquisição lidou com as expressões das práticas religiosas, costumes e culturas indígenas tendendo, muitas vezes, em uma interpretação jurídica-canônica mais benevolente para as “populações desprotegidas”, fundamentada no uso do conceito “persona miserabilis” e da “ignorância (in)vencível”.
O conceito de persona miserabilis permeia o debate de outros pesquisadores, como o de Jaime Goveia, Maria Regina Celestino de Almeida, Hal Lagfur e de Pedro Cardim. Este último, inclusive, compreende que a classificação de miserabile garantia certa proteção aos indígenas, situando-os numa condição especial frente à Inquisição, aos tribunais ordinários, ou ainda, aos colonos, sustentadas por uma posição evangelizadora mais benevolente. Esse entendimento, de pessoas “miseráveis, ignorantes, pessoas rústicas”, fazia com que acreditasse que os indígenas eram incapazes de dar conta dos seus próprios erros, por não terem consciência plena do “pecado”.
As principais denúncias contra os indígenas fundamentavam-se em questões de feitiçaria, adivinhações, bigamia, blasfêmias, por comerem carne em dias proibidos e até por pequenos roubos, como foi o caso de Anselmo da Costa. Este, um jovem índio de 14 anos, confessou ter roubado pequenos adereços e pedaços de fita do berço do Menino Jesus para confeccionar uma bolsa de mandigas, a fim de se livrar dos perigos de mordidas de cobras e onças. O jovem passou 4 anos no cárcere, mas teve seu processo encerrado quando o Tribunal alegou sua capacidade de discernimento (RESENDE, 2019, p.113).
Em Sem medo de Deus ou das justiças (…), a professora Ângela Domingues analisou os “poderosos do sertão” através dos discursos do capitão-mor e governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado na Capitania do Grão-Pará e como eles estavam alinhados com a política pombalina. De acordo com ela, através da análise desse período administrativo é possível perceber as estratégias, alianças e negociações interétnicas, revelando situações em que os indígenas passaram a ser considerados infratores por não se enquadrarem nos projetos do Estado para a Amazônia e desafiarem a vontade dos poderosos da região.
Em Índios, territorialização e justiça improvisada nas florestas do sudeste do Brasil, Hal Langfur levanta uma interessante questão acerca da implementação da justiça no Brasil colonial imposta em prejuízo aos indígenas. Segundo ele, a legislação colonial mascarou uma realidade jurídica, retirou os índios das suas terras, legitimou o trabalho forçado etc., mas “os indígenas não aceitaram esta perseguição jurídica sem resistência” (HANGFUR, 2019, p.157).
Jaime Gouveia, em Os indígenas nos auditórios eclesiásticos do espaço luso-americano, debate sobre as relações envolvendo os povos indígenas e a justiça episcopal no período colonial, tema que gerou algumas generalizações equivocadas, sobretudo, por não ter existido no caso português um “direito canônico” como existiu na América hispânica.
No Brasil, os auditórios tinham alçada sobre todo o clero secular – excetuando alguns crimes (como os de lesa-majestade e disputas relativas aos bens da Coroa) – e leigos (membros da Capela Real e das ordens militares). E poderes quanto a matéria, ou seja, sobre a natureza dos delitos, abrangendo os pecados públicos, independente dos autores serem leigos ou eclesiásticos. Mas, não tinha competência para julgar as consideradas heresias indígenas.
Porém, com os índices populacionais nos territórios indígenas, as necessidades de evangelização esbarravam na escassez de estruturas necessárias a esse exercício, passando a exigir responsabilidades mais amplas. De todo modo, os processos judiciais contra os réus indígenas decorriam na mesma formalidade de praxe dos não-indígenas, com exceção do privilégio jurisdicional de miserabilidade, que era visto como concessão de uma graça do direito canônico aos indígenas.
No sétimo artigo, Maria Regina Celestino de Almeida apresenta uma nova versão de dois capítulos de seus livros publicados em 2005 e 20093, desenvolvendo uma relevante análise sobre a cultura política indígena e política indigenista no Rio de Janeiro colonial através das disputas jurídicas sobre as terras e a identidade étnica dos índios aldeados entre os séculos XVIII e XIX. Evidenciando o fato de que, para evitarem a perda total de suas terras, os indígenas passaram a assumir nitidamente a identidade de índios aldeados e súditos cristãos, assumindo uma posição de privilégios em relação aos negros e índios escravos (ALMEIDA, 2019, p. 221).
Isso porque, assumindo essa condição, podiam solicitar mercês, ter direito à terra, embora uma terra reduzida. Tinham direito ainda a não se tornarem escravos, embora obrigados ao trabalho compulsório. Por fim, o direito a se tornarem súditos cristãos, embora tivessem de se batizar e abdicarem de suas crenças e costumes. Sendo que as lideranças ainda tinham direito a títulos, cargos, salários e prestígio social, o que dentro de condições limitadas, restritas e opressivas, eram possibilidades de agir para valer o mínimo de direito assegurado por lei.
Como parte das investigações mais recentes, escrito em espanhol, o artigo de Pablo Ibáñez-Bonillo, Procesos de Guerra Justa en la Amazonía portuguesa (siglo XVII), aponta a influência indígena na construção das fronteiras coloniais, partindo da premissa de que a guerra justa é uma ferramenta para se explorar as relações de fronteira. Com isso, a construção de alteridades e a influência das dinâmicas indígenas na história colonial não podem ser vistas como um mecanismo de dominação, mas sim um processo mais amplo de negociação e resistência.
O texto do professor Juan Marchena e da Nayibe Montoya (2019) traz um valioso estudo sobre as justiças indígenas andinas e sua relação com a aprendizagem da cultura escrita. Os autores destacam que as sociedades originárias lutaram e lutam permanentemente pela independência, justiça, dignidade e necessidade de combater a pobreza, não se renderam, não se deixaram comprar, mesmo enquanto eram abatidos e destruídos. Sendo que, com a luta mantida durante os séculos até o presente, por suas terras, cultura e identidade, representam uma luta que deveria ser de todas e todos nós.
Por fim, o artigo de Camilla Macedo alude sobre a propriedade moderna e a alteridade indígena no Brasil entre meados de 1755-1862, partindo da análise da implementação do Diretório dos Índios e suas implicações para as questões de terra e propriedade privada, observando as rupturas e continuidades através das políticas indigenistas na transição da jurisdição eclesiástica para a secular, envolvendo os indígenas, administradores coloniais, religiosos etc.
Com esta obra, os autores dão continuidade ao relevante trabalho que o movimento indígena juntamente com os historiadores e antropólogos vêm desenvolvendo ao longo das últimas décadas. As reflexões contribuem para a percepção de que os homens e mulheres indígenas foram e continuam sendo protagonistas das suas próprias histórias através das suas ações, ressignificações e agenciamentos4 frente aos ditames da Coroa portuguesa.
As pesquisas apresentadas nos permitem refletir acerca dos regimes de memória5, trabalhados e discutidos por João Pacheco de Oliveira (2011), que construíram no Brasil imagens preconcebidas sobre os índios, definindo-os e limitando-os negativamente, condicionando o indígena exclusivamente ao passado colonial e estereótipos como de nomadismo, bravura ou de exuberante beleza extraído da literatura romântica.
Além de ressaltar as questões de estratégias e que interações proporcionadas pelos contatos interétnicos na realidade política colonial eram plurais, como fez a professora Maria Cristina Pompa (2001). E problematizar sobre a circularidade cultural entre os indígenas e os outros agentes coloniais, como fez Gláucia de Souza Freire (2013), ao apontar que os missionários religiosos se prevaleciam de práticas ritualísticas dos indígenas que eram consideradas “feitiçarias”, como o uso da jurema sagrada.
Os diálogos contrariam ainda a historiografia dita oficial que reservava aos indígenas um papel secundário e descarta antigas concepções sobre “índio puro”, “índio aculturado”, “resistência”, “aculturação”, embasados nas tentativas de reduzir a participação dos indígenas a um processo inevitável de extinção e desaparecimento. Sendo que os indígenas estão cada vez mais presentes nas questões políticas, se apropriando e ressignificando sua cultura e lutando pelo reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos após muita persistência do próprio movimento indígena.
Notas
1 O conceito de Subaltern Studies trabalhado por Florencia Mallon (1994) foi utilizado para tratar da análise de “baixo para cima” realizada por um grupo de estudiosos sobre a Índia e o colonialismo, mas que forneceu inspiração para historiadores americanicistas. MALLON, Florencia. The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American. History. The American Historical Review: 1491-1515. DOI:10.1086. 1994.
2 FISHER; O’HARA. Introduction Racial Identities and their Interpreters in Colonial Latin America. In: FISCHER, Andrew; O’HARA, Matthew Imperial Subjects. Race and Identity in Colonial Latin America. Durham: Duke University Press. 2009. p. 1-37.
3 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Índios, Missionários e Políticos: Discursos e Atuações Político-Culturais no Rio de Janeiro Oitocentista.” In: SOIHET, Racehel el al (org). Culturas Políticas. Ensaios de História Cultural, História Política e Ensino de História. Rio de Janeiro: Mauad, 2005, p. 235-255; ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Cultura Política Indígena e Política Indigenista: Reflexões sobre Etnicidade e Classificações Étnicas de Índios e Mestiços no Rio de Janeiro – Séculos XVIII e XIX. In.: AZEVEDO, Cecilia et al (org.) Cultura, Política, Memória e Historiografia. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 211-228
Referências
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Índios, Missionários e Políticos: Discursos e Atuações Político-Culturais no Rio de Janeiro Oitocentista. In: SOIHET, Racehel el al (org). Culturas Políticas. Ensaios de História Cultural, História Política e Ensino de História. Rio de Janeiro: Mauad, 2005, p. 235-255.
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Cultura Política Indígena e Política Indigenista: Reflexões sobre Etnicidade e Classificações Étnicas de Índios e Mestiços no Rio de Janeiro – Séculos XVIII e XIX. In.: AZEVEDO, Cecilia et al (org.) Cultura, Política, Memória e Historiografia. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 211-228
DOMINGUES, Ângela; RESENDE, Maria Leônia Chaves de; CARDIM, Pedro (orgs). Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX). Lisboa: Atlantica Lisbon Historical Studies. Centro de História da Universidade de Lisboa, CHAM – Centro de Humanidades (NOVA FCSH-UAc) e Programa de Pós-Graduação em História/Universidade Federal de São Joao del-Rei (PPGH-UFSJ), 2019. 364 p.
FISHER; O’HARA. Introduction Racial Identities and their Interpreters in Colonial Latin America. In: FISCHER, Andrew; O’HARA, Matthew Imperial Subjects. Race and Identity in Colonial Latin America. Durham: Duke University Press. 2009. p. 1-37.
MALLON, Florencia. The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American. History. The American Historical Review: 1491-1515. DOI:10.1086. 1994.
MONTEIRO, John. Negros da Terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
OLIVEIRA, João Pacheco de (org). A presença indígena no Nordeste: processos de territorialização, modos de reconhecimento e regimes de memória. Rio de Janeiro: Contra Capa. 2011.
POMPA, Maria Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e “Tapuia” no Brasil Colonial. 2001. 455 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2001.
SOUZA, Glaucia Freire. Das “feitiçarias” que os padres se valem: circularidade cultural entre indígenas Tarairiú e missionários na Paraíba setecentista. 2013. 159 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Campina Grande, PB, 2013.
Lana Gomes Assis Araújo – Bacharela em Direito pelo Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande – PB, licenciada em História pela Universidade Federal de Campina Grande – PB, mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande – PB, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Recife – PE. Bolsista CAPES. E-mail: lana.araujo@ufpe.br.
[IF]Justicia, seguridad y castigo. Concepciones y prácticas cotidianas en Patagonia (1884-1955) | Marisa Moroni, Fernando Casullo e Gabriel Carrizo
El libro editado por Marisa Moroni, Fernando Casullo y Gabriel Carrizo constituye un aporte valioso por un conjunto de razones que esperamos poder reflejar en estas páginas. En primer término, se trata de un estudio de imprescindible lectura para quienes se interesen por los tópicos analizados: justicia, instituciones de seguridad y castigo, enmarcados entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La obra indaga en profundidad los modos diversos y contradictorios en los que el Estado central y luego, los Estados provinciales –en un recorrido inverso que el de buena parte del territorio que formó la República Argentina–, se establecieron y funcionaron en el espacio patagónico. En este sentido, no puede menos que coincidirse con Osvaldo Barreneche, a cargo del prólogo de la obra, cuando sostiene que el libro implica una “oxigenación” en la historiografía local.
El texto abreva en diferentes líneas de análisis y enfoques que aportaron a la elaboración de contribuciones densas para pensar los diversos objetos de investigación. Una de estas líneas es la que proviene de los estudios históricos a partir de una perspectiva regional. Esta resulta relevante en el marco de los estudios patagónicos por la prolífica producción resultante, que contribuyó a poner en cuestión cierto consenso historiográfico sobre el carácter centralizante de los procesos históricos, donde los casos territorianos y provinciales no constituyeron casos “atrasados” respecto de otros “modernos”, sino que deben estudiarse desde su propia especificidad. Una segunda perspectiva –que no está disociada de la anterior–, es la que aborda la conformación del Estado considerando su “rostro humano” o “desde adentro”, lo que implicó analizar agencias, figuras y prácticas sociales antes que estructuras consolidadas, difíciles de encontrar en buena parte del territorio argentino. Leia Mais
Da justiça em nome d’El Rey: justiça, ouvidores e inconfidência no centro-sul da América Portuguesa | Claudia C. A. Atallah
O livro de Cláudia Cristina Azeredo Atallah – doutora em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF), professora do Departamento de História da mesma universidade e coordenadora do Grupo de Pesquisa Justiças e Impérios Ibéricos de Antigo Regime (JIIAR) que reúne pesquisadores brasileiros e estrangeiros afinados com o tema da administração da justiça – insere-se na interface entre a história do direito e a história da justiça. É preciso de imediato ter em mente a distinção entre os dois domínios: o direito como sendo uma manifestação das intenções gerais de ordem e a justiça tendo sua expressão em atos singulares e concretos. Em outras palavras, o direito é universal e a justiça é casuística [2].
Ao analisar o esforço das reformas impostas por Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, em conter as tradições políticas típicas do Antigo Regime na comarca do Rio das Velhas pela ótica de atuação dos ouvidores da coroa, a autora deparou-se com o movimento entre o direito, traduzido no conjunto normativo de ordens emanadas pelo centro, e a justiça, traduzida nas práticas cotidianas ocorridas além das decisões dos tribunais que caracterizavam a cultura jurídica nas Minas Gerais colonial em um contexto de transição entre o pluralismo jurídico e a modernidade jurídica.
O trabalho segue a trilha conceitual aberta pela abordagem de estudos do Antigo Regime nos Trópicos, retomando os modelos teóricos de “centro e periferia” proposto por Edward Shils (1992) e de “autoridades negociadas” proposto por Jack Grenne (1994), revisitados à luz de novos horizontes de pesquisa. Sendo assim, conceitos fundamentais como monarquia pluricontinental, economia do bem comum, economia moral de privilégios, redes clientelares e políticas são mobilizados nos oito capítulos que compõem o livro, pela ótica da ação da justiça. Atallah, portanto, alarga o tema ao mostrar a importância da conciliação e da política de negociação em um universo político marcado por conflitos de jurisdição, espaços mal definidos de poder e sobreposição de poderes em revelia às tentativas de centralização políticaadministrativa e controle sobre os oficiais régios que caracterizaram a nova prática do governo pombalino.
Cumpre destacar que os conflitos jurisdicionais entre as diversas instâncias do poder colonial têm-se mostrado como um dos temas da maior importância para o debate historiográfico recente. Longe de expressarem deformidades ou desordens conforme parte da historiografia afirmou durante o século XX, tais conflitos devem ser entendidos como mecanismos para distribuir poderes em territórios distantes do centro e não como uma anomalia do sistema. Expressavam o pluralismo jurídico do Antigo Regime e não interferiam na centralidade régia. De fato, esta discussão é fulcral para a análise da própria natureza do Império português, como bem mostra o posicionamento da autora ao demonstrar que a manutenção dos conflitos por parte da coroa não tinha como estratégia o caráter punitivo, mas sim o de institucionalizar a negociação.
A autora desenvolve o argumento central de que a Inconfidência do Sabará, episódio ocorrido em 1775 e que levou o ouvidor José de Góes Ribeiro Lara de Moraes à prisão, foi um produto das mudanças intentadas por Pombal e não resultado da desordem e da rebeldia peculiares à região. Essa tradição historiográfica, que tende a considerar as Minas Gerais como um universo distinto das demais áreas do Império português, nasceu da preocupação em definir e justificar o caráter nacional brasileiro mobilizando temas como a instabilidade das formas sociais, os paradoxos das estruturas administrativas e o processo incompleto de formação do Estado nacional racionalizado [3]. Em perspectiva distinta, Atallah entende que o “tom de rebeldia e de contradição torna-se mais compreensível se analisado como reflexo das práticas políticas cotidianas que alimentavam as relações clientelares e a busca pela cidadania nesse universo” (p.18).
Para os fins propostos, o livro está dividido em três partes. Na primeira parte, intitulada “As Minas setecentistas e o Antigo Regime: uma discussão acerca do caráter do poder”, Atallah discute os elementos necessários para entender a organização desta sociedade, cujo modelo político ancorava-se na filosofia jesuítica da nova escolástica que tinha como princípio a autonomia político-jurídica dos corpos sociais, sendo a justiça o fim lógico do poder. Concomitante ao desenvolvimento da nova escolástica, observou-se também um desenvolvimento cada vez maior das teorias corporativas do pensamento medieval e jurisdicionalista, cuja longa sobrevivência relaciona-se à presença sistemática dos padres jesuítas em todo o processo de colonização no ultramar.
Essas ideias forneceram o substrato moral e pedagógico responsáveis pela formação de uma elite jurídica destinada ao serviço régio e tiveram na Universidade de Coimbra e no Desembargo do Paço os principais redutos de legitimação e disseminação. No entanto, em meados do século XVIII, as reformas pombalinas viriam abalar profundamente as bases doutrinais que sustentavam o império e consequentemente as instituições que representavam o poder. A promulgação da Lei de 18 de agosto de 1769, a Lei da Boa Razão, foi a primeira iniciativa mais incisiva em relação às reformas no campo jurídico. À pluralidade das práticas jurídicas do direito consuetudinário vinha se opor a retidão do direito real.
As transformações do direito empreendidas pela Lei da Boa Razão encontraram ressonância nas reformas dos estudos jurídicos ocorridos na Universidade de Coimbra a partir de 1770. O objetivo era formar os futuros administradores da justiça portuguesa de acordo com a nova cultura jurídica e política e implantar um ensino prático, simples e metódico, “era o esforço em substanciar a nova razão de Estado almejada pelo ministério pombalino e que tinha como parte essencial a constituição do direito” (p.185). Para ter a dimensão do embate entre as reformas modernizantes e as tradições políticas no que tange às estruturas jurídicas, Atallah desenvolve na segunda parte “A dinâmica imperial e a comarca do Rio das Velhas no governo de D. João V”, um estudo sobre a atuação dos ouvidores na dinâmica imperial antes das reformas, durante o período de 1720-1725.
Este foi um período conturbado, aos esforços da coroa em implementar medidas de caráter fiscal e conter os distúrbios causados pela cobrança de impostos, somavam-se as exigências de importantes potentados locais. Foi também um período marcado por uma série de conflitos de jurisdição travados entre D. Lourenço de Almeida, governador das Minas, e José de Souza Valdes, ouvidor da Comarca do Rio das Velhas. À medida que os analisa, Atallah demonstra que os conflitos por jurisdição faziam parte de uma estratégia deliberada da coroa que, ao contrário de aniquilar seu poder, tornava-o possível em paragens distantes. Nesse Cantareira, sentido, a coroa não somente os mantinha como às vezes até mesmo os estimulava, sem se posicionar a favor de um ou outro oficial, favorecendo assim a institucionalização da negociação ao invés da punição.
Alinhada com a visão do estudo de José Subtil sobre o Desembargo do Paço, Atallah ressalta a importância dessa instituição como símbolo da essência político-administrativa do Antigo Regime, além de institucionalizar seu aparato jurídico. A partir do ministério pombalino, o Desembargo do Paço e seus homens assistiram a uma diminuição gradativa de suas competências simbólicas, pois “a centralização política impunha também a precedência do direito régio sobre o direito consuetudinário e, desse modo, a autoridade dos juristas ficava reduzida à aplicação das leis” (p.167). E é sobre isto, tomando como exemplo o caso emblemático da prisão do ouvidor da comarca do Rio das Velhas por crime de inconfidência, de que trata a terceira e última parte, “Tensões e conflitos: a época de Pombal e a inconfidência de Sabará”.
Com a ascensão do Marquês de Pombal após o terremoto que abalou Lisboa em 1755, a necessidade de concentrar as ações políticas em um só órgão concedeu preponderância ao Ministério das Secretarias de Estado. Nesse sentido, o Desembargo do Paço perderia a posição de núcleo da administração régia e assistiria a uma invasão de suas competências. No ultramar isto se refletiria em um controle maior dos oficiais régios, e os conflitos, até então comuns e tolerados, tornaram-se alvo do regalismo pombalino. O esforço em construir um governo centralizado e homogêneo resultou em uma verdadeira caça às bruxas, alijando do poder aqueles que não estivessem afinados com a política de fidelidade do Marquês. O Tribunal de Inconfidência assumiu um papel relevante na perseguição e punição aos vassalos infiéis. Foi este o caso do ouvidor José de Góes que assumiu o cargo de ouvidor em uma época de inúmeros debates sobre a arrecadação do quinto real.
Uma representação escrita ao monarca em 1775 denunciaria as relações de interdependência que envolviam alguns homens bons da comarca e o ouvidor, acusado de blasfemar contra Pombal. Iniciou-se então o desenrolar de uma rede trançada pelos poderes locais, cuja análise se constitui o cerne da discussão do livro. Atallah demonstra que em Sabará àquela época existiam redes de clientela que colocaram em lados opostos dois grupos constituídos pelos principais da terra. A acusação de crime de inconfidência que recaiu sobre José de Góes estava inserida na trama de uma desse redes que tinha raízes bem mais profundas. Dessa vez pesou o jugo controlador da monarquia administrada pelo Marquês de Pombal, representado pelo Tribunal de Inconfidência. O ouvidor virou inconfidente. A infidelidade ao novo ministério foi punida para que servisse de exemplo.
O instigante trabalho de Atallah abre inúmeras possibilidades e, por conseguinte, permite vários debates: a dificuldade em colocar o interesse do Estado acima dos interesses privados, a ideia de Viradeira, da qual a autora refuta, pois “acreditamos que os processos de transformação no percurso da história são lentos e de complexa assimilação” (p.252), a propagação do reformismo, tema que é comumente relacionado ao da identidade portuguesa e ao da decadência, dentre outros. Diante do ambiente em que se deflagraram os acontecimentos em Sabará, circunscrito em um processo mais amplo de transformação das relações entre a monarquia e seus súditos, capaz de revelar tensões e conflitos decorrentes do seu funcionamento, a autora conclui que a Inconfidência do Sabará foi um produto dos embates entre a tradição, traduzida na relutância dos oficiais do Desembargo em acatar as novas diretrizes, e a tentativa de modernização das estruturas jurídicas. Resenha recebida em 04/12/2018 e aprovada para publicação em 21/10/2019
Notas
2. Álvaro de Araújo Antunes. As paralelas e o infinito: uma sondagem historiográfica acerca da história da justiça na América Portuguesa. Revista de História, São Paulo, nº169, p. 21-52, julho/dezembro 2013; Álvaro de Araújo Antunes. Prefácio. In: Maria Fernanda Bicalho, Virgínia Maria Almoêdo de Assis, Isabele de Matos Pereira de Mello (orgs.). Justiça no Brasil colonial: agentes e práticas. São Paulo: Alameda, 2017.
3. Esta tradição historiográfica tem no paradigma da conquista soberana seu modelo interpretativo. Nele, a colonização, apresentada como um embate entre raças conquistadoras e conquistadas, pressupõe a legítima vitória da civilização europeia, a organização do mundo colonial conforme seus recursos materiais e espirituais, e a incorporação de elementos culturais dos grupos subjugados. Esta tradição historiográfica é devedora dos relatos das Minas setecentistas por seus contemporâneos, responsáveis por consolidar “o tema da afetação da gente dos sertões mineiros” e influenciar as interpretações posteriores. Atallah tem o cuidado em não conduzir esta discussão para uma dualidade ordem-desordem, seu caminho é o de reforçar a negociação. Para maiores informações sobre o paradigma da conquista soberana: Marco Antonio Silveira. Guerra de usurpação, guerra de guerrilhas. Conquista e soberania nas Minas setecentistas. Varia Historia, Belo Horizonte, nº25, jul/01, p.123-143.
Milena Pinillos Prisco Teixeira – Mestranda em História Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Bolsista CAPES. E-mail: milena_pinillos@yahoo.com.br
ATALLAH, Cláudia Cristina Azeredo. Da justiça em nome d’El Rey: justiça, ouvidores e inconfidência no centro-sul da América Portuguesa. Rio de Janeiro: Eduerj/Faperj, 2016. Resenha de: TEIXEIRA, Milena Pinillos Prisco. Entre o Direito e a Justiça: ecos da reforma pombalina na administração da justiça na comarca do Rio das Velhas (1720- 1777). Cantareira. Niterói, n.31, p. 92- 96, jul./dez., 2019. Acessar publicação original [DR]
21 lecciones para el siglo xxi – HARARI (I-DCSGH)
HARARI, Y.N. 21 lecciones para el siglo xxi. Barcelona: Debate, 2018. Resenha de: OCHOA PELÁEZ, Vanessa. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.94, p.83-84, jan. 2019.
21 lecciones para el siglo xxi nos revela los principales agentes que están hoy presentes en el tablero de juego de nuestra sociedad global, con objeto de poder plantear así los problemas a los que el género humano nos enfrentaremos a lo largo de este milenio, y que nosotros mismos estamos creando.
Yuval Noah Harari (Israel, 1976) consiguió un gran número de lectores y lectoras con sus dos anteriores libros: Sapiens, un relato sobre la historia de la humanidad, y Homo Deus, que nos transporta a nuestro futuro como especie. En esta ocasión, sin embargo, Harari nos invita a conocer el presente con el fin de vislumbrar hacia dónde nos dirigimos en el porvenir más cercano.
La obra se divide en veintiún capítulos, y en ellos se exponen las diversas problemáticas planetarias a las que habrá de hacer frente la comunidad global: trabajo, religión, justicia o terrorismo, entre otras. Buena parte de estos capítulos son ensayos filosóficos acerca de algunas de las cuestiones más preocupantes hacia las que nos aproximamos, como el uso de la inteligencia artificial, el auge de los nacionalismos o el papel de la religión hoy en día. Al respecto, el propio autor refiere que esta obra es fruto de diferentes ensayos y artículos que ha ido publicando en otros medios, «en respuesta a preguntas que le dirigieron los lectores, periodistas o colegas».
Resalta su forma de reflexionar: a partir de los datos históricos analiza cómo se comportó con anterioridad el ser humano en distintas épocas, a fin de inferir así unas predicciones concluyentes, un método historiográfico en el que se percibe el eco de los estudios de historia que cursó en la Universidad de Oxford.
La sinceridad tiñe todo el texto. Así, el autor no duda en sacar a colación aspectos de su vida personal y reflexionar acerca de los dogmas recibidos durante su propia educación. No obstante, Harari es capaz de distanciarse de este fondo subjetivo, recapacitar y someterlo a crítica, objetivando tales problemas.
La portada del libro –un ojo que todo lo ve– nos sugiere la visión tiránica del Gran Hermano de la novela 1984 de George Orwell, un modelo de totalitarismo al que quizá poco a poco nos dirigimos.
Al igual que en esta famosa ficción, está en juego perder nuestro libre albedrío, sobre todo a causa de factores como la «tecnología disruptiva». Sin embargo, ese gran ojo también nos invita a ser la mirada de los espectadores que contemplamos el nuevo mundo que estamos implantando.
Para ello, el autor propone una única forma de conseguirlo: profundizar en nosotros mismos de forma personal.
Precisamente por ello, los docentes de ciencias sociales debemos prestar un especial interés a las lecciones que Harari nos imparte. Nos corresponde investigar los fenómenos que nos rodean, para poder comprender el mundo. Sobre nuestra profesión recae la responsabilidad de presentar a los estudiantes el medio en el que habitarán: cada uno de ellos recogerá el testigo, y cada uno de ellos habrá de decidir si será o no un constructor de ese nuevo escenario.
Tan relevante es para el autor este cometido que incluso dedica uno de los capítulos a la educación, afirmando que «el cambio es la única constante» y especificando que «las escuelas deberían dedicarse a enseñar las cuatro C: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad», es decir las habilidades de uso general necesarias para la vida cotidiana. Así, este libro nos ayudará a presentar a los estudiantes los problemas a los que se enfrentarán durante sus vidas adultas, los cuales quizá podamos introducir con ayuda de muchas de las metodologías activas ya implantadas en las aulas.
Harari culmina la obra dedicando el último de sus capítulos a la meditación, una práctica muy extendida en la actualidad junto con otras terapias de tercera generación como el mindfulness, muy presentes entre los miembros de Silicon Valley. Al respecto, el autor afirma que medita durante dos horas al día y realiza un retiro de dos meses al año en completo silencio. Y es que, como ya anuncian varios medios de comunicación, entre ellos la BBC, Harari se está convirtiendo «en el gurú involuntario de Silicon Valley».
A través de la meditación, este pensador israelí nos invita a conocernos a nosotros mismos, a considerar el momento presente para poder observar con nitidez cada uno de los acontecimientos que estamos presenciando. No en vano, Harari sostiene que su intención es aportar luz al mundo, pues «la claridad es poder». Está en nuestras manos decidir cómo utilizarla.
Vanessa Ochoa Peláez – E-mail: vaann8a@gmail.com
[IF]Política e Justiça na I República. Um regime entre a legalidade e a excepção. vol. II (1915-1918) – CHORÃO (LH)
CHORÃO, Luís Bigotte. Política e Justiça na I República. Um regime entre a legalidade e a excepção. vol. II (1915-1918). Lisboa: Letra Livre, 2018, 669 pp. Resenha de MATOS, Sérgio Campos. Ler História, v.75, p. 291-295, 2019.
1 Há hoje duas tendências muito frequentes nos estudos históricos, que aliás não são recentes. A primeira é a sua subordinação a agendas políticas parciais e a pré-conceitos que reduzem a multiplicidade de possibilidades que qualquer conjuntura histórica encerra em si mesma – esquecendo que qualquer tempo passado transporta consigo uma memória plural e expectativas de futuro que não se podem reduzir a um caminho único ; por exemplo, toma-se a I República em todo o seu percurso, indiferenciadamente e sem distinções mais finas, como um regime “radical e violento” ou até como um “regime terrorista” – o que impede a sua compreensão histórica. A outra tendência, que podemos designar de narrativista, prende-se com a ilusão de que uma narrativa linear de acontecimentos numa escala meramente individual e em ordem cronológica é suficiente para compreender os problemas. Esta tendência exprime-se na atracção pela biografia entendida do modo mais simples : como se a sucessãolinear de acontecimentos que se vão sucedendo numa vida pudesse explicá-la. O que não quer dizer que não encontremos excelentes biografias publicadas nos últimos anos por autores portugueses.
2 Ora, Luís Bigotte Chorão foge a estas duas tendências. Consciente da complexidade da época que estuda, escolheu um caminho bem mais difícil, prosseguindo um projecto iniciado há anos – o de analisar detalhadamen-
te as relações entre política e direito no tempo da I República. Um projecto coerente que se distingue por interesses históricos amplos. O autor já publicou um volume sob o mesmo título em 2011,1 e incide agora nos anos que coincidem com a I Guerra Mundial, anos críticos em que a recém-instaurada República foi posta à prova perante outras potências europeias que constituíam ameaças à sua integridade territorial e à própria independência nacional : o Império alemão e a Espanha. O problema do relativo isolamento internacional da I República e as ameaças externas e internas que a atingiam explica em larga medida a intervenção portuguesa na Grande Guerra. A difícil conjuntura em que se dá a intervenção na guerra permite-nos compreender, em larga medida, a dialéctica entre legalidade e excepção num regime que não chegou a durar 16 anos.
3 O historiador baseia-se num largo leque de fontes de carácter muito diverso : imprensa periódica, diários da Câmara dos Deputados e do Senado, memórias, depoimentos, panfletos, variada documentação de arquivo, etc. E dá-nos referências dessas fontes em frequentes e extensas notas. Mas as análises detalhadas que encontramos nas 670 páginas deste livro estão também escoradas em estudos actualizados, muitos deles internacionais (designadamente sobre a Grande Guerra). E também estes passam pelo bisturi crítico de Luís Bigotte Chorão, que por vezes discorda dos seus pares – geralmente com bons e provados argumentos –, sobretudo quando outros historiadores nos dão interpretações parciais de factos, não escoradas em provas. É que o autor é comandado por uma intenção central de veracidade histórica, dando voz aos múltiplos agentes e orientações políticas que sempre se confrontam numa comunidade nacional. O autor é avesso a pré-conceitos que estreitem a compreensão do passado e reduzam o leque de problemas e expectativas que coexistem em determinada conjuntura histórica. Esta é, pois, uma obra em que domina um regime rigoroso de verdade (ou não fosse o seu autor jurista de profissão) e um sentido analítico que não é acessível a qualquer leitor, pois convoca actores históricos, alguns de segundo plano, hoje esquecidos do leitor médio, acontecimentos, problemas e conceitos políticos e jurídicos, tudo isto com um detalhe que por vezes torna a sua leitura difícil para quem desconheça a história da I República.
4 Há uma preocupação de situar as dificuldades políticas de múltiplos ângulos, tendo em conta problemas estruturais, económicos e sociais, dados da história económica comparada – por exemplo, “o PIB per capita de Portugal era de cerca de um terço do dos países mais desenvolvidos, o mais pobre da Europa ocidental e dos mais pobres de toda a Europa” (p. 210) – com largas referências à crise das subsistências e à política de abastecimentos durante a guerra. Sem esquecer as políticas sociais debatidas na época ; o modo como foi considerada a participação de Portugal na Grande Guerra entre os juristas da Faculdade de Direito de Lisboa e a acção de vários ministros da justiça ; a atenção a problemas sociais – caso da vadiagem, ou do agudizar da conflituosidade e violência social que, na conjuntura de princípios de 1916, o autor caracteriza como “uma insurreição popular contra a carestia de vida, tendo por finalidade o assalto aos estabelecimentos comerciais de géneros alimentícios, calçado, roupa e casas de penhores” (p. 414). Mas a lente do historiador dá também atenção a faits-divers e a acontecimentos singulares sintomáticos que se repercutiram politicamente, caso do acidente de Afonso Costa num carro eléctrico, logo explorado criticamente pelos jovens futuristas ligados à Orfeu, entre eles Fernando Pessoa, pela voz de Álvaro de Campos. Ou o caso do soldado Ferreira de Almeida, único exemplo de um militar a ser executado, em Setembro de 1917, sentenciado que fora a pena de morte, acusado de ter passado para o lado do inimigo – em contraste com as centenas de militares de outras nacionalidades que foram sentenciados à pena máxima.
5 Destacarei cinco tópicos em que o autor abre horizontes de pesquisa pouco explorados pela historiografia portuguesa, situando-os numa perspectiva transnacional, e contribuindo para alargar o conhecimento da situação de Portugal no tempo da guerra, tanto no cenário interno como no âmbito internacional. O primeiro tem que ver com amnistias e indultos. O autor alude à “generosa tradição amnistiadora” da República, com múltiplos diplomas que remontam aos primórdios do regime (o primeiro datado de 4 de Novembro de 1910, três em 1911, um em 1912, um em 1913, quatro em 1914) além dos indultos e das comutações de penas (p. 40) – o que envolve o problema das relações do novo regime republicano com os seus detractores, e mostra bem a moderação que caracterizou o exercício da justiça na I República. Se o regime de separação de serviço de funcionários adoptado em 1915 suscitou reservas, desde logo pela sua natureza de lei de excepção (lei nº 319 de Junho de 1915, que afastava aqueles que não dessem “uma completa garantia da sua adesão à República e à Constituição”), a verdade é que as sucessivas amnistias e indultos adoptados durante a I República se inscrevem numa tradição humanista do democratismo republicano em que deve igualmente situar-se a abolição da pena de morte (só retomada em 1916 para alguns crimes militares). Por exemplo, segundo a lei de 17 Abril de 1916, só os funcionários que tivessem sido membros do anterior governo de Pimenta de Castro continuaram fora de serviço, mas a receber os seus vencimentos e sem prejuízo de aposentação ou reforma.
6 O segundo tópico é o que respeita às diferentes e matizadas posições políticas face à Grande Guerra : do intervencionismo ao pacifismo e direito das gentes ; posições partidárias, incluindo as de políticos socialistas e anarquistas, radicalmente contrários à intervenção. E sem esquecer tomadas de posição muito significativas no plano internacional. Por exemplo, a de Charles Maurras, que qualificava a guerra de “à la sauvage” e de extermínio : “L’attentat dont les passagers innocents de la Lusitania sont victimes achève de prouver que nous sommes en présence d’une guerre à l’antique et à la sauvage : dépossession, extermination” (p. 346, n. 1141). A este respeito, acrescentemos, Sigmund Freud, num notável ensaio sobre a Grande Guerra,2 referir-se-ia a um regresso a comportamentos instintivos e primitivos.
7 O terceiro tópico que destaco é o problema da neutralidade no grande conflito. Rui Barbosa, um jurista brasileiro citado, notou que a neutralidade, ao tempo, assumiu “um papel diferente daquele que desempenhara outrora”, até pela razão da interdependência dos estados entre si (p. 147). Luís Bigotte Chorão mostra como a violação da neutralidade da Bélgica teve profundo impacto nas diplomacias e opiniões publicas europeias. E lembra que a neutralidade desta pequena nação constituíra “uma condição do reconhecimento da sua independência de acordo com os tratados de 15 de Novembro de 1831 e de 19 de Abril de 1839, assinados em Londres” (p. 122). Aliás, na prática, Portugal já violara a neutralidade antes de entrar na guerra na Europa (p. ex. abastecendo e permitindo a passagem de tropas inglesas pelos seus territórios). E a declaração de 7 de Agosto de 1914, que Bernardino Machado, então chefe do governo, lera no parlamento foi uma “proclamação de neutralidade” que traduziu a dupla posição de Portugal de não-beligerante e de aliado da Grã-Bretanha.
8 O quarto tópico refere-se ao pangermanismo e anti-pangermanismo. As páginas que o autor dedica a este respeito trazem para primeiro plano um factor fundamental para a compreensão da Grande Guerra, o da propaganda e contra-propaganda, recorrendo a esclarecedora bibliografia francesa, brasileira, alemã e portuguesa. Considera a germanofilia de um intelectual e historiador como Alfredo Pimenta. Ou a posição crítica em relação ao pan-germanismo de autores tão diversos como o sociólogo E. Durkheim ou o jornalista A. Charadame, entre outros. Note-se que a propaganda pangermanista obedecia à intenção de criar um grande império alemão na Mitteleuropa. Lembremos que, muito mais tarde, Norbert Elias contribuiu para a compreensão deste projecto expansionista invocando a tardia unificação política da Alemanha – com o consequente tardio investimento na partilha colonial –, o sentimento de declínio que dominou as suas elites, e a curta experiência liberal por que passou, tudo factores que explicariam a seu ver esse expansionismo.3
9 Por fim, destaque-se o problema do perfil político da I República, um regime entre legalidade e excepção – débil legalidade, segundo o autor. Lembre-se que o conceito de estado de excepção envolve a suspensão do ordenamento jurídico como medida provisória e extraordinária, em domínios específicos. Ora, a I República viveu uma situação excepcional durante a Grande Guerra, como afirmou um jornalista de A Capital em 1915 : “Quem dirá que esta situação não é excepcional ? E sendo excepcional, evidentemente todos os problemas da vida portuguesa tomam aspectos excepcionais” (p. 215). Exemplos : a censura prévia adoptada por proposta do ministro da justiça Mesquita Carvalho (lei nº 495, de 28 de Março de 1916) ; as medidas excepcionais adoptadas contra a presença em território nacional de súbditos alemães (pp. 507 e ss) ; ou ainda o já referido afastamento do serviço, com carácter definitivo, dos funcionários que não garantissem “adesão à República e à Constituição” (lei nº 319 de Junho de 1915, criticada por Raul Proença). Mas qual a fronteira entre excepção e legalidade ? Em que sentidos deve tomar-se este conceito de excepção ? Pode aplicar-se indiferenciadamente a toda a vigência da I República ? Evidentemente que não. Se for no sentido de regime ditatorial moderno, nele não há separação de poderes. Poderá decerto esclarecer-se melhor esta tensão entre legalidade e excepção num próximo volume. Se houve momentos em que a I República resvalou para a ditadura num sentido oitocentista do termo – caso da governação de Pimenta de Castro –, noutros, diríamos, aproximou-se de um modelo autoritário contemporâneo, com Sidónio Pais – regime aqui bem visto “em ruptura com a ordem jurídico-constitucional de 1911 e sua substituição” (p. 639).
10 Concluindo, o autor distancia-se criticamente de interpretações redutoras e parciais ainda hoje aceites. Por exemplo acerca do 14 de Maio, que derrubou a ditadura de Pimenta de Castro e foi designada como “segunda revolução republicana” : “a história interna do 14 de Maio [comprova] não ter sido a decisão revolucionária exclusiva de democráticos, e mais, a solução governativa saída da revolução foi diferente da tentada pela Junta Revolucionária” (p. 364). Resultado de prolongada investigação, com dados e interpretações novas, este livro carreia fundamentos para uma compreensão mais distanciada da I República de um ponto de vista que faltava : o da relação entre o estado e o direito. Novidade tanto mais significativa quanto nos últimos anos se têm multiplicado os estudos sobre a participação de Portugal na Grande Guerra sem que este ângulo tenha sido privilegiado sistematicamente como Luís Bigotte Chorão o faz. Seria bom que, no final do seu projecto – haverá mais um ou dois volumes até chegarmos a 1926 ? –, o autor nos desse uma síntese mais breve e acessível a um público médio, não especializado, acompanhada de uma orientação de fontes e bibliografia seleccionadas. Está de parabéns não só o historiador, por mais este resultado do seu rigoroso ethos profissional, mas também o editor Letra Livre pelo cuidado que investiu na execução gráfica do livro.
Notas
1 Política e Justiça na I República. Um regime entre a legalidade e a excepção. Vol. I (1910-1915). (…)
2 Ver “Considerações de actualidade sobre a guerra e a morte” [1915], in O mal-estar na civilização (…)
3 Ver Os alemães. A luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX. R. Janeiro: Zahar (…)
Sérgio Campos Matos – Universidade de Lisboa, Centro de História, Portugal. E-mail: sergiocamposmatos@gmail.com
Mulheres/ Violência e Justiça no século XIX | Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues
Mulheres, Violência e Justiça no século XIX (2016) tem como objetivo introduzir os leitores a uma temática histórica inovadora e complexa. Resultado da tese de doutorado da historiadora Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues, o livro trabalha com questões de violências e justiça no cotidiano imperial, numa província pouco explorada pela economia na época e também pela historiografia, o Mato Grosso (1830-1889). A historiadora aborda em sua tese as convivências sociais e os múltiplos fatores que levavam essas violências (físicas e simbólicas) aos gêneros femininos e masculinos na região do sul do Mato Grosso durante o segundo período imperial. Para isso, Rodrigues utilizou de fontes diversas, incluindo inventários, documentos jurídicos e de viajantes para tentar compreender a complexidade cultural e social que a região possuía na época.
Como metodologia de análise histórica, a historiadora recorre à interdisciplinaridade acerca do conhecimento empírico e noções teórico/metodológicas de outras ciências (medicina legal, legislação) para compreensão, por exemplo, de violências sexuais. Ademais, enfatiza as relações de gêneros enquanto relações de poder exercidas pelas dominações masculinas, resistências e das próprias instituições legais como produtoras de formas específicas de poder (2016, p. 26). Leia Mais
On Inequality – FRANKFURT (M)
FRANKFURT, Harry G. On Inequality. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2015. 102p. Resenha de: FAGGION, Andrea Luisa Bucchile. Manuscrito, Campinas, v.39 n.3 July/Sept. 2016.
Frankfurt begins by making a familiar point against the imposition of strict economic equality: “Inequality of incomes might be decisively eliminated […] just by arranging that all incomes be equally below the poverty line” (p. 3). We should not infer from this, however, that Frankfurt reduces egalitarianism to economic egalitarianism, a trend of thought that argues for a brand of equality according to which everybody enjoys the same wealth.
Moreover, Frankfurt’s refusal to grant moral relevance to equality as such does not entail that he does not regard poverty as a moral problem. This is why he replaces egalitarianism with a doctrine of sufficiency – “the doctrine that what is morally important with regard to money is that everyone should have enough” (p. 7) – which also proscribes “economic gluttony” (p. 3). According to Frankfurt, egalitarianism misconstrues the real challenge of reducing “poverty and excessive affluence” (p. 4). Indeed, Frankfurt suggests that most people agree with him on this; what we really find repugnant when we express disapproval of inequality is another feature of the situation: the fact that some people have too little (p. 40).
However we determine the concept of sufficiency, it is not a comparative concept. In other words, according to Frankfurt, the amount of money available to others is not directly relevant to determining what is needed for a certain kind of life (p. 10). Thus, instead of focusing on alleged conflicts between the pursuit of equality and freedom, Frankfurt emphasizes what he considers a form of moral disorientation caused by the pursuit of equality. The pursuit of equality as a good in itself distracts us from what is truly significant (p. 13).
Frankfurt is willing to admit that the concept of having enough is hardly precise: “[I]t is far from self-evident precisely what the doctrine of sufficiency means, and what applying it entails” (p. 15). When he returns to the question “What does it mean for a person to have enough?” he notes that the assertion that a person has enough entails only that a requirement has been met, not that a limit has been reached. In other words, it’s not bad to have more than enough (p. 47).
Certainly, the main problem is how to specify the content of such a requirement, especially if one keeps in mind that this content entails claims of justice to be addressed by public policies. What counts in this specification? Is it the attitudes people actually have about the issue, or the attitudes it would be reasonable for them to have (p. 99, n. 15)? If the latter, what criterion of reasonableness would be useful here?
Frankfurt rejects the possibility that sufficiency is related to having enough to avoid misery (p. 49), which would be the only easy way to determine a pattern of sufficiency. The above questions are thus as difficult as they are important. They are also questions, however, that go beyond the limits of Frankfurt’s essay. In this work, Frankfurt merely warns against hastily adopting an inadequate alternative in the face of the difficulties associated with the doctrine of sufficiency (p. 15).
Frankfurt emphasizes that his interest is analytical rather than political (p. 65). In the end, however, it will seem obvious to some that Frankfurt’s doctrine of sufficiency risks ultimately being much less economically feasible than egalitarianism if developed as a theory of justice – even if Frankfurt is right about the fact that this does not count as a reason to adopt egalitarianism. Indeed, this does not even count against the claim that what lurks behind our disapproval of inequality is really the ideal of sufficiency.
With this noted, what really matters here is whether Frankfurt is right about its being unreasonable for someone to be unsatisfied about her life only because her standard of living is bellow that of others (p. 73). In other words, is equality an important component of sufficiency itself? Would it be unreasonable to be unsatisfied with your life if everyone else were at least ten times wealthier than you? Some will understandably doubt Frankfurt’s take on this issue.
Still on the topic of economic equality, Frankfurt considers arguments based on marginal utility, according to which economic equality would maximize the aggregate satisfaction of members of society. The idea is that the marginal utility of money necessarily diminishes for the wealthy, and thus that the redistribution of income and wealth provides money to those for whom it has more marginal utility. An argument along these lines is presented by Abba Lerner, who is quoted by Frankfurt as follows:
The principle of diminishing marginal utility of income can be derived from the assumption that consumers spend their income in the way that maximizes the satisfaction they can derive from the good obtained. With a given income, all the things bought give a greater satisfaction for the money spent on them than any of the other things that could have been bought in their place but were not bought for this very reason. From this it follows that if income were greater the additional things that would be bought with the increment of income would be things that are rejected when income is smaller because they give less satisfaction; and if income were greater still, even less satisfactory things could be bought. The greater the income, the less satisfactory are the additional things that can be bought with equal increases of income. That is all that is meant by the principle of the diminishing marginal utility of income. (qtd. on p. 28)
Frankfurt’s first reply to this kind of argument is grounded in his concept of a “threshold effect”. The satisfaction obtained via the purchase of the last item in a series may be greater than the satisfaction obtained by purchasing the other items because the last item represents the crossing of a threshold. The experience of collectors illustrates this point. Frankfurt’s second reply involves the refusal to accept Lerner’s assumption that if a consumer refrains from obtaining a certain good until his income increases, this necessarily means that he rejects it when his income is lower (p. 32). According to Frankfurt, even where a consumer does not save money to purchase a certain good, this doesn’t necessarily mean that he rejects that good and prefers the good he actually purchases. The consumer may regard saving for a particular purchase as pointless because he believes that he will not be able to save enough money within an acceptable period of time (p. 97, n. 10).
Thus Frankfurt claims that it is not the case that economic egalitarianism maximizes aggregate utility in society. Indeed, Frankfurt believes that an egalitarian distribution may minimize aggregate utility in certain circumstances: “[W]hen resources are scarce, so that it is impossible for everyone to have enough, an egalitarian distribution may lead to disaster” (p. 36). Frankfurt’s example is a situation in which there is enough medicine and food to enable some members of a population to survive but where an equal distribution of these resources would result in nobody’s receiving enough, and thus in everybody’s death (p. 34). This line of thought is reminiscent of theories of justice according to which justice is meaningless in contexts of extreme scarcity and abundance (see, for instance, Hume, 2006, p. 93-94). Frankfurt is thus open to the objection that it is not only egalitarianism but indeed any conception of justice that would be inapplicable in such circumstances.
With the above noted, the ideal of equal respect and concern is much more relevant to contemporary theories of justice than strict economic equality. The most important part of Frankfurt’s book is therefore his analytical attempt to illustrate what he takes to be a conceptual confusion at the root of this ideal:
Enjoying the rights that it is appropriate for a person to enjoy, and being treated with appropriate consideration and concern, have nothing essentially to do with the consideration and concern that other people are shown or with the respect or rights that other people happen to enjoy. Every person should be accorded the rights, the respect, the consideration, and the concern to which he is entitled by virtue of what he is and what he has done. The extent of his entitlement to them does not depend on whether or not other people are entitled to them as well. (p. 75)
Frankfurt’s point – perhaps echoing Aristotle – is that philosophers like Dworkin (see, for instance, 1985 and 2011) have mistaken the moral requirement to be impartial or avoid arbitrariness for the moral requirement to treat people with equal respect and concern: “To avoid arbitrariness, we must treat likes alike and unlikes differently. This is no more an egalitarian principle than it is an inegalitarian one” (p. 101, n. 3).
Importantly, Frankfurt is not denying that there are rights that belong to every human being by virtue of their humanity. Where this is the case, however, your having the right in question is not grounded in a principle of equal treatment. Your right is explained by your having a characteristic that others also have. In other words, impartiality requires us to treat equals as equals, but it doesn’t require of us that we view everybody as equal.
According to standard contemporary conceptions of justice, equality is not to be embraced no matter what the circumstances. On the standard egalitarian view, equality is more like an original position, for which justifications are unnecessary and from which divergences must be justified. Nonetheless, if Frankfurt is right, equality is not this species of moral position by default, or a constitutive moral principle. It is necessary to argue for the requirement of equal treatment (by showing that there are no relevant differences between two persons, for instance) (p. 77-78).
To sustain his thesis, Frankfurt challenges a scenario made famous by Berlin. It’s worth reproducing the passage quoted by Frankfurt in full:
The assumption is that equality needs no reason, only inequality does so… If I have a cake and there are ten persons among whom I wish to divide it, then if I give exactly one tenth to each, this will not, at any rate automatically, call for justification; whereas if I depart from this principle of equal division I am expected to produce a special reason. (qtd. on p. 80)
Frankfurt claims that it is not the moral priority of equality that explains why we should divide Berlin’s cake into equal shares. In Frankfurt’s view, the key feature of the situation is the lack of relevant information. If a distributor has no information at all about those among whom she is to distribute something, this amounts to a situation in which each person is identical to the others. This is why the cake should be divided into equal shares:
It is the moral importance of respect, and hence of impartiality, rather than of any supposedly prior or preemptive moral importance of equality, that constrains us to treat people the same when we know nothing that provides us with a special reason for treating them differently. (p. 81)
It is true that Frankfurt’s point here looks like a dispute about words, since both Frankfurt and the egalitarian agree that Berlin’s cake should ultimately be divided into equal shares. Yet the implications of Frankfurt’s point are highly relevant. If equality on its own cannot justify, say, a rights claim, then the discussion is really about entitlement. The concept of entitlement is generally neglected in contemporary philosophical debates about social justice. It’s as if the resources discussed in these debates appeared from nowhere, such that the only relevant issue is whether there is justification for departing from a policy of equal distribution – such as differences between conceptions of the good, as in (Dworkin, 1985), or the fact that the “cake” diminishes when divided into equal shares, as in (Rawls, 1999). Against this background, Frankfurt’s essay is a breath of fresh air for contemporary philosophy.
References
DWORKIN, RONALD. A Matter of Principle. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 1985. [ Links ]
______. Justice for Hedgehogs. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 2011. [ Links ]
HUME, DAVID. Moral Philosophy. Ed. Geoffrey Sayre-McCord. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 2006. [ Links ]
RAWLS, JOHN. A Theory of Justice: Revised edition. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999. [ Links ]
Andrea Luisa Bucchile Faggion – Universidade Estadual de Londrina – Filosofia Rodovia Celso Garcia Cid | Pr 445 Km 380 | Campus Universitário Cx. Postal 10.011 | CEP 86.057-970 | Londrina – PR, Londrina 86057-970 Brazil. E-mail: andreafaggion@gmail.com
A Justiça D’Além-mar: lógicas jurídicas feudais em Pernambuco (Século XVIII) | Maria Filomena Coelho
As ideias advindas da Escola dos Annales por muito tempo constrangeram o historiador que se aventurava pelas pesquisas da História política ou administrativa. Atualmente o ponto de vista político na historiografia tornou-se não só de suma importância para a compreensão da realidade das sociedades, mas também mostrou não ter sido o verdadeiro alvo das críticas da escola francesa fundada por Marc Bloch e Lucien Febvre1. Seguindo essa linha de raciocínio, Maria Filomena Coelho em seu trabalho A Justiça D’Além-Mar: Lógicas jurídicas feudais em Pernambuco (Século XVIII), parte do ponto de vista da administração da Justiça e aplicação do Direito na América Portuguesa em busca de vestígios de “lógicas jurídicas feudais” na Capitania de Pernambuco, como o título sugere. Para tal, doutora em História Medieval, do direito e das instituições, Filomena Coelho se fundamentou nos escritos de António Manuel Hespanha, bem como na concepção de um Antigo Regime nos Trópicos1, trazendo-nos um estudo do caso intrigante narrado por Veríssimo Rodrigues Rangel, cônego da Sé de Olinda, entre 1750-54 1.
A execução do testamento do padre Alexandre Ferreira fez de Olinda e Recife palco de um conflito protagonizado por juízes eclesiásticos e do rei, confronto jurisdicional este que durou cinco anos (1749-1753). Antônio Teixeira da Mata, Juiz de fora e Provedor dos defuntos e ausentes, capelas e resíduos, representando a Justiça secular (sua jurisdição e a da Coroa) entrou em choque com o Bispo, Frei Luiz de Santa Tereza e o Vigário geral, Manoel Pires de Carvalho. Maria Filomena Coelho nos descreve o embate ao longo de seu trabalho ressaltando, principalmente, o papel histórico e apologético do manuscrito de Veríssimo Rangel1. Leia Mais
Histórias de abandono: infância e justiça no Brasil (década de 1930) | Silvia Maria Fávero Arend
As duas últimas décadas do século XX, no Brasil, marcam um aumento significativo de estudos no campo da infância e da juventude, em diversas áreas das Ciências Humanas. Histórias de abandono é uma contribuição imprescindível ao campo no âmbito da História, narrando com sensibilidade as transformações, na vida das famílias pobres, decorrentes da implantação do Juizado de Menores em Florianópolis, na década de 1930. Utilizando uma vastidão de fontes documentais, com centralidade nos Autos, relatórios e ofícios produzidos por este Juizado, Silvia Maria Fávero Arend analisa sob a perspectiva de diferentes personagens o cenário social da Florianópolis do período, e nele, como viviam meninos e meninas sob os auspícios do abandono.
O livro foi produzido sob a forma de tese de doutoramento em História, estando dividido em cinco capítulos. O primeiro, chamado “Na cidade os primeiros parentes são os vizinhos”, decorre sobre a territorialidade espacial, étnica e de classe, dos meninos e meninas que ingressaram no programa social assistencial executado pelo Poder Judiciário. A historiadora demonstra que as transformações urbanas de caráter civilizatório, ocorridas na cidade nas primeiras décadas do século XX, bem como o movimento migratório de famílias rumo à Capital catarinense, fosse pela busca de emprego, fosse seguindo os passos da parentela, em caráter temporário, acabou originando todo um grupo de pessoas que não estava inserido nas redes tradicionais de auxílio da cidade. A partir deste dado são narradas as experiências migratórias, as condições de moradia e as formas de inserção social dos descendentes de açorianos e madeirenses, dos afrodescendentes e das famílias recém-chegadas à cidade, grupos cujas crianças são protagonistas dos Autos emitidos pelo Juizado, entre os anos de 1936 e 1940. Leia Mais
Justiça: o que é fazer a coisa certa – SANDEL (C)
SANDEL, Michael. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.Resenha de: BOMBASSARO, Alessandra. Conjectura, Caxias do Sul, v. 17, n. 2, p. 183-186, maio/ago, 2012.
Considerando um dos mais importantes filósofos de sua geração, Michael Sandel leciona há mais de vinte anos na Universidade de Harvard, no famoso curso “Justice”, por onde passaram cerca de 15 mil alunos.
Quando ele profere as suas aulas no amplo anfiteatro universitário, quase mil alunos o acompanham na exposição de temas sumamente instigantes.
Sandel é ouvido atentamente ao abordar grandes problemas filosóficos relacionados a prosaicos assuntos da vida cotidiana, incluindo, por exemplo, a união entre pessoas do mesmo sexo, suicídio assistido, aborto, imigração, impostos, o lugar da religião na política, os limites morais dos mercados.
Para ele uma abordagem da filosofia – considerada por ele a mais segura – ajuda a entender melhor a política, a moralidade, contribuindo também para a revisão de aferradas convicções.
As questões propostas por Sandel, que integram um extenso elenco de problemas contemporâneos, são cada vez mais discutidas por sua complexidade. Por exemplo: Quais são as nossas obrigações uns com os outros e em uma sociedade democrática? O governo deveria taxar os ricos para ajudar os pobres? O mercado livre é justo? Às vezes é errado dizer a verdade? Matar é, em alguns casos, moralmente justificável? É possível, ou desejável legislar sobre a moral? Os direitos individuais e o bem comum estão necessariamente em conflito? Sandel é um crítico do liberalismo. Sustenta que essa ideologia política se caracteriza pela importância que dá aos direitos civis e políticos dos indivíduos. É a defesa intransigente da “liberdade pessoal”, em torno da qual se agregam a liberdade de consciência, de expressão, de associação, de ocupação e de exercício sexual. Os liberais não admitem que, em tais âmbitos, o Estado pretenda intrometer-se, a não ser para proteger os que poderiam sofrer dano.
Enquadrado no grupo dos “comunitaristas”, Sandel denuncia, nas críticas ao liberalismo, uma concepção anti-histórica, associal e incorpórea do sujeito, implícita na ideia de um indivíduo dotado de direitos naturais que preexistem à sociedade. O autor nega a tese da prioridade do direito sobre o bem, que se encontra, por exemplo, no centro do novo paradigma liberal estabelecido por John Rawls.
O que Sandel pretende destacar reside no fato de que o liberalismo se apoia, erroneamente, no pressuposto de que as pessoas podem escolher e revisar os seus fins na vida “sem nenhuma dependência de laços comunitários”. Adotando uma posição contrária, o autor afirma que certas obrigações comunitárias são “constitutivas” da identidade dos indivíduos, além de toda escolha. Tais obrigações compartilhadas formariam a base para uma “política do bem comum”, contrastando com a “política dos direitos” do liberalismo.
Tais pressupostos são apresentados por Sandel, principalmente, em sua obra Liberalism and the limits of Justice, literalmente [Liberalismo e os limites da Justiça] (2000). É com ela que o autor participou, contribuindo para o início do “debate liberalismo-comunitarismo” que dominou a filosofia política anglo-americana nos anos 80 (séc. XX). Sandel também defende que certas liberdades civis, tais como a de consciência e da sexualidade, são melhor entendidas como protetoras de fins “constitutivos” do que como protetoras de escolhas “sem limites”.
Sandel pretende ressuscitar uma concepção de política como domínio onde cada um reconhece o outro, ambos como participantes de uma mesma comunidade. Contra a inspiração kantiana do liberalismo, baseada nos direitos, os comunitaristas apelam para Aristóteles e Hegel. E, contra o liberalismo, Sandel apela para o republicanismo cívico. É o que deve favorecer o regresso a uma política do bem comum baseada em valores morais partilhados. Entretanto, não fica clara a questão: Mas como fica a defesa da liberdade individual? Feitas essa aproximações às posições e propostas do autor, é importante agora guiar a atenção, objetivamente, para a obra de Sandel: Justice, título original em inglês, aqui traduzida como [Justiça: o que é fazer a coisa certa]. Ela foi publicada em 2009, nos Estados Unidos, tendo sido traduzida por editoras de vários países. No Brasil, todos os seus direitos foram adquiridos pela Editora Civilização Brasileira, cujos livros são distribuídos pela Record.
Em dez capítulos, Sandel discorre sobre a filosofia do livre mercado, enfatizando a ganância com o abuso dos preços. Examina o socorro financeiro aos bancos, no decorrer da presente crise internacional. Faz uma reflexão sobre o utilitarismo de Jeremy Bentham e a posição de John Stuart Mill.
Enfoca a questão da tortura, da desigualdade econômica e do Estado mínimo pretendido pelos liberais. Insinua-se, em seguida, no âmbito da bioética, abordando temas como o suicídio assistido, a barriga de aluguel, a utilização de células-tronco, o direito ao aborto. Quando enfoca questões atinentes aos direitos humanos, analisa o pensamento kantiano em torno da maximização da felicidade, moralidade, liberdade e justiça. Logo, Sandel examina a teoria da justiça de Rawls. Evolui para o problema da segregação racial, do propósito da justiça, do significado de política e vida boa, de justiça e vida boa, finalizando com o desejo de uma política do bem comum.
O livro Justiça – como o próprio Sandel afirma –, começou como um curso. Por quase três décadas, o autor teve o privilégio de ensinar filosofia política a universitários de Harvard e, durante vários desses anos, ministrou aulas sobre uma matéria chamada “Justiça”. O curso expõe aos alunos algumas das maiores obras filosóficas escritas sobre justiça e também aborda controvérsias legais e políticas contemporâneas que levantam questões filosóficas.
Alessandra Bombassaro – Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade de Caxias do Sul (UCS). E-mail: ale.bomba@ibest.com.br
O crime do restaurante chinês: Carnaval, futebol e justiça na São Paulo dos anos 30 – FAUSTO (PL)
FAUSTO, Boris. O crime do restaurante chinês: Carnaval, futebol e justiça na São Paulo dos anos 30. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. Resenha de: OLIVEIRA, Pedro Carvalho. Quarta-feira de cinzas e sangue: “O Crime do Restaurante Chinês” de Boris Fausto e o Brasil dos anos 1930. Ponta de Lança, São Cristóvão, v. 5, n.9, p. 71-73, out., 2011.
São Paulo, capital, 2 de março de 1938. Enquanto a cidade começava a se recuperar dos muitos dias de festas e bailes de carnaval e o país se preparava para torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo da França, um crime ocorrido na Rua Wencelsau Braz chamou a atenção da polícia, da opinião pública e da população. As vítimas foram dois imigrantes chineses, que possuíam um restaurante no mesmo local onde moravam – cenário que viria a ser o de suas mortes. Seus dois empregados, um brasileiro e um lituano, também foram mortos. Leia Mais
O Crime do Restaurante Chinês – Carnaval, Futebol e Justiça na São Paulo dos anos 30 | Bóris Fausto
Considerações iniciais
Há no panorama teórico da historiografia uma intensa discussão conceitual, que tem sido descrita como uma disputa entre paradigmas rivais (CARDOSO, 1997: 3). De um lado, aqueles que embasam seus esforços numa ótica iluminista, o que significa acreditar na capacidade da razão humana em descobrir e ordenar as forças em atuação no universo. Entre estes, ainda de acordo com Cardoso, podem ser enquadrados os marxistas, positivistas e mesmo aqueles ligados à “Nova História”. Trabalhos realizados a partir dessas diretrizes tendem a buscar uma visão holística do processo histórico, agregando os fenômenos sob explicações totalizantes.
Na outra ponta estão aqueles que abandonam tentativas generalizantes de explicação, enfatizando a singularidade dos objetos e a impossibilidade de reuni-los sob uma mesma rubrica sem que se percam suas qualidades fundamentais. A esses se atribui a filiação a certo “paradigma pós-moderno”. O movimento tendencial parece apontar para a ascensão da ótica pós-moderna em detrimento do paradigma iluminista. Leia Mais
A ideia de justiça em Schopenhauer – CARDOSO (V-RIF)
CARDOSO, Renato César. A ideia de justiça em Schopenhauer. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008. Resenha de: ALMEIDA, Juliana Fischer de. Voluntas – Revista Internacional de Filosofia, Santa Maria, v.2, n.1, p.129-133, 2011.
No rol das preocupações centrais de Arthur Schopenhauer não se encontra a filosofia do direito; o pensador sempre tratou do tema de maneira periférica em seus escritos. Contudo, é possível se pensar num sistema jusfilosófico no interior desse pensamento. O livro A ideia de justiça em Schopenhauer, de autoria do professor do Programa de Graduação e Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, Renato César Cardoso, tem como principal intuito buscar especificar justamente tal sistema em Schopenhauer, a partir da seguinte problemática: “como compreende Schopenhauer os conceitos de justiça e de direito, quais as relações que se estabelecem entre ambos, bem como entre esses e o restante de sua doutrina? Como se estruturaria uma filosofia do direito de matiz schopenhaueriana” (p.23)?
O fio condutor do pensamento do autor em vista da problemática acima perpassa, primeiramente, os conceitos de representação e de vontade. Em seguida, define a questão da justiça/injustiça, abordando os questionamentos morais; e, por fim, aborda temas como o direito de propriedade, a finalidade do Estado e o direito de punir do mesmo, contemplando novamente os aspectos morais da discussão.
Na primeira parte do livro, intitulada O mundo como representação, Cardoso analisa um dos conceitos centrais do pensador alemão, a representação:
Todo o mundo conforme o conhecemos, no tempo, no espaço, submetido inapelavelmente ao princípio da causalidade, tudo isso é representação para o sujeito que conhece, e nada mais. Tudo o que conhecemos empiricamente, tudo nos é dado apreender pela sensibilidade, nos é dado de forma condicionada, sob o princípio da razão e submetido àquelas suas formas às quais já nos referimos – tempo, espaço e causalidade (p. 51).
A representação tem como pressupostos as formas a priori (tempo, espaço e causalidade), um sujeito que conhece, mas é incognoscível, e o objeto que é conhecido. O mundo é revelado como uma representação individual, pessoal, é conhecido por nós, não existe por si só. Assim, é a própria representação que pressupõe o sujeito e o objeto. Como fechamento da abordagem sobre a representação, o autor aduz à questão do princípio de razão suficiente proposta por Schopenhauer, que consiste, resumidamente, em quatro raízes de ligações entre as representações: “a causalidade física, as relações matemáticas, o enlace lógico e a lei da motivação, relativa aos seres vivos” (p.67). Somente a partir desses critérios é possível supor um indivíduo e o distinguir dos demais seres.
Na segunda parte da obra, O mundo como vontade, o autor se detém ao exame da ampla noção da vontade em Schopenhauer. Para se ter acesso à autêntica realidade do mundo enquanto coisa-em–si, não se pode seguir pelo fio dos componentes da representação, mas considerar um outro “como” (als), independente das limitações representacionais, a saber, a vontade, o princípio impulsionador do mundo. Esta não se submete às leis da razão, não é passível de ser detalhadamente conceituada, está em todas as partes, é atemporal, una, imutável, não está condicionada por uma causalidade, é livre e tem por finalidade exclusiva o querer incessante. Portanto, a vontade se determina pela via negativa. Ao final da análise sobre a vontade, Cardoso aventa algumas indagações que se ligam à temática proposta no livro: como a vontade, definida por este conceito, afeta o homem, seu modo de agir e de ver o mundo? Como compreender a moral, o direito e a justiça partindo-se de semelhante formulação?
Para responder a essas questões, o autor parte da abordagem da liberdade da vontade em Schopenhauer. Há três tipos de liberdade: física, intelectual e moral. No âmbito da primeira, pode-se entender a liberdade como a ausência de impedimento de ordem material, obedecendo somente à vontade. Neste tipo de liberdade o que está em jogo é a ação, em que o homem é livre quando capaz de agir pela sua própria vontade. Segundo o autor, o problema da questão não reside, contudo, na ação, mas na liberdade da vontade, fazendo o seguinte questionamento: “podemos obviamente fazer o que queremos, mas será possível também, por sua vez, querer o que queremos” (p.85)?
O autor frisa que na liberdade da vontade não se aplica o princípio de razão, logo no mundo da representação inexiste liberdade, pois há causalidade que determina a conduta. Assim, somente no campo da vontade é que a liberdade se faz presente. De acordo com Cardoso, Schopenhauer rompe com a tradição racionalista, a qual fundamentava a liberdade como uma condição racional, visto que o intelecto – representação – é subjugado pela vontade – essência. Para finalizar, “o indivíduo faz o que quer, sempre, porque é já objetivação de sua vontade, é a própria expressão do seu querer, dessa vontade” (p.89). Assim, respondendo à pergunta sobre se é possível querer o que queremos, a resposta é afirmativa, pois, uma vez que a liberdade reside na própria vontade e o ser humano é a manifestação fenomenal desta, a “vontade não determina o ato do homem, ela é o seu ato” (p.89).
Antes de abordar especificamente a temática proposta no livro, sobre a justiça, Cardoso investiga alguns aspectos da questão moral para, a partir disso, poder determinar o que é justiça/injustiça, o direito de propriedade, a fundamentação do Estado e seu direito de punir em Schopenhauer. No que tange à moral, Schopenhauer critica Kant e desenvolve sua própria teoria, refutando o aspecto racional como fundamentação para a ação moral. Segundo o autor,
O que caracteriza o ato moral, virtuoso, ensina Schopenhauer, é exatamente o contrário do que propunha Kant, é o amor, a compaixão, o compadecer-se […]. Não é na aridez e na frieza da racionalidade que se encontra o fundamento da moralidade, mas sim, ensina Schopenhauer, no tomar para si, como seu, o sofrimento do outro (p. 101).
Assim, Cardoso frisa a proposição ética schopenhaueriana do “não faças mal a ninguém, mas antes ajuda a todos o quanto puderes” (p.107), sendo que existem dois graus para identificá-la: no primeiro deles se dá na medida em que a motivação moral é sobreposta aos interesses egoísticos (sentido negativo); no segundo, a moral leva o homem a agir em prol de outrem (sentido positivo). Desta feita, o autor destaca que no primeiro grau encontra-se a justiça e no segundo a caridade, tendo ambas por base a compaixão, na qual se assenta a natureza humana.
Abordada a questão da moral e como ela é o alicerce da justiça, passa-se a tema central da obra de Cardoso, qual seja, a justiça. Neste capítulo, a autor inicia destacando o que seria a ideia de justiça eterna em Schopenhauer, sendo entendida como aquela em que a realidade não necessita garantir os direitos individuais, como comumente a tradição a entende, pois tal espécie de justiça – metafísica- não se aplica ao mundo fenomenal regido pelo princípio de individuação. Um segundo desdobramento que o autor enfatiza a partir da justiça schopenhaueriana, é justamente a questão da injustiça.
A doutrina do direito de Schopenhauer, como ressalta o autor, se diferencia da kantiana, pois vincula o direito à ética, sendo esse o ponto de partida para se entender a noção de injustiça. Quando a vontade individual se sobrepõe ilegitimamente sobre a vontade de outrem, Schopenhauer a conceitua como um ato de injustiça. Cardoso apresenta as duas formas de manifestação da injustiça schopenhaueriana: a violência e a astúcia. A primeira ocorre sempre quando se afirma uma vontade sobre a outra, já a segunda forma se dá quando a injustiça é caracterizada pela anulação da vontade do outro e o reconhecimento somente da “minha” vontade, por meio da dissimulação, enganando o outro sobre sua vontade. Assim, a ideia de injustiça está intimamente ligada com a moral. Em seguida, o autor passa à análise da justiça e do direito.
A justiça, segundo elucida Cardoso, “é toda a ação que não transpassa a vontade na qual se manifesta, não negando a vontade em outro” (p.125). O autor afirma que em Schopenhauer existe a figura da legítima defesa, pois quando, mediante força impede-se que a vontade do agressor se imponha, não se comete um ato de injustiça, sendo, portanto, um ato justo. Desta feita, a justiça é a negação da injustiça. Por sua vez, o direito em Schopenhauer é o direito natural e não o positivo, anterior à constituição do Estado e atrelado à moral, sendo indissociáveis. No capítulo intitulado Do direito de propriedade e dos contratos, o autor encerra a questão da justiça/injustiça e se detém ao exame da propriedade e dos contratos. No que tange ao direito de propriedade em Schopenhauer, Cardoso afirma que este é um direito natural e deve ser protegido, mas ressalva que não é qualquer tipo de propriedade que deva ser protegida, mas somente aquela que é fruto do trabalho. A mera ocupação ou o direito ao primeiro ocupante não possuem fundamentação moral, portanto não são protegidas pelo direito.
Sobre os contratos, Cardoso sustenta que, em Schopenhauer, o descumprimento dos contratos é uma injustiça, pois engana a vontade, levando minha ação a ser diferente de minha vontade. A fundamentação dos contratos se aplica também ao contrato social, pactuado entre os governantes e governados. Dessa forma, chega-se ao último tópico da temática proposta pelo autor, a saber: a finalidade do Estado e o direito de punir do mesmo. No capítulo O Estado, Cardoso afirma:
O Estado, visto sob o prisma de Schopenhauer, é a decorrência natural da soma dos egoísmos racionalizados. Sua função primordial, o motivo pelo qual foi criado, é a prevenção da injustiça. Sua razão de ser principal é esta: o Estado não existe para punir a injustiça cometida, mas para prevenir que elas ocorram (p.137).
A teoria schopenhaueriana sobre a finalidade do Estado é inspirada em Hobbes, ambos descrentes da raça humana e partidários de governos “autoritários”. Assim, de acordo com autor, a função do Estado é negativa, pois evita os ataques externos – estrangeiros; internos – entre os cidadãos contra outros concidadãos; e protege contra os governantes – instauração do direito público e da separação dos poderes. No que se relaciona ao direito de punir do Estado, Cardoso ressalva que a responsabilidade não acontece por aquilo que se faz, mas por aquilo que se é, devido à questão da vontade livre, na medida em que, conforme já fora dito, a liberdade reside na vontade e não na razão. O direito em Schopenhauer, segundo Cardoso, atua sobre os motivos que agem sobre a vontade e não sobre a racionalidade. Por fim, destaca-se que a finalidade da punição é a prevenção e não a vingança, haja vista que a função do Estado é prevenir as injustiças.
O autor, na conclusão de seu livro, sublinha a importância do pensamento de Schopenhauer para se pensar um direito mais compassivo e menos racionalizado. Desse modo, o professor Renato César Cardoso propõe ao leitor uma importante reflexão do pensamento jurídico sob um autêntico viés filosófico. Rompendo, assim, com a tradição, instiga-nos a uma leitura mais pormenorizada de um tema pouco explorado do pensamento schopenhaueriano.
Juliana Fischer de Almeida – Mestranda em Filosofia pela PUC-PR.
[DR]
Problemáticas sociais para sociedades plurais: políticas indigenistas, sociais e de desenvolvimento em perspectiva comparada – SILVA et al (BMPEG-CH)
SILVA, Crishian Teófilo da Silva; LIMA, Antônio Carlos de Souza; BAINES, Stephen Grant (Orgs.). Problemáticas sociais para sociedades plurais: políticas indigenistas, sociais e de desenvolvimento em perspectiva comparada. São Paulo: Annablume; Distrito Federal: FAP-DF, 2009, 244p. Resenha de: SILVA, Nathália Thaís Cosmo da; DOULA, Sheila María. Desenvolvimento, políticas sociais e acesso à Justiça para os povos indígenas americanos. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.5, n.3, nov./dez. 2010.
O livro “Problemáticas sociais para sociedades plurais” aborda grandes temas relacionados às sociedades indígenas americanas, tais como identidade étnica, cidadania, direitos coletivos e diferenciados e problemas sociais. Dividida em três partes, a obra foi organizada por Cristhian Teófilo da Silva e Stephen Grant Baines, ambos professores da Universidade de Brasília, e por Antonio Carlos de Souza Lima, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A primeira parte do livro discute indigenismo e desenvolvimento, com ênfase na questão da convivência interétnica nas Américas; a segunda analisa as políticas sociais para povos indígenas em perspectiva comparada; e a terceira parte aborda os direitos diferenciados de acesso à Justiça.
Os fios condutores da primeira parte do livro são a construção da identidade e da autonomia indígena em face da identidade, da soberania e dos modelos de desenvolvimento nacionais, e as limitações da nova semântica multiculturalista. Os artigos são: “Desenvolvimento, etnodesenvolvimento e integração latino-americana”, de Ricardo Verdum; “Conflitos e reivindicações territoriais nas fronteiras: povos indígenas na fronteira Brasil-Guiana”, de Sthephen Grant Baines; “Políticas indigenistas e cidadania no México e EUA: John Collier, Moisés Sáenz e os índios das Américas”, de Thaddeus Gregory Blanchette; “Indigenismo, antropologia y pueblos índios en México”, de Mariano Baez Landa.
Sob a ótica da relação entre identidade indígena e soberania nacional, o texto de Verdum discute o conceito de ‘etnodesenvolvimento’ como alternativa que leva em consideração a autonomia dos grupos étnicos dos Estados Nacionais, destacando o papel protagonista do Banco Mundial (BIRD) na disseminação deste ideário. O autor assinala a existência de um campo de interesses e disputas presentes nas representações e nos discursos acerca do lugar dos povos indígenas no desenvolvimento da América Latina, enfatizando que as manifestações de diversidade cultural são limitadas por concepções sociais e econômicas de ‘pobreza’ e ‘marginalidade’. Segundo ele, a concepção do Banco Mundial sobre o ‘empoderamento’ é impregnada pela ideologia progressista com o intuito de capacitar os indígenas para participarem de todo o “ciclo de desenvolvimento”.
Seguindo o fio argumentativo sobre as fronteiras e a soberania nacional, o texto de Baines analisa o conflito social em torno da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, mostrando que a regularização desta área pelo governo brasileiro garante a Soberania Nacional e também o manejo sustentável pelos povos indígenas, ao passo que a exploração da terra pelos grileiros rizicultores tinha como objetivo a privatização das terras da União e, como consequência, danos ambientais irreversíveis pelo uso intensivo de agrotóxicos. Baines aponta, no contexto de fronteira entre Brasil e Guiana, o conflito de interesses entre os povos indígenas e o Exército, salientado o desrespeito histórico que marcou a construção de rodovias, de usinas hidrelétricas e a abertura de minas nos territórios indígenas Makuxi e Wapichana. Assim, a fronteira, como sugere o autor, deixa de ser uma questão militar – tendo em vista que ambos os povos expressam patriotismo em relação às suas nações – e passa a ser uma questão econômica.
Blanchette, por sua vez, contextualiza os períodos da construção da identidade indígena na história norte-americana e mexicana. No âmbito do indigenismo norte-americano, assinala a passagem do período de assimilação forçada no final do século XIX, quando os índios tinham a condição de cidadãos de segunda classe, para as primeiras décadas do século XX, quando eles foram representados como um símbolo nacional, assumindo o papel de protetores da fronteira. Esta transformação possibilitou o surgimento do pluralismo e do relativismo cultural dentro do campo político, abrindo caminhos para que, mais tarde, em meados do século XX, o grande personagem do indigenismo americano, John Collier, reformulasse a política assimilativa, priorizando a integração dos grupos numa estrutura pluralista. Collier, com o apoio do presidente Franklin Roosevelt e dos indigenistas mexicanos Moisés Sáenz Garza e Manuel Gamio, foi responsável por mudanças legislativas relevantes em relação às políticas indigenistas nas Américas.
Já na história mexicana, os índios eram considerados um ‘problema’ da nação, de modo que a lógica do progresso induzia o seu desaparecimento. O indigenismo mexicano somou esforços a fim de incorporar os índios como cidadãos, mas essa reorientação acabou se limitando à aparência, uma vez que os índios continuaram a ser vistos como imperfeitamente civilizados.
No que se refere à representação do indígena na trajetória mexicana, Landa expõe que, com uma história marcada por levantes e rebeliões, a figura do índio era a de um bravo combatente pela independência frente à Espanha. No entanto, após esse período, ele passou a significar um entrave à integração e ao desenvolvimento da nação. De acordo com o autor, a identidade nacional construída no México nega as diferenças, tanto pela via da exclusão, que separa e isola as diferentes etnias, quanto pela via da inclusão, que apaga as identidades. Landa sustenta que o indigenismo moderno se impôs igualando pequenos produtores, índios, latinos e mestiços para serem atendidos pelos programas de combate à pobreza e de compensação social, o que culminou na renúncia da condição étnica para obtenção de recursos governamentais.
A segunda parte do livro trata das políticas sociais envolvendo os povos indígenas em temas como a educação superior, as relações de gênero, saúde, contaminação com o vírus HIV e previdência social. Os artigos são: “Cooperação Internacional e Educação Superior para indígenas no Brasil: reflexões a partir de um caso específico”, de Antonio Carlos de Souza Lima; “Políticas sociais, diversidade cultural e igualdade de gênero”, de Lia Zanotta Machado; “Políticas de saúde indígena no Brasil em perspectiva”, de Carla Costa Teixeira; “Un acercamiento a la problemática del HIV/SIDA al interior de los pueblos índios”, de Patrícia Ponce Jimenez; “‘No soy mandado, soy jubilado’: previsión social y pueblos indígenas en el Amazonas brasileño”, de Gabriel O. Alvarez.
No que se refere à educação superior, é a partir da reflexão sobre o projeto “Trilhas do Conhecimento” que Lima discute a utilização dos recursos advindos da cooperação internacional e das políticas públicas. Argumenta que, embora a inovação promovida no cenário das políticas para os povos indígenas tenha se ancorado em subsídios da cooperação técnica internacional, com destaque para a Fundação Ford e para a Fundação Rockfeller, não se pode esquecer que os recursos de natureza privada servem a ações demonstrativas de curta duração e que, portanto, são incompatíveis com tarefas de longo prazo próprias das políticas públicas.
As relações de gênero são problematizadas por Machado, que alerta para o fato de que agressões morais e físicas podem não ser consideradas como violência em determinados contextos culturais e que o significado de violência e discriminação contra as mulheres é construído sem o reconhecimento da cultura local. A autora defende, pois, a diversidade cultural e a igualdade de gênero como questões que dizem respeito fundamentalmente à dignidade humana e, portanto, se antepõe a uma sociedade tradicional que tem arraigadas as práticas da discriminação.
Em outra perspectiva, por meio da análise do processo histórico e político institucional, Teixeira argumenta que a política pública brasileira de saúde para os povos indígenas é dotada de uma profunda força antidemocrática, uma vez que as intervenções sanitárias buscam a incorporação de novas práticas e valores higiênicos pelos indígenas. Aponta no Manual de Orientações Técnicas destinado aos agentes de saúde o predomínio da função simbólica nas ilustrações do texto, que enfatizam a proximidade de comportamentos entre índios, animais e fezes, evidenciando que o foco não é a ausência de infraestrutura sanitária, mas sim o inadequado comportamento higiênico dos indígenas, o que reforça a missão de “sanear pessoas” para o agente indígena.
Quanto à epidemia do vírus HIV, Ponce destaca os perigos de se desconsiderar sua proliferação entre os povos indígenas, entendendo que as políticas públicas nesse setor partem de alguns pressupostos equivocados: os índios são concebidos como exóticos que moram em lugares inacessíveis, inclusive para a AIDS, e a crença de que todos os índios são heterossexuais, sendo também comum a associação da epidemia com a homossexualidade. Novamente, portanto, a crítica recai na incapacidade verificada na formulação de políticas públicas que considerem a diversidade e as especificidades culturais. Essa situação remete a uma “vulnerabilidade multidimensional” que exige novas posturas de líderes e de comunidades indígenas, e também da academia no sentido de assumir o imperativo de falar de sexualidade e diversidade sexual.
O texto de Alvarez discute o impacto das políticas previdenciárias nas comunidades indígenas por meio de três experiências na Amazônia. Em primeiro lugar, nota-se uma valorização social dos aposentados, na medida em que, em alguns casos, os beneficiários conseguem abandonar a condição de trabalhadores e tornam-se patrões; em outros casos, verifica-se um fenômeno mais complexo, no qual o dinheiro passa a ter impacto sobre a vida cultural do grupo, pois os idosos assumem as despesas com rituais e ocupam um lugar proeminente no grupo; finalmente, a aposentadoria tem servido para reverter a situação de marginalidade econômica, subordinação social e estigmatização histórica sofrida, por exemplo, pelos Ticuna, representados como inaptos para o mundo do trabalho, alcoólatras e selvagens. O autor relata, ainda, o recente “drama dos documentos” em decorrência da atuação autoritária da Fundação Nacional do Índio, que, diante da apuração de denúncias de fraudes pontuais com a população indígena Ticuna no município de Tabatinga (AM), mandou suspender a emissão de declarações que dão início aos trâmites para obtenção de recursos previdenciários. Este episódio, por um lado, evoca a atualização dos estigmas ligados aos Ticuna; por outro, traz a reflexão de que, ao contrário do passado, quando muitos deles renunciaram sua identidade indígena, no presente, com a implementação de políticas diferenciadas, seus descendentes assumem suas identidades para ter acesso aos benefícios.
A terceira parte do livro se destina a discutir os direitos diferenciados de acesso à Justiça. Os artigos são: “A Convenção 169 da OIT e o Direito de Consulta Prévia”, de Simone Rodrigues Pinto; “Criminalização indígena e abandono legal: aspectos da situação penal dos índios no Brasil”, de Cristhian Teófilo da Silva.
As proposições de Pinto se referem ao direito de consulta prévia, que foi instituído na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e seu papel fundamental de intermediar e negociar as reivindicações dos povos indígenas e dos Estados. No caso brasileiro, esse direito ainda carece de regulamentação e a falta de definição clara do papel dos povos indígenas acarreta no risco de a consulta se tornar mera formalidade. Faz-se necessário, neste processo, a informação qualificada, que implica tradução não só dos aspectos linguísticos, mas dos “modos de pensar”. Tomando como exemplo os impactos causados por 200 obras propostas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, a autora analisa as possíveis manipulações por parte das empresas responsáveis e chama a atenção para os empreendimentos que afetam diretamente as comunidades indígenas, mesmo que não estejam situados em suas terras.
Finalmente, no âmbito da criminalização indígena, o artigo de Silva denuncia o abandono legal dos índios nas prisões e a necessidade de um aprofundamento empírico e teórico sobre essa realidade no Brasil. O autor alerta para o não reconhecimento do status jurídico dos índios pela justiça criminal, apontando para uma distorção no uso das categorias ‘índios’ e ‘pardos’, e a consequente descaracterização étnica. Evidencia também o racismo institucional e a manipulação da indianidade pelos agentes que relegam aos índios, sob o discurso da aculturação, o tratamento diferenciado. Resta aos estudiosos somar esforços para tentar compreender o que a realidade desses processos de criminalização dos índios que estão nas prisões brasileiras nos diz sobre a pretensa democracia étnica e plural do país.
Nathália Thaís Cosmo da Silva – Mestranda em Extensão Rural na Universidade Federal de Viçosa. E-mail: nathaliacoop@yahoo.br
Sheila Maria Doula – Doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Professora Associada da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: sheila@ufv.br
[MLPDB]
Contextos da justiça: Filosofia política para além de liberalismo e comunitarismo – FORS (NC-C)
FORST, Rainer. Contextos da justiça: Filosofia política para além de liberalismo e comunitarismo. Trad. Denilson Luis Werle. São Paulo: Boitempo, 2010. Resenha de: MELO, Rúrion. Automonia, justiça e democracia. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n.88, Dez, 2010.
Um dos traços mais característicos da “renovação” da teoria crítica hoje é o enfrentamento dessa tradição de pensamento com o problema da legitimidade e da dimensão normativa das instituições políticas1. Cada vez menos os temas considerados pelas teorias críticas da sociedade permitem que se conclua pela “impossibilidade da democracia”2, levando antes à formulação de novos diagnósticos vinculados a uma concepção de crítica social mais radicalmente política e pluralista. Quando Seyla Benhabib alerta que “a negligência quanto a uma tal teoria política e democrática é um dos principais pontos cegos da teoria crítica da Escola de Frankfurt”3 e Jean Cohen e Andrew Arato chamam atenção insistentemente para o fato de que “a teoria crítica não pode mais manter seus propósitos práticos sem uma teoria política”, uma vez que “a crítica da razão funcionalista precisa ser complementada por uma teoria da democracia”4, esses autores sintetizam uma mudança fundamental na relação entre teoria social e filosofia política partilhada por diversos autores explicitamente filiados à tradição de pensamento que, desde Theodor Adorno e Max Horkheimer, se tornou conhecida como teoria crítica da sociedade5. Essa mudança teórica no projeto original esteve orientada, em linhas gerais, à investigação das “bases normativas da teoria crítica”6, ao vínculo entre o “potencial radical da democracia” e o “legado da Escola de Frankfurt”7, à retradução do núcleo crítico-emancipatório no interior da “programática democrática”8.
Para entendermos melhor o que estaria em jogo nessa mudança de projeto teórico, podemos recorrer brevemente à caracterização do que Axel Honneth chamou de “fraqueza teórica” da primeira geração da teoria crítica, ou seja, àquela formulação ligada principalmente aos nomes de Horkheimer e Adorno. Embora ambos tivessem recusado a referência de Marx à categoria do “trabalho” como conceito determinante da análise crítica da sociedade e da respectiva orientação emancipatória, os principais representantes da primeira geração permaneceram fechados diante de “todas as tentativas de considerar o processo histórico de um ponto de vista outro que não o do desenvolvimento do trabalho social”9. Esse fechamento acabou levando à desconsideração da dimensão da ação social, na qual convicções morais e intuições político-normativas se constituem independentemente, e priorizou, na interpretação dos processos sociais, as funções de expansão e reprodução do trabalho social. Em suma, subsistiria um “reducionismo funcionalista”, já presente em Marx, responsável por restringir a história humana a uma concepção instrumental de ação. A segunda geração começou a questionar decisivamente os déficits teóricos nos fundamentos normativos da primeira teoria crítica, lançando mão, sobretudo, de outro tipo de ação social que pudesse ao menos ser concebido ao lado do trabalho, e assim abrir caminho à análise da integração social e da dimensão normativa da interação social.
Jürgen Habermas foi o autor dessa tradição que primeiro trouxe à consciência teórica o diagnóstico de que “se esgotou a utopia da sociedade do trabalho”10 e pensou explicitamente o projeto futuro da teoria crítica segundo a necessidade de “superar o paradigma produtivista, sem abrir mão das intenções do marxismo ocidental”11. Representante mais importante da segunda geração da teoria crítica, Habermas desenvolveu diagnósticos significativos sobre a esfera pública e temas da moral, do direito e da democracia, buscando eliminar o que entendeu ser o déficit nos fundamentos normativos da crítica social. Também Axel Honneth, não obstante procurasse superar vários aspectos da teoria habermasiana, seguiu explicitamente a crítica ao paradigma produtivista, estabelecendo, agora na terceira geração, uma rica articulação entre crítica e filosofia social. Sua teoria do reconhecimento pretende compreender as formas de reivindicação política assim como a natureza específica dos conflitos e das lutas existentes nas sociedades contemporâneas. Uma das preocupações centrais de seu principal livro,Luta por reconhecimento, consistiu em investigar a lógica dos conflitos sociais, insistindo na necessidade de apresentar a dinâmica de tais conflitos a partir de sua gramática moral implícita12.
A renovação representada pelas segunda e terceira gerações da teoria crítica implicou, portanto, a inclusão de categorias que permitissem explicar mais adequadamente as novas formas de luta política e de mobilização cultural que ampliaram os sentidos da emancipação e configuraram atualmente os dilemas e os desafios da democracia contemporânea. Abandonaram-se necessariamente as orientações emancipatórias presas ao paradigma produtivista e se estabeleceu um rico diálogo entre a crítica da sociedade e concepções normativas preocupadas com questões de justiça política e social, com a dinâmica política de esferas públicas autônomas, com a participação da sociedade civil e com as lutas por reconhecimento (em que estão envolvidos os dilemas criados por diferenças culturais, orientação sexual, gênero, raça etc.) , ou seja, âmbitos de conflitos sociais que requerem uma reflexão renovada sobre a moral, a política e o direito.
Essa rápida e esquemática referência à história da teoria crítica tem o intuito de posicionar o livro de Rainer Forst, Contextos da justiça, no interior dessa mesma tradição teórica. Podendo ser considerado membro de uma “quarta geração” da teoria crítica, Forst voltou-se essencialmente para as questões do pensamento político contemporâneo e foi responsável por uma rigorosa reconstrução de um dos mais importantes debates filosóficos da atualidade no campo das teorias normativas. Suas preocupações teóricas giram em torno da articulação entre crítica social e filosofia normativa, da reconstrução dos temas clássicos do pensamento político moderno e do enfrentamento dos dilemas contemporâneos ligados às questões de justiça, tolerância, cidadania e direitos humanos13. Esse rico estoque de problemas indica de certo modo que aquele ponto cego denunciado por muitos autores entre a filosofia política e a tradição da teoria crítica vem sendo superado desde a segunda geração14. O passo inicial mais significativo de Forst resultou no exaustivo estudo sobre a justiça política e social a partir de uma visão sistemática e crítica do conhecido debate entre liberais e comunitaristas.
Contextos da justiça, que acabada de ser publicado no Brasil em rigorosa tradução de Denilson Luis Werle, procura analisar criticamente as respostas oferecidas à questão da justificação das normas que tornam legítimas relações jurídicas, políticas e sociais no interior de uma comunidade política. Além de contribuir para o esclarecimento dos conceitos fundamentais das teorias da justiça, Forst pretende também superar a oposição consolidada entre liberalismo e comunitarismo, apresentando uma proposta de solução conceitual própria. Seguindo uma rígida oposição entre os dois polos que compõem o debate analisado, os liberais procuraram fundamentar moralmente uma teoria da justiça abstraindo os contextos sociais concretos e priorizando as liberdades individuais em face de concepções substantivas do bem. Os comunitaristas, por sua vez, criticaram essa tese liberal da prioridade do justo perante o bem e enfatizaram o enraizamento da justificação normativa de concepções de justiça em autocompreensões e tradições constitutivas das comunidades políticas, de modo que só poderiam ser considerados justos aqueles princípios que resultam de um determinado contexto comunitário, e somente ali podem pretender validade. Todas as teorias que sublinham a prioridade do justo diante do bem acabam se mostrando “indiferentes ao contexto”, ao passo que a teoria comunitarista reforça uma posição “obcecada pelo contexto” (p. 11). Forst, indo além dessa oposição, acredita ser necessário formular uma teoria crítica da justiça capaz de justificar o ancoramento dos princípios normativos nos valores, nas práticas e nas instituições da comunidade política, compatibilizando dessa maneira os aspectos universalistas com a reivindicação de validade daqueles princípios para a autocompreensão e instituições sociais específicas.
A solução conceitual de Forst para os dilemas criados no interior do debate sobre a justiça leva em consideração quatro “contextos de problemas teóricos” em que aspectos da justificação normativa oferecidos por liberais ou comunitaristas podem se mostrar mais ou menos adequados. O próprio conteúdo do livro, portanto, divide-se nesses quatro planos conceituais críticos. Primeiramente, abordam-se criticamente a constituição do self e os pressupostos de uma concepção atomista de pessoa, típicos da formulação liberal; em segundo lugar, Forst critica a neutralidade do direito diante de visões de mundo e concepções sobre a vida boa que caracteriza a tese liberal da prioridade do justo sobre o bem; em seguida, o texto apresenta uma análise crítica da aposta comunitarista na força eticamente integradora da comunidade política; em quarto lugar, por fim, analisa criticamente a teoria moral universalista e seu vínculo a contextos concretos de justificação. Em cada um desses planos se esclarecem as posições antagônicas de justificação da justiça, as quais permaneceriam, numa “perspectiva horizontal”, meramente excludentes.
Forst pretende mostrar a possibilidade de “superar” tais oposições tradicionais segundo uma “perspectiva vertical” a partir de sua tese dos “contextos da justiça”. Uma teoria crítica da justiça precisa antes considerar as necessidades que podem surgir no contexto de socialização dos indivíduos e serem justificadas publicamente em dimensões ao mesmo tempo diferenciadas e interrelacionadas. Argumentos universalistas, pretensões de neutralidade jurídica e dimensões axiológicas compõem os contextos de reconhecimento e de justificação pública nos âmbitos da moral, do direito, da ética e da política. “Eles formam”, comenta Forst,
[…] quatro “contextos” de reconhecimento recíproco – como pessoa ética, pessoa do direito, cidadão(ã ) com plenos direitos, pessoa moral – que correspondem a diferentes modos de justificação normativa de valores e de normas em diferentes “comunidades de justificação”. A análise do debate entre teorias deontológico-liberais “que se esquecem dos contextos” e teorias comunitaristas “obcecadas pelo contexto” levou, com isso, a uma diferenciação de quatro contextos normativos nos quais as pessoas estão “situadas” (p. 275).
Desse modo, aquelas clássicas oposições entre “eticidade” e “moralidade”, bem e justiça, são vinculadas a processos de justificação da normatividade em que formas de vida culturais e políticas e determinações substantivas da justiça encontram-se atreladas a direitos e procedimentos imparciais. “Portanto”, segue o autor, “princípios de justiça são aqueles que são justificados de modo universal e imparcial na medida em que correspondem, de maneira apropriada, aos interesses, necessidades e valores concretos daqueles atingidos por eles” (p. 276). Pretende-se assim evitar uma “cegueira” em face dos contextos, bem como apontar os limites das orientações contextualistas que desconhecem o núcleo universalista das reivindicações por justiça. A harmonização desses diferentes contextos requer uma teoria da justiça que possa reuni-los de um modo mais adequado.
A reconstrução do debate entre liberais e comunitaristas apresentada no livro evita, por conseguinte, a mera defesa de uma ou outra posição, privilegiando avaliá -los como abordagens parciais para o problema da justiça. Para que seja suficientemente abstrata e concreta ao mesmo tempo, uma teoria crítica da justiça assume o vínculo essencial entre pessoas e comunidades e parte do ancoramento dos princípios de justiça a toda comunidade política. A oposição normativa entre universalismo e contextualismo só pode ser superada se trouxermos para o centro da discussão a questão de quais conceitos de pessoa e comunidade estão em jogo. A solução conceitual de Forst complementa criticamente as proposições globais tradicionais ao distinguir quatro conceitos de pessoa (pessoa ética, pessoa de direito, cidadão e pessoa moral) e de comunidade (ética, jurídica, política e moral) que correspondem a quatro contextos normativos diferentes e entrelaçados de modo complexo:
A identidade ética das pessoas é reconhecida e protegida juridicamente numa sociedade e, na verdade, por meio do direito estatuído de modo político autônomo no interior de uma comunidade política de membros com plenos direitos – direito esse que possui um conteúdo moral em seu cerne, que respeita a integridade de pessoas morais (p. 276).
O propósito crítico da diferenciação e da articulação dos diversos contextos consiste menos na separação entre o plano ético, jurídico, político e moral, do que na possibilidade de “comprovar a compatibilidade dos direitos individuais com o bem da comunidade, da universalidade política com a diferença ética, do universalismo moral com o contextualismo”, permitindo desse modo “evitar oposições falsas” (p. 13).
Podemos chegar às diferenciações internas que compõem os contextos aludidos considerando as relações entre pessoa e comunidade. A teoria liberal tendeu a desvincular o indivíduo de seus contextos de socialização ao priorizar uma concepção abstrata de pessoa como portadora de direitos ou como pessoa moral. As críticas republicanas e comunitaristas mostraram, ao contrário, que toda pessoa se individualiza nas comunidades em que são integradas. Porém, não sabemos ainda a quais comunidades pertencem as pessoas e quais são as normas e os valores que as integram. Se para o liberal a justiça está fundada num conceito abstrato de pessoa de direito – como portadora de direitos subjetivos e como sujeito de direito -, para o defensor do contextualismo toda pessoa está integrada eticamente a uma determinada comunidade de valores. Embora Forst também não acredite ser necessário reduzir um âmbito ao outro, “verticalmente” é possível justapô -los de acordo com contextos de justificação diferentes e igualmente legítimos: enquanto considero a comunidade político-jurídica e sua integração normativa segundo uma concepção política e pública de justiça, compreendo os indivíduos como pessoas que portam direitos; já as comunidades éticas se integram por diferentes tipos de concepções do bem – e não com base na imagem abstrata e universal da pessoa de direito -, de modo que a pessoa ética se torna, dessa perspectiva, membro de determinadas comunidades com as quais a identidade do self está vinculada. As relações éticas (constituídas por visões de mundo e concepções de bem ) não substituem relações jurídicas (em que se trata de atentar para direitos e deveres que formam a estrutura de relações reguladas juridicamente). Como diz Forst, “uma coisa é reconhecer uma pessoa como igual portador de direitos; outra coisa é reconhecê -la em todas as suas qualidades” (p. 40). O direito igual justifica-se segundo normas e princípios que pretendem ser universalmente válidos sem que recorramos a concepções de bem e valores particulares. Não importa quais concepções éticas e valores estão em jogo, normas jurídicas (bem como normas morais) têm de valer “para todos”: no caso do direito, as normas jurídicas valem para todos os parceiros do direito considerados membros de uma comunidade jurídica; normas morais, por sua vez, valem para todas as pessoas morais consideradas membros da comunidade dos seres humanos. A validade de normas éticas, contudo, depende da identificação dos indivíduos com determinados valores que formam suas identidades do ponto de vista de sua história de vida.
Um dos principais conceitos utilizados por Forst nas quatro dimensões como mediação para redefinir os conceitos de pessoa de direito, cidadania ou de uma moral universalista em contextos intersubjetivos diferenciados é o de autonomia. “Segundo esse conceito”, afirma Forst,
[…] as pessoas como agentes são, no sentido prático, seres “autônomos” autodeterminantes quando agem de forma consciente e fundamentada. Como tais são responsáveis por suas ações: podem ser questionadas acerca das razões pelas quais agiram. Como pessoas responsáveis, são aquelas “que se justificam” e esperamos que tenham considerado suas razões para agir, sendo capazes de justificá -las. Nesse sentido, as pessoas autônomas são razoáveis em termos de razão prática: possuem razões para agir que podem ser justificadas para elas mesmas e comunicadas e defendidas diante de outras, de modo que essas razões […] possam ser compartilhadas (p. 305).
Contudo, também uma diferenciação nos “contextos da autonomia” poderá nos mostrar quais questões práticas e quais respostas autônomas podem se apoiar em razões capazes de ser publicamente reconhecidas. A “autonomia ética” está ligada à validade de valores éticos e à autorealização da pessoa; a “autonomia jurídica” é característica de pessoas de direito e é assegurada a todos os destinatários do direito; a “autonomia política” é exercida pelo cidadão considerado autor dos direitos; e a “autonomia moral” é pressuposta nas pessoas como autoras e destinatárias de normas morais. A justificação normativa exercida nos distintos contextos pode validar argumentos e princípios de justiça em referência à autorealização ética, à liberdade pessoal de ação, à autolegislação política ou à autodeterminação moral. Em tais contextos novamente a própria constituição do self (em que a pessoa ética é considerada membro de uma comunidade constitutiva da identidade) pode se distinguir da pessoa de direito (membro de uma comunidade de direito), bem como o cidadão (que pertence à comunidade política) desempenha um papel diferente daquele da pessoa moral (pertencente à comunidade moral de agentes moralmente autônomos). Liberais e comunitaristas não compreenderam justamente que nenhuma dessas concepções de autonomia pode pretender ser a única válida como base da justiça. Por essa razão, a tarefa da análise crítica é saber como integrá-las, compatibilizá-las e perceber quando entram em conflito “de modo que uma dimensão não seja sacrificada em nome das outras” (p. 306).
O livro não se limita à analise crítica dos argumentos normativos sobre a justiça. Há também um importante balanço sobre os princípios de legitimação do poder político em sociedades complexas e pluralistas. Forst amplia o quadro de discussão analisando princípios de justificação pública ao debater com as correntes deliberativas da democracia, com a crítica feminista do liberalismo, dilemas multiculturais e com a literatura sobre a sociedade civil. Sua intenção é pensar criticamente os pressupostos socioculturais das sociedades democráticas, ou seja, entender como os cidadãos se compreendem como membros de uma comunidade política e sob quais condições justificam publicamente normas que retiram sua legitimidade de discursos democráticos. A crítica de Forst implica pensar a relação entre cidadania e justiça social a partir de um ethos democrático constitutivo das práticas de justificação da normatividade sem cair, contudo, na oposição liberal/comunitarista. Mesmo que os próprios cidadãos precisem se compreender como participantes e responsáveis na regulação e na ação políticas, não são os valores éticos compartilhados que orientam legitimamente suas pretensões por reconhecimento e realização de direitos. Orientam-se antes pelo ideal de cidadania ativa, de modo que ethos da democracia não consiste senão na realização das dimensões da própria autonomia do cidadão.
Forst mantém, assim, uma atitude crítica diante das teorias normativas existentes. Na verdade, Contextos da justiça não pretende ir além dessa análise exaustiva das justificações normativas contidas nos discursos teóricos que compõem o amplo debate entre liberais e comunitaristas, ficando para seu outro livro a tarefa de compatibilizar uma reconstrução teórica com a dimensão histórica, como no caso, por exemplo, dos fenômenos da tolerância15. De todo modo, não há teoria crítica sem que se enfrente as teorias capazes de representar da melhor maneira os problemas de nossa época. Assim como fez Marx em seu tempo ao empreender uma “crítica da economia política”, a tarefa atual implica necessariamente uma crítica das mais importantes correntes teóricas vigentes – embora não mais da economia política, mas sim da filosofia política contemporânea com sua pauta de problemas e desafios ligados à moral, ao direito e à democracia.16 E para tanto, a análise crítica não oferece uma “nova” teoria da justiça, apenas acusa a parcialidade das oposições vigentes, reconstruindo seu sentido. Nessa relação com a filosofia política, a teoria crítica também não precisa abrir mão dos fundamentos normativos em que se apoiam tais teorias, bastando justificá -los de forma mais adequada em face dos complexos contextos da justiça.
Notas
1 Cf. NOBRE, M. “Teoria crítica hoje”. In: KEINERT, M. e outros (orgs.). Tensões e passagens: filosofia crítica e modernidade. São Paulo: Singular/Esfera Pública, 2008, pp. 265-83.
2 AVRITZER, L. “Teoria crítica e teoria democrática”. Novos Estudos Cebrap, nº 53, 1999, pp. 167-188. [Links]
3 BENHABIB, S. Critique, norm, and utopia: a study of the foundations of critical theory. Nova York: Columbia University Press, 1986, p. 347. [Links]
4 ARATO, A. eCohen, J. “Politicsand the reconstruction of the concept of civil society”. In: HONNETH, A. e outros (orgs.) .Zwischenbetrachtungen: Im Prozess der Aufklärung. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1989, p. 493. [Links]
5 Cf. HONNETH, A. “Teoria crítica”. In: GIDDENS, A. e TURNER, J. (orgs.) . Teoria social hoje. São Paulo: Editora da Unesp, 1999, pp. 503-52. Ver também Nobre, M. A teoria crítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
6 BENHABIB, op. cit., p. ix. [Links] Ver também BAYNES, K.The normative grounds of social criticism: Kant, Rawls, Habermas. Nova York: Albany, 1991. [Links]
7 BOHMAN, J. Public deliberation: pluralism, complexity, and democracy. Massachussetts: MIT, 1996, p. 20. [Links]
8 WELLMER, A. “Bedeutet das Ende des’realenSozialismus’auchdasEnde des Marxschen Humanismus?”. In: Endspiele: Die unversöhnliche Moderne. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1993, p. 91. [Links]
9 HONNETH, op. cit., p. 517. [Links]
10 Cf. HABERMAS, J. “Volkssouveränität als Verfahren”. In:Faktizität und Geltung. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1998, p. 602.
[11] Ibidem. “Ein Interview mit der New Left Review“. In: Die Neue Unübersichtlichkeit. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1985, p. 217.
12 Cf. HONNETH. A. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Trad. Luiz Repa. São Paulo: Editora 34, 2003.
13 Cf. FORST, R. Toleranz im Konflikt. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2003; Ibidem. “Os limites da tolerância”. Trad. Mauro Soares. Novos Estudos Cebrap, nº 84, 2009, pp. 15-29; Ibidem. Das Recht auf Rechtfertigung. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2007; Forst e outros (org). Sozialphilosophie und Kritik. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2009. Ver também seu programa de pesquisa social desenvolvido ao lado de Klaus Günther, “Innenansichten: Über die Dynamik normativer Konflikte”. In: Forschung Frankfurt 2/2009. O subtítulo de seu próximo livro (no prelo) remete a uma junção explícita entre filosofia política e teoria crítica, a saber, “perspectivas de uma teoria crítica da política”. Cf. Forst. Kritik der Rechtfertigungsverhältnisse: Perspektiven einer kritischen Theorie der Politik. Frankfurt/M: Suhrkamp (no prelo).
14 Os limites existentes nessa “virada normativa” não foram desconsiderados mesmo por aqueles que se preocupam com uma renovação da tradição da teoria crítica. Cf. Honneth. “Das Gewebe der Gerechtigkeit. Über die Grenzen des zeitgenössischen Prozeduralismus”. In: Das Ich im Wir: Studien zur Anerkennungstheorie. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2010, pp. 51-77.
15 Cf. FORST, R. Toleranz im Konflikt, op. cit.
16 Cf. o programa de pesquisa apresentado em Forst e Günther, op. cit.
Rúrion Melo – Professor de Teoria Política do Departamento de Ciências Sociais da Unifesp e pesquisador do Núcleo Direito e Democracia do Cebrap.
Desenvolvimento, justiça e meio ambiente | José Augusto de Pádua
O livro Desenvolvimento, justiça e meio ambiente, concebido sob a orientação de Eliezer Batista e do professor Ignacy Sachs, é parte da coleção Humanitas, da Editora UFMG, e foi organizado por José Augusto Pádua, doutor em Ciências Políticas pelo Iuperj e professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde coordena o Laboratório de História e Ecologia. Pádua é ainda autor de O que é ecologia e Ecologia política no Brasil, e de vários artigos em livros, periódicos científicos, revistas e jornais publicados no Brasil e no exterior.
O livro reúne dez artigos de autores de diversas áreas do conhecimento – Economia, Direito, Arquitetura, Pedagogia, Relações Internacionais, Filosofia e Ciências Políticas. Entre os autores, há professores universitários, gestores públicos e diplomatas, além de uma promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e um ativista, sócios do Instituto Socioambiental (ISA). A variedade de perspectivas se adéqua bem ao eixo central do livro – desenvolvimento e sustentabilidade social e ambiental –, que convida a um olhar trans, multi e interdisciplinar e interessa ao conjunto da sociedade, não apenas a uma ou outra especialidade. Esse olhar se reflete no estilo dos artigos, que podem ser compreendidos por qualquer leitor leigo. Leia Mais
Dignidad humana y justicia. La Historia de Chile, la Política Social y el Cristianismo, 1880-1920 | Patricio Validivieso
Los esfuerzos de investigación para desentrañar las múltiples facetas de la Historia Social Chilena en el último tiempo, han tenido un estimulante crecimiento. Basta recorrer algunas librerías y revisar catálogos para darse cuenta de que la historiografía de nuestro pasado, remoto y no tan remoto, ha experimentado un significativo avance no solo en el número de obras editadas, sino también en la calidad de éstas. Los nombres de Gabriel Salazar, Julio Pinto, María Angélica Illanes, Sergio Grez, Leonardo León y tantos más; se han hecho cada vez más conocidos por desarrollar un esfuerzo sistemático y permanente de escrutinio de las décadas y siglos precedentes. Por supuesto, y es estimulante apreciarlo, sus aportes no se han quedado solo en sus escritos, sino que éstos han sido capaces de motivar a generaciones más nuevas a escribir, reescribir e incluso cuestionar algunos planteamientos de los citados autores. Y es que ese es el dinamismo, y capacidad de crear y recrear situaciones pretéritas, que uno espera de la historiografía profesional, de aquella que no debe, o no debiera, crear referentes o modelos absolutos, sino siempre estar dispuesta a dialogar con el pasado interpretando y reinterpretando episodios, coyunturas o estructuras conocidas y desconocidas. Si tratáramos de visualizar esta tarea como la de armar un puzzle, los historiadores deberíamos siempre tratar de buscar la mayor cantidad de piezas posibles para hacer inteligible al menos una parte del total. Y es eso efectivamente lo que ocurre con la mencionada Historia Social, que abordada desde lo político, lo económico, lo cultural, las mentalidades, el género o la microhistoria, puede volverse más comprensible y cercana para quienes no son especialistas en un tema. He ahí también un desafío: el de ser capaces de traspasar las barreras estrictamente profesionales, a veces verdaderos guetos, y llegar a las personas comunes y corrientes. Es entregarles un encantamiento con el pasado que, en el plano cotidiano, existe solo cuando se les habla de cosas que son significativas para sus recuerdos y su entorno inmediato. Leia Mais
Justiça e gênero: uma história da Justiça de menores em Brasília (1960-1990) / Eleonora Z. C. Brito
Nos anos 60 e 70, Michel Foucault abriu uma perspectiva para a leitura das relações de poder, demonstrando que, a partir do século XVIII, uma rede de dispositivos disciplinares objetivou não apenas atuar sobre o sexo, colocando-o “em discurso”, mas também inventou novas formas de apropriação de sentido.
O trabalho de Brito articula a noção de poder do pensador francês não somente pela via da negação de poder como simples repressão; a essa via a autora contrapõe a afirmação de que o poder positiva, diz sim, induz formas de saber e produz discurso. Trata-se, portanto, de um conceito de poder que produz verdades, mais do que as oculta, que constitui regras para o verdadeiro, regras, entre outras, de produção de enunciados e de reconhecimento de seus sujeitos-autores.
Justiça e gênero tem como tônica central o modo como a categoria “menor de idade”, em especial “a menor de idade”, fora lida pela Justiça de Menores no Distrito Federal entre 1960 e 1996 (embora o título estabeleça 1990, a autora nos traz dados atualizados até os meados da década seguinte). Uma leitura que adotou de uma série de estratégias que refletem questões ligadas às relações de poder e gênero, evidenciadas e criticadas pela autora. O trabalho inscreve-se no grupo de estudos de gênero que possuem como ambição desnaturalizar as relações entre homens e mulheres, mostrando-as como construções sociais, históricas e culturais.
Ao analisar os casos indicados nos arquivos do antigo Juizado de Menores de Brasília – um total de cinco mil processos de um universo de cerca de trinta e dois mil –, a autora nos apresenta a história da constituição da justiça voltada ao “menor” infrator, por meio da configuração do Código de Menores, numa clivagem entre Direito e Ciências Médicas, além das teorias assistenciais em voga desde o final do século XIX. Dessa forma, o livro localiza o leitor pelas histórias normativas que procuraram regular a relação entre a infância, a juventude e a Justiça.
Nesse aspecto, Brito indica o caráter ambíguo do Código de Menores de 1927, na medida em que, para esse instrumento legal, o “menor” foi uma criação da tensão entre um sujeito ligado ao perigo, a ser detectado e disciplinado, e o sujeito cuja inocência deveria ser resguardada ou recuperada. A autora apresenta-nos esse “leitmotiv”, intimamente ligado à dimensão punitiva – marca do Direito Penal –, que matizou a questão até 1990, ano da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e mostra-nos como esse sujeito “menor” é destituído de sexo e sofre o apagamento regulador das tensões de gênero.
Enquanto a lei desconsidera o sexo do menor, anulando-o, na prática, por meio das aplicações do Juizado, recupera-se esse sexo “anulado” hierarquizando-o. Para a autora, “antes de ser ‘menor’, a menina é seu corpo, seu sexo de mulher”, como demonstra já de início, a partir da análise do caso de estupro avaliado pelo ministro do Supremo, em que a transgressão não está no ato, mas naquele que transgride – máxima da Escola Positiva de Direito Penal.
Os casos vão surgindo de modo a configurar ora a constituição de uma vítima, ora uma delinqüência, sempre julgada a partir do sexo. Nas questões em que a “menina/mulher” é vítima de crimes sexuais, o que importa é verificar sua índole e não o caso em si. Nesse aspecto, o que os discursos proferidos pelos curadores e juízes instauram é a justificativa da violência como punição social para a “má-conduta” da mulher “devassa”. Impressiona a recorrência de preconceitos tradicionais impostos às menores; constata-se, por exemplo, que, em relação à “menina/mulher”, o crime se associava irremediavelmente à prostituição ainda no final dos anos 80. Sua sexualidade era o foco para onde convergiam essas explicações.
O trabalho nos lembra de que, na lógica das fábulas processuais, não cabia à mulher um papel ativo. Sua defesa só poderia ser constituída diante da evidência de que seu papel de agente passivo do ato estava garantido, de tal modo – mostram-nos os casos narrados –, que, protegida e vigiada pela insígnia do perigo, o respeito à mulher e o crédito de seu relato passavam pelo testemunho do homem adulto. Não são raros, por exemplo, os pareceres que culpam as mães pelas “distrações” das filhas, enquanto ao pai nada cabia senão a vergonha.
O desvio infanto-juvenil, ou seja, sua punibilidade perante a lei, insere-se, portanto, no contexto de certa “estratégia de “governamentalidade” que, por um lado, buscava disciplinar os corpos, e, por outro, objetivava a regulação da população” (p.119). Sobre as questões dos corpos, Brito narra todo um jogo de poder na constituição de uma Medicina Legal, cara às determinações hierárquicas entre homem/mulher, adulto/criança e normal/anormal. Teorias como as divulgadas por Afrânio Peixoto e Nina Rodrigues foram as que deram os contornos do debate sobre a delinqüência no Brasil e, conseqüentemente, sobre a infância e a juventude a serem “protegidas”, objetos preferenciais do saber criminológico.
Tal saber é evidenciado pela autora por meio do estudo de dois laudos solicitados pela Justiça. Um proferido para uma menina e outro, para um menino (os casos de Alice e Mário, independentes, estão entre as comparações mais impressionantes do livro). Os laudos naturalizam os comportamentos, “fixando os que são normais num e noutro sexo e classificando-os no discurso médico” (p.190). O saber médico (legal) respaldava a criação do desvio – ação fora da norma qualificada na patologia clínica –, migrando-o da ordem moral para a clínica. A perícia médica funcionava como uma guardiã da higiene sexual, medicalizando e criminalizando o sexo desviado de sua função procriativa, saudável.
Brito nos mostra como a própria pré-seleção do delito era imposta pelas relações de gênero, na medida em que certas práticas desviantes, na verdade, eram cometidas por meninos e meninas, mas classificadas de modo diverso. O que os pareceres e as sentenças não estavam preparados a permitir eram meninas em situações tidas como preferencialmente masculinas.
Um exemplo é a modalidade “perturbação da ordem”, instituída como um domínio reservado ao masculino, uma vez que corriqueiramente a rua – o espaço público – estava “estabelecida” como tal, enquanto na modalidade “inadaptação familiar” o número de transgressões femininas está “naturalizado”, pois passa-se para a esfera privada. Enfim, analisados e delimitados por critérios específicos a cada época, crianças e adolescentes têm a complexidade de seu “ser no mundo” reduzida a traçados lineares.
Contudo, as regras a que tal linearidade obedecia sofreram mudanças entre os anos 60 e o início dos 90. A autora não comete o erro de planificar os valores nas décadas estudadas.
Está, antes, interessada em como, em momentos distintos, embora próximos, o aparato regulador da “infância” lida com o paradoxo entre uma Justiça que institui para si o peso da modernização moral, ao passo que continua a reconduzir valores tradicionais instituídos às mulheres.
É certo que Brito salienta que as mutações, em muitos aspectos, só renovam alguns padrões de conduta historicamente defendidos. Ignorar que as relações de gênero impõem hierarquizações que estão para além daquelas “admitidas” pela lei – essa mesma viciada em dissimular tais hierarquias, mesmo nos dias atuais – é um alerta premente desse livro. De tal monta que a polêmica que mesmo hoje divide grupos feministas em torno do uso do sistema penal na luta pela defesa e pelo reconhecimento de direitos às mulheres deve ser evidenciada à luz das questões tratadas aqui. A autora põe em questão a eficácia de se acionar o sistema legal em favor da defesa dos direitos das mulheres, discutindo se esta prática, ao contrário, não seria promovedora de um quadro de aprofundamento das relações hierarquizadas de gênero. Pela conduta de sua pesquisa, a autora parece não crer que tal sistema – como ele se apresenta atualmente – seja capaz de garantir equidade.
Em muitos casos, como os próprios processos indicavam, eram famílias interessadas em desvincular-se daquela menor que não mais se adequava ao regime de menina da casa.
Jovens, algumas vezes crianças, trazidas do interior do país para trabalhar como domésticas sem receber salário, num dúbio jogo de exploração e tutela que, em determinado momento, era considerado indesejável. Tal questão mostra que o livro não se presta a maniqueísmos, pois aqui a autora indica como foi importante o papel do Juizado para desvelar esse jogo.
Às mulheres se perdoava, ironia discriminatória que atingia também as jovens de classe média que furtavam no comércio local. Elas eram, geralmente, enquadradas no chamado ‘descuido’, ou seja, na capacidade de pegar e não pagar por mera falta de atenção.
Ao examinar extensa documentação, a autora tomou o cuidado de questionar as determinações de produção, enquadrando-as num contexto histórico localizado, e evidenciou os procedimentos representados pela instituição. Exemplo: nos anos 60 e 70, o juizado de Menores de Brasília não possuía o aparato interdisciplinar de profissionais, previsto em lei, os quais deveriam apoiar as decisões tomadas; nem mesmo contava com instituições “corretivas”. Fatos que influenciavam as decisões e que fizeram muitos processos percorrerem uma cansativa rede burocrática, na esperança de que os problemas externos à demanda judicial fossem resolvidos antes de uma possível sentença.
São todas questões cruciais para quem quer compreender, a partir dos exemplos de Brasília, as determinações legais frente às relações de gênero. A autora não se furta a contextualizar o ambiente em que os documentos são gerados: “Profusão de imagens, Brasília era representada, ao mesmo tempo, como o espaço propício para a manifestação de uma sociabilidade que a fazia mais humana que a maioria das outras cidades (…) e lócus de manifestação do ‘perigo’ representado pela infância e pela juventude ‘desviantes’.”(p.154).
Tal abordagem confere ao livro mais esse atrativo. Além de interessar a estudiosos em gênero, ligados à história ou ao direito, há na pesquisa de Brito uma sutil, mas determinante, consciência do papel que essa “urbe”, tão exótica por sua constituição e história, ocupa na problemática. Brasília e os brasileiros vindos de todas as partes serviram a Brito para o elementar exercício de compreensão daqueles “poderes” que Foucault nos apresentou.
Mateus de Andrade Pacheco – Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília, com apoio do CNPq.
BRITO, Eleonora Zicari Costa de. Justiça e gênero: uma história da Justiça de menores em Brasília (1960-1990). Brasília: Editora Universidade de Brasília: Finatec, 2007. Resenha de: PACHECO, Mateus de Andrade. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.11, p.172-176, 2007. Acessar publicação original. [IF].
Direito e Justiça no Brasil colonial (O Tribunal da Relação do Rio de Janeiro – 1751-1808) – WEHLING; WEHLING (RIHGB)
WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. Direito e Justiça no Brasil colonial (O Tribunal da Relação do Rio de Janeiro – 1751-1808). Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Renovar, 2004. Prefácio de Alberto Venâncio Filho, 680p. Resenha de: MARIZ, Vasco. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v.165, n.423, p.319-321, abr./jun., 2004.
Vasco Mariz – Sócio emérito do IHGB.
[IF]



