Posts com a Tag ‘Império’
Exploration/religion and Empire in the sixteenthcentury Ibero-Atlantic world: a new perspective on the history of modern Science | Mauricio Nieto
La era de los descubrimientos supusieron una transformación social y cultural del continente europeo, relacionada con la aparición de nuevos actores y su geografía. América, y su relación con Europa, produjo cambios estructurales. Dentro de este proceso, el conocimiento producido en el siglo XVI por cosmógrafos, pilotos, cartógrafos y cronistas fue fundamental para consolidar del proyecto imperial español sobre el Nuevo Mundo. El desafío más grande de tal expansión imperial y religiosa fue el problema de “controlar a distancia”. Este, que es esencialmente un problema de comunicación, no se puede pensar desde la historia de la ciencia sin referirse a la relación entre religión, exploración e imperio. Mauricio Nieto (2022) nos relata el proceso de conquista y expansión española como una empresa enfocada en la identificación y el control de una ruta para realizar el cruce atlántico de manera segura y consistente durante el siglo XVI. Esta empresa necesitó la creación de complejas redes tecnológicas e instituciones dirigidas a solucionar tal desafío, y a sostener el imperio y sus relaciones en los territorios de ultramar, dominando el mar con sus barcos. Leia Mais
Mulheres no Reino e do Império: aproximações e singularidades (séculos XVI ao XVIII) | M. M. Lobo de Araújo, E. C. D. Fleck
É inegável o espaço consolidado pelas categorias género e mulheres na teoria e conceptualização da história. O estudo das mulheres na longa duração estabeleceu uma metodologia baseada na indagação e crítica de fontes de diversas proveniências, tipologias e suportes, maioritariamente produzidas por pessoas do género masculino no contexto de sociedades patriarcais. O questionamento colocado à história é político e tem a invisibilidade como ponto de partida: qual o papel do género feminino no desenvolvimento das sociedades humanas? A pergunta mantém-se pertinente. O conteúdo das respostas tem acompanhado a evolução do movimento feminista e a consolidação da universalidade do direito à instrução que, nas democracias liberais, diversificou os públicos das universidades. Leia Mais
Migrant City: A New History of London | Panilos Panayi
Panilos Panayi | Imagem: Times Higher Education
According to a survey carried out by the National Federation of Fish Fryers in the 1960s, the first fish and chip shop was opened by Joseph Malins in 1860 on Old Ford Road in the East End of London (p. 234). The combination of the fried fish that had been sold and eaten in the Jewish East End since the early nineteenth century with chips created what became a quintessentially British meal. This is one of many examples included in Panikos Panayi’s Migrant City: A New History of London of how migrants have contributed to the culture and economy of London and in turn the United Kingdom.
Panayi makes clear the crucial role that migrants have played in the development of London as a global centre of trade, finance, culture, and politics. He ties this to London’s status as both the centre of a global empire and the largest city in the world for much of the nineteenth and twentieth centuries. More than half of migrants arriving in the United Kingdom from abroad moved to London, whose history of migration stretches back to its Roman founding. London, therefore, had long been cosmopolitan and by the late twentieth century had become ‘super-diverse’, with residents born in more than 179 countries, many beyond Europe or the former British Empire. Leia Mais
La face cachée de l’Empire: l’Italie et les Balkans/1861-1915 | Fabrice Jesné
Il libro è il frutto di un lavoro di ricerca quasi ventennale, concretizzatosi dapprima in una tesi di dottorato, discussa dall’autore nel 2009, e successivamente in questo volume che quella tesi riprende, amplia e approfondisce. Fabrice Jesné, attualmente docente all’Università di Nantes, è stato direttore di studi per l’età moderna e contemporanea presso l’École française di Roma. I suoi due principali assi di ricerca riguardano da un lato la politica balcanica dell’Italia in età contemporanea e, dall’altro, la storia e il ruolo delle istituzioni consolari in Francia e in Italia, a cui egli ha dedicato diversi contributi storiografici e su cui ha coordinato progetti di studio1. Queste due piste di ricerca si ritrovano intrecciate nel volume e ne costituiscono la struttura portante. Tuttavia, il libro non si esaurisce in questi due aspetti, bensì offre un panorama ampio, articolato e approfondito di contenuti, modalità e usi delle vicende balcaniche del secondo Ottocento nella politica e nella cultura dell’Italia liberale. Alla luce di ciò, il libro si inserisce appieno nel solco di una tradizione di studi ben consolidata in Italia riguardante l’Europa centro-orientale e, in particolare, il settore delle relazioni fra il moto risorgimentale italiano prima e l’Italia unita poi con il vasto e composito mondo delle popolazioni centro-europee, balcaniche in particolare. Nel secondo dopoguerra questo campo di studi ha trovato un suo caposaldo nel volume di Angelo Tamborra del 1958, dedicato proprio alle relazioni e agli scambi reciproci tra il Risorgimento italiano e quelli delle nazioni del Sud-est europeo2. Non è infatti casuale che la ricostruzione di Jesné prenda le mosse proprio dall’iniziativa verso l’Oriente d’Europa attuata da Cavour. Successivamente alla pubblicazione del libro di Tamborra, tale tendenza storiografica ha dato vita ad altri contributi che hanno ricostruito con efficacia vari aspetti dei rapporti fra Italia e mondo danubiano balcanico3. Jesné ha saputo mettere a profitto questo patrimonio di studi che si caratterizza da un lato per la sua ricchezza e, dall’altro, per la sua frammentarietà, mancando finora una visione di insieme del problema. Avvalendosi anche di importanti contributi della storiografia francese sull’Italia del XIX secolo e la sua proiezione mediterranea – in particolare, dei lavori di Daniel Grange4 ma anche di quelli di Gilles Pécout5 – l’autore è riuscito finalmente a proporre un’analisi complessiva di questa tematica. Leia Mais
Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930) | Ana Beatriz D. Barel e Wilma P. Costa
O livro Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930), organizado pelas historiadoras Ana Beatriz Demarchi Barel e Wilma Peres Costa, é uma coletânea de trabalhos que pesquisadores de diferentes instituições do país apresentaram durante o “Seminário Internacional de Estado, cultura e elites (1822-1930)”, na Fundação Casa de Rui Barbosa, em 2014. A obra tem como recorte cronológico o chamado “longo século XIX” no Brasil, que, segundo as próprias organizadoras, foi marcado pela “intensidade das transformações que atravessaram a experiência humana no Velho e no Novo Mundo” (p. 7).
Através da análise de objetos variados e trajetórias individuais, o livro apresenta as disputas travadas no interior do processo de definição da identidade nacional brasileira, um itinerário complexo marcado pela construção do Estado e pela consolidação da nação. Para a elite letrada brasileira, o desafio consistia em estabelecer símbolos que fossem importantes para o público interno letrado do país e para os leitores do velho continente. Seu objetivo era integrar o Brasil no sistema cultural das nações europeias, ao mesmo tempo que era necessário distingui-lo das demais nações do Novo Mundo.
Os projetos nacionais para o Brasil, a fundação de instituições culturais, a composição da sociedade letrada, a relação entre Estado e cultura, tudo isso está presente ao longo dos doze capítulos que compõem as duas partes da obra. Os da primeira parte abordam especialmente a propagação da cultura escrita no país, destacando-se algumas figuras importantes que conduziram os debates sobre a nação através da produção de obras, organizações literárias e disputas dentro das próprias instituições do país. Na segunda parte do livro, observamos a importância e o impacto da difusão da imagem, em particular dos retratos e da fotografia nas décadas que compreendem a segunda metade do século oitocentista até o início da república brasileira. Em ambas as partes, as disputas pela construção de narrativas para o país, bem como a relação tensa entre cultura e poder, constituem o eixo de análise dos capítulos.
O primeiro capítulo da obra, “Espaço público, homens de letras e revolução da leitura”, do historiador Roger Chartier, fornece a chave para compreender as tensões entre o Estado, as elites e a constituição da cultura nacional exploradas em diferentes momentos do livro. Chartier desenvolve aí a genealogia de três noções, a de espaço público, a de circulação de impressos e a de constituição do conceito de intelectual. Desenvolvidas durante o movimento iluminista, essas noções apresentaram variações no desenrolar do mundo contemporâneo e influíram decisivamente nas nações a surgir nas Américas, entre elas o Brasil.
A construção de um imaginário para a nação a partir do olhar estrangeiro do viajante, tema clássico mas sempre atual nas discussões sobre o Novo Mundo, é apresentado no segundo capítulo do livro, de Luiz Barros Montez Barros. O texto analisa os objetivos da produção dos relatos do alemão Johann Natterer a respeito de sua viagem ao Brasil entre os anos de 1817 a 1835. Como sugere Barros, conhecer novas terras possibilitava a elaboração reflexiva sobre a cultura dos países de origem dos próprios viajantes. Essa produção, além de prezar pela objetividade científica das informações, resultava em avaliações eurocêntricas que ressaltavam a “afirmação da supremacia do modelo civilizacional e técnico” dos países capitalistas emergentes (p. 49).
O estudo de Wilma Peres Costa sobre a figura de um dos intelectuais mais importantes do século XIX brasileiro, Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899), também explora a temática da construção da identidade nacional brasileira em sua complexa relação com o Velho Mundo. A autora observa a complexidade de um personagem que pertencia à linhagem francesa e vivenciava o contexto desafiador de criação de um campo literário e artístico no Brasil oitocentista. Através da análise do processo de mudança do próprio nome do literato, aponta que Taunay, em oposição à maioria dos intelectuais brasileiros, buscava se distanciar das referências francesas e se aproximar das de Portugal e do nativismo brasileiro. Assumindo a condição de uma “dupla cidadania intelectual”, o letrado revelava em suas obras, com destaque para A Floresta da Tijuca, o projeto de construção de uma memória e história vinculadas ao poder do Imperador e da monarquia no Brasil.
O esforço pela construção do Estado e pela busca da estabilidade política monárquica no Brasil também se materializou na fundação das instituições literárias na primeira metade do século XIX, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), criado em 1838. Naquele momento, a elite letrada do Brasil se inspirava nas instituições francesas – o Instituto Histórico de Paris havia sido fundado alguns anos antes (1834) e contava com a presença de representantes do Império brasileiro em suas sessões iniciais. A preocupação do homem do século XIX, dos dois lados do Atlântico, era com o registro histórico para a composição e conformação da memória nacional.
Dois capítulos do livro se ocupam dos temas relacionados à composição social dos membros do IHGB e às escolhas de temas nas publicações de sua Revista, na primeira metade do século XIX. A historiadora Lucia Maria Paschoal Guimarães analisa como a seleção de acontecimentos históricos e suas respectivas narrativas, junto à composição social dos membros do IHGB desde a sua fundação até o ano de 1850, apontam para o esforço considerável de construir um passado nacional legitimador do Estado monárquico. A defesa da monarquia e da figura do Imperador era necessária diante das conturbações e pressões vividas naquele momento. “O passado acabaria então por converter-se em ferramenta para legitimar as ações do presente.” (p. 62).
Tamanho esforço também poderia ser observado na busca pelo estabelecimento dos cânones literários brasileiros na Revista do IHGB, dado que os escritores nacionais a figurar entre as referências literárias também foram definidos no interior do próprio Instituto. Conforme nos indica Ana Beatriz Demarchi Barel, a seção da revista intitulada “Biographia dos Brasileiros Distintos por Letras, Armas, Virtudes, &” tinha a finalidade de apresentar ao público os nomes de personalidades nacionais (escritores, advogados, diplomatas, navegadores, inquisidores) dignas de elogios, e dentre elas é possível observar a indicação de quais nomes deveriam pertencer ao panteão dos escritores da literatura nacional, em diálogo com as referências europeias. Assim, “a RIHGB conforma-se como instrumento de propaganda da política alavancada pelas elites e do poder de um monarca ilustrado nos trópicos” (p. 83).
O historiador Avelino Romero Pereira abordou a música no Império como um campo de prospecção e definição de um projeto cultural nacional. Propondo refletir sobre suas características “aproximando-a da literatura e das artes visuais” (p. 100), o autor destaca que, a exemplo dos gêneros literários, a produção, a circulação e o consumo musical estiveram permeados de tensões. O mecenato exercido pelo imperador nessa área não reduziu a música a um caráter meramente oficialista do Império, como se os artistas fossem “marionetes a serviço do poder pessoal do Imperador e da construção de um projeto exótico de Império nos trópicos”. (p. 93) Araújo Porto Alegre seria um dos representantes da multiplicidade de ideias contrapostas à visão de unicidade nacional.
As trajetórias individuais iluminam as contradições, oposições e alianças estabelecidas no processo de formação de campos discursivos culturais no Brasil, como se pode ver no capítulo de Letícia Squeff. A autora nos apresenta o caso do pintor Estevão Silva, negro, que se indignou ao receber a medalha de prata como artista das mãos do Imperador, em 1879, Academia Imperial de Belas Artes. Squeff aponta a tensão que esse episódio gerou, intensificando, inclusive, o momento de crise vivido dentro da instituição e, também, acentuando ainda mais o descrédito público da figura do Imperador. “Foi percebido como atitude potencialmente revolucionária, numa monarquia que já vinha sendo sacudida por debates e discursos republicanos” (p. 294).
Ricardo Souza de Carvalho também traz à tona uma importante trajetória individual ao analisar a atuação do abolicionista e monarquista Joaquim Nabuco em duas instituições de peso, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Academia Brasileira de Letras. Como dito, o IHGB se vinculou, durante todo o período do Império, à figura do Imperador e à Monarquia, enquanto a Academia Brasileira de Letras, fundada na última década do século XIX, marcou as necessidades relacionadas aos dilemas da construção do início da República no Brasil. Carvalho estuda a presença de Nabuco nessas instituições para mapear as relações tensas entre instituições culturais e política no fim do Império.
A relevância social das imagens na segunda metade do século XIX aparece no capítulo de Heloisa Barbuy, dedicado à organização de uma galeria de retratos na Faculdade de Direito de São Paulo no século XIX. O retrato ganhava ares de prestígio no momento em que a fotografia ainda não era tão glorificada. Retratar significava eternizar uma memória, dando início a uma “cultura de exposições” na segunda metade do século XIX que se ligava à construção de narrativas nacionais e, também, ao estabelecimento de personalidades como figuras de referência. Barbuy indica a relação entre a formação do Estado Nacional, em particular o seu sistema jurídico, e a escolha de determinadas trajetórias de “homens públicos-estadistas e governantes” para figurar uma sala de retratos. “Homenagear alguém com o seu retrato em pintura, em telas de grandes dimensões, era a expressão máxima da admiração reverencial que se desejava marcar.” (p. 223).
O capítulo de Ana Luiza Martins aborda a importância da iconografia para demarcar a preponderância do café na economia imperial brasileira. A ideia de que o “café dava para tudo” é problematizada através da análise de inventários e das obras literárias sobre os cafeicultores do Vale do Paraíba. As dificuldades encontradas com o declínio do tráfico negreiro e as oscilações do mercado ficaram, durante muito tempo, submersas na imagem do poder que a economia cafeeira proporcionava, imagem construída em grande medida pela iconografia. Os casarões dos proprietários das fazendas de café estavam retratados em telas pintadas por artistas de renomes da corte, o que representava o “poderio econômico e político” dos cafeicultores mesmo no momento em que a produção da região já não estava em seu auge.
Analisando a arquitetura do Vale do Paraíba, Carlos Lemos aponta para as transformações da cultura material nas residências da região. Lemos salienta que o material para construção das residências não variava e que o Estado não teve influência na constituição de suas características. As questões estéticas das casas, ao longo do Paraíba no século XIX, não eram primordiais. O tamanho das casas era o fator que diferenciava a classe social e econômica e é nesse aspecto que podemos perceber o esforço de diferenciação social que ocorreu através da monumentalidade dos casarões dos cafeicultores. “O que interessava aos ricaços era unicamente o tamanho de suas casas de dezenas de janelas” (p. 168).
O simbolismo de poder existente nas construções grandiosas, nas imagens e em suas exposições também ganharam aspectos novos com o advento e difusão da fotografia no Brasil. A chegada de fotógrafos europeus, a partir da segunda metade do século, possibilitou que aspectos da nossa sociedade fossem retratados com base em uma nova materialidade. Ao analisar a trajetória do fotógrafo alemão judeu Alberto Henschel, Cláudia Heynemann observa que, no momento em que o retrato a óleo ainda se restringia a uma minoria economicamente favorecida, a fotografia, através do desenvolvimento do formato carte de visite, possibilitou que outros setores da sociedade também tivessem acesso ao consumo de suas próprias imagens. O álbum privado, que trazia imagens de “famílias brasileiras, abastadas, das camadas médias em ascensão, de libertos, de escravizados, gente de todas as origens”, se tornou uma febre social (p. 258). A respeito de Alberto Henschel, a autora ainda destaca a diversidade de seus trabalhos, inclusive inúmeras fotografias que retratava os negros brasileiros, marcando um novo momento da história visual do Império e da sociedade escravista.
A diversidade de abordagens apresentada nos capítulos que compõe Cultura e poder entre o Império e a República nos permite compreender, com mais acuidade, o panorama múltiplo das relações entre as elites brasileiras e o Estado Nacional ao longo de mais de cem anos. A leitura de cada capítulo dá densidade a esse relevante tema de investigação. À medida que nos detemos em um determinado personagem ou em algum contexto mais específico, nos aproximamos das mais variadas formas de produção e circulação de ideias que fizeram parte da construção do imaginário nacional de um país monárquico cercado de repúblicas e profundamente marcado pela herança da escravidão.
Referência
BAREL, Ana Beatriz Demarchi; COSTA, Wilma Peres. (Orgs). Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930). São Paulo: Alameda, 2018.
Lilian M. Silva – Universidade Federal de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
BAREL, Ana Beatriz Demarchi; COSTA, Wilma Peres. (Orgs). Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930). São Paulo: Alameda, 2018. Resenha de: SILVA, Lilian M. Relações de poder na cultura escrita e visual no “longo século XIX” brasileiro. Almanack, Guarulhos, n.24, 2020. Acessar publicação original [DR]
Los rastros del imperio. El ideario del régimen en las películas de ficción del primer franquismo (1939-1951) – PÉREZ NÚÑEZ (PL)
Jesús Pérez Núñez. Foto: Noticias de Álava /
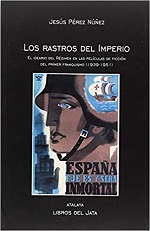 De una manera bastante generalizada, las producciones cinematográficas y del ámbito de la cultura visual suelen ser calificadas de simples (en lo técnico) y estandarizadas (bajo el prisma de la innovación y la originalidad) en España durante los primeros años de la dictadura. En relación a las temáticas y los mensajes de dichas producciones, se suele hablar de instrumentalización política, manipulación de los hechos históricos e ideologización de los referentes culturales.Esa corriente de opinión suele contar con gran aceptación en la mayoría de los casos, pero no profundiza en la efectividad que tuvo el sistema de propaganda sobre las nuevas generaciones y los sectores conservadores adheridos a la causa del Movimiento Nacional. El impacto psicológico fue mayúsculo, en un contexto de euforia inicial (por la victoria en la Guerra Civil) y de desconcierto pesimista (por la situación de aislamiento tras la II Guerra Mundial). Leia Mais
De una manera bastante generalizada, las producciones cinematográficas y del ámbito de la cultura visual suelen ser calificadas de simples (en lo técnico) y estandarizadas (bajo el prisma de la innovación y la originalidad) en España durante los primeros años de la dictadura. En relación a las temáticas y los mensajes de dichas producciones, se suele hablar de instrumentalización política, manipulación de los hechos históricos e ideologización de los referentes culturales.Esa corriente de opinión suele contar con gran aceptación en la mayoría de los casos, pero no profundiza en la efectividad que tuvo el sistema de propaganda sobre las nuevas generaciones y los sectores conservadores adheridos a la causa del Movimiento Nacional. El impacto psicológico fue mayúsculo, en un contexto de euforia inicial (por la victoria en la Guerra Civil) y de desconcierto pesimista (por la situación de aislamiento tras la II Guerra Mundial). Leia Mais
Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930) | Ana Beatriz Demarchi Barel e Wilma Peres Costa
Os estudos em torno da Nova História Cultural têm proposto interessantes abordagens sob a perspectiva da mediação e circulação de ideias entre espaços culturais, simbólicos e nacionais, ao longo do século XIX. A partir desta ótica, as complexas transformações socioculturais, que ocorreram devido ao intenso desenvolvimento técnico, têm sido alvo de revisão historiográfica, sobretudo com grupos temáticos de pesquisa que visam responder às grandes questões em torno dos eventos ocorridos ao longo desta extensa centúria. Este é o exemplo do Seminário Internacional Estado, Cultura e Elites (1822-1930) realizado na Fundação Casa de Rui Barbosa em 2014 e que resultou na obra Cultura e Poder entre o Império e a República – Estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930) organizada por Ana Beatriz Demarchi Barel (Universidade Estadual de Goiás) e por Wilma Peres Costa (Universidade Federal de São Paulo) e lançada em 2018 sob o selo da editora Alameda. Leia Mais
Juízes de paz: um projeto de justiça cidadã nos primórdios do Brasil Império | CAMPOS Adriana Pereira Campos, Andréa Slemian e Kátia Sausen da Motta
Em 2017 foi publicado o livro juízes de paz: um projeto de justiça cidadã nos primórdios do Brasil Império escrito por Adriana Pereira Campos, Andréa Slemian e Kátia Sausen da Motta. Trata-se de um trabalho sobre a institucionalização da figura do Juiz de Paz e a estratégia de treinamento lançada por parte das autoridades imperiais brasileiras. Este livro faz parte da Coleção de Filosofia, Sociologia e Teoria do Direito que é coordenada por Fernando Rister de Sousa Lima. Nesta coleção temos títulos de diversas áreas, mas todas em diálogo com o Direito e, mais precisamente, com a pesquisa jurídica. A perspectiva interdisciplinar da coleção lançou o livro que aqui é resenhado numa concepção de aproximação dos debates entre História e Direito.
Adriana Pereira Campos é historiadora formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com a tese intitulada Nas barras dos tribunais: direito e escravidão no Espírito Santo do século XIX. Atualmente é professora da UFES. Andréa Slemian, também docente da UFES, é historiadora formada na Universidade de São Paulo (USP) onde também fez o mestrado e doutorado em História. Sua tese foi intitulada Sob o império das leis: constituição e unidade nacional na formação do Brasil (1822 – 1834). Kátia Sausen Motta é historiadora formada na UFES onde também fez o mestrado e doutorado sob orientação de Adriana Pereira Campos. Sua tese foi defendida em 2018 com o título Eleições no Brasil do oitocentos: entre a inclusão e a exclusão da patuleia na cidadela política (1822 – 1881). 1 Leia Mais
Contra o vento: Portugal, o Império e a Maré Anticolonial (1945-1960)
Investigador jubilado do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa (Portugal), Valentim Alexandre é autor de um conjunto de livros e artigos fundamentais sobre o fim do Império luso-brasileiro, a viagem de Portugal para África ao longo de oitocentos e o colonialismo português nos séculos XIX e XX nas suas vertentes política, ideológica e econômica. Depois de se aposentar, dedicou vários anos à pesquisa e elaboração deste livro sobre a evolução do sistema colonial português entre o fim da Segunda Guerra Mundial e 1960 (e de outro, em preparação, centrado no período da Guerra Colonial). A obra é monumental a vários títulos. Não me refiro à dimensão que se traduz em número de páginas, mas à investigação histórica que lhe subjaz e ao contributo decisivo que traz à compreensão da durabilidade do Império, fenômeno que andou a par da durabilidade do Estado Novo português (1933-1974).
É sabido que a escrita da história requer a consulta, mais exaustiva e sistemática possível, de fontes primárias e secundárias. Ciente da quantidade e diversidade de fontes disponíveis para o estudo da questão colonial no pós-Guerra, Alexandre escolheu privilegiar o arquivo Oliveira Salazar, “que reúne uma amplíssima documentação com interesse” para o tema e serve de “filtro, concentrando os materiais que subiam à Presidência do Conselho pela especial relevância que […] lhes era reconhecida” (ALEXANDRE, 2017, p.24). Tendo como principal ponto de observação esse fundo documental, não deixou de recorrer a outras fontes primárias (documentos oficiais impressos, periódicos e publicações da época) e de confrontar a bibliografia que vem sendo publicada em Portugal e noutros países. Cumpre assim enfatizar que um dos grandes méritos deste livro reside precisamente no trabalho com as fontes, um trabalho minucioso, exigente, rigoroso e necessariamente demorado, resultado de uma postura livre e ética, na contramão da exigência académica de pesquisa e publicação rápidas sob o jugo dos fatores de impacto. Leia Mais
Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos | Adriana P. Campos, Kátia S. da Motta, Geisa L. Ribeiro e Karulliny S. Siqueira
Organizado por Adriana Pereira Campos, Geisa Lourenço Ribeiro, Karulliny Silverol Siqueira e Kátia Sausen da Motta, a obra “Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos”1 traz consigo um relevante debate acerca da multiplicidade de relações existentes no Brasil oitocentista. A contribuição de dez autores para a realização do livro, objetivou diversificar a história política do Império, por meio da inclusão de províncias e atores políticos variados. Assim, trazendo novo sentido ao contexto imperial. O livro é resultado de debates entre pesquisadores que participaram do III Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos (SEO), ocorrido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2018.
Ao nos debruçarmos sobre a obra, percebemos a multiplicidade de relações políticas contidas no Brasil Império que formavam um todo na trajetória contextual.
Retirar a lupa somente dos denominados “grandes acontecimentos” e dos principais atores políticos comumente ressaltados na historiografia é também traçar uma história política diversa em estrutura e significados. Neste sentido, a obra analisada percorre entre províncias distintas e personagens políticos ressignificados, promovendo assim, diversas participações para os acontecimentos do período, para além da Corte ou dos “grandes homens”.
Em primeiro momento, a obra contempla a temática “Biografias e trajetórias políticas” expressando a história de personagens políticos do Império que transcendem a historiografia tradicional. Vale ressaltar, a necessidade de colocar em evidência novos personagens políticos, enriquecendo o debate historiográfico com a criação de novos esquemas a serem analisados. Assim, Cecília Siqueira Cordeiro traz a análise do personagem político Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, propondo um novo olhar sob as decisões políticas do liberal que é comumente recordado pela historiografia como o defensor do Brasil na causa da Independência. Rememorando, através da análise de um opúsculo, que num primeiro momento Antônio Carlos defendeu a união de Brasil e Portugal no contexto da emancipação, evidenciando uma mudança de comportamento da figura em momento posterior. Deste modo, a autora não encontra um desarranjo na trajetória política do personagem, todavia, um indivíduo alinhado a cultura política da sua época. Ademais, Cecília Cordeiro traça a trajetória historiográfica da figura deste Andrada, e a timidez de sua relevância diante de seus irmãos José Bonifácio e Martim Francisco.
A autora Adriana Pereira Campos, conduz em sua pesquisa a trajetória política de Marcelino Duarte, um padre, redator e natural da Província do Espírito Santo que foi uma das vozes exaltadas que entoaram na Corte. A análise da historiadora revela a carreira de um padre exaltado cujo pensamento político se distinguia da cultura política de sua província natal. Assim, o estudo de Campos contribui para o debate acerca do pluralismo de opiniões que circulavam nas províncias do Império e a relação que esses indivíduos possuíam com o Rio de Janeiro.
Na segunda parte da obra, intitulada “Disputas políticas e partidárias”, contemplam-se as efervescências política na Corte e nas províncias. Logo, Rafael Cupello Peixoto, debruçado sob o tema da construção da identidade nacional brasileira, investiga a Carta de Barbacena, representada no passado como símbolo da nacionalidade brasileira, ou seu valor profético acerca do resultado da conjuntura política do Primeiro Reinado.
Indicando aspectos do jogo político no entorno da Corte Palaciana de Pedro I, a análise da fonte indicou ao autor duas tendências da direita conservadora dentro dos áulicos: os tradicionalistas e os conservadores. Ademais, Peixoto expõe cada vertente e o jogo político da época.
Ampliando a escala para o Maranhão, Roni César de Araújo dedica-se ao estudo da construção da identidade brasileira naquela província, compreende, através da análise de periódicos, que o “novo espírito”2 do Brasil chegou naquela localidade em momento posterior à Corte. Neste sentido, Araújo expõe que o antilusitanismo alcançou a imprensa da província em 1825, sendo precedido pela fidelidade ao governo português. Além disso, explica as relações de conveniências expressas na região.
A terceira parte da obra abarca o “Sistema representativo e práticas políticas”, destacando a dinâmica das eleições no Império, pondo em relevância a pluralidade existente no período, no momento em que destaca a realidade do processo eleitoral em algumas províncias. Assim, Rodrigo Marzano Munari salienta a participação popular no sistema representativo em São Paulo. O autor questiona a visão de passividade da população menos abastada da sociedade imperial. Estes indivíduos, em sua perspectiva, se configuravam como atores políticos envolvidos por vontades próprias, interferindo e agindo no processo eleitoral. Ademais, Munari chama atenção para um outro olhar que a sociedade possuía acerca do sistema representativo, pois, além do voto, participavam do processo por meio de petições, queixas ou até mesmo se armando contra a vontade dos poderosos.
Ana Paula Freitas traz em sua investigação o papel da província de Minas Gerais na estruturação do Estado Nacional, considerando a importância da participação dos deputados mineiros na Reforma Eleitoral de 1855. Deste modo, a autora destaca a importância do parlamento brasileiro no sistema representativo, ressaltando a trajetória do tema até sua aprovação. Assim, analisando os resultados da reforma no ano posterior a sua aprovação, Freitas conclui que a Lei de Círculos resultou na pluralidade do parlamento e ampliou a sua representatividade.
Trazendo o debate acerca da representação no Império brasileiro, Kátia Sausen da Motta expõe de que maneira se configurava o período pré-eleitoral e as relações entre votantes e aspirantes aos cargos políticos na Província do Espírito Santo. Revelando aspectos eleitorais da época e a particularização da localidade, a autora demonstra o empenho dos candidatos e suas estratégias para garantir a vitória no pleito. Neste sentido, salienta a utilização de chapinhas nos jornais da província com o intuito de divulgar as candidaturas.
Aproximando a escala para o Nordeste, Williams Andrade de Souza constrói a sua análise através da eleição de vereadores na Câmara Municipal de Recife na primeira metade do século XIX. O autor expõe o perfil dos candidatos e votantes, suas filiações e a representatividade emanada no município. Assim, Souza apresenta o processo eleitoral para além da manutenção das elites, manifestando as peculiaridades e os desvios do processo, propondo uma complexidade de compreensão ao tema, revelando a participação de cidadãos comuns de forma ativa no movimento. Além disso, evidencia o processo da ampliação de votantes no período e a heterogeneidade presente nos pretendentes aos cargos.
A quarta parte da coletânea se intitula “Linguagens e ideias políticas”, abordando especificamente os momentos finais do Império, debatendo a linguagem da propaganda republicana na Província do Espírito Santo e as discussões acerca da escravidão na localidade, por meio da imprensa local. Deste modo, Karulliny Silverol Siqueira traça a trajetória do republicanismo no século XIX, explicando seus diversos significados, sua heterogeneidade em práticas e de recursos linguísticos. Dessa maneira, a autora traz a especificidade da província do Espírito Santo, onde o radicalismo dificilmente aflorava, trazendo o significado do republicanismo primeiramente ao municipalismo, onde os redatores de Cachoeiro de Itapemirim reclamavam a centralidade dos monarquistas na capital da localidade.
Por fim, Geisa Lourenço Ribeiro esboça a linguagem da abolição no periódico O Constitucional, pertencente ao Partido Conservador na província. A autora propõe a revisão da retórica do jornal, pois, embora o discurso de benevolência ao fim da escravidão, a trajetória linguística do O Constitucional revelaria o contrário, expondo um abolicionismo de última hora, por conveniência. Assim, o estudo da fonte indicou uma trajetória escravista no idioma da folha, e que no fim buscou trazer para o Partido Conservador o advento da emancipação. Ademais, expõe a especificidade do abolicionismo na província do Espírito Santo, permeada por uma linguagem imbuída de moderação.
Ao analisarmos a peculiaridade da pesquisa de cada autor, não encontramos uma unidade de relações no Império, entretanto, a multiplicidade de significados políticos no território brasileiro. Esse tipo de historiografia concorda com o aspecto de Max Weber na qual a análise consiste em uma História no sentido variável, onde o indivíduo possui a direção das relações sociais no momento em que configura sua relação com o outro (DIAS; MAESTRO FILHO; MORAES; 2003). Assim, consideramos o estudo das particularidades como o estudo da criticidade sobre as macroestruturas, onde as individualidades, ao se afastarem da realidade como um todo, promoverão, uma compreensão das redes existentes para a formação dessa totalidade.
Neste sentido, consideramos obra de extrema relevância para o debate da cultura política do Império brasileiro. A análise das distintas províncias e os diversos personagens políticos promovem um entendimento dos conflitos existentes para a formação da realidade do território. Essa diversidade de conexões não confunde ou empobrece a História do Brasil Império, todavia promove uma amplitude no debate enriquecendo-o e instigando a possibilidade cada vez mais abrangente de estudo.
referências CAMPOS, Adriana Pereira; MOTTA, Kátia Sausen da; RIBEIRO, Geisa Lourenço; SIQUEIRA, Karulliny Silverol (Org.). Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos. Vitória: Editora Milfontes, 2019.
DIAS, Devanir Vieira; MAESTRO FILHO, Antônio Del; MORAES, Lúcio Flávio R. O paradigma weberiano da ação social: um ensaio sobre a compreensão do sentido, a criação de tipos ideais e suas aplicações na Teoria Organizacional. Revista de Administração Contemporânea. v.7 n.2, p. 57-71, Abr/Jun. 2003.
LUSTOSA, Isabel. O debate sobre os direitos do cidadão na imprensa da Independência.
In.: RIBEIRO, Gladys Sabina; FERREIRA, Tânia Maria Tavares Bessone (Org.).
Linguagens e práticas da cidadania no século XIX. São Paulo: Alameda, 2010.
Notas 1 O livro é resultado de debates entre pesquisadores que analisam o século XIX, cujo objetivo é transitar entre as esferas locais e o nacional. É também o desfecho das discussões ocorridas em outubro de 2018 durante o III Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos (SEO), ocorrido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
2 O autor elucida que o termo destacado foi estudado por Isabel Lustosa, quando esta tratava do tema na imprensa fluminense, cujo significado expressava às “expectativas sobre a nova Ordem”. Cf. LUSTOSA, 2010.
Drlely Neves Coutinho – Graduada em História pela Faculdade Saberes. Aluna Especial de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail:drielynevescoutinho@gmail.com.
CAMPOS, Adriana Pereira; MOTTA, Kátia Sausen da; RIBEIRO, Geisa Lourenço; SIQUEIRA, Karulliny Silverol (Org.). Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos. Vitória: Editora Milfontes, 2019. Resenha de: COUTINHO, Drlely Neves. As províncias formam um Império: a pluralidade das relações políticas no Brasil oitocentistas. Revista Ágora. Vitória, v.31, n.1, 2019. Acessar publicação original [IF].
Festival culture in the world of the Spanish Habsburgs – CREMADES; FERNÁNDEZ-GONZALEZ (RH-USP)
CREMADES, Fernando Checa; FERNÁNDEZ-GONZALEZ, Laura. Festival culture in the world of the Spanish Habsburgs. Nova York: Routledge, 2016. (Primeira publicação em 2015 por Ashgate Publishing). Resenha de: SOUTTO MAYOR, Mariana. Representações de poder, mediações do Império: festas e cerimoniais na monarquia dos Habsburgo. Revista de História (São Paulo) n.177 São Paulo 2018.
Os cerimoniais e festividades da Idade Moderna têm sido objeto de análise de pesquisadores de diversas áreas nos últimos anos. Os estudos clássicos de Jacob Burckhardt e as análises de Mikhail Bakhtin, Norbert Elias, Ernest Kantorowicz, Victor Turner, José Maravall e José Diez Borque fortaleceram a criação de um campo específico de estudos e abriram novas perspectivas para analisar os múltiplos significados presentes nas práticas representacionais que compõem um acontecimento festivo.
O livro aqui apresentado, organizado por Fernando Checa Cremades, professor da Universidade Complutense de Madri, e Laura Fernández-Gonzalez, professora da Universidade de Lincoln, dialoga com essa tradição de estudos e revela novos olhares para a análise da cultura festiva, especificamente na monarquia dos Habsburgo, através de artigos de especialistas em diversas áreas.
O trabalho surgiu de uma conferência internacional que Laura González organizou na Universidade de Edimburgo, na Escócia, sobre festividades europeias da Idade Moderna, com especial atenção ao mundo hispânico. Porém, esta edição configura um passo além da publicação de trabalhos apresentados no simpósio; o livro apresenta excelentes estudos sobre a cultura festiva da monarquia dos Habsburgo, organizados de forma a contemplar diversos aspectos das festividades modernas, sublinhando a necessidade de uma perspectiva interdisciplinar.
Os estudos contidos na publicação abrangem o amplo sistema cultural criado e desenvolvido na monarquia dos Habsburgo considerando as dinâmicas, muitas vezes complexas e contraditórias, entre as formas culturais e formações sociais.1 Os reflexos e mediações de estruturas militares, econômicas, religiosas e políticas do poderoso império que se formou no século XVI são investigados ao longo de 12 artigos.
O livro, dividido em quatro partes, ganha qualidade dando foco às particularidades da monarquia dos Habsburgo com análises de festivais em Castela, mas também em outras partes do império, como nos reinos italianos, em Portugal, nas colônias americanas, contemplando diferentes períodos históricos. Um dos pontos fortes dessa publicação está na organização dos temas em capítulos e partes, criando mediações para o leitor ao tratar de tantas questões que envolvem as festividades e cerimoniais no Império espanhol.
Outro aspecto importante, destacado pelos organizadores na introdução, é o fato de a publicação ser em inglês. Essa escolha seria estratégica do ponto de vista do alcance que o próprio livro poderia ter: se comparado aos estudos de festividades de outras monarquias europeias, há menos estudos sobre a monarquia hispânica. O livro, portanto, seria uma forma de divulgação para estimular jovens pesquisadores de todo mundo.
Para nós, brasileiros, que temos uma importante bibliografia sobre festas na América portuguesa,2 a publicação tem especial valor por afirmar a necessidade de estudos comparativos e interdisciplinares sobre festividades na Idade Moderna, como também os textos publicados nos servem de modelos de análise, complementando estudos já existentes.
A primeira parte do livro é dedicada à cultura visual, com o estudo de tapeçarias e pinturas no ambiente de corte. A escolha do tema chama a atenção pelo fato de que, em festividades públicas, a maior parte da produção de artes visuais consistia em “arte efêmera”: era produzida especialmente para o evento, não necessariamente sendo reutilizada ou reaproveitada em outras datas comemorativas. Daí a dificuldade do estudo dessas formas artísticas, pois o que chegou às nossas mãos são documentos, como gravuras e esboços, que reproduzem, com mediações, o que foi criado.
As tapeçarias, ao contrário, são objetos de arte permanentes, o que as fazem fonte primária de estudo. O primeiro artigo, intitulado “The language of triumph: images of war and victory in two early modern tapestry series”, de Fernando Checa Cremades, analisa duas séries de tapeçarias que narram campanhas militares espanholas no norte da África, do final do século XV a primeira metade do XVI, na perspectiva de suas formas e funções em cerimoniais na corte.
Para Checa, as tapeçarias The conquest of Asilah and Tangiers by Afonso V of Portugal (1475) e The conquest of Tunis (1546-1553) podem revelar o desenvolvimento da linguagem da tapeçaria na Idade Moderna. A forma “tapeçaria” surge no final da Idade Média, imitando o gênero literário das crônicas históricas. Na transposição do texto para a criação de imagens, houve o desenvolvimento de uma forma mais complexa, que se apropriou inclusive da linguagem do “triunfo militar”. Não à toa o título do artigo faz menção à forma triunfo, relacionando as tapeçarias com a representação das vitórias militares e imagens de guerra na corte dos Habsburgo.
Nas palavras de Checa, os diversos usos das tapeçarias sinalizam “a importância simbólica e representativa dada a elas”. As duas tapeçarias serviam à monarquia não só no ambiente da corte, para decorar quartos e salas de palácios, como também em festivais e celebrações de todo tipo, enquanto grandioso ornamento arquitetônico urbano. Esse uso, além de levar o ambiente de corte para a cidade, constituiu a forma moderna do “triunfo”, ao reiterar a força militar do reino e o poderio da monarquia dos Habsburgo. O estudo mais detalhado feito pelo autor será sobre a segunda tapeçaria, The conquest of Tunis, criada sob o reinado de Carlos V. O monarca soube aproveitar essa linguagem para construir e legitimar sua imagem imperial como conquistador de seus inimigos e, ao mesmo tempo, como “senhor de si e de suas paixões” – seguindo a filosofia estóica, de acordo com Checa.
O segundo texto “The cerimonial decoration of the Alcázar in Madrid: the use of tapestries and paitings in Habsburgs festivities”, de Miguel A. Zalama Rodriguez, debate o valor da tapeçaria na corte em relação com a novidade da pintura como forma de representação visual. Diferentemente de outras cortes, na monarquia hispânica, a pintura tomou o lugar da tapeçaria somente no século XVII.
Zalama narra alguns episódios da cultura da corte dos Habsburgo que nos ajudam a compreender a importância e as funções da tapeçaria nesse momento histórico como parte das coleções reais. E a partir de descrições de cronistas, Zalama oferece ferramentas para a análise do comportamento e etiquetas da corte dos Habsburgo.
Se a primeira parte do livro com o estudo das tapeçarias volta-se mais para o ambiente da corte, a segunda parte continua a investigar a linguagem do triunfo com o olhar para entradas, jornadas e suas relações com espaços urbanos na monarquia dos Habsburgo, através de cinco análises de festividades públicas em diferentes localidades do Império espanhol.
O artigo “Festival interventions in the urban space of Habsburg Madrid”, de David Sánchez Cano, através do estudo de documentos de conselhos municipais castelhanos e instruções reais, faz uma análise muito interessante sobre as transformações urbanas realizadas para as festas públicas e as conflituosas relações entre os conselhos e a corte, e entre habitantes da cidade e os poderes locais e reais.
Para que as entradas triunfais ocorressem na cidade seguindo suas formas pré-estabelecidas, era necessário a decoração da cidade, a construção dos arcos triunfais e adornos. Mas era necessário também uma infraestrutura que muitas vezes não estava de acordo com a arquitetura da cidade. O conselho ordenava então a pavimentação, fechamento e alargamento de ruas, a reforma ou demolição de casas, o reparo de fontes públicas, a construção de plateias para os espectadores, palcos para representações. Inclusive, em meados do século XVII, iniciou-se a prática de construir barreiras para separar o público da procissão principal, deixando clara a regulação do espaço público para disciplinar seus sujeitos.
O quarto capítulo, escrito por Laura Fernández-González , intitulado “Negotiating terms: king Philip I of Portugal and the cerimonial entry of 1581 into Lisbon”, faz uma ótima análise das imagens do monarca Felipe II como rei de Portugal, através do estudo de sua entrada triunfal em Lisboa em 1581.
A festividade teve grande importância nesse momento histórico para Felipe II, dada a recente conquista militar e política do reino português. Felipe II necessitava construir uma imagem para seus súditos portugueses de rei pacífico e justo e, ao mesmo tempo, poderoso e “hábil para destruir seus inimigos, incluindo, especialmente, aqueles dentro do seu reino”.
Um grande investimento foi feito para se organizar uma entrada triunfal que refletisse e construísse a imagem do monarca para o reino recém-conquistado. Mas González evidencia ao longo do texto as tensões e disputas existentes entre o monarca e os interesses das autoridades e habitantes lisboetas. Houve uma grande negociação para a organização da festa, para limitação dos gastos e, inclusive, para se decidir o estilo da celebração. Os portugueses queriam mostrar sua própria cultura festiva e, se houvesse brechas nas arquiteturas e artes efêmeras, criar discursos de contestação e protestos ao próprio monarca.
O quinto capítulo do livro, escrito por Maria Ines Aliverti, dedica-se à análise da entrada de Margarida, arquiduquesa da Áustria e rainha da Espanha, a Cremona, ducado de Milão. A autora desenvolve no texto a questão da cidade italiana que, mesmo não sendo capital de um estado territorial, conseguiu organizar uma grande festividade. A partir desse problema, Aliverti localiza Cremona como uma cidade estratégica geográfica e economicamente, seu esforço de construir uma imagem de cittá nobilíssima, e analisa a festividade a partir da história de um manuscrito e gravuras de aparatos criados por artistas locais sobre a celebração, que iriam ser publicados na forma de um livreto.
O sexto capítulo também investiga as entradas de Margarida da Áustria pelos reinos italianos, da perspectiva de sua viagem pelo estado de Milão entre 1598 e 1599. Através de uma série de documentos, como cartas e notificações oficiais, a autora, Franca Varallo, exemplifica as tensões entre as autoridades régias, as autoridades locais e os cidadãos na organização da festividade, a partir do estudo de caso da entrada de Margarida em Pavia. Varallo cria perspectivas interessantes no estudo das festas, ao materializar para o leitor as dificuldades, custos e tensões que haviam na organização das celebrações.
O artigo seguinte, “Routes and triumphs of Habsburgs power in Colonial America”, de Victor Mínguez Cornelles, faz o estudo das entradas triunfais de vice-reis no México. O autor estuda as transformações da forma triunfo desde a Roma antiga e suas funções na Idade Moderna, principalmente em relação à importância das representações do monarca em partes de seu reino onde ele nunca havia estado.
Os vice-reis, representantes do poder real na colônia, utilizavam essas entradas para criar representações de si perante os colonos. O autor analisa os processos de mudanças na criação dessas imagens. Durante os séculos XVI e XVII, aparecem nas festividades analogias entre a imagem do vice-rei com deuses e semideuses como Apolo, Atlas, Júpiter, Mercúrio e Prometeu e com heróis clássicos antigos como Hércules, Ulisses e Cadmo. O interessante é que em algumas festividades do século XVII, a associação é feita com reis mexicanos da América pré-hispânica, como Acamapichli, Quauhtemoc, Huitzlihuitl e Chimalpopocatzin.
A terceira parte do livro trata das relações fundamentais entre catolicismo e a monarquia dos Habsburgo, intitulada “Religion and empire: Processions, funerals and the Spanich monarchy”. O primeiro artigo, de Alejandra B. Osorio, examina as exéquias e proclamações de reis celebradas nos vice-reinos do México e Peru como confirmação simbólica da manutenção do poder real, mesmo que distante, através da linha sucessória, com o surgimento de um novo monarca.
Osorio evoca aqui a metáfora do corpo político para situar a colônia como parte do corpo do império e reitera a importância dos cerimoniais e festividades na América colonial para a construção de simulacros, representações e, por conseguinte, legitimação da cabeça do império: o monarca. A autora elenca alguns elementos fundamentais para o estudo das exéquias e proclamações de reis na América espanhola como, por exemplo, a escolha do espaço para realização do evento – que deveria necessariamente ser também um espaço simbólico; as relações entre autoridades locais e Coroa, através das ordenações régias; a publicação das relaciones, como parte importante para a construção da memória e propaganda da festa; a construção dos cadafalsos para serem expostos durante a procissão, que seriam espaços de memória e representação da imagem do novo monarca e de seus ancestrais, e cita exemplos de festividades na cidade de Lima, importantes como estudos de caso.
O texto seguinte, de autoria de Juan Luis González Garcia, aprofunda outras questões referentes às festas religiosas e à monarquia dos Habsburgo, a partir do estudo de celebrações hagiográficas na cidade de Madri. A imagem e a vida dos santos considerados “nacionais”, que eram propagadas nas festividades, constituíram-se formas importantes para a construção de uma moral e códigos coletivos, assim como para legitimar a monarquia católica e a imagem do monarca e da corte espanhola, formando a chamada Pietas austríaca. O autor exemplifica essas relações através da análise das festas públicas de beatificação de Ignácio de Loyola e Teresa de Jesus, que tinham também o interesse em canonizações futuras.
No décimo capítulo do livro, Sabina de Cavi analisa a construção dos aparatos efêmeros nas festas de Corpus Christi de Palermo, na Sicília, através do estudo do patronato do Senado e principalmente do vice-rei, Juan Francisco Pacheco, duque de Uceda, na organização da festividade pública, e da atuação do arquiteto Giacomo Amato (1642-1732). A partir do estudo de quatro gravuras do arquiteto de corte, a autora aponta elementos para o estudo da arquitetura barroca tardia na Sicília e suas relações com as formas espanholas.
A última parte do livro é dedicada às práticas artísticas desenvolvidas nas celebrações a serviço da monarquia dos Habsburgo, com um estudo sobre a importância da música nas atividades da Archícofradía de la Santíssima Resurrección, de Roma, em especial em procissões e celebrações de Corpus Christi, Páscoa e dias de santos. A análise feita por Noel O’Reagan, baseada em listas de gastos e pagamentos de instituições religiosas, chama a atenção para o investimento feito na contratação de trompetistas, organistas, violinistas, tenores, contraltos, baixos etc. O autor, através do estudo de relações de festividade, investiga as funções e importância dada aos músicos nas procissões.
O último artigo do livro, intitulado “Royal festivals in mid-seventeenth century Naples: the image of the Spanish Habsburg kings in the work of Italian and Spanish artists”, de Ida Mauro, explora o significado de imagens decorativas e as particularidades de suas criações nas festividades de Nápoles, sob o domínio de vice-reis espanhóis. A análise se volta para a imagem dos monarcas espanhóis projetada em cadafalsos e decorações efêmeras. Num reino em disputa, as festividades promovidas pelo vice-reinado seriam formas de legitimação e propagandística do poder real e do domínio espanhol.
Ao final da leitura, o leitor sai com um amplo panorama da cultura festiva na monarquia dos Habsburgo e com a imaginação aguçada pelas imagens e discussões presentes no livro. Obviamente, a publicação não se encerra em si mesma e nem possui a pretensão de trazer todas as discussões possíveis sobre festividades ou abranger todo o território do vasto Império espanhol. A proposta dos organizadores é realizada de forma estimulante para seus leitores, pois traz sérios estudos multidisciplinares que abarcam o complexo sistema cultural da monarquia dos Habsburgo, com o olhar focado em uma das práticas culturais mais interessantes e contraditórias da Idade Moderna: as festividades públicas e cerimoniais de corte.
Referências
JANCSÓ, Istvan & KANTOR, Iris. Festa, cultura e sociabilidade na América portuguesa, vol. I e II. São Paulo: Edusp, Hucitec, Fapesp, Imprensa Oficial, 2001. [ Links ]
WILLIANS, Raymond. Cultura. São Paulo: Paz e Terra, 2011. [ Links ]
1 Raymond Willians no livro Cultura aborda, de modo amplo, diversos aspectos que compõem um estudo de sociologia da cultura. Entre eles, Willians chama a atenção para as “formas sociais da arte” e a ideia de que a arte media elementos sociais e processos históricos. WILLIANS, Raymond. Cultura. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p. 25.
2Desde o final da década de 1980, temos uma profusão de estudos acadêmicos nas áreas de história, arquitetura, antropologia, economia, música, artes plásticas e artes cênicas sobre festas coloniais. Em 2001, foram publicados os dois volumes do livro Festa, cultura e sociabilidade na América portuguesa, organizados por István Jancsó e Iris Kantor, que possuem cerca de 50 estudos de especialistas brasileiros e portugueses sobre diversos aspectos das festividades na colônia. JANCSÓ, Istvan & KANTOR, Iris. Festa, cultura e sociabilidade na América portuguesa, vol. I e II. São Paulo: Edusp, Hucitec, Fapesp, Imprensa Oficial, 2001. E não podemos esquecer de estudos clássicos como os de Affonso Ávila, José Aderaldo Castello e Curt Lange.
Mariana Soutto Mayor – Doutoranda em Teoria e Prática do Teatro pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo. Pesquisadora do Laboratório de Investigação em Teatro e Sociedade – Lits. E-mail: marianasoutto@gmail.com.
La nación imperial. Derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos (1750-1918) | Joseph M. Fradera
La gestación de La nación imperial, obra singular y monumental que consta de 1376 páginas repartidas en dos volúmenes, es fruto de un proceso de maduración que viene a ampliar el campo de acción de varios estudios que el historiador catalán Josep María Fradera ha realizado sobre el colonialismo español decimonónico, entre los que destacan Gobernar colonias (1999) y Colonias para después de un imperio (2005). En su nuevo libro, el autor ha decidido salir del ámbito estrictamente peninsular al comprobar la similitud entre las leyes especiales ideadas por Napoleón para las posesiones ultramarinas francesas a finales del siglo XVIII y el nuevo rumbo de los imperialismos europeos y norteamericano a lo largo del siglo XIX. Las fórmulas de especialidad que Fradera localiza en los principales imperios contemporáneos se verificarían hasta las descolonizaciones iniciadas en 1947 y – algo que queda fuera de los límites cronológicos del libro sin ceñir sus intenciones intelectuales – tendrían repercusiones hasta la actualidad.
Para llevar a cabo su investigación, Fradera cuestiona las categorías de los estudios coloniales y nacionales. En un cambio de escala analítica, el historiador desvela modalidades de concesión y restricción de derechos comunes a distintos imperios, más allá del enfoque clásico y circunscrito del Estado-nación [1]. Con todo, Fradera insiste en el hecho de que su trabajo no se debe comprender como un estudio de historia comparada en la acepción usual de la disciplina, ya que su propósito, como afirma, está menos “pensado para oscurecer las diferencias” que para “razonar las similitudes de casos muy diversos” (p. 1295). En este sentido, siempre vela por matizar las categorías generales de los imperios con las especificidades propias de los espacios considerados. Esta articulación entre lo macro y lo micro le permite centrar su análisis en las experiencias respectivas de los actores de la época [2].
En palabras de Josep M. Fradera, el giro historiográfico global actual “es en algún sentido una venganza contra la estrechez que impusieron las historias nacionales, el férreo brazo intelectual de la nación-estado” [3]. No es baladí indicar que Fradera, joven militante antifranquista, dio sus primeros pasos en la Universidad Autónoma de Barcelona a inicios de los años setenta, en el contexto de la revisión historiográfica alentada por las descolonizaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial [4]. Impregnado por este cambio epistemológico y por las aportaciones más recientes de la historia global, el nuevo estudio de Fradera propone un marco interpretativo que contempla los imperios en sus interrelaciones y supera la anticuada dicotomía entre metrópolis y colonias. Siguiendo a especialistas como C. A. Bayly, Jane Burbank, Frederick Cooper y Jürgen Osterhammel, el historiador catalán quiere demostrar que los imperios desempeñaron un papel activo en la fabricación y la evolución de la ciudadanía y de los derechos, siempre con la idea de denunciar los nacionalismos contemporáneos, así como los atajos teleológicos y esencialistas que pudieron generar en el plano historiográfico.
Más allá de sus orientaciones metodológicas – e intelectuales -, La nación imperial constituye una aportación de primera importancia al ser, que sepamos, el primer estudio redactado en castellano que brinda un abanico espacio-temporal de semejante trascendencia. Al cotejar los grandes imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos entre 1750 y 1918 (con algunos apartados dedicados a Portugal y Brasil), el libro proporciona un análisis pormenorizado del proceso sinuoso que empieza con el advenimiento de la idea de libertad a raíz de las revoluciones atlánticas de finales del siglo XVIII y principios del XIX, hasta la consagración de la desigualdad a nivel mundial a lo largo de las centurias siguientes.
Uno de los designios centrales del libro es evidenciar el modo en que las tensiones que sacudieron los grandes imperios occidentales a raíz de la era revolucionaria desembocaron en la adopción de fórmulas de especialidad o de “constituciones duales”, esto es, constituciones que establecían marcos legislativos distintos para las metrópolis y las posesiones coloniales. Es más, Fradera considera la práctica de la especialidad “como la columna vertebral del desarrollo político de los imperios liberales” (p. XV). Según explica, el proceso revolucionario que arrancó con el carácter radical y universalista de la idea de libertad presente en la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 conoció una involución notable en el siglo siguiente. La reconstrucción de los imperios tras las revoluciones supuso una delimitación cada vez más marcada en términos de representación entre metropolitanos – es decir, ciudadanos masculinos de pleno derecho – y ultramarinos, cuyos horizontes igualitarios se fueron desvaneciendo a medida que avanzó el ochocientos.
Fradera sostiene que el arduo equilibrio entre integración y diferenciación descansó sobre interrelaciones constantes entre metropolitanos y coloniales. Al comparar múltiples arenas imperiales, el autor muestra también que los paralelismos de ciertas políticas de especialidad respondieron a un fenómeno de emulación en las prácticas de gobierno colonial entre distintas potencias. Por otra parte, una perspectiva de longue durée le permite comprobar que los regímenes de excepción sobrevivieron al ocaso del mundo esclavista atlántico y se reinventaron con los códigos coloniales de la segunda mitad del siglo XIX para extenderse a territorios de África, Asia y Oceanía. El título del libro, al asociar dos conceptos que no se solían pensar como un todo, sugiere, en última instancia, que las transformaciones de los imperios fueron determinantes en la forja de las naciones modernas.
El libro está estructurado en cuatro partes organizadas cronológicamente. La parte liminar resalta el carácter recíproco de la construcción de la idea de libertad entre los mundos metropolitanos y ultramarinos en los imperios monárquicos francés, británico y español durante los siglos XVII y XVIII. Los derechos y la capacidad de representación no se idearon primero en los centros europeos para ser exportados luego a las periferias, sino que se fraguaron de forma simultánea. Este enfoque policéntrico servirá de base analítica para explicitar la estrecha relación entre colonialismo y liberalismo que se impondrá tras la crisis de los imperios monárquicos en el Atlántico.
“Promesas imposibles de cumplir (1780-1830)” es el título de la segunda parte del libro. Se centra en la quiebra de los imperios monárquicos y muestra cómo la adopción de nuevas pautas constitucionales para las colonias y el advenimiento de situaciones de especialidad en el marco republicano contrastaron con los valores radicales sustentados por las revoluciones liberales de la época.
La independencia de las Trece Colonias, pese a la igualdad de principio que conllevaba, no supuso una ruptura con los patrones socioculturales instaurados por los británicos en el continente americano. La joven república norteamericana circunscribió la ciudadanía a sus habitantes blancos y libres (valga la redundancia) y estableció una divisoria basada en el origen sociorracial y el género. Indios, esclavos, trabajadores contratados y mujeres no tenían cabida en la “República de propietarios”, aunque permanecían en el “Imperio de la Libertad”.
Para Gran Bretaña, la separación de las Trece Colonias marcó un cambio de era e implicó una serie de transformaciones que llevaron la potencia a extenderse más allá del mundo atlántico – donde le quedaban, sin embargo, posesiones importantes – para iniciar su swing to the East, esto es, el desplazamiento de su dominio colonial hacia el continente asiático y el Pacífico. La administración de situaciones diversas del Segundo Imperio, que ya no se resumía a la ecuación binaria del hiato entre connacionales y esclavos, implicó tomar medidas políticas para gobernar a poblaciones heterogéneas que vivían en territorios lejanos. Entre los ejes principales del gobierno imperial, cabe destacar el papel central otorgado a la figura del gobernador y la no representación de los coloniales en el parlamento de Westminster, si bien se toleraban formas de representación a nivel local.
En Francia, las enormes esperanzas igualitarias suscitadas en 1789 fueron canalizadas dos años después con la adopción de una Constitución que sancionaba la marginalidad de los coloniales y establecía raseros distintos para medir la cualidad de ciudadano. Establecer un régimen de excepción en los enclaves del Caribe francés permitía posponer la cuestión ardiente de la esclavitud – abolida y restablecida de forma inaudita – y mantener a raya a los descendientes de africanos, ya fuesen esclavos o libres. Se postergaría igualmente la idea de una representación de los coloniales en la metrópolis.
La fórmula de “constitución dual” inventada en Francia encontraría ecos en España y Portugal. Los dos países ibéricos promulgaron sus “constituciones imperiales” respectivas en 1812 y 1822, en un contexto explosivo marcado por el republicanismo igualitario y el ejemplo de la revolución haitiana. Mientras que la Constitución española de 1812 limitaba los derechos de las llamadas “castas pardas”, los constitucionalistas portugueses hicieron caso omiso de los orígenes africanos, pero, en cambio, excluyeron a los indios de la ciudadanía. Pese a sus diferencias, los casos españoles y portugueses guardan similitudes que tienen que ver con el fracaso de sus políticas liberales de corte inclusivo en los años 1820, y con el retroceso significativo en términos legislativos que desembocarían en el recurso a regímenes de excepción a partir de la década siguiente.
La tercera parte de La nación imperial, intitulada “Imperativos de igualdad, prácticas de desigualdad (1840-1880)”, versa sobre la expansión de los imperios liberales en las décadas centrales del siglo XIX, época marcada por la estabilización de las fórmulas de especialidad y de los regímenes duales.
El imperio victoriano tuvo que encarar situaciones conflictivas muy diversas en sus posesiones ultramarinas heterogéneas. La resolución del Gran Motín indio de 1857-1858 constituyó una crisis imperial de primer orden que permitió a Gran Bretaña demostrar su capacidad de gobierno en el marco de una sociedad compleja y de un territorio enorme que no se podía considerar como una mera colonia. La India británica era, en palabras de Fradera, “un imperio en el imperio” (p. 504) que carecía de la facultad para autogobernarse y que, por lo tanto, tenía que ser administrada y representada de manera transitoria por la East India Company. El caso de las West Indies era distinto en la medida en que aquellas se podían definir como colonias. La revuelta sociorracial de habitantes del pueblo jamaicano de Morant Bay en 1865 y la sangrienta represión a que dio lugar tuvieron un impacto considerable en la opinión pública británica, ocasionando nuevos cuestionamientos sobre los efectos reales de la abolición de la esclavitud y el rumbo de la política caribeña. Como consecuencia, el Colonial Office decidió suprimir la asamblea jamaicana y conferir a la isla el estatuto de Crown Colony, lo que constituía una regresión constitucional en toda regla. La conversión de la British North America en dominion de Canadá en 1867 se resolvió de manera más pacífica, aunque la población francófona y católica sufrió un proceso de aminoración frente a los anglófonos protestantes, mientras que los pueblos indios de los Grandes Lagos perdieron sus tierras ancestrales.
Los sucesos revolucionarios de 1848 en Francia volvieron a abrir pleitos que el golpe napoleónico de 1804 había postergado. Se decretó finalmente la abolición definitiva de la esclavitud, sin resolver satisfactoriamente la situación subordinada de los antiguos esclavos. La Segunda República también heredó un mundo colonial complejo. Fue a raíz de la toma de Argel en 1830 cuando la política colonial francesa comenzó a diferenciar las “viejas” de las “nuevas” colonias. Mientras que en las primeras las personas libres gozaban de derechos políticos y de representación relativos, las segundas – a imagen de Argelia, que estaría regida por ordenanzas reales – se apartaban del espectro legislativo. En el marco de este replanteamiento imperial, se procedió a una redefinición múltiple de la ciudadanía, que se medía, entre otras cosas, según la procedencia geográfica de cada uno: metropolitanos, habitantes de las “viejas” colonias y, al pie de la escala simbólica de los derechos, habitantes de las “nuevas” colonias.
En Estados Unidos, los términos de la ecuación se presentaban de forma algo distinta. En efecto, a diferencia de los imperios europeos, las fórmulas de especialidad se manifestaron en el interior de un espacio que se entiende comúnmente como “nacional”. Con todo, dinámicas internas fraccionaron profundamente el espacio y la sociedad de este “imperio sin imperialismo” (p. 659). La expansión de los Estados esclavistas en el seno del “imperio de la libertad” constituyó una paradoja que solo se resolvería – aunque no totalmente – con la guerra de Secesión. De hecho, la “institución peculiar”, como se la llamaba, ponía al descubierto la diversidad social, étnica y cultural de una población norteamericana escindida en grupos con o sin derechos variables. La expansión de la frontera esclavista no solo concernía a los esclavos, sino que afectaba a poblaciones indias desposeídas de sus tierras y recolocadas en beneficio de oleadas sucesivas de colonos norteamericanos procedentes del Este y de europeos.
El carácter del Segundo Imperio español se aclaró con la proclamación de una nueva Constitución en 1837, que precisaba en uno de sus artículos adicionales que “las provincias de ultramar serán gobernadas por leyes especiales”. A pesar de que dichas leyes nunca fueron plasmadas por escrito, quedan explícitas en la práctica del gobierno colonial. A años luz de las promesas igualitarias de las primeras Cortes de Cádiz, las nuevas orientaciones políticas para Cuba, Puerto Rico y Filipinas pueden resumirse en una serie de coordenadas fundamentales: la autoridad reforzada del capitán general, el silenciamiento de la sociedad civil, la expulsión de los diputados americanos y la política del “equilibrio de razas” (es decir, la manipulación de las divisiones sociorraciales y la defensa de los intereses esclavistas).
La cuarta y última parte del libro, que lleva por título “La desigualdad consagrada (1880-1918)”, coincide con la época conocida como el high imperialism. Sus páginas prestan especial atención al desarrollo y consolidación de enfoques de corte racialista. El hecho de que las ciencias sociales se hicieran eco de las clasificaciones raciales propias del desarrollo de los imperios a partir de la segunda mitad del ochocientos demostraba que el Derecho Natural del siglo anterior ya no estaba al orden del día.
El mayor imperio liberal de la época, Gran Bretaña, refleja muy bien la exacerbación de la divisoria racialista con respecto al Segundo Imperio. Los discursos que defendían la idea de razas jerarquizadas se nutrieron de los debates en torno a la representación de los coloniales e impregnaron los debates relativos al imperio. Tal fue el caso, por ejemplo, de Australia, donde se excluyó de los derechos a una población tasmana diezmada por la violencia directa e indirecta del proceso de colonización. Sin embargo, conviene no olvidar que los discursos racialistas actuaron como coartada de la demarcación entre sujetos y ciudadanos.
Argelia fue una pieza esencial del ajedrez político de la Tercera República, en particular, porque se convirtió en laboratorio para las legislaciones especiales del Imperio francés. El Régime de l’indigénat representó la quintaesencia del ordenamiento colonial galo. Este régimen de excepción dirigido inicialmente contra la población musulmana de Argelia fue el broche de oro jurídico de las fórmulas de especialidad republicana hasta tal punto que fue exportado al África francesa y a la mayoría de las posesiones del sudeste asiático y del Pacífico. Esta política de marginalización y de represión propia de la lógica imperial se tiñó de acusados acentos etnocentristas para justificar la “misión civilizadora” de Francia.
La Revolución Gloriosa de 1868 llevó el Gobierno español a mover ficha en sus tres colonias. Si la Constitución del año siguiente anunciaba reformas políticas para Cuba y Puerto Rico, las islas Filipinas quedaban sometidas a la continuidad de las famosas – e inéditas – “leyes especiales”. El ocaso del sistema esclavista explicaba en buena medida el cambio de rumbo colonialista en los dos enclaves antillanos, así como sus dinámicas propias. El archipiélago filipino pasó por un proceso de transformación económica, acompañado de reformas locales de alcance limitado y por una racialización política cada vez más intensa. Los fracasos ultramarinos de la España finisecular tendrían repercusiones en el espacio peninsular con la exacerbación de no pocos afanes de autogobierno a nivel regional.
Estados Unidos conoció serias alteraciones en su espacio interno tras la Guerra Civil. La reserva india, que emergió en el último tercio del siglo XIX, era un zona de aislamiento cuyos miembros no gozaban de derechos cívicos y a los se pretendía incluir en la comunidad de ciudadanos mediante políticas de asimilación. En este sentido, las reservas eran espacios de la especialidad republicana. La victoria de los unionistas distó mucho de significar la superación del problema esclavista y, sobre todo, de sus secuelas. El hecho de que el voto afroamericano se convirtiera en realidad en el mundo posterior a 1865 – conquista cuya trascendencia conviene no subestimar – no impidió que las elites políticas blancas siguieran llevando las riendas del poder, tanto en el Norte como en el Sur. En los antiguos Estados de la Confederación, ya no se trataba de mantener la esclavitud, sino de preservar la supremacía blanca. La segregación racial, que se puede asemejar a una práctica de colonialismo interno, contribuyó a instaurar situaciones de especialidad en las que los afroamericanos serían considerados como súbditos inferiores. En el ámbito externo, el fin de siglo sentó algunas de las bases futuras de este “imperio tardío” (p. 1276). Estados Unidos expandiría sus fronteras imperiales al ejercer su dominio sobre las antiguas colonias españolas y al formalizar el colonialismo que practicaba de hecho en Hawái y Panamá.
Resulta difícil restituir de forma tan sintética los mil y un matices delineados con una precisión a veces quirúrgica en los dos gruesos volúmenes que componen La nación imperial. La elegancia del estilo, la erudición del propósito y los objetivos colosales del libro – que se apoya en una extensa bibliografía plurilingüe – acarrean no pocas repeticiones. Pese a una edición cuidada, se echa en falta la presencia de un índice temático (además del onomástico) y de una bibliografía al final de la obra. Estos escollos, que incomodarán sin duda al lector en busca de informaciones y análisis sobre temas específicos, no cuestionan de modo alguno el hecho de que La nación imperial sea un trabajo muy importante y sin parangón.
Creemos que Josep María Fradera ha alcanzado su objetivo principal al mostrar, como indica en sus “reflexiones finales”, que “la crisis de las ‘monarquías compuestas’ (…) no condujo al Estado-nación sin más, sino a formas de Estado imperial que eran la suma de la comunidad nacional y las reglas de especialidad para aquellos que habitaban en los espacios coloniales” (p. 1291). Otra de las grandes lecciones del libro es que el etnocentrismo europeo no basta para explicitar el modo en que se articularon definiciones y jerarquizaciones cada vez más perceptibles de las poblaciones variopintas de imperios cuyas fronteras políticas, sociales y culturales fueron mucho más borrosas de lo que se suele pensar. El racismo biológico a secas nunca estuvo en el centro de las políticas imperiales, aunque pudo manifestarse puntualmente para justificar algunas de sus orientaciones. Lejos de responder a esquemas estrictamente dicotómicos, las lógicas imperiales, además de relaciones de poder evidentes, estuvieron condicionadas por una tensión permanente en cuyo marco la capacidad de representación – por limitada y asimétrica que fuese -, la sociedad civil y la opinión pública fueron decisivas. En última instancia, el largo recorrido por las historias imperiales invita a adoptar una mirada más crítica acerca de problemáticas tan actuales como el lugar ocupado por ciudadanos de segunda categoría en el interior de antiguos mundos coloniales que no han resuelto las cuestiones planteadas por el despertar de los nacionalismos, la inmigración de nuevo cuño y la construcción de apátridas modernos.
Notas
1. Al respecto, véase Jane Burbank y Frederick Cooper, “Empire, droits et citoyenneté, de 212 à 1946”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 3/2008, pp. 495-531.
2. Sobre el valor heurístico del vaivén entre varias escalas de análisis puede consultarse el estudio de Romain Bertrand, “Historia global, historias conectadas: ¿un giro historiográfico?”, Prohistoria, 24/2015, pp. 3-20.
3. Josep M. Fradera, “Historia global: razones de un viaje sin retorno”, El Mundo, 04/6/2014 [http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/06/04/538ed57f268e3eb85a8b456e.html].
4. Jordi Amat, “Josep María Fradera y los estados imperiales”, La Vanguardia, 23/5/2015.
Karim Ghorbal – Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, Universitéde Tunis El Manar (Tunísia). E-mail: karim.ghorbal@issht.utm.tn
FRADERA, Joseph M. La nación imperial. Derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos (1750-1918). Barcelona: Edhasa, 2015. 2 vols. Resenha de: GHORBAL, Karim. Los imperios de la especialidad o los márgenes de la libertad y de la igualdad. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 287-295, set./dez., 2016.
Festas Chilenas: sociabilidade e política no Rio de Janeiro no ocaso do Império | Jurandir Malerba, Cláudia Heynemann e Maria do Carmo Teixeira Rainho
Em 1965, Dona Ivone Lara, Silas de Oliveira e Bacalhau cantaram, em samba-enredo do Império Serrano, uma história dos grandes bailes da história da cidade do Rio de Janeiro.[1]2 Um dos destacados pelos compositores, o último d'”Os cinco bailes da história do Rio”, era o baile da Ilha Fiscal, que o governo da monarquia promoveu em 9 de novembro de 1889 em homenagem à visita de oficiais chilenos ao país – poucos dias antes, portanto, do fim do regime. O tema não era novidade para a escola: em 1953 o Império ficou na segunda colocação no desfile com o samba “O último baile da Corte imperial”, assinado por Silas de Oliveira e Waldir Medeiros. Em 1957, foi a vez da Unidos de Vila Isabel relembrar a efeméride, indo para a avenida com o samba “O Último Baile da Ilha Fiscal”, de Paulo Brandão, ainda que sem tanto sucesso. A presença do baile da Ilha Fiscal nos três sambas sugere sua força como marco para a memória urbana do Rio de Janeiro.
O último e nababesco baile da monarquia brasileira ressurge no livro Festas Chilenas: sociabilidade e política no Rio de Janeiro no ocaso do Império (EdiPUCRS, 2014), organizado por Jurandir Malerba, Cláudia Heynemman e Maria do Carmo Rainho. O livro reúne artigos de especialistas nas mais diversas áreas (moda, música, gastronomia, esportes e política) sobre uma notável coleção de documentos que o capitão de fragata José Egydio Garcez Palha organizou recolhendo menus, carnês de bailes, partituras musicais e comentários variados na imprensa sobre o baile, seus participantes e seus promotores. Recolhida entre 1889 e 1891, a coleção pertence desde 1930 ao Arquivo Nacional.
Um dos pontos destacados pelos organizadores na apresentação da obra reside no farto manancial de informações sobre diferentes aspectos do fazer cotidiano da cidade que se queria moderna. Desde nuances do fazer da mais alta política em suas recepções diplomáticas aos cochichos e maledicências sugeridas na imprensa, passando pelas preferências estéticas da elite imperial em sua frequência a casas da moda, cabeleireiros e confeitarias, a coleção realça a grandiosidade daquele baile sob a ótica dos personagens da própria época. Mesmo quem não esteve entre os aproximadamente 4 mil presentes à grandiosa festa pôde sentir de perto a grandeza do momento. Do Cais Pharoux dava para apreciar a suntuosidade da Ilha Fiscal fartamente iluminada por fogos de variadas cores, 700 lâmpadas elétricas e 60 mil velas. Do cais, ademais, partiam as damas e senhores da sociedade rumo ao baile.
A recepção aos chilenos se estendeu para além do baile, tendo durado dois meses. Nesse tempo, um interlúdio: a república fora proclamada bem no meio da visita dos convidados daquele país, chegados ao Rio em meados de outubro e partindo da cidade em finais de novembro. Em que pese a mudança de regime, mantiveram-se as variadas atividades propostas aos ilustres visitantes. Não fosse a república, teriam ainda as conversas sobre o baile rendido mais um tanto? Seja como for, o fato é que, 15 de novembro à parte, a grandeza do ultimo baile da monarquia imprimiu sua marca indelével na memória da cidade.
“Dê-me um pouco de magia, de perfume e fantasia e também de sedução”: impressões sobre as festas chilenas.
No livro, os capítulos de autoria de Victor Melo, Carlos Sandroni, Laurent Suaudeau, Carlos Ditadi e de Maria do Carmo Rainho apresentam por meio da análise da imprensa o que os organizadores chamam de “clima de opinião”. De fato, brotaram comentários os mais variados nos jornais da cidade, incluindo a observação de costumes e práticas de elite não tão bem assimiladas por alguns dos convidados presentes no baile. Algo a se estranhar, a princípio, pois segundo Melo, coordenador do Laboratório de História e do Esporte e Lazer da UFRJ, “a cidade já estava acostumada e apreciava atividades públicas” de monta, desde teatros ao turfe e ao remo, passando por festividades religiosas e sociedades dançantes (p. 118-119; 158).
De fato, se nos fiarmos no samba de Ivone, Silas e Bacalhau, a tradição festiva da cidade vem de longe. Segundo o musicólogo Carlos Sandroni, na ausência de formas de comunicação como o rádio, eram as bandas musicais, geralmente militares, que embalavam as festas, numa mobilidade impressionante que lhes permitia tocar em locais diferentes no mesmo dia. Sua onipresença não marcaria apenas a importância e formalidade de ocasiões solenes. Pelo contrário, elas botavam as pessoas para dançar. No baile de Ilha Fiscal tocou-se de tudo: quadrilhas, valsas, polcas e lanceiros animaram os presentes madrugada adentro, até quase o sol raiar, prática comum, aliás, em outros bailes frequentados pelos cariocas (p. 138-140).
Ao som da música, o detalhe das práticas ditas civilizadas – inclusive porte e vestimenta adequados para as danças – passava como forte signo de distinção, aspecto que apontava proximidades políticas e maneiras de inclusão no regime, tema que perpassa toda a obra. Victor Melo, em capítulo sobre as práticas esportivas, apresenta as disputas entre grupos de elite por receber a comissão chilena em seus clubes de remo e de turfe, preferência entre os cariocas mas que dividia as elites. Esses clubes serviam de ponto de encontro e aproximação entre grupos de preferência política comum, como republicanos ou monarquistas, respectivamente (p. 121; 129). Idem para o porte nessas ocasiões ou mesmo à mesa: estima-se que o refinadíssimo banquete oferecido aos chilenos no baile da Ilha Fiscal tenha custado aos cofres públicos 250 contos de Réis, segundo Suaudeau, que é chefe de cozinha, e Debati, pesquisador no Arquivo Nacional, quase 10% do orçamento da província do Rio (p. 162). Repleto de iguarias da culinária estrangeira, especialmente francesa, o banquete foi alvo de crítica de parte da imprensa pelos seus custos e também pelo pouco apreço às “iguarias puramente brasileiras”, segundo matéria n’O Paiz (p. 166). Convidados e garçons também foram alvo da crítica de jornalistas: homens fumando, conversando alto, acotovelando as senhoras, atirando restos de comida ao chão receberam comentários reprovadores. Assim como os criados, considerados desleixados e um tanto “esquecidos” (p. 107, 165). As senhoras não foram poupadas: entre os objetos encontrados após o baile, havia até mesmo espartilhos e “algodões em rama”, usados por debaixo dos espartilhos para dar corpo às mulheres (p. 107). Ao que parece, os algodões perdidos – e que demandavam o manejo, digamos, mais complexo da vestimenta feminina – não foram poucos, segundo Sandroni (p. 144). Não haveria ocasião melhor para manejos mais quentes. Afinal, a proximidade de corpos em danças regradas (ou nem tanto) realçava um tipo particular de experiência sensual que legava às senhoras assíduas frequentadoras de baile a “fama de assanhadas”.
A falta de civilidade pareceu quase geral, segundo observadores, incluindo a adequação da roupa à ocasião. Perder espartilhos não era pouca coisa: frequentada como foi por “senhoras e cavalheiros da fina flor fluminense” (p. 144), festas como a oferecida aos chilenos inscrevem-se, segundo Rainho, especialista em História da Moda, numa “cultura das aparências” que ganhava força entre a elite carioca especialmente nos anos finais do Império. O baile da Ilha Fiscal gerou um apagão no comércio de modas na cidade: não havia costureiras, maisons e cabeleireiros suficientes para tanta dama convidada. Ao mesmo tempo que manuais de etiqueta ensinavam cada vez mais a circunspecção feminina, as roupas atuavam como um poderoso meio de sedução que não cabia nesses manuais (p. 199).
“Algo acontecia, era o fim da monarquia”: aproximações entre cultura e política.
Segundo Rainho, além do mais, algo chamava a atenção nos comentários na imprensa sobre o grandioso baile: a ausência de comentários sobre a vestimenta dos oficiais chilenos (p. 201). Sebastião Uchoa Leite, poeta e ensaísta, em texto originalmente publicado em 2003 para o projeto que deu origem ao livro, apresenta um ponto interessante nesse sentido. Em grande parte dos comentários e reportagens sobre a recepção dos chilenos havia “um clima de oposição crítica ao próprio status quo reinante no país” (p. 101).
“Espécie de miragem”, ainda segundo Leite, o baile teria sido o ponto culminante do significado das “festas” para a monarquia. A observação não deixa de ser paradoxal, dado que a corte de Pedro II era avessa a grandes festividades. Jurandir Malerba, professor da PUCRS, lembra que o último baile no Paço Imperial ocorrera em 1852 após o encerramento das atividades do Parlamento (p. 39). Nesse ínterim, a família imperial teria se contentado com apresentações teatrais um tanto amadoras e para poucos convidados. No que Malerba lança uma hipótese interessante: considerando a destreza política de Dom Pedro II e sua saúde já frágil que cada vez mais servia como justificativa para seu distanciamento da condução direta da política nacional, o baile da Ilha Fiscal pode ter sido calculado para encenar “o grand finale de seu reinado” (p. 42-43).
Minuciosamente representado como signo de civilização em terras americanas, o Império do Brasil apresentava também seu lado moderno por meio de sua capital, o Rio de Janeiro. Cláudia Heynemann, supervisora de pesquisa no Arquivo Nacional, chama atenção para o vasto roteiro de visitas da comissão chilena, que em muito se aproximava daqueles propostos por livros de viagem do oitocentos (p. 57). Malgrado a presença de alguns problemas como calçamento e arborização, o processo de modernização pelo qual passava a cidade na segunda metade do XIX entrelaçava natureza e cultura por meio de obras como as do Passeio Público, do Campo da Aclamação e do Jardim Botânico (p. 65), uma modernidade ao mesmo tempo pedagógica e disciplinar (p. 70). Cidade já bastante grande, que contava com 226 mil pessoas livres e quase 5 mil escravos segundo o censo de 1872, o Rio de Janeiro se complexificava: novos bairros foram criados, acompanhados pela expansão do serviço de trens e bondes. Novas práticas de sociabilidade surgiam a seguir marcadas por hábitos europeizados, segundo Vivien Ishaq, doutora em história. A rua do Ouvidor mantinha o cetro de polo dos modismos e do bom gosto, mas cada vez a cidade também se dividia em várias se considerarmos os usos distintos dos espaços pelos grupos de diferentes camadas da sociedade (p. 81-84).
Em comum a todos os artigos de Festas Chilenas está o destaque para o baile como espaço de autorrepresentação tanto das elites imperiais quanto do próprio regime: esse ponto é especialmente destacado por Sebastião Uchoa Leite e Jurandir Malerba. Leite, ao sublinhar aspectos políticos de ocasiões festivas, neste caso por meio da imprensa através das críticas a usos e maneiras apresentados no baile, afasta o caráter “ameno” da ocasião. Houve encontros entre os aproximadamente 4 mil presentes mas havia também tensões (p. 109-110), presentes já no momento de seleção dos convidados. Malerba, ao realçar o baile como momento político, o faz invertendo o argumento recorrente de que a monarquia apostava, ali, no início de um esplendoroso terceiro Reinado, sob a batuta de Isabel e secundada por seu esposo, o conde d’Eu. Para o autor, o baile foi um último lance político mas com repercussões na esfera da cultura: era a memória da monarquia que estava em jogo.
Malerba distancia-se, assim, do argumento de José Murilo de Carvalho de que o baile teria sido um “golpe de publicidade” pró-continuidade monárquica, pensado por este autor em grande medida a partir de obras ficcionais de Machado de Assis. Em sua argumentação, Malerba oferece ao monarca (e ao regime como um todo) o papel de agente de sua história – e da representação da memória de seu reinado. Ainda que lançado como hipótese, o argumento é interessante na medida em que se aproxima de discussões mais recentes no campo da cultura acerca de sua percepção como manancial de estratégias referendadas pelo contexto, e não como um todo encerrado em si mesmo (segundo uma concepção vulgar e equivocada, porém corrente, de sistema).
Na esfera da historiografia contemporânea, a micro-história propõe um importante debate nesse sentido. Sua aproximação com a antropologia, especialmente aquela proposta por Clifford Geertz, promoveu o entendimento da cultura como um campo no qual o sentido dos símbolos deve ser entendido na análise de situações sociais específicas – é exemplar a “descrição densa” da briga de galos balinesa proposta por Geertz.[2] Mais especificamente, a micro-história investe seu esforço de análise nas ressignificações dos símbolos em situações de disputas sociais, tendo em vista a reflexividade dos sujeitos e sua capacidade de ação racional – como não se lembrar, por exemplo, do pensamento do moleiro Menocchio, estudado por Carlo Ginzburg?[3] Para Giovanni Levi, em artigo de revisão das tendências de análise na micro-história, “a abordagem micro-histórica dedica-se ao problema de como obtemos acesso ao conhecimento do passado [tomando o] particular como seu ponto de partida […] e prossegue, identificando seu significado à luz de seu próprio contexto específico”.[4] Longe da dicotomia que prevaleceu em discussões sobre agência e estrutura ou, de modo mais específico, entre cultura e política, Festas Chilenas lança um olhar sobre a esfera cultural que em muito se alimenta do próprio contexto político. Embora o imperador não ofertasse bailes de monta havia décadas, isso fazia parte do script do fazer monárquico. A suntuosidade da ocasião parecia acenar, assim, menos para o futuro que para o passado de grandiosidade da própria monarquia.
O samba do Império Serrano traz tais elementos para dentro da cena: “o luxo, a riqueza, imperou com imponência” ainda no baile da Independência. No baile da Ilha Fiscal se brindava “aquela linda valsa, já no amanhecer do dia”. “Iluminado estava o salão, na noite da coroação” de Pedro II. Acompanhando os cinco grandes bailes da cidade eleitos pelos compositores, dois localizam-se nos tempos do reinado de Pedro II. Ainda que o recurso ao fausto das festas apresentadas no samba tenha relação com a própria lógica de composição interna do samba-enredo, que ganhava novo formato especialmente nas mãos de Silas de Oliveira,[5] na memória urbana do Rio de Janeiro aquele momento parecia estar encravado como digno de rememoração. Não foi esse o único samba, aliás, a lembrar o baile: mesmo que o samba de 1953, também de Silas, tenha sugerido que nem imperador nem a corte esperavam o fim da monarquia, o esplendor do baile agradara a todos, inclusive os homenageados.[6]
Na esteira da hipótese de Malerba, que vê o baile como grand finale à luz do modus operandi do regime monárquico e de suas lógicas de formação de laços centralizados na figura de Pedro II (“não se faz políticas sem bolinhos”, lembrava o barão de Cotegipe), seria interessante perceber as inscrições desse último movimento do regime não apenas na memória da cidade, mas na memória popular urbana do Rio. Mesmo que todos os artigos da obra considerem, por exemplo, matérias em jornais como expressão de olhares algo debochados e um tanto críticos do baile, da elite imperial e do regime em si, a aproximação dessa perspectiva com outras do restante da população da cidade poderia iluminar mais o argumento central. Poucos anos mais tarde João do Rio chamaria a atenção para a forte presença de símbolos imperiais entre a população pobre e negra da capital da agora república.[7] Os grupos de capoeiras que desmantelavam conferências de republicanos e, após a abolição, a própria guarda negra suscitavam temor frequente entre os grupos aderentes ao novo regime instaurado enquanto os chilenos nos visitavam. Embora nossas fontes disponíveis não o expressem de maneira discursiva, alguns aspectos da cultura popular da cidade parecem ter alguma coisa a nos dizer sobre os significados não só do último baile da monarquia, mas do regime monárquico como um todo, mais tarde cantados “em sonho” na memória urbana carioca.
Notas
1. Vale escutar o áudio do samba-enredo da escola daquele ano, de autoria dos três, intitulado “Os cinco bailes da história do Rio“. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=laEBlDSZQZc . Acesso em 10 de abril de 2016.
2. GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas.Rio de Janeiro: LTC, 2008.
3. GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes:o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
4. LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. In BURKE, Peter (org). A escrita da história:novas perspectivas. São Paulo: EdUNESP, 1992, p. 154-155.
5. VALENÇA, Rachel; VALENÇA, Suetônio. Serra, Serrinha, Serrano: o império do samba. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1981.
6. Ver, por exemplo, a crônica “Os Tatuadores”, no livro A alma encantadora das ruas:crônicas. Organização de Raúl Antelo. São Paulo: Companhia das Letras. 2008.
7. Ver, por exemplo, a crônica “Os Tatuadores”, no livro A alma encantadora das ruas:crônicas. Organização de Raúl Antelo. São Paulo: Companhia das Letras. 2008.
Carlos Eduardo Dias Souza – Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo – USP São Paulo, SP, Brasil. E-mail: kdudiaz@gmail.com
MALERBA, Jurandir; HEYNEMANN, Cláudia; RAINHO, Maria do Carmo Teixeira (Orgs.). Festas Chilenas: sociabilidade e política no Rio de Janeiro no ocaso do Império. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2014. Resenha de: SOUZA, Carlos Eduardo Dias. O quinto baile da história do Rio. Almanack, Guarulhos, n.13, p. 210-214, maio/ago., 2016.
War/ Religion, and Empire: The Transformation of International Orders | Andrews Phillips
The issue of international orders is a specially pressing one in the field of International Relations. Orders change with times, either being transformed by circumstances and/or being outrightly abandoned and substituted with another such form. Notwithstanding, these shifts bring in their wake very important consequences and can even change completely the way peoples, nations, polities and states view themselves in relation to each other and in raletion with the world.
No matter how one sees international orders, which are understood by Phillips as an ensemble of constitutional norms and institutions through which co-operation is fostered and conflict undermined and contained between different polities, it is difficult to play down their importance to International Relations, as a discipline, and as a practice. That is precisely the theme adressed by Phillips in his book. The author adresses three bascic questions in this work: 1) what are international orders?; 2) what elements contribute to and can be held accountable for their transformation?; 3) and how can they be maintained even when faced by violent shocks challenges? Drawing on two basic empirical cases, Christendom and Sino-centric East Asian order, he contends that, despite their idiosyncrasies, both cases share some common characteristics. Based on theses common elements the builds his conception of order which is, to some extent, a synthesis exercise between the constructivist and realist traditions of IR. Leia Mais
Nostalgia Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado | Ricardo Salles
Publicado pela primeira vez em 1996 e reeditado em 2013, o livro Nostalgia Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado, do historiador Ricardo Salles, apresenta uma consistente reflexão intelectual, de matriz marxista, sobre o Estado imperial no século XIX. Encarando a história como práxis, o autor privilegia os conceitos gramscianos de bloco histórico e hegemonia para produzir uma história total capaz de ressaltar as articulações entre as esferas política, econômica e cultural. O resultado é um belo livro que reflete sobre a construção da nação brasileira no século XIX a partir de 3 fatores principais: o recrudescimento da escravidão, a formação de uma cultura nacional de caráter oficialista, e as inter-relações entre capitalismo, liberalismo e escravidão.
A partir da experiência vivenciada com a aprovação do plebiscito sobre o sistema de governo a ser empregado no Brasil (monarquia ou república) no início dos anos 1990, Ricardo Salles constata a existência de uma “nostalgia imperial” na consciência coletiva dos brasileiros. Tal sentimento, difuso entre as camadas populares e acentuado nas elites intelectuais, se basearia na percepção de que “houve um tempo [o Império] em que o Brasil era mais respeitável, mais honesto, mais poderoso”(p. 18). Como este sentimento foi construído no imaginário social brasileiro? Quais circunstâncias históricas atuaram neste processo? Por que com mais de cem anos de existência a república não foi capaz de reverter esta imagem?
Estas perguntas guiam o autor ao longo dos cinco capítulos que compõem o livro. Como fios condutores, são uma escolha inteligente para tratar das múltiplas partes – cultura e imaginário social; política e formação da classe senhorial; liberalismo, escravidão e capitalismo – que compõem o todo, o edifício imperial, sem abrir mão de sua complexidade. O resultado é uma narrativa de grande erudição, que discute com as historiografias sobre a formação do estado nacional, escravidão, capitalismo, ao mesmo tempo em que é capaz de transitar entre os universos micro e macro para apresentar uma interpretação geral do Império.
A chave explicativa apresentada por Ricardo Salles para o sentimento nostálgico em relação ao Império é, ela própria, um fenômeno complexo. Na visão do historiador, a limitação das oligarquias tradicionais em consolidarem a obra republicana, até pelo menos os anos 1930, não explica a força da monarquia na “esfera mítica da história nacional”. Ao contrário, a imagem positiva do Império se deveu a três aspectos fundamentais. Primeiro, após o 15 de novembro, políticos, intelectuais e historiadores ligados à monarquia – a exemplo de Capistrano de Abreu, visconde do Rio Branco, Pedro Calmon, Oliveira Vianna e outros – combateram a república com um discurso que reforçava seu caráter excludente e exaltava os progressos do Império, como estratégia de crítica ao novo regime. Segundo, o próprio estado imperial foi bastante eficiente ao produzir uma dada imagem de si mesmo que dialogasse com o passado, o presente e o futuro da nação. Desta forma, a “nostalgia imperial” não se resumiria à obra destes historiadores, políticos e ensaístas. Ela seria fruto do investimento do estado em setores estratégicos a exemplo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Imperial Academia de Belas Artes e artistas ligados ao movimento romântico. Terceiro, o ideal de civilização imperial que, durante a vigência da monarquia, tinha a escravidão como base, não foi desarticulado com a República. A crítica moral à escravidão, efetivada internamente pelo movimento abolicionista e externamente por diversos setores internacionais, não trouxe a superação das mazelas da escravidão. Mesmo tendo impedido a reprodução do regime escravocrata no Brasil, a abolição não conseguiu remover a noções de diferença e hierarquia da base de nosso edifício social. Como resultado, em pouco tempo, foi possível aos grandes proprietários rurais recomporem suas forças garantindo mão de obra barata e primazia na ocupação dos poderes locais. Assim, a espoliação da cidadania e a exclusão econômico-social se mantiveram no tempo e nos anos de 1990 permaneciam na base do sentimento de “nostalgia imperial”.
No que compete às discussões sobre a construção do estado, o projeto político e a cultura imperial, o livro de Ricardo Salles retoma a interpretação de Ilmar Mattos em “Tempo Saquarema” (1987) e concebe os processos de construção e consolidação do Estado imperial como elementos interligados e concomitantes à constituição de uma hegemonia de classe: a dos senhores de escravos. Segundo ele, este grupo era formado por grandes proprietários de escravos e terras, principalmente da região sul-fluminense, cujos interesses se viram representados pela política conservadora a partir dos anos de 1840. Neste contexto, coube à chamada classe dirigente expandir os ideais de “manutenção da ordem” escravocrata e “expansão da civilização” (baseada em ideais europeizantes) de modo a transformá-los em valores e práticas inerentes ao próprio Estado Imperial.
Este projeto vitorioso foi conduzido e produzido por intelectuais vinculados tanto à fração dirigente da classe dos senhores, os grandes proprietários fluminenses, quanto ao próprio aparelho estatal. Contudo, na análise apresentada, o autor ressalta os diversos interesses políticos, econômicos e sociais em jogo. Afinal, para que a sociedade escravista imperial se efetivasse foi necessário “o deslocamento crescente do nível de realização dos interesses da classe dominante escravista do plano imediato da produção e manutenção direta das relações de produção” (p. 39) para o âmbito do estado. A política implementada pelos políticos conservadores a partir do Regresso conseguiu realizar uma acomodação entre as diferentes forças políticas e sociais em torno dos projetos de preservação da escravidão e de fortalecimento do aparato estatal (p. 52). Atuando como importante amálgama dos interesses das classes dirigentes, a escravidão se desenvolveu de forma original e plena no Brasil oitocentista, além de favorecer a expansão do capitalismo no mundo. Todavia, para além dos aspectos políticos e econômicos, o projeto escravista imperial foi capaz de criar um conjunto de valores próprios, uma base cultural, um modo de vida em particular a que Ricardo Salles denominou de “civilização imperial”.
Pensadas por este prisma, as noções de civilização imperial e cultura nacional se interpenetram. No que compete à cultura nacional em formação, dois aspectos são ressaltados pelo autor: a valorização de elementos ligados à herança colonial (tais como língua, cultura, influências africana e indígena) e a produção de singularidades através da cultura letrada com destaque para o romantismo e o indianismo (p. 65). Como resultado, verificou-se uma produção cultural obstinada em desenhar “a cor local”, “o que nos era próprio”, resultando num discurso que valorizava as heranças rural, africana, indígena e portuguesa (p. 91), respaldadas num forte caráter oficialista. Todavia, neste processo, também foi importante manter um diálogo com a modernidade, horizonte de civilização e progresso, que tinha Europa como o modelo a ser seguido. Portanto, no plano discursivo, o Império se pretendia “uma civilização europeia transplantada para a América”. A cultura imperial que daí emergiu foi fruto desta expectativa somada à prática cotidiana da escravidão.
Embora a interpretação gramsciana da dinâmica política e social do Império aproxime as análises de Ricardo Salles e Ilmar Mattos, é importante apontar que o peso dado pelo primeiro às relações escravistas e ao papel dos escravos como agentes fundamentais no entendimento da sociedade oitocentista (a exemplo de seu papel nos diversos abolicionismos, nos movimentos nativistas, e em suas próprias rebeliões) os diferencia. Além da forma de exploração, símbolo de poder e status social, para Ricardo Salles a escravidão negra é constituidora das formas de agir, sentir e pensar da sociedade imperial. Sua manutenção era o ponto de interseção entre os membros da classe senhorial, cujos interesses serviram de base para a consolidação de uma hegemonia de classe forjada no próprio processo de construção das instituições políticas e do estado imperial, mas também a força material do Império.
Mais do que um aspecto interno, “a escravidão estava na raiz do mundo moderno” (p. 95) e colocava o Brasil na rede de relações comerciais vigentes. Na posição de países exportadores, Brasil e sul dos Estados Unidos desenvolveram organizações políticas complexas para garantirem a manutenção do regime escravista em seus territórios. Os produtos primários ali gerados (café, açúcar, algodão e outras commodities) a baixos preços representavam grandes negócios, envolviam imensas somas de capital e investimentos em tecnologias com o intuito de aumentarem a produção e manterem as áreas de produção integradas ao sistema capitalista. Tais aspectos permitiram o florescimento de civilizações em que o liberalismo e os valores a ele ligados (indivíduo, cidadania, direitos políticos e direito de propriedade) puderam se desenvolver de modo específico, na maior parte das vezes, atendendo aos propósitos da classe dominante.
A escravidão era, portanto, a matriz fundadora e estabilizadora da sociedade imperial. Quando, a partir dos anos de 1870, a mesma passou a sofrer forte crítica no cenário internacional e sua contestação se expandiu no âmbito interno através da fuga de escravos e do movimento abolicionista, instaurou-se uma crise de hegemonia. Ricardo Salles explica este processo como decorrente de dois fatores principais. Em primeiro lugar, o fim do tráfico no Brasil possibilitou a composição de uma “escravidão madura” em torno da década de 1860. Ou seja, o número de escravos crioulos era maior do que de africanos, proporcionando uma maior integração dos mesmos ao extrato cultural vigente. Em segundo lugar, a elevação do preço dos escravos ocorrida após 1850 causou uma concentração desta mão de obra fazendo com que, a defesa da escravidão deixasse de ser um interesse da maioria dos brasileiros para se tornar um privilégio de alguns poucos grandes proprietários fluminenses. Neste ambiente, o Império se mostrou incapaz de atender às necessidades de uma sociedade em modernização econômica, expansão demográfica e com um leque ampliado de demandas sociais. Em pouco tempo, a crise de hegemonia encontraria a crise política. O fim do regime monárquico estava próximo.
O livro em tela é por tudo o que foi dito, uma instigante leitura onde narrativa, teoria e práxis ocupam espaços privilegiados na construção de um modelo explicativo para a formação e consolidação da nação no Brasil. Trata-se de uma obra obrigatória para os estudiosos do Oitocentos e para todos aqueles que se interessam pelas questões referentes à construção do estado. Mas, não somente isso. “Nostalgia Imperial” também instiga a pensar sobre como a exclusão é constitutiva de nossa sociedade atual. Aponta como a matriz escravista produziu afastamentos históricos entre povo e cidadania, entre povo e estado/nação, até hoje presentes. Para os interessados, fica o convite à reflexão.
Mariana de Aguiar Ferreira Muaze – Professora adjunta III no Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio – Rio de Janeiro/Brasil). E-mail: mamuaze@gmail.com
SALLES, Ricardo. Nostalgia Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado. Rio de Janeiro: Editora Ponteio, 2013. Resenha de: MUAZE, Mariana de Aguiar Ferreira. As partes e o todo: uma leitura de “Nostalgia Imperial”. Almanack, Guarulhos, n.7, p. 165-168, jan./jun., 2014.
City, Country, Empire: Landscapes in Environmental History – DIEFENDORF; DORSEY (PHR)
DIEFENDORF, Jeffry M.; DORSEY, Kurk (Eds). City, Country, Empire: Landscapes in Environmental History. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2005. Resenha de: SEARBY, Rose. Public History Review, v.14, 2007.
Jeffry Diefendorf and Kurk Dorsey’s edited collection of essays, City, Country, Empire: Landscapes in Environmental History, is ambitious in undertaking to broaden the relevance and appeal of environmental history for historians and provide significant directions and challenges for the field. At the heart of the collection of fifteen essays is the examination of the way human societies create concepts of nature and work with them to expand ideas about cities and landscapes.
By dividing the thoroughly researched, strong essays into the topics of cities, countryside and empire, Diefendorf and Dorsey illustrate the diversity of current research in environmental history whilst at the same time establishing a continuum amongst it as they take the reader from ‘specific urban settings, to broader suburban and rural areas, to an international context.’ (p2) The editors’ comprehensive introduction presents a useful overview of the development of the field of environmental history over the past three decades in America which provides a helpful context for the essays. Equally, introductions at the beginning of each of the three parts of the collection also serve to tie together the themes of city, country and empire.
Taken together, however, the essays explore topics that are larger than the sum of their parts. In this respect, the editorial arrangement of the essays is not as effective as it could be, as the essays are also connected through a number of alternative themes.
Four such themes which are prominent in the collection are, firstly, the concept that nature is a force that cannot be overlooked, a significant and persuasive theme, especially considering the editors’ comment that nature ‘has not penetrated the mainstream of historical thinking to the same extent that race, class, and gender have’ (p1). Secondly, ideas on the re-use of land are specifically explored, for example in Ursula von Petz’s essay on the restoration of the Ruhr Valley. A third theme looks at contentions surrounding ideas of land attachment, as explored by Elizabeth Blackmar in ‘Of Rights and Reits’, where she argues that real estate investment trusts reflect absentee ownership and sever connections to the land by putting development in the hands of corporations, thus removing responsibility from the community. And lastly, the idea of the environment as interconnected through process and systems that are ongoing and dynamic is a significant theme that runs throughout all of the essays in the collection while being specifically explored in Andrew Isenberg’s ‘The Industrial Alchemy of Hydraulic Mining’.
Given the editors’ emphasis on the importance of the internationalisation of environmental history and the call by the eminent founder of the field, Alfred Crosby, in the ‘Afterward’ for environmental historians to widen their considerations from the local to the global, some might find the fact that the essays are predominantly focused on American environmental history somewhat surprising and parochial. The editors’ introduction, ‘Challenges to Environmental History’, does, however, provide a necessary widening of the context for the essays, and the discussion of the internationalisation of the field as illustrative of its development and vitality outside America is welcome here.
Environmental history by its nature lends itself to exploring the local with a global perspective and in this respect historians will be able to consider the significance of some of the essays for the Australian context. Nancy Langston in ‘Floods and Landscape in the Inland West’, for instance, explores the complex and contested relationship between farmers, ranchers, irrigation developers and scientists over water rights in the changing landscape of Oregan’s Malheur Basin. Her essay raises questions about how human responses to flood plains and waterways have shaped landscapes and identities, questions that are equally relevant and significant in Australia. Specific to Australia, too, is Thomas R. Dunlap’s ‘Creation and Destruction in Landscapes of Empire’ which examines the interaction between Anglo-American settlers and the landscapes of Australia, New Zealand and North America, and argues that settlement is a continual process of both a natural (physical) and psychological nature.
In the ‘Afterword’ to the collection, Crosby proposes that ‘the greatest challenges facing humans in general in this new millennium are environmental in nature’ (p232).
While historians of the environment have been answering Crosby’s call to understand the relationship of humans to their physical and living surroundings for some time now, the collection reinforces this need and at the same time opens up the relatively recently defined discipline of environmental history to the history profession more generally, emphasising its relevance and interdisciplinary roots. In this respect, the collection is a valuable resource for anyone who seeks to understand how environmental change and ecological processes dovetail with human and non-human histories whilst more specifically providing a well researched and broad ranging introduction to the field of environmental history.
Rose Searby – Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Technology, Sydney.
[IF]
Capítulos de história do Império | Sérgio Buarque de Holanda
Foram significativas as vezes em que Sérgio Buarque de Holanda se envolveu na revisão e ampliação de suas próprias obras. Talvez o melhor exemplo seja o caso da revisão de Monções, originalmente publicada em 1945, e que, durante toda a década de 1960, passou por um processo de ampliação e reescrita. Na primeira metade da década o autor reescreveu alguns dos seus capítulos, publicados em 1964 na Revista de História (USP), e posteriormente acrescentados como apêndice da terceira edição da obra (Editora Brasiliense, 1990). Em 1965, Sérgio emplacou um projeto de pesquisa na FAPESP, e com o apoio ampliou a pesquisa de arquivos, voltando três vezes à Cuiabá, realizando uma visita aos arquivos portugueses (Arquivo Histórico Ultramarino e Biblioteca Nacional de Lisboa), além de uma ida aventuresca ao Paraguai no fusca creme com sua esposa, Maria Amélia, ao volante. Os manuscritos produzidos com esta pesquisa são conhecidos graças ao empenho de seu aluno, o professor hoje aposentado da USP José Sebastião Witter, que cuidou da edição e, a partir dos originais, publicou a obra O extremo oeste (Editora Brasiliense, 1986). Tudo leva a crer que Sérgio Buarque pretendia não apenas reescrever Monções aumentando consideravelmente o aparato crítico e documental da obra, mas duplicá-la, dividindo o trabalho em dois assuntos: o das monções de exploração e das monções de povoamento.
O caso descrito nas linhas acima se assemelha ao mais recente, da publicação de Capítulos de História do Império, obra póstuma de Sérgio Buarque de Holanda publicada em 2010; é uma edição organizada por Fernando Novais a partir de um manuscrito original de mais ou menos 150 páginas. Apesar das poucas informações disponíveis sobre a origem e o tratamento do manuscrito, sabemos que se trata de trabalho inconcluso ao qual Sérgio Buarque se dedicou praticamente até a sua morte, em abril de 1982, tanto que em entrevista a Richard Graham, publicada em fevereiro do mesmo ano na revista The Hispanic American Historical Review (v.62, n.1), o historiador brasileiro afirma estar naquele momento empenhado na escrita do que seria seu mais importante livro.
A intenção de Sérgio Buarque de Holanda era a revisão, reestruturação e ampliação do livro Do Império à República, volume publicado em 1972 como desfecho do tomo O Brasil Monárquico da série História Geral da Civilização Brasileira (Difel), empreitada que coordenava desde o início dos anos 1960. Assim como gostaria de fazer com Monções, o desejo do autor, manifestado na mesma entrevista a Graham, era reorganizar o material ampliado em dois volumes. Segundo o que indica Evaldo Cabral de Mello no “Posfácio” da obra, o primeiro volume, O pássaro e a sombra “deveria chegar até a crise política de 1868”, já o segundo, A fronda pretoriana “até o golpe militar que implantou a República entre nós” (p.225).
Do Império à República é estruturado em cinco livros de quatro capítulos cada (com exceção do segundo livro que possui três capítulos). O primeiro livro, Crise no Regime se fixa na crise político-partidária de 1868, quando D. Pedro II agiu segundo as prerrogativas do Poder Moderador substituindo, sem a convocação de eleições gerais, o gabinete liberal de Zacarias de Goes e Vasconcelos pelo conservador do visconde de Itaboraí (tratados no dois primeiro capítulo, Crise no regime). Este evento, no qual o poder pessoal do monarca aparece em estado puro – elemento caracterizado no segundo capítulo, Um general na política – enseja uma retrospecção que ilumina a dinâmica político-partidária do segundo reinado a partir dos últimos gabinetes de conciliação em fins da década de 1850, que permeia todo o livro segundo, O pássaro e a sombra, até uma volta aos eventos de 1868, aberta pelo terceiro e último capítulo do livro, O fim do segundo quinquênio liberal, e desenvolvida ao longo do livro terceiro, Reformas e paliativos. Este livro avança no tempo abordando o contexto de aprovação da lei do Ventre Livre, em 1871, até o conflituoso contexto de discussões sobre reformas constitucionais e eleitorais que marcaram o final da década de 1870 e início da década seguinte, que culminaram com a Lei Saraiva, de 1881. As circunstâncias de sua aprovação são, por sua vez, esmiuçadas no livro quarto, Da “constituinte constituída” à lei saraiva, que progride até a solidificação do movimento republicano e de um clima de insatisfação geral nas províncias. Por fim, o livro quinto, A caminho da República, parte de uma breve análise sobre a incapacidade de adaptação do regime às novas bases sociais, ligadas à dinâmica da produção cafeeira (no primeiro capítulo, Resistência às reformas), até a solidificação do exército como protagonista (no terceiro capítulo, A fronda pretoriana), passando pela análise da emergência das novas bases ideológicas republicanas (no segundo capítulo, Da maçonaria ao positivismo).
Como se pode observar por meio do esquema acima, Da Monarquia à República é executado sobre um plano que combina a exposição cronológica dos eventos com incursões retrospectivas em camadas. Este movimento de fluxo e refluxo temporal se ancora em certos eventos, momentos decisivos, que expõe os impasses e fraturas que estarão na base da derrocada do regime. Grosso modo, cada um dos livros se liga a um momento chave que se sobrepõe em camadas e reproduz a sistemática descrita. Também deve ser notada a coesão do conjunto, já que as partes são meticulosamente subordinadas a um eixo argumentativo principal, que se apresenta na forma de impasse: a missão imperial de garantir a unidade dos territórios nacionais não só sedimenta, mais intensifica o abismo entre o Estado central e os grupos sociais por ele representados. O resultado é um processo crescente de concentração de poder discricionário, que tem na proclamação da República o seu ponto culminante.
Seguindo esta perspectiva, seus marcos principais são os “estelionatos” (como define em Do Império à República) políticos cometidos em 1868, com a já mencionada ascensão do gabinete conservador, o de 1881, das reformas eleitorais da Lei Saraiva, e, finalmente, o próprio golpe militar de 1889 que pôs fim à Monarquia. Estes momentos são decisivos pois, neles, o autoritarismo aparece de maneira clamorosa, expondo a falta de respaldo social e político; a fratura crescente entre Estado e sociedade na formação da nação. Em outras palavras, Do Império à República pode ser entendido como a história do paradoxo da fundação de uma nação por meio da governança autoritária, sem base social orgânica. Fica evidente que, como grande historiador, Sérgio Buarque falava do passado ao mesmo tempo em que se posicionava no presente já que o período de escrita da obra corresponde aos anos de chumbo da Ditadura Militar brasileira, entre finais da década de 1960 e início da década de 1970.
Mas se Do Império à República é um trabalho de história tão benfeito, cumpre inevitavelmente a pergunta: porque então dedicar quase obsessivamente os últimos anos de vida a alterá-lo? Uma forma de começar a entender esta questão é analisar brevemente os pontos do livro que seriam modificados ou ampliados com o manuscrito Capítulos de História do Império. Infelizmente, como alertou Evaldo Cabral de Mello no “Posfácio” (p.228), o texto que ora conhecemos corresponde apenas ao trecho reescrito dos dois primeiros livros de Do Império à República, que vai da Conciliação à articulação do gabinete conservador de 1868; ou seja, considerando a concepção dos dois volumes, deve-se notar que Sérgio Buarque ainda trabalhava no primeiro, O pássaro e a sombra.
É possível que os recortes temporais do O pássaro e a sombra e A fronda pretoriana fossem mais permeáveis do que sugeriu Evaldo Cabral. O primeiro poderia evoluir para além de 1868 e o segundo poderia regredir em relação a este marco. Um dos indicativos disso é que A fronda pretoriana, seguindo hipótese do próprio Sérgio Buarque no capítulo homônimo de Do Império à República (o terceiro do livro quinto), deveria abranger a história do fortalecimento político do exército desde a Guerra do Paraguai, regredindo ao longo da década de 1860. Em sua versão conhecida, a hipótese do autor não é adequadamente desenvolvida, pois é contida pelos limites do capítulo que trata da derrocada do Império desde a Lei Saraiva de 1881, que havia sido tema do livro anterior. Outro indicativo é o fato de que a Guerra do Paraguai praticamente não aparece em Capítulos de História do Império, apesar de ter sido abordada com minúcias justamente na região englobada pela reestruturação das obras, entre o final do livro primeiro e segundo de Do Império a República. É provável, portanto, que os capítulos em que trata da formação do exército, tanto em sua base ideológica quanto material, fossem agrupados e reelaborados, compondo, A fronda pretoriana.
Outra modificação temporal que se pode inferir a partir dos manuscritos é o prolongamento do O pássaro e a sombra até o evento da Independência, tema do primeiro capítulo, “Para uma pré-história do império do Brasil”. Trata-se de uma recuperação do que o autor desenvolveu em A herança colonial – sua desagregação, texto de abertura do segundo tomo, referente ao Brasil Monárquico, publicado em 1961, em sua História Geral da Civilização Brasileira, pois sua preocupação é caracterizar o estranho conluio entre ideias liberais e nossas estruturas coloniais (“o que em realidade poderia acontecer era que as ideias e fraseados de importação passariam a ser reinterpretados no contexto das estruturas herdadas”, p.22). Neste terreno, segundo o autor, as tendências emancipatórias e federalistas encontravam solo fértil para se desenvolver, já que a herança da atividade colonizadora era a própria desagregação política, social e econômica dos territórios.
Nesse mesmo esteio, o que pode ser diretamente associado ao texto de 1961 é o esforço de Sérgio Buarque em desnaturalizar a emergência da nação brasileira como um evento inevitável. Pelo contrário, e de forma até mais clara que em Herança Colonial, o autor procura restituir aos eventos ocorridos sua condição de mera possibilidade em um complexo quadro, coisa que fica evidente a partir da página 28, quando se esmiúçam detalhes das discussões dos representantes das províncias brasileiras nas Cortes. Evidentemente, esse exercício abre as portas para se compreender que a unificação nacional foi o resultado de uma luta travada durante todo o período monárquico e o principal condicionante de sua dinâmica política.
A nação e os partidos e Entre a liga e o progresso, capítulos segundo e terceiro, continuam o argumento, caracterizando a dinâmica político-partidária do Império nas décadas de 1840 a 1860 e tendo como marco referencial um momento chave. O primeiro é o da prática política da Conciliação, que foi estabelecida a partir do gabinete presidido por Carneiro Leão (1853-56), como um modo de reintegração no poder central das oligarquias regionais e haviam sido marginalizadas no período de 1848-53, momento de predomínio saquarema. O segundo momento, é o da Liga Progressista, que narra o equilíbrio instável dos partidos entre 1864 e 1868. Pode-se dizer sobre essa dinâmica partidária que o liberalismo de fachada associado ao conservadorismo da mentalidade colonial resistente contribuía para tornar a fronteira entre os partidos liberal e conservador altamente permeável. Ao contrário do que se pode esperar, esta fronteira não foi melhor definida entre os partidos ao longo do Império, não apenas devido a tendências que defendiam a simples extinção do sistema partidário (p.39-43), mas sobretudo devido ao quadro problemático causado pela “supressão do tráfico transoceânico” (p.53), que impunha a manutenção de certa coesão política sob o risco de descontrole social.
Emerge, neste contexto, o poder pessoal do monarca D. Pedro II como elemento fundamental do sistema, pois sua atuação garante a ordem e, assim, a própria existência do Estado. Este é o tema desenvolvido no quarto capítulo, Por graça de Deus, que talvez seja dos textos mais bem escritos de toda a carreira do autor. Nele, a reconstituição do modus operandi do monarca se apresenta de forma vívida, tal como na melhor ficção realista do século XIX, se misturando de forma natural com a precisão do recurso a uma ampla gama de fontes históricas. Esse grau avançado de lapidamento do texto deve-se ao fato de que estas páginas coincidem justamente com certas passagens mais ou menos reescritas dos primeiros capítulos de Do Império à República.
Na descrição de Sérgio Buarque de Holanda, as características da personalidade sóbria e reservada do monarca operam como uma espécie de metonímia da trajetória política da nação, a representação mais perfeita da associação entre arcaico e moderno que caracteriza a visão do autor. O trecho em que fala do esforço de D. Pedro em evitar qualquer opinião pessoal, sustentando uma imagem institucional (que aparece em sua correspondência com Gobineau), tem a sua correspondência em Do Império à República (p.16-17 da 5o edição, de 1997). Nas páginas seguintes deste volume são abordadas sua impessoalidade frente aos ministros, assim como a pretensa soberania que conferia aos seus gabinetes, trechos que reaparecem muito alterados nas páginas 120-123, dos originais de Capítulos. O parágrafo final deste que é o capítulo 2 do livro 1 de sua obra de 1972 que corresponde à sequencia linear das passagens descritas acima aparece em Capítulos apenas entre as páginas 141 e 142. Por condensar a essência de sua visão sobre D. Pedro II, segue, abaixo a sua transcrição:
De fato os poderes imperiais que tentavam dissimular-se funcionaram muitas vezes como catalizadores de uma resistência surda às mudanças na estrutura tradicional, quando as mudanças importavam mais do que uma estabilidade estéril e mentirosa. Era pela supressão dos abusos que comportava a praxe eleitoral e talvez preferisse o sufrágio universal, mas reputava-a “ainda por ora impraticável”, conforme se pode ler na Fé de ofício, mas as medidas que tiveram nesse sentido sua a aprovação acabaram por afastar drasticamente das urnas a quase totalidade da população ativa do Império e transformaram o direito de votar em um privilégio. Queria a extinção do trabalho escravo, mas achava que toda a prudência era pouca nesse assunto e, estivesse no país em maio de 1888, não teria sido assinada a “lei áurea”, como ele próprio chegou a admitir. Queria que o país tivesse sempre em boa ordem as finanças e a moeda sólida, por lhe parecerem exigidas por uma elementar prudência, ainda quando a realização de tais desejos pudesse perturbar a promoção do desenvolvimento material, da instrução pública, da imigração, que também queria. Ora, a meticulosa cautela deixa de ser virtude no momento em que passa a ser estorvo: lastro demais para pouca vela.
Agindo na superfície como um rei típico de uma monarquia constitucional parlamentar, que “reina mas não governa” (p.167), D. Pedro II manobrava com sutileza as estruturas reminiscentes absolutistas, sendo de fato o soberano condutor do pacto de unificação nacional. O desenvolvimento deste tema em continuidade com o capítulo que trata da personalidade de D. Pedro II é o último da primeira parte de Capítulos de história do Império, Crise no Regime. Nele é abordada a crise política de 1868, quando D. Pedro II lança mão do Poder Moderador e empossa o gabinete conservador do visconde de Itaboraí, desvelando justamente a concentração de poder de fato do monarca. Este capítulo também possui correspondência direta com o capítulo 1 livro 1, de mesmo título, Do Império à República e nele podem ser encontrados trechos reescritos especialmente das duas ou três primeiras páginas concentrados nas p.146 e p.152-154 de Capítulos.
Os últimos dois capítulos do livro, desprovidos de título e que compõem a segunda parte, possuem redação menos acabada do que os outros além de voltarem a alguns assuntos já tratados; inclusive com algumas repetições. A primeira parte do capítulo I ainda se relaciona com os dois anteriores, analisando a forma sutil com que o monarca exercia o seu poder pessoal em contraste com os modelos franceses e ingleses de governo (p.163-169). Nas páginas seguintes há um salto para uma breve análise dos efeitos potencializados nas províncias da instabilidade no governo central. O segundo capítulo volta a analisar a sistemática de rotação dos partidos e substituição “em massa de empregados públicos”. O que há de comum entre esses temas é que eles compõem o quadro explicativo do “estelionato” político que colocou os saquaremas no poder em setembro de 1848, frente às notícias das revoltas na Europa ocorridas naquele ano (p.184-188). Enquanto o segundo capítulo esmiúça o evento em si, o primeiro capítulo trata das circunstâncias anteriores no governo central e nas províncias. Isso significa que se trata de uma parte complementar e inacabada (ou simplesmente descartada) do capítulo 2 da primeira parte de Capítulos de História do Império; em outras palavras, trata-se ainda de partes referentes ao processo de escrita do que seria provavelmente o volume O pássaro e a sombra.
Resta retomar a pergunta feita no início deste texto. Se Do Império à República é um livro tão bem executado porque então dedicar os últimos anos de vida a reescrevê-lo? Procurando encaminhar uma resposta provisória diante do que foi dito até aqui, podem-se realizar duas considerações. A primeira é que, de fato, Capítulos de história do Império, apesar de inacabado, coincide mais ou menos com o que seria o volume O pássaro e a sombra, reescrita dos primeiros livros de Da Monarquia à República. Além disso, o plano original do livro seria prolongado conservando, em princípio, o método de execução peculiar e a linha argumentativa. O pássaro e a sombra e A fronda pretoriana comporiam uma espécie de história do autoritarismo brasileiro no século XIX, ou, em outras palavras, uma história do abismo entre estado e sociedade na formação da nação. Enquanto Do Império à República abrange as últimas duas décadas do Império em dois ou três momentos decisivos, a obra inacabada abrangeria desde a independência até a República incluindo mais momentos em que o autoritarismo é exposto visceralmente: a outorga da constituição em 1824, a ascensão do gabinete conservador de 1848, a Conciliação, A Liga Progressista, a crise de 1868 (no O pássaro e a Sombra), e O Ventre Livre, a Lei Saraiva de 1881, e finalmente a eclosão da república em 1889.
A segunda consideração diz respeito ao fato já observado por Fernando Novais na Nota Introdutória aos Capítulos e também por Izabel Marson em resenha da mesma obra pulicada na revista Estudos Avançados em 2011 (v.25, n.71). O tema tratado em Capítulos de história do Império guarda notável semelhança com o mote central de sua obra de estreia, Raízes do Brasil: o impasse gerado pelo recurso ao autoritarismo de matriz absolutista, traço fundamental da herança colonial, como ferramenta da unificação nacional. Recurso este que só tornava mais evidente e endêmico o descompasso entre Estado recémformado e os grupos sociais no anseio de representação. O estudo sistemático das semelhanças e diferenças entre as obras ultrapassam o limite e o formato do presente texto e serão tratados em ensaio a ser publicado em breve.
Na explicação para o afã de revisão que gerou os manuscritos que hoje conhecemos como Capítulos de história do Império se esconde um desejo de deixar um legado definitivo, produzindo um elo entre as duas extremidades de sua própria obra, da sua obra de estreia à sua obra derradeira. O fato de não ter conseguido concluir sua missão é emblemático, pois, Sérgio Buarque de Holanda também havia revisado radicalmente Raízes do Brasil até que ganhasse a feição que conhecemos, e mesmo assim, até o final da sua vida, demonstrava grande descontentamento com o seu ensaio. Em sua visão de historiador maduro, seu livro de estreia era demasiado ensaístico, reducionista e pouco fundamentado, justamente os defeitos opostos às qualidades do seu último e derradeiro texto.
Thiago Lima Nicodemo – Professor do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES – Vitória / Brasil) e pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB – USP). E-mail: tnicodemo@gmail.com
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de história do Império. Organização de Fernando A. Novais. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Resenha de: NICODEMO, Thiago Lima. A obra derradeira e inacabada de Sérgio Buarque de Holanda. Almanack, Guarulhos, n.5, p. 206-211, jan./jun., 2013.
Acessar publicação original [DR]
Planos para o Império – SOUZA NETO (EH)
SOUZA NETO, Manoel Fernandes de. Planos para o Império: os planos de viação do Segundo Reinado (1869-1889). São Paulo: Alameda, 2012. Resenha de: IORIO, Gustavo Soares. Os planos para o Império e a história da geografia no Brasil. Estudos Históricos, v.26 n.51 Rio de Janeiro Jan./June 2013.
A história da geografia no Brasil é ainda uma temática que não dispõe de vasta bibliografia, mas esse quadro vem mudando. Um verdadeiro campo de estudos está em formação. Artigos, teses e livros têm surgido estabelecendo um diálogo mais próximo com a historiografia, trazendo debates teórico-metodológicos, levantando questões pertinentes à compreensão não só da geografia disciplinar, mas de todo um universo de representações e práticas sociais. Esse avanço é muito positivo para a geografia e para as ciências sociais como um todo, na medida em que a abordagem se volta para a construção e os usos históricos de conceitos e categorias; as formas de consagração das maneiras de ver e classificar o mundo, de qualificar lugares, identificar regiões, ordenar territórios.
O trabalho de Manoel Fernandes, originalmente tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade de São Paulo, é certamente uma das melhores expressões desse processo. Sua obra aborda os planos de viação elaborados no Segundo Reinado, entre os últimos anos da Guerra do Paraguai e a Proclamação da Republica (1869-1889). O autor analisa os planos de viação como interpretações sobre o território, ou melhor, interpretações sobre o território diante dos projetos de nação. Em suas palavras:
Diante desse quadro o que se nos colocou foi: como as elites liam o território a partir dos planos de viação? Como viam a nação a construir, já que propunham banhar os bárbaros do sertão com as águas civilizadoras do Atlântico? Quais problemas identificavam como sendo os mais urgentes do ponto de vista estratégico, comercial ou político para o Estado? Quais as dissensões políticas entre os engenheiros passíveis de serem percebidas nas soluções técnicas apresentadas por eles? Como o discurso técnico em torno das vias de comunicação a construir ganha importância política nas últimas duas décadas do Segundo Reinado? (p. 26)
Num contexto de fé no “progresso” e na “civilização”, expansão mundial do capitalismo em seu estágio imperialista e modernização através de Estados nacionais soberanos e territorialmente delimitados, o Brasil vivia a contradição entre suas heranças coloniais e o imperativo moderno. O ímpeto de se modernizar esbarrava em instituições arraigadas como a monarquia e o escravismo, em problemas estruturais como a dispersão territorial, a debilidade das vias de circulação e o arcaísmo evidenciado com a Guerra do Paraguai. Fazia-se necessário modernizar o Estado e para isso era preciso modernizar o território. É nesse contexto que surgem os planos viários.
Os autores desses planos são os sujeitos sociais da análise. Manoel Fernandes analisa esses sujeitos por três esferas que ele distingue em termos metodológicos (mas que se confundem na vivência objetiva): personagens, instituições e saberes. Ele trafega pela biografia de seus sujeitos,1 identifica os percursos de formação e os exercícios da profissão para caracterizá-los. Todos são homens, engenheiros, estudados em escolas militares (Academia Imperial Militar) e de engenharia civil (Escola Central, que depois veio a ser Escola Politécnica), na maioria das vezes com passagens pela Europa. Todos frequentavam lugares em comum, participavam de associações como a Sociedade Auxiliadora da Indústria (SAIN), o Instituto Politécnico e o Clube de Engenharia. Nesses meios de convivência teciam uma forte rede de socialização, e mesmo um espírito corporativo de uma profissão em ascensão. Projetavam-se como detentores de um saber técnico muito bem delimitado pela fronteira da matemática. Esse era o saber moderno, legitimamente capaz de planejar um sistema de transportes dinâmico, apto a integrar o território nacional para fins militares, políticos e comerciais.
Manoel Fernandes observa com astúcia a inserção social desses engenheiros. Bastante ativos por meio das associações e de seus trabalhos, eles se acomodavam â“ com algumas tensões â“ como arautos do progresso no seio da sociedade oligarca, bacharelesca, agrário-exportadora, escravocrata e monarquista no Brasil do Segundo Reinado (o Ministério de Agricultura, Comércio e Obras Públicas era o maior contratante desses profissionais). Este é o ponto forte do livro: a composição de uma trama de sujeitos organizados em uma verdadeira corporação profissional que se põem como portadores de uma “novidade” (o saber técnico, moderno) e únicos na capacidade de concretizá-las. Oriundos das classes médias, misturados entre as elites tradicionais através das associações e atuações profissionais, os engenheiros difundiam as ideias progressistas da modernização, vindas fundamentalmente da Europa, e assumiam para si a competência técnica para conduzi-la. A engenharia se projetava como um saber necessário, e os engenheiros enquanto a personificação das “soluções técnicas”.
Os planos de viação são uma dessas soluções, e também a materialização das ideias e dos ideais que os autores portam no contexto discursivo no qual estão inseridos. Neles as divergências técnicas revelam dissensões políticas, como a opção por qual modal de transporte (ferroviário ou aquaviário) ou tamanho da bitola, no caso das ferrovias. De caráter estritamente técnico à primeira vista, esses debates remetem ao problema de como lidar com os fundos territoriais. Todas as soluções propostas nos cinco planos descritos convergem para a perspectiva de modernização territorial/estatal através de vias de comunicação a proporcionar uma efetiva ocupação do território em pequenas propriedades por colonos imigrantes ou escravos libertos. Como essas ideias contrariavam os interesses da oligarquia instalada, esses planos nunca foram postos em prática, o que de maneira alguma os deslegitima enquanto documentos do debate de um tempo histórico.
Manoel Fernandes se vale de uma base de documentos rica. Além dos cinco planos analisados diretamente, recorre a outros planos para regiões específicas, relatórios do Ministério de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, revistas e periódicos de instituições como a SAIN, o Instituto Politécnico, o Clube de Engenharia e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). São dignos de nota os mapas anexados ao livro, tanto os que ilustram os planos quanto outros encontrados no acervo do Arquivo Nacional.
Em suma, neste livro Manoel Fernandes de Souza Neto dá visibilidade a aspectos importantes da sociabilidade nos derradeiros anos do Brasil Império. Particularmente para os geógrafos â“ sobretudo aqueles envolvidos com o tema da história da geografia â“ há aqui um significativo avanço qualitativo em termos teórico-metodológicos. Efetivamente, o ponto central é o entendimento que ele nos traz de uma historiografia das ideias sobre o território, com suas respectivas inserções e significados políticos, identificando-as a sujeitos sociais concretos. Certamente uma boa leitura.
1 Os autores analisados, com as respectivas datas de seus planos, são: Eduardo José de Moraes (1869), João Ramos de Queiroz (1874), André Rebouças (1874), Honório Bicalho (1882) e Antônio Bulhões (1882). Foram esses os engenheiros que, no período recortado, publicaram planos que abrangiam todo o território nacional.
Gustavo Soares Iorio – Doutorando do Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e bolsista do CNPq (gustavosoaresiorio@yahoo.com.br).
Império. Como os britânicos construíram o mundo moderno | Niall Ferguson
A história do Império Britânico não é tradicionalmente contemplada pela produção histórica e editorial brasileira ou, no mínimo, não no nível que seria desejável, dada a importância desse Império – o maior que já houve no mundo – para a história brasileira e mundial. Dessa forma, é bem vinda a tradução em português do novo livro do historiador escocês Niall Ferguson, o qual faz um apanhado geral da trajetória do Império britânico desde a era das grandes navegações até o seu fim, na segunda metade do século XX. Mesmo assim, se havia a chance de traduzir algum bom trabalho do inglês para o português sobre o Império britânico, a impressão que fica é que os leitores brasileiros saíram perdendo, já que o trabalho de Ferguson traz poucas novidades em termos teóricos e tem um viés ideológico tão forte que acaba por diminuir o seu valor.
Em linhas gerais, com efeito, o livro de Ferguson, apesar de bastante informativo e de interesse para os não iniciados no tema, não traz grandes novidades em termos de estrutura ou abordagem, a qual é bastante formal e cronológica. Também não apresenta novas fontes ou uma abordagem teórica inovadora, se limitando a utilizar a imensa produção histórica a respeito do tema para apresentar opiniões e fazer avaliações. Leia Mais
Visões Políticas do Império: diplomatas belgas no Brasil (1834-1864) | Milton Carlos Costa
Concebido originalmente como trabalho de conclusão de curso em História pela Universidade Católica de Leuvan, na Bélgica, em 1979, a pesquisa do Prof. Milton Carlos Costa vem a público somente agora. O objetivo é reconstituir e analisar as visões políticas do Brasil imperial a partir dos escritos produzidos por representantes belgas que visitaram o país entre 1834, data da chegada do primeiro diplomata, Benjamin Mary, e 1864, momento marcado pela eclosão da Guerra do Paraguai. Para tanto, analisa um corpus documental constituído pelo Dossiê 1192 – Correspondência Política (1831-1870), reunido em cinco volumes, e pelos dossiês pessoais dos representantes belgas no Brasil, a saber, os diplomatas Benjamin Mary, Auguste Ponthoz, Joseph Lannoy, Eugene Desmaisières, Borchgrave d’Altena, Oscar Du Mesnil e Edouard Anspach, além dos cônsules Edouard Tiberghien e Edouard Pecher. Neste amplo trabalho de pesquisa realizado nos Archives du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique, o autor percorre temas caros à historiografia brasileira.
Primeiramente, as relações da monarquia brasileira com outros países. A serviço da Bélgica, país industrializado e interessado em expandir seus mercados, os diplomatas e cônsules ocuparam grande parte dos seus escritos examinando-as. O Brasil pós 1822 aparece como integrado no sistema de dependência. Nas relações Brasil-Inglaterra, esses informantes elencaram dois focos de conflito, a Questão Christie e a repressão ao tráfico negreiro. Esta última seria uma tentativa de impedir o desenvolvimento agrícola brasileiro, interpretação que os aproxima da forma como essas problemáticas são tratadas historiograficamente. A análise revela, ainda, uma preocupação com a expansão estadunidense no continente americano, a percepção do imperialismo em gestação, e o sentimento de pavor representado pelo sistema republicano dos países do Prata. Notório, entretanto, é o fato de Costa identificar nessas correspondências um aspecto pouco conhecido das relações Brasil-França, que é a repressão francesa ao comércio de escravos.
Diretamente ligado a isto, um segundo tema de relevo é a questão escravocrata – e suas interfaces. Longe de um consenso, nota-se entre os informantes a existência de posições divergentes acerca deste ponto nevrálgico da sociedade brasileira. Para Tiberghien e Jaegher, a escravidão era uma necessidade indispensável, vital para o Império, ao passo que Lannoy enxergava aí um entrave à expansão capitalista. Assim, emerge a defesa da colonização por imigrantes e a rejeição à colonização assalariada enquanto solução para resolver a crise da agricultura cafeeira e açucareira que adviria do fim do tráfico negreiro. Esta defesa, no entanto, era um meio de servir aos interesses dos países industrializados europeus, como bem frisou Costa.
Adentramos, pois, à interpretação da realidade brasileira propriamente dita. O Brasil aparece como semicivilizado, principalmente nas regiões interioranas, cujo estado de organização parecia deixar a desejar, e para o que defendiam a necessidade de uma reforma institucional. A dificuldade de aplicação das leis é atribuída a influência da extensão territorial e o fato de que as diversas regiões do país viviam em “idades históricas” distintas, com desenvolvimentos desiguais. A economia era tida como rudimentar; a Câmara como verborrágica, indolente e ineficaz; e o Senado, conservador por excelência. Quanto aos partidos políticos, pelos quais demonstravam aversão, foram taxados como violentos, ressentidos e politicamente anêmicos, estando a organização do governo fadada ao revezamento entre conservadores e liberais.
Sob a ótica dos representantes belgas, havia uma clara contradição entre os princípios constitucionais, democráticos, e a realidade político-social brasileira, oligárquica. O “esquema das classes sociais no Brasil” aparece tripartido, hierarquizado em dominantes, dominados e ociosos. As massas, enquadradas nesse último grupo, são descritas como apáticas e ignorantes por razões intrínsecas ao formato da monarquia no Brasil. Singular em sua própria gênese, era antes um sistema passivo, um poder fraco e instável, que culminava na precariedade da vida cultural e do nível de civilização da massa da população, e seria, segundo Jaegher, a causa geral das rebeliões e revoluções do período regencial. De acordo com os informantes, esse problema estrutural teve ramificações profundas na constituição da sociedade brasileira – e aqui passamos a uma terceira questão que convém destacar na obra. Costa pontua a crença, por parte dos diplomatas e cônsules, da existência de um “caráter brasileiro”, constituído pela inconstância, espírito de trapaça, aversão aos estrangeiros, indolência e excessiva vaidade.
Em verdade, a defesa contundente da causa monárquica – e consequentemente dos interesses europeus – permeia o teor de todas as análises, principalmente acerca do que representaria um grande perigo à sua sobrevivência, como o sistema político de Rosas, as relações com os EUA, as conturbações das Regências, a dita “saúde frágil” de D. Pedro II e seu “despreparo” para a política. A lente conservadora e etnocêntrica com que enxergaram o universo brasileiro, conclui Costa, não impediu, porém, de registrarem a realidade do país de “maneira minuciosa, problemática e extremamente crítica” (p.187).
Em que pesem as três temáticas – relações internacionais, escravidão e identificação do “caráter brasileiro” –, inicialmente pode parecer que estamos diante de mais uma pesquisa que busca apreender a história do Brasil a partir de uma perspectiva europeia. E, com efeito, o material deixado por estrangeiros que visitaram o país no século XIX constitui, desde há muito, importante fonte para os estudiosos do Império brasileiro. Que o leitor não se engane, pois é justamente aí que reside o grande mérito da obra em questão. Ao elencar os relatórios enviados a Bruxelas pelos diplomatas e cônsules encarregados de compor um mapeamento das relações entre Brasil e Bélgica, o autor traz a lume um conjunto de estrangeiros se não totalmente desconhecidos da historiografia brasileira, ao menos pouco estudados.
No quadro de europeus que registraram suas impressões sobre o Brasil no Oitocentos, esses representantes belgas são marcados por uma singularidade. Em seus escritos, há pouca ênfase nas “riquezas naturais” brasileiras, muito embora a agricultura fosse vista como a base da prosperidade. Uma provável explicação para isso é o fato de que seus interesses eram fundamentalmente econômicos. O conhecimento científico do território não estava em seus horizontes. Importava antes analisar as possibilidades de expansão das relações comerciais à diversidade ecossistêmica do Brasil, tão exaltada pelos viajantes do século XIX. Em outras palavras, se para estrangeiros como Auguste de Saint-Hilaire, Georg Heinrich von Langsdorff, John Emmanuel Pohl e Carl Friedrich Philipp von Martius o Novo Mundo apresentava-se como um espaço para ampliação dos saberes da História Natural, ainda que voltada ao uso utilitário da natureza, para os diplomatas e cônsules era um mercado em potencial.
O contexto em que foi produzido também faz deste um trabalho pertinente. Escrito na década de 1970, em uma universidade europeia, insere-se num momento bastante significativo do ponto de vista da historiografia mundial. A terceira geração dos Annales, já em fins da década de 1960, ao advogar em favor de um maior contato da História com as variadas disciplinas das Ciências Sociais, abriu o campo de possibilidades, trazendo novas temáticas para o cotidiano do historiador e renovando o interesse pelas problemáticas do político e da política, as quais passaram a ser trabalhadas em uma outra perspectiva. O imaginário social, as representações, o comportamento coletivo, o inconsciente, as sensibilidades, entre outros, são, então, incorporados à investigação histórica sob a chave da Nova História Política, que entende o político como domínio privilegiado do todo social (RÉMOND, René (org.). Por uma História Política. 2a ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, p.9-11).
A opção metodológica adotada por Costa é influenciada por este movimento. Por um lado, o reinteresse pela História das Mentalidades, que marca o período, faz-se presente na estruturação dos capítulos, nos quais é possível identificar a convergência dos dois caminhos propostos por Lucien Febvre para a compreensão do real, isto é, o individual e o social. À contextualização biográfica – incluindo os planos intelectuais, pessoais e profissionais – dos representantes belgas são somadas as relações pessoais mantidas com outros diplomatas, ministeriais e representantes de governo, e traços de caráter, como a franqueza de Mary, a sociabilidade de Jaegher, a firmeza de Lannoy, e a inteligência de Anspach. Por outro, o diálogo com a Antropologia histórica é perceptível na noção de alteridade. Ainda que o cônsul Pecher seja singular por ver o Brasil do ponto de vista do próprio país, o parâmetro de análise dos relatórios diplomáticos e consulares é europeu. Esses elementos, pessoais e coletivos, ajudam o autor a compreender melhor a percepção da realidade brasileira sob a ótica dos representantes belgas, muitas vezes de maneira comparativa.
Nesse sentido, Visões Políticas do Império dialoga com importantes trabalhos da historiografia brasileira. Caio Prado Jr, Nelson Werneck Sodré e Maria Odila Leite da Silva Dias são chamados quando da identificação das problemáticas comuns entre eles e as análises dos representantes belgas. E são tangenciados os estudos de Raymundo Faoro, cuja tese, “Os Donos do Poder”, sobre a sociedade patrimonialista, empresta nome a um dos subcapítulos, e de Ilmar Rohloff de Mattos acerca da formação do Estado nacional e dos partidos políticos brasileiros. O leitor tem em mãos, portanto, um sólido trabalho de pesquisa documental, metodologicamente embasado e historiograficamente relevante aos estudiosos do Império brasileiro.
Fabíula Sevilha de Souza – Mestranda no Departamento de História da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (FCL/UNESP – Assis/Brasil). E-mail: fsevilhas@yahoo.com.br
COSTA, Milton Carlos. Visões Políticas do Império: diplomatas belgas no Brasil (1834-1864). São Paulo: Annablume, 2011. Resenha de: SOUZA, Fabíula Sevilha de. Política, Economia e Sociedade: o Império Brasileiro sob a perspectiva belga. Almanack, Guarulhos, n.3, p. 149-151, jan./jun., 2012.
O Brasil imperial | Keila Grinberg e Ricardo Salles
Esses três volumes dividem a história da monarquia brasileira em três fases distintas: 1808-1831, 1831-1870 e 1870-1889; ou seja, da transferência da Corte portuguesa à abdicação do primeiro imperador; da Regência até o fim da Guerra do Paraguai; e deste conflito até a queda da monarquia. Cada volume é composto por onze capítulos, escritos, individualmente ou em colaboração, por 36 historiadores.
Coleções são, notoriamente, difíceis de organizar. Os colegas, com frequência, têm dificuldade de cumprir prazos ou hesitam em aceitar sugestões e correções. Os resultados, amiúde, variam consideravelmente de capítulo a capítulo. Essa coleção de três volumes é, contudo, excepcionalmente sólida, pelo alto nível geral de conhecimento que apresenta, por sua abrangência e pela clareza da escrita e, como José Murilo de Carvalho observa em sua elegante introdução, expressiva das conquistas do país na última ou nas duas últimas gerações. A coleção pode ser considerada uma celebração da maneira como a história do Brasil tem sido escrita e ensinada nesse período. As referências bastam para tornar os volumes indispensáveis, tanto para o graduado quanto para o profissional da área. O estilo e a abordagem são, muitas vezes, tão convidativos que também o leigo poderá se beneficiar. Embora fique evidente que Grinberg e Salles não exerceram uma coordenação autoritária (abordagens, extensões e graus de sucesso variados sugerem que se limitaram a selecionar colegas e tópicos), eles devem ser felicitados e reconhecidos por esse triunfo ímpar na historiografia.
São dois os precedentes desses volumes. A imprescindível série A história geral da civilização brasileira, organizada por Sérgio Buarque de Hollanda e, depois, por Boris Fausto, durante os anos 1960 e 1970; e os magistrais capítulos sobre o Brasil na Cambridge History of Latin America [CHLA], composta em grande parte na década de 1980 (sendo que as contribuições mais recentes foram feitas ainda em 2008) e organizada por Leslie Bethell. A primeira foi escrita por especialistas brasileiros e americanos como uma narrativa tanto para leigos quanto para acadêmicos, com um mínimo de referências. A segunda fornece análises densas e narrativas sintéticas, feitas por especialistas de três continentes. Sua linguagem sugere que foi escrita para acadêmicos ou graduados, e, embora careça seriamente de referências, cada capítulo é reforçado por um ensaio bibliográfico bastante útil, que abrange as pesquisas em todos os idiomas indispensáveis. A coleção em mãos difere de ambos os precedentes. Com uma exceção, Dale Tomich, todos os autores são brasileiros. Alguns dos textos são fundamentados tanto em fontes primárias quanto em bibliografia, e todas elas recebem notas (não há bibliografia no final dos capítulos). Muitos dos autores, assim como os da CHLA, sintetizam e colocam referências somente nas fontes bibliográficas; na verdade, muitos dos trabalhos citados são os mais recentes na área e estão em teses e dissertações não-publicadas. Lamentavelmente, há, reiteradas vezes, espantosas lacunas nas citações. Referências a importantes contribuições em inglês variam de autor para autor; mas, com frequência, estão ausentes ou desiguais, e, com muita frequência, trabalhos mais antigos escritos em qualquer idioma são negligenciados. Em geral, esta poderia ser definida como uma coleção feita por e para acadêmicos brasileiros dessa geração e da anterior, com ênfase na pesquisa realizada nesse período.
Dos três volumes, o primeiro e o terceiro são os mais irregulares em termos de qualidade. No primeiro, podem-se considerar problemáticos o segundo capítulo e os capítulos de quatro a sete, por várias razões. O capítulo de Iara Schiavinetto sobre o período joanino apresenta escassa narrativa sobre a época e poucas evidências para seus argumentos. Em vez disso, a autora pressupõe um público erudito e enfatiza as expressões culturais e simbólicas. O texto de Gladys Ribeiro e Vantuil Pereira sobre o Primeiro Reinado negligencia as ligações entre líderes políticos e seguidores populares, não faz distinção entre os interesses e as ações dos vários elementos que compõem as massas e, no fundo, tende a confundir pessoas de cor, libertos e filhos de escravos em argumentações que se esforçam para persuadir o leitor quanto à agência popular. O ensaio de Patrícia Sampaio sobre política indigenista é surpreendentemente decepcionante; um estudo de relatórios ministeriais que presta pouca atenção ao que aconteceu na realidade concreta. O capítulo sobre tráfico de escravos, escrito por Beatriz Mamigonian, é ambicioso, até por suas conclusões provocativas e problemáticas em um ponto ou outro. Seja como for, suas novas proposições (de que o tráfico esteve sujeito a intensos ataques jurídicos, os quais impactaram a escravatura e os próprios africanos) são apenas expostas, e não satisfatoriamente demonstradas. Por fim, o capítulo sobre rebeliões de escravos pré-1850, escrito por Keila Grinberg, Magno Borges e Ricardo Salles, fornece um estudo e uma bibliografia úteis. Ainda assim, o argumento (de que as rebeliões e a violenta resistência dos cativos eram o aspecto distintivo do regime escravista, as quais impunham temor e pânico generalizados sobre os livres) fundamenta-se em evidências problemáticas e, por vezes, contestadas por fatos comprovados (por exemplo, a primazia da resistência pela fuga e por quilombos, a reduzida dimensão e o caráter efêmero das revoltas, suas seguidas repressões e, sobretudo, o êxito e a expansão do sistema escravista em todas as regiões e classes sociais).
A maior parte do volume, contudo, é bem mais consistente. O primeiro capítulo, uma introdução de Cecília Helena Oliveira para todo o período, é uma síntese sólida, que expõe a narrativa e os argumentos com destreza. Falta-lhe apenas uma melhor análise sobre as bases regionais e socioeconômicas por trás da divisão política da época. O capítulo de Piedade Grinberg sobre arte e arquitetura é uma apresentação culta e instrutiva, com notas explicativas e referências úteis. Embora ele já seja bastante proveitoso, seria bem-vindo alguém capaz de estender sua abordagem para os possíveis paralelos com escolas literárias e outras instituições de inspiração francesa, tais como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Colégio Dom Pedro II e também o papel de mecenas do monarca. O capítulo de Lúcia Maria Bastos P. das Neves sobre o Estado e a política na época da Independência faz hábil uso de fontes coevas em um percurso muito bem sucedido pela historiografia, ao qual se segue uma análise útil e, por vezes, revisionista, da narrativa. O capítulo de Eduardo França Paiva sobre Minas no século XIX é um estudo magistral, um tour de force que utiliza as pesquisas mais recentes para ressaltar a importância racial, demográfica e de desenvolvimento da província – é uma pena que ele não aplica o mesmo esforço para fazer as relações com a história política do período. Gabriela Ferreira compensa essa negligência, tão comum nestes capítulos, em seu engenhoso texto sobre a história diplomática no Prata. A autora fornece um relato útil e necessário sobre a consolidação do Estado entre 1837 e a década de 1850 e utiliza essa análise como estrutura indispensável para sua síntese narrativa. Fundamentado tanto em clássicos quanto em trabalhos recentes, este é um estudo que não para de surpreender e informar. Por fim, o capítulo de Guilherme Pereira das Neves, sobre a religião na monarquia, conclui o volume com um estudo amplo e útil, contextualizando a história da Igreja com um uso erudito de fontes em diversos idiomas e criteriosas referências a debates parlamentares. Só se poderia desejar que o autor houvesse tido espaço para aprofundar o tema da maçonaria ou a questão dos bispos, depois de tê-los apresentado.
O segundo volume é, no geral, o mais consistente. É verdade que o capítulo introdutório de Ilmar Rohloff de Mattos não aprimora muito seu clássico estudo sobre o período. Fazendo referência a uma bibliografia ampla e seletiva, sem o benefício da pesquisa de arquivo, sua análise digressiva evoca O tempo saquarema, frequentemente citado em outras partes por seus colegas, no qual se confunde a monarquia, o Estado e as classes dirigentes, sem uma clara noção do processo, da articulação ou das distinções partidárias, tão importantes na tentativa de compreender esse complexo passado. O estudo de Magda Ricci sobre a Cabanagem pode ser mais bem recomendado, se bem que com hesitação. A autora não apresenta nenhuma pesquisa de arquivo e presume que o leitor está familiarizado com a narrativa – os que desconhecem o assunto talvez ficarão confusos. No entanto, sua síntese de uma ampla gama de trabalhos apresenta a mais devastadora das revoltas regenciais, geralmente ignorada ou desconhecida por muitos de nós, e suas citações de obras relativamente obscuras da historiografia amazônica são úteis. O capítulo de Jaime Rodrigues acerca do fim do comércio atlântico de escravos é surpreendente, devido à erudição do autor. Ele pressupõe que o debate central permanece no tema das motivações britânicas versus motivações nacionais e geralmente ignora a contenda mais atual, que aponta como causas a agência escrava e a febre amarela. Embora forneça uma fascinante história intelectual da polêmica e da crítica parlamentar ao tráfico, ele o faz sem atentar ao seu impacto sobre a decisão de terminar o tráfico, às opiniões daqueles que realmente tomaram esta decisão ou à história política, essencial para compreender o contexto desta decisão. Por fim, o capítulo de Márcia Gonçalves sobre o Romantismo pode ser considerado como uma oportunidade perdida. É um trabalho sobre os conceitos fundamentais da escola e pressupõe um interesse na análise teórica de tais conceitos e um conhecimento do período e de suas figuras literárias. Há uma excelente bibliografia sobre os temas abordados e sobre autores canônicos brasileiros. No entanto, não há preocupação em mostrar como a sensibilidade e os literatos românticos se encaixavam no meio literário, social e político da época. Na verdade, a chance de demonstrar a relação entre a alta cultura e os interesses de outros historiadores – ou até mesmo dos leitores – foi perdida.
Outros capítulos são verdadeiramente valiosos. Nenhum período é mais importante ou seminal para a história da monarquia que a Regência, e a introdução de Marcelo Basile a esse período é deveras admirável, devido à sua clareza e maestria, beneficiando-se da ótima pesquisa, tanto de fontes primárias quanto de bibliografia. Embora seja preciso notar que ele negligencia a questão crucial do impacto socioeconômico no início da formação dos partidos, deve-se recomendar este texto bastante sólido e provido de úteis notas explicativas. O texto de Sandra Pesavento sobre os farroupilhas inclui uma útil narrativa, embora a necessária análise contextual da revolta seja atrapalhada, aqui e ali, por hipóteses e conclusões equivocadas. Estas são bem menos relevantes que a provocativa investigação que a autora faz da construção literária e historiográfica da identidade e do imaginário gaúchos e de sua importância. O capítulo de K. Grinberg sobre a Sabinada também tem valor evidente. Pode-se discordar da autora em algumas passagens, quanto a fatos e interpretações, mas o texto é, em si, útil por seu caráter provocativo e pela centralidade das questões que apresenta. Ela usa essa destacada revolta para ilustrar como o debate sobre discriminação racial veio à tona e depois foi suprimido na década de 1830. Ao fazê-lo, discute explicitamente os aspectos raciais do movimento, a oposição que lhe fez Antônio Rebouças e as carreiras deste e de Sabino. Embora a autora procure se concentrar na questão da raça, sua bela pesquisa mostra que os fatores políticos, de classe e de carreira se entrelaçam com o fator racial consistentemente. De fato, as generalizações políticas e raciais que ela sugere nem sempre se ajustam com a carreira de Rebouças ou com as de Justiano José Rocha, Francisco Otaviano, Aureliano e Paula Brito. O texto de Vitor Izecksohn sobre a Guerra do Paraguai faz um sólido resumo da guerra e fornece uma excelente bibliografia. Além das várias linhas de pesquisa cuidadosamente sugeridas na conclusão, outras são indicadas pela bem elaborada análise política: qual foi o impacto da guerra na política doméstica em termos de reforma urbana e dificuldades financeiras? Qual foi a base dos temores do gabinete quanto à mobilização política entre liberais e veteranos depois de 1870? A conclusão de Ivana Lima para o volume dedica-se ao tópico aparentemente pouco auspicioso da língua nacional. Ainda assim, por mobilizar uma gama impressionante de bibliografia e textos coevos publicados, pode-se considerá-la muito útil para se pensar a formação cultural multiétnica, os aspectos culturais da sociabilização e o seu impacto político e as intenções políticas da cultura literária e o uso da língua. Por exemplo, a autora mostra a intenção senhorial de usar a língua para manter a hierarquia social, mas também demonstra os usos da língua para inclusão dos subalternos e para a mobilidade social. É uma introdução cuidadosa e atraente a um tópico que a maioria de nós ignora.
Dois capítulos deste volume são especialmente admiráveis por suas contribuições: o capítulo de Marcus Carvalho sobre movimentos sociais pernambucanos e a análise de Rafael Marquese e Dale Tomich sobre a produção cafeeira do Vale do Paraíba no contexto mundial. Nenhuma província era mais atingida pela instabilidade e pela violência que Pernambuco naquele período. Nenhuma era mais importante para compreender o significado nacional tanto da Regência quanto do Regresso. A análise de Marcus Carvalho aborda todas essas questões em uma mostra singular e impressionante do ofício do historiador. É exemplar por sua habilidosa conjugação de uma vasta gama de fontes de arquivo com bibliografia; por sua atenção à interação entre classes e cores de pele e entre a província e a Corte; e pela clareza de sua exposição. Modelo de como lidar com os complicados elementos em jogo na política e nas revoltas provinciais do início da monarquia, o artigo demonstra quão indispensável a história social é para a história política, a história política é para a social, e quão crucial a apreciação das contingências e das especificidades de tempo e lugar é para a compreensão e o encadeamento dos processos políticos. É invejável o evidente domínio de Carvalho sobre as questões no plano empírico e na historiografia; espera-se ansiosamente o dia em que forem feitas análises similares sobre todas as províncias do Império. Marquese e Tomich, em uma notável demonstração que combina um extraordinário entendimento das tendências gerais a uma atenção focada no detalhe local, colocam em contexto a emergência das plantações de café escravistas, em uma síntese magnífica, baseada em uma fundamentação historiográfica excepcionalmente extensa. Seu vigor específico provém da maneira pela qual insere as exportações do café brasileiro no contexto global, expondo, sem dificuldade, números e análises acerca do mercado do produto, da competição e da relação de ambos com o cultivo e a mão-de-obra no Brasil. Com excelentes números e preocupação com a cronologia, essa dupla ilustra, de forma ousada, os fatores vários que permitiram que o Brasil se lançasse à frente de rivais contemporâneos, como as ilhas caribenhas e Java. Mais que isso, a escrita e a organização dos autores é feita de tal modo, que aquilo que muitos de nós julgamos ser o aspecto mais desalentador da história torna-se dramático.
Como no primeiro volume, as contribuições do terceiro tendem a se agrupar em dois extremos – o dos problemáticos e o dos impressionantes. O texto introdutório de Hebe Mattos sobre raça, escravidão e política, por exemplo, focaliza as três principais leis abolicionistas de 1850, 1871 e 1888, mas se esquiva da complexidade da história política com generalizações simplificadas sobre a classe dominante e o reformismo desprezado e com a afirmação insatisfatória de que cada lei foi, em grande medida, resultado da mobilização dos escravos. O ensaio de Margarida Neves sobre o Rio é inesperado, baseado em uma considerável bibliografia sobre as exposições universais e, na maior parte, as impressões de Koseritz. A bibliografia sobre o Rio ou sobre a história urbana do final do século XIX é, em geral, ignorada, exceto pelos trabalhos de Chalhoub. Não há nada sobre assuntos como a dramática transformação demográfica da cidade, o declínio do escravismo, a nova opulência e as amenidades da era pós-1850, a economia que girava em torno da cidade, a infraestrutura que a sustentava ou os estilos arquitetônicos que a adornavam, o surgimento dos novos bairros elegantes, o impacto qualitativo e quantitativo das doenças contagiosas. O capítulo de João Klug sobre a imigração para o sul também não satisfaz. É menos uma síntese competente que uma tentativa fracassada de construir uma narrativa triunfalista. Preocupa-se quando o autor supõe que a política de Estado ou que a classe dirigente da nação não mudaram com as décadas, e, embora ele presuma que há uma lógica racial na imigração europeia, não faz qualquer tentativa de atrelar as mudanças na política de imigração às mudanças na política atinente ao tráfico de escravos africano e à escravidão. Por fim, o relato de Maria Helena Machado sobre a abolição da escravatura é igualmente decepcionante. A exemplar pesquisa de arquivo sobre eventos locais paulistas é maravilhosa, mas nota-se que a autora geralmente deixa de lado as fontes coevas abolicionistas publicadas e a tradição acadêmica sobre o movimento abolicionista para privilegiar o argumento de que as rebeliões escravas e o medo por elas espalhado impulsionaram o abolicionismo. Suas evidências são demasiado seletivas e, às vezes, podem ser lidas de modo bem diferente do que ela propõe. E, embora o próprio texto indique algo sobre a importância dos abolicionistas na fuga e na resistência dos escravos rurais, ela insiste em argumentar que os líderes abolicionistas eram marginais até 1888. Na verdade, a autora só menciona o movimento abolicionista uma única vez e, apesar de seu enfoque na desestabilização rural paulista nos anos 1880, ela se refere apenas de passagem a Antonio Bento. A agência escrava dos escravos é crucial para o entendimento tanto da escravidão quanto da abolição no Brasil, mas não há motivos para ignorar as realidades políticas nacionais ou a natureza do movimento nacional que, com êxito, se envolveu com essas realidades, promoveu e organizou a fuga e a resistência na década de 1880 e fez um uso político astuto e efetivo do impacto da agência escrava.
Há trabalhos bem mais interessantes nos outros capítulos do volume. Veja-se, por exemplo, o convincente relato de Martha Abreu e Larissa Viana sobre cultura urbana afro-brasileira. Bem escrito e envolvente, é resultado de uma persuasiva síntese da bibliografia atual e dos valiosos registros do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Pode-se perguntar, devido à pesquisa das autoras, por que elas ainda se sentiram compelidas a impor uma identidade “negra” a-histórica e uma política cultural consciente sobre os afro-brasileiros pobres. Afinal, essa imposição é, muitas vezes, contrariada pela especificidade e complexidade dos fatos que eles mesmos apresentam tão bem. Identidade negra, comunidade negra e comunidades e festividades negras são concepções post-facto com que eles cobrem uma realidade muito mais complexa – as variadas etnias africanas, a crioulização, a miscigenação racial, o hibridismo cultural e as metamorfoses nas festividades, o oportunismo, além da exploração, que eles detalham tão bem. O relato de Renato Lemos sobre republicanismo e o golpe de 1889 é uma síntese bastante útil e bem organizada de uma bibliografia considerável e variada. Apenas se poderia esperar que sua hábil análise se demorasse um pouco mais na ideologia e no papel crucial dos republicanos positivistas, no fracasso do reformismo democrático e agrário dos abolicionistas e nas divisões e recuos dos partidos tradicionais. Contudo, o artigo deve ser recomendado por sua discussão acerca da dissidência, da alienação e da politização dos militares – excepcional pela minúcia e clareza.
Os capítulos restantes são ainda mais consistentes, dois deles em particular. Embora se possa discordar da compreensão de Salles sobre a história dos saquaremas e da crise de 1871, deve-se recomendar a maior parte deste capítulo sem hesitação. Bem concebido e escrito, o texto faz uso de uma criteriosa seleção de bibliografia e de fontes primárias publicadas para fornecer um sofisticado tratamento da história política de meados do século e das figuras que o dominaram, com evidente conhecimento sobre o crucial contexto socioeconômico. Talvez um estudo mais rigoroso das fontes de arquivo e dos debates de 1871 pudesse explicar como e porque os saquaremas condenaram a Conciliação e pudesse fazer a clara distinção entre as políticas e a perspectiva do imperador e as dos saquaremas. Não obstante, esse é um trabalho notável e uma excelente base para um debate proveitoso. O texto de Ângela Alonso sobre as ideias e as correntes da Geração de 1870 é indispensável por vários motivos. Baseado em uma leitura cuidadosa de bibliografia e fontes coevas publicadas, é uma análise rica e original que requer (e recompensa a) leitura atenta, pois trata, com esmero, de influências, autores e preocupações. O artigo destaca o ponto crucial da adaptação do pensamento atlântico feita pelos intelectuais brasileiros e o papel decisivo que estes desempenharam como atores políticos engajados (e não como intelectuais descompromissados). A autora também esclarece que eles deixaram um importante legado, enfatizando a missão civilizatória do pensamento social e a ideia seminal de que as massas da nação eram um singular amálgama de três raças. De modo geral, o capítulo é fortemente recomendável. Mas, devido à ênfase no ativismo político, o leitor é surpreendido pela implícita decisão da autora por separar a história política da intelectual ao tratar da primeira sem a costurar com a segunda, na maioria das vezes. Isso pode explicar alguns deslizes: o artigo não aborda de modo satisfatório a natureza ou influência duradoura do radicalismo liberal pré-1870; afirma que o regime possuía uma ideologia aristocrática e católica, em contradição com as verdadeiras ideologias e políticas da monarquia; e seu foco sobre o positivismo e seus militantes é irresoluto, apesar da importância destes sobre os republicanos, sobre a queda do regime e sobre o regime seguinte.
Os capítulos remanescentes também são altamente recomendáveis. O texto de Maria Luiza Oliveira sobre São Paulo é exemplar; escrito com grande empatia e destreza, combina um estudo magistral sobre as abordagens e tendências da historiografia com um esboço útil da natureza, do ritmo e da direção das mudanças urbanas que transformaram São Paulo de centro intelectual provincial em núcleo agroexportador emergente. As referências indicam domínio dos clássicos e selecionam textos acadêmicos inéditos; a autora emprega, engenhosamente, fontes de arquivo para provar pontos específicos. Instrutivo e inspirador em todos os aspectos, o artigo é uma realização invejável. O mesmo talvez possa ser dito sobre o agradável ensaio de Leonardo Pereira sobre a literatura do período. Bem escrito, é um texto lúcido, que se vale da literatura e do célebre dito de Machado de Assis sobre o “instinto nacional” para traçar os meios pelos quais a literatura e os literatos pós-1870 se engajaram na transformação da política e da sociedade. Aqui encontramos um hábil tratamento da teoria literária coeva, das obras literárias e do meio político e social, além de uma demonstração competente de como esses aspectos se relacionavam. O leitor pode apenas imaginar o que um acadêmico tão talentoso haveria feito se sua tarefa houvesse sido estendida até o divisor de águas literário dos anos 1850, durante os quais tanto Alencar quanto Machado se formaram. Ainda que o uso das fontes primárias seja exemplar, o leitor fica intrigado com a decisão do autor em citar apenas textos bibliográficos selecionadas e muito recentes – o que surpreende, sobretudo, quando se leva em conta a grande força da história e da interpretação literárias brasileiras e brasilianistas ao longo das gerações. Por fim, José Augusto Pádua nos fornece um estudo bem sucedido sobre a história e o pensamento ambiental do período. Dominando as fontes e a bibliografia imprescindíveis, as quais ele discute com destreza, essa é uma contribuição revigorante e provocativa que sugere, implícita ou explicitamente, inúmeras possibilidades para pesquisas ulteriores nesse campo relativamente novo. Seria desejável, por exemplo, que o autor houvesse enfatizado com maior vigor o impacto da oposição (ou da indiferença) do Estado e das classes dominantes às críticas concernentes à natureza do modelo de desenvolvimento rural do Brasil. Como no caso dos abolicionistas até a década de 1880, brasileiros que se opunham ao modelo de produção agro-exportadora insustentável eram marginalizados, não importando quão proeminente fossem pessoalmente. Tudo isso faz o leitor relembrar algo que a obra clássica de Emília Viotti da Costa sobre a abolição da escravatura deixou evidente. Não é a ausência ou a presença de ideias esclarecidas o que explica práticas ruins em um período e práticas boas em outro. Mas, sim, as alterações favoráveis nas circunstâncias materiais e políticas.
A resenha de uma coleção desse porte pode ser comparada a um convite para um bufê de amigos. É preciso provar os diversos pratos e emitir uma opinião; felizmente, está claro que a maioria dos pratos aqui degustados é excelente ou, pelo menos, que vale a pena experimentá-los, apesar de uma ou duas objeções. Talvez agora o convidado possa notar que faltaram alguns pratos que ele gostaria que houvessem sido servidos – apenas para fazer algumas sugestões de pesquisas futuras para todos nós.
Faz sentido haver capítulos sobre o Rio, a capital nacional, e sobre o café e o Vale do Paraíba; também faz sentido haver um capítulo sobre Minas, devido à sua importância política, econômica e demográfica; sobre Pernambuco, dada a sua constante importância política e econômica, e sobre São Paulo, cuja primeira emergência no cenário econômico ocorre sob a monarquia e cuja proeminência ulterior no país chama atenção. Pode-se perguntar, porém, pela ausência de capítulos sobre Salvador e a Província da Bahia, pela falta de um capítulo sobre o açúcar ou pela ausência de um capítulo sobre a Amazônia.
Afinal, Salvador foi a segunda cidade do império ao longo do período e a Bahia foi economicamente significativa e politicamente crucial durante toda a monarquia. O açúcar, mesmo que sua exportação e participação no mercado internacional tenham recuado na época, dominou as exportações no início do período que os três volumes discutem e continuou sendo um item de exportação regional muito importante no nordeste e na baixada fluminense durante a monarquia. Embora comentários sobre isso estejam espalhados pelos volumes, um capítulo sobre a ascensão e o declínio do produto, com uma análise das várias consequências, seria, por certo, útil. Quanto à Amazônia, embora o capítulo sobre a Cabanagem tenha sido uma excelente ideia, o esquecimento no qual Belém, Manaus e a Amazônia caem logo na sequência da trilogia é lamentável. Embora o mesmo possa ser dito sobre o Rio Grande do Sul depois do capítulo sobre a revolta farroupilha, a importância econômica e política da província gaúcha pelo menos é abordada no capítulo sobre a diplomacia platina. O mesmo não pode ser dito sobre o norte; a antologia negligencia sua história após o início dos anos 1840. Ainda que a política de Estado tenha focalizado e se dedicado a outras áreas, ela demonstrou um esporádico, mas crescente interesse na região pelo menos a partir de meados do século. A Província do Amazonas data desta época, quando as marcas do ciclo da borracha, que atingiu seu pico por volta do ano 1900, começaram a se definir; além disso, toda a região é um interessante campo para conflitos diplomáticos, expansão da infraestrutura, penetração econômica e política indigenista. Embora o desdobramento de grande parte desses eventos ocorra um pouco mais tarde (1890-1914), sua preparação tem atraído e deve atrair maior interesse.
Outra lacuna se refere a uma atenção séria e constante ao pensamento econômico e às políticas financeiras sob a monarquia, com ênfase em uma escrita que seja acessível àqueles que não têm noções sobre economia. Tradicionalmente, historiadores do desenvolvimento e das finanças do Brasil asseveram que o século XIX foi significativo para o que aconteceu ou não aconteceu e por quê. Mais que isso, a monarquia é a época em que foram feitos avanços cruciais na infraestrutura e na qual o dramático incremento na produção, no comércio, nas comunicações e nos investimentos da nação ocasionou a inovação e o debate na política financeira e nas instituições. De fato, dívidas internacionais, demandas e crises atlânticas modelaram a política dos gabinetes e o debate parlamentar a partir dos anos 1850, com crescente importância e impacto doméstico desde a época da Guerra do Paraguai até a era do reformismo urbano e do abolicionismo. Sem dúvidas, esses assuntos solicitam nossa atenção.
Jeffrey D. Needell – Professor de História Brasileira no Departamento de História da Universidade da Flórida (College of Liberal Arts and Sciences/ UF – Flórida/EUA) e Professor Afiliado do Centro de Estudos Latino-Americanos (UF – Flórida/EUA). E-mail: jneedell@history.ufl.edu
GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Orgs.). O Brasil imperial. 3 Vols. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. Resenha de: NEEDELL, Jeffrey D. Uma celebração da História Imperial do Brasil. Tradução da resenha: LUCIANI, Fernanda Trindade. Almanack, Guarulhos, n.2, p. 160-167, jul./dez., 2011.
Writing and Empire in Tacitus | Dylan Sailor
Públio Cornélio Tácito é reconhecido hoje como um dos maiores historiadores do Principado. Considerando Ronald Haithwaite Martin [157] e Fábio Joly podemos afirmar que, ao pensarmos sobre vida e obra de Tácito, percebemos que sua obra histórica abarca o relato sobre as duas primeiras dinastias – dos Júlio-Claudianos e dos Flavianos – e a guerra civil de 69. Além de obras do gênero histórico, Tácito escreveu outras obras – Germânia, Agrícola e, possivelmente, Diálogo dos Oradores – e exerceu uma gama de cargos políticos dentro do Principado, entre eles estãoo de questor em Roma, no ano 81, e de procurador na Germânia, ainda no mesmo ano. Suas obras teriam sido compostas nos principados de Domiciano, Nerva e Trajano. Martin destaca ainda que os escritos de Tácito foram de grande importância e influência para os autores de século III e para os epitomadores dos séculos IV e V.
É na busca pela delimitação do estilo tacitista de escrita que Dylan Sailor compõe a obra Writing and Empire in Tacitus. Nesse livro o autor tenta mostrar como as obras e o estilo de Tácito são frutos de seu tempo e de sua carreira. Para isso , ao analisar as obras de Tácito, Sailor mostra como se desenvolvia a produção literária no Principado, não somente no tempo de Tácito, mas comparando com outros momentos da história do Principado, como quando remete a Sêneca e a outros autores citados nas próprias obras deTácito. É perceptível que, seguramente, a obra de Sailor segue a mesma linha de Sir Ronald Syme (Tacitus, 1958), em que credita o estilo de escrita de Tácito à carreira política e ao tempo em que escreveu. E que se contrapõe a O’ Gorman (Irony and Misreading in the Annals of Tacitus. Cambridge University Press, 2000) e Haynes (The history of make-believe: Tacitus on Imperial Rome. University of California Press, 2003) que creditariam o estilo taciteano a uma tradição em Roma, abalando o vínculo entre Tácito, sua obra e a realidade mais imediata. Evidentemente, para esses dois autores, Tácito estaria mais próximo de Tito Lívio, enquanto, para Syme e Sailor, um bom marco comparativo seria Salústio. Notoriamente, podemos ver que a opção tomada por Sailor parece mais adequada ao analisar a obra taciteana. Porém, ao contrário de Salústio, Tácito é envolto pelo regime imperial. Um regime que oprime por vezes a liberdade de se escrever o que pensa. A obra de Sailor aborda, de maneira muito enfática e convincente, que não é possível analisar as obras de Tácito sem conseguir enxergar o contexto de sua carreira, de sua obra literária e de sua vida social nas entre linhas de suas obras historiográficas.
O livro é dividido em seis capítulos: “Introdução”, “Autonomia, autoridade e representação do passado sob o Principado”, “Agrícola e a crise de representação”, “Os encargos de Histórias”, “Em outros lugares de Roma”, “Tácito e Cremutio” e “Conclusão: conhecendo Tácito”. O autor constrói a sua obra mostrando como podemos distinguir o autor, do político e do homem aristocrata nas obras de Tácito.
A opção de Sailor por iniciar o livro com um capítulo focando os conceitos sobre os quais ele debate ao longo de sua obra parece ser a estratégia mais adequada. Isso porque nesse capítulo o autor discute justamente o caminho pelo qual seguirão seus argumentosao longo de sua obra. O autor começa o capítulo introdutório “Autonomia, autoridade e representação do passado sob o Principado” se indagando sobre a possibilidade de Tácito ter criticado tão claramente a hipocrisia do Principado – do qual fez parte como deixa claro sua extensa carreira política. Nesse capítulo percebe-se que é indispensável, para Sailor, termos em mente que, para os romanos, era essencial a separação entre o autor e a voz narrativa da obra.
Esse primeiro capítulo nos permite entender que, para Sailor (assim como para Ronald Syme) somente foi possível a Tácito exercitar esse distanciamento entre a pessoa e a obra porque ele eraa membro de uma elite de origem provincial. Segundo Sailor, as obras no mundo romano tinham várias funções, mas a principal seria se tornar um monumentum tanto para o presente quanto para a posteridade, sendo algo perdurável, simbólico com intenção de se tornar permanente. É a obra que dava peso ao nome do autor e lhe propiciava a noção de “grande dever” cumprido. Sailor apresenta nesse capítulo a ideia, que defende em toda em sua obra, de que Tácito, por estar presente no principado, não age apenas como um simples escritor, mas também como um agente social nesse meio. Essa ideia apresentada por Sailor, de que o historiador também é um agente social é bem interessante, e também se adéqua a outras personalidades do mundo romano que também registraram seus posicionamentos sobre o poder enquanto estavam dentro das estruturas de poder.
Os demais capítulos seguem a mesma linha de raciocínio, porém, é notório que o autor não aborda as questões conceituais como abordara no primeiro, tornando assim o capítulo inicial de mais relevância à obra. No segundo capítulo, intitulado “Agrícola e a crise de representação”, o autor comenta sobre o monopólio por parte da casa imperial dos triunfos militares e sobre como era perigoso se destacar à frente do Imperador. Essa crise das representações gera um processos de exageração das vitórias ou até mesmo a fabricação dessas. A partir das narrativas de Tácito, Sailor interpreta que Agrícola teria achado uma alternativa para esse processo, reconciliando realidade e representação. De acordo com Sailor, em certa medida a obra Agrícola, de Tácito, [158] se preocupa tanto com a representação quanto com o restabelecimento da verdade, ligada à negação do triunfo à Agrícola. Desse ponto, surgem duas questões. Se é negado à elite e à não-elite as honras pelo triunfo, o que as diferenciam? Se não existe mais o mérito pela honra, o que poderia motivar os membros da sociedade romana a se esforçarem pelo Império? Um dos pontos tocados pelo autor é a questão da virtude. Nesse momento do Império, qual seria o caminho para os homens ilustres mostrarem suas virtudes? Em uma seção do capítulo, Sailor apresenta como era fácil em outros tempos apresentar as virtudes para sociedade, e como era possível produzir esta noção de representação de modo claro.
No terceiro capítulo “Os encargos de Histórias”, Sailor diferencia os objetivos e o estilo de Agrícola e das Histórias. Sailor demonstra como ambas obras trazem a tona problemas políticos, mas em Agrícola, Tácito visa a enaltecer a memória de seu sogro em contraposição ao antagonista, Domiciano. Segundo a análise de Sailor, em Histórias pode se notar um amadurecimento de Tácito ao comentar sobre a tirania que foi se formando, até culminar no desfecho de Domiciano/Agrícola. Sailor aponta como a história da escrita de Tácito se confunde com a história política de Roma por mostrar as mudanças institucionais do Império e as reviravoltas que mudaram os poderes dentro da sociedade. Ao mesmo tempo, Tácito descreve a relação entre o historiador e o príncipe. Para Sailor, Tácito realizaria uma história da historiografia para explicar os motivos da escrita de seu livro.
Primeiramente, Tácito aponta a mudança de poder quanto à escrita da história que, a partir da batalha de Actium, esteve condicionada a uma pessoa: o príncipe. E que, após isso, as histórias estiveram condicionadas a analisarem as res gestae deste homem. A partir da instauração do principado há uma troca da eloquentia e libertas, comuns na escrita da história antes da batalha de Actium, pelo servilismo que passa existir em relação ao imperador. Outro ponto que o autor levanta é que as biografias realizadas até então foram presas à adulatio. Parece sensato destacar um ponto bem abordado por Sailor: nas Histórias, Tácito se livra da relação de poder entre súditos e imperador (caracterizada por uma relação de servilismo) removendo a figura de Trajano do prefácio. Assim, pode a Tácito ser configurada uma liberdade, que a meu ver é o grande diferencial de Tácito para os demais autores da era imperial.
No quarto capítulo “Em outros lugares de Roma”, o autor discute a relação que existe entre a história escrita por Tácito, o regime do Principado, a cidade de Roma, e os demais componentes do Império. Para isso, Sailor analisa o uso da semiótica presente na obra de Tácito contrapondo, princeps a súditos, escravos a senhores, romanos a estrangeiros. O texto mostra como era a relação do princeps com a monumentalidade da cidade de Roma através de passagem que mostra obras erguidas por imperadores. Sailor mostra como Tácito trabalha com a crise da semiótica durante o período de Guerra Civil e que possibilita que os romanos matem uns aos outros. Esse, a meu ver, é o capítulo que Sailor tenta tirar Tácito de seu contexto político e o leva para o contexto social do Império. Sailor mostra nesse capítulo como o historiador latino se relacionava com os costumes dos antepassados e como os comparava com os do seu presente. É certo, pela obra de Sailor, identificar a inquietação de Tácito ao exercer uma reflexão sobre seu tempo.
No quinto capítulo “Tácito e Cremutio”, Sailor aponta para a dificuldade de recepção das obras de Tácito em seu tempo. Valendo-se de uma análise da obra Anais, de Tácito, demonstra os perigos existentes em se escrever tal tipo de obra, e os recursos utilizados para demonstrar tal fato. Para Sailor, diante de tal contexto, a obra Anais serve para nos convencer de todas as dificuldades que rondavam a escrita do historiador, e o risco destas obras despertarem desconfiança ou indiferença no contexto imperial. O que Sailor aponta é que Tácito, através do exemplo de Cremutio, expõe que escrever sobre o Principado era perigoso para o historiador, e que mesmo falando de imperadores mortos (mesmo de uma linhagem já morta!) continuava sendo perigoso tanto para a obra quanto para o autor. Esse capítulo faz um contraponto com o primeiro, quando discute a questão do mártir. Sailor chega à conclusão de que a obra Anais é perigosa porque ajuda os leitores da época a entenderem a natureza dos príncipes e os meios de tirar vantagem deles.
Em “Conclusão: conhecendo Tácito”, o autor fecha com duas ideias em torno do programático e da representação, que se cruzam constantemente na historiografia taciteana. A primeira, sobre a representação do papel do historiador e da história dentro da História, e, a segunda, das relações históricas de atores para obras do passado ou o futuro da história. Tácito, de acordo com Sailor, buscaria mostrar a finalidade de sua obra apresentando a representação do Império, da cidade ou até mesmo do julgamento de Cremutio. Por outro lado, não se abstém de uma discussão programática de seu ofício inserindo o leitor no contexto político que cerca a escrita de sua obra. O que Sailor aponta com esses dois elementos é que a obra de Tácito apresenta como escrever história poderia ser um modo de vida. A obra de Tácito teria permitido a ele se mostrar em um meio público e ao mesmo tempo indicar como o historiador latino se postava contra a ordem de poder existente.
Faço ainda duas ponderações sobre a obra de Sailor. A primeira é que, mesmo abordando grandes obras como Agrícola, Histórias e Anais o autor se abstém de uma análise de outras duas obras taciteanas: Germânia e Diálogo dos Oradores. Essas duas obras poderiam fundamentar ainda mais a tese dele, já que a primeira trata justamente do período em que Tácito esteve inserido como parte operante da política romana e que a segunda trata de uma reflexão sobre a oratória em seu tempo (ainda que sua autoria siga em debate). Nesse mesmo ponto, é visível que o autor se concentra por demais na análise de Vida de Agrícola e História, o que empobreceu a análise sobre Anais, obra com a mesma importância que as duas anteriores. A segunda ponderação, é que, em muitos momentos de sua obra, Sailor não torna possível reconhecer que um conceito usado na análise de uma obra se estende às demais. Por exemplo, se a mesma noção de virtude em Agrícola está presente em Anais. Ele consegue deixari bem clara a ideia de que todas as obras de Tácito são marcadas pela ambiguidade (porque o Principado é ambíguo), masdeixa obscuro se as demais ideias seriam percepctíveis em todas obras. Apesar disso, não vejodúvidas sobre o grande valor que a obra de Sailor traz aos pesquisadores de história antiga e de historiografia porcontribuir gerando uma bem fundada interpretação da escrita de Tácito
Notas
157. CF. MARTIN, R.H. Tacitus. In: Hornblower, Simon and Spawforth, Antony (Ed.). The Oxford classical dictionary. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 1469-1471.
158. Agrícola – obra de cunho biográfico que Tácito teria composto em louvor ao sogro ao qual o Imperador Domiciano teria o negado o triunfo pelas campanhas na Bretanha.
Willian Mancini – Mestrando pela Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: willianmancini@yahoo.com.br
SAILOR, Dylan. Writing and Empire in Tacitus. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Resenha de: MANCINI, Willian. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.2, n.2, p.129-132, jul./dez., 2011.
The Emergence of a Scientific Culture | Stephen Gaukroger || Nature, Empire and Nation | Jorge Cañizares-Esguerra
O objetivo da presente resenha é apresentar e discutir dois livros publicados em 2006, porém de pouca repercussão no meio acadêmico brasileiro. O primeiro é The Emergence of a Scientific Culture, do historiador britânico Stephen Gaukroger, enquanto o segundo é Nature, Empire and Nation, de Jorge Cañizares-Esguerra, estudioso da América hispânica colonial na chamada primeira modernidade ou early modern period. A pequena recepção das duas obras não deixa de ser estranha visto serem ambos os autores já conhecidos do público brasileiro; de Stephen Gaukroger se publicou em 2000, pouco após sua edição original em língua inglesa, uma biografia intelectual de René Descartes [2] , enquanto Cañizares-Esguerra é o autor de How to write the history of the New World, livro ao qual, se não se lhe pode dar a pecha de influente, não obstante encontrou seu caminho nas bibliografias de alguns artigos e importantes estudos [3] . Ao longo do texto, contudo, não procurarei entender os dois livros aqui estudados com relação às trajetórias acadêmicas dos seus autores, e sim os lerei a partir das concepções – e, por que não, projetos – acerca da história da ciência que ambos veiculam. Apresentarei, portanto, primeiro o livro de Gaukroger, apontando algumas das problemáticas em que se envolve e algumas questões que podem ser tratadas nele, para, num segundo momento, discutir a obra de Cañizares-Esguerra e algumas reflexões que podem ser feitas a partir dele, procurando pontos de contato e distanciamentos entre os dois.
The Emergence of a Scientific Culture faz parte de um projeto maior acalentado por Stephen Gaukroger visando retraçar a “transformação dos valores cognitivos e intelectuais na era moderna”, do qual este é apenas seu primeiro livro. Com relação à história da ciência, sua proposta é perceber como a ciência passou a moldar os valores sociais, culturais, políticos e/ou morais da sociedade contemporânea, constituindo-se, ao menos em sua auto- imagem, como parte intrínseca da modernidade. Com isso, procura atender à condição que coloca de escrever uma “história conceitual e cultural da emergência de uma cultura científica no Ocidente” e, embora não problematize explicitamente o que considera ser uma “cultura científica”, ela não obstante está presente no modo como redescreve seu objeto de estudos. Desse modo,
Este estudo trata a ciência no período moderno como um tipo particular de prática cognitiva e como uma espécie particular de produto cultural, e meu objetivo é mostrar que se explorarmos as conexões entre esses dois, nós podemos aprender algo acerca das preocupações e dos valores do pensamento moderno que não poderíamos aprender de ambos separadamente (GAUKROGER, 2006, p.3) [4].
Ao perceber a ciência imbricada na cultura de sua época, o autor se coloca a questão de explicar a singularidade da Revolução Científica ocidental, contrapondo-se a outras culturas e civilizações que tiveram culturas científicas avançadas, mas não conseguiram imprimir a elas o mesmo caráter de expansão e inovação constantes tampouco conseguiram remodelar suas culturas a partir da ciência. Por isso, sua caracterização da ciência, percebe o autor, é ao mesmo tempo uma confirmação e uma refutação da conceituação oferecida por Thomas Kuhn. Seu objeto quebra com a lógica kuhniana porque apesar de se articular em torno às sucessivas mudanças de paradigmas, sempre influenciadas pela sociedade, também advoga a ruptura entre os desenvolvimentos científicos ocidentais e os dos demais lugares do mundo. Sua problemática, logo, escapa da mera escrita da história da ciência e entra no domínio das discussões acerca da modernidade, metamorfoseando seu objeto no da percepção da inter-relação entre um contínuo desenvolvimento da ciência e rupturas estruturais mais profundas, as quais explicam a singularidade da ciência ocidental. Não deixa, portanto, de se incluir no mesmo programa já perseguido pelo historiador italiano Paolo Rossi, em especial em seu Naufrágios sem espectador [5], livro que também procura correlacionar – embora sem determinar um e outro de forma causal – o desenvolvimento da ciência e o de certos aspectos da modernidade. Da mesma forma, também a obra de Frances Yates, em especial os volumes sobre Giordano Bruno e sobre o movimento rosacruz, [6] são referencias para a compreensão do projeto de Gaukroger, embora se deva destacar com relação a ambos os autores tanto a atualização dos debates nos quais se inserem por este último como também o fôlego de seu projeto, que afeta o próprio estatuto da história da ciência por dedicar igual atenção às doutrinas científicas elaboradas por suas personagens e à condição social do filósofo natural – muito embora se possa questionar se a delimitação temporal de seu livro, terminando no final do século XVII, dá conta de explicar esses desenvolvimentos decisivos ou se se trata apenas de um prelúdio para uma abordagem mais direta dessas questões [7].
O livro, dividido em cinco partes, começa sua narrativa propriamente dita em sua segunda seção, a qual trata da própria colocação em cena da filosofia natural pelo encontro da tradição cristã com a filosofia aristotélica. Nesse sentido, seu segundo capítulo descreve a solução agostiniana para o problema da interpretação do mundo na esteira do fim da Antiguidade e o desafio que representou a essa solução a introdução do aristotelismo no Ocidente. O terceiro capítulo trata do desafio à nova “amálgama” aristotélica representada pelo neoplatonismo renascentista e, por fim, o quarto capítulo aborda a transformação interior à própria filosofia natural no que toca a seus critérios de validade. Se antes a leitura do mundo tentava captar o significado religioso do que nele estava presente, as transformações na leitura das Escrituras, derivadas de desenvolvimentos na filologia, na história e no direito implicaram que a própria filosofia natural sofreria mudanças. Essas mudanças, aliadas às descobertas do Novo Mundo, abrem espaço para a inserção da experiência e da observação direta nos domínios da ciência, fazendo-a deixar de ser apenas a dedução de princípios primeiros a partir da realidade sensível. Percebe-se, nessa segunda parte de seu livro, a preocupação do autor de relacionar as transformações da ciência a mudanças maiores que acontecem no âmbito da cultura, o que lhe permite sustentar seu argumento mais recorrente, o de que ao invés de uma autonomia com relação ao mundo religioso, a ciência nascente se modela e se pensa através da própria religião.
É tendo esses problemas em vista que se articula a terceira seção do livro. Os capítulos cinco, seis e sete do livro são seus capítulos centrais porque são onde mais claramente se apresenta sua proposta de perceber a ciência como parte de uma cultura mais ampla. Dessa forma, os capítulos questionam, respectivamente, a prática da filosofia natural, seu praticante e o lugar que ele ocupa na sociedade. Quanto à primeira, o autor descreve o movimento da filosofia natural de se afirmar a partir de sua relação com a verdade para sua relação com a utilidade; quanto à segunda, demonstra como são transferidas as características do filósofo moral para o filósofo natural, isto é, para aquele que virá a ser o cientista, do qual se espera agora comportamento condizente com sua ocupação. Esse comportamento, que lhe faz ocupar o papel de sábio, é modelado pelas virtudes morais e religiosas. Por fim, quanto ao lugar do filósofo natural, ele problematiza a afirmação de que as universidades eram o ambiente mais propício a estes, reconstruindo a partir, sobretudo, do exemplo de Galileu Galilei a importância do mecenato aristocrático com relação à prática científica. Concernentes à epistemologia científica, as transformações estudadas implicam, primeiro, que a preocupação com a verdade passa a ser uma preocupação com a objetividade, ou seja, da defesa de modelos de conhecimento se passa à defesa (e ao ataque) dos procedimentos científicos; em segundo lugar, que o modelo medieval do magister de um colégio de artes universitário, o qual pensava a si mesmo livre de dogmas, podendo discutir uma mesma questão de diversas maneiras, é colocado de lado em favor de um intelectual preocupado em oferecer conhecimento útil à sociedade ou, em termos da primeira modernidade, à coroa. A ciência, portanto, estava afastada de um ideal atemporal de verdade e inserida em sua época.
A quarta parte, que ocupa a maior parte do livro, e a quinta problematizam os desenvolvimentos internos à ciência. De um lado, as relações entre os diversos modelos de explicação da natureza disponíveis no século XVII – a história natural, o mecanicismo e, por fim, a aplicação prática da matemática ao estudo da natureza –, deixando em aberto a disputa em torno à compreensão dominante do mundo. Essa inconclusão com que termina o livro – embora dependa de seu caráter de ser parte de um projeto maior – visa ressaltar a inexistência de uma teleologia guiando o desenvolvimento científico, mostrando que não existia (ainda) um ordenamento consensual de suas disciplinas. Ao mesmo tempo, mostra como todos os modelos explicativos visavam apoiar-se na religião ou em alguma concepção de conhecimento revelado para assegurarem sua posição. A quinta e última parte é, por sua vez, um breve excurso sobre as tentativas de unificar a ciência e o conhecimento no século XVII, questão candente e que também é deixada em aberto.
Mesmo que se possa pensar que por vezes Stephen Gaukroger esteja demasiadamente preso a discussões e problematizações epistemológicas, uma vez que discussões acerca de doutrinas científicas ocupam a maior parte do volume, seu livro é bem-sucedido em re- situar a emergência da ciência ou, como chama, de uma cultura científica na história ocidental; também é importante por estar atento às rupturas estruturais com as quais as continuidades culturais, num contexto amplo e de grandes transformações, se relacionam. É a partir deste ponto que se pode problematizar o livro de Jorge Cañizares-Esguerra.
O livro do historiador americano compila artigos escritos num intervalo de mais de dez anos que tocam no tema da história da ciência. Seu principal objetivo é discutir as proposições que afirmam o atraso cultural e científico da Península Ibérica e de seus impérios coloniais. Segundo o autor, o desprezo da história da ciência – e aqui se pode incluir também Gaukroger, pois embora ele afirme que seu projeto partiu de algumas leituras e comparações com o mundo ibérico, ele só o trate marginalmente em seu livro – é derivado de uma auto- narrativa do Norte da Europa com relação à Revolução Científica, que percebe no Sul da Europa apenas o atraso e que, por conseguinte, reafirma apenas as ciências que a teriam encabeçado – matemática, física, astronomia –, deixando de lado os desenvolvimentos, resultado dos impérios coloniais, que os reinos da Península Ibérica fizeram com relação à cartografia, à metalurgia, à engenharia, entre outros conhecimentos, agrupados normalmente como conhecimentos técnicos.
Dessa preocupação resulta também o seu segundo problema de pesquisa. Percebendo que os reinos ibéricos não se opunham ao conhecimento científico – embora tivessem políticas que não combinam com a percepção que hoje temos de ciência, como é o tema de seu primeiro capítulo, o qual aborda a figura do cavaleiro-cientista –, ele passa a demonstrar como esse conhecimento era ressignificado pelos sujeitos coloniais, enfatizando como as elites crioulas se apropriavam do conhecimento científico para defenderem seus privilégios e imporem uma idéia de América frente às metrópoles coloniais. Tendo isso em vista, ele enfatiza os modos pelos quais essas elites crioulas percebiam o mundo, modos os quais, em sua maior parte, enquadram-se numa concepção barroca de ciência e sociedade. Os “cientistas” crioulos participavam e reafirmavam a existência de uma coletividade social, participando de seus rituais e celebrações e, principalmente, eles também procuravam defender sua posição.
Assentado nas doutrinas neoplatônicas e herméticas, o clero crioulo constantemente buscava na natureza assinaturas escondidas e subliminares com significado patriótico. Para eles, o corpo humano, a Terra, e o cosmo eram todos “teatros” barrocos (nos quais os objetos eram reduzidos a uma linguagem de imagens) com analogias micro e macroscópicas inter-relacionadas. Todos os objetos tinham significados polissêmicos e as habilidades exegéticas do clero lhes ajudavam a descobrir sua importância subliminar, revelando um cosmos pleno de desígnios providenciais que favoreciam as colônias. (CAÑIZARES-ESGUERRA, 2006, p.50) [8].
E, principalmente, no capítulo seguinte, “New World, New Stars”, onde procura demonstrar a gênese do conhecimento racial nas tipologias corporais formuladas a partir do Novo Mundo. Essas tipologias – tentativas de lidar e simplificar a heterogênea realidade americana –, criadas sobretudo pelos crioulos, procuravam defender, de um lado, a primazia da América e, de outro lado, a subserviência dos indígenas a esses mesmos crioulos.
É com relação a este segundo propósito de seu livro que Jorge Cañizares-Esguerra faz suas afirmações mais contundentes e, também, controversas. Embora não se possa rejeitar sua argumentação, pode-se questionar, por exemplo, sua percepção muitas vezes simplificada dos elementos sociais presentes na América hispânica, que percebe os mesmos crioulos, peninsulares, ameríndios e negros por toda a extensão de seu território. Um segundo elemento que pode ser problematizado é a ênfase na reapropriação pelas elites coloniais do conhecimento ibérico visando à construção de uma identidade própria – o revisionismo do autor acerca das posições normalmente aceitas da história ocidental está presente também nos últimos capítulos do livro, onde tenta demonstrar a primazia pelos pintores mexicanos da pintura de paisagens (capítulo sete) e também a origem mexicana das preocupações ecológicas de Alexander von Humboldt (capítulo seis). O revisionismo, sempre bem-vindo, não é, contudo, problemático por si só, pois a argumentação de Cañizares-Esguerra é sólida e sua discussão e revisão bibliográficas bastante bem-feitas. O problema específico que pode trazer sua obra é na consideração das rupturas existentes entre um momento onde essa ciência era formulada – a primeira modernidade trabalha por Stephen Gaukroger – e o momento que lhe é o referencial para contrapor sua visão, a Revolução Científica que tomou forma em contexto e época diferentes. Ao tratar das causas pelas quais o conhecimento racial ibero-americano não deu origem ao racismo oitocentista europeu, o autor refere apenas a motivos secundários, tais como a rejeição da tradição hipocrática-galênica de medicina ou o rechaço da filosofia aristotélica. Dessa forma, Cañizares-Esguerra, ao não conseguir dar conta das transformações estruturais pelas quais passou o conhecimento científico europeu – objeto do livro de Gaukroger – e no qual, se seu argumento pretende adquirir toda a sua importância epistemológica, também o conhecimento ibérico estava inserido, acaba por reiterar a visão que pretende questionar, pois deixa intocado o construto conceitual “Revolução Científica”. Da mesma forma, o principal mérito de sua argumentação – demonstrar que, mesmo de maneiras diferentes, espanhóis peninsulares e americanos participavam do mesmo contexto intelectual – pode ser elemento a jogar contra o autor, uma vez que para sustentar seu argumento ele frequentemente subsume a identidade dessas elites crioulas no orgulho que, frisa ele, sentiam frente à incompreensão de sua realidade por aqueles que tinham a Europa como base de onde partia seu olhar. Pensando nos debates que aconteciam na Espanha bourbônica, pode-se pensar se Cañizares-Esguerra, em seu afã de desestabilizar concepções tradicionais acerca da história iberoamericana não acaba por aceitar demasiadamente fácil a imagem que essas elites crioulas fazem de si mesmas; problema candente ao se considerar as guerras de independência que se avizinham do recorte temporal que escolhe para seus estudos.
Apesar dessas críticas, a contribuição de Cañizares-Esguerra, historiador que procura sempre novas formas de abordar velhos problemas [9], é uma importante adição a uma revisão substantiva da história da ciência. Junto com Gaukroger, ambos os autores fornecem uma reestruturação importante e significativa de seu objeto, a qual certamente servirá de base para historiadores futuros.
Notas
1. Aluno do segundo ano do curso de mestrado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, cuja pesquisa é feita sob orientação do Prof. Dr. Fernando Felizardo Nicolazzi e que conta com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-mail: doca.silveira@gmail.com
2. GAUKROGER, Stephen. Descartes – Uma biografia intelectual. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000. Publicado originalmente em 1997.
3. CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. How to write the history of the New World. Stanford: Stanford University Press, 2001; refiro-me, por exemplo, a Esquecidos e Renascidos, de Íris Kantor, livro seminal para o estudo recente da historiografia luso-brasileira setecentista, assim como seu estudo em Júnia FERREIRA FURTADO. Sons, formas, cores e movimentos na modernidade atlântica: Europa, Américas, África. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: FAPEMIG, 2008.
4. “The study treats science in the modern period as a particular kind of cognitive practice, and as a particular kind of cultural product, and my aim is to show that if we explore the connections between these two, we can learn something about hte concerns and values of modern thought that we could not learn from either of them separately” (GAUKROGER, 2006: 3; todas as traduções são do autor).
5. ROSSI, Paolo. Naufrágios sem espectador. São Paulo: UNESP, 2000; o original é de 1995.
6. YATES, Frances. Giordano Bruno e a tradição hermética. São Paulo: Cultrix, 1995; The Rosacrucian Enlightenment. Nova York: Routledge, 2004; sendo os originais, respectivamente, de 1964 e 1972.
7. O que não significa que o autor reifique as diferenças através de um estudo estrutural estanque, pelo contrário. É significativa, nesse sentido, sua crítica ao que chama de “abordagem weberiana” da história da ciência, a qual, segundo ele, ao ficar apenas no âmbito da contraposição entre epistemologias de diferentes civilizações, perde de vista “o valor das dimensões extra de análises, e logo se torna evidente que precisamos ir além do que acabam sendo distinções formais oferecidas por este tipo de abordagem” (GAUKROGER, 2006: 35). Sua abordagem, dessa forma, insere-se em debates recentes acerca do estudo da história política e da história dos discursos; em especial, parece reiterar proposição de Yves-Charles Zarka, em contraposição a Quentin Skinner, para quem a necessidade de relacionar os sujeitos a seus contextos não deve deixar de lado a discussão das idéias que – no interior da história da filosofia – eles esposam. No caso de Gaukroger, a dupla ênfase nas doutrinas científicas e nas condições sociais implica que a história da ciência não pode se resolver facilmente aceitando apenas uma dessas opções e não outra. ZARKA, Yves-Charles. “Que nous importe l’histoire de la philosophie?” in ZARKA, Yves-Charles (dir.). Comment écrire l’histoire de la philosophie? Paris: PUF, 1999, pp. 19-32.
8. “Steeped in Neoplatonic and hermetic doctrines, the Creole clergy constantly searching in nature for underlying hidden signatures with patriotic significance. For them, the human body, the Earth, and the cosmos were all baroque “theaters” (in that objects were reduced to a language of images) interlocked by micro- and macroscopic analogies. All objects held polysemic meanings, and the exegetical skills of the clergy helped discover their underlying import, revealing a cosmos suffused with providential designs that favored the colonies” (CAÑIZARES-ESGUERRA, 2006: 50).
9. Refiro-me, por exemplo, a Puritan Conquistadors, também do autor, o qual procura demonstrar as semelhanças entre o discurso puritano de conversão dos indígenas e expansão britânica nas América com a “demonologia” indígena veiculada pelos espanhóis. CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. Puritan Conquistadors – Iberianizing the Atlantic, 1550-1700. Stanford: Stanford University Press, 2006.
Pedro Telles da Silveira – Aluno do segundo ano do curso de mestrado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, cuja pesquisa é feita sob orientação do Prof. Dr. Fernando Felizardo Nicolazzi e que conta com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-mail: doca.silveira@gmail.com
GAUKROGER, Stephen. The Emergence of a Scientific Culture – Science and the Shaping of Modernity, 1210-1685. Oxford: Clarendom Press/New York: Oxford University Press, 2006. CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. Nature, Empire and Nation – Explorations of the History of Science in the Iberian World. Stanford: Stanford University Press, 2006. Resenha de: SILVEIRA, Pedro Telles da. Reescrevendo a história da ciência: The Emergence of a Scientific Culture, de Stephen Gaukroger, e Nature, Empire, and Nation, de Jorge Cañizares-Esguerra. Aedos. Porto Alegre, v.3, n.8, p.240-247, jan. / jun., 2011. Acessar publicação original [DR]
Intrépidos Romeiros do Progresso: maçons cearenses no Império / Berenice Abreu
Visões e revisões já foram empreendidas no campo historiográfico, mesmo assim ainda se podem encontrar certos temas à margem destas produções, temas que não se ousaram elucidar devidamente. Cada vez mais historiadores vêm atentando-se para estas questões e produzindo estudos que abarquem estas áreas. É neste contexto que podemos inserir a obra Intrépidos Romeiros do Progresso: Maçons cearenses no Império da historiadora cearense e atual professora da UECE Berenice Abreu.
Fruto de sua dissertação de mestrado apresentada em 1998, Intrépidos Romeiros do Progresso foi publicado no ano de 2009, integrando a coleção Outras Histórias, organizada pelo Museu do Ceará. A autora também possui a obra Do Mar ao Museu: a saga da Jangada São Pedro (parte de sua tese de doutorado) publicada nesta coleção em 2001.
O livro aqui abordado trás à tona um tema que frequentemente passa, ou passou, ao largo das análises historiográficas brasileiras: a Maçonaria. Composto por quatro capítulos, o livro Intrépidos Romeiros do Progresso nos mostra como se desenvolveu a Maçonaria na província cearense durante o período imperial. Motivada pela atmosfera de mistério que envolve até hoje a instituição maçônica, Berenice resolveu analisar a sociabilidade maçônica nos anos de 1870, período de disputas travadas no campo político e intelectual entre maçons e membros da Igreja Católica cearense, como fruto da chamada Questão Religiosa.
Logicamente que ao analisar os aspectos que envolvem estas disputas, o estudo também engloba as práticas de inserção na sociedade e de divulgação de seus ideários, frutos da já mencionada sociabilidade vivenciada pelos membros da instituição maçônica, tendo como ponto partida (ou melhor, de chegada) a análise sobre o jornal Fraternidade, que veiculava em suas linhas as idéias defendidas pela Maçonaria. Berenice também analisa as representações simbólicas e ritualísticas nas lojas maçônicas por ela abordadas (a Fraternidade Cearense e a Igualdade e Caridade).
No primeiro capítulo, intitulado A Maçonaria alimentando utopias de liberdade e fraternidade universais, a autora nos apresenta o cenário em que se desenvolve a Maçonaria cearense no século XIX, onde encontramos a composição social dos maçons locais, caracterizados como um grupo de intelectuais emergentes que passaram a enxergar na imprensa um meio de propagar seus ideários, sua visão de sociedade e o papel da Maçonaria, inserindo-se aí a criação do periódico Fraternidade. Esta época também foi marcada pelo conflito desencadeado pela Questão Religiosa, eclodindo a luta entre maçons (divulgadores das idéias progressistas) e ultramontanos (membros da Igreja Católica e mantenedores do pensamento conservador). Destacamos aqui a peculiaridade, ressaltada pela autora, do contexto cearense desta disputa, tendo em vista vários clérigos católicos pertencerem à Maçonaria, onde apreendemos que esta disputa, mesmo tendo uma dimensão nacional, processou-se diferentemente em cada região.
Berenice nos fala ainda sobre as origens da Maçonaria (que surgiu com as corporações de ofício medievais), onde nos remete às vinculações que são feitas pelos maçons a um passado mítico, um passado inventado, tendo como função a legitimação de práticas, rituais e formas de pensar presentes. E aqui a autora nos lança uma idéia que irá desenvolver no último capítulo: o fato desta instituição propagar um discurso liberal-ilustrado e em seu seio ter uma carga de valores e práticas que a tradição impõe como absolutas.
O contato dos intelectuais brasileiros com a Maçonaria e seus ideais iluministas baseados na Razão aconteceu na Europa, junto ao vários locais de sociabilidade que por lá se espalhavam: cafés, salões, sociedades secretas, universidades etc. Trazidas ao Brasil, tais idéias configuraram-se na luta pela emancipação política de Portugal, tendo membros da instituição maçônica atuando em algumas revoltas contra a Coroa. No entanto, Berenice vai além desta função ideológica da Maçonaria como difusora do ideário iluminista. Esta instituição representaria um local privilegiado de sociabilidade entre estes homens que ansiavam pôr em prática aquilo que haviam vivenciado em outras localidades. No cenário regional podemos situar a Faculdade de Direito de Pernambuco e o Seminário de Olinda como centros difusores das idéias liberais-iluministas e onde se formaram vários membros da intelectualidade cearense. Berenice ainda nos apresenta como se desenvolveram as primeiras lojas maçônicas brasileiras, bem como os momentos de cisões do Grande Oriente do Brasil.
O segundo capítulo, chamado A Maçonaria no Ceará e as Novas Elites urbanas, Berenice inicia relatando o processo de desenvolvimento das primeiras lojas maçônicas cearenses, onde tal surgimento atrelou-se ao próprio desenvolvimento econômico e urbano das cidades pioneiras: Aracati (com sua economia ligada à pecuária e ao charque) e posteriormente Fortaleza (cujo desenvolvimento se dá ligado ao comércio). Porém, o ponto principal para a criação das primeiras lojas está associado ao fato de ambas as cidades apresentarem uma vanguarda intelectual e política emergente, cuja formação se deu principalmente em Pernambuco. Esta vanguarda buscava um espaço de sociabilidade para a afirmação das idéias de progresso e civilização e para o debate político.
Neste contexto, a autora passa a analisar o surgimento, em Fortaleza, desta classe de indivíduos (comerciantes locais e estrangeiros, farmacêuticos, advogados, médicos etc.) que iria compor os segmentos da Maçonaria; indivíduos estes, possuidores de certo capital cultural, que pertenciam à elite e atuavam em vários âmbitos da vida pública local, vendo na irmandade maçônica um lócus para exercerem o debate político e estar em contato com os ideais iluministas. Neste ínterim, Berenice destaca a atuação de jornalistas e advogados que encontravam na Maçonaria um sentido (acima exposto) que posteriormente foi complementado por clubes e agremiações literárias. Tais profissionais tiveram sua atuação cristalizada principalmente na imprensa, local de disputas ideológicas e de divulgação de idéias, onde se insere o jornal Fraternidade, que segundo a autora surgia como um complemento do debate travado na loja maçônica.
O terceiro capítulo é nomeado Maçons e ultramontanos: o campo de combates, e trará com maior profundidade o embate que envolveu maçons e católicos no anos 70 do século XIX. Segundo Berenice, com eclosão deste conflito, que ocorria no campo intelectual, ambos os adversários viram a necessidade de uma demarcação bem definida de suas posições.
A Maçonaria, através do Fraternidade, enxergava-se como a guardiã dos ideais de liberdade, progresso e civilidade, sendo a única capaz de levar a humanidade à sua plenitude e de levar o Brasil à civilização; em contrapartida, atacava os membros da Igreja sob as pechas do conservadorismo, do fanatismo e do retrocesso; eram considerados os símbolos do absolutismo, sua presença em certas esferas da sociedade (administração de cemitérios, do casamento) era tida como perniciosa, por isso os maçons defendiam uma reforma jurídica da sociedade.
O eixo católico também tratou de delinear sua posição nesta luta, rebatendo as provocações e acusações veiculadas no Fraternidade através do periódico Tribuna Católica, jornal onde se defendiam os preceitos católicos. Neste último, os redatores criticavam as idéias “modernas” pregadas pelos maçons e apontavam contradições existentes naquela instituição, onde atacavam principalmente seu caráter secreto, em detrimento ao ideal de liberdade pregado. Relacionavam, também, a Maçonaria a movimentos conspiratórios e revolucionários e alertavam que esta instituição era contra a religião. Ora, em uma cidade que ainda resguardava características provincianas, com população ainda arraigada a uma mentalidade extremamente tradicional e católica, podemos ter a noção do peso de tais acusações.
Tal combate, como nos mostra Berenice, não se restringiu somente ao campo das idéias. A autora nos reporta às disputas que passaram ao âmbito das Irmandades Religiosas do Ceará, principalmente quando do início do processo de romanização e da eclosão da Questão Religiosa, onde a Igreja passou a vetar a participação de maçons na administração destas Irmandades. Os maiores embates foram travados nas Irmandades de São José e do Santíssimo Sacramento, que aglutinavam os membros mais ricos da capital da província.
Outro campo a se destacar foi a política, onde no caso da Maçonaria, a defesa de partidos não acontecia abertamente, dada a heterogeneidade de seus membros. No caso dos católicos, acabou-se criando um partido próprio (Partido Católico no Ceará).
A educação (campo comumente de gerência da Igreja) também foi tema de discórdia entre católicos e maçons. Estes criticavam a educação realizada pelos ultramontanos por reforçarem a ignorância, os maus costumes e o fanatismo do povo cearense. Tal crítica insere-se no modo de pensar iluminista que os fazia acreditar que para a emancipação da humanidade era necessária a instrução da população. Percebemos que viam a educação, assim como os católicos, como modeladora da mentalidade do povo. Os maçons afirmavam seu caráter de vanguarda na instrução da sociedade através das escolas apoiadas ou criadas pela Maçonaria, das bibliotecas das lojas maçônicas e da participação em agremiações literáriocientíficas como a Academia Francesa.
O quarto e último capítulo intitula-se A cidade e a Loja maçônica. Ele nos trás uma discussão a respeito da simbologia resguardada pela Maçonaria. Aqui, Berenice enxerga a loja maçônica como um local de sociabilidade burguesa, local de promoção da Razão. E é justamente nestas lojas que se processaram as idéias emancipacionistas (no período colonial) e posteriormente os ideais de luta contra a Monarquia e a Igreja, ancoradas em seu caráter secreto. No entanto, ao lado dos debates e exercícios políticos e intelectuais, a loja possuía um forte caráter ritualístico (que ainda hoje existe). A ritualística perpassa desde a arquitetura e as salas existentes até reuniões, trabalhos, peças de arquitetura (discursos proferidos pelos irmãos maçons), vestimentas e gestos. Berenice vê tal ritualística como um meio coercitivo de que se utiliza a Maçonaria para moldar os indivíduos que ingressam em seus quadros, uma tradição que se cria com o objetivo de formar o cidadão ideal e legitimar as práticas utilizadas.
A autora encerra sua obra retomando toda a discussão desenvolvida nos capítulos anteriores com o intuito de reafirmar sua posição em relação à participação e atuação da Maçonaria nas principais questões políticas e sociais que se travaram no Ceará e especificamente na capital Fortaleza. Nesta cidade, a Maçonaria nos é apresentada como espaço fundamental dentro do processo histórico cearense no século XIX, cuja importância encontrava-se, sobretudo, na sua utilização enquanto local de sociabilidade que permitisse o debate político e a vivência dos valores iluministas e liberais.
Berenice nos remete, a partir da utilização do conceito de sociabilidade, a questões que remontam à atuação dos sujeitos no cotidiano dentro do processo histórico. É a partir deste conceito que a autora trabalha a difusão e o recebimento dos ideais maçônicos pelos membros da elite intelectual cearense.
Intrépidos Romeiros do Progresso é uma obra que se insere num contexto de renovação historiográfica (como já mencionei anteriormente) e que dá a devida credibilidade a uma instituição tão presente na sociedade e, paradoxalmente, tão pouco enxergada.
Possivelmente isto se deve ao seu caráter secreto e às pechas que lhe são atribuídas, muitas delas advindas dos embates travados contra a Igreja Católica a partir do final período Imperial. As disparidades entre estas instituições podem ser percebidas nas linhas do jornal Fraternidade citadas por Berenice (p. 99): neste trecho, os membros da Igreja são chamados de “Morcegos da Sachristia”, ou seja, seres que habitavam as sombras do pensamento intelectual, em oposição às “luzes” do pensamento iluminista veiculado pela Maçonaria; em contraposição, os maçons se definem como “Batalhadores das Idéias”, ou seja, uma vanguarda que luta pelo progresso moral e intelectual dos homens.
Gustavo Magno Barbosa Alencar
ABREU, Berenice. Intrépidos Romeiros do Progresso: maçons cearenses no Império. Fortaleza: Museu do Ceará/Secult, 2009. 187 p. Resenha de: Embornal, Fortaleza, v.1, n.2, p.1-5, 2010. Acessar publicação original. [IF].
Vozes femininas do Império e da República – LÔBO; FARIA (REF)
LÔBO, Yolanda; FARIA, Lia (orgs.). Vozes femininas do Império e da República. Rio de Janeiro: Quartet : FAPERJ, 2008. Resenha de: PAIVA, Kelen Benfenatti. Contar, é preciso. Revista Estudos Feministas v.17 n.2 Florianópolis May/Aug. 2009.
É fato que a história das mulheres e sua inserção no espaço público foram marcadas por uma longa trajetória de preconceitos e de dificuldades, por isso faz-se, ainda hoje, necessário contar essa história tantas vezes silenciada ao longo dos séculos. E com certeza foi essa a intenção de Yolanda Lôbo e Lia Faria quando reuniram, em Vozes femininas do Império e da República, uma coletânea de artigos com a intenção de “descortinar ideologias e utopias presentes no imaginário feminino, apontando assim para a construção histórica do gênero feminino em Portugal e no Brasil” (p. 16).
Com 368 páginas, o livro publicado pela Editora Quartet e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), em 2008, está a serviço de contar a história das mulheres por meio de experiências pessoais que ultrapassam a esfera do individual. Pode-se afirmar que a diversidade de assuntos abordados e os diferentes enfoques são perpassados e conduzidos por dois eixos centrais: educação e gênero.
Estruturalmente, o livro apresenta-se dividido em três partes: “Falas Imperiais”, “Falas Literárias” e “Falas Apaixonadas”. Na primeira constam dois artigos cuja temática é a educação no Oitocentos. Na segunda aparecem cinco textos que tratam de nomes importantes de mulheres na imprensa, na educação e na literatura. E em “Falas Apaixonadas” concentram-se quatro artigos que enfocam a atuação política e as intervenções de mulheres na educação e na cultura.
Sobre educação, é possível uma “volta” ao passado com Maria Celi Chaves Vasconcelos em “Vozes femininas do Oitocentos: o papel das preceptoras nas casas brasileiras”, em que a autora recupera parte da história das mulheres que encontraram nessa prática educativa um meio de subsistência. Como destaca a autora, as preceptoras foram, no século XIX, as primeiras educadoras “oficialmente instituídas que tornaram o seu ‘fazer’ uma ‘atividade profissional’ remunerada, representando a abertura do mercado de trabalho intelectual à condição feminina” (p. 38).
Sobre a educação feminina, cabe destacar o enfoque dado por Suely Gomes Costa em “Diário de uma e outras meninas: práticas domésticas e educação”, em que o olhar da pesquisadora se volta ao Diário de Helena Morley, publicado em 1942. A partir das experiências pessoais vividas na infância em Diamantina, narradas no diário, registra-se “um painel de trabalho de muitas mulheres a sua volta, das mais às menos instruídas, entrelaçadas em rede, nessa luta comum por sobrevivência” (p. 67). As confissões relatam a participação de meninas nos afazeres domésticos diários e a dificuldade de conciliar a casa e a escola. Destacam, ainda, como aponta Suely, a participação feminina na captação de moedas por meio do trabalho restrito ao âmbito do lar, as chamadas “prendas femininas”. Por fim, o artigo ressalta que a luta pela sobrevivência, nesses casos, criou “reiteradas restrições de acessos à educação” (p. 70).
Será a educação, ainda, pano de fundo em “Vozes católicas: um estudo sobre a presença feminina no periódico A Ordem (anos 1930-40)”. No artigo, Ana Maria Bandeira de Mello Magaldi resgata a participação de algumas mulheres na revista e destaca o caráter de “apostolado doutrinário e espiritual” da publicação. Atenta para a participação, dentre outras, de Lúcia Miguel Pereira na seção “Crônica feminina”, criada em 1932. Nas crônicas assinadas pela autora, há uma reflexão sobre os novos rumos da vida social que impactariam na condição feminina. Sobre o assunto, a cronista deixa explícita sua preocupação com risco de a mulher deixar-se seduzir por um ritmo, uma “trepidação”, própria dos tempos modernos, que a conduziria ao trabalho remunerado na esfera pública, quase sempre marcado pelo individualismo. É o foco no social a maior defesa da autora, que enfatiza a importância da educação feminina para um projeto segundo o qual a mulher deveria “pôr a serviço do bem comum as riquezas de sua psicologia materna “(p. 98), como bem destaca a autora do artigo.
É ainda pelo viés da educação e da literatura que Constância Lima Duarte nos apresenta Nísia Floresta, nome importante no avanço da educação feminina no Brasil, que traz em quase todos os seus livros “o propósito de formar e modificar consciências” e o projeto de “alterar o quadro ideológico-social” (p. 106). Em “Nísia Floresta e a educação feminina no séc. XIX”, a pesquisadora destaca o caráter inovador das ideias e práticas educativas de Nísia, como sua defesa por uma educação feminina pautada menos na educação da agulha e mais em uma formação multifacetada. Lembra ainda que, na produção da escritora, há textos que se inscrevem na tradição de uma “prosa moralista de intenção nitidamente doutrinária”, com o objetivo principal de “transformar a mulher indiferente em mãe amorosa e responsável”, contribuindo – sem o saber – para a cristalização de uma “mística feminina” (p. 140). A pesquisadora afirma que, a posteriori, “é fácil de perceber a manipulação ideológica desse discurso e as conseqüências na vida das mulheres” e destaca como o elogio da maternidade tornou-se uma “nova forma de enclausuramento” (p. 140).
Em “Carmen Dolores: as contradições de uma literata da virada do século”, Rachel Soihet e Flávia Copio Esteves se unem para apresentar ao leitor outra mulher à frente de seu tempo. Ciente das aptidões e dos papéis de cada gênero como construções sociais, Carmen Dolores usou a escrita para tratar de assuntos de interesse das mulheres, como a desmistificação da maternidade como seu único destino e a defesa do divórcio em nome da integridade familiar, da política, da educação e do trabalho feminino. Convivem nas crônicas assinadas pela autora a busca da libertação feminina pela educação e pelo trabalho e a manutenção de alguns comportamentos femininos. Tal paradoxo, claramente apontado pelas autoras, deve-se ao fato de que a escritora é, como tantas outras, uma “expressão da cultura de seu tempo e de sua classe”, sendo preciso considerar “a flexibilidade da ‘jaula’ representada pela cultura” (p. 165-166).
Pelo viés memorialístico e pelo cunho autobiográfico dos diários, dos cadernos de anotações e dos álbuns de memórias da professora Maria Luiza Schmidt Rehder, textos analisados por Marilena A. Jorge Guedes de Camargo, em “Ecos de um passado feminino: entre escritos e sentimentos”, chegam a nós relatando a trajetória de uma mulher movida pelos sentimentos que se propõe a “fazer história com sua experiência”. Assim, ao narrar sua vida, em Rio Claro, registra também acontecimentos importantes da década de 1930. Relata, por exemplo, a formação de um exército de voluntários unidos sob ideais patrióticos em defesa de São Paulo e registra a participação das mulheres paulistas na Revolução de 1932, costurando fardas e cobertores, angariando donativos para a manutenção dos batalhões, além da atuação das enfermeiras em hospitais de campanha.
Ao falar da condição feminina impressa no romance A doce canção de Caetana, de Nélida Piñon, Tânia Navarro Swain propõe uma “leitura ativa” que em nada se pretende imparcial ou distanciada, “apropriando-se” da narrativa para criar e atribuir-lhe sentidos múltiplos. Assim, em “A doce canção de Caetana: meu olhar” busca investigar as imagens e representações sociais do feminino e do masculino que habitam o romance. Discute, entre outros assuntos, a instituição do casamento como valor social na manutenção do poder masculino; a “ilusória força masculina” pautada no “fantasma da potência sexual” e na “posse de corpos alheios”; e a prostituição como “criação social”, na qual, como destaca a autora, há “violência de corpos desprovidos de subjetividade” (p. 216).
Atravessando o Atlântico, Áurea Adão e Maria José Remédios detêm-se na participação política das mulheres em Portugal de 1946 a 1961. Em “Os discursos do poder e as políticas educativas na governação de Oliveira Salazar: as intervenções das mulheres na Assembléia Nacional”, as autoras atentam para a atuação das deputadas na Assembleia Nacional bem como para a imagem do feminino que subjaz, explícita ou implicitamente, nas suas intervenções. Para tanto, analisam os discursos de seis mulheres parlamentares e observam que algumas áreas estavam restritas à intervenção pública feminina: a educação, a família, a assistência social e a saúde. Toda tentativa de ir além de tais assuntos era marcada por justificativas das parlamentares diante de seus pares. Ainda nos discursos dessas mulheres pode-se perceber, como destacam as autoras, a defesa da permanência da mulher no âmbito do lar, numa “valorização da função de mãe de família” e de “guardiã vigilante da harmonia e da felicidade do lar”, numa “verdadeira vocação de mulher” (p. 272), contribuindo para a manutenção de um questionável modelo social.
Seguindo ainda a trilha de mulheres que fizeram história, Lia Ciomar Macedo de Faria, Edna Maria dos Santos e Rosemaria J. Vieira da Silva seguem os passos da professora e historiadora Maria Yeda Linhares. De perfil “questionador e combativo” e de trajetória marcada “pela irreverência e coragem intelectual”, Maria Yeda se colocou em defesa do direito à educação e à garantia de uma escola pública efetivamente republicana, pois, para ela, segundo destacam as autoras em “Os múltiplos olhares de Maria Yeda Linhares: educação, história e política no feminino”, o sucesso da escola pública significa uma “questão de sobrevivência se quisermos existir como povo e nação” (p. 297).
A trajetória de outra professora, Myrthes de Luca Wenzel, também é abordada em “Alcachofras-dos-telhados: lições de pedagogia de uma educadora”, por Yolanda Lôbo. À frente da Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio de Janeiro, a educadora reuniu em torno de si um seleto grupo de intelectuais e foi, como destaca a autora do artigo, idealizadora de uma “pedagogia libertadora”, uma proposta educacional inovadora, que buscava a felicidade dos alunos, “com liberdade de criar, de viver em sociedade e ao mesmo tempo preparados de modo completo e científico” (p. 316).
Voltando-se ao espaço sociocultural português, Zília Osório de Castro, em “Na senda do feminismo intelectual”, discute a condição feminina a partir da reflexão do papel do intelectual. Destaca a criação das revistas Pensamento, O Diabo e O Sol Nascente, na década de 1930, que “apostavam na reforma cultural” e traziam em suas páginas o tema do feminismo em meio ao “confronto de valores culturais presente na sociedade portuguesa de então” (p. 340). A participação das mulheres nessas revistas representou, segundo a autora, uma evolução, seja por sua inserção em um espaço majoritariamente masculino, seja pelo reconhecimento de suas potencialidades e sua “comparticipação na criação da nova sociedade” ou pela “conscientização de uma outra idéia de mulher” (p. 340), ser humano dotado de direitos e deveres. Por meio dessas mulheres se deu um “feminismo interventivo e não apenas participativo, um feminismo cívico e não apenas político” (p. 341). Zília lembra o nome de Ana de Castro Osório no feminismo cultural dos anos 1930, que defendia o trabalho como “carta de alforria” da mulher com o objetivo de responsabilizá-la por seu próprio destino. Observa ainda, nos periódicos analisados, dois tipos de feminismo: um “feminismo feminino”, pelo qual a mulher reivindicava uma função social, além da revisão da sua situação familiar, profissional e política; e um “feminismo masculino”, pelo qual os homens escreviam em “defesa” das mulheres.
É interessante notar, pela leitura dos artigos reunidos em Vozes femininas do Império e da República, como o lento processo de “libertação” da mulher está ligado à promoção de sua educação, de seu desenvolvimento intelectual e de seu trabalho, reafirmando o que Virgínia Woolf teorizou tão bem em Um teto todo seu. O leitor que se aventurar nas instigantes trilhas propostas pelas autoras deste livro chegará ao final de sua leitura com a visão panorâmica das principais lutas e obstáculos vivenciados pelas mulheres ao longo dos séculos, em diferentes contextos, dos quais o reconhecimento da diferença e o direito à educação foram fundamentais ao que se convencionou chamar de feminismo.
Pode-se dizer que, nas páginas deste livro, configura-se um feminismo crítico através das vozes de 13 mulheres que se unem para contar histórias de outras mulheres, que, por sua vez, superam os relatos pessoais e fazem coro com as autoras dos artigos para narrarem juntas uma história bem mais ampla: a história das mulheres.
Kelen Benfenatti Paiva – Universidade Federal de Minas Gerais.
O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil do século XIX / Miriam Dolhnikoff
Professora de História e Relações Internacionais da USP e pesquisadora do CEBRAP, Miriam Dolnikoff publica livro que contraria interpretações consagradas sobre a história política do Brasil imperial.
Inserida na questão maior da organização política do Brasil Imperial, a obra busca entender a longevidade da influência das elites no Brasil, investigando a maneira pela qual estas estiveram presentes no processo de construção do Estado brasileiro, de modo a contribuir na determinação de seu perfil.
Podemos melhor avaliar a pesquisa da autora e sua posição de embate frontal à historiografia estabelecida, por breve análise da idéia cristalizada da “história da construção do Estado brasileiro na primeira metade do XIX como a história da tensão entre unidade e autonomia”.
Sabemos que a interpretação do Período Regencial como a fase do jogo político entre centralização e descentralização de poder surgiu ainda no século XIX. A pesquisa de Augustin Wernet rastreou o início desta interpretação e o localiza na obra de H. G.
Handelmann, de 1860.1 Nesta visão assiste-se ao revezamento de homens no cenário político nacional, sem as profundas mudanças (revolução) das estruturas herdadas do período colonial, tendo a primeira metade das Regências sido caracterizada pelo avanço liberal (descentralização), e a segunda pelo regresso conservador (centralização). A historiografia a seguir vai articulando a descentralização às forças provinciais e à desordem, e o Regresso, ao retorno da ordem.
Por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda considerou as forças provinciais, defensoras de um projeto federalista, expressão das forças localistas arcaicas, apegadas aos privilégios coloniais, enquanto a centralização seria o projeto que trazia no seu bojo a possibilidade de modernização, já que ela seria a condição de construir o Estado e a unidade nacional. A defesa dos interesses regionais se limitaria, deste ponto de vista, à tentativa de preservar a herança colonial. Para Buarque, o federalismo não passava de um lema para sustentar o estado das coisas vindas da vida colonial.
Outros autores como Maria Odila Dias e Ilmar de Mattos, também atribuem a vitória sobre as forças centrífugas herdadas do período colonial à capacidade da elite articulada em torno do aparato estatal do Rio de Janeiro de se impor a todo o território nacional. Para eles, o acordo pela unidade, pela centralização política e direção administrativa nas mãos do Rio de Janeiro, teria sido resultado do movimento conservador de 1840, conhecido como “Regresso”, indicando o abandono da experiência de descentralização da Regência.
Entre as interpretações mais consagradas está a de Jose Murilo de Carvalho, segundo a qual, a unidade sob um único governo, teria sido obra de uma elite da Corte, cuja perspectiva ideológica a diferenciava das elites provinciais, comprometidas com seus interesses materiais e locais. A vitória da primeira teria significado a submissão dos grupos provinciais, que ficavam desta forma, isolados em suas províncias. Essa vitória se materializou na imposição de um regime centralizado que neutralizava as demandas localistas das elites provinciais.
Discordando desses autores, e particularmente, de José Murilo, para Míriam Dolhnikoff, a unidade sob hegemonia do Rio de Janeiro foi possível não pela neutralização das elites provinciais e centralização, mas sim à implementação de um arranjo institucional por meio do qual as elites se acomodaram, ao contar com autonomia significativa para administrar suas províncias e, ao mesmo tempo, obter garantias de participação no governo central por meio dos seus representantes na Câmara dos Deputados. Através do parlamento, as elites nele representadas participavam não só do orçamento, mas também das questões relevantes para a definição dos rumos do país como a escravidão, a propriedade de terras e para organização do Estado, como a legislação eleitoral. (p.14) A autora discorda da idéia de que foi o retorno à centralização – “projeto vencedor” do Regresso- o responsável pela unidade do Império e pela definição do modelo de estabilidade deste; ou seja, para ela, o projeto federalista não morreu em 1824, nem em 1840, ele foi o vencedor, embora tenha feito, no bojo da negociação política, algumas concessões.
Dolnikoff entende que o “Regresso” foi uma revisão centralizadora que se restringiu ao aparelho judiciário, sem alterar pontos centrais do arranjo liberal, que tinham caráter descentralizador. (p.130) Ao invés de destacar a atuação da elite da Corte, a autora conclui que foi a participação das elites provinciais a propiciadora das condições para inserção de toda a América Lusitana no novo Estado, atuação decisiva, que inclusive marcou a dinâmica do Estado brasileiro.
Para a defesa desta posição, a autora recorta para pesquisa três unidades da federação: as províncias de Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. Examina o exercício da autonomia dos governos provinciais inclusive em fase posterior ao Regresso. Justifica sua seleção por serem essas províncias diversas entre si, nos aspectos regionais, nos distintos passados, e nas diferentes demandas e interesses. Busca demonstrar que os diferentes conflitos encontravam espaço de negociação dentro da organização institucional organizada.
Desse modo, as elites provinciais tiveram papel decisivo na construção do novo Estado e na definição da sua natureza. Participaram ativamente das decisões políticas, fosse na sua província, fosse no governo central. E, ao fazê-lo, constituíram-se como elites políticas.
O que a autora quer mostrar mais especificamente é que as elites provinciais (com raízes no período colonial, que defendiam a ordem escravista, a exclusão social e as franquias provinciais) estavam também atreladas ao projeto de construção do Estado nacional e não excluídas. Justamente porque conseguiram articular-se a um arranjo institucional consagrado nas reformas de 1830 e na revisão de 1840 é que a fragmentação da nação foi evitada.
O “preço pago” por esta unidade conseguida teria sido o fortalecimento dos grupos provinciais no interior do próprio aparato estatal, com o conseqüente estabelecimento das poderosas forças oligárquicas, que ao final do século XIX, reivindicaram mais autonomia.
A autora conclui que foi a participação destas elites no interior do Estado, com fortes vínculos com os interesses de sua região de origem e ao mesmo tempo comprometidas com uma determinada política nacional, pautada pela negociação destes interesses e pela manutenção da exclusão social, que marcou o século XIX e também o XX. (p. 285) Mesmo considerando o levantamento feito pela autora entre o número de medidas centralizadoras e descentralizadoras, concluindo pelo predomínio das segundas, ainda pensamos que o fundamental foi a direção e a finalidade da acomodação centro/províncias no momento considerado: – que foi justamente o sentido da centralização, da negociação em torno de “um sentido”, que garantisse a permanência da sociedade escravocrata e excludente.
Notas 1 Historiador alemão, H G Handelmann, Geschicht von Brasilien. Berlim: Springer, 1860, p. 935, conforme Augustin Wernet, Sociedades políticas (1831-1832). São Paulo: Cultrix, 1978, p 15.
Léa Maria Carrer Iamashita – Doutoranda em História Social-UnB.
DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil do século XIX. São Paulo: Globo, 2005. Resenha de: IAMSHITA, Léa Maria Carrer. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.11, p.177-180, 2007. Acessar publicação original. [IF].
The Sorrows of Empire: Militarism/ Secrecy/ and the End of the Republic | Johnson Chalmers
Estão os Estados Unidos seguindo a mesma trajetória de ascendência e queda do Império Romano? Chalmers Johnson responde afirmativamente esta pergunta em seu polêmico livro The Sorrows of Empire. Segundo ele, contrariamente aos antigos impérios territoriais, a única superpotência mundial está estabelecendo um império de bases militares ao redor do mundo e está, por meio da manipulação de sua política econômica e forte influência no Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Organização Mundial do Comércio, subjugando outras nações. Com o fim da Guerra Fria, logo após a implosão da União Soviética, os Estados Unidos passaram a ser descrito pela literatura especializada e imprensa em geral como uma “lone superpower,” “indispensable nation,” “reluctant sheriff,” e mais recentemente, após o 11 de Setembro de 2001 de “New Rome”.
O livro, resultante das discussões desenvolvidas no âmbito do American Empire Project que envolve outros autores como Noam Chomsky e Michael Klare, retrata a secular trajetória imperialista norte-americana explorando o novo militarismo que está transformando o país e convocando sua população para sustentá-lo. De acordo com Johnson, diante de um público e Congresso passivos, alguns poucos interesses privados do setor armamentista e petrolífero, via Pentágono, estão se sobrepondo ao Departamento de Estado em assuntos relativos à defesa interna e segurança internacional. Leia Mais
Tropical Versailles: empire, monarchy, and the portuguese Royal Court in Rio de Janeiro – SCHULTZ (VH)
SCHULTZ, Kirsten. Tropical Versailles: empire, monarchy, and the portuguese Royal Court in Rio de Janeiro, 1808-1821. New York: Routledge, 2001. Resenha de: NEEDELL, Jeffrey. Varia História, Belo Horizonte, v.17, n.25, p. 255-258, jul., 2001.
Redefinindo a Monarquia em uma Sociedade Escrava1
É um antigo lugar comum observar a particularidade estabilidade política do Brasil no século dezenove. Normalmente, se discute que isso deriva de circunstâncias singulares da conquista da sua independência com a manutenção das instituições e do herdeiro da monarquia Portuguesa no Rio de Janeiro. É sempre sugerido que a estabilidade deveu-se, assim, muito ao fato de que as estruturas políticas e sociais da colônia brasileira se mantiveram relativamente intactas devido a essa singular transição. A bem sucedida história intelectual e cultural da Corte Real no exílio, de Schultz, deixa de lado esses lugares comuns ao examinar o quanto a monarquia mudou e como essa mudança foi percebida entre 1808 e 1822, e a forma com que essas mudanças foram vistas e se manifestaram no pensamento e no dia-a-dia.
Por mais que esse estudo se deva aos últimos dez ou vinte anos da moderna história cultural, ele se baseia em um estudo muito meticuloso de fontes de arquivos e trabalhos contemporâneos publicados. De fato, algumas das preocupações centrais do livro são baseadas na minuciosa leitura de correspondência particular e do Estado, registros policiais, teatro e literatura, panfletos de política contemporânea e da coleta invejável de outras fontes publicadas da época, tanto em Portugal quanto no Brasil. Além disso, Schultz lucrou com a recente preocupação de seus colegas em torno dessa época, citando um número de trabalhos recém-publicados e teses não publicadas e dissertações no Brasil e nos Estados Unidos. Também merece comentários a imparcialidade de suas análises e conclusões. Por mais provocativos que fossem os assuntos, ela transporta a perspectiva dos contemporâneos com cuidado e chega a sua própria avaliação com criteriosa objetividade.
Inevitavelmente há imperfeições. Na minha leitura, elas parecem se acumular no terceiro capítulo, onde, freqüentemente, uma ou duas fontes são a única evidência para o pensamento ou a resposta a um número de pessoas (e. g., pp. 73-74, 78-80, 81, 85), ou no terceiro e quinto capítulos, onde as citações nem sempre suportam o peso das interpretações (e. g., 73-75, 103,164, 166). Também me pergunto porque, em um livro em que se faz tão boas observações com tão boas evidências, a autora se sinta obrigada a citar tantos autores recentes no texto (ao invés de fazer nas notas) para apoiar seus argumentos ou sugerir questões em comum. Mas nenhuma dessas faltas ocasionais é de importância no argumento central do livro, e elas são um pequeno preço a se pagar pela informação, pela análise e pelas sugestões que a autora nos dá aqui.
A contribuição do livro deve ser entendida no contexto historiográfico. Pode-se dizer que o sentido político da monarquia Brasileira sofreu terrivelmente de uma extrapolação ahistórica, na contramão do seu sucesso histórico. Isto é, a unidade da América Portuguesa depois da independência e a sua relativa estabilidade política tendem a serem dadas por certas. A maioria dos historiadores, por algum tempo, gastou sua energia em estudar a monarquia posterior, para entender a passagem do regime, ou, mais freqüentemente, eles compreenderam a história política da monarquia como algo que não mudava e se concentraram na análise de história social ou econômica, particularmente, sobre a escravidão e a abolição. Essas modas vêm se revertendo vagarosamente tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos.
José Murilo de Carvalho teceu competentemente uma elegante análise política das preocupações sócio-econômicas na publicação portuguesa de 1980 de sua dissertação feita em Stanford em 1974. Em 1985, Emilia Viotti da Costa retrabalhou muitos dos seus artigos originais em uma história do império; em 1988, Roderick Barman nos forneceu uma impecável narrativa política explicando a formação nacional entre a última década do século dezoito e 1853. Richard Graham tentou fazer um modelo provocativo do comportamento político nos níveis local e nacional, em 1990. Outros se ativeram a análises políticas mais particulares, como Thomas Flory, em 1981, sobre a ideologia e as reformas da oposição liberal dos anos de 1820 e 30. Neill Macaulay escreveu um delicioso estudo revisionista do primeiro imperador, em 1986. Eul-Soo Pang tentou desenvolver um entendimento da nobreza, em 1988, Barman forneceu aguda e completa biografia do segundo império, em 1999, e , no mesmo ano, Judy Bieber publicou estudo de caso da história política e comportamento no interior de Minas Gerais. Artigos bastante recentes de Jeffrey Mosher e Jeffrey Needell sugerem livros a serem publicados sobre a história política de Pernambuco e do Partido Conservador , respectivamente, e também temos artigos e livros de autoria de Hendrik Kraay (2001) e Peter Beattie (2001) interligando a instituição da monarquia, o exército, à história política e social do regime. No Brasil, o trabalho de Carvalho foi precedido por uma rica e pioneira antologia a respeito da independência, editada por Carlos Guilherme Mota em 1972, e então seguido pelo ambicioso estudo de Ilmar Rohloff de Mattos, sobre a ideologia do estado, em 1990. Em 1998, temos a sofisticada análise da cultura pública da monarquia colonial tardia e da recém-proclamada monarquia nacional de Iara Lis Carvalhos Souza e o tour fascinante de Lilia Moritz Schwartz sobre cultura pública e a iconografia do Segundo Reinado. Em 1999,Cecilia Helena de Salles Oliveira forneceu sua análise investigativa dos interesses sócio-econômicos influenciando a independência; em 2000, Isabel Lustosa publicou sua instigante análise da imprensa periódica política da segunda década do século dezenove, porta-voz dos interesses e das ideologias dominantes.
Em uma frase, o magistral trabalho de tais pioneiros como Murilo de Carvalho, Viotti da Costa, e Barman nos permitiu atacar partes menores de um todo, suprimindo muito que era pobre e superficialmente entendido. O livro de Schultz é, então, apenas a última contribuição à redescoberta e reavaliação da história política da monarquia. É, no entanto, especialmente convincente na metodologia, informando sua idéia e a centralidade do seu foco. A transição Portuguesa e Brasileira para monarquia constitucional e a independência foram habilmente traçadas por Macaulay e contribuintes da antologia de Mota (particularmente Maria Odila Leite da Silva Dias, Francisco D. Falcon e Ilmar Rohloff de Mattos), e Barman, entre outros. Estes, e mais recentemente Salles Oliveira, já nos serviram com narrativas políticas detalhadas e análises baseadas em fatos sobre a transição em termos de ideologia, contingência política e interesses sócio-econômicos. A contribuição de Schultz está em ir além dos eventos e das forças sócio-econômicas ou políticas dirigindo-nos a um entendimento de como a transição ocorreu na experiência vivida no centro político do Brasil.
Shultz faz essas coisas quando amarra a análise arquivística típica da melhor historiografia tradicional com as inovadoras preocupações dos estudos de cultura política comuns entre os novos historiadores. Ela o faz em um estudo de como a fuga e o exílio da Corte Portuguesa levou a uma reavaliação e reconstrução da instituição da monarquia em uma época revolucionária e em uma sociedade escravista marcada por distinções raciais. Os capítulos são organizados cronologicamente, amarrando questões chave: o impacto do exílio na natureza do império Português e a legitimidade da monarquia, a metamorfose do posto de vice-rei do Rio de Janeiro na Corte de um império, o impacto da proximidade monárquica dos seus vassalos americanos, a ambigüidade do papel da monarquia com respeito à instituição da escravidão, a metamorfose do comércio do Atlântico e o papel dos brasileiros, portugueses e ingleses em tudo isso e o desafio do constitucionalismo liberal na antiga metrópole e no novo reino do Brasil.
Nesses capítulos ela demonstra que o exílio transformou a monarquia de um regime absolutista Europeu com colônias no além-mar em uma regenerada, até mesmo nova, monarquia e então, finalmente, em uma instituição constitucional tentando conter revoluções políticas e equilibrar os reinos de ambos os lados do Atlântico. Ao fazê-lo, ela explora a forma com que discourso político e cerimonial indicam e incorporam as mudanças e desafios da época, e são refletidos nos usos da monarquia, no aparecimento da cidade, nas medidas de repressão e controle dos escravizados, na correspondência e nos memorandos dos oficiais e cortesãos da Coroa e na percepção e controle dos pobres e cativos. Essa aproximação cultural e íntima leitura ideológica são contribuições inovadoras com claro potencial para futuros trabalhos de outros historiadores. De fato, isso é algo que Schultz faz alusão quando nota que muitas das contradições da transição da monarquia foram legadas de forma intacta ao Império do Brasil. É um livro bem vindo, escrito claramente, vigorosamente discutido, e potencialmente seminal. Certamente vai resistir.
Nota
1 Em parceria com H-LatAm e H-Net.
Jeffrey Needell – History Departmente/University of Florida/USA.
[DR]
A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: bastidores da política, 1798-1822 – LYRA (RBH)[
LYRA, Maria de Lourdes Viana. A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: bastidores da política, 1798-1822. Prefácio de Izabel Andrade Marson. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994. 256p. Resenha de: OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.14, n.28, p.2268-270, 1994.
Cecília Helena de Salles Oliveira – Universidade de São Paulo.
Acesso ao texto integral apenas pelo link original
[IF]


