Posts com a Tag ‘História da Historiografia (HH)’
Ensaios: teoria, história e ciências sociais – MALERBA (HH)
MALERBA, Jurandir. Ensaios: teoria, história e ciências sociais. Londrina: EDUEL, 2011, 240 p. Resenha de: GONÇALVES, Sérgio Campos. Enfrentamentos epistemológicos: teoria da história e problemática pós-moderna. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 8, p.187-196, abril 2012.
“Papai, então me explica para que serve a história”. A pergunta infantil com que Marc Bloch (2001, p. 41) inaugura seu último escrito introduz um chamado para que o historiador preste contas acerca da legitimidade de sua profissão. É esse mesmo “ajuste existencial” que Jurandir Malerba busca em seu livro Ensaios: teoria, história e ciências sociais. Porém, enquanto a autorreflexão de Bloch se deu ao aguardar o próprio fuzilamento, na condição de prisioneiro das tropas alemãs do final da Segunda Guerra, a inquietude do pensar o ofício de Malerba é de outro tempo e coloca outras perguntas: Diante da crise do racionalismo moderno e dos desdobramentos da linguistic turn, qual a validade epistemológica da história? Quando a cientificidade de sua profissão parece em xeque, qual o remédio para a angústia do historiador? No centro da questão está a objetividade da história, motivo de variadas reações daqueles que se debruçam sobre o assunto e na qual reside a diferença entre o tempo de Bloch e o do debate contemporâneo do qual Malerba está inserido.1 No pósguerra, segundo Peter Novick (1988, p. 522-572), já não existiria mais o consenso da ampla comunidade de discurso formada por estudiosos unidos por interesses, propósitos e padrões comuns no qual se baseou a disciplina da história até o início da década de 1960. Pois, a partir de então, teriam reinado o ceticismo diante da promessa iluminista de progresso e a crise cognitiva do historicismo, devido à historicização e à relativização do próprio conhecimento, da qual a ansiedade generalizada da comunidade acadêmica seria sintomática.
É nesse campo de batalha em que Jurandir Malerba cava sua trincheira, de onde é franco-atirador contra a dita história pós-moderna, a qual se ampararia, notadamente, na teoria da linguagem e na negação do realismo.
Reunindo suas reflexões sobre a história e o ofício do historiador em oito capítulos, os Ensaios de Malerba compõem um manual de teoria da história que é espelho de sua trajetória intelectual. Ao mesmo tempo em que permitem acompanhar a evolução da erudição e da maturidade do autor, oferecem uma proposta de solução às inquietações epistemológicas que o conhecimento histórico passou a enfrentar no século XX, através de estudos sobre os temas e conceitos que se tornaram incontornáveis para o historiador: ficção e escrita da história, memória, acontecimento, estrutura, narrativa, historiografia, processos e representações. O fio condutor que os perpassa é a problemática pós-moderna, a questão da legitimidade e da objetividade da história.
Abre-se o livro com um escrito de juventude, de ar irônico, em que trata da noção de representação e de narrativa para demarcar a distância entre o escritor de ficção e o escritor-historiador de história. Para o jovem Malerba, o estatuto científico e de objetividade da história ancorar-se-ia na interdisciplinaridade, isto é, a proximidade com as ciências humanas é o que distanciaria o historiador do ficcionista. O tom juvenil contrasta com o capítulo II, que apresenta um texto inédito sobre as concepções de memória e suas discussões no campo historiográfico, no qual Malerba versa sobre “o quadrante memorial avassalador no qual estamos vivendo”, tempo em que efemérides são acompanhadas de “estardalhaços” mercadológicos – vide os 200 anos da chegada da Corte portuguesa ao Brasil, mas que convida a refletir acerca do processo de significação do passado e sobre a operação de seleção entre memória e esquecimento.
Os próximos três capítulos abordam, nas palavras do autor, “questões que se constituem nos maiores desafios que assolaram o pensamento de historiadores e cientistas sociais há décadas” (MALERBA 2011, p. 55).
Respectivamente, a tarefa a que Malerba se propõe é pensar acontecimento, estrutura e narrativa através de suas relações com tempo, sujeito e causalidade, tratando de como tais conceitos podem estar conectados ou apartados em correntes de reflexão teórica da história específicas.
Malerba trata das definições e propriedades do acontecimento na história em relação à noção de estrutura. Objeto e unidade da história, o acontecimento existiria dentro de uma rede causal e inserida em determinada duração temporal: “os acontecimentos existem objetivamente, como dados, e […] os historiadores fazem deles diferentes usos conforme sua visão de que os fatos são únicos e singulares ou manifestação de fenômenos que se repetem” (MALERBA 2011, p. 70); ao historiador caberia narrar e/ou estabelecer as tramas causais que ligam os fatos. O propósito de Malerba é aprofundar a “questão da ‘realidade’ ou ‘objetividade’ do fato”, diferenciando fato de acontecimento a partir de um itinerário de reflexões sobre o caráter histórico dos fatos e sobre como tal processo de diferenciação perpassa as questões ligadas à construção da memória e do exercício do poder. Contudo, a tônica do capítulo III, e que perpassa todo o livro, é a crítica à concepção de história narrativista e suas implicações acerca da objetividade do ofício do historiador. O principal alvo é Paul Veyne (1982, p. 14-18), autor que afirmaria ser contraditória a cientificidade da história, pois, se seu objeto é constituído de eventos individuais e, portanto, impassíveis de serem analisados em série, a história não estaria habilitada a construir tipologias de guerras, culturas e revoluções. Com isso, o historiador estaria fadado a elaborar sua trama apenas a partir dos acontecimentos que conseguiu “caçar” e, invariavelmente, com as muitas lacunas daqueles inúmeros eventos de que não obteve registro. Essa visão sobre a história é, para Malerba, equivocada e impregnada de “conservadorismo epistemológico”. Em Veyne, a história seria anedótica, uma síntese narrativa, quase ficcional, e não uma síntese explicativa da realidade do passado, dado que compreende o fato histórico, antes de tudo, como um atributo da percepção e da linguagem, estabelecido pela intervenção seletiva e subjetiva do historiador. Para Malerba, no entanto, tal perspectiva demonstra “extrema debilidade conceitual”, pois confunde o plano ontológico da história e da sociedade com o plano epistemológico, isto é, com os modos de conhecê-la: O fato histórico, reconstituído pelo historiador, só existe no segundo plano, epistemológico. É o resultado de uma operação intelectual, a qual é moderada por regras metódicas preestabelecidas e amparada no uso de fontes, ou indícios, ou vestígios. Não se trata de ciência, que seria uma atitude gnosiológica limitada e insuficiente para resolver o problema do conhecimento histórico, o qual lida com operações mentais e obstáculos operacionais infinitamente mais complexos do que os apresentados pela operação cientificamente regulada (MALERBA 2011, p. 85).
Da mesma maneira que a estrutura, Malerba compreende que o acontecimento é um constructo intelectual, que ambos são “elaborações teóricas que o historiador produz e das quais se utiliza para conhecer a história” (MALERBA 2011, p. 87).
Malerba explica que, associado à concepção positivista ou metódica, o conceito de acontecimento foi preterido pela proposta de renovação historiográfica da primeira geração dos Annales, a qual se opunha ao que denominava história événementielle, acusada de factual e narrativa, advogando em favor de uma história explicativa, científica e, a partir de Braudel, estrutural.
No capítulo IV, Malerba apresenta uma contextualização do estruturalismo e seus impactos nas ciências humanas, traçando uma distinção entre estruturalismo e história estrutural, apoiada, sobretudo, na articulação conceitual de Koselleck entre acontecimento, estrutura e narrativa. Com isso, constrói uma linha de raciocínio em que o sujeito da história se libertaria das “prisões do imóvel”, diante da ontologização da estrutura, e o historiador se reabilitaria como sujeito cognoscente, diante da ruptura entre conhecimento e verdade, provocada pela “exorbitação da linguagem” de Foucault (MALERBA 2011, p. 97).
Narrativa, história e discurso compõem a temática do capítulo V. Malerba abre o texto de forma inusitada, descrevendo imagens de desastres e problemas sociais para chocar o leitor. Estético, o objetivo é proporcionar um choque de “realismo histórico” para intimar o historiador a comprometer-se com sua profissão. Como no prefácio dos Combats pour l’historie, de Lucien Febvre (1992), propõe-se que a história deve ser um compromisso apelo à vida.
Contudo, Malerba detecta um problema: “em função do próprio cenário intelectual vigente em nosso tempo”, o historiador não tem apresentado respostas aos problemas que lhe caberia responder. Tal cenário intelectual que Malerba diagnostica como causa da angústia e inércia dos historiadores configurou-se, conforme entende, através dos desdobramentos radicais da epistemologia pós-estruturalista que se converteram na historiografia pós- -modernista, antirrealista e narrativista: Num sentido muito geral, o pós-modernismo sustenta a proposição de que a sociedade ocidental passou nas últimas décadas por uma mudança de uma era moderna para uma pós-moderna, a qual se caracterizaria pelo repúdio final da herança da ilustração, particularmente da crença na Razão e no Progresso, e por uma insistente incredulidade nas grandes metanarrativas, que imporiam uma direção e um sentido à História, em particular a noção de que a história humana é um processo de emancipação universal. No lugar dessas grandes metanarrativas surge agora uma multiplicidade de discursos e jogos de linguagem, o questionamento da natureza do conhecimento junto com a dissolução da ideia de verdade […] (MALERBA 2011, p. 124).
Na visão de Malerba (2006, p. 13-14), esse “cenário intelectual” se fundamentaria em dois postulados da teoria do conhecimento pós-moderna: na tese da negação da realidade e na teoria da linguagem. A primeira, a tese do antirrealismo epistemológico, sustentaria “que o passado não pode ser objeto do conhecimento histórico ou, mais especificamente, que o passado não é e não pode ser o referente das afirmações e representações históricas”. A segunda, a tese do narrativismo, conferiria aos “imperativos da linguagem e aos tropos ou figuras do discurso, inerentes a seu estatuto linguístico, a prioridade na criação das narrativas históricas”, com isso, em essência, não haveria diferença entre a narrativa do ficcionista e a do historiador, já que ambas “seriam constituídas pela linguagem e igualmente submetidas às suas regras na prática da retórica e da construção das narrativas”. Fundada no antirrealismo histórico e no narrativismo, a prática da escrita da história pós-moderna colocou em xeque “a objetividade do conhecimento histórico e, consequentemente, os limites estruturais da verdade e de seus enunciados”.
Entretanto, a opinião de Malerba é que “a teoria pós-moderna da linguagem é produto das interpretações enviesadas pós-estruturalistas do trabalho do linguista suíço Ferdinand de Saussure”, que conformam uma espécie de “filosofia idealista, uma espécie de filosofia metafísica fundada em assertivas não provadas e improváveis a respeito da natureza da linguagem” (MALERBA 2011, p. 126).
Malerba procura desmontar os postulados do antirrealismo e do narrativismo: enquanto o narrativismo, ao eliminar a distinção entre as narrativas históricas e ficcionais, nega à historiografia a aspiração de verdade que ela reclama em suas abordagens do passado, tornando inócuo o ofício do historiador, o antirrealismo, por sua vez, seria uma consequência infeliz de “uma compreensão tacanha da relação cognitiva”, pois ignora que a história é uma forma distinta de conhecimento que tem a experiência dos seres humanos no tempo como seu objeto: Talvez a melhor resposta que pode ser dada ao ceticismo pós-moderno é a de que a ideia de um passado independentemente real ou atual não se apoia em qualquer teoria e não é uma conclusão filosófica. Ela é, antes, uma exigência da razão histórica e uma necessidade conceitual, autorizada pela memória, bem como implicada na linguagem humana, que inclui sentenças no tempo passado, e é imposta pela ideia de história como uma forma distinta de conhecimento que tem a experiência dos seres humanos no tempo como seu objeto. Negar a existência do passado como algo real a que os historiadores podem se referir e conhecer é, portanto, algo fútil, porque se trata de uma condição essencial da possibilidade da história como campo de conhecimento cientificamente regulado (MALERBA 2011, p. 134).
Contra tais postulados, Malerba propõe um enfrentamento teórico que se ampara nos conceitos de realidade social e de habitus de Pierre Bourdieu (MALERBA 2011, p. 138) e na teoria simbólica de Norbert Elias (MALERBA 2011, p. 145) – tal solução é retomada e aprofundada nos capítulos finais do livro. O que Malerba evidencia no pensamento de Bourdieu é que a linguagem não é uma categoria independente do real, pois, antes de tudo, a realidade social é que configura os meios através dos quais se percebe a realidade e se constrói atos de fala para representá-la. Assim, argumenta Malerba, ao contrário do que prescreve a concepção estruturalista da linguagem e sua epistemologia pós-moderna, “a constituição de uma língua, por meio da qual representamos o mundo (social inclusive), é um processo eminentemente histórico e social e o sujeito do conhecimento é sempre coletivo”. Por conseguinte, os signos, conceitos e discursos sobre o mundo seriam formulados “a partir de um conjunto de determinantes sociais que são interiorizadas pelo indivíduo, a partir das quais ele constrói as lentes (os conceitos) com os quais apreende (percebe, classifica, narra) o mundo” (MALERBA 2011, p. 141). Além disso, Malerba procura religar o discurso ao mundo real, ou a linguagem ao mundo real, que teriam sido separados pelos pós-modernos. Através da teoria simbólica de Elias, busca mostrar que o elo entre o processo de representação e o real é o “fundo social do conhecimento”, isto é, a língua de uma comunidade linguística contém as experiências sintetizadas historicamente (MALERBA 2011, p. 145-147). A articulação entre realidade e conhecimento que Malerba advoga seria um ponto de convergência entre o conceito de habitus de Bourdieu e a teoria simbólica de Elias; tal articulação valeria plenamente também entre narrativa e história, ou entre narrativa e mundo real. Desse modo, para Malerba, assim como para Jörn Rüsen (2001, p. 54), a consciência histórica nasceria da experiência do tempo, e isso, invariavelmente, perpassaria a relação entre realidade e conhecimento histórico: A história existe, como resultado do conflito de interesses e ações complexas dos indivíduos em seus grupos; o conhecimento desse processo de transformações de si e do mundo a que chamamos de história é possível, não deixando-se de fora o que há no sujeito do conhecimento de tudo o que lhe constitui como ser humano (imaginação criadora, instinto, paixão…), mas “controlando” racionalmente o processo do conhecimento. A história existe e pode ser conhecida, como vem sendo feita cada vez mais e melhor. O resto é discurso (MALERBA 2011, p. 153).
Os desdobramentos conflituosos da epistemologia pós-moderna, na concepção de Malerba, transcendem as questões da cientificidade da história e suas alternativas teóricas e metodológicas. De fato, Malerba aproxima-se das assertivas de José Honório Rodrigues (1966, p. 23), para o qual “não há história pura, não há história imparcial” e “toda história serve à vida, é testemunho e compromisso”, ao afirmar que a relação entre conhecimento, vida e realidade diria respeito, em verdade, à função da história nas sociedades e à responsabilidade social do historiador. A perspectiva de Malerba é que a fixação do conhecimento dentro dos limites do discurso seria uma “atitude escapista, evasiva da realidade, que é virulenta e ameaçadora”, e, consequentemente, argumenta, “a opção pelo discurso desvinculado da realidade não deixa de ser, igualmente, uma posição submetida, submissa ao status quo, portanto, conservadora” (MALERBA 2011, p. 152-153).
Nos Ensaios de Malerba, à crítica à epistemologia pós-moderna sucede uma busca por uma definição do conceito de historiografia, conformado, sobretudo, a partir da teoria da história de Rüsen (2001), para o qual a função da teoria seria enunciar “os princípios que consigam a pretensão de racionalidade da ciência histórica de tal forma que eles valham também para a historiografia”. Assim, cumprindo o papel de garantia de cientificidade epistemológica, soma-se à teoria da história a função de racionalizar a pragmática textual exercida pela teoria da história na historiografia. Com isso, a historiografia passaria a ser parte integrante da pesquisa histórica, cujos resultados se enunciariam na forma de um saber redigido, textual, mas cientificamente satisfatório. No capítulo VI, Malerba defende que a teoria da história deve refletir sobre as formas de apresentação do conhecimento histórico como um dos fundamentos da ciência histórica e que, também, deve valorizar a historiografia como seu campo específico. A historiografia, então, é compreendida enquanto produto intelectual dos historiadores, mas, concomitantemente, como prática cultural necessária de orientação social que é resultante da experiência histórica da humanidade. Apresentando-se duplamente como objeto e fonte histórica, a historiografia estaria vinculada à história das ideias e dos conceitos (MALERBA 2011, p. 171-175).
Os dois últimos capítulos trazem uma tentativa de xeque-mate contra a problemática pós-moderna. Retomando e aprofundando algumas das discussões desenvolvidas no capítulo V, Malerba propõe que o antídoto para o questionamento sobre a validade epistemológica da história e a cientificidade do ofício do historiador seja concebido a partir de uma via metodológica estabelecida pelo conceito de habitus de Bourdieu e pela teoria simbólica de Elias. Assim como o ceticismo pós-moderno havia historicizado e relativizado o conhecimento científico, a estratégia de Malerba é mostrar que a crise do racionalismo moderno também é uma contingência historicizável. Isto é, Malerba relativiza a própria problemática pós-moderna ao observar que tal “fratura epistemológica” da modernidade, da qual advém a concepção antirrealista e narrativista da história, se dá no Renascimento, no momento em que o conhecimento sobre o mundo se objetiva e, como consequência, cria-se a problemática da percepção do humano entre o que é ilusão e o que é realidade. É nesse contexto, segundo Malerba, em que se inicia a problemática da representação, da dúvida sobre a correspondência entre os conceitos (as palavras) e o real (as coisas). A problemática epistemológica contemporânea, assim, seria fruto do “questionamento ao niilismo pós-moderno em relação à suposta inacessibilidade do conhecimento a um mundo caótico ou irreal” (MALERBA 2011, p. 209). A preocupação de Malerba é compreender as representações e resolver o problema da verdade no conhecimento. Para tanto, contudo, adverte que seria preciso superar o hábito enraizado desde o Renascimento de se separar o real e o abstrato.
Daí se amparar na solução eliaseana, assumindo que não há correspondência entre conhecimento e o mundo que não seja representacional, socialmente herdada e constituída. Para Malerba, se a representação é uma prática social, seria um absurdo se conceber as representações como discurso e linguagem sem referente.
Dada à amplitude temática, cada um dos oito capítulos poderia gerar apreciações distintas, iniciando, cada qual, discussões novas ou reeditando velhos debates, cada um apontando para uma direção, sem necessariamente convergir.
As teses que o livro contém, ao pôr em relevo a questão da legitimidade e da objetividade da história, entretanto, orbitam o mesmo centro de gravidade temático: a problemática pós-moderna. Mas a linha que perpassa as partes e as articula ao todo não é somente temática, também revela uma forma específica de compreensão sobre o que é a problemática pós-moderna que é bastante comum entre os historiadores.
Grosso modo, aos olhos do filósofo, a problemática pós-moderna sucede à crise do racionalismo moderno, nascida da crítica à tradição iluminista e à razão ocidental. De maneira violentamente sumária, pode-se dizer que se trata de uma crise acerca do fundamento do conhecimento humano: a partir da “revolução copernicana” do conhecimento de Kant, o fundante da operacionalização da correspondência entre o concreto e o pensamento deslocou-se de Deus para o Homem; com isso, o sujeito do conhecimento deixa de ser um ente fixo, atemporal, e o fator “tempo” passa a ser decisivo para o conhecimento – a razão está no homem, com suas capacidades e limites, há uma morte epistemológica de Deus – tal concepção está cristalizada em Hegel, em sua acepção de que o movimento do espírito humano se desdobra no tempo; no entanto, com Nietzsche há uma ruptura total com o racionalismo moderno (da racionalidade argumentativa, da lógica, do conhecimento científico, da demonstração), o qual, segundo ele, era a causa da decadência e da fraqueza do homem – o objetivo de sua crítica é revelar os pressupostos das crenças e preconceitos (a construção do sentido no tempo), e não legitimar o conhecimento ou a moral – agora, a morte epistemológica é do Homem (cf.
DELEUZE 2009; HABERMAS 2000; MACHADO 1999). Nesse contexto, o que ficou marcado como “virada linguística” (linguistic turn) começa a entrar em cena a partir da tentativa de fundar a razão do conhecimento ocidental na linguagem, começando por Wittgenstein, para o qual a lógica da linguagem corresponderia à lógica do mundo – não a concretude, mas o que é inteligível: o mundo social (CONDÉ 2004). Daí em diante, na filosofia contemporânea, vários foram desdobramentos da busca de solução para a problemática pósmoderna (RORTY 2007, p. 25-129).
De modo geral, o historiador parece captar essas questões da filosofia de forma bastante singular, entre apropriações acertadas e errôneas. Ao se sentir afetado pelos desdobramentos da problemática pós-moderna, frequentemente, o historiador entra em debates e toma posições (tanto prós quanto contras) despertando um olhar indulgente do filósofo, seja ao confundir as noções de discurso e de ideologia, como faz Jenkins (2001), seja ao afirmar que há uma “exorbitação da linguagem” responsável por uma ruptura entre conhecimento e verdade e por uma negação da realidade, como faz Malerba; acreditar que há antirrealismo, por exemplo, na compreensão foucaultiana acerca da forma como o discurso de certa época constrói determinadas verdades é partir, desde o início, de pressupostos equivocados, pois não se discute se o mundo real (concreto) realmente existe e se os fatos que nele ocorrem são positivos, mas se trata de pensar o mundo inteligível, socialmente construído e compartilhado (VEYNE 2011, p. 9-65).
Isso não significa, no entanto, que a leitura de Malerba sobre a problemática pós-moderna e suas correlativas preocupações profissionais seja ilegítima e desprovida de valor. Ao contrário, ela é autêntica representante da compreensão generalizada que os historiadores têm da questão. De tão disseminada essa compreensão acerca do que é e de quais são os desdobramentos da problemática pós-moderna e da linguistic turn, para bem ou para mal, criou-se, entre os historiadores, uma comunidade de sentido em que todos se entendem, na qual percebem e reagem à questão da mesma maneira ou de forma bastante semelhante, como se compartilhassem o mesmo aquário; um aquário diferente dos filósofos. Por isso, ainda que talvez os Ensaios de Malerba não despertem o fascínio do filósofo, o livro tem méritos inquestionáveis por oferecer uma proposição original de solução e de enfrentamento que, dentro do aquário do historiador, faz completo sentido e representa uma proposta teóricometodológica plausível.
Referências
APPLEBY, Joyce; HUNT, Lynn; JACOB, Margaret. Telling the truth about history. New York: W. Norton & Company, 1994.
BLOCH, Marc. A apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
CLARK, Elizabeth A. History, theory, text: historians and the linguistic turn. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005.
CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. As teias da razão: Wittgenstein e a crise da racionalidade moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2004.
DELEUZE, Gilles. A filosofia crítica de Kant. Lisboa: Edições 70, 2009.
FEBVRE, Lucien. Les idées, les arts, les sociétés. Combats pour l’historie. Paris : Libraire Armand Colin, 1992.
HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
IGGERS, Georg G. Historiography in the twentieth century: from scientific objectivity to the postmodern challenge. Hanover, NH: Wesleyan University Press, 1997.
JENKINS, Keith. A história repensada. Tradução de Mario Vilela. Revisão técnica de Margareth Rago. São Paulo: Contexto, 2001.
MACHADO, Roberto. Nietzsche e a verdade. São Paulo: Graal, 1999.
196 Sérgio Campos Gonçalves História da Historiografia. Ouro Preto, n. 8 abril 2012 187-196 MALERBA, Jurandir. A história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006.
____________. Ensaios: teoria, história e ciências sociais. Londrina: EDUEL, 2011.
NOVICK, Peter. That noble dream: the “objectivity question” and the American historical profession. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
REIS, José Carlos. A história, entre a filosofia e a ciência. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
RODRIGUES, José Honório. Vida e história. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1966.
RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
RÜSEN, Jörn. Razão histórica: teoria da história: os fundamentos da ciência histórica. Tradução de Estevão de Rezende Martins. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001.
VEYNE, Paul. Como se escreve a história: Foucault revoluciona a história. Brasília: UNB, 1982.
VEYNE, Paul. Foucault: seu pensamento, sua pessoa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
WINDSCHUTTLE, Keith. The killing of history: how literacy critics and social theorists are murdering our past. Paddington, NSW: Macleay Press, 1996.
Nota
1 Para compreender o impacto da chamada linguistic turn na história e a dificuldade que seus desdobramentos trouxeram para os historiadores, ver APPLEBY; HUNT; JACOB 1994; CLARK 2005; IGGERS 1997; REIS 2006; WINDSCHUTTLE 1996.
Sérgio Campos Gonçalves – Doutorando Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho scamposgoncalves@gmail.com Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, 900 – Jardim Dr. Antonio Petráglia 14409 -160 – Franca – SP Brasil.
As origens culturais da Revolução Francesa – CHARTIER (HH)
CHARTIER, Roger. As origens culturais da Revolução Francesa. Tradução de George Schlesinger. São Paulo: Editora da Unesp, 2009, 316 p. Resenha de: AZEVEDO NETO, Joachin. A Revolução Francesa revisitada. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 8, p. 205-210, abril 2012.
Roger Chartier é um historiador francês, natural de Lyon. Além de, atualmente, ser professor do Collége de France e atuar nas Universidades de Harvard e da Pensilvânia, o autor teve, dentre outras, a obra A história cultural entre práticas e representações traduzida para o português em 1988. A referência a este livro é necessária porque o mesmo apresenta a matriz teórica que vem regendo a produção intelectual contemporânea de Roger Chartier. Também é preciso salientar que as reflexões sobre a História Cultural enquanto campo de conhecimento, que embasam esta obra, foram inovadoras para a época e abriram novas possibilidades de estudos no campo da história e nas formas de se ler e escrever textos historiográficos.
A articulação entre A história cultural entre práticas e representações e as pesquisas mais recentes desenvolvidas por Chartier, que versam sobre temas que vão desde as relações entre escritores e leitores no Antigo Regime até os desafios da escrita da História, reside na assertiva de que, para este historiador, é necessário compreender o modo pelo qual se estabelecem vínculos entre a leitura e a compreensão dos textos com as condições técnicas e sociais em que esses textos são publicados, editados e recepcionados. Por exemplo, A história ou a leitura do tempo, breve obra publicada recentemente, ilustra bem esses vínculos entre as fases de maturação do pensamento de Chartier quando o autor afirma que uma história cultural renovada deve acatar o desafio de compreender “a relação que cada comunidade mantém com a cultura escrita” (CHARTIER 2009, p. 43) a partir dos usos e significados que são atribuídos aos textos.
Essas reflexões gerais sobre as propostas de Roger Chartier são necessárias para a contextualização do autor de As origens culturais da Revolução Francesa, obra publicada no Brasil em 2009. Na introdução da obra, Chartier se indaga por que escrever um livro que já existe, fazendo referência a um estudo escrito na década de 30 do século XX, intitulado Les orígenes intellectualles de la revolution française, de Daniel Mornet. A questão é que, tanto o conhecimento acumulado em torno do tema da Revolução Francesa se transformou ao longo do século XX, bem como é possível, para os estudiosos da história, a abordagem de temas clássicos da historiografia por meio do levantamento de novas problemáticas.
No primeiro capítulo “Iluminismo e Revolução;Revolução e Iluminismo”, Chartier discute o que seriam, para Mornet, as causas da Revolução. O autor, assim, esquematiza as conclusões de Mornet que embasam, de forma geral, as concepções historiográficas tradicionais sobre a Revolução Francesa: 1) as ideias iluministas circulavam hierarquicamente das elites para a burguesia, daí para a pequena burguesia e, por fim, para o povo. 2) a difusão das ideias iluministas aconteceu do Centro de Paris para a periferia da França. 3) o Iluminismo foi uma peça-chave para o desmonte do Absolutismo. Chartier elabora sua tese invertendo os postulados de Mornet: não foi o Iluminismo que inventou a Revolução Francesa, mas os desdobramentos da Revolução que legitimaram o Iluminismo.
Nesse sentido, o significado teórico do termo origem, que aparece no título da obra de Chartier ainda continua nebuloso para o leitor. Acredito que o conceito-chave que é a todo momento evocado no estudo do historiador francês ecoa no mesmo diapasão das reflexões formuladas por Walter Benjamin em A origem do drama barroco alemão. Segundo Benjamin, a ideia de origem possui uma dimensão dialética e crítica na medida em que: […] apesar de ser uma categoria totalmente histórica, não tem nada que ver com a gênese. O termo origem não designa o vir-a-ser daquilo que se origina, e sim algo que emerge do vir-a-ser e da extinção. A origem se localiza no fluxo do vir a ser como um torvelinho, e arrasta em sua corrente o material produzido pela gênese. O originário não se encontra nunca no mundo dos fatos brutos e manifestos, e seu ritmo só se revela a uma visão dupla, que o reconhece, por um lado, como restauração e reprodução, e por outro lado, e por isso mesmo, como incompleto e inacabado. Em cada fenômeno de origem se determina a forma com a qual uma ideia se confronta com o mundo histórico, até que ela atinja a plenitude na totalidade de sua história. A origem, portanto, não se destaca dos fatos, mas se relaciona com sua pré e pós-história (BENJAMIN 1984, p.67-68, grifo no original).
Por esse viés, a noção de origem não é utilizada como uma fonte na qual a explicação de todos os fatos possa ser encontrada. O significado atribuído por Benjamin ao termo é o de um fenômeno entranhado de várias temporalidades históricas. Assim sendo, a origem não carrega em si a gênese das coisas, mas se constitui enquanto uma formação que perturba a normalidade do curso das práticas humanas e faz ressurgir antigas questões esquecidas e silenciadas. Por esse prisma, o conceito de origem é dialético porque sua forma é a de uma imagem sempre aberta, sempre inacabada. Essa é a concepção de origem da qual partilha Chartier, embora não faça menções diretas a Benjamin em nenhum momento de As origens culturais da Revolução Francesa.
No segundo capítulo, “A esfera pública e a opinião pública”, Chartier discute como a esfera pública era constituída por um espaço no qual havia um intercâmbio de ideias políticas que estavam distantes de serem controladas pelo Estado. Assim, a esfera pública, seguindo os rastros do pensamento de Harbemas, era um espaço de sociabilidade burguesa. Neste espaço, a nobreza e, tampouco, o povo tinham presença e as diferenças entre os indivíduos que se faziam presentes eram ressaltadas por meio dos posicionamentos e argumentos críticos que estes apresentavam para o debate e não por meio de uma estratificação social que favorecia uma linhagem ou títulos de nobreza.
Simplificando, Chartier fala em esfera pública se referindo aos debates que aconteciam em salões, cafés, clubes e periódicos que eram usados como lócus para discussões, entre as camadas sociais emergentes, de crítica estética sem a intromissão das autoridades tradicionais nessas conversas.
Dentro dessa discussão, é preciso recorrer ao texto clássico “O que é o Iluminismo?” (2004), de Kant, para a elucidação de como o conceito de razão foi estreitamente interligado com a noção de Iluminismo. Kant sugeriu que a liberdade, enquanto vocação humana, só poderia ser exercida quando o indivíduo conseguisse pensar por si próprio. A razão concebida dessa forma possuía uma dimensão pública e privada. O uso privado da razão, por exemplo, por oficiais do Exército ou líderes religiosos, não anulava o uso público da razão porque este era embasado no interesse comunitário. Com base no pensamento de Kant, essas duas esferas autônomas do pensamento crítico não preocupavam o Estado absolutista, que mantinha a ordem vigente através da distribuição de cargos públicos e de status. Porém, para Kant, o uso individual da razão só atingiria sua plenitude quando os cidadãos pudessem registrar, através da escrita, suas críticas ao poder vigente.
No capítulo “O caminho de imprimir”, Chartier discorre sobre as tensões entre os interesses dos parlamentares e do público leitor, que resvalavam, por sua vez, no mercado editorial francês. Usando os testemunhos de Malesherbes, diretor do comércio livreiro e de Diderot, coautor da Enciclopédie, Chartier analisa como a opinião desses homens letrados, que defendiam a livre circulação de livros, libelos e periódicos – mesmo que não apresentassem teor crítico em relação à configuração política da época – esbarravam nas práticas de censura e policiamento que eram impostas pelo poder real.
O título “Será que os livros fazem revoluções?”, do quarto capítulo, possui uma fina entonação irônica. Fatores como o aumento de leitores – na França pré-revolucionária –, mesmo entre representantes das classes populares, e as diversas formas de negociação dos livros, como o aluguel até por hora dos exemplares, adotadas pelos livreiros, não implicava diretamente, para Chartier, em um anseio coletivo revolucionário. Nesse ponto da obra, o autor levanta uma série de críticas ao historiador norte-americano Robert Darnton, reconhecido também como pesquisador da cultura impressa no Antigo Regime.
Em Boemia literária e Revolução, Darnton é categórico ao afirmar que o filão de escritores de libelos inflamados e da baixa literatura erótica – a canalha literária, como os denominou, horrorizado, Voltaire – que abordavam, em seus escritos, temas escandalosos envolvendo a nobreza foram mais decisivos para disseminar o descontentamento político entre a plebe do que os iluministas na França pré-revolucionária. De acordo com Chartier, essa perspectiva está equivocada porque tanto a escrita da boemia literária quanto dos philosophes saciaram a fome de leitura de toda uma geração ávida por ter acesso a temas proibidos, transgressores e irreverentes. Isso significa que a leitura de livros taxados de crônicas escandalosas, e mesmo os da alta filosofia, que habitavam lado a lado os depósitos da Bastilha e as listas de pedidos dos livreiros, caracterizados pela construção de narrativas contestadoras e desrespeitosas das hierarquias estabelecidas, não incutiam, nas mentalidades dos leitores, o desejo de derrubar a ordem vigente.
No quinto capítulo, “Descristianização e secularização”, o autor busca elucidar como o fenômeno cultural da descristianização, ou seja, da falta de crédito das prédicas e dos dogmas morais e religiosos ensinados pela Igreja Católica, vinha sendo gestado entre a população francesa desde o século XVII e que, portanto, não se trata de um advento que eclodiu no final do século XVIII por meio da adesão em massa dos franceses aos ensinamentos e tratados anticlericais contidos nos escritos iluministas. Para o autor, com base nas ideias de Jean Delumeau, é preciso, inclusive, relativizar a ideia de que houve sempre uma França plenamente cristianizada.
De acordo com Chartier, embora as elites tradicionais prezassem em deixar boa parte das suas fortunas para o pagamento das indulgências, entre as camadas médias e populares essa prática não era seguida com frequência.
Com a postura radical adotada pela Igreja durante a Contrarreforma, a impopularidade dos dogmas católicos, sobretudo aqueles ligados aos ideais de uma vida ascética – ligados à defesa das relações matrimoniais apenas como finalidade para a procriação – causou uma série de práticas e mudanças no comportamento sexual dos casais que romperam com a cartilha que era pregada nas missas.
No capítulo “Um rei dessacralizado”, Chartier traça uma discussão sofisticada sobre os principais fatores que culminaram no rompimento da crença na autoridade sacramental do rei por parte dos súditos franceses. É interessante perceber como, até no período pré-revolucionário, os documentos enviados pelos franceses ao rei para serem apresentados em Assembleia Geral, permaneciam margeados por uma retórica que afirmava o caráter paternal e justo do monarca, que deveria proteger os súditos das extorsões e abusos de poder do clero e dos nobres. Como compreender, então, a proliferação de impressos que construíam a imagem de um rei ridículo, imoral e suíno e a execução pública do soberano durante os desfechos da Revolução? Chartier elenca como uma das principais causas do fenômeno da dessacralização do rei o abuso de autoridade real que era exercido por meio da força policial, em meados do século XVIII. Como exemplo, o autor cita que os oficiais de polícia, para cumprir um decreto real que determinava a remoção e prisão dos mendigos e vagabundos parisienses, acabaram prendendo crianças e pré-adolescentes filhos de mercadores, artesãos e trabalhadores. Como resposta, os súditos propagaram rumores sobre um rei que era escravo de prazeres devassos e envolvido em práticas macabras como o assassinato dos jovens capturados pela polícia.
No capítulo “Uma nova política cultural”, o autor faz uma referência ao estudo de Peter Burke sobre a cultura popular durante o alvorecer da modernidade. Na esteira do pensamento de Burke, Chartier afirma que houve um crescente interesse, alimentado pela circulação de canções, imagens e libelos contra as autoridades, por parte das camadas populares por assuntos políticos porque as atitudes administrativas, como a cobrança de impostos, por exemplo, afetava diretamente o cotidiano dessas pessoas. Essa politização da cultura popular ocorreu de forma gradativa, em termos de duração, e culminou na adesão das classes subalternas ao movimento que arruinou o absolutismo.
Outra instituição que se expandiu largamente, por toda a França, foi a sociedade maçônica. Chartier elenca como um dos principais atrativos da Maçonaria o fato de que, tal qual nas tavernas, salões ou academias, os indivíduos eram vistos como iguais entre sí e diferenciados apenas pelos posicionamentos discursivos que adotavam. Embora de forma limitada, a maçonaria e os salões tinham em comum o fato de estabelecerem um espaço aberto para a prática de uma sociabilidade “democrática”, em um contexto histórico e político longe de ser democrático. Porém, como Chartier adverte, é necessário ressaltar o caráter elitista dessas instituições. Os indivíduos deveriam ser prósperos, polidos e intelectualizados para que a Ordem também pudesse ser próspera. De modo geral, seja nas tavernas, salões ou nas lojas maçônicas, ao longo do século XVIII, essas formas de sociabilidades que emergiram se colocaram na contramão da ordem que alicerçava o Antigo Regime.
No último capítulo, “As revoluções têm origens culturais?”, Chartier traça uma comparação entre a Revolução Inglesa, que aconteceu no século XVII e a Revolução Francesa. Embora seja evidente que cada evento possua suas peculiaridades contextuais, o autor sugere que prevaleceu como eixo comum à noção, em ambos os eventos, de que o ideário puritano inglês e o jansenismo francês infundiram, por meio de prédicas religiosas, mas de forte teor político, um profundo sentimento de desconfiança entre a população no que diz respeito à moralidade das autoridades instituídas.
A conclusão que se pode tirar do estudo de Chartier sobre as origens intelectuais da Revolução Francesa é que um evento como esse, explosivo e sanguinário, que rompeu com uma tradição política absolutista construída por séculos, alicerçada pelos sustentáculos da religião e do Estado e que envolveu, de forma geral, todos os seguimentos sociais da França, teve razões complexas e inseridas em um processo de duração histórica mais longa. Desta forma, Chartier lança mais inquietações do que respostas em torno de um tema historiográfico clássico e induz o leitor à reflexão de que os objetos ligados ao campo da história podem ser sempre revisitados, arejados e redescobertos por novos olhares e problemas lançados pelos historiadores para o passado.
Referências
BENJAMIN, Walter. A origem do drama barroco alemão. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984.
CHARTIER, Roger. As origens culturais da Revolução Francesa. Tradução de George Schlesinger. São Paulo: Editora da Unesp, 2009.
______. A história ou a leitura do tempo. Tradução de Cristina Antunes. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
______. A história cultural entre práticas e representações. Tradução de Maria Galhardo. Lisboa: Difel, 1990.
DARNTON, Robert. Boemia literária e Revolução: o submundo das letras no Antigo Regime. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
KANT, Immanuel. O que é o Iluminismo? In_____. A paz perpétua e outros opúsculos. Tradução de Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 2004.
Joachin Azevedo Neto – Doutorando Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: joaquimmelo@msn.com Rua Bosque dos Eucaliptos, 280 – Campeche 88063-440 – Florianópolis – SC Brasil.
Saber dos arquivos – SALOMON (HH)
SALOMON, Marlon (org.). Saber dos arquivos. Goiânia: Edições Ricochete, 2011, 110 p. Resenha de: SILVA, Taise Tatiana Quadros da. Transgredir a ordem do arquivo. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 8, p.197-204, abril 2012
A reflexão epistemológica relativa à produção historiográfica concentra- -se, muitas vezes, na análise das estratégias narrativas empregadas pelos seus autores. Isso exige que se faça uma larga investigação sobre a construção do gênero narrativo, sobre suas regras de composição e sobre seus usos no período e lugar de sua produção. Em outro nível, a investigação do texto historiográfico restringe-se a construção dos objetos históricos, dos temas e problemas que o caracterizam, podendo abarcar igualmente os acontecimentos que condicionaram a idealização de seu projeto temático e de seu conteúdo. A perspectiva da reflexão, então, converge para uma interpretação crítica da produção historiográfica e de seus efeitos políticos e culturais.
Essa não é a intenção da obra Saber dos arquivos, organizada pelo professor da Faculdade de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás (UFG), Marlon Salomon. De fato, a obra oferece um olhar epistemológico sobre o estatuto dos arquivos. Por meio da desnaturalização de seu estatuto, os textos apresentados na coletânea permitem indagar sobre a construção da evidência na sociedade contemporânea. Tal investigação implica importante exame sobre a “evidência”, ou seja, daquilo que “arquiva”, que permite, fragmentariamente, a sobrevivência em traços do que não é mais presente. É esse aspecto inquiridor que marca a originalidade da obra em questão. Ao deslocar-se do lugar comum de muitas obras que ainda se restringem apenas ao texto, ou, em outro sentido, das produções que visam a discutir o arquivo como dado, como resultado objetivo; na coletânea Saber dos arquivos, volta-se à pergunta “o que é o arquivo”? Em que sentido as evidências são traços de uma relação entre o presente e o passado? E mais: em que medida nossos arquivos, concebidos outrora, não guardam as “marcas” dessa relação, estabelecida em período pregresso? O arquivo, assim, não é considerado como um espaço neutro, mas como um lugar de poder, onde o sentido do que merece ser arquivado, foi anteriormente definido segundo interesses e concepções que sustentaram e legitimaram o “arquivável”, construindo-o.
Assim, o acervo documental não é um laboratório onde o historiador encontra suas evidências, mas um lugar de memória que obedece a um regime de memória e que deve ser problematizado pelo historiador. Em outras palavras, ao nos confrontarmos com o arquivo, posicionamo-nos não apenas diante de um espaço onde o atual e o inatual se encontram, pois o traço, não representa o passado, mas aquilo que foi considerado arquivável, ou seja, o documento exprime políticas onde se definiu o traço que deveria ser resguardado do tempo, presentificado. Para pensar a história é preciso não dispensar uma arqueologia do “traço”, do “resquício”.
Os arquivos, assim, constituem fundamental problema e desafio da investigação historiográfica, apresentando acervos que limitam e mesmo delimitam aquilo que podemos designar por “passado”. Além da crítica interna e externa dos documentos é preciso que passemos hoje a pensar o lugar dos arquivos na sociedade que ocupamos. Os significados e implicações presentes nas políticas arquivísticas que herdamos e adotamos. Entender tais práticas é também importante meio para compreendermos nossa relação com o passado, a forma como, ao constituirmos arquivos, realizamos usos políticos da história.
Ao introduzir a obra, Salomon, destaca essas questões sublinhando os conflitos que têm envolvido a abertura de arquivos no Brasil e no mundo. Para o organizador, a tensão atual a respeito do assunto inscreve-se entre os temas que devem ser abordados ao tratarmos da relação contemporânea com o passado. São muitos e complexos os usos a que estão suscetíveis os arquivos no presente, como, por exemplo, em relação aos usos do arquivo no jogo político partidário – como se viu na última campanha presidencial no Brasil.
Entre o “direito à memória” e, como estratégia política, os arquivos tornam-se espaço central de disputas, algumas claras; outras ainda pouco evidenciadas.
Entre as disputas travadas em meio aos documentos históricos, talvez uma das mais pungentes seja aquela relativa ao anseio individual e familiar quanto à própria história e ao seu embate com o Estado pelo direito de conhecê-la.
Apenas esse conhecimento pode conferir também a possibilidade do esquecimento, como Salomon destaca: “O direito de se apropriar da memória não significa recalcar o morto ou denegar o outro, como pretendiam as ditaduras, mas poder esquecê-lo para poder continuar a viver” (SALOMON 2011, p. 12). A gestão dos acervos, muito mais do que se reduzir a uma mera questão técnica, diz respeito à gestão do passado. As tensões entre sociedade e Estado, políticas presentes e eventos passados inscreve-se, assim, nas atuais políticas e leis concebidas para tratar dos acervos, que devem ser observadas como parte de um conflito sobre o lugar do passado no presente e sua possibilidade futura.
O controle do passado pelo Estado é tema no artigo da pesquisadora do Instituto de Ciências Sociais do Político (CNRS) da Universidade de Paris, Sonia Combe. No artigo “Resistir à razão de Estado” a autora traz à tona as transformações e limites das políticas arquivísticas francesas. No texto, as disputas e batalhas pela abertura irrestrita dos arquivos, travadas desde a década de setenta do século passado até a aprovação de nova lei de arquivos em 15 de julho de 2008, são reconstruídas de forma a serem analisados os principais aspectos que as caracterizaram, bem como seus prováveis avanços.
Assim, na escrita de Sonia Combe, uma análise retrospectiva e crítica em relação à legislação dos arquivos na França tem espaço. Em primeiro lugar, Combe, reavalia o efeito e recepção da lei de 3 de janeiro de 1979, que restringia a consulta dos arquivos recentes ao prazo de 30 anos. Tal lei, embora representasse uma vitória em relação aos arquivos da Segunda Guerra Mundial, mantinha inacessíveis os arquivos relativos às guerras da descolonização. Em relação à lei de 2008, no entanto, a autora afirma que “a criação de uma categoria de arquivos confidenciais e a manutenção da confusão entre vida privada e vida pública e a do sistema de derrogação” (SALOMON 2011, p. 21) tornam a nova lei mais aproximada daquela de 1979 do que se poderia suspeitar.
Isso se deve ao fato de que se, de um lado, não parecia mais haver na França o que a autora chama de “mito do fechamento dos arquivos”, de outro, o Estado finda por atuar nesse sentido. Os abusos do Estado são, afirma a autora, evidentes na condução administrativa que prevê a revogação parcial de acesso aos arquivos conforme o solicitante seja considerado “confiável” ou não para acessá-los. Segundo Combe, “A solicitação de derrogação introduz um laço de dependência entre o solicitante e o Estado via administração de arquivos” (SALOMON 2011, p. 25).
A ideia de que existem leitores privilegiados, ou melhor, habilitados para a leitura dos arquivos, presente na legislação atual francesa é, para Combe, um instrumento comum do Estado fundado na diferença entre os sujeitos e no segredo, como na França do Antigo Regime. A autora retoma, então, o pensamento de Gabriel Naudé, bibliotecário do Cardeal Mazarin e um dos idealizadores da abertura das bibliotecas.
Segundo Robert Damien, estudioso da obra de Naudé, o surgimento das bibliotecas públicas marcaria o fim da “era do segredo”. Para a autora, então, a presença de tal distinção entre pesquisadores “confiáveis” e “não confiáveis” é um claro sinal da fragilidade e dos atrasos da democracia francesa. A análise da autora, desse modo, constrói-se não apenas como retrospectiva, mas como denúncia das fragilidades da política dos arquivos em França.
No artigo seguinte, intitulado “A danação do arquivo: ensaio sobre a história e a arte das políticas culturais”, Marlon Salomon reflete sobre a tensão entre a abertura dos arquivos no Brasil e as políticas patrimoniais em vigor no país, entre a comemoração incessante e a negação reiterada do direito ao acesso aos documentos. Crítico em relação às políticas culturais, para o autor, a transformação da história em séries de manifestações culturais termina com a potência política ou “força que permitiria que a comunidade se separasse de si mesma” (SALOMON 2011, p. 32). Vale ressaltar as palavras do próprio autor: A escrita da história deixa de ser o espaço em que a comunidade escreve as diferentes repetições de si mesma, para se transformar no lugar em que se manifestam os eternos traços de seus costumes, com suas festassímbolo, paredes-símbolo e lugares-símbolo (SALOMON 2011, p. 32).
Em oposição às políticas patrimoniais e comemorativas em que a cultura é exaltada, Salomon ressalta a negligência perante os arquivos. Para o autor, isso se deve ao fato de que, diversamente do imaginado, os arquivos não são espaços de preservação e de conservação, mas se constituem como “desvio”, como “novo”, instância em que não se comemora o mesmo, ou se preserva a identidade, mas que desafia a pensar o outro e que nos coloca em um confronto com um real, desconhecido, ignorado e que desafia o pensamento. O autor indaga, então, pela condenação do texto, pela marginalização filosófica do escrito, do arquivo como instrumento para conhecer a história. A história ameaça o mesmo, ela instaura o diverso. Por isso, hoje, é muito mais fácil celebrar por meio da cultura, do que indagar os arquivos e fazer da investigação uma experiência social tão marcante quanto são as comemorações que exaltam o costume, que reafirmam o mesmo e preservam a identidade.
Para Salomon, de modo drástico, “o anúncio do fim da história e a ascensão desse regime [das políticas culturais] pertencem à mesma época” (SALOMON 2011, p. 36). A história, transformada em memória, torna-se a busca pelo comum e o arquivo (e a produção de sentido) são então substituídos pelo patrimônio histórico. Da mesma maneira, a arte, uma vez reduzida à expressão cultural reduz seu potencial como atividade criativa. A ideia de arte, segundo a qual o papel da mesma era o de questionar os costumes passa, então, a ser o seu oposto. A arte e o documento histórico, lugar em que o diverso e o inusitado eram uma vez experienciados, são esquecidos em detrimento da manutenção e afirmação da identidade. Para Salomon, é preciso que nos questionemos sobre os rumos que nossas políticas culturais têm assumido, mormente tendo em vista a oposição entre abertura de museus e não abertura dos arquivos. “Talvez”, afirma o autor “a abertura de museus seja a contrapartida negativa da não abertura dos arquivos” (SALOMON 2011, p. 41).
O terceiro artigo da obra, intitulado “Um saber histórico de Estado: os arquivos soviéticos”, tem como autora Antonella Salomoni, professora de história na Universidade de Bolonha. Nele, Salomoni apresenta um rico quadro da constituição das modalidades dos acervos soviéticos sob a administração do Partido. Para a autora, que estudou a sistematização dos arquivos a partir da Revolução de 1917, os registros soviéticos, longe de serem um simples depósito de informação, foram “o resultado de um projeto de fazer a história da ascensão do comunismo na sociedade russa, projeto formulado ao mesmo tempo que a fundação do novo Estado” (SALOMON 2011, p. 45). Em sua análise, Salomoni proporciona um interessante panorama de como, em meio ao processo revolucionário e seguido a ele, os arquivos se tornaram parte das práticas de poder. A exposição sistemática da Reforma Arquivística que ocorre na Rússia, a partir do novo contexto político, é clara em pontuar de que modo o Estado entendeu a importância dos registros históricos na legitimação do novo regime.
Contudo, tal processo não seria imediato. Segundo afirma a autora, entre 1918 e 1920, a arquivística russa teria permanecido “sob o controle de funcionários do velho aparelho, culturalmente hostis ao poder soviético e intelectualmente refratários a uma requalificação de seus métodos de trabalho” (SALOMON 2011, p. 53). Essa e outras passagens do texto da autora remetem à complexidade do tema estudado e à abordagem conferida. A pesquisadora italiana não se restringe nem em construir a imagem de um Estado soviético que imediatamente assumiu o poder em todos os âmbitos, mas também não nega a tomada de consciência sobre a importância de documentos que foi, paulatinamente, acentuada entre os membros do partido. No artigo, é apresentada também a organização e cuidado tomado com os arquivos da Revolução, a construção de métodos e abordagens pelas novas equipes de arquivistas formados pela política soviética e que transformariam a própria noção de arquivo, ao trabalhar com uma nova perspectiva sobre a importância das fontes orais para a construção da história da Revolução. Assim, a “memória de classe” e a instrumentalização da pesquisa para a escrita de uma história de Estado teriam traçado os novos rumos da investigação e salvaguarda documental na Rússia. Na compreensão da autora, embora a memória tenha sido colocada a serviço da história da Revolução e “inscrita na narrativa da constituição material do Estado soviético” (SALOMON 2011, p. 69) sua investigação é ainda um primeiro passo para pensar como se escreveu a história “na época em que o comunismo estava no poder” (SALOMON 2011, p. 72).
A pesquisa de Salomoni, publicada primeiramente em número da revista Annales de 1995, e felizmente agora traduzida para o português, oferece um passo inicial e intransponível para os que se dedicam não só à escrita da história, mas também aos principais temas da história contemporânea.
Ao texto de Salomoni segue o artigo do professor de filosofia da Universidade de Tel Aviv, Adi Ophir. Intitulado Das ordens no arquivo, o texto de Ophir é, sem dúvida, o que apresenta, em relação aos demais, aspecto mais teórico, caracterizando-se por retomar a reflexão de Michel Foucault que, de modo geral, é bastante presente na reflexão apresentada pelo organizador Marlon Salomon. O professor de Tel Aviv, como Salomon, empenha-se em oferecer uma leitura renovada de Foucault, na qual a preocupação com o saber e com a formação dos discursos de saber é então central.
Como filósofo, no entanto, Ophir não se preocupa em discutir o arquivo em seu aspecto institucional, como prática apenas, mas sim como conceito, problematizando uma relação central para a filosofia contemporânea e, mormente, para um leitor muito especial de Foucault: Giles Deleuze. O autor retoma, assim, relações importantes para ambos os filósofos, como por exemplo, a organização dos discursos e a relação entre discurso e arquivo. O lugar do registro histórico, sua dimensão na sociedade ocidental, já anteriormente problematizado pelos artigos anteriores, é então explorado em seu aspecto epistemológico. Nesse sentido, a obra Saber dos arquivos evoca um novo tipo de problematização que escapa à mera apresentação formal dos usos do documento, da conformação das práticas de investigação e revela talvez a sua maior intensão editorial: a de romper com o silêncio teórico sobre o que é o registro. No artigo “Das ordens no arquivo”, Ophir aborda o arquivo como um fenômeno central da vida moderna, como um elemento substancial na construção do sujeito ocidental, então conformado e atravessado pelo traço, pelo rastro. Ao seguir a crítica de Foucault à ordem dos discursos, Ophir também propõe uma crítica à ordem dos arquivos. Para o autor, deve o historiador vencer os limites que restringem a produção historiográfica. O registro, retornando, assim, a um Foucault como lido por Deleuze, já é uma “episteme” e é nesse sentido que ele deve ser objeto de crítica e de superação: “a episteme constitui um conjunto de objetos manipuláveis. […] à medida que o campo do manipulável é redefinido, eles o transformam (ou vice-versa)” (SALOMON 2011, p. 88).
Desse modo, Ophir propõe uma crítica do social que passe por uma arqueologia da ordem dos arquivos, onde o historiador, considerado como arqueólogo, deve ter como objetivo historiar “a fusão de estruturas que governam uma ordem epistêmica passada e o arquivo do presente, o que significa uma fusão do horizonte das pessoas e de textos do passado com o horizonte do discurso histórico contemporâneo” (SALOMON 2011, p. 93). O autor, ao concluir, contrapõe a história antiquária, criticada por Nietzsche, com a que possa promover uma vida presente mais criativa e, para tal, afirma Ophir, é preciso romper com o sistema de possíveis subscrito no arquivo. Fica a sugestão da leitura e também a da transgressão da ordem do arquivo.
O livro, por fim, encerra com um breve, porém interessante texto do professor do Instituto Interdisciplinar de Antropologia do Contemporâneo da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (CNRS-EHESS) de Paris, Philippe Artières. Intitulado “Monumentos de papel: a propósito de novos usos sociais dos arquivos” o autor propõe uma análise do que chama de “o arquivo fora dos arquivos”. Para Artières, há um movimento contemporâneo de uso dos arquivos que foge daquele formalizado pelos grandes arquivos nacionais, onde centraliza- -se o acervo de milhares de documentos. O autor, assim, destaca a importância de entender os usos do passado na vida cotidiana e não apenas dentro dos arquivos ou cerceados por políticas públicas. Para abordar essa questão, Artiéres trata de uma prática que se torna cada vez mais comum: a de vender papéis velhos. Para o autor, a compra e venda de manuscritos ordinários, nos quais emerge a biografia de indivíduos desconhecidos, expressa uma forma importante de discurso histórico. Além desse mercado emergente de histórias, também no cinema e em exposições de arte contemporâneas a questão das novas formas de arquivo em que avultam rastros e fragmentos de experiências ignoradas parecem centrais. A internet, nesse sentido, surge como lugar excepcional de arquivo, revolucionando todos os parâmetros de armazenagem. Nela, são fomentadas formas voláteis, formas líquidas de memória, na qual a possibilidade de manipulação dessa memória e a velocidade dessa manipulação oferecem interessante objeto de estudo. O autor examina práticas de disponibilização online de arquivos, que adquiriram grande força devido à popularização da digitalização. A facilidade em registrar, conjugada à de armazenar imagens e documentos digitalizados modificou a relação das pessoas mais comuns com a produção de registros de vida. Esses registros passam a compor um museu pessoal em que o uso privado e público confunde-se. Ao mesmo tempo em que a arte contemporânea transforma-se no “ogro dos arquivos”, utilizando-os como tema de suas exposições, um novo mercado de serviços de proteção e acervo de arquivos pessoais ganha espaço.
Entre esses diversos movimentos, Artiéres destaca a obra do artista plástico Tino Sehgal, que se nega a produzir arquivos, registros, rastros de seu trabalho. O artista, na leitura de Artières, situa-se em outra configuração, na qual prevalece o que ele classifica como “resistência ao arquivo”: “trata-se de um conjunto de práticas que visam não a reificar os arquivos, mas a imaginar dispositivos que escapem precisamente ao imperativo da inscrição, a imaginar sociedades do esquecimento” (SALOMON 2011, p. 110).
Para Artières, o mundo contemporâneo apresenta uma modificação de grandes dimensões na forma de compreender o arquivo e a memória. Nesse mundo, não mais há espaço simplesmente para centros arquivísticos, tendo em vista que os arquivos são produzidos e arquivados de forma individual. Da mesma forma, eles são manipulados de forma pessoal e expressam uma forma nova de relação com o passado. Vive-se, de fato, uma experiência outra sobre o que se pode considerar como passado. Assim, Artiéres nos permite questionar esses movimentos: seriam eles manifestações de uma nova forma de relação com o passado? Sem dúvida, é preciso que tenhamos sensibilidade para pensar esses novos veículos de produção de arquivo e suas consequências para a compreensão geral da passadidade. A história, aquela que ao menos conhecíamos e pela qual ainda consideramos importante dialogar é certamente um dos tantos discursos e formas de relação com o passado e com a memória.
É preciso, assim, observar que outros regimes e formas de relação com o passado se instauram para entendermos, afinal, o que representa a historiografia hoje. Nesse sentido, o texto de Artières nos permite formular uma série de ponderações sobre o estatuto da disciplina histórica e sobre o lugar de nossos arquivos públicos.
Os artigos do livro Saber dos arquivos, na sua maioria textos já anteriormente publicados, porém não em português ou no Brasil, permitem uma densa viagem pelo sentido das práticas que conformam a disciplina da história. O teor dos artigos demonstra a preocupação, por parte dos envolvidos na sua tradução e publicação, de trazer, ao debate teórico e historiográfico no Brasil, uma perspectiva de análise renovada em que tanto a contribuição de Michel Foucault, quanto a atual investigação sobre o lugar do arquivo deve ser considerada. O que é o arquivo? Qual o seu lugar na sociedade contemporânea? Avivados com essas perguntas e com as diferentes possibilidades de abordálas, iniciamos e terminados a leitura da boa coletânea organizada por Marlon Salomon. Esteja aberto o debate.
Taise Tatiana Quadros da Silva – Professora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás taiseq@yahoo.com.br Rua 75, 433/32 – Setor Central 74055-110 – Goiânia – GO Brasil.
A história pensada: teoria e método na historiografia europeia do século XIX – MARTINS (HH)
Teoria da história; Historiografia; Século XIX.
MARTINS, Estevão de Rezende (org.). A história pensada: teoria e método na historiografia europeia do século XIX. São Paulo: Contexto, 2010, 256 p. Resenha de: BENTIVOGLIO, Julio. Entre a história e o cânone: a ciência histórica oitocentista e seus textos fundadores. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 8, 175-18, abril 2012.
É deveras conhecida a relação intrínseca entre a produção do conhecimento histórico e sua dimensão narrativa. Desde Aristóteles (1989) esta dimensão tem sido pensada em maior ou menor grau por diferentes teóricos e historiadores, de Luciano de Samósata (2009) a Paul Ricoeur (1994). Muito já se escreveu sobre o fato de que a história além de ciência é arte – tal como no célebre texto de Leopold von Ranke, que integra a coletânea aqui resenhada – visto ser ao mesmo tempo reflexão, pesquisa e método, mas, também, escritura.
O que dá forma e confere sentido a todo e qualquer estudo sobre o passado brota da pena dos historiadores, do modo como refiguram os acontecimentos através de narrativas com começo, meio e fim; cujas ações encontram-se ordenadas em torno de uma intriga. Vista sob este ângulo, a ciência histórica e por conseguinte toda a historiografia integram um vasto e instigante conjunto de textos, dentre os quais alguns se destacam, pela qualidade de suas proposições, por sua abordagem, pelo modo como abarcam seu objeto, enfim por sua natureza distintiva.31 O campo da teoria da história, que reúne reflexões epistemológicas, discussões sobre o método, sobre a história da historiografia ou a respeito das filosofias da história, não é indiferente a isso e dele, frequentemente, emergem textos canônicos. Textos que se tornam modelares no conjunto das obras históricas, que são reconhecidos como tal pelos praticantes do ofício. Assim, também os historiadores, em diferentes épocas, reconhecem a presença de seus textos clássicos. Entenda-se aqui um clássico como uma obra especial, um modelo exemplar, uma narrativa que reúne enorme potência criativa, expressando de maneira particular as possibilidades cognoscitivas e estéticas de seu tempo e que, além disso, torna-se referência obrigatória a exercer, direta e indiretamente o que, parafraseando Harold Bloom, poderíamos chamar de angústia da influência (cf. BLOOM 1995). Como negar o peso da tradição rankeana nos estudos históricos? Como não localizar em Buckle, por exemplo, momento vetorial na historiografia anglo-saxã? Autores como estes provocam e estimulam o debate epistemológico posterior, decisivamente. Em outras palavras, clássico seria todo texto cuja capacidade de produzir reflexão impressiona por sua longevidade, atraindo e desafiando leitores. O século XIX, por ser o século no qual se constituiu a disciplina da historiografia no sentido contemporâneo do termo (MARTINS 2010, p. 4), quando se estabeleceu a ciência histórica autônoma, apartada da filosofia e da literatura, foi, não por acaso, bastante pródigo em nos oferecer obras canônicas que constituíram um primeiro corpo de regras e normas para o ofício do historiador, configurando um momento estratégico para se pensar o surgimento da História como um novo saber (cf. BENTIVOGLIO 2009, p. 8-11). É sobre este momento que se debruça esta obra pioneira no Brasil, organizada pelo professor titular de teoria da história na Universidade de Brasília (UnB), Estevão de Rezende Martins – A história pensada: teoria e método na historiografia europeia do século XIX, publicada em 2010.
Membro da direção da Comissão Internacional de História e Teoria da Historiografia, ao lado de Georg G. Iggers, Charles-Olivier Carbonell, Jörn Rüsen, Hayden White e Frank Ankersmit, o professor Estevão Martins reuniu um pequeno conjunto de renomados pesquisadores brasileiros que se dedicam ao estudo da teoria da história para analisar alguns dos textos fundadores da ciência histórica oitocentista europeia, a maioria deles sem tradução em português e outros que já tinham sido traduzidos, mas jaziam em revistas de difícil acesso e pequena tiragem. Iniciativa pioneira entre nós,2 que repete o êxito de obras similares e inspiradoras como The varieties of history de Fritz Stern (1973), lançada originalmente em 1956 nos Estados Unidos, ou ainda Theories of history lançada em 1959 por Patrick Gardiner (2004), que, como se observa, ilustram uma anterioridade significativa. Em solo brasileiro, deve-se mencionar a pequena coletânea organizada por Maria Beatriz Nizza da Silva, Teoria da história lançada em 1976. De qualquer modo, ao contrário da comunidade anglo-saxã, não havia no Brasil a publicação de coletâneas que integrassem a tradução de textos seminais no campo da teoria da história oitocentista, apresentados e discutidos por especialistas. Só isso bastaria para destacar sua importância e sublinhar o mérito da obra em tela. Mas o caráter representativo, em que pese algumas ausências, dos autores e textos selecionados diz muito sobre o estado do campo naquele período. Nesse sentido, não seria ocioso reconhecer o peso da tradição historiográfica germânica na composição do cânone histórico durante o século XIX, bem como nesta coletânea de Estevão Martins: dos dez textos clássicos reunidos, sete são oriundos daquele universo. À primeira vista, portanto, ressalta-se a virtude incontestável deste livro, ao brindar pesquisadores, estudantes e interessados nos estudos históricos em conhecer momentos altos da reflexão historiográfica ocidental, com textos que constituíram os fundamentos da teoria e da metodologia histórica contemporâneas, tratando-se, portanto de obra essencial e obrigatória. Convite mais que justificado para sua leitura.
Não resta dúvida de que Thomas Carlyle, Johann Gustav Droysen, Ernst Bernheim, Wilhelm von Humboldt, Theodor Mommsen, Karl Lamprecht, George Macaulay Trevelyan, Burckhardt, Leopold von Ranke e Thomas Buckle são altamente representativos do momento de definição de um novo campo do saber, em que ocorreu um verdadeiro renascimento dos estudos sobre o passado, na virada do Iluminismo para o Romantismo, por meio de um diálogo fecundo com o historicismo, no qual a reivindicação da pesquisa e da crítica de fontes originais se coadunou com a formulação de princípios teóricos e métodos de abordagem, que conferiram um caráter científico à história (MARTINS 2010, p. 10).
Embora não seja obra exaustiva na seleção de textos e autores representativos daquele processo, A história pensada vale não somente por reunir alguns textos fundamentais, mas, sobretudo pela qualidade analítica das apresentações que situam e discutem aqueles mesmos textos. Sua leitura permite que se faça a conexão dos progressos vividos pela historiografia durante o século XX tendo em vista o diálogo e os contrastes produzidos face à historiografia do século anterior. Outro aspecto favorável do livro reside no fato de seu organizador ter escolhido fragmentos de obras e determinados textos que estabelecem um claro diálogo entre si, lendo-os vislumbra-se um conjunto de preocupações mais ou menos comuns e constantes que são compartilhadas entre os diferentes historiadores oitocentistas. Primeiro ao indagar sobre o que é e como se faz a história. Segundo ao levantar questões que ainda hoje recebem atenção, referentes ao sentido do passado, sobre a peculiaridade do objeto da investigação histórica, sobre o método histórico e, por fim, sobre a natureza da escrita da história.
Ao se debruçar sobre o século da história, em que ocorreu formação das primeiras escolas históricas, vislumbra-se a possibilidade efetiva de localizar um processo de institucionalização daquele saber, que se consolida e se autonomiza como um lugar no interior dos estudos acadêmicos, através do surgimento de inúmeras cadeiras de história nas universidades europeias.
Institucionalização que é acompanhada por outros elementos fundadores, criando espaços de poder em meio à sociedade, detectados em seu reconhecimento pelos Estados, seja mediante sua adesão aos nacionalismos triunfantes, seja através da ocupação de cargos importantes no interior dos governos – muitos historiadores foram ministros, conselheiros, diretores de academias científicas, administradores dos arquivos e instituições de memória.
Esses lugares são acompanhados por um renovado interesse de publicação e leitura de obras históricas. Ou seja, materializam um processo no qual um tipo de saber se configura como um poder, parafraseando Michel Foucault (2002), ao criar uma nova disciplina acadêmica que efetiva dispositivos de validação de seu discurso científico reconhecidos e acolhidos pelos historiadores, que passam a adotá-los e praticá-los, aderindo a determinados regimes de autoridade e de escrita da história.
os mestres do ofício e que configurarão, através do conjunto de artigos publicados e das diretrizes editoriais impostas, uma verdadeira fisionomia para os estudos históricos, indicando alguns traços que permitem reconhecer linhas de força, características e grupos mais influentes, dentre outros aspectos. Nesse sentido, vale a pena lembrar que o século XIX conheceu importantes escolas históricas: como a escola liberal (whig) inglesa, a escola romântica francesa, a escola histórica alemã e suas multifacetadas subcorrentes, em especial a escola histórica prussiana, além da escola metódica francesa de Gabriel Monod e seus discípulos. Evidentemente, este recurso classificatório não se faz sem dificuldades, haja vista a existência de determinadas escritas da história que se inspiram em outros modelos, como é o caso da historiografia portuguesa e sua adesão ao realismo literário que, de certo modo, inspirou Adolpho Varnhagen no Brasil5 ou ainda de alguns historiadores que não se vinculam, pelo menos sem tensão, àqueles regimes de escrita e modelos de abordagem, como é o caso de Karl Lamprecht, por exemplo.
Destacando-se determinados textos que informam caminhos de leitura e de método, constitui-se uma tradição de leituras de ordem teórico-metodológica, com suas diretrizes e reflexões, que se tornam clássicas. E, como afirma Italo Calvino, um clássico é uma obra que nunca termina aquilo que quis dizer, são livros “que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessam” (CALVINO 2001, p. 15). Eles estabelecem uma linhagem, uma genealogia. E são leituras que nos trazem surpresas, que oferecem descobertas, ou ainda nas palavras daquele autor: O clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabíamos; às vezes descobrimos nele algo que sempre soubéramos (ou acreditávamos saber), mas desconhecíamos que ele o dissera primeiro (ou que de algum modo se liga a ele de maneira particular). E mesmo esta é uma surpresa que dá muita satisfação, como sempre dá a descoberta de uma origem, de uma relação, de uma pertinência (CALVINO 2001, p. 12).
Assim, como não reconhecer a linhagem historicista nos textos apresentados nesta coletânea em que se evidencia uma forte tradição germânica, observada desde a agenda proposta por Humboldt e Ranke, passando pelas definições teórico-metodológicas de Droysen e Bernheim que se desdobram de maneira lírica em Burckhardt e agônica em Lamprecht? Como não vislumbrar, tal como as discussões promovidas na obra levam a sentir, ou promover a refutação do mito de uma historiografia positivista tanto nos metódicos alemães, quanto em Buckle, em torno da questão do fato histórico? Estas são constatações que surgem tanto nas apreciações críticas introdutórias dos colaboradores, quanto na leitura dos próprios textos desta coletânea. Elas revelam, entre outras coisas, de que maneira aqueles historiadores relacionavam, em suas obras, de maneira complexa, empiria e pragmatismo. Compreender estas questões torna-se tarefa imprescindível para se compreender as críticas posteriores que lhes são feitas, por exemplo, pelos fundadores dos Annales aos metódicos franceses – como Gabriel Monod ou Victor Seignobos, os quais, infelizmente, não figuraram neste volume.
Renato Lopes, professor na Universidade Federal do Paraná, abre o livro com sua apresentação sobre Thomas Carlyle (1795-1881), historiador escocês marcado pelo recurso à retórica e com um estilo primoroso de escrita, que propunha “uma mistura peculiar entre o histórico e o literário, o biográfico e o heroico, o figural e o literal, o histórico e o mítico” (MARTINS 2010, p. 18). Fato compreensível visto ele ter iniciado sua carreira exercendo a crítica literária. Dos românticos alemães e da literatura passou a redigir obras históricas, devotadas às ações de figuras destacadas como Cromwell, Luis XVI, Goethe, ou seja, preservando a mística em torno dos heróis, considerados como uma encarnação do universal. Segue-lhe a tradução de Sobre a história de 1830 e Sobre a história, outra vez de 1833, onde são feitas digressões inspiradas a respeito da relação entre os fatos e a escrita da história, sobre as ações humanas e seus sentidos possíveis, nas quais aquele autor revela que “o evento mais relevante é talvez o que de todos é o menos comentado” (MARTINS 2010, p. 27). De modo semelhante a Ranke, Carlyle postula a existência de uma história universal que não deve desprezar as existências singulares, a homens “cuja vida heroica fora outrora uma nova revelação e um novo desenvolvimento da própria vida. Homens, cuja vida heroica fora um bem comum” (MARTINS 2010, p. 29).
Arthur Assis nos apresenta Johann Gustav Droysen (1808-1884), cuja tradução do texto de 1868, Arte e método ficou a cargo de Pedro Caldas. Devo salientar que esta feliz junção, reuniu os dois maiores conhecedores daquele historiador alemão no Brasil. Lamentavelmente ainda pouco conhecido entre nós, Droysen foi, ao lado de Ranke, um dos maiores historiadores do século XIX e sua obra representa um ponto de convergência metodológica central para boa parte da historiografia germânica posterior. Nas palavras de Assis, A originalidade da teoria da história de Droysen decorre da sua inusitada síntese de filosofia da história, teoria do conhecimento, metodologia, e teoria da historiografia. Tal síntese foi concebida por Droysen no contexto da autonomização da História enquanto disciplina acadêmica nas universidades alemãs (MARTINS 2010, p. 33).
O mérito maior da Historik, obra fundamental daquele autor, reside na clareza com que postula um método e um objeto específico para a história, contrapondo-a aos estudos filosóficos e às ciências naturais. Essa particularidade seria depois desenvolvida pela análise de Wilhelm Dilthey, quando funda as ciências humanas ou do espírito, propondo-lhes um método específico: a compreensão (Verstehen) (DILTHEY 2010). Em Arte e método, Droysen busca demonstrar as tensões e os limites entre a ciência e o diletantismo, este último muito comum naqueles estudiosos do passado que não haviam recebido formação de historiador.
Estava claro para Droysen que o conhecimento da crítica histórica, desenvolvida em Göttingen e materializada na História romana de Barthold Niebuhr era obrigatório. Ao mesmo tempo, ele criticava a presença dos modelos retóricos estrangeiros, tão apreciados pelos alemães. E acentuava a necessidade de se valorizar o lado científico, metodológico e empírico dos estudos históricos.
Ernst Bernheim (1850-1942) e seu Metodologia da ciência histórica de 1908 são apresentados e traduzidos, novamente, por Arthur Assis. Bernheim é famoso por seu Manual do método histórico, publicado em 1889, que serviu de modelo e inspiração para o famoso manual de Langlois e Seignobos de 1898.6 Valorizando o cultivo à erudição e à crítica histórico-documental, Bernheim foi um dos pioneiros na produção de um livro especificamente devotado ao método histórico, filiado à tradição de Johan M. Chladenius e de Johann G. Droysen.
Nele se esforça para sublinhar a relação entre o método de abordagem e a síntese (Auffassung) analítica dos fatos. Esta conexão, já tinha enlevo nas reflexões de Humboldt e Ranke, afinal, “tudo está conectado”, diz este último (MARTINS 2010, p. 67). Singularidade e universalidade, confiabilidade e incerteza, recurso à comparação, desafio ao ceticismo e ao relativismo são ainda momentos importantes do referido texto, cuja tradução é mais que bem-vinda.
Pedro Caldas apresenta Wilhelm von Humboldt (1767-1835) e traduz sua famosa conferência proferida na Universidade de Berlim em 12 de abril de 1821, Sobre a tarefa do historiador. Um dos pilares do historicismo alemão, Humboldt embora tenha escrito pouco a respeito da história, ofereceu uma verdadeira agenda para a historiografia alemã. Aliás, duplamente. Primeiro ao reorganizar uma universidade que, de periférica, se tornaria um centro de excelência e uma verdadeira referência às congêneres alemãs e também europeias, situando Berlim no coração do pensamento europeu oitocentista, reservando à história um lugar destacado junto aos demais campos do saber cultivados e projetando seus mestres em toda Europa, tais como Ranke, Hegel ou Droysen e, também ao indicar o cerne da operação historiográfica: pesquisar, encontrar nexos, compreender e narrar. Humboldt não foi somente estadista, pensador e escritor, mas, sobretudo, o disseminador de um novo espírito, cujos fundamentos se localizam na pesquisa científica e na formação (Bildung) humana. Ler seu verdadeiro manifesto aos estudiosos do passado dissipa qualquer preconceito ingênuo de que os historiadores alemães apenas se limitavam a narrar os fatos como ocorreram, afinal, após a triagem dos fatos o historiador deveria buscar seus nexos, buscar a parte invisível, recorrendo à imaginação e à criatividade, partes integrantes da análise documental e da exposição do passado através da escrita.
Estevão Martins se encarrega de analisar e apresentar Theodor Mommsen (1817-1903) e seu discurso de posse na Reitoria da Universidade de Berlim em 15 de outubro de 1874, O ofício do historiador. Curiosamente mais uma vez aqui temos a confluência entre história, literatura e narrativa – esta última uma verdadeira cicatriz de origem às primeiras –, visto seu livro sobre a história de Roma ter sido agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1902, consagrando-se, duplamente, como cânone: entre literatos e historiadores. O ponto alto daquela obra é o modo como nela se urde o enredo em torno da ascensão e queda de uma figura singular da história romana: Caio Julio Cesar. E no texto traduzido se destaca, mais uma vez, a relação entre história e arte, no qual Mommsen reconhece que “o historiador pertence talvez mais aos artistas do que aos intelectuais” (MARTINS 2010, p. 109). Conforme entende Estevão Martins, a síntese entre os elementos científicos oriundos da crítica documental e o recurso à erudição com a forma da argumentação conferem à história mommseniana sua principal marca. Ou seja, A erudição se alcança, no entanto, ao longo da disciplina metódica da investigação, como projeto de vida e de inserção social e política, é a que habilita à síntese interpretativa, à narrativa histórica e historicizante, cuja riqueza estilística recorre à beleza estética da escrita para dar forma à rigidez da pesquisa das fontes (MARTINS 2010, p. 109).
Karl Lamprecht (1856-1915) e seu História da cultura e história publicado em 1910 são habilmente esquadrinhados por Luiz Sérgio Duarte, professor de teoria e metodologia da história na Universidade Federal de Goiás, na breve apresentação e respectiva tradução, embora deva ser dito que aquele historiador carece de maiores estudos e traduções, pois, representa uma verdadeira inflexão nas ciências históricas alemãs e na própria trajetória do historicismo germânico, rumo a uma nova fase. Como aponta Duarte, Lamprecht é um dos pivôs do Methodenstreit e eu diria que, ao lado de Dilthey, abriu uma nova seara para os estudos sociais e culturais, aproximando-os da psicologia social e promovendo uma interdisciplinaridade mais radical a fim de propor seu conceito de épocas culturais.
Novamente Estevão Martins aparece apresentando George Macaulay Trevelyan (1876-1962) e o seu Viés na história publicado em 1947 e traduzido por Pedro Caldas. E mais uma vez ressurge, tal como preconizava aquele influente historiador britânico, a imagem da historiografia como uma variante da arte literária, visto reivindicar a satisfação do universo de leitores, especialistas ou não, e alimentar sua desconfiança dos historiadores científicos. À sentença de morte declarada por Lord Acton em 1903, quando diz que a história não é um ramo da literatura, muito semelhante aos esforços de Fustel de Coulanges na França décadas antes, Trevelyan reivindica um retorno ao romantismo e “opera com uma noção restritiva de ciência” (MARTINS 2010, p. 135). Se a história não podia pleitear a certeza tal qual as ciências naturais, seria o caso, concorda Martins, de extrair disso a sua força. Não por acaso, definirá o viés como sendo “toda interpretação pessoal de eventos históricos que não é aceitável por toda a raça humana” (MARTINS 2010, p. 139) e afirmará que “os argumentos de Carlyle têm peso não por causa de seu viés, mas apesar dele” graças à sua à genialidade como escritor (MARTINS 2010, p. 142). Neste texto seminal, Trevelyan discute ainda temas candentes da reflexão historiográfica relacionados à objetividade, à imparcialidade, relacionando-os concretamente a grandes escritores como Gibbon, Burke, Tocqueville, Taine, Treitschke e Mommsen. Sobre estes últimos sentencia: “em vão vocês tentarão encontrar tal imparcialidade em Treitschke e Mommsen”. Ou ainda sua consideração quanto às funções do historiador: a) revelar as consequências e permanências das ações do passado no presente e b) identificar sentimentos e interesses humanos no passado, ou seja, compreender como as pessoas viviam e sentiam. De modo mais categórico: “compreender o passado em todos os seus lados” (MARTINS 2010, p. 153).
Em seguida, Cássio da Silva Fernandes, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, traduz e apresenta a introdução da História da cultura grega publicado em 1872 por Jacob Burckhardt (1818-1897), historiador que teve como aluno o futuro filósofo Friedrich Nietzsche e, em seguida a aula inaugural de seu curso de história da arte na Universidade da Basileia intitulada Sobre a história da arte como objeto de uma cátedra acadêmica publicada em 1874.
Ocioso dizer que Fernandes é o maior conhecedor da obra de Burckhardt no Brasil.7 O esforço distintivo para a narrativa histórica e sobre o melhor modo de empreender a exposição do que foi pesquisado é explicitada da seguinte maneira: Fazer a história dos modos de pensar e das concepções dos gregos é indagar quais forças vitais, construtivas e destrutivas, agem na vida grega.
Então, não em forma narrativa, porém muito mais em forma histórica – já que sua história constitui uma parte da história universal […]. O indivíduo particular e o assim chamado acontecimento serão citados aqui apenas como testemunho do universal, não por si mesmos; porque a realidade de fato que procuramos é constituída pelos modos de pensar, também estes são fatos históricos (MARTINS 2010, p. 168).
Preconizando a necessidade da erudição, de leitura dos clássicos e sem descuidar de outros tipos de fontes documentais, Burckhardt convida a discutir a relação entre particularidade e universalidade, pensando a história da civilização grega como uma seção da história da humanidade (MARTINS 2010, p. 173).
Do mesmo modo, pensa a arte como um objeto específico a ser pesquisado pelos historiadores historicamente e não apenas esteticamente.
Ponto alto da obra é o capítulo sobre Leopold von Ranke (1795-1886) de Sérgio da Mata, bem como sua tradução d´O conceito de história universal de 1831. Ali não somente encontramos o maior historiador do século XIX como também uma das melhores análises já feitas a seu respeito, desde a célebre introdução de Sérgio Buarque de Holanda (1981). Com precisão, Sérgio da Mata esmiúça e investiga aspectos centrais do célebre historiador germânico, desmistificando o mito historiográfico construído em torno de sua figura, indicando o percurso de sua formação, bem como suas principais contribuições à ciência histórica contemporânea. Dada a erudição do ensaio, por sinal o mais extenso na coletânea, seriadifícil sintetizar aqui todas suas virtudes, no entanto, forçoso é sublinhar o modo como discute o suposto apartidarismo rankeano, o problema da objetividade, bem como sua complexa faceta política como editor da Revista Histórico-Política entre 1832 e 1836. No texto traduzido, vemos uma lúcida análise de Ranke sobre o ofício do historiador e a operação historiográfica, inscrita criticamente entre o trabalho com as fontes e a exposição narrativa, entre a filosofia e a poesia, afinal “a História não é uma coisa nem outra”, dirá ele, “ela promove a síntese das forças espirituais atuantes na poesia e na filosofia sob a condição de que tal síntese passe a orientar-se menos pelo ideal – com o qual ambas se ocupam – que pelo real” (MARTINS 2010, p. 202).
Fechando a obra em grande estilo há ainda a análise de Valdei Araújo sobre Buckle (1822-1862) e sua tradução da Introdução geral à história da civilização na Inglaterra de 1857, que, de maneira semelhante a Sérgio da Mata no capítulo sobre Ranke, procura romper com o “j’accuse” de Pierre Bordieu em relação à ilusão biográfica (BORDIEU 2005). Ali vida e obra preservam liames, indicam momentos de pertenças e conexões, pois, nas palavras de Valdei Araújo “as explicações de Buckle permanecem no interior do senso comum historiográfico inglês da era vitoriana” (MARTINS 2010, p. 219), embora manifestasse também contrastes. Assim, apesar de compartilhar com a crença excessiva no evolucionismo progressista, no papel modelar da História, ou com o orgulho nacional dos historiadores escoceses, Buckle demonstra sensíveis divergências metodológicas aproximando-se do pensamento de John S. Mill e de Auguste Comte. De maneira arguta, Araújo sublinha a necessidade de uma reavaliação crítica da historiografia oitocentista e de sua heterogeneidade “encoberta por rótulos ingênuos como “tradicional, não crítica ou positivista” (MARTINS 2010, p. 219). E assevera: mesmo esses rótulos, herança de uma história das ideias muito rígida, deveriam ser substituídos por objetos mais capazes de recuperar a complexidade dos fenômenos que neles se escondem, desde a formação de tradições de linguagens político-intelectuais e de conceitos históricosociais até a montagem de instituições e ideologias. Insistir em uma história intelectual internalista e desencarnada pode ser um passatempo louvável, mas pouco contribuirá para a compreensão efetiva da formação de nosso modo de pensar e escrever a história e, por isso, em nossa capacidade de fazê-la avançar (MARTINS 2010).
Penso que essa avaliação resume o tom geral de A história pensada e confirma seu lugar ímpar dentre os livros recentemente publicados a respeito, ao trazer a lume um momento decisivo da historiografia ocidental, localizando autores e problemas fundamentais que foram transformados em clássicos pela tradição, ao mesmo tempo em que nos convida a problematizá-los e questioná- -los, mobilizando e desmobilizando sua força canônica nos labirintos da temporalidade e de sua própria historicidade, a fim de rever rótulos, mitos historiográficos e sugerir novas linhas interpretativas.
Referências
ARISTÓTELES. A poética. In:_____. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1989.
BENTIVOGLIO, J. A Historische Zeitschrift e a historiografia alemã do século XIX. História da Historiografia, n.6, p.81-101, 2011.
_________________. Apresentação. In: DROYSEN, Johann G. Manual de teoria da história. Trad. Sara Baldus e Julio Bentivoglio. Petrópolis: Vozes, 2009.
BLOOM, Harold. O cânone ocidental: os livros e a escola do tempo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.
BOURDIEU, Pierre. A Ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes; PORTELLI, Alessandro. Usos e abusos da história oral. 6ª ed. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2005.
CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos? São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
CERTEAU, Michel de. A operação historiográfica. In:_____. A escrita da história.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
CESAR, Temístocles. Quando um manuscrito torna-se fonte histórica: as marcas da verdade no relato de Gabriel Soares de Souza (1587). Ensaio sobre uma operação historiográfica. História em Revista, v.6, p.37-58, 2000.
DILTHEY, Wilhelm. Introdução às ciências humanas. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
FERNANDES, C. S. Biografia e autobiografia na civilização do renascimento na Itália de Jacob Burckhardt. História, questões e debates, v.1, p.155- 198, 2004.
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
GARDINER, Patrick. Teorias da história. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2004.
HARTOG, François. Regimes d’historicité: presentisme et experience du temps. Paris: Editions du Seuil, 2003.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Ranke. São Paulo: Ática, 1981.
LANGLOIS, C.; SEIGNOBOS, C. Introdução aos estudos históricos. São Paulo: Renascença, 1946.
LUCIANO DE SAMÓSATA. Como se deve escrever a história. Belo Horizonte: Tessitura, 2009.
MALERBA, Jurandir. Lições de história. Rio de Janeiro: Porto Alegre: FGV, Editora PUC-RS, 2010.
MARTINS, Estevão de Rezende. A história pensada: teoria e método na historiografia europeia do século XIX. São Paulo: Contexto, 2010.
RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Tomo I. Campinas: Papirus, 1994.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Teoria da história. São Paulo: Cultrix, 1976.
STERN, Fritz. The varieties of history. New York: Vintage Books, 1973.
WHITE, Hayden. O texto histórico como artefato literário. In:_____. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da cultura. São Paulo: Edusp, 1994.
Notas
1 A referência explícita aqui é Hayden White (2004), ao compreender as narrativas históricas como artefatos literários, que podem ser examinadas em sua forma literária, através das modalidades de urdidura de enredo, segundo princípios estilísticos e à luz das figuras de linguagem.
2 Em seguida acompanhada pela publicação de outra coletânea também obrigatória: Lições de história de Jurandir Malerba (2010).
3 Alguns textos começam a ser vistos como modelos e consagram obras de alguns historiadores como referenciais. Naquele momento surgem também as revistas de história como mais um importante instrumento de institucionalização do campo e, consequentemente, das escolas históricas.4 Esse é o caso da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro criada em 1839, da Historische Zeitschrift de 1859, da Revue Historique de 1876 ou da American Historical Review de 1883, dentre outras. São essas revistas que irão consagrar 3 A esse respeito são exemplares as contribuições de Michel de Certeau (2002) e de François Hartog (2003), pensando o aspecto disciplinar em torno da escrita da história.
4 Em que pese a dificuldade de localizar escolas e delimitar seus integrantes a partir da criação e publicação em periódicos, ver a tentativa que fiz em relação à Historische Zeitschrift e a historiografia alemã no século XIX (BENTIVOGLIO 2011).
5 Tal como demonstra Temístocles Cezar (2000) em artigo recente.
6 Trata-se do muito citado, mas pouco lido: Introdução aos estudos históricos.
7 Àqueles que desejam iniciar-se naquele historiador, recomendo o texto pontual publicado em História: questões e debates (FERNANDES 2004).
Julio Bentivoglio – Professor adjunto Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: juliobentivoglio@gmail.com Avenida Fernando Ferrari, 514 29075-910 – Vitória – ES Brasil.
Livros e impressos: retratos do Setecentos e do Oitocentos – NEVES (HH)
NEVES, Lúcia Maria P. das (org.). Livros e impressos: retratos do Setecentos e do Oitocentos. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009, 333 p. Resenha de: Resenha de: CAMPOS, Adriana Pereira. Crítica e opinião na imprensa brasileira dos Setecentos e Oitocentos. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7, p. p.350-356, nov./dez. 2011.
Com o fenômeno da expansão das pós-graduações no Brasil, as coletâneas registraram crescimento conjunto. Essa feliz combinação permite que hoje se produzam no país livros temáticos em diversos campos de pesquisa, com enriquecedora contribuição de distintos autores. Esse é o caso da obra Livros e impressos, organizada pela historiadora carioca Lúcia Maria Pereira das Neves, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O objeto central de análise do livro compreende a constituição histórica da imprensa e do mercado editorial no país, abordados a partir da visão particular dos autores-colaboradores.
A diversidade de abordagens reunidas no volume em questão, contudo, só fez realçar a unidade temática que uma obra do gênero deve perseguir, deixando ao largo o risco, sempre presente, de o empreendimento não ultrapassar os limites de uma simples compilação. Os leitores poderão observar, assim, a recorrente preocupação dos autores em examinar a construção de uma esfera pública de crítica, bem como a constituição da opinião pública no Brasil na passagem do Setecentos para o Oitocentos. A imprensa e o mercado editorial convertem-se em objeto das inquietações dos autores, assim como, a formação da cultura política nacional. Não se estranha, portanto, que dos dez capítulos da coletânea, seis façam referência explícita a Jürgen Habermas (1984), formulador do conceito de esfera pública, foco de análise do livro. Outra preocupação recorrente da obra consiste na constituição dos espaços de formulação das linguagens políticas. Com efeito, o leitor confronta-se com o fato de a imprensa possuir papel fundamental na formação do Estado brasileiro, enquanto lugar da crítica e da autonomia. O livro dedica-se, portanto, ao ambicioso projeto que inclui objeto e instrumental teórico da história cultural para decifrar problemas da história intelectual (do livro e dos impressos) e da história política.
A coletânea examina também algumas noções fundamentais para a compreensão do surgimento da imprensa no Brasil. Mais precisamente, como a formação da esfera pública no país se processou por meio da transição entre periódicos mais típicos do Antigo Regime, submetidos ao escrutínio do monarca, para outros de conteúdo mais crítico e de opinião. Os primeiros compreendiam as gazetas e, os segundos, os jornais. Essa delimitação fica mais claramente demarcada na Parte I da coletânea intitulada Imprensa, livros e representações.
No capítulo de abertura desta parte, Maria Beatriz Nizza da Silva elabora um quadro dos primeiros anos de desenvolvimento da imprensa no Brasil, quando se criou a Impressão Régia em 13 de maio de 1808. A autora explora a Gazeta do Rio de Janeiro e a Idade d’ouro do Brasil (Bahia), que seguiam rigidamente o modelo das gazetas, cujo objetivo resumia-se a divulgar notícias recolhidas das grandes metrópoles europeias. De igual modo, houve a tentativa de reproduzir no Rio de Janeiro e na Bahia o sistema dos almanaques, periódico de divulgação de informações dos calendários solar, lunar, religioso, histórico etc. A iniciativa não logrou êxito, talvez porque os brasileiros já dispusessem de notícias da Corte no Rio do Janeiro por meio do Almanaque de Lisboa, que circulava amplamente no Brasil. O experimento mais crítico da época constituir-se-ia nos jornais literários, que versavam sobre história, literatura, mineralogia, entre outros assuntos, e pretendiam despertar o interesse do leitor nas artes, na literatura e na ciência. Além disso, durante a década de 1820, começavam a circular no Brasil os primeiros periódicos de divulgação do saber político, tais como o Seminário cívico, O bem da ordem, O amigo do rei e da nação e o Conciliador do Reino Unido. Obedecendo ao formato dos jornais, essas folhas já revelam a necessidade de liberdade da imprensa e a recusa em obedecer às limitações do rígido modelo das gazetas.
No segundo capítulo da primeira parte, Neil Safier discute a contribuição de um editor em particular à formação da opinião pública emancipacionista no Brasil. O autor examina a adesão de Hipólito da Costa à causa da emancipação dos escravos e da erradicação do tráfico por meio de seus artigos publicados no Correio braziliense. Debate ainda, amplamente, a posição de Hipólito da Costa em relação a sua defesa da extinção gradual da escravidão, que previa como fase preliminar a abolição do comércio de escravos, após o que se perseguiria, prudentemente, a extinção total da escravatura. Neil Safier julga a posição de Hipólito da Costa como ambivalente e ambígua, desconsiderando, porém, ser essa a posição de diversos defensores da emancipação dos escravos prevalecente no exterior. O juízo parece mais uma cobrança anacrônica do que uma apreciação balanceada do posicionamento político do editor, que escrevia do exílio na Inglaterra. Hipólito, cumpre notar também, reproduzia a ideia predominante à época na Europa, justamente a de emancipação gradual, o que não era pouco ao se considerar tratar-se de um membro da elite brasileira. À parte essa ressalva pontual, a contribuição de Neil Safier é importante por colocar Hipólito como editor e formador de certa opinião pública no país, propugnando teses emancipacionistas em pleno alvorecer do século XIX.
Empalmando a polêmica da emancipação escrava, o jornal de opinião editado por Hipólito inaugurava a sua trajetória preocupado com a divulgação de ideias novas no Brasil, reverberando as noções de liberdade numa terra marcada pelo cativeiro.
Lúcia Maria Bastos encerra a parte primeira do livro com a discussão da imprensa como espaço de crítica e de consagração servindo-se das resenhas de livros publicadas em folhas científicas e literárias no Oitocentos. A divulgação das obras convertia-se, segundo a autora, em ponto de interesse comum para uma elite intelectual em formação à época. As livrarias e as tipografias transformavam-se em espaços de socialização dos integrantes dessa elite, despertando em tais indivíduos o interesse por novidades políticas veiculadas nas obras debatidas. A historiadora, ademais, conclui que as reuniões conferiam prestígio aos participantes que, assim, alcançavam destaque na boa sociedade do Rio de Janeiro.
Na segunda parte do livro, constituída de quatro capítulos, verifica-se clara preocupação com a análise do papel dos impressos nas práticas políticas do período. No primeiro capítulo, Roger Chatier introduz a discussão conceitual a respeito da revolução da leitura operada no século XVIII. Do inventário de suas pesquisas, Roger Chatier afirma que essa transformação no século do Iluminismo foi apenas uma das revoluções da leitura, pois outras a precederam “ligadas à invenção do códex, às conquistas da leitura silenciosa, à passagem do modelo monástico da escrita para o escolástico da leitura” (NEVES 2009, p. 101). Outras ainda a sucederiam no século XIX, como “a democratização do público do impresso, e, hoje, com o aparecimento do texto eletrônico” (NEVES 2009, p. 102). Ele discorda das teorias que opõem uma leitura tradicional (intensiva) a uma leitura moderna (extensiva), esta última como a característica revolucionária única no século XVIII. Na primeira, o leitor encontrar-se-ia limitado a um corpus tradicional de textos lidos, relidos e memorizados. Na segunda, consumiria avidamente impressos novos e efêmeros, submetendo-os à crítica. O autor alerta, porém, que os romances e a literatura de cordel eram lidos, relidos e memorizados em pleno Setecentos. Subsistia, portanto, nessas novas formas de impressos, certa leitura intensiva. Desse fato, conclui Chartier ter havido, sim, certa multiplicidade das leituras à época. Com efeito, a variedade da produção impressa e a criação de novos tipos de jornais contribuíram não apenas para a formação de uma esfera pública de opinião, mas também para o estabelecimento dos pilares de uma sociabilidade política que colocou os negócios do Estado sob o escrutínio da crítica. A revolução ocorrida no século XVIII residiu, por conseguinte, na capacidade de multiplicar a leitura dos impressos.
Ainda na segunda parte do livro, José Augusto dos Santos Alves destaca a oralidade como um dos elementos constitutivos da opinião pública na passagem do século XVIII para o XIX. O autor evidencia a associação entre a oralidade e a escrita na divulgação da notícia e da informação, bem como na constituição do sujeito político e da opinião pública. A ocorrência do espaço público liberal firma- -se não apenas no encontro de leitores cultivados, esclarece o autor, como também no de leitores populares, tanto alfabetizados quanto iletrados, instaurando o debate mais amplo dos acontecimentos, anteriormente restrito aos grupos dominantes. As notícias transmitidas em voz alta, a leitura em círculos e outros encontros de divulgação oral das informações escritas configuram o transbordamento da crítica para grupos mais extensos, convertendo a palavra em “coisa pública” (NEVES 2009, p. 10).
Marco Morel, de sua parte, aborda a mudança no modelo de imprensa regular do Oitocentos, quando as chamadas gazetas, periódicos tradicionais das monarquias cederam lugar aos jornais, que se pretendiam formadores de povos e nações. A imprensa do Antigo Regime, como as gazetas, experimentou mudanças importantes e assimiladas posteriormente. Marco Morel expõe as transformações na Gazeta do Rio de Janeiro, órgão oficioso da Corte recém- -chegada à América portuguesa. Atribui a ampliação no tamanho das folhas do periódico à afluência de notícias e à liberdade de imprensa após a adesão de D.
João ao moderno constitucionalismo. Incluíam-se em suas páginas, por solicitação da própria gazeta, cartas dos leitores interessados em divulgar as luzes. Introduziam-se, paulatinamente, comentários do editor aos textos e documentos transcritos, assim como se noticiavam proclamações políticas de diversas localidades do Brasil. O movimento de autonomia do país provocaria a ampliação das opiniões e a redução das transcrições, demarcando a transição da Gazeta para um jornal, que se consolidaria em maio de 1824 com a nova denominação de Diário fluminense. Semelhante trajetória, como mostra Marco Morel, percorreu a Gazeta pernambucana, cuja conversão operou-se entre os anos de 1822 e 1824. Da trajetória descrita, portanto, observa-se que a mudança de um periódico do tipo do Antigo Regime para um mais crítico e de opinião pode ter se operado ainda no interior mesmo das gazetas, cujos redatores transformavam sua intervenção “na busca de se formular um ideário que se tornasse hegemônico, das tentativas de imposição de determinadas linhas políticas e de campos de interesse” (NEVES 2009, p. 179).
O último capítulo da segunda parte, de autoria de Marcello Basile, trata da questão federalista, cuja faceta ficou mais conhecida na historiografia como a descentralização promovida pela reforma constitucional concretizada pelo Ato Adicional. Segundo o autor, o assunto adentrou o Parlamento a partir da emergência do grupo de liberais exaltados que, por meio da imprensa e de suas associações, tiveram amplo êxito na repercussão do tema junto à sociedade.
Desse capítulo, depreende-se a importância da imprensa na mobilização política durante o período, que impunha certa pauta de assuntos no legislativo do Império. Verifica-se, igualmente, aquilo que Marco Morel e outros autores da coletânea chamam de imprensa de opinião, pois se nota os jornais dos liberais exaltados propalando a federação como princípio de participação política, enquanto a imprensa moderada e, sobretudo, áulica, rejeitava a ideia. O autor explora a imprensa como fonte, pois em sua narrativa a respeito das inúmeras votações da matéria, ele se deparou com diversos intervalos temporais sem registro nos anais. A solução empregada foi o recurso a jornais como o Aurora fluminense e o Jornal do commercio, solucionando, assim, tais omissões e resgatando importantes pronunciamentos que forneceram a sucessão quase diária das votações da questão federal no parlamento brasileiro.
A terceira parte do livro, intitulada “Livros, cultura e poder”, adentra os meandros da produção e da mercantilização dos livros. O primeiro capítulo, de lavra de Luiz Carlos Villalta, discute a vigilância do Antigo Regime sobre os livreiros, os livros proibidos e as livrarias em Portugal. Essa interessante investigação desvenda os caminhos, ou melhor, os descaminhos dos livros interditos e os expedientes empregados pelos livreiros para satisfazer o mercado.
O autor utiliza os documentos da Intendência Geral de Polícia e da Inquisição, responsáveis pela censura literária em fins do Setecentos e inícios do Oitocentos. De tais fontes, o autor identificou, por exemplo, as artimanhas dos importadores em encomendar os livros em folhas, deixando para encaderná-los em Portugal.
Outro recurso para contornar os censores consistia na alteração dos títulos para o correspondente em latim, despistando o conteúdo interdito dos livros.
Um estratagema adicional residia no envio de listas truncadas aos fiscais, omitindo-se, convenientemente, autores das obras ou mencionando-se vagamente o seu título. Eventualmente, recorria-se à autorização expressa de algumas pessoas poderem receber livros defesos como professores e membros do clero. A vigilância, no entanto, recaía sobre a troca desses livros com pessoas não autorizadas. Certos livreiros, assim, obtinham licenciamento para realizar o comércio de obras proibidas, mas os censores se incomodavam com os desvios que esse comércio autorizado assumia depois do ingresso das obras em Portugal.
Inclusive, os próprios comerciantes participavam dos esquemas para o contrabando dos títulos cujo destino deveria ser estrito às pessoas autorizadas pelo governo português. Outro ponto que o capítulo colabora para a reflexão geral da coletânea é a formação de certo ambiente de discussão e crítica, de onde germinaria uma esfera pública, conforme definição de Habermas. As livrarias convertiam-se em espaços de acesso à leitura de livros defesos e, amiúde, cediam lugar a discussões sobre o próprio conteúdo apreendido. Os indivíduos podiam dar voz à razão pública por meio do debate e da reflexão coletiva das obras lidas. O autor sugere em suas conclusões que as obras que ultrapassaram o bloqueio da censura contribuíram, de certa forma, para minar as representações e a fidelidade ao soberano, na medida em que seus leitores terminaram por instaurar um ambiente de crítica e de recepção de novas ideias.
O penúltimo capítulo do livro (segundo da terceira parte), de Ana Carolina Galante Delmas, recorre também a uma abordagem criativa e cuja interpretação parece muito sugestiva dos modos particulares de as pessoas lidarem com o poder. As dedicatórias às autoridades constantes nos impressos, para a autora, não revelam simplesmente um gesto de subserviência ao poder. Em sua opinião, significam importante expressão textual da interdependência na política. Mais uma vez, neste capítulo, verifica-se a preocupação com a formação da esfera pública pelo debate que se veiculava nos periódicos e livros em circulação. No início do Oitocentos, no entanto, a impressão constituía-se em privilégio concedido ao livreiro que se dispunha a ingressar na tarefa de editoração. As obras, por consequência, possuíam significado semelhante, uma vez que as bibliotecas tornavam-se a personificação de prestígio, avaliadas pela qualidade e raridade de seus volumes. A biblioteca real, portanto, deveria corresponder ao prestígio do soberano. Por outro lado, a obra que constasse nas prateleiras da realeza ganhava em prestígio e a homenagem postada no livro podia garantir o ingresso nesse templo dignitário. O autor, ao dedicar seus escritos ao monarca, por exemplo, podia garantir sua exclusão no rol dos defesos, o que representava grande vantagem. Além disso, a dedicatória poderia contribuir para o estreitamento dos laços com o rei e denotar, por outro lado, como bem observou Ana Carolina, os impulsos políticos de uma época. No Brasil, por exemplo, as homenagens postadas nos livros demarcaram, nos anos iniciais do Oitocentos, o desejo de permanência de D. João, o desejo de melhorar a sorte do Brasil com a presença da Corte nos trópicos. O levantamento das obras, elevadas à posição de reverência às autoridades, mostra que circulavam no período colonial, inclusive nos dois lados do Atlântico, volumes portadores de ideias ilustradas, em parte porque seus respectivos autores logravam alcançar a graça real por meio do galanteio registrado nas páginas iniciais.
Tania Maria Bessone encerra a coletânea com a história do rico e numeroso acervo da biblioteca de Rui Barbosa, conservado por toda a família após a morte de seu proprietário. Mantida na íntegra, fato raro na história das bibliotecas particulares, o conjunto desses livros demonstra, consoante a autora, a ambição consciente de Rui Barbosa em causar impacto com suas aquisições. Mais uma vez o livro, ou melhor, a sua coleção, conferia marca distintiva de prestígio a um cidadão. Tânia Bessoni evidencia em seu texto que poucas bibliotecas com essa natureza sobreviveram aos seus donos e isso, talvez, constitua-se numa das características mais preciosas da Biblioteca de Rui Barbosa. Nela é possível não apenas encontrar valioso acervo, mas também contabilizar obras que podiam granjear distinção ao colecionador. A preservação do mobiliário, bem como da organização dos livros, demonstra a dedicação de homens como Rui Barbosa para com suas bibliotecas. Ademais, trata-se da prova como os impressos adquiriram prestígio no Brasil e passaram a ocupar lugar de destaque na residência dos homens cultos do país.
Como última palavra, é mister louvar a iniciativa de Lúcia Maria Pereira Neves, que com o livro em tela não apenas nos remonta à história dos impressos e dos livros no Brasil, como também esclarece ao leitor os meandros da formação da opinião pública no Brasil imperial. Os diferentes textos, ao cobrirem o fenômeno da construção da imprensa e do mercado editorial, bem como da formação da opinião pública no país, revelam, em suas diferentes abordagens e temas, aspectos essenciais da política na passagem dos Setecentos para o Oitocentos, além de apontar aos interessados fecundas linhas de investigação futura.
Referências
HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigação quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
NEVES, Lúcia Maria P. das (org.). Livros e impressos: retratos do Setecentos e do Oitocentos. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009.
Adriana Pereira Campos – Professora associada Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: acampos.vix@gmail.com Avenida Fernando Ferrari, 514 29075-910 – Vitória – ES Brasil.
A história nos filmes / Os filmes na história – ROSENSTONE (HH)
ROSENSTONE, Robert. A história nos filmes / Os filmes na história. São Paulo: Paz e Terra, 2010, 264 p. Resenha de: VIANNA, Alexander Martins. Filme, história e narrativa. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7, p.301-304, nov./dez. 2011.
Em 2010, foi lançado o livro de Robert Rosenstone A história nos filmes / Os filmes na história pela editora Paz e Terra. Trata-se de uma reunião das reflexões recentes deste autor sobre a relação entre cinema e história, assim como, uma autorreflexão sobre a sua própria trajetória no tema, havendo instrutivas autocríticas, que são muito significativas sobre a evolução do campo, além de serem muito bem- humoradas. Ao final, há uma relação interessante da produção bibliográfica (predominantemente norte-americana) sobre o tema, que serve como bom medidor da evolução do debate neste campo.
Há considerações pertinentes de ordem teórica e metodológica que firmam a incorporação do debate crítico da “virada linguística” em história, demonstrando como isso afetou (ou deveria afetar) a discussão sobre o filme como fonte histórica e a relação entre narrativa e fato histórico. Além disso, Rosenstone considera, oportunamente, o componente emocional específico de significação da associação som/imagem e performance que caracteriza os “filmes históricos” enquanto mídia, distinguindo a sua forma de narrativa dos “livros acadêmicos de História” enquanto mídia. Por tudo isso, penso que esta obra é, atualmente, um bom ponto de partida teórico e metodológico para quem pretenda discutir e analisar o filme como fonte de época (e como narrativa sobre uma época), com cujo aporte me identifico intelectualmente há uma década.
Ao longo do livro, a intenção recorrente de Rosenstone é demonstrar que o gênero “filme histórico” tem tanto valor (enquanto narrativa sobre o passado) quanto os livros acadêmicos, pois ambos seriam formas midiáticas distintas de propor regimes de verdade sobre o passado. Aliás, Rosenstone lembra que, atualmente, a maioria das pessoas têm visões sobre o passado muito mais marcadas pelo que conheceram através de filmes do que por livros e, portanto, a recepção e a difusão de ideias de passado através de “filmes históricos” definem um status tão importante para a sua narrativa sobre o passado que não pode ser negligenciada pelos “acadêmicos”.
No entanto, se a “virada linguística” foi um marco intelectual importante para o historiador introduzir um componente autoanalítico em (ou adquirir uma consciência metanarrativa a respeito de) seus escritos sobre o passado, Rosenstone lembra que isso é mais recorrente nos livros acadêmicos de história do que em filmes “de história”. Filmes que são conscientemente metanarrativos ou metacríticos em relação ao regime dramático de narração acabam alcançando uma audiência muito diminuta de intelectuais. Portanto, são as narrativas dramáticas que predominam nas produções cinematográficas “sobre história”, ou seja, são elas que alcançam públicos mais amplos e difundem “cânones de passado”. Rosenstone propõe que este tipo de produção cinematográfica seja estudado sem preconceito, devendo o historiador estar atento à sua forma, sentido e regimes narrativos enquanto mídia, em vez de pretender ser normativo sobre qual deveria ser a “forma correta” de narrativa de passado.
Há nisso um pressuposto metodológico importante que serve para qualquer trabalho com fontes históricas (imagéticas ou não): para se entender como um “filme histórico” dá a ver um “tema histórico”, devemos ter um profundo conhecimento do “campo institucional” ou “regimes de gosto e verdades” que definem a sua abordagem em sua época de produção, de modo a entender as escolhas de produtores, roteiristas e diretores. No caso específico de Rosenstone, “tema histórico” se confunde com o gênero que ele analisa: “dramas e documentários históricos”. No entanto, tal pressuposto metodológico pode ser ampliado para qualquer tipo de filme, já que são a pergunta e os interesses temáticos do historiador que transformam um filme em fonte pertinente para análises históricas, desde que este tenha capacidade para responder as suas perguntas.
Em todo caso, devemos estar atento ao modo como as perguntas são feitas e como são respondidas, ou seja, a “virada linguística” foi fundamental para o historiador incluir em sua narrativa um componente autoanalítico, de modo a superar a “ingenuidade positivista”. Afinal, conscientemente ou não, lembra Rosenstone, livros e filmes “de história” expressam ou propõem teses morais a partir de regimes específicos de narrativas e das regularidades internas dos materiais utilizados. No entanto, geralmente no filme fica mais evidente que suas narrativas (dramáticas) têm o interesse de acionar na audiência determinadas emoções, que nos dizem muito a respeito do “campo” em que se inscreve, ou em relação ao qual pretende se diferir, ao tratar de um tema ou conjunto de temas.
Disso decorre outro pressuposto metodológico importante: a intencionalidade do diretor/roteirista, embora importante, não deve ser necessariamente predominante para a análise de um filme, pois este deve ser estudado como “obra acabada” vinculada a um habitus de produção, ou seja, o filme deve ser entendido como o “resultado” de um campo de trabalho coletivo e, portanto, deve-se considerar que há uma negociação permanente na construção de significados que somente termina quando a obra é finalmente editada. Por exemplo, quem cuida da edição de som pode inserir entendimento (emocional e cognitivo) ou criar efeito de condensação temática que não fora necessariamente previsto pelo diretor, roteirista e consultor histórico (no caso de “filmes históricos”), mas com o qual puderam concordar a posteriori, dando novo ângulo de entendimento para cenas, tramas e caracterização de personagens. Enfim, conhecer a forma e o sentido da produção de um filme é importante, pois isso interfere – devido ao seu regime próprio de narrativa, interesses e valores – em como o filme é apresentado à audiência.
Nesses termos, quando se analisa um filme, analisa-se um “resultado” que provoca/propõe ideias e valores através de emoções e teses morais. Afinal, para funcionar a partir de suas próprias regularidades internas enquanto mídia, a narrativa fílmica (dramática ou não) necessariamente precisa de teses morais, tal como os livros de história também o fazem a partir de seu regime próprio de narrativa. Tais teses morais podem identificar a posição de um artefato cultural num campo temático de debate.
Enfim, qualquer produção do cinema somente pode ser opção como fonte para estudo histórico quando o historiador se prontificar a conhecer profundamente o campo social e institucional de ideias, gostos, interesses e valores que interferem nas escolhas de uma produção, o que implica também em conhecer os regimes de verdades sobre os temas abarcados no filme, ou seja, o chão de debates intelectuais, políticos, culturais, sociais etc, em que se insere, ou em relação ao qual pretende se diferir.
Por outro lado, analisar um filme é também reduzi-lo, pois é reconduzi-lo do écran à página, sendo que esta não pode traduzir perfeitamente em palavras aquilo que associa som, imagem e performance para produzir efeitos emocionais para teses morais. Todavia, este é o paradoxo da narrativa histórica sobre qualquer objeto, e não somente para o caso da análise de filmes, pois, como lembra Rosenstone, uma narrativa não pode traduzir um “evento” sem imperfeitamente reduzi-lo – e narrar um evento é também produzi-lo.
Referências
BOURDIEU, Pierre. A distinção. São Paulo: Edusp, 2008.
________________. Ce que parler veut dire. Paris: Arthème Fayard, 1982.
DÉLAGE, Christian. Cinéma, histoire: la réappropriation des récits. Vertigo, n.
16, p.13-23, 1997.
JENKINS, Keith. A história repensada. São Paulo: Contexto, 2001.
LaCAPRA, Dominick. Soundings in critical theory. Ithaca/London: Cornell University Press, 1989.
ROSENSTONE, Robert. JFK: historical fact/historical film. American Historical Review, vol. 97, n. 2, p.506-511, 1995.
SAHLINS, Marshall. Metáforas históricas e realidades míticas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
TOEWS, John E. Intellectual history after the linguistic turn: the autonomy of meaning and the irreducibility of experience. American Historical Review, vol. 92, n.4, p. 879-907, 1987.
WHITE, Hayden. Meta-história. São Paulo: Edusp, 2008.
Alexander Martins Vianna Professor adjunto Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro alexvianna1974@hotmail.com Rua Barão de Mesquita, 463/305 – Tijuca 20540-001 – Rio de Janeiro – RJ Brasil.
Educação e reforma: o Rio de Janeiro nos anos 1920- 1930 – VIDAL (HH)
VIDAL, Diana Gonçalves (org.). Educação e reforma: o Rio de Janeiro nos anos 1920- 1930. Belo Horizonte: Argvmentvm; São Paulo: CNPq: USP, Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em História da Educação, 2008, 176 p. Resenha de: SHUELER, Alessandra Frota Martinez. Novas perspectivas sobre as reformas educacionais no Rio de Janeiro (1920-1930). História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7, p. 312-317, nov./dez. 2011.
Comemorar onze anos de existência do NIEPHE – Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em História da Educação (Universidade de São Paulo), eis o objetivo do livro Educação e reforma: o Rio de Janeiro nos anos 1920- 1930, organizado por Diana Gonçalves Vidal. Publicada pelo núcleo com recursos do CNPq, em parceria com a editora Argvmentvm, a obra reúne um conjunto de artigos resultantes da produção acadêmica, das práticas de investigação e das reflexões teórico-metodológicas elaboradas no âmbito do grupo de pesquisa, por professores e estudantes de graduação e de pós-graduação.
É possível observar a densidade do investimento de pesquisa realizado pelo NIEPHE e a articulação das propostas de investigação desenvolvidas e concretizadas ao longo dos onze anos de existência. No campo da história da educação, os integrantes do grupo, sob a coordenação de Diana Vidal e Maurilane Biccas, agregaram-se não somente em torno de temáticas, temporalidades ou de interesses afins. Sobretudo, compartilharam e produziram problemas de pesquisa e questões teórico-metodológicas. O próprio processo de constituição do NIEPHE, como grupo de investigação em História da Educação, sua trajetória, diversidade, produção e contribuições para o campo, é ricamente narrado na introdução pela coordenadora e organizadora da coletânea, Diana Gonçalves Vidal.
Na apresentação, a autora expõe como o seu trabalho inicial com o acervo pertencente ao Arquivo Fernando de Azevedo (Instituto de Estudos Brasileiros/ USP) foi importante para a emergência de perguntas e do interesse historiográfico sobre a gestão carioca do escolanovista. Na análise de documentos diversos (leis, relatórios, programas de ensino, impressos em geral, entre outros), integrantes do acervo documental da reforma azevediana, observava-se a força do tom renovador, a intenção de modernizar e transformar a realidade, a cultura das escolas do Rio de Janeiro. O tom reformista conjugava-se com o diagnóstico sobre o atraso, sinalizando o estado deplorável do ensino na cidade nos anos que o antecederam. Diante das tradicionais casas de escola, geralmente, alugadas e consideradas inespecíficas para o trabalho de ensinar, uma das tarefas do diretor geral da Instrução Pública se consubstanciava na construção de prédios escolares próprios, modernos e adaptados aos fins do ensino.
Não por acaso, esse modo de construir a memória educacional tem estado reiteradamente presente na historiografia da educação brasileira. As décadas de 1920 e 1930, contemplando o período de maior efervescência e impacto das reformas estaduais, chamadas de escolanovistas, foram consideradas por seus próprios agentes como marcos de origem. Momento de grande empreendimento público e social em prol da educação, os anos de 1920 e 1930 foram identificados com as luzes e a modernidade, em detrimento das sombras, e das tradições, dos primeiros anos de instabilidade republicana e do período imperial, prescritos como tempos de ausências no que tange à educação e aos processos de escolarização. Tal chave interpretativa, que ainda pode ser lida em manuais de história da educação consumidos por professores em formação, nos cursos de graduação (licenciaturas) e nas escolas normais, é problematizada pelo conjunto de artigos da coletânea. Neles, os autores analisam, sob variadas perspectivas e a partir de diversas fontes documentais, as realizações da reforma educacional, atentando, porém, para o complexo processo de construção de representações culturais e sociais, bem como para a construção de uma determinada memória sobre a administração azevediana.
Os eixos de investigação que orientaram as pesquisas desenvolvidas no NIEPHE fertilizaram e mobilizaram intensamente o campo da história da educação brasileira. Participando ativamente do debate no interior da produção historiográfica em educação, o grupo contribuiu, entre outros aspectos, para a construção de abordagens centradas na cultura e nas práticas escolares, compreendendo que, na cultura escolar, há sempre um espaço de negociação “entre o imposto e o praticado, e, mesmo, de criação de saberes e fazeres que retornam à sociedade, seja como práticas culturais, seja como problemas que exigem regulação no âmbito educativo” (VIDAL; BICCAS 2008, p. 25). Nela, se pode perceber como foram constituídas as práticas escolares que “são modos de estar no mundo, de compreender a realidade e de estabelecer sentidos, partilhados social e historicamente” (VIDAL; BICCAS 2008, p. 25). Conhecer as práticas demanda o manuseio de documentos escolares, elementos que não são encontrados com facilidade como cadernos, diários e exames, por exemplo, que podem fornecer pistas dos assuntos ensinados em sala de aula, e ainda, a mobília e todo o conjunto de objetos e artefatos que fazem parte do universo escolar. Assim, o trabalho com os detalhes “permite reconhecer o passado na sua singularidade” (VIDAL; BICCAS 2008, p. 28) e a ampliação da abordagem “possibilita perceber permanências e avaliar mudanças” (VIDAL; BICCAS 2008, p. 28).
Outra categoria de análise problematizada pelo grupo, a de estratégias de escolarização, pode ser destrinchada em dois conceitos: escolarização, como empreendimento, principalmente, do Estado, mas também de movimentos sociais, indivíduos ou grupos específicos (operários, negros, imigrantes e outros); e estratégia, inspirado em Michel de Certeau (1994), que produz o “lugar de poder” pelo estrategista, que, por sua vez, busca exercer seu potencial de dirigir e regular as relações externas. Tais dispositivos analíticos têm permitido ao NIEPHE perscrutar a história da escola elementar, compreendendo essa instituição social nas suas regularidades e dessemelhanças históricas, em uma ampla perspectiva.1 O texto inicial assinado por Vidal e Biccas é de leitura fundamental para a compreensão do conjunto dos artigos reunidos em Reforma e educação, pois apresenta uma diversidade temática e de diferentes abordagens teóricas vistos nos artigos, que constituem produtos de teses, dissertações e monografias resultantes de pesquisas de iniciação científica, e apresentam um ponto de partida comum, ou seja, buscam realizar uma análise minuciosa das reformas educativas ocorridas nas décadas de 1920 e 1930, na cidade do Rio de Janeiro, 1 Para Vidal e Biccas, a escola elementar reuniu diversas denominações na história educacional brasileira: “aulas régias de primeiras letras, aulas nacionais de primeiras letras, escolas de primeiro e segundo graus, escolas primárias, escolas modernas, escolas de imigrantes, grupos escolares, escolas isoladas, dentre outras” (VIDAL; BICCAS 2008, p. 31).
então Distrito Federal. Tais reformas, geralmente identificadas como ícones de modernização e de renovação educacionais na sociedade brasileira, também foram reconhecidas pela apropriação, circulação e difusão de ideais e movimentos pedagógicos, políticos e filosóficos que, embora heterogêneos, foram denominados escolanovismos ou Escola Nova. Partindo dessa problemática central, os estudos, em sua maior parte, conferem destaque às relações entre educação e reforma, especialmente, ao período da administração de Fernando de Azevedo (1927-1930).
A seguir, o texto “A reforma de Fernando de Azevedo em artigos de imprensa e sua ação política na Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal (1927-1930)”, de André Luiz Paulilo aborda as estratégias políticas utilizadas por Fernando de Azevedo visando conferir legitimidade a sua ação frente ao cargo que acabara de assumir. O autor demonstra como as propostas do escolanovista emergiram do acompanhamento, e da apropriação estratégica, dos debates públicos sobre a educação escolar, difundidos nos periódicos cariocas.
Apenas para citar um exemplo, mencionamos a ocasião em que Azevedo, recorrendo ao artigo de Barbosa Vianna, veiculado no Jornal do Brasil, lança mão de seus argumentos para defender a necessidade de reduzir o número de professores da Escola Normal. Dessa forma, se apropriava do discurso da imprensa “também para produzir convencimento” (PAULILO 2008, p. 50) sobre suas proposições e reformas. Os jornais eram utilizados também como veículo de emissão do ideário, das notícias e dos feitos de sua gestão, bem como funcionavam como espaço de contestação, diálogo e discussão a respeito da política educacional azevediana. O artigo permite observar as estratégias políticas da administração pública de ensino, que se utilizou da imprensa como instrumento para “responder críticas e esclarecer problemas administrativos” (PAULILO 2008, p. 54), mas também como instrumento de divulgação dos empreendimentos reformistas de Azevedo.
Acompanhando a análise anterior, a reforma Fernando de Azevedo é analisada a partir da produção de um rico acervo fotográfico por Rachel Duarte Abdala, em “A fotografia além da ilustração: Malta e Nicolas construindo imagens da reforma Fernando de Azevedo no Distrito Federal (1927-1930)”. A imagem impressa, como documento monumental de uma política educacional, foi representada por Azevedo como registro da verdade, a verdade da reforma.
Por isso, tanto Augusto Malta, fotógrafo da prefeitura do Rio de Janeiro, quanto Nicolas Alagemovits, contratado para retratar artisticamente as obras empreendidas pela reforma azevediana, foram agentes fundamentais para captar, e fazer aparecer, as ações públicas, inclusive as construções dos novos prédios escolares. Para a autora, enquanto as fotografias de Malta se caracterizavam pela construção em ação, as de Nicolas, tinham cunho mais artístico, na medida em que realçavam o contraste entre as luzes, os enquadramentos oblíquos, as diagonais, recriando “a dimensão do real na representação fotográfica” (ABDALA 2008, p. 102). Desse modo, Fernando de Azevedo percebeu “o potencial do recurso fotográfico” (ABDALA 2008, p. 106) para conferir visibilidade à reforma educacional carioca e para construir representações sobre suas próprias ações.
O impacto social e as representações em disputa sobre tal reforma educacional foram problematizados por José Claudio Sooma Silva, no artigo “A reforma Fernando de Azevedo e o meio social carioca: tempos de educação nos anos 1920”. No trabalho, o autor se pergunta sobre os modos pelos quais a população do Rio de Janeiro lidava com o “tempo acelerado” das reformas, que aglutinava não apenas novas construções escolares na cidade, como novas formas de organização dos espaços urbanos e dos tempos sociais. O desejo de formar o cidadão, como projeto norteador da intervenção azevediana, tinha de lidar com as diversas práticas culturais presentes na cidade, incluindo as escolares. Silva interroga-se sobre as apropriações e as possíveis recepções da reforma educacional no âmbito das escolas. Aponta também para a existência de tensões entre as estratégias de renovações normativas das práticas educativas, presentes na legislação, e as práticas e saberes escolares preexistentes. Com isso, o autor recupera tentativas reformadoras anteriores, em especial aquelas realizadas na gestão de Antonio Carneiro Leão (1922- 1926). Os tempos escolares, desde o início da década de 1920, passaram por variadas modificações: nos horários de entrada e saída, nas divisões dos turnos e nos programas de ensino, entre outros. Lidar com o novo tempo escolar, que tensionava e concorria com outros tempos sociais, não era tarefa fácil. Muitas famílias resistiam ao tempo escolar imposto, como é possível observar pelos debates divulgados nos periódicos cariocas.
Focando as relações sociais de gênero, Rosane Nunes Rodrigues analisa as reformas educativas cariocas com destaque para a inserção dos saberes ditos domésticos e as representações do feminino na cultura escolar, em “A escolarização dos saberes domésticos e as múltiplas representações de feminino – Rio de Janeiro – 1920 e 1930”. A autora levanta questões sobre as práticas escolares que contribuíram para a construção de determinadas representações sobre a mulher. Ao ressaltar que a reforma educacional proposta por Azevedo também incluía o ensino profissional, objeto priorizado no estudo, a autora argumenta como essa política estava preocupada em “ocupar-se intensivamente da formação moral e intelectual do operário” (RODRIGUES 2008, p. 65). Com isso, no caso das mulheres, não bastaria que as moças recebessem o conhecimento técnico de sua futura profissão, mas que fossem educadas a se afastarem das “futilidades” e hábitos pouco saudáveis, como o uso de cigarros, compras em excesso e a circulação livre pela cidade. Os saberes domésticos, transformados em conhecimentos escolares, contribuíram para a formação de um modelo idealizado de mulher, que conduziria de forma disciplinada e honesta seu lar.
A temática disciplinar também pode ser vista no último artigo, “Por uma cruzada regeneradora: a cidade do Rio de janeiro como canteiro de ações tutelares e educativas da infância menorizada na década de 1920”, de Sônia Câmara. As ações disciplinadoras direcionadas à infância, na década de 1920, foram temáticas enfrentadas pela autora, que nos mostra como as iniciativas jurídicas, formuladas a partir da Lei Orçamentária Federal de 1921, e, posteriormente, o Código de Menores de 1927, propunham-se a alcançar a infância abandonada da capital. Com as mudanças na cidade e na educação, a infância pobre, desprovida de sorte, delinquente, deveria ser alvo de “intervenções científicas e racionais” para se tornar higiênica, saudável e disciplinada, de acordo com um discurso moral que apostava na infância como investimento para o progresso. Favoráveis a tais discursos, os juristas posicionaram-se como “arautos de um novo tempo” (CAMARA 2008, p. 152). Uma figura se sobressairia naquele momento, a saber, o juiz Mello Mattos, que trabalhou por configurar e atribuir uma nova feição à política judiciária de atendimento à infância carioca.
Política de forte caráter disciplinar, dirigida ao controle da infância, mais do que ao cuidado e/ou à proteção, conforme a perspectiva analítica privilegiada pela autora.
Após leitura acurada podemos dizer que a coletânea Reforma e educação nos presenteia com uma perspectiva ampliada sobre a complexidade dos movimentos de mudança educacional ocorrida nas décadas de 1920 e 1930.
Os pesquisadores, autores vinculados a um consolidado grupo de pesquisa, lidaram com uma diversidade de temáticas, categorias, questões e problemas teórico-metodológicos, manejando com competência uma documentação ampla, dispersa e variada, com destaque para periódicos, revistas, leis, programas curriculares, acervos institucionais e fotográficos. Em seu conjunto, essa documentação é interrogada, analisada a partir de uma operação historiográfica que é orientada pelas escolhas do historiador, pela busca de olhar, sob novos aspectos, antigos objetos, velhos documentos. Trouxeram à luz disputas, tensões, estratégias, apropriações e recriações a que são submetidas às reformas na experiência educacional, no espaço das escolas, nas práticas sociais e culturais. As reformas e as lutas educacionais dos anos de 1920 e 1930 surgem em seu movimento. Mas, nem por isso, silenciam ou apagam a história, a memória e as práticas educativas, escolares ou não escolares, de outros tempos históricos, com as quais convivem, dialogam, se hibridizam.
Referências
CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.
Alessandra Frota Martinez de Schueler – Professora adjunta Universidade Federal Fluminense alefrotaschueler@gmail.com Rua Visconde do Rio Branco, 882, Campus do Gragoatá, Bloco D – Gragoatá 24210-350 – Niterói – RJ Brasil Ariadne Lopes Ecar Mestre Universidade do Estado do Rio de Janeiro ariadneecar@gmail.com Rua São Francisco Xavier, 524, 12º andar – Maracanã 20550-013 – Rio de Janeiro – RJ Brasil
El poder de los comienzos: ensayo sobre la autoridad – D’ALLONNES (HH)
D’ALLONNES, Myriam Revault. El poder de los comienzos: ensayo sobre la autoridad. Buenos Aires: Amorrortu, 2008, 256 p. Resenha de: BATALHONE JÚNIOR, Vitor Claret. O poder dos começos: uma reflexão sobre a autoridade. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7, p. 331-337, nov./dez. 2011.
O poder dos começos 332 Em Que é autoridade, Hannah Arendt estabeleceu as características fundamentais do conceito de autoridade. Arendt inicia seu ensaio advertindo que a questão proposta no título deveria ser outra: não o que é autoridade, mas o que foi a autoridade. Segundo Arendt, a autoridade haveria desaparecido do mundo moderno em função de uma crise constante. Entretanto, mesmo diante dessa crise, a autora formulou uma definição do conceito de autoridade que pudesse ser compreendido “a-historicamente”, ou seja, apesar de tal conceito ter sido pensado sobre uma base de experiências históricas determinadas, ele possuiria um conteúdo, uma natureza e uma função definidos, passíveis de serem compreendidos ainda hoje mesmo apesar do suposto fenômeno de desaparecimento da autoridade do mundo moderno.
Segundo a autora, a crise da autoridade seria originariamente política, tendo sido os movimentos políticos e as formas de governo totalitárias surgidas durante a primeira metade do século XX, antes sintoma de nossa perda da autoridade do que resultado das ações de governos totalitários. A ruína “mais ou menos geral e mais ou menos dramática de todas as autoridades tradicionais” foi o grande substrato possibilitador da ocorrência generalizada de governos totalitários a partir do início do século XX. Entretanto, a crise da autoridade não permaneceu restrita à esfera dos fenômenos políticos, tendo sido justamente o “sintoma mais significativo da crise, a indicar sua profundeza e seriedade”, sua difusão “para áreas pré-políticas tais como a criação dos filhos e a educação”, nas quais a autoridade sempre fora compreendida como necessária e natural.
Era através da necessidade política básica de dar continuidade a uma civilização estabelecida, “que somente pode ser garantida se os que são recém-chegados por nascimento forem guiados através de um mundo preestabelecido no qual nasceram como estrangeiros”, que o fenômeno e o conceito da autoridade adquiriam suas forças e sua capacidade de estruturação de um mundo comum (ARENDT 2007, p. 128).
Dessa forma, a filósofa Myriam d’Allonnes partiu das reflexões sugeridas por Arendt para compor seu instigante livro intitulado O poder dos começos: ensaio sobre a autoridade. Porém é importante ressaltar que, se Arendt preocupou- -se com o conceito de autoridade segundo uma perspectiva na qual o conteúdo do conceito recebeu atenção privilegiada, tratando das experiências históricas grega e romana, d’Allonnes ampliou sua reflexão agregando também uma abordagem formal do conceito, a qual foi proposta pelo filósofo Alexandre Kojève.
Em seu ensaio filosófico intitulado “A noção da autoridade”, Kojève, inspirado na filosofia de Hegel, partiu de suas reflexões acerca do direito e da ideia da justiça para estabelecer um estudo formal do fenômeno da autoridade, determinado alguns tipos e características essenciais. Para o autor, o estudo detalhado e aprofundado da autoridade seria um primeiro passo indispensável para a compreensão dos fenômenos do Estado, principalmente para que fossem evitadas as confusões entre as noções de poder e de autoridade.
Assim como Arendt, Kojève também recorreu a uma compreensão do passado clássico greco-romano e à fenomenologia para estabelecer o que seria a autoridade. Em relação ao que foi a autoridade no período clássico, o autor colocou que a formalização das práticas autoritárias do âmbito doméstico grego foi elaborada primeiramente na filosofia de Platão e de Aristóteles, argumentando, entretanto, que o conceito da autoridade foi formulado de maneira sistematizada apenas com o advento da fundação de Roma e com o legado do direito romano.
A grande diferença entre os estudos de Arendt e o de Kojève é que enquanto aquela procedeu a um estudo mais ligado ao conteúdo conceitual, às experiências históricas que conformaram o conceito, esse, não negligenciando tais características, esteve mais concernido com a estrutura formal do fenômeno da autoridade. A partir da junção desses dois enfoques distintos, porém não excludentes, partiu Myriam d’Allonnes ao propor uma reflexão mais aprofundada sobre a autoridade. Como esclarece a autora, sendo a autoridade um fenômeno essencialmente social e histórico, “universal quanto a seu conceito e polimorfa em relação a suas figuras”, demanda para sua ótima compreensão uma análise tanto formal quanto de conteúdo conceitual (D’ALLONNES 2008, p. 26).
Segundo a autora, é comum que se diga, desde as esferas acadêmica e política até às esferas da educação e das relações familiares, que estamos vivendo uma crise da autoridade. Porém, a crença na perda de qualquer tipo de autoridade através dos tempos considerados modernos seria antes de tudo, resultado de uma má compreensão sobre o fenômeno da autoridade, que teria como causa fundamental a alteração que temos experimentado em nossa relação com o tempo, uma vez que a autoridade tem a ver essencialmente com o tempo. A autora argumenta que ao entrarmos na modernidade nossas formas de se relacionar com a dimensão temporal se alteraram profundamente, de maneira que se alteraram também nossas formas de compreender e de experimentar a autoridade. Para d’Allonnes, as sociedades modernas, especificamente as sociedades democráticas e liberais, são construídas a partir do pressuposto básico da autonomia do indivíduo, fato que estaria estritamente vinculado à experiência do rompimento com as formas antigas de autoridade e tradição. Dessa forma, a crise da autoridade estaria vinculada essencialmente à ruptura da tradição e a uma crise mais profunda das formas modernas de experiência temporal: O movimento de emancipação crítica que caracteriza a modernidade tem feito desaparecer toda referência ao terceiro? A provada perda dos modos tradicionais de gerar sentido produziu tão somente vazio e ausência de sentido? […] Não reconhece a igualdade alguma dissimetria? Nestas condições, onde radica a autoridade, se a sociedade deu a si mesma o princípio constitutivo de sua ordem (D’ALLONNES 2008, p. 13-14)? Diante de tais questões, a autora nos propôs algumas considerações bastante significativas. A primeira consideração proposta por d’Allonnes é que a autoridade seria intrinsecamente vinculada ao tempo, não tanto porque o conceito e o fenômeno poderiam alterar-se conforme condições históricas e sociais, mas antes porque a autoridade existe num mundo cuja estrutura é essencialmente temporal. Assim como “o espaço é a matriz do poder”, “o tempo é a matriz da autoridade”. O caráter temporal da autoridade estaria vinculado à sua essência derivativa e seria uma dimensão inevitável de todo laço social, constituindo o que a autora denominou como a duração pública, ou seja, aquilo capaz de manter a duração de um mundo comum. Se o espaço público possibilita a convivência com nossos contemporâneos, a força de ligação da autoridade, assim como da tradição, permitiria que estabelecêssemos comunhão com nossos antecessores e sucessores, de forma que a duração de um mundo comum possibilitaria uma espécie de contemporaneidade em relação àqueles que nos antecederam ou que podem nos suceder. Segundo d’Allonnes, o que entrou em falência não foi a autoridade, mas as cadeias tradicionais de autorização: o fundamento da autoridade teria se alterado.
O que a autora propõe é que a autoridade está vinculada essencialmente às formas de temporalidade: se é o tempo que “tem força de autoridade”, se a autoridade apenas existe e é exercida quando as ações humanas estão inscritas num devir histórico, a alegada crise da autoridade estaria relacionada antes de tudo a uma crise das formas tradicionais de experimentação do tempo. Na modernidade, a ruptura com a tradição, ou antes, o desejo de ruptura, conduziu- -nos a uma perspectiva segundo a qual a orientação das ações humanas e os vínculos sociais começaram a emanar de projetos de futuro. Assim, a autora nos questiona se “o desmoronamento contemporâneo das perspectivas ligadas a essa autoridade do futuro não contribuiu para levar ao seu paroxismo a crise da autoridade”. Para a autora, a questão da autoridade deve ser colocada segundo a perspectiva de seu poder instituinte e de sua estrutura temporal (D’ALLONNES 2008, p. 15-18; 75).
Em relação à sensação de perda de sentido experimentada no mundo moderno, d’Allonnes argumentou que tal fenômeno não significa, entretanto, a perda efetiva de sentido ou um vazio de experiências, mas a perda de uma unidade de sentido existencial comungada socialmente. Segundo a autora, já que não mais emanam orientações do passado via tradição, o homem moderno estaria fadado a criar sentido para seu próprio mundo, vivendo sob a condição de uma pluralidade de sentidos existenciais e de autoridades capazes de fundamentar as ações humanas.
Em relação à característica proposta por Arendt acerca da estrutura hierárquica essencial a toda relação autoritária, hierarquia que seria justamente o elemento comum entre quem exerce autoridade e aqueles que a sofrem, d’Allonnes argumentou que não se trataria de uma relação hierárquica estrita, mas antes, de uma dissimetria aceita e justificada por todos os elementos implicados nessa relação.
Justamente por não implicar uma relação do tipo mando/obediência em sentido estrito é que a autoridade pode ser compreendida como algo que não anula a liberdade daqueles que a sofrem, mas antes, implica uma restrição da liberdade de ação. A autoridade é reconhecida e legitimada “não porque aplicam aos vivos um colar de ferro do que foi e tem que seguir sendo imutável”, mas porque ela aumenta a força das ações e confirma as experiências dos indivíduos.
“A autoridade não ordena, aconselha”, é “um conselho que obriga sem coagir”, ou ainda, na célebre expressão de Mommsen, a autoridade é “menos que uma ordem e mais que um conselho” (D’ALLONNES 2008, p. 28-29; 66).
Segundo d’Allonnes, esse “aumento”, tão característico do fenômeno da autoridade que está presente inclusive na etimologia latina da palavra – auctoritas, augere –, é em realidade um excesso de significação inerente a todo tipo de ação humana, mas que, nos atos e eventos que fundam uma estrutura de autoridade, sobrevive ao próprio ato de fundação e possibilita uma espécie de continuidade duradoura para a produção de novos significados relacionados ao ato de fundação. Por isso é necessário ter em consideração outra distinção proposta pela autora. Segundo d’Allonnes, “assim como a autoridade não se confunde com o poder, tampouco se reduz à tradição entendida como depósito sedimentado”, pois a essa espécie de “tradição sedimentada” não corresponderia necessariamente o referido excesso de significação do ato fundador, o qual, antes de sedimentar significações, possibilita a produção continuada de uma cadeia de significados. A fundação implica no reconhecimento de uma anterioridade de sentido, ou seja, em um excesso de significação oriundo do passado em relação aos eventos de um determinado presente. E tal excesso não somente possibilita a continuidade de uma cadeia de ações e experiências, como também determina em grande parte as significações criadas a partir de um ato fundador (D’ALLONNES 2008, p. 33-34; 95; 248).
Tal excesso de sentido das estruturas de autoridade estaria vinculado de maneira essencial ao poder instituinte dos atos ou eventos fundadores, reforçando a experiência do continuum temporal. “A força da ligação da autoridade está intimamente vinculada, portanto, a esse interesse na durabilidade por meio da instituição”. Portanto, o poder instituinte dos atos e eventos fundadores só é possível graças ao referido excesso de sentido presente no momento fundador.
O potencial instituinte da fundação criaria dessa forma uma estabilidade de sentidos capaz de manter um mundo de significações comuns, de tal maneira que se tornaria possível a experiência de mundos também comuns entre sujeitos do passado, do presente e do futuro. Mundo compartilhado o qual a autora define como um inter-esse, como algo referente a uma estrutura intersubjetiva.
A instituição de um mundo comum possibilitaria a reprodutibilidade estrutural do mundo de sentidos compartilhado assim como do fenômeno da autoridade.
Considerando o referido poder instituinte da fundação, que possibilita o surgimento do fenômeno da autoridade, Myriam d’Allonnnes sugere ainda que o reconhecimento inerente a toda relação de autoridade – pressuposto essencial, uma vez que não existe autoridade sem reconhecimento –, implica mútua e necessariamente, a noção de legitimidade. “A autorização, considerada sobre o eixo da temporalidade, e sem importar em que direção [seja em relação à dimensão do passado, seja em relação à do futuro], é uma busca de justificação”.
E é justamente a partir de tais reflexões que a autora afirma existirem “três elementos essenciais que excedem a relação mando / obediência” e que caracterizam o fenômeno da autoridade, a saber: o reconhecimento, a legitimidade, a precedência (D’ALLONNES 2008, p. 69-70).
Por fim, devemos ter em mente que a autoridade está estritamente vinculada a uma temporalidade divergente daquela na qual estariam situados os sujeitos que a exercem. É dentro desta temporalidade outra que um sujeito ou grupo de sujeitos pôde estabelecer uma fundação qualquer. Justamente pelo fato de que toda autoridade implica uma dimensão temporal outra que não necessariamente aquela dos sujeitos que a exercem é que tal fenômeno implica de forma necessária uma exterioridade, uma alteridade, ou seja, uma dimensão transcendente que lhe assegura continuidade derivativa ao longo do tempo. Assim, a autoridade pode ser considerada como sendo um “sempre já aí”, “uma obrigação herdada e um recurso para a ação que se inicia”, pois apenas se aumenta o que já existe (D’ALLONNES 2008, p. 72-73; 190).
Entretanto, isto não elimina o fato de que possa haver autoridades cuja fonte emanadora esteja relacionada às dimensões temporais do presente ou do futuro. Tais modulações temporais apenas alterariam a forma como a autoridade adquire seu lastro. Segundo François Hartog, esse processo de instituição de autoridades ligadas ao futuro – a uma dimensão do “não ainda” em contraposição ao “já aí” do passado e da tradição –, seria essencialmente constituinte das formas como a civilização ocidental moderna lidou com o grande processo de laicização operado em um primeiro momento a partir da Europa.
Tal autoridade do futuro estaria relacionada à criação dos inúmeros projetos de futuro elaborados pelas filosofias da história a partir do século XVIII e que ganharam força ao longo do século XIX: as utopias modernas do progresso. Já em relação ao tipo de autoridade lastreado no presente, Hartog escreveu que essa é a forma típica da espécie de temporalidade na qual a tensão fundadora entre um “não ainda” futuro e um “já aí” pretérito seria permanente (HARTOG 2007, p. 29-33). Nessa situação, a autoridade estaria ora baseada nos elementos do passado, ora nos nas projeções de futuro, capazes de estabelecerem ligações significativas em relação a uma determinada realidade do presente. Por isso existiria nas sociedades contemporâneas, tal qual afirmou d’Allonnes, um grande espaço entre o que as sociedades postulam e reclamam e aquilo que elas realmente são ou fazem.
Destarte, segundo Myriam d’Allonnes, toda autoridade – considerando que toda autoridade é um fenômeno histórico e social por natureza – exige um ato ou evento fundador cuja instauração está situada em uma dimensão temporal transcendente ao próprio fenômeno de seu exercício. Assim, a fundação seria essencialmente marcada por um excesso de sentido que ultrapassaria o momento específico da fundação e emanaria tal potencial de significação em relação aos sujeitos pertencentes à estrutura do fenômeno autoritário. Tal excesso de significação, reapropriado, remanejado com liberdade restrita por parte dos elementos pertencentes à cadeia da autoridade, implicaria necessariamente no reconhecimento da autoridade daqueles que a exercem, uma vez que seria através desses indivíduos que o excesso de significação da fundação chegaria aos demais elementos. Enquanto houvesse a possibilidade de existir o reconhecimento da autoridade, a continuidade de um determinado corpo social estaria estabelecida e garantida ao longo de um continuum temporal, pois estariam instituídos os parâmetros de significação segundo os quais o referido corpo social se configurou e se reconfigura continuamente.
Entretanto, o surgimento de novas fundações não estaria eliminado enquanto possibilidade. Uma vez que novas fundações surgem, novos significados e novas estruturas temporais e de autoridade são conformadas, reorganizando o corpo social. Ou, como colocou a autora, “o que é a autoridade senão o poder dos começos, o poder de dar aos que virão depois de nós a capacidade de começar por sua vez? Quem a exerce – mas não a possui – autoriza assim aos seus sucessores a empreender por sua vez algo novo, isto é, imprevisto.
Começar é começar a continuar. Mas continuar é, também, continuar começando” (D’ALLONNES 2008, p. 253). Por aliar as abordagens de Arendt e Kojève e avançar a discussão, creio que Myriam d’Allonnes tornou seu El poder de los comienzos fundamental a todos aqueles que se dedicam a estudar o que é a autoridade, tornando-se consequentemente, uma autoridade sobre o tema.
Referências
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2007.
KOJÈVE, Alexandre. La notion d’autorité. Paris: Éditions Gallimard, 2004.
HARTOG, François. Ouverture : autorité et temps. In: FOUCAULT, Didier; PAYEN, Pascal (Orgs.). Les autorités : dynamiques et mutations d’une figure de référence à l’Antiquité. Grenoble: Éditions Jérôme Millon, 2007, p. 23-33.
Vitor Claret Batalhone Júnior – Doutorando Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: bitaka@gmail.com Rua Silva Só, 272/402 – Santa Cecília 90610-270 – Porto Alegre – RS Brasil Palavras-chave Autoridade; Temporalidades; Modernidade.
Afinidades atlânticas: impasses, quimeras e confluências nas relações luso-brasileiras – GUIMARÃES (HH)
GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal et al. (Orgs.). Afinidades atlânticas: impasses, quimeras e confluências nas relações luso-brasileiras. Rio de Janeiro: Quartet, 2009, 140 p. Resenha de: MOTA, Maria Aparecida Rezende. Relações culturais entre Brasil e Portugal: novas perspectivas historiográficas. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7, p. 318-324, nov./dez. 2011.
Reunindo cinco estudos de especialistas brasileiros e portugueses, a coletânea Afinidades atlânticas traz ao leitor aspectos do contato entre Portugal e Brasil, pouco visitados pela historiografia, reconstituindo um cenário de conflitos e aproximações, no qual, ao longo do século XIX e primeiras décadas do XX, letrados de ambos os países ocuparam-se com a (re)construção de uma comunidade cultural luso-brasileira.
No primeiro capítulo, “Pirataria literária: a questão da autoria entre Brasil e Portugal no século XIX”, Lúcia Maria Bastos P. Neves e Tânia Maria Bessone da Cruz Ferreira discutem o problema da propriedade intelectual e artística, cuja dupla perspectiva – o direito do autor sobre a obra e o direito de todos de usufruí-la – atualiza-se, em nosso presente, na discussão em torno do acesso a textos, vídeos, músicas e imagens interligados e executados no ciberespaço.
Entretanto, já no século XVIII, de acordo com Neves e Bessone, é possível observar medidas relacionadas ao direito autoral, adotadas na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos.
De privilégio concedido pelo soberano a direito “legítimo e sagrado”, o percurso de concepções distintas acerca do direito autoral em Portugal, colocou em campos opostos aqueles que, como Almeida Garrett, consideravam que as prerrogativas de autores, editores e livreiros deveriam ser regulamentadas; e os seguidores de Alexandre Herculano que entendia a obra intelectual como um bem público, pertencente à humanidade, pois que promovia o seu avanço. À medida, entretanto, que o mercado literário e livreiro consolidava-se no Brasil e que a legislação portuguesa sobre a matéria aperfeiçoava-se, cresciam as acusações de escritores portugueses à usurpação de seus direitos por editores brasileiros. Obras de Antonio Feliciano de Castilho, Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco eram constante e sistematicamente “pirateadas”, suscitando reclamações e acusações. Embora o governo português tenha tentado resolver a questão, durante décadas, apenas em 1889, quando o tema já motivara, na Europa, congressos, acordos internacionais e a criação da Associação Literária Internacional, Sua Majestade Imperial, D. Pedro II, assinaria o decreto que regulamentava a questão.
A partir do exame minucioso de fontes diversas, convenientemente listadas ao final do texto, Neves e Bessone procuram demonstrar que, ao longo do século XIX, bem mais do que os atos oficiais entre os Estados envolvidos, foi a atuação de letrados brasileiros e portugueses que contribuiu decisivamente para a superação dos impasses em torno do direito autoral. Contudo, na medida em que o foco da análise dirige-se às diligências portuguesas, é possível que o leitor sinta falta de mais informações sobre as opiniões dos brasileiros acerca do assunto. A tutela do Estado Imperial sobre as elites intelectuais, talvez explique, em parte, esta ausência, uma vez que as autoras salientam, ao final do capítulo, o caráter incipiente da opinião pública, àquela altura. Debates dessa natureza, segundo elas, ainda teriam que aguardar muitas décadas para que emergisse e se consolidasse, por aqui, uma esfera pública de discussão.
Dos conflitos e impasses, passa-se ao entendimento e à união luso- -brasileira, propósito da revista Atlântida, mensário artístico, literário e social para Portugal e Brazil, analisada por Zília Osório de Castro, em “Do carisma do Atlântico ao sonho da Atlântida”. Fundado pelo escritor português João de Barros e pelo brasileiro João Paulo Emílio Coelho Barreto – nosso conhecido João do Rio – e patrocinado pelas chancelarias dos dois países, o periódico, lançado em novembro de 1915, apresentava-se como um veículo de defesa dos interesses luso-brasileiros e de reconstrução dos laços que uniam os “povos irmãos”. Seu título, Atlântida, evocava o continente mítico, ponte metafórica entre as duas nações, partícipes de um mesmo passado. Entretanto, além do recurso à tradição comum que marcaria essa unidade, a autora destaca, no discurso de diretores e colaboradores da revista, a figuração do Oceano Atlântico como vocação e destino para qualquer iniciativa econômica ou política que Portugal e Brasil pretendessem executar. O que estava em jogo, portanto, de acordo com Castro, era um projeto geopolítico: a criação de uma potência internacional, uma nova Atlântida. Sua realização implicava, entretanto, a implementação de uma política cultural – congressos, palestras, visitas e publicações conjuntas, como a própria revista – e de ações efetivas, tais como a assinatura de tratados de livre comércio; a elevação do consulado do Rio de Janeiro a embaixada; ou, ainda, a promoção da emigração portuguesa.
Castro sugere que o eixo do projeto construiu-se em torno de uma tríplice percepção: as possibilidades criadas pela guerra; a necessidade de impedir o avanço da “onda germânica”; e a consciência da decadência portuguesa e do atraso brasileiro, aliás, temas recorrentes entre os letrados de ambos os países, desde o Oitocentos. Fundamentando o argumento com trechos de artigos, nos quais o Atlântico aparece dividido em duas áreas de influência, uma anglo- -saxônica, ao norte, e outra, latina, ao sul, a autora ressalta que, no entendimento de seus autores, a aproximação luso-brasileira concorreria para o fortalecimento da latinidade, ameaçada pelo imperialismo alemão, além de prover os recursos políticos e econômicos necessários para a criação de uma nova potência no palco internacional. Embora considere a dimensão nacionalista desse discurso – chegando a registrar certo espanto com o seu caráter extremado, seu conservadorismo e seu apelo recorrente ao ideário racialista –, nota-se alguma timidez na forma com que Castro explora as contradições nele presentes, parecendo, em alguns momentos, participar do mesmo entusiasmo algo ingênuo, vivenciado pelos ideólogos do mensário. Preferindo sublinhar seu significado identitário, Castro critica-o, entretanto, como “conceitualmente fora do tempo e ideologicamente fora dos ideais republicanos”, parecendo, com isso, acreditar na existência de um conceito atemporal de república, por um lado e, por outro, ignorar o mal-disfarçado imperialismo desse discurso, e seu oportunismo, numa conjuntura de rearranjo das potências no quadro mundial.
Observa-se, ainda, no capítulo, a ausência de notas explicativas sobre personagens e fatos aludidos e, sobretudo, de informações, nas notas de rodapé, quanto à datação das passagens transcritas. Nelas, consta, apenas, o número da edição, não podendo o leitor identificar mês e ano, na medida em que não se encontra, ao final do artigo, nem a referência completa das fontes, nem a bibliografia consultada. Por outro lado, a súbita suspensão da revista – apesar de anunciado um próximo número –, para a qual Castro não sugere hipóteses explicativas, talvez possa ser interpretada pelo leitor como um recurso dramático da autora que a faz desaparecer, ao final, tal qual a mítica Atlântida, oculta sob o oceano.
Se a divulgação, entre portugueses, da literatura aqui produzida e, em sentido inverso, da portuguesa, em terras brasílicas, foi um dos objetivos de Atlântida, pode-se constatar no capítulo seguinte, “A literatura brasileira na Universidade de Coimbra”, de Maria Aparecida Ribeiro, que ele foi atingido, pelo menos na segunda direção, a despeito de inúmeros percalços.
Os problemas começaram, de acordo com Ribeiro, pelo atraso na colocação em prática da Lei n. 586, de 12 de junho de 1916, que criava uma cadeira de Estudos Brasileiros na Faculdade de Letras de Lisboa, assumida, finalmente, pelo historiador Oliveira Lima, em 1923. Na Universidade de Coimbra, no entanto, não foi instituída propriamente uma cadeira curricular, mas, oferecidos cursos e conferências, sobretudo voltados a temas literários, o que deu origem, como informa a autora, à área de literatura brasileira, cujas disciplinas, obrigatórias para alguns cursos e opcionais para outros, quase sempre foram ministradas por docentes portugueses, pela dificuldade de se contratar especialistas brasileiros, conforme previa a lei.
Com a reforma curricular de 1957, entretanto, a cátedra passou a ser regida, com frequência, por docentes brasileiros, para os quais são dedicadas várias páginas, desde a baiana Ivanice Sampaio Passos, contratada em 1960, até a própria autora que, em 1991, assumiu a disciplina. Em seguida, cobrindo o mesmo período, Ribeiro enfoca todos os conteúdos de curso, transcrevendo alguns na íntegra (sobretudo os que ministrou nas disciplinas literatura brasileira I e II), e comentando a carga horária, ou a inclusão, ou não, de certos autores e temas. Na parte final, além de louvar as cinco pesquisas de doutoramento em curso, Ribeiro discute as vantagens e os prejuízos, para as disciplinas da área de literatura e cultura brasileiras, advindos da implementação da Declaração de Bolonha, em 2007. Embora não traga uma nota explicativa, é possível que o leitor esteja familiarizado com esse documento, assinado em 1999, pelos ministros da Educação de 29 países europeus, na cidade italiana de Bolonha, no qual os países signatários comprometiam-se a promover reformas em seus sistemas de ensino.
Essencialmente empírico-descritivo, o artigo resume dados colhidos em fontes produzidas pela própria Universidade de Coimbra: as Atas do conselho da faculdade de Letras; o Guia do estudante (1980-2003), publicado anualmente; os Livros de sumários (1960-2007), com os conteúdos das disciplinas; e os processos de contratação e rescisão de cada docente. A natureza dos documentos compulsados, contudo, pode favorecer trabalhos mais analíticos em torno da recorrência, ou da ausência, de certas temáticas e autores, em contextos políticos diversos, no longo período em questão.
No capítulo seguinte, Lucia Maria Paschoal Guimarães traz ao leitor “os subterrâneos das relações luso-brasileiras”, em dois estudos de caso: a (re)inauguração da Sala do Brasil, na Universidade de Coimbra, em 1937, e o Congresso Luso-brasileiro de história, em 1940. Trata-se de interessante incursão no universo da diplomacia cultural entre Portugal e Brasil, ao tempo das ditaduras de António de Oliveira Salazar e Getúlio Vargas. Antes, entretanto, de discorrer sobre o sucesso do primeiro e o fracasso do segundo, a autora comenta as iniciativas que, nos primeiros anos do século XX, procuraram reatar os laços luso-brasileiros, um tanto enfraquecidos pelo rompimento diplomático, em 1894, e pelo nacionalismo jacobino que, desde então, grassava, sobretudo, na capital da república brasileira. De acordo com ela, no Brasil, o debate, embora intenso nos círculos literários e na imprensa – onde posições favoráveis a Portugal, como as de Olavo Bilac e Afrânio Peixoto, eram rechaçadas por publicações antilusitanas e por intelectuais do porte de Manoel Bonfim e Antônio Torres –, teve pouca repercussão no campo político-institucional. As relações institucionais do Brasil com Portugal só seriam fortalecidas após a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, como consequência da afinidade ideológica entre o regime varguista e o salazarista e o programa implementado, em 1934, pelo Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, para promover o Brasil no estrangeiro. Neste quadro, inaugura-se o Instituto Luso-brasileiro de Alta Cultura, em Lisboa; programas de intercâmbio estudantil são postos em prática; artistas, cientistas e letrados seguem para Portugal, a convite de órgãos do governo português. Os exemplos arrolados pela autora, sempre perfeitamente documentados, são inúmeros, destacando-se o papel de Arthur Guimarães de Araújo Jorge, à frente da Embaixada do Brasil, em Lisboa, cuja intervenção foi decisiva para a (re)inauguração, em 7 de dezembro de 1937, da “Sala do Brasil”, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Em sua pormenorizada análise das suntuosas cerimônias que marcaram o evento, sobressaem os interesses políticos de ambos os governos, preocupados, por motivos diversos, porém convergentes, com suas imagens na cena europeia.
Ao contrário do sucesso da recuperação da “Sala do Brasil”, o fracasso do Congresso Brasileiro de História evidencia a ampliação do controle da diplomacia cultural, por parte do regime varguista. O evento acadêmico realizava-se no âmbito das Comemorações centenárias, amplo conjunto de festividades, em torno da fundação do reino e da Restauração, promovidas por Salazar, em busca do apoio interno e da aprovação externa à atuação de Portugal no ultramar; nelas, o Brasil participaria da Exposição do mundo português e do Congresso luso-brasileiro de história. As vicissitudes da montagem da participação brasileira, descritas e analisadas pela autora, com o apoio de farto material documental do Arquivo Histórico do Itamaraty e do Arquivo Histórico- Diplomático do Ministério dos Estrangeiros, constituem um quadro fascinante das disputas nas quais se envolveram intelectuais, políticos e funcionários governamentais. Em plena Segunda Guerra, esses conflitos, no entanto, manifestavam, de acordo com a interpretação judiciosa de Lucia Guimarães, a magnitude do investimento simbólico que o conjunto de eventos representava para ambos os países.
A despeito, entretanto, dos regimes autoritários em ambos os lados do Atlântico, “Um rasgo vermelho sobre o Oceano: intelectuais e literatura revolucionária no Brasil e em Portugal”, último capítulo da coletânea, traz ao leitor a crítica literária alinhada ao ideário marxista, produzida e divulgada em plena vigência do regime salazarista. Tendo, inicialmente, o cuidado de apresentar as referências teórico-conceituais que informavam, àquela altura, o debate na Europa acerca do estatuto do artista/escritor (autonomia criativa individual versus comprometimento social), Luís Crespo de Andrade aponta a precocidade da literatura social e politicamente engajada, nomeadamente em Jorge Amado, Amando Fontes, José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Érico Veríssimo, em relação à literatura portuguesa de então. Neste sentido, os novos romancistas brasileiros tornar-se-iam fonte de inspiração e exemplo para os jovens autores portugueses, leitores de Josef Stalin, George Plekhanov e Máximo Gorki.
Interessado em problematizar as críticas correntes ao programa literário – realismo socialista, romance proletário, neorrealismo – formulado por esses escritores de formação marxista, acusados de sobreporem seus objetivos ideológicos aos conteúdos especificamente literários e estéticos, o autor propõe- -se a investigar a validade dessa crítica pelo exame de uma das mais representativas publicações da nova geração literária portuguesa: Sol nascente: quinzenário de ciência, arte e crítica, fundada na cidade do Porto, em 1937, e que viria a ser publicada, um ano após, em Coimbra, prosseguindo até 1940, quando foi proibida.
Para além, entretanto, da simples refutação de uma tese, Andrade envolve o leitor no surpreendente mundo dos intelectuais e artistas portugueses engajados – em tempos de censura prévia e de controle das consciências pela polícia política – na criação e sustentação de periódicos doutrinários. Neles divulgava-se o materialismo dialético, defendiam-se as teses soviéticas sobre política internacional e promovia-se um movimento literário e artístico comprometido com o combate à exploração e à opressão entre os homens.
No caso de Sol nascente, acrescente-se a admiração pelo Brasil e pelos novos autores brasileiros. Abundante em transcrições de passagens reveladores do entusiasmo de seus articulistas pela vida e pelas letras brasileiras, Andrade, entretanto, não descura de seu objetivo central. Oferece ao leitor um conjunto de argumentos – nos quais se observa, claramente, sua simpatia pelo discurso crítico neorrealista – no tocante aos critérios estéticos e culturais a partir dos quais Alves Redol, Afonso Ribeiro, António Ramos de Almeida e Joaquim Namorado formularam, nas páginas de Sol nascente, suas apreciações sobre a qualidade do produto literário vindo do Brasil.
É possível que Sol nascente não tenha alcançado plenamente um de seus principais objetivos, o de promover a criação de um “luso-brasileirismo” intelectual. Todavia, para além dos excessos retóricos, como os de Alberto Lima, advogado e publicista portuense que, no nº. 12 da revista (maio/1937), Maria chegou a propor a constituição de uma comunidade portuguesa, onde o Brasil teria papel proeminente por sua diversidade racial, abundância natural, energia de suas gentes e intensa vida cultural (!), o que Luís Crespo de Andrade destaca é a tendência editorial que resultou da recepção favorável aos novos romancistas brasileiros nas páginas da revista. Paralelamente à circulação, nos meios intelectuais e oposicionistas, das edições brasileiras de nossos autores, editoras portuguesas passaram a publicá-los, a princípio, timidamente, depois – nos anos 1940, 1950 e 1960 – com mais constância e com tiragens significativas.
Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Érico Veríssimo passaram, desde então, conforme as palavras de Andrade, a ocupar um lugar proeminente no imaginário revolucionário português.
A contribuição de Afinidades atlânticas para a consolidação do campo de estudos voltado para o exame das relações culturais entre Brasil e Portugal é inegável. A edição e a qualidade gráfica do livro, contudo, deixam a desejar: erros tipográficos, reproduções pouco nítidas de documentos e fotografias, ausência de uma padronização no tocante à listagem de fontes e de referências bibliográficas. Essas imperfeições que poderiam agastar o leitor, entretanto, não devem impedi-lo de se beneficiar largamente da originalidade das temáticas abordadas e das sugestões de novos caminhos para pesquisas em torno desses diálogos transatlânticos.
Maria Aparecida Rezende Mota – Professora adjunta Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: cidamota@centroin.com.br Rua Ministro João Alberto, 100 – Jardim Botânico 22461-260 – Rio de Janeiro – RJ Brasil.
Clio and the crown: the politics of history in Medieval and Early- Modern Spain – KAGAN (HH)
KAGAN, Richard K. Clio and the crown: the politics of history in Medieval and Early- Modern Spain. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2009, 376 p. Resenha de: SILVEIRA, Pedro Telles da. Qual o lugar da história oficial na história da historiografia? História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7, p. 338-344, nov./dez. 2011.
Sublinhar que o panorama da produção historiográfica na Idade Moderna é mais variegado do que durante muito tempo se tendeu a imaginar não deixa de ser uma espécie de lugar-comum nas obras – não tão recentes assim – dedicadas ao tema. De fato, já nos ensaios e conferências de Arnaldo Momigliano1 tal apelo era feito, e ele se repete e se complexifica nos livros de Donald R. Kelley (KELLEY 1991, p. 14-15) e Anthony Grafton (2007), para ficarmos apenas com alguns dos mais conhecidos nomes associados ao estudo desse tipo de historiografia. As obras destes e de outros autores procuram todas resgatar a vivacidade, a diversidade e a pertinência dos debates historiográficos anteriores à formação da historiografia enquanto disciplina científica, processo que ocorre, grosso modo, no decorrer do século XIX. E, mesmo assim, aspectos importantes dessa produção continuam negligenciados, como é o caso da história oficial. É tendo em vista esta situação que se insere Clio and the crown, de autoria do historiador norte-americano Richard L. Kagan.
Afiliado ao influente grupo da atlantic history, tendo editado junto com Geoffrey Parker, um volume em honra a John H. Elliott,2 Richard L. Kagan fez sua carreira estudando a Espanha dos séculos XVI e XVII e a administração de seu então poderoso império. As marcas dessa atuação aparecem logo no início do primeiro capítulo, onde afirma que apesar de muito da historiografia produzida nos reinos espanhóis nos séculos que lhe interessam terem sido objeto de estudos recentes, estes têm como foco as características estilísticas e retóricas destes textos, e não suas funções e seus usos (KAGAN 2009, p. 18). Também a filiação institucional de Kagan, professor na universidade Johns Hopkins, permite compreender o amplo recorte temporal que o livro abarca. Partindo das primeiras crônicas escritas em vernáculo em Castela no século XIII, o livro se fecha na passagem do século XVIII para o XIX, quando a falência da Real Academia de la Historia em cumprir seus objetivos indica que a era da história oficial chegara ao fim. Com esse recorte em mente, Richard L. Kagan paga tributo a dois de seus colegas de departamento, Gabrielle Spiegel e Orest Ranum, que já atacaram questões semelhantes a respeito, respectivamente, da historiografia francesa medieval e da historiografia seiscentista deste mesmo reino.3 Para Kagan, história oficial é a historiografia produzida visando a defesa dos interesses tanto de um governante quanto de uma autoridade religiosa, de uma corporação urbana etc. Para o autor, esse tipo de historiografia é um instrumento que visa divulgar uma imagem positiva daqueles nela interessados – do mesmo modo, ela também pode ser escrita para contradizer uma narrativa previamente formada (KAGAN 2009, p. 3). Seu caráter agonístico, portanto, tornou o número de narrativas e contra-narrativas produzidas por cronistas, historiógrafos e outras personagens protegidas por um ou outro mecenas extremamente alto; como o próprio autor indica, adaptando a expressão de um dos autores debatidos, trata-se de um “mar de histórias” (KAGAN 2009, p.42). Essas mesmas características, argumenta o autor, frequentemente impediram uma consideração mais atenta a esta historiografia, facilmente rotulada como derivativa, pouco inspirada ou outras qualificações menos lisonjeiras (KAGAN 2009, p. 4-6). Trata-se de um dos méritos do trabalho que Richard L. Kagan consiga desfazer estes estereótipos com uma obra ao mesmo tempo sintética e informativa, que analisa a fundo seu objeto sem perder de vista os processos mais amplos nos quais ele se insere.
Esta mirada simultaneamente ampla e detalhada marca o primeiro capítulo, no qual o autor traça um quadro da historiografia hispânica entre o final da Reconquista e o reinado de Isabel e Fernando, os reis católicos. Destaca- -se, no texto, a estreita relação entre os projetos imperiais acalentados pelos mais diversos governantes castelhanos e a as características da historiografia por eles patrocinada. Serve particularmente a estes propósitos o trabalho do taller historiografico organizado por Afonso X, responsável pelas crônicas produzidas durante seu reinado, em especial a “General estoria”, uma crônica da história universal até o século XVIII, a qual apresenta a narrativa da criação de um imperium hispânico através da inserção dos feitos ocorridos na Península Ibérica numa história mundial. A visão de um império que reina sobre a Espanha mas também se alastra pelos territórios dominados pelos mouros direciona também muito das crônicas produzidas sob o reinado de Sancho IV, demonstrando a imbricação entre historiografia e projeto político.
Richard L. Kagan direciona, portanto, ainda que de maneira um tanto quanto breve, sua argumentação em direção ao debate acerca da importância da própria historiografia em período tão recuado quanto o da Reconquista.
Para o autor, ao contrário do que uma de suas interlocutoras – Gabrielle Spiegel – argumenta, o nascimento de uma historiografia em vernáculo na Espanha teve menos relação com a criação de narrativas que legitimassem as pretensões da nobreza do que “com a determinação de Afonso X de aumentar sua autoridade real e [com] seus esforços de fazer o castelhano (i.e., espanhol) a língua oficial tanto da administração quanto da lei”. O rei sábio, dessa forma, antecipou em cerca de dois séculos a preocupação de Antonio de Nebrija de que língua e império deveriam andar lado a lado (KAGAN 2009, p. 24).
O segundo capítulo, por sua vez, trata justamente de um desses governantes influenciados pela visão de império cuja semente foi plantada no século XIII, Carlos V. A historiografia oficial elaborada sob a proteção deste monarca indica um caso bastante acentuado da dinâmica que, para o autor, é uma das características da historiografia oficial hispânica: a tensão entre uma historia pro persona, centrada nos feitos do rei, e uma historia pro patria, cujo foco está nas conquistas realizadas pelo reino como um todo. O capítulo também desenvolve uma outra tensão que atravessa a história oficial, e não apenas a de matriz hispânica, qual seja, a entre as demandas de um governante, as funções de um cargo – o de cronista, no caso espanhol – e as características da formação dos letrados, personagens recrutadas para escrever essas mesmas histórias. No caso de Carlos V, a pretensão de glorificar o próprio nome choca- -se com a ojeriza de humanistas como Juan Ginés de Sepúlveda e Paolo Giovo ante os projetos imperiais e dinásticos do governante, atravancando e, no fim, impossibilitando a escrita de uma crônica de seu reinado enquanto o próprio governante vivia. A tensão entre os governantes e aqueles que compunham suas histórias indica também as transformações por que passa a historiografia, que se aproximava cada vez mais da política e da concepção de Quintiliano segundo a qual à história interessava mais a persuasão que a instrução (KAGAN 2009, p. 88).
O autor, dessa forma, insere-se diretamente no debate acerca da escrita da história na passagem do século XVI para o XVII, colocando em questão a conotação muitas vezes negativa dessa mesma passagem.4 Richard L. Kagan faz questão de frisar a impossibilidade de se separar as razões pelas quais a história é escrita das formas que ela irá assumir e, por conseguinte, também a indistinção entre forma e conteúdo da narrativa da historiográfica. Como afirma, “as negociações do imperador com Giovio tratavam tanto da substância […] quanto do estilo, ou seja, da maneira particular na qual os fatos eram apresentados” (KAGAN 2009, p. 89).
A tensão entre a historia pro patria e a pro persona e a difícil relação os monarcas e seus escribas enquadra a discussão dos três capítulos seguintes, não por acaso dedicados à historiografia durante o reinado de Filipe II. No terceiro capítulo, o autor aborda a recusa do monarca de patrocinar uma obra de história com os contornos de uma historia pro persona, laudatória de sua figura; a atitude, muitas vezes interpretada como sinal de modéstia, na verdade indica que frente ao “mar de histórias”, Filipe II procurava escapar à natureza agonística da história oficial. Para isso, segundo Kagan, o rei espanhol apoiava a escrita de uma história que celebrasse os feitos antigos dos espanhóis e, ao mesmo tempo, defendesse a unidade de seu reino resultando dos acontecimentos passados.
Não deixa, portanto, de se situar no âmbito dos projetos imperiais, como já abordara anteriormente. A recusa de Filipe II, entretanto, não pôde se estender à totalidade de seu reinado, já que frente aos ataques à sua monarquia, ele passou a se inclinar em direção ao apoio de uma história de sua própria época. Essa transformação no pensamento de Filipe II, objeto do quarto capítulo, é enquadrada, no quinto capítulo, no debate relativo às possessões hispânicas na América e na Ásia.
Richard L. Kagan estuda a criação do cargo de cronista das Índias tendo em vista justamente o pano de fundo dos ataques à monarquia universal de Filipe II, argumentando mais uma vez pela ligação entre as políticas relacionadas à história e a própria produção historiográfica. Significativamente, tendo em vista as preocupações do monarca espanhol em sustentar uma historiografia que não fosse mera rival de suas contemporâneas, o próprio cargo de cronista das Índias demonstra a união entre preceitos políticos e os princípios elaborados pelos historiadores para certificarem e justificarem suas histórias. Segundo o autor, o ocupante do cargo não se dedicava apenas ao registro das ações que tomassem lugar no Novo Mundo, pelo contrário, pois
seguindo os trabalhos de de historiadores tão influentes como Francesco Guicciardini e os ditados do gênero da ars historicae, ele [o cronista] também tinha de refletir sobre as causas dos eventos e sobre os motivos por trás das ações individuais e incluir, por motivos didáticos, exemplae de vários tipos (KAGAN 2009, p. 151).
A conjunção de todas estas preocupações – à maneira peculiar que lhe era possível de realizar tendo em vista ocupar um cargo oficial – está presente no trabalho do primeiro cronista das Índias, Antonio de Herrera y Tordesillas, personagem central deste quinto capítulo.
É neste momento que a proposta do autor rende mais frutos, pois Kagan consegue tecer de modo mais detido a trama entre todos os fios de sua obra: o imperativo dos monarcas, as necessidades de um gênero e as capacidades – tanto intelectuais quanto políticas – daqueles dele encarregados. Se na introdução de seu livro o autor afirma que, no cenário intelectual da época, era o historiógrafo a pessoa mais autorizada para escrever sobre o passado, pois apenas ele tinha acesso aos documentos necessários para tal (KAGAN 2009, p. 6), a análise que faz da obra de Antonio de Herrera, cronista das Índias entre 1596 e sua morte, em 1626, permite justamente compreender como trabalhava esse mesmo historiógrafo. Taxado muitas vezes de plagiário (KAGAN 2009, p. 172- 173), a fina análise de Kagan permite reconstruir a imagem do autor como um leitor judicioso das obras que utilizava para compor sua própria história – mais do que como um investigador em busca de informações novas; simultaneamente, permite compreender que a tarefa à qual se dedicava enquanto cronista não era tanto a escrita de uma nova história quanto a reelaboração das narrativas já existentes, de modo a adequá-las à defesa daquele para quem escreve. Se se tornou um tanto quanto comum fazer o paralelo da figura do historiador com aquela do juiz, Richard L. Kagan, através do exame do trabalho de Herrera, faz um sonoro argumento a favor da comparação – que já aparece na introdução de seu livro (KAGAN 2009, p. 6) – entre o historiógrafo e o advogado. Para ambos não se trata nem de garimpar informações novas nem de inventar fontes, isto é, de revolver os materiais da história imbuído de má fé; pelo contrário, o que está em questão é utilizar as possibilidades do trabalho histórico para manipular seus enunciados a favor ou contra aqueles a quem a narrativa se endereça (KAGAN 2009, p. 5). Tarefa que, mostra Kagan, depende tanto das regras de verificação do discurso histórico, então objeto de um intenso debate, quanto qualquer outra narrativa pertencente ao mesmo gênero. Ressalta, também, a compreensão da obra do historiador oficial como uma empresa coletiva mais do que resultado da iniciativa individual, algo que também a historiadora francesa Chantal Grell destaca em obra recente (GRELL 2006, p. 13).
A trama dessas tensões constitui, sem dúvida, o aspecto mais importante do livro, e é apenas de lamentar que, por vezes, tentando costurar entre os mais diversos autores e contextos, Richard L. Kagan aborde demasiado rapidamente estes temas, sem reproduzir análise como a que faz a respeito de Antonio de Herrera. Mesmo assim, ele é feliz ao tratar, no sexto capítulo, a incapacidade de Filipe IV e de seu ministro, o conde de Olivares, de controlarem a circulação de obras históricas no interior da fronteira de seu próprio reino como indício da existência, já no século XVII, de uma opinião pública capaz de contradizer a propaganda oficial (KAGAN 2009, p. 204). A intersecção entre a legitimação perante o público e a atividade do historiógrafo adiciona outra camada de significação ao trabalho do autor no livro.
Também no sétimo e último capítulo o autor aborda parcela dessa dinâmica, ao demonstrar que a proposta de uma renovação intelectual feita pelos novatores e pela Real Academia de la Historia acaba por sucumbir às pressões e às intrigas da vida cortesã. A assimilação das pretensões críticas desta última instituição ao funcionamento da máquina administrativa da qual a história oficial faz parte resultou na própria perda de sua importância. Ao cabo, a Real Academia de la historia foi ultrapassada – assim como a história oficial (GRELL 2006, p. 16) – pela evolução da própria historiografia.
A dinâmica entre a história oficial e as demais províncias da história é o aspecto que garante a relevância da obra de Richard L. Kagan. Para além da preocupação com o estudo da historiografia do período – uma área particularmente forte no meio historiográfico de língua inglesa –, Clio and the crown também se insere, como se tentou demonstrar aqui, num debate que começa a ganhar corpo a respeito das relações entre a história dos historiógrafos e a narrativa de constituição da própria historiografia. Para Kagan, autores como Grafton e Kelley acabam por definir de forma demasiado rígida a linha divisória entre a historiografia oficial e a daqueles autores não ligados a qualquer cargo.
Em passagem carregada de ironia, na qual faz um inventário dos celebrados historiadores que foram também historiógrafos – uma lista que vai de Fernão Lopes a Voltaire –, Kagan destaca a dificuldade de situar a fronteira entre a historiografia “acadêmica” – isto é, motivada pela comunidade de historiadores e destinada a ela – e a historiografia “polêmica”, ou seja, a história oficial, direcionada a leigos e submetida a inúmeras flutuações políticas (KAGAN 2009, p. 4). Da mesma forma, ser um historiador oficial não significava necessariamente ser um mau historiador.
Conforme a historiografia avança para a era dos cronistas e historiógrafos, a obra de Richard L. Kagan lembra que para analisá-la não é o bastante reproduzir os limites disciplinares modernos como conceitos analíticos da historiografia passada. Se a necessidade de situar os discursos em seus contextos é cada vez mais premente, perguntar-se pelo que há de oficial ou patrocinado em muitas das obras historiográficas do período moderno pode ser maneira de historicizar o próprio trabalho do historiador. À medida que a historiografia brasileira avança, por sua vez, rumo ao século XVIII, é interessante perguntar como conectar uma história do método histórico a uma história social da historiografia, preocupações por vezes tão distantes. Seja qual for a pergunta, considerar o lugar da história oficial na história da própria historiografia passa pela resposta que Richard L. Kagan acabou de dar.
Referências
GRAFTON, Anthony. What was history? The art of history in early modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
GRELL, Chantal. Les historiographes en Europe de la fin du Moyan Âge à la Revolution. Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2006.
KAGAN, Richard L. Clio and the Crown: Writing History in Habsburg Spain. In: KAGAN, Richard L.; PARKER, Geoffrey. Spain, Europe, and the atlantic world: essays in honor of John H. Elliot. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 73-99.
KELLEY, Donald R. Versions of history from Antiquity to the enlightenment. New Haven: Yale University Press, 1991.
MOMIGLIANO, Arnaldo. As raízes clássicas da historiografia moderna. Bauru: EDUSC, 2004.
SPIEGEL, Gabrielle. Romancing the past: the rise of vernacular prose historiography in thirteenth-century France. Berkeley: University of California Press, 1993.
RANUM, Orest. Artisans of glory: writers and historical thought in seventeenthcentury France. Chappell Hill: University of North Carolina Press, 1980.
Notas
1 Para ficar numa obra de fácil acesso pelo leitor brasileiro, ver MOMIGLIANO 2004.
2 A contribuição de Kagan ao volume compartilha o título com o livro aqui analisado, demonstrando a permanência das preocupações do autor ao longo de sua atuação, muito embora a ênfase e a extensão temporal do capítulo – restrito ao reinado de Filipe II – sejam muito mais limitadas que no livro que publica cerca de quinze anos depois; ver KAGAN; PARKER 1995, p. 73-79.
3 Refiro-me a SPIEGEL 1993 e também a RANUM 1980.
4 Como transparece, por exemplo, no trabalho já referenciado de Anthony Grafton, para quem, no século XVII, a história era uma narrativa política escrita por estadistas ou funcionários – historiógrafos profissionais –, dos quais muitos poucos preocupavam-se com as maneiras a partir das quais escolher, justificar e examinar as evidência (GRAFTON 2007, p. 230-231).
Pedro Telles da Silveira – Mestrando da Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: doca.silveira@gmail.com Rua Novo Hamburgo, 238 – Passo d’Areia 90520-160 – Porto Alegre – RS.
Visões do Rio de Janeiro colonial: antologia de textos (1531-1800) – FRANÇA (HH)
FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Visões do Rio de Janeiro colonial: antologia de textos (1531-1800). Rio de Janeiro: José Olympio, 2008, 356 p. Resenha de: GANDELMAN, Luciana. A cidade e o mar: o olhar dos viajantes sobre o Rio de Janeiro e os circuitos marítimos entre os séculos XVI e XVIII. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7, p.325-330, nov./dez. 2011.
Um soldado alemão rumando para a região do Rio da Prata a serviço da Coroa espanhola. Um piloto francês embarcado nos sonhos da França Antártica. Um capitão holandês de uma fragata corsária retornando de confrontos com portugueses no Golfo da Guiné. Dois irmãos galegos marinheiros em viagem à Terra do Fogo, a serviço da Coroa espanhola, comandando uma tripulação portuguesa. Um poeta e suposto religioso inglês vira-mundo que chega ao Rio de Janeiro na fragata do recém-nomeado governador português. Um marinheiro inglês que chega ao Rio de Janeiro em uma embarcação de comerciante londrino com 500 pipas de vinho. Um engenheiro francês vindo à América do Sul, a mando do rei da França, para estabelecer uma colônia-presídio no estreito de Magalhães. Um tipógrafo alemão a caminho de uma missão inglesa na Índia, carregado de 250 cópias do Evangelho de São Mateus em português. Um pastor alemão em rota para a Índia abordo de um navio inglês, repleto de adoentados e esfomeados, que ancora na Guanabara. Degredados seguindo para cumprirem suas penas na Oceania. Franceses e ingleses se aventurando na empreitada da circum-navegação. Essa é uma amostra da grande riqueza de trajetórias cujos testemunhos nos oferecem a cuidadosa pesquisa histórica e seleção de textos empreendida por Jean Marcel Carvalho França em sua antologia: Visões do Rio de Janeiro colonial.
A cidade que emerge desses testemunhos também é múltipla e em transformação. E isto torna-se bastante claro quando percorremos as descrições selecionadas pelo organizador da coletânea. Segundo o poeta Richard Flecknoe, escrevendo em 1649, A cidade antiga, como testemunham as ruínas das casas e igreja grande, fora construída sobre um morro. Contudo as exigências do comércio e do transporte de mercadorias fizeram com que ela fosse gradativamente transferida para a planície. Os edifícios são pouco elevados e as ruas, três ou quatro apenas, todas orientadas para o mar (FRANÇA 2008, p. 43).
Nas palavras do comandante inglês John Byron, escritas em 1764, por sua vez, podemos entrever a cidade enriquecida do período posterior ao auge do ouro e de seu estabelecimento como cabeça de governo e um dos portos predominantes sobre o Atlântico: O Rio de Janeiro está situado ao pé de várias montanhas […]. É dessas montanhas que, por meio de um aqueduto, vem a água que abastece a cidade. […] O palácio (do vice-.rei), além de ser uma suntuosa construção de pedra, é o único edifício da cidade que conta com janelas de vidro, pois as casas só dispõem de pequenas gelosias. […] As igrejas e os conventos locais são magníficos. […] As casas, quase todas de pedra e ornadas com grandes balcões, têm em geral três ou quatro andares (FRANÇA 2008, p. 148-149).
A cidade se modifica, portanto, não somente diante dos diferentes olhares que seus observadores lançam sobre ela, mas também em virtude das intensas transformações enfrentadas por este porto de crescente importância na América portuguesa ao longo de três séculos. Constante nas observações dos viajantes é a menção à existência de numerosa população de escravos e agregados familiares, fossem estes de origem africana ou nativos e mestiços. Igualmente predominantes são as observações acerca das manifestações religiosas e as descrições de igrejas e mosteiro, sendo essas observações previsíveis em um grupo de viajantes estrangeiros, muitos deles protestantes. Uma bibliografia bastante extensa, produzida não só por historiadores, estabeleceu e estabelece ainda um profícuo diálogo com a literatura de viagens, ainda que focada especialmente na dos viajantes do século XIX, e já discutiu as implicações e os desafios daqueles que buscam trabalhar com o olhar dos viajantes.1 Conforme referenciado pelo autor em seu texto de introdução à antologia, a obra apresenta 35 descrições da cidade do Rio de Janeiro elaboradas por viajantes de diversas procedências, cujas viagens respondiam igualmente aos mais variados propósitos, sendo a primeira datada de 1531 e a última de 1800.
Trata-se da seleção de trechos de livros, cartas e escritos que fazem algum tipo de referência ao Rio de Janeiro e seu entorno. Alguns destes trechos já haviam sido transcritos ou referenciados por historiadores e memorialistas, sem, no entanto, contar com um trabalho tão circunstanciado de contextualização e organização. Cada relato é precedido por um breve, porém bem elaborado, artigo de introdução onde são oferecidas notas biográficas do viajante em questão e explicações acerca da viagem na qual se insere o relato. Reside nesses textos explicativos uma parte da preciosidade do trabalho feito por Carvalho França e que possibilita ao leitor um aproveitamento dos testemunhos que não se limita à descrição da cidade do Rio de Janeiro, mas que oferece também, por exemplo, pistas acerca dos circuitos mercantis do período, da organização da navegação e da paulatina reestruturação dos impérios ultramarinos no período moderno.
A escolha das edições foi cuidadosa e deu preferência, como afirma o autor, sempre que possível, às primeiras edições ou edições consideradas mais completas e cuidadas das obras. Característica essa confere à antologia um caráter bastante útil, não somente para o leitor em geral, mas também para o público acadêmico. Houve por parte do autor um investimento e uma preocupação com a elaboração das versões para o português, uma vez que se trata na sua quase totalidade de textos publicados em língua estrangeira, havendo, como este reconhece na introdução, a modificação dos mesmos em nome da clareza da leitura. Isto significa que, se para o leitor em geral o texto ganha em facilidade de compreensão, para o especialista pode tornar necessário o cotejamento com os originais.
Organizados em ordem cronológica, os 35 testemunhos selecionados pelo autor podem ser divididos da seguinte maneira: 1) três são anteriores à União Ibérica e estão concentrados nas décadas de 1530-1550; 2) dois devem ser situados no período do domínio filipino; 3) dois são marcados pelo contexto dos conflitos da chamada Guerra de Restauração, entre 1640 e 1668; 4) um, pertencente a François Froger, diz respeito justamente à década das primeiras descobertas na região mineradora e aponta notícias, inclusive, sobre a região de São Paulo; 5) dois relatos são das primeiras décadas do século XVIII, sendo um deles testemunha da invasão francesa liderada pelo capitão Duguay-Trouin; 6) cinco testemunhos encerram a primeira década do século XVIII, incluindo os cruciais anos do governo de Gomes Freire de Andrade, 1º Conde de Bobadela, que se encerraria com a transformação da cidade em cabeça do governo geral do Estado do Brasil, já no governo de Antônio Álvares da Cunha; 7) vinte dos relatos dizem respeito à segunda metade do século XVIII e testemunham o definitivo adensamento da presença de reinos europeus, como a Inglaterra, na Ásia e na Oceania.
O espaço da resenha seria pequeno para tentarmos mapear devidamente os contextos aos quais pertencem todos esses depoimentos e suas respectivas implicações para esses mesmos relatos. Deve-se destacar, entretanto, a amplitude cronológica e histórica dos testemunhos reunidos.
Publicado pela primeira vez em 1999, e contando presentemente com a terceira edição de 2008,2 a antologia proposta por Jean Marcel Carvalho França tem por objetivo tirar as descrições do Rio de Janeiro da obscuridade e do desconhecimento. Os testemunhos selecionados, entretanto, como argumenta o próprio organizador, não se limitam a descrições acerca da cidade e seu cotidiano, muitas vezes nos dão indicações acerca da visão que esses europeus registraram da natureza circundante e do próprio continente americano de maneira mais ampla. Além disso, o leitor passa a conhecer bastante as características do porto da cidade e suas condições de navegação. Pode-se dizer que a obra cumpre seus objetivos e justifica, desta maneira, as reedições disponíveis, bem como as que futuramente sejam realizadas com o intuito de garantir aos leitores e pesquisadores acesso a esse rico acervo de testemunhos.
Para concluir, cabem alguns breves comentários suscitados pela própria fertilidade da antologia reunida na obra resenhada. França nos apresenta mais do que a riqueza das descrições da cidade do Rio de Janeiro e seu entorno, revela-nos igualmente um pouco das mudanças sofridas no papel da América dentro do Império colonial português e mesmo a transformação dos circuitos comerciais, da navegação e do papel desempenhado por outras nações europeias no desenvolvimento dos demais circuitos coloniais do período. Esse verdadeiro mosaico contradiz, de certa maneira, as próprias alegações de França quando este, na introdução, ressalta a política “ciumenta” da Coroa portuguesa e o consequente isolamento de sua colônia americana em relação a seus visitantes estrangeiros. Mesmo quando os testemunhos nos deixam entrever as cautelas e receios de governadores e representantes régios ou colonos em comercializar e permitir contato com navegadores e embarcação de súditos de outros 2 A antologia de França foi desdobrada ainda em outra importante seleção de relatos de viajantes, ver: FRANÇA 2000.
monarcas, a própria riqueza dos depoimentos e das circunstâncias que os envolvem nos permite pensar mais em conexões do que em isolamento.
Conexões, circulação, alianças, confrontos e compromissos, às vezes os mais improváveis, fizeram parte desse universo, como procuramos destacar no início deste texto. Entre o “ciúme mercantilista” e os entrecruzamentos de uma aventura ultramarina que se constrói por meio de diferentes níveis de interdependência e que se espalha concomitantemente nas mais diversas direções, encontramos, para retomarmos uma imagem de A. J. R. Russell-Wood, um mundo em movimento (RUSSELL-WOOD 2006). São justamente esses movimentos conectados, em alusão ao conceito de Sanjay Subrahmanyam, que aparecem belamente representados em Visões do Rio de Janeiro colonial (SUBRAHMANYAM 1999).
Referências
BELLUZZO, Ana Maria de Moraes. O Brasil dos viajantes. 3 vols. São Paulo: Metalivros, 1994.
FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Outras visões do Rio de Janeiro colonial: antologia de textos (1582-1808). Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.
GALVÃO, Cristina Carrijo. A escravidão compartilhada: os relatos de viajantes e os intérpretes da sociedade brasileira. Dissertação de mestrado. Campinas: IFCH/ UNICAMP, 2001.
KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
LEITE, Miriam L. Moreira. Livros de viagem (1803-1900). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997.
LISBOA, Karen M. A nova Atlântida de Spix e Martius: natureza e civilização na viagem pelo Brasil (1817-1820). São Paulo: Hucitec, 1997.
MARTINS, Luciana de Lima O Rio de Janeiro dos viajantes: o olhar britânico (1800-1850). Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
RUSSELL-WOOD, A. J. R. Um mundo em movimento. Lisboa: DIFEL, 2006.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
SELA, Eneida Mercadante. Desvendando figurinhas: um olhar histórico para as aquarelas de Guillobel. Dissertação de mestrado. Campinas: IFCH/ UNICAMP, 2001.
______________________. Modos de ser, modos de ver: viajantes europeus e escravos africanos no Rio de Janeiro (1808-1850). Campinas: Ed. da UNICAMP, 2008.
SLENES, Robert W. A Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava – Brasil sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
SUBRAHMANYAM, Sanjay. Connected histories: notes towards a reconfiguration of Early Modern Eurasia. In: LIEBERMAN, Victor (ed.). Beyond binary histories: re-imagining Eurasia to c. 1830. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1999, p. 289-316.
VIANA, Larissa Moreira. As dimensões da cor: um estudo do olhar norte americano sobre as relações interétnicas, Rio de Janeiro, século XIX. Dissertação de mestrado. Niterói: UFF, 1998.
Notas
1 Gostaria de citar entre outros: BELLUZZO 1994; GALVÃO 2001; KARASCH 2000; LEITE 1997; LISBOA 1997; MARTINS 2001; SCHWARCZ 1993; SELA 2001; SELA 2008; SLENES, 1999; VIANA 1998.
Luciana Gandelman – Professora adjunta Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro lucianagandelman@yahoo.com.br Km 07 da BR 465 23890-000 – Seropédica – RJ Brasil Palavras-chave América portuguesa; Colônia; Relatos de viajantes.
Cartografias imaginárias: estudos sobre a construção da história do espaço nacional brasileiro e a relação história e espaço – PEIXOTO (HH)
PEIXOTO, Renato Amado. Cartografias imaginárias: estudos sobre a construção da história do espaço nacional brasileiro e a relação história e espaço. Natal: EDUFRN; Campina Grande: EDUEPB, 2011, 182 p. Resenha de: OLIVEIRA, Adriana Mara Vaz de. Margens e interstícios do espaço. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7, p.345-349, nov./dez. 2011.
Enviado em: 29/9/2011 Aprovado em: 23/10/2011 345 Margens e interstícios do espaço 346 Tratar o espaço requer cautela e definição de abordagem. O espaço se amplifica na percepção e compreensão, ao mesmo tempo em que implica dicotomia de interpretação, sugerindo posições diversas e complementares como lugar ou território. Para Certeau (1994), em Invenção do cotidiano, o espaço é um lugar praticado, porque envolve vetores como tempo, direção e velocidade, ao contrário da estabilidade do lugar. Para o mesmo autor, “o espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais” (CERTEAU 1994, p. 202).
Desse modo, as práticas espaciais refletem a junção de objetos e operações que se traduzem em vários tipos de estruturas narrativas, como relatos e mapas. Os produtos gerados a partir das práticas condensam informações que as expressam. “Pensar o espaço não é apenas entender sua representação, considerar sua inscrição, perscrutar sua construção; é também necessário buscar suas conexões” (PEIXOTO 2011, p. 157).
Na direção dessas reflexões, o livro Cartografias imaginárias de Renato Amado Peixoto descortina uma edificante abordagem do espaço com base na cartografia. Para o autor, a cartografia deve ser problematizada para além da sua escrita, enveredando mais […] em torno dos processos cognitivos que a originam e dos métodos em que se investe sua inscrição. Para se pensar o espaço é necessário considerar antes um espaço imaginário onde se produz uma linguagem através de múltiplas experiências de outras linguagens; é preciso pensar os pressupostos que possibilitaram as condições de composição da gramática e da sintaxe dessas linguagens; entender cada um dos mapas das imaginações e das geografias pessoais que extrapolaram em um dado momento seus limites para constituir uma gramática e uma sintaxe cartográfica. Pensar o espaço significa investigar uma construção humana que só existe enquanto parte de um campo de forças no qual a energia é o falante e a linguagem seu gerador […] (PEIXOTO 2011, p. 159, grifos do autor).
Ao encontro de tal referencial teórico, Peixoto apresenta seus oito artigos.
O que se mostra, em princípio, como fomento ao debate dentro do Programa de Pós-Graduação da qual faz parte, extrapola-o. Segundo o autor, os quatro primeiros artigos discutem a construção do espaço nacional, objeto de sua tese de doutoramento, em consonância com as proposições da linha de pesquisa Literatura, Espaço e História. Os demais artigos explicitam a sua posição teórica no debate de ideias do Programa, articulando as contribuições de Jacques Derrida e Michel Foucault, assim como as reinterpretações de Karl Marx na interlocução entre sujeito e ideologia na produção do espaço. Em todos eles, o fio condutor são o espaço e a cartografia.
A problematização da cartografia desdobra-se em estudos de caso que elucidam a urdidura de circunstâncias que extrapolam as configurações materiais e iconográficas dos mapas. A atuação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e o seu papel na construção da história do espaço nacional no século XIX oferecem a oportunidade de averiguar o jogo de interesses e de poder que os envolve. No seu primeiro texto, “Enformando a nação”, Peixoto se esmera nos desdobramentos que direcionam os olhares para a relação espaço e identidade nacional. Essas reflexões se completam nos textos posteriores “A produção do espaço no Terceiro Conselho de Estado (1842-1848)”, “Impertinentes, desinteressados ou sem escolha”, “O espelho de Jacobina”, “O mapa antes do território” e “Os dromedários e as borboletas”.
Na construção da memória nacional, como afirma Sandes (2000), o IHGB precisava se apoiar nos referenciais espaciais. Afinal, como bem avaliou Halbawchs (1990), não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro espacial. Nesse sentido, estabelece-se uma tessitura, ainda que não explícita, entre o IHGB, a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros (SENE) e o Conselho de Estado. É nessa trama que se localiza a cartografia, pois é um processo coletivo, qualificado e de múltiplas etapas que incluía planejamento estratégico, execução no campo e confecção no gabinete e atelier gráfico, realizado, muitas vezes, em conjunto pelo Estado e pela iniciativa privada, dado o seu grau de complexidade (PEIXOTO 2011, p. 18).
No empenho em desenredar essa trama, o autor expõe premissas para o estudo cartográfico em face da pesquisa histórica: 1) Expor, investigar e questionar os processos cognitivos e as relações de forças que constituem e resultam em determinado saber cartográfico ou atividade cartográfica; 2) Entender esta atividade cartográfica não como um fim, mas enquanto um processo mesmo, que depende da formação de um saber sobre o espaço e que se desdobra a partir de suas estratégias e práticas; 3) Compreender que a investigação da atividade cartográfica não se resume ao trabalho sobre o mapa, mas que antes deve resgatar um regime da exequilibilidade dos mapas que nos permite discernir certas continuidades ou descontinuidades, especialmente no que tange ao agenciamento das técnicas e das condições da escrita e à distribuição e atribuição de tarefas […]; 4) Analisar os produtos cartográficos cuidando de entender que suas particularidades, estilos, especificidades técnicas e características de mercado das quais se revestem ou são investidos emprestam novos sentidos à compreensão desses produtos […]; 5) Buscar uma leitura hermenêutica dos produtos cartográficos por meio de uma investigação semiológica e iconológica dos elementos disponibilizados no mapa (símbolos, colorações, legendas etc.) e a sua volta (decoração, ilustrações, grafismos etc.), considerando o contexto cultural e social dos seus produtores; 6) Entender o espaço registrado nos mapas como um campo sobre o qual são rebatidos enunciados e discursos, que se revelam nos enquadramentos utilizados […] e nos silêncios ou silenciamentos […]; 7) Procurar perscrutar os usos e as funções que estes produtos assumem inclusive procurando-se entender sua disseminação em outros produtos cartográficos ou mesmo outros saberes, sua divulgação e circulação (PEIXOTO 2011, p. 19-20, grifos do autor).
Observa-se a construção de uma metodologia que ampara o uso da cartografia como fonte na pesquisa histórica. Jeremy Black, em seu livro Mapas e história: construindo imagens do passado (2005), cujo original é de 1997, já dava mostras da potencialidade dos mapas como fonte das investigações históricas. Contudo, o que se sobressai nessa metodologia é a compreensão de que a produção do espaço depende de um jogo de significados e ressignificações do próprio espaço instituídos por quem a manipula.
Apesar de uma tênue aproximação com Lefebvre (1991), quando diz que a produção do espaço deve ser entendida dentro da estrutura social, abarcando- -a em toda sua complexidade, Peixoto afirma seu suporte em Roger Chartier, no seu livro À beira da falésia, que defende a análise epistemológica em que os dispositivos de representação desencadeiam modos de compreensão dos discursos dos que os sustentam e de quem os atribui. Essa postura articulada por Chartier sustenta a aproximação da história em relação à filosofia e à crítica literária, posição endossada por Peixoto.
Em “O mapa antes do território”, Peixoto afirma que “o mapa é construído, a priori, no conjunto das representações culturais dos narradores e está sujeito a constantes reinvenções, que são também reelaborações de sua identidade”, ou seja, “mapear o território significa inscrevê-lo num determinado espaço e, ao mesmo tempo, possibilitar que a escrita desse território possa transformar o mapa” (PEIXOTO 2011, p. 111).
Dessa forma, o autor transita com maestria pela literatura e sua crítica, bem como pela filosofia, referendando Chartier. Essa interlocução é conduzida nos textos “Impertinentes, desinteressados ou sem escolha”, “O espelho de Jacobina”, “Por uma análise crítica das políticas do espaço” e “Espaços imaginários” que se apoiam em narrativas de H. P. Lovecraft e de Machado de Assis, bem como no pensamento de Arthur Schopenhauer, Ludwig Wittgenstein, Jacques Derrida e Michel Foucault. Destacam-se especialmente os diálogos com Foucault sobre as relações de poder e de Schopenhauer acerca da representação, aplicado nos seus objetos de estudo, especificamente, a construção do espaço e da identidade nacional no século XIX ou no século XX.
Para a compreensão dos jogos do poder e as relações com a construção dos mapas, apoiado no conceito de biopoder de Foucault, Renato Peixoto discute a geopolítica como um saber sobre o espaço, amplificando o seu conceito para as políticas de espaço dela derivadas. Nessa articulação constitui-se uma cartografia desses saberes e políticas descortinando sobreposições de mapas com linguagens autônomas e passíveis de compreensão. Aqui, nomeia essa discussão como geopoder e oferece caminhos metodológicos para os que se interessam em investigar as dinâmicas do espaço desencadeadas com base nos grupos que exercem políticas de poder ancoradas nos saberes espaciais.
Concentra-se ainda no encontro das desrazões foucaultianas ao lado das razões implícitas na elaboração dos mapas e, por conseguinte, da condução da cartografia. Os espaços e mapas imaginários imprimem-se naqueles materiais e visíveis. Para tal, contextualiza a questão do espaço em relação à própria obra de Foucault, em especial aquela que tece observações sobre Antonin Artaud.
Ao final, Peixoto empreende uma síntese em que coloca o historiador dos espaços como cartógrafo. O exercício da cartografia que defende é aquele em que se reconhecem os interstícios e as margens dos mapas, mas também a economia de suas linguagens, que está na sua produção e reelaboração. Em certo sentido, reconhece-se a argumentação de Sueli Rolnik (1989, p. 65) que diz que “o cartógrafo é um verdadeiro antropófago: vive de expropriar, se apropriar, devorar e desovar”.
Referências
BLACK, Jeremy. Mapas e história: construindo imagens do passado. Tradução de Cleide Rapucci. Bauru: Edusc, 2005.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 1994.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Laurent Leon Shaffter. São Paulo: Vértice; Ed. Revista dos Tribunais, 1990.
LEFEBVRE, Henri. The production of space. Translated by Donald N. Smith. Blackwell Publishing, 1991.
ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo. São Paulo: Editora Estação Liberdade, 1989.
SANDES, Noé Freire. A invenção da nação: entre a Monarquia e a República. Goiânia: Ed. UFG; Agepel, 2000.
Adriana Mara Vaz de Oliveira – Professora adjunta Universidade Federal de Goiás. E-mail: amvoliveira@uol.com.br Rua 5, 361/601, Condomínio Veladero – Setor Oeste 74115-115 – Goiânia – GO Brasil.
O Brasil imperial. Volume II: 1831-1870 – GRINBERB; SALLES (HH)
GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil imperial. Volume II: 1831-1870. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, 502 p. Resenha de: POPINIGIS, Fabieane. Conflitos e experiências na formação do Estado imperial brasileiro. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7 p.357-363, nov./dez. 2011.
Conflitos e experiências na formação do Estado imperial brasileiro 358 Organizado por Keila Grinberg e Ricardo Salles e publicado em 2009 pela Civilização Brasileira, o livro O Brasil Imperial – Vol. II: 1831-1870, faz parte de uma coletânea de três volumes que abrange, em seu conjunto, todo o período Imperial: o primeiro deles vai de 1822 a 1831, o segundo de 1831 a 1870 e o terceiro de 1870 a 1889. Este volume dois tem onze capítulos, distribuídos em 502 páginas, acrescido de uma apresentação de José Murilo de Carvalho e de um pequeno prefácio dos organizadores.
Os autores tiveram bastante sucesso em pelo menos três quesitos que norteiam a organização da coleção: a exposição didática dos acontecimentos – inclusive em narrativas cronológicas; a escolha dos autores e temas, que possibilitaram aliar o estágio atual das pesquisas à critica historiográfica; e a articulação entre os temas e problemas historiográficos abordados, que se interconectam.
Através do artigo de Ilmar Mattos, que transita entre todos os temas abordados nos capítulos seguintes como que tecendo um fio invisível entre eles, somos apresentados a uma das mais interessantes características da coletânea: o diálogo entre os temas e abordagens, que parecem ser retomados aqui e ali, formando um conjunto na maior parte das vezes harmonioso e com movimento. Sob o título “O Gigante e o Espelho”, o autor mostra que a revolução de 7 de abril tornava realidade a independência do Brasil e abria um novo tempo de liberdade para os “brasileiros”, condensando problemas que eram centrais para os contemporâneos e seu projeto de construção da nação.
Em primeiro lugar, o gigante território e o desafio de mantê-lo unido, enquanto o restante da América se fragmentara, cria a singularidade de sua primeira expansão, que Mattos chamou de “expansão para dentro”. A partir da Independência, abdicava-se de um domínio ilimitado em termos espaciais e construía-se a ficção entre território e nacionalidade. O espelho, por sua vez, tinha dupla face: de um lado os brasileiros espelhavam-se nas nações “civilizadas” da Europa, no porcesso de construção da nação brasileira, e do outro, a associação do Brasil à lavoura e a opção pela manutenção da escravidão na consolidação da ordem significava conviver com outras “nações” no interior do território. O nexo de pertencimento, propriedade e características fenotípicas distinguiria os homens bons do “povo mais ou menos miúdo” e dos escravos, e, na medida em que avançavam o café e o regresso, também se acrescia à diferenciação entre livres e escravos aquelas entre escravo e cidadão. Seguir por esse caminho significava também voltar as costas a uma “proposta de nação constituída por homens e mulheres representados como livres e iguais juridicamente”. O regresso, a derrota dos liberais em 1842 e a consolidação do projeto político conservador, com os liberais atrelados às propostas e ações políticas dos saquaremas, “incapazes de manter viva entre seus compatriotas a lembrança do dia 7 de abril como início de um novo tempo”. A ordem imperial, portanto, consolidar-se-ia sob o signo da conciliação entre as famílias da boa sociedade sob o governo do Estado, que imprimiria, nas palavras de Mattos “não apenas um exercício de dominação, mas de direção intelectual e moral dos brasileiros, uma história e uma língua nacionais com seus propósitos ‘imperiais”.
História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7 nov./dez. 2011 357-363 Assim, o capítulo inicial sugere os eixos organizadores dos capítulos seguintes: as disputas políticas e sociais em torno da formação administrativa do território nacional, as questões suscitadas pelo nexo organizador da sociedade escravista e suas desigualdades, e a necessidade de criação de sentimento de pertencimento, a partir da imprensa e da literatura.
No caso do primeiro eixo, cuja referência fundamental é claramente o momento de abdicação de D.Pedro I, em 7 de abril de 1831. O período regencial é retomado como momento de disputa em torno de diferentes projetos de nação, em perspectivas diversas – que vão das discussões na arena estritamente política, passando pelos conflitos sociais em torno do processo de integração das regiões ao projeto centralizador na Corte Imperial, até lugar de homens e mulheres de cor na construção da nação.
Privilegiando a política parlamentar e abordando com minúcia as disputas entre as diversas propostas e os grupos que iam se delineando, Marcello Basile mostra, em “O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840)”, que o 7 de abril inaugurou um momento ímpar de experimentação política em que uma diversidade de fórmulas políticas foram apresentadas e experimentadas, e de participação popular, ainda que não na política institucional, mas nas ruas, de um amplo leque de grupos e estratos sociais. Partindo da crítica à historiografia que atribuiu ao período características sobretudo negativas – ressaltando as revoltas ocorridas como sinônimo de anarquia e empecilho ao estabelecimento da ordem -, ele é aqui abordado em suas próprias bases, e não como um momento de transição política entre a abdicação e o chamado regresso conservador. Embora não contemple neste capítulo sua própria pesquisa sobre os motins urbanos no Rio de Janeiro durante o período (BASILE 2007, p. 65) – o que teria contribuído para enriquecer o diálogo entre o que acontece nas ruas e os debates no Parlamento-, o autor observa que o que orientou o pacto responsável pelo esvaziamento do espaço público das práticas de cidadania experienciadas naquele momento inicial foi o temor das revoltas e a consciência da necessidade de coesão das elites políticas.
Alguns desses movimentos ocorridos nas províncias, sua relação com a Corte, os projetos de identidade nacional e a participação popular são analisados por Marcus Carvalho no capitulo intitulado “Movimentos sociais: Pernambuco (1831-1848)” e em “Cabanos, patriotismo e identidades”, de Magda Ricci. Nos dois casos, a data da Abdicação é novamente o divisor de águas que mobiliza esses grupos e radicaliza as oposições. Entretanto, os acontecimentos e seus desenvolvimentos são vistos neles como parte de um processo histórico de longa data, envolvendo questões políticas e sociais engendradas no enfrentamento entre os interesses dos diversos grupos em disputa. Ambos articulam o plano político institucional das tentativas do governo na Corte de tomar o controle sobre as províncias ao plano regional e cotidiano das querelas locais e aos sentidos da liberdade atribuídos pelo povo miúdo, atentando para a precariedade das liberdades individuais. A participação popular é aqui posta em relevo sem ser vista como espasmódica ou manipulada pelas elites políticas. Os autores tecem os acontecimentos numa trama complexa para ir além dos conhecidos marcos políticos, mostrando a diversidade de grupos envolvidos e as lógicas que informavam suas lutas, fazendo-os por vezes aliados circunstanciais – como no caso dos senhores de engenho, escravos, quilombolas, indígenas e homens livres pobres em geral. Ainda que, por vezes, não houvesse uma organização com objetivos mais específicos, os grupos em questão tinham suas razões e sua lógica de ação a partir de interesses próprios. Assim, a política cotidiana das pessoas comuns e dos diversos grupos que as compõe é analisada sem esquecer seus laços com a política institucional.
No caso de Carvalho, a inovação é a não compartimentação da história desses movimentos num Pernambuco em constante estado de tensão, que é guiada, de modo mais geral, pelos acontecimentos ligados ao 7 de abril, data da Abdicação, quando aqueles que haviam apoiado a repressão de D. Pedro I às pretensões revolucionárias de 1817 ou 1824 passam a ser perseguidos pelos que agora foram elevados pela gangorra política. Ricci, por sua vez, analisa o segundo ciclo de revoltas do período regencial no norte do território. Ela mostra que a Província do Pará, ao contrário de isolada e pouco povoada como se pretendeu em várias análises, estava interligada a rotas internacionais através do comércio intercontinental e da circulação de pessoas e ideias entre a região e os países vizinhos. Durante a Revolução de 1835, como chama a autora, surgia um sentimento comum de identidade entre povos e etnias de culturas diferentes, uma identidade local não afinada com aquela em formação no Rio de Janeiro. Com a luta de classes no centro do processo de formação do Império e das incertezas que configuraram a década de 1830, os dois textos são importante contribuição para mostrar como o medo aos sentidos de liberdade atribuídos pelo povo miúdo forçou dirigentes imperiais e elites locais a se aliarem e a submeter esses homens e mulheres livres pobres à repressão. A evidente vantagem destas estratégias é a de oferecer aos leitores um panorama do período abordado a partir de uma referência de fora da Corte.
O texto de Keila Grinberg também se conecta a este primeiro eixo, analisando a Sabinada não apenas como parte do processo conflituoso de disputa entre projetos de autonomia e independência das províncias em relação à Corte, mas, sobretudo, como disputa pelo lugar dos homens de cor na construção da nação. No texto intitulado “A Sabinada e a politização da cor na década de 1830”, o movimento na Bahia foi utilizado por Keila Grinberg para analisar dois projetos políticos em disputa: de um lado aquele representado por Antônio Pereira Rebouças que, colocando-se do lado da “ordem”, procurava ater-se aos princípios constitucionais segundo os quais os cidadãos brasileiros, qualquer que fosse a sua cor, só poderiam ser distinguidos por seus talentos e virtudes; Francisco Sabino, por outro lado, representava aqueles que viram com desgosto serem cada vez mais negadas as possibilidades abertas a partir da independência, de uma maior inserção de livres e libertos, pardos e mulatos, tanto na participação política como na ocupação de cargos públicos e militares.
A derrota do movimento e as políticas centralizadoras do Regresso, entretanto, fechariam os ciclos de revoltas e manifestações populares, frustrando as aspirações liberais de homens livres e de cor, que viram cada vez mais distante de sua realidade as possibilidades de uma participação verdadeiramente igualitária naquela sociedade.
Uma das principais causas de insatisfação entre homens livres pobres e libertos era a questão do recrutamento, grande causador de conflitos, pois expunha as contradições e hierarquias sociais. Como mostra Victor Izechsohn, no capítulo intitulado “A Guerra do Paraguai”, essas tensões foram acirradas durante a guerra: por um lado, os agregados buscavam proteção nos chefes políticos; quando não conseguiam, a opção era a oferta de substitutos, livres ou libertos ou a simples fuga. Por outro lado, por conta da “massificação operada pelo recrutamento”, aos trabalhadores pobres livres desagradava ver seu status igualado a tais recrutas. Afinal, a certa altura, o governo imperial resolveu libertar quantidade significativa de escravos para serem integrados ao exército, e o próprio Caxias mostrou constante preocupação com sua grande heterogeneidade racial. A Guerra do Paraguai é aqui analisada como elemento central na construção dos estados e nações envolvidos, num momento em que se procurava a manutenção do controle territorial pelos novos centros políticos estabelecidos.
Assim, as tensões que o recrutamento suscitava se entrelaçavam ao problema político da constituição de sentimentos de pertencimento a um território que havia sido consolidado recentemente.
O segundo organizativo dos capítulos da coleção – o da escravidão como nexo organizador da sociedade – é analisado de diferentes perspectivas nos trabalhos de Rafael Bivar Marquese e Dale Tomich e de Jaime Rodrigues. Para Marquese e Tomich em “O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial do café no século XIX” foi a ação “concertada” entre os fazendeiros do Vale escravista e os políticos ligados ao regresso o que estreitou a relação entre o crescimento do tráfico atlântico e o aumento da produção cafeeira, além da otimização do tráfico conseguida por luso-brasileiros que comandavam boa parte do infame comércio na região da África centro-ocidental. O texto inscrevese no objetivo mais geral de enfatizar a necessidade de voltar à utilização das lentes de aumento na análise histórica sobre a inserção do Brasil num contexto mais amplo de relações, neste caso para perceber o “papel do Vale do Paraíba na formação do mercado mundial do café” e na conformação do estado brasileiro.
Dois elementos possibilitaram esse investimento inicial e o crescimento da produção na intenção de atender às necessidades do mercado externo entre as décadas de 1820 e 1830: em primeiro lugar, toda a estrutura dos caminhos de tropas montadas em função da mineração, no século XVIII, ligando o sul e o litoral ao interior de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro possibilitava escoar a produção do Vale do Paraíba (que dominaria a produção brasileira de café ate meados de 1870) para os portos do litoral; em segundo lugar, os arranjos políticos eficientes por parte do Império do Brasil para lidar com a pressão inglesa e a ilegalidade do tráfico a partir de 1831 teriam garantido um terreno seguro para as práticas escravistas.
Jaime Rodrigues, por sua vez, procura ir além dos paradigmas mais consolidados da historiografia que põe em relevo a pressão inglesa como razão determinante para o fim do tráfico atlântico de escravos em “O fim do tráfico transatlântico de escravos para o Brasil: paradigmas em questão”. O autor encontra os principais argumentos de justificativa do comércio e do tráfico atlântico de escravos na função civilizatória da catequização de africanos e, posteriormente, na necessidade da manutenção da mão de obra para a lavoura, através da análise de obras e discursos letrados do início do século XIX. Rodrigues reafirma então a centralidade do comércio de escravos para a construção da nação na primeira metade do século XIX, imbricada no processo que levou ao fim do tráfico como seu aspecto fundante. O que teria mudado no período entre a primeira lei de proibição do tráfico atlântico e a lei de 1850 e sua efetiva aplicação? Entre o argumento da “corrupção de costumes” e a conivência das autoridades policiais com a propriedade escrava, Rodrigues atribui um grande peso ao medo senhorial em relação à população escrava, não apenas de motins e revoluções, mas também de ações jurídicas dos escravos contra seus senhores e em prol de sua liberdade. Segundo ele, é no “equilíbrio entre o medo das ações violentas dos escravos e a necessidade de manter a produção, que devem ser procuradas as explicações para as idas de vindas na decisão de acabar com o tráfico atlântico de escravos africanos”. Finalmente, nesse processo, o importante era definir o status jurídico dessas pessoas na sociedade que se estava construindo, limitando a cidadania de livres e libertos e garantindo meios de controle sobre eles e sobre seu trabalho.
No terceiro eixo que permeia a organização dos capítulos, a literatura, a língua nacional e a imprensa são analisadas por Ivana Stolze Lima, Márcia de Almeida Gonçalves e Sandra Jathay Pesavento como lugares privilegiados de disputa em torno da formação de um sentimento de pertencimento e nacionalidade. Em “Uma certa Revolução Farroupilha”, Pesavento atribui papel de destaque à literatura na construção posterior que se faz deste percurso de dez anos de guerra da província do Rio Grande do Sul contra o Império, centralizado no Rio de Janeiro, para elevar a Farroupilha a foros de evento mitológico e fundador de uma identidade que é ao mesmo tempo nacional e regional. Entre diferenças e semelhanças, literatura e história constroem o mito de um passado idílico em que “senhores não encontravam freios a seu mando”.
A partir da Independência, a interferência centralizadora da corte estabelecida no Rio de Janeiro representará “o outro”, assim como os inimigos no Prata. O ethos de uma identidade regional situa-se no Rio Grande do Sul como paladino da liberdade, unindo-os num ideal comum para além das distinções étnicas da posse da terra ou de hierarquia social. A elevação da Farroupilha como acontecimento chave para a explicação da província reiterava a vocação libertária do gaúcho, que, nessa leitura, rebelar-se contra o autoritarismo do Império, não para dele se desvincular, mas, ao contrário para transformar o nacional.
Ressaltando a importância da literatura e seus autores, Marcia Gonçalves em “Histórias de gênios e heróis: indivíduo e nação no Romantismo brasileiro”, analisa as disputas em torno da existência de uma literatura própria do Brasil na segunda metade do século XIX. As biografias mobilizavam conceitos de gênio e herói para a caracterização dos construtores do império do Brasil: selecionando- -se quem não deveria ser esquecido e como deveria ser lembrado, procurava- se criar exemplaridades para o que era ser brasileiro e individualizar o Brasil como estado. Elementos do romantismo que caracterizavam singularidades da cultura de povos e sociedades locais foram utilizados na construção de uma nacionalidade brasileira e suas especificidades. Nesse sentido, portanto, Gonçalves ressalta a importância do fundo histórico da literatura, que deveria alçar o Brasil a um lugar entre as nações modernas e civilizadas.
Ivana Stolze Lima, em “A língua nacional no Império do Brasil”, também atenta para a questão da especificidade da língua brasileira como “uma das expressões do Romantismo literário no Brasil” – tomando para isso um outro caminho, que procura revelar também o lugar daqueles que não faziam parte dos projetos dos letrados do século XIX, mas com quem tinham que lidar. A autora mostra como no início da colonização as línguas indígenas e africanas persistiam, e a escravidão africana ajudava a difundir o português. As diferenças linguísticas dos africanos eram superadas pelo uso de línguas gerais e pela utilização do português como base ou pela criação de línguas crioulas. No século XIX, com a evolução de um certo projeto de nação, dirigentes imperiais e homens de letras consideravam a centralidade da unidade da língua e sua utilização para a constituição do sentimento de pertencimento e nacionalidade.
Para isso foi essencial a atuação da imprensa no século XIX – que atingia mais gente do que os que sabiam ler -, e a educação escolar, formando cidadãos de acordo com os valores da classe senhorial em formação. Segundo a autora, a língua também propiciava caminhos para a incorporação social de homens livres pobres e mesmo escravos que se utilizavam de seus recursos.
Trata-se assim de um livro composto por capítulos escritos por especialistas reconhecidos nos variados campos de discussão historiográfica sobre o período, mas articulados por uma estratégia que possibilita sua interconexão a partir de grandes eixos temáticos. Isso faz com que a obra preencha uma importante lacuna na compilação de debates e pesquisas recentes, oferecendo aos leitores e leitoras uma leitura acessível para a compreensão dos processos históricos centrais no Brasil Imperial. Mais ainda, a coletânea, de forma geral, constitui-se em leitura obrigatória para os que trabalham com o tema e se interessam pelo debate historiográfico sendo por isso ótima opção para ser utilizada em sala de aula. Em suma, o livro cumpre com a função de divulgação para um público amplo sem abdicar de pesquisa empírica rigorosa e do debate historiográfico atualizado. Uma boa notícia para todos interessados em conhecer o que de mais novo se produz sobre o período Imperial.
Referência bibliográfica BASILE, M. Revolta e cidadania na Corte regencial. Tempo: revista do departamento de história da UFF, v. 22, p. 65, 2007.
Fabiane Popinigis – Professora adjunta Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E-mail: fpopinigis@gmail.com Rua Glaucio Gil, n.777, bloco 101, casa 01 – Recreio dos Bandeirantes 22795-171 – Rio de Janeiro – RJ Brasil.
Desconstruindo a história – MUNSLOW (HH)
MUNSLOW, Alun. Desconstruindo a história. Petrópolis: Vozes, 2009, 271 p. Resenha de: CASTELO, Sander Cruz. O sublime, a narrativa e a história The sublime, the narrative and history. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 6, p.213-217 março 2011.
Alun Munslow, professor visitante de história da Universidade de Chichester (Inglaterra), é coeditor da Rethinking History: The Journal of Theory and Practice, publicação acadêmica vanguardista criada, em 1997, para expandir os limites de uma disciplina engessada em pressupostos modernistas por meio da divulgação de produções historiográficas experimentais e do debate teórico do assunto. Não surpreende, logo, que a obra analisada destoe das traduções que sumariam as teorias contemporâneas da história, correntemente, lançadas no Brasil.
Como? Basicamente, de duas formas interligadas: salientando a historiografia pós-moderna, pouco divulgada no país, excetuando-se a produção foucaultiana, e privilegiando a narrativa dentre os elementos envolvidos na produção historiográfica. Outra singularidade da obra, derivada das duas características anteriores, advém da publicização, no Brasil, da historiografia anglo-americana, cuja linhagem, originada na filosofia analítica, é, comumente, desconsiderada em prol daquela esteada na antropologia, de matriz francesa.
Por isso, a linguagem norteia as proposições do autor a favor da revisão da forma como os historiadores abordam o passado. Esses, grosso modo, resistiriam, não obstante alguns avanços (novo empirismo, Annales, etc), a abandonar uma ingenuidade epistemológica fundamental: a ideia de que a realidade do passado pode ser revelada. Essa crença na objetividade do saber derivou do método científico, erigido, na modernidade, para abordar a natureza e estendido ao mundo social com o Iluminismo, período em que o ideal civilizatório adquiriu matizes teleológicos. Compreende-se, logo, que a história estabeleça-se como disciplina, no século XIX, reproduzindo dualismos como sujeito-objeto, fato-ficção e progresso-atraso.
Para combater esse legado, elegendo a forma, e não o conteúdo, como âncora da história, Munslow mapeia as forças em negociação e em confronto no campo historiográfico. A mais tradicional ou a mais infensa às mudanças é devota do “reconstrucionismo”. Filho do historismo rankeano, para o “reconstrucionismo”, resumidamente, o passado pode ser desvelado mediante a reconstituição das intenções e das ações dos agentes históricos na sua sucessão no tempo. O “construcionismo”, por sua vez, reconhece, mais do que o anterior, o caráter apriorístico do conhecimento, fazendo uso, em decorrência, de modelos de análise provindos de disciplinas afins, como a sociologia, a economia e a antropologia. Sem descurar, contudo, dos vestígios históricos, por meio dos quais se escolhem e se testam as teorias utilizadas, passíveis, consequentemente, de abandono ou de reformulação. O “desconstrucionismo”, enfim, renega a possibilidade de acessar o pretérito, dada a impropriedade da teoria da correspondência ou da referencialidade. Sendo a relação entre significante, significado e signo, fundamentalmente, social e cultural – ou seja, a um tempo arbitrária e convencionada –, a “realidade do passado” (MUNSLOW, 2009, p. 12) apresentando-se, pois, mais como um “relato escrito” do que “como ele realmente foi”, resta à história “não o estudo das mudanças através do tempo per se, mas o estudo das informações produzidas pelos historiadores ao se lançarem nesta tarefa”(Idem, Ibidem).
O autor verticaliza sua abordagem dirigindo quatro questionamentos a essas três correntes da historiografia contemporânea. O fato de que o faça aglutinando, nos mesmos capítulos, a história “reconstrucionista” e a “construcionista” demonstra, de imediato, que, para ele, elas mais se aproximam do que se distanciam. Somando-se a isso a existência de dois capítulos expondo as críticas mútuas entre elas e a linha “desconstrucionista” e de outros dois dedicados a Michel Foucault e a Hayden White, autores baluartes da história pós-moderna, evidencia-se a intenção de firmar e ampliar as posições conquistadas pelo “desconstrucionismo” na historiografia. Aliás, suas próprias respostas às questões explicitadas, no último capítulo do livro, arrimam-se em uma “estratégica combinação da concepção de infraestrutura tropológica/ epistêmica” do filósofo francês com o “modelo formalístico de imaginação histórica” do historiador estadunidense (Ibidem, p. 218).
A primeira indagação, de cunho epistemológico, versa sobre a suficiência do empirismo para legitimar o estatuto autônomo da história. A resposta de Munslow é negativa. A disciplina é, na verdade, uma variante da literatura que almeja produzir conhecimento. Logo, a epistemologia da história dista do indutivismo, na medida em que reconhece a existência do efeito de realidade e não a noção fantasiosa da verdade histórica; nega que possamos descobrir a intencionalidade do autor; aceita a cadeia de significação interpretativa e não o significado original recuperável; recusa as seduções de um referente fácil; debate a objetividade do historiador em seu trabalho com a estrutura figurativa da narrativa; aceita a natureza sublime do passado imaginada como o sentido do “outro” e admite que a relação entre forma e conteúdo é mais complexa do que como é frequentemente concebida nas duas tendências similares principais [construcionismo e reconstrucionismo] (Ibidem, p. 221).
A segunda trata do caráter e da função da evidência ou das fontes primárias. Inicialmente, Munslow afirma que as evidências são recontextualizadas a cada época: “[…] por exemplo, a evidência do Império se tornou, para a próxima geração de historiadores, a evidência para uma nova interpretação pós-colonial (Ibidem, p. 224). Em seguida, afirma não crer que a proximidade da evidência equivalha à verdade: Não discuto que a correspondência da evidência com a realidade funciona de forma razoavelmente satisfatória no nível básico da sentença única que tem como suporte a evidência (o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, foi baleado em 14 de abril e morreu no início da manhã de 15 de abril de 1865). Porém, tal correspondência não existe quando passamos para o nível da interpretação através da imposição de um enquadramento ou um argumento (Abraham Lincoln foi assassinado antes que pudesse colocar seus planos de reconstrução em ação). É preciso repetir: a narrativa histórica não é o passado, é a história” (Ibidem, p.224).
A terceira, com escopo na teoria, diz respeito ao imposicionalismo [sic] do historiador, especificamente, com o uso de teorias sociais como suportes explicativos. Apoiado em Vico e Foucault, o autor receita ao historiador uma conceitualização distinta do dedutivismo. Este, formulado para estudar a natureza, é insuficiente para a análise da sociedade ao longo do tempo, o que exige atenção ao discurso (episteme). A história depende mais da retórica do que da lógica para gerar a ilusão de transparência do passado: A maneira complexa como usamos a linguagem e a linguagem nos usa para mediar a realidade do passado sugere que nenhuma quantidade de sofisticada verificação hipotética da ciência social pode evitar a relação interativa entre o historiador, a palavra e o mundo. A narrativa não é simplesmente uma representação do mundo da realidade do passado, uma reprodução das coisas e das relações que subsistem entre elas. Embora a linguagem seja usada pelos principais historiadores como se ela tivesse a capacidade de reprodução, ela é principalmente um meio inovador que tem o poder de inventar e criar nosso conhecimento do passado (Ibidem, p. 230).
A quarta, por fim, diz respeito à significação da narrativa na explanação histórica. Apresentando o pensamento de White, Munslow assevera que a narrativa é o dispositivo por excelência da história, funcionando primeiro no plano da linguagem e da consciência, através da articulação de quatro níveis de explanação, seguidamente, implicados: tropo, enquadramento, argumento e ideologia. O tropo (metáfora, metonímia, sinédoque, ironia) refere-se à prefiguração mental do objeto de estudo, ou seja, sua base poética. O enquadramento (romântico, trágico, cômico e satírico) diz respeito ao poder do protagonista da trama em relação ao meio, gerando o efeito estético. O argumento (formista, mecanicista, organicista e contextualista) consiste na inter-relação de eventos, de personagens e de ações, produzindo o efeito cognitivo. A ideologia (anarquismo, radicalismo, conservadorismo e liberalismo), por fim, desvelando as opções políticas do historiador, homem situado no presente, atesta os efeitos éticos da disciplina.[1] Pode-se, logo, afirmar, resumidamente, que a função do historiador é […] oferecer uma estória que seja possível de ser acompanhada. Tal possibilidade de ser acompanhada emerge da coerência e da plausibilidade da estória que o historiador conta, à luz da evidência disponível. A realidade do passado não existe em um mármore bruto, necessitando apenas da habilidade do historiador de desbastá-lo para revelar o objeto existente dentro dele (Ibidem, p. 230).
Para finalizar, duas questões, ainda referentes à narrativa, permanecem não resolvidas pelo autor (e os desconstrutivistas em geral). Haveria uma narrativa pré-existente àquela inventada pelo historiador, ou melhor, os historiadores recontariam uma história já explanada pelos personagens históricos? Finalmente, é suficiente saber que a história é um empreendimento que envolve, ao mesmo tempo, estética, lógica e ética; que a “vontade de saber” (lógica) deriva da “vontade de poder” (ética), como disse Foucault; que White, mesmo, aventou a possibilidade de situar a ideologia como primeiro nível trópico; para afirmar, como o faz Munslow, que se “a estética precede à história, então a ética precede à estética” (Ibidem, p. 212).
Acredita-se que é necessário prudência aqui. O desejo de distinguir o bem do mal é, certamente, o motor do conhecimento (BLOOM 1989, pp. 49-50). Mas a vontade imperativa de saber não resulta, por vezes, de uma vontade de morrer, como alertava Nietzsche? A árvore do conhecimento não abriga uma serpente? Babel não atesta a benignidade de um pouco de relativismo, impedindo que bem e mal se irmanem em razão do dogmatismo? Por esse prisma, a história não podia servir à vida prezando, igualmente, o esquecimento, o incognoscível, a beleza, o mistério, o sublime, como o próprio autor intui, em algumas passagens da obra? Referência bibliográfica BLOOM, Allan David. O declínio da cultura ocidental. 2 ed. São Paulo: Best Seller, 1989.
1 Esses quatro tropos corresponderiam a quatro epistemes que se sucederam na modernidade, identificadas por Foucault: a da Renascença (até o final do século XVI), baseada na semelhança; a Clássica (séculos XVII e XVIII), ancorada na diferença; a Moderna ou Antropológica (final do XVIIIinício do XX), amparada no homem; e a Pós-Moderna (em andamento), fundada nas transformações da linguagem.
Sander Cruz Castelo – Professor assistente Universidade Estadual do Ceará sandercruzcastelo@uol.com.br Rua Marechal Deodoro, 1395/322 B 60020-061 – Fortaleza – CE Brasil.
Mímesis e a reflexão contemporânea – COSTA LIMA (HH)
COSTA LIMA, Luiz (org.). Mímesis e a reflexão contemporânea. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010, 260 p. Resenha de: ARAÚJO, Nabil. Teorizar a mímesis contemporaneamente. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 6, p.204-212, março 2011.
Tomado como aquilo que mais imediatamente se propõe a ser – uma coletânea de textos contemporâneos sobre a mímesis –, o livro Mímesis e a reflexão contemporânea, ou, antes, os quatro textos de autores diversos que compõem o volume deveriam ser avaliados no que concerne (a) seja à sua conformação ao objeto de reflexão então em foco: o fenômeno ou a problemática da mímesis, (b) seja à “contemporaneidade” da abordagem que empreendem de um tal objeto (a menos, é claro, que se tome por contemporânea simplesmente toda e qualquer abordagem temporalmente próxima a nós).
Isso posto, seria preciso reconhecer que, se os três primeiros textos da coletânea – “Nascimento de imagens” (1979), de Jean-Pierre Vernant; “‘Imitação da natureza’: contribuição à pré-história da ideia do homem criador” (1957/ 1981), de Hans Blumenberg; “Mímesis em Aristóteles e nos comentários da Poética no Renascimento: da mudança do pensamento sobre a imitação da natureza no começo dos tempos modernos” (1998), de Arbogast Schmitt – colocam, inequivocamente, a problemática da mímesis no centro de suas preocupações, o fazem não de uma perspectiva eminentemente teórica (isto é, de alguém que buscasse, se não erigir uma nova teoria, ao menos formular um posicionamento teórico próprio e, nesse sentido, contemporâneo da problemática da mímesis), mas de uma perspectiva muito próxima à da tradicional história das ideias (isto é, com a objetividade e o distanciamento típicos do pesquisador que pretende reconstituir fidedignamente um certo pensamento ou percurso conceitual) – ainda que, nos três casos, com uma admirável competência filológica aliada a um consistente background filosófico.
Por sua vez, o quarto e último texto – “O processo de dissimulação: ‘O silêncio das sereias’, de Kafka” (1993), de David Wellbery – apenas tangencia a problemática da mímesis ao enunciar, no âmbito da leitura que empreende do texto de Kafka, a formulação de uma “mímesis apotropaica da diferença, no texto inscrita” (WELLBERY 2010, p. 211). Por outro lado, em nenhum dos textos da coletânea mais do que nesse a contemporaneidade da abordagem se faz sentir, sobretudo no modo como o autor, na articulação de sua leitura do texto kafkiano, mobiliza um certo vocabulário teórico-crítico – “autorreferência”, “indeterminabilidade”, “paradoxo”, “figura paradoxal do texto”, “indecidibilidade”, “diferença”, etc. – facilmente identificável ao que se convencionou chamar, a partir dos anos 1980, nos EUA, de crítica “desconstrucionista”. Descontado, portanto, o texto de Wellbery em função de sua especificidade, a relevância da coletânea residiria no amplo painel histórico por ela oferecido do desenvolvimento da teoria mimética no mundo ocidental, de sua emergência, na Grécia clássica, ao limiar de sua suplantação, na modernidade.
No primeiro texto da coletânea, Vernant deixa-se guiar pela seguinte questão de fundo histórico-psicológico: “Em que medida os gregos antigos conheceram uma ordem de realidade correspondente ao que chamamos de imagem, imaginação, mundo do imaginário?” (VERNANT 2010, p. 51). Em seu esforço de elucidação, Vernant elege a obra de Platão como corpus privilegiado de investigação, vendo nela um ponto de inflexão decisivo na cultura grega antiga, posto ser Platão o autor que, pela primeira vez, reúne “em um mesmo grupo os mais diversos tipos de produções imagéticas para apresentar uma teoria geral unificada, organizando-os em conjunto no quadro de uma mesma categoria de fenômenos, aqueles que se vinculam, quaisquer que sejam suas diferenças, à mímesis, à imitação” (VERNANT 2010, p. 52) A conclusão a que chegará Vernant é a de que, por mais que a obra de Platão, signo maior do “momento em que o mundo das aparências toma corpo”, parecesse abrir caminho para o “desenvolvimento psicológico da imagem”, seria preciso esperar por um autor como Flávio Filóstrato (século II d. C.) para a identificação da phantasía como “uma imaginação não mais dependente da mímesis, mas oposta e superior a ela por conta de sua sophía” (VERNANT 2010, p. 86). O percurso investigativo ganha corpo, no texto de Vernant, por meio de uma leitura cerrada de textos-chave de Platão para a problemática da mímesis como República e Sofista, na qual competência filológica, background filosófico e sensibilidade historiográfica convergem no tratamento de certas questões essenciais quer para o filósofo, quer para o crítico ou teórico da literatura, quer para o historiador das ideias.[1] No centro delas, a questão da célebre distinção platônica entre a “boa” e a “má” imitação, em vista da qual o “nascimento de imagens” de que nos fala Vernant, isto é, o estabelecimento, com Platão, de uma teoria geral unificada das produções imagéticas (e de uma hierarquia epistemológica entre elas), acabaria por se confundir com o nascimento do próprio discurso filosófico ocidental.
“Retomada por Aristóteles”, lembra-nos Vernant (2010, p. 63), “a concepção platônica da mímesis, mais ou menos reinterpretada, exercerá, a partir do Renascimento, a influência que todos conhecemos sobre o desenvolvimento e a orientação da arte ocidental”. A expressão “que todos conhecemos” aponta para a existência de um senso comum a respeito da longue durée aí delineada, aquela que faz o predomínio da teoria mimética da arte e da literatura estender-se de sua emergência com Platão e Aristóteles à sua vigência hegemônica na Europa pós-renascentista (até sua derrocada com o colapso do regime neoclássico a partir de fins do século XVIII).
Os dois textos seguintes da coletânea incidem exatamente sobre esse senso comum. O primeiro o endossa e procura rastrear, ao longo do percurso aí descrito, o delineamento de certos posicionamentos que de alguma forma preparariam ou anunciariam a superação da teoria mimética ocidental por um referencial teórico-crítico francamente antimimético, dito moderno. O segundo o questiona e se esforça por mostrar que, na dita “reinterpretação” da concepção platônico-aristotélica da mímesis pelos comentadores renascentistas da Poética, a modificação terá sido tão drástica que melhor seria falar em duas concepções distintas, evitando o erro de subsumir retrospectivamente a concepção clássica (grega) na neoclássica (pós-renascentista).
Comentando a resposta aristotélica à pergunta “sobre o que o homem poderia produzir no mundo e do mundo, por sua força e destreza”: a formulação de que a “arte é imitação da natureza”, Blumenberg (2010, p. 87) observa que o termo grego para “arte” – tékhne – sintetiza “todas as habilidades humanas de operar e configurar […]: tanto o ‘artificial’ como o ‘artístico’”. Ele explica que, nessa perspectiva, natureza e “arte” são estruturalmente equivalentes, os traços imanentes de uma podendo ser conferidos na outra, e conclui que “assim está positivamente fundado que a tradição sintetize a definição aristotélica na fórmula ‘ars imitatur naturam’, como o próprio Aristóteles já o fizera” (BLUMENBERG 2010, p. 88). Blumenberg o afirma para, logo na sequência, constatar o fosso que separa da fórmula aristotélica o horizonte da modernidade, orientado que é pela “medição do espaço livre da liberdade artística”, pela “descoberta da ilimitação do possível contra a finitude do fático”, pela “dissolução da referência à natureza pela autoconcretização histórica do processo artístico, dentro do qual a arte é sempre gerada na e a partir da arte” (BLUMENBERG 2010, p. 89). Perguntando-se por que a “invenção” se torna “o ato significativo no mundo moderno”, por que ela “emerge imageticamente” nas obras de arte da modernidade, Blumenberg observa que a pergunta não pode ser respondida “se não se considera contra que o conceito moderno de homem foi levado a cabo”, e sinaliza: “O páthos veemente com que se atribuiu o caráter de criador ao sujeito foi mobilizado para enfrentar o axioma da ‘imitação da natureza’” (BLUMENBERG 2010, p. 91); ou ainda: “o páthos moderno da autêntica produção humana na arte e na técnica provoca a resistência contra a tradição metafísica da identidade entre ser e natureza, de que a determinação da obra humana como ‘imitação da natureza’ era a exata consequência” (BLUMENBERG 2010, p. 98). Diante dessa tese, torna-se indispensável, diz-nos Blumenberg (2010, p. 98), “uma pesquisa fundamentada da base histórica”; é o que ele buscará oferecer ao longo do texto, determinando, assim, “de modo mais preciso o espaço histórico em que essa oposição ocorre” (BLUMENBERG 2010, p. 91).
Procurando delimitar a concepção platônico-aristotélica da mímesis em sua ênfase na correspondência entre possibilidade e realidade, Blumenberg (2010, p. 105) afirma que ela “não admite que o homem possa atuar mentalmente de maneira originária. Ontologicamente, isso quer dizer: o existente não pode ser ‘enriquecido’ pela obra humana. […] na obra humana, nada essencialmente sucede”. O autor passa, então, em revista diversos momentos da história do pensamento ocidental em busca de modificações ou deslocamentos significativos que apontariam para uma saída desse estado de coisas, rumo a uma visão renovada da arte e de sua relação com o “real” e o “possível”: o helenismo, o estoicismo, o pensamento cristão medieval (Agostinho, Pedro Damian, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Boaventura, Guilherme de Ockham, Nicolau de Cusa), desembocando no horizonte da modernidade com Descartes e Leibniz. Com Descartes, afirma Blumenberg (2010, p. 129), “a filosofia se converte na sistemática do possível; a realidade do ser torna-se agora compreendida a partir da possibilidade do ser”. “O homem ‘escolhe’ seu mundo, como Deus escolheu, a partir do possível, o mundo a criar” (BLUMENBERG 2010, p. 130). Blumenberg observa que Leibniz tentará condensar harmonicamente esses mundos possíveis, equilibrando a pressão das possibilidades infinitas. Quando, entretanto, em meados do século XVIII, o otimismo metafísico leibniziano desmorona, resta o horizonte da infinidade dos mundos possíveis, posto em contato com a representação do poeta criador apenas em 1740, por J. J. Breitinger (Critische Dichtkunst) e J. J. Bodmer (Critischen Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie). Com o aguçamento, no século XIX, de seu caráter factual, a natureza acabará por figurar como “a encarnação dos produtos possíveis da técnica”, e, assim, como a própria antípoda da arte-como-criação, tornando-se odiosa aos olhos do artista moderno. “Só agora se pode apreciar a significação positiva propiciada pela dissolução da identidade entre ser e natureza”, sentencia, com efeito, Blumenberg (2010, p. 134), na conclusão de sua “contribuição à pré-história da ideia do homem criador”.
Arbogast Schmitt abre seu ensaio com um longo trecho do texto de Blumenberg. Ao comentá-lo, critica o autor por reiterar “uma communis opinio, cada vez mais extensa, que vê formar-se, entre Aristóteles e o século XVIII, uma ampla conexão no entendimento da arte e da poesia, contra a qual a modernidade se levantou, pelo desdobramento do conceito de uma subjetividade criadora” (SCHMITT 2010, p. 139) Esse senso comum seria criticável por ignorar a especificidade da teoria poética platônico-aristotélica frente à sua interpretação (deturpação?) renascentista. Reconhece-se, assim, que “a formulação de Aristóteles por Blumenberg deva ao menos deformar algo para que fundamente a tese de que, para Aristóteles, a arte é basicamente imitação da natureza” (SCHMITT 2010, p. 139). Schmitt se esforçará, então, para refutar o referido senso comum, procurando restituir a integridade da concepção aristotélica da mímesis em contraste com a concepção renascentista de imitação poética.
Partindo da análise das “opiniões filosóficas básicas” (SCHMITT 2010, p. 152) subjacentes a cada uma das concepções em questão, Schmitt definirá, nos seguintes termos, a diferença essencial entre ambas no que concerne à problemática da representação e da verossimilhança: O pensamento de Aristóteles é consideravelmente mais universal: o poeta deve apresentar o que, por atos e palavras, decorre de uma certa condição de um homem, com verossimilhança e necessidade; ou melhor, que condição interna de um indivíduo se manifesta quando ele diz ou faz algo. O poeta deve apresentar qual é o universal de um homem, o que subjaz à quantidade imprevisível de suas ações como uma disposição interna dele característica e a ele cabível. A distinção quanto aos “tipos” da poética normativa está em que tais tipos são extraídos da empiria, são articulações típicas de um traço de caráter de uma certa espécie de indivíduo, ao passo que Aristóteles não subordina o poeta a uma “tipificação”. Isso leva a que o número de “tipos” não aumente indefinidamente, enquanto o universal do poeta, para Aristóteles […], sempre pode ter uma nova formulação (SCHMITT 2010, p. 168).
Assim sendo, a excitação contra a frase “a arte imita a natureza” não se dirigiria a Aristóteles, “mas à recepção renascentista do filósofo grego” (SCHMITT 2010, p. 188). Schmitt conclui enfatizando que o objetivo de sua pesquisa foi o de “tornar plausível que a restrição da poesia pelo que está dado não é o resultado da história de dois mil anos do pensamento da imitação, senão que o produto de uma mudança específica do conceito de imitação no início dos tempos modernos” – o que levaria a que o princípio da imitação ainda compreendesse “outras possibilidades muito diversas” (SCHMITT 2010, p. 189).
*** Do texto introdutório a um livro dessa natureza não se esperaria muito mais do que uma apresentação sumária dos autores então contemplados (sobretudo por se tratar de nomes estrangeiros, em sua maioria pouco difundidos no Brasil) e algum tipo de resumo do conteúdo dos textos, a funcionar como convite à leitura dos mesmos. Isso, é claro, se o organizador do livro e autor de sua “Introdução geral” não fosse ninguém menos do que Luiz Costa Lima, nome maior da teoria da literatura no Brasil, conhecido sobretudo por seu esforço pessoal de repensar a mímesis como fenômeno constitutivo da experiência estética, empreendimento que se estende já por três décadas de pesquisa, ensino e publicações. Costa Lima não deixa de fornecer, é certo, uma justificativa plausível para seu projeto de uma coletânea sobre a mímesis nem uma apresentação mínima dos autores e dos textos por ele então editados (todos, aliás, com exceção de um, traduzidos pelo próprio Costa Lima); mas o grande diferencial da introdução que nos oferece é o modo como ela logra reconfigurar a coletânea em função da maior ou menor relevância de cada um dos textos em vista do empreendimento teórico do próprio Costa Lima. Nesse sentido, autores ausentes, que deveriam ter sido incluídos na coletânea mas não foram – caso de Theodor Adorno e de Jacques Derrida –, acabam mesmo por adquirir um peso maior do que autores efetivamente incluídos na coletânea, como Vernant ou Wellbery. A parte da introdução referente a Vernant (COSTA LIMA 2010, p. 11-12) sequer é do próprio Costa Lima (mas do professor José Otávio Nogueira Guimarães, tradutor de “Nascimento de imagens”); ao ensaio de Wellbery sobre Kafka, Costa Lima reserva apenas o último parágrafo da longa introdução, remetendo o leitor interessado ao capítulo de um livro seu em que se ocupa criticamente do referido ensaio. O texto de A. Schimitt justificarse- ia por preencher a “lacuna de, entre nós, quase se desconhecer a poetologia renascentista” (COSTA LIMA 2010, p. 23). Blumenberg, por sua vez, é o autor em que recai o maior interesse de Costa Lima. A Adorno e a Derrida, “os autores que havíamos pensado em incluir nesta coletânea e dela terminaram excluídos”, autores de cujas contribuições “uma reflexão sobre a questão da mímesis no pensamento contemporâneo não poderia prescindir” (COSTA LIMA, 2010, p. 23), Costa Lima dedica uma “síntese introdutória” de vinte páginas, que ocupa metade de toda a introdução.
Atendo-se à declarada finalidade maior do texto de Costa Lima, a saber: “assinalar como a questão da mímesis adere ao próprio questionamento epistemológico contemporâneo” (COSTA LIMA 2010, p. 10-11), pode-se divisar aí o delineamento de uma dicotomia entre posicionamentos diametralmente opostos, epitomados, no caso, em Blumenberg, o primeiro, e em Derrida, o segundo (com Adorno ocupando uma posição intermediária entre os dois, ainda que, ao lado da de Derrida, igualmente insatisfatória para Costa Lima). Um ponto de contato possível entre Blumenberg e Derrida, e aquilo mesmo que pareceria opô-los radicalmente, é o interesse pela questão da metáfora: “em Derrida, a metaforicidade incessante, provocadora do privilégio da experiência estética, por ser ela a única que não escamoteia a différance – isto é, o postergar incessante da conclusão de um enunciado qualquer –, não se confunde com a posição de Blumenberg” (COSTA LIMA 2010, p. 21). E ainda: Se este propõe uma metaforologia, que, de fato, rompe com a sinonímia entre razão e conceito e, daí, com a epistemologia piramidal dos tempos modernos, tendo a ciência em seu ápice, por outro lado, […] se interessava pela questão da mímesis enquanto parte de uma área desprezada pela especulação clássica grega, a área da tékhne. […] ao passo que Derrida permanece filiado a uma espistemologia piramidal, a que desconstrói sem a perda de sua forma geométrica – a pirâmide deixa de ter como cume o conceito, o enunciado unívoco, para que tenha a disseminação incessante de um metafórico interminável –, temos em Blumenberg uma reflexão sobre as diferentes formas de linguagem, em que se reconhece a igual legitimidade de funções diferentes cumpridas pelos mais diferentes discursos. A crítica da posição oferecida ao conceito não significa que seu lugar venha a ser ocupado por seu oposto (COSTA LIMA 2010, p. 21-22).
Como se vê, na dicotomia postulada por Costa Lima, o posicionamento blumenberguiano de ruptura com a “epistemologia piramidal dos tempos modernos”, de reconhecimento da legitimidade das diferentes formas de linguagem e das diferentes funções por elas desempenhadas – encontrandose, nesse sentido, o discurso mimético lado a lado (e não abaixo ou acima) do discurso conceitual – seria claramente preferível ao suposto posicionamento derridiano de mera inversão da hierarquia piramidal moderna, pela qual o cume deixa de ser ocupado pelo conceito, ora rebaixado, para ser ocupado pela metáfora (ou pela “metaforicidade incessante”), outrora rebaixada. Essa alegada inversão hierárquica em Derrida, a metaforicidade passando a vigorar sobre a conceitualidade, não deixaria de implicar a própria dissolução da diferença entre os discursos, ou, para citar Costa Lima (2010, p. 41): “a desconstrução da concepção clássica de metáfora provoca a quebra da separação entre o filosófico e o poético”.2 Costa Lima se contrapõe, em suma, “à identificação derridiana 2 Adorno ocuparia, nesse sentido, uma posição intermediária, em que o privilégio concedido ao “artístico” como portador de uma dimensão crítica frente ao “ideológico” não exclui, antes demanda, o trabalho interpretativo da filosofia, com o qual, contudo, não se confunde.
entre as funções filosófica e poética do uso da palavra”, declarando “a impropriedade de se igualarem uso filosófico e uso poético, pois pertencentes a formas discursivas distintas […]” (COSTA LIMA 2010, p. 40).
Costa Lima não terá sido o primeiro, é certo, a imputar a Derrida uma suposta inversão da hierarquia entre conceitualidade e metaforicidade – ou entre lógica e retórica –, cujo corolário principal seria a dissolução da diferença entre discursos, a equiparação entre filosofia e poesia. O que já não parece mais admissível, sob o risco de uma reencenação involuntária de equívocos passados, é ignorar o corpus considerável de declarações do próprio Derrida em sentido contrário àquilo que se lhe quer então atribuir, sobretudo a partir de sua célebre polêmica com Habermas na década de 1980, motivada justamente pela acusação habermasiana a Derrida de “nivelamento da diferença de gênero entre filosofia e literatura”.
Para retomar a imagem da pirâmide epistemológica moderna empregada por Costa Lima, seria preciso reconhecer, em função de uma visão de conjunto do vasto corpus textual que nos legou Derrida, de suas deliberadas manifestações de repúdio à acusação de “nivelamento” das diferenças discursivas, que o empreendimento desconstrutivo, longe de meramente inverter hierarquias epistemológicas, incidiria, antes, justamente sobre o que se poderia chamar a “lógica piramidal” em seu funcionamento. Se, de fato, é ainda no interior da pirâmide que o trabalho da desconstrução tem lugar (e não foi, aliás, esse trabalho, mais do que qualquer outro em nosso tempo, o que nos ensinou a desconfiar de toda declarada “ruptura”, de toda declarada “superação” do que quer que seja?), um tal trabalho não pressupõe muito menos procura promover nenhum tipo de estabilidade piramidal, seja a que um certo status quo filosófico procuraria resguardar em vista da manutenção de sua hegemonia epistemológica e institucional, seja a vislumbrada por alguma suposta tentativa de inversão hierárquica a destituir o discurso dito conceitual de sua posição hegemônica; um tal trabalho procurará revelar, na verdade, a dinâmica intrínseca à própria disputa pelo topo da hierarquia piramidal, pela hegemonia epistemológica e institucional. Não há, em suma, hierarquia piramidal sem conflito hierárquico, ainda que latente. Em vista da aparente estabilidade piramidal, a desconstrução se pergunta pela escalada da pirâmide, pelo que teria permitido, enfim, àquela configuração hierárquica que se quer fazer passar por natural instituir-se em sua pretensa naturalidade. Por mais monolítica que pareça uma pirâmide, a hierarquia piramidal tem sempre uma história, e é pela historicidade da hierarquia epistemológica que se pergunta sempre a descontrução, o acontecimento desconstrutivo confundindo-se mesmo com um tal questionamento.
A bem da verdade, não há saída simples da pirâmide: é preciso aprender a se deslocar dentro dela, deslocando-a. Não se pode, pois, simplesmente reconhecer “a igual legitimidade de funções diferentes cumpridas pelos mais diferentes discursos”, como se, por um ato de vontade filosófica, o regime moderno de hierarquização epistemológica se visse definitivamente superado: não se superam as hierarquias simplesmente ignorando sua existência, simplesmente postulando a ruptura com a “epistemologia piramidal dos tempos modernos”. E o próprio gesto de atribuir legitimidade ao que quer que seja não pareceria pressupor, ele mesmo, algum tipo de hierarquia epistemológica? (A quem cabe, afinal, legitimar as “formas de linguagem”, as “funções discursivas”, e por quê? De que instância de legitimação se trata?) Uma teoria da mímesis, qualquer que seja ela, mesmo que venha a postular um regime discursivo-epistemológico “pós-piramidal” no qual os diferentes discursos e funções discursivas conviveriam lado a lado, não pode deixar de estar submetida, ela própria, como gesto teórico, ao tipo de disputa ou de conflito hierárquico para o qual aponta a desconstrução. Isso posto, não pareceria equivocado tomar como indicador principal da contemporaneidade de uma reflexão teórica o seu maior ou menor esforço em refletir, em si mesma, suas próprias condições (conflituais) de possibilidade.
Referências
BLUMENBERG, H. “Imitação da natureza”: contribuição à pré-história da ideia do homem criador. In: COSTA LIMA, L. (Org.) Mímesis e a reflexão contemporânea. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. p. 87-135.
COSTA LIMA, L. Introdução geral. In: COSTA LIMA, L. (Org.) Mímesis e a reflexão contemporânea. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. p. 7-49.
SCHMITT, A. Mímesis em Aristóteles e nos comentários da Poética no Renascimento: da mudança do pensamento sobre a imitação da natureza no começo dos tempos modernos. In: COSTA LIMA, L. (Org.) Mímesis e a reflexão contemporânea. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. p. 137- 189.
VERNANT, J. P. Nascimento das imagens. In: COSTA LIMA, L. (Org.) Mímesis e a reflexão contemporânea. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. p. 51-86.
WELLBERY, D. O processo de dissimulação: “O silêncio das sereias”, de Kafka.
In: COSTA LIMA, L. (Org.) Mímesis e a reflexão contemporânea. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. p. 191-215.
[1] Sobre o modo como a formação acadêmica e as relações intelectuais de Vernant teriam influenciado o tipo de tratamento por ele dispensado a seus objetos de investigação, confira-se a esclarecedora entrevista com o autor realizada pelo professor José Otávio Nogueira Guimarães e que se encontra no final da coletânea, na qual Vernant se manifesta sobre sua relação com três de seus colegas no Collège de France: Dumézil, Lévi-Strauss e Foucault.
Nabil Araújo – Doutorando Universidade Federal de Minas Gerais nabil.araujo@gmail.com Rua Curvelo, 58/15 – Floresta 31015-172 – Belo Horizonte – MG Brasil.
O controle do imaginário e a afirmação do romance: Dom Quixote, As relações perigosas, Moll Flanders, Tristram Shandy – COSTA LIMA (HH)
COSTA LIMA, Luiz. O controle do imaginário e a afirmação do romance: Dom Quixote, As relações perigosas, Moll Flanders, Tristram Shandy. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, 398 p. Resenha de: ROIZ, Diogo. A ascensão do romance na história europeia. História da historiografia. Ouro Preto, n.6, p.234-239, março 2011.
Pareceu-me […] que uma maneira de avançar na indagação proposta haveria de consistir no destaque da relação entre os modos diferenciais de controle, presentes entre o Renascimento e o realce do pensamento científico (Bacon e Descartes), e o gênero romanesco, cuja afirmação fora adiada e continuaria a ser prejudicada mesmo depois de sua aparição auspiciosa com o Quijote. Não se pretende dizer com isso que o romance estivesse contido na ordem das coisas, como um fruto cuja semente apenas demorasse a brotar, senão que, como gênero implica uma linguagem […] que contrariava tanto o controle ético-retórico, de fundo religioso, quanto o estimulado pela justificação da ciência. Tínhamos assim ocasião de precisar a incidência direta do controle do imaginário sobre a ficcionalidade do romance (COSTA LIMA 2009, pp. 324-325. Grifos do autor).
Assim, Luiz Costa Lima resume, habilmente, seu novo livro, lançado em março de 2009. Após publicar em 2007, em uma versão totalmente revista, de sua Trilogia do controle, em que reunia os livros O controle do Imaginário: razão e imaginação nos tempos modernos (de 1984), Sociedade e discurso ficcional (de 1986) e O fingidor e o censor (de 1988), observava que, mesmo com os cortes e os ajustes, ainda estava insatisfeito com a teorização que propunha sobre o “controle do imaginário” diante da criação literária europeia moderna e contemporânea. Embora indique que a trilogia foi continuada e aprofundada por O controle do imaginário & a afirmação do romance, que constituiria seu último livro, encerrando uma longa pesquisa (de quase três décadas), sendo um fato, facilmente, verificável no decorrer da obra, pareceunos também que o novo livro dá ainda uma continuidade mais direta ao seu livro História. Ficção. Literatura, lançado em 2006, também pela editora Companhia das Letras, no qual dimensiona o aparecimento de cada um daqueles campos do saber, as discussões que suscitaram no tempo e as aproximações e os distanciamentos entre a escrita da história e o romance.
Diferentemente daqueles casos, neste novo livro, contudo, o autor aborda de que maneira houve o aparecimento do romance moderno, ao transcender, concomitantemente, tanto o controle do imaginário forjado pela ética religiosa quanto por aquele construído pelo discurso científico, dando ênfase aos casos de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes (1547-1616), As relações perigosas, de Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos (1741-1803), Moll Flanders, de Daniel Defoe (c.1660-1731), e Tristram Shandy, de Laurence Sterne (1713- 1768).
De imediato, vale destacar, que, evidentemente, as pressões desse controle do imaginário, circunstanciado na criação artística da pena dos literatos, não se esvaiu, imediata ou completamente, de uma vez, mas foi um processo lento e gradual. O autor indica que o ápice desse processo ocorreu entre o final do século XVIII e o início do XIX, período no qual o romance produziu um discurso autônomo, frente àquelas antigas amarras do imaginário – o que, ao mesmo tempo, não queria representar a possibilidade de criação de outras barreiras (censuras políticas, novos controles, alteração de movimentos literários em hegemonia, etc.). Para Costa Lima, foi, a partir do século XVIII, que “o romance torna-se o gênero ficcional por excelência da modernidade” (Ibidem, p. 19). Neste período, no entanto, o controle do imaginário se apresentaria em duas situações: Em princípio, está sempre implícito, pois não há sociedade sem regras, e onde há regras há controle. Mas ele não assume um aspecto visível e marcante se a instituição ou a sociedade que o ativa não está em crise, ou sob sua iminente ameaça. Se o controle será exercido sobre o romance, tanto se pode dizer que a crise afetara a Igreja católica, enquanto matriz dos valores institucionalizados, como atingira o poder configurado nas cidades-Estado italianas. (Ibidem, p. 21).
Em circunstâncias a priori adversas, agrupar-se-ia a este tipo de controle de cunho moral, de aspecto religioso, outro tipo de controle produzido pelo discurso científico, com a revolução científica do século XVII, que criaria também um tipo peculiar de visão sobre o mundo e a natureza, o que faria com que o próprio imaginário social fosse refeito em meio a essas novas descobertas.
Nesse contexto, a produção romanesca estaria permeada por essas duas construções discursivas, que forjaram, igualmente, formas de controle sobre o imaginário e sobre a sociedade, cujas raízes, de início, não teriam como também não estar presentes sobre a escrita literária dos romances produzidos nessa época.
Para demonstrar suas hipóteses, o autor analisa, primeiro, o contexto teórico em que foram produzidos aqueles tipos de controles, indo do Renascimento à Contrarreforma e desta até o Iluminismo, apresentando, pormenorizadamente, os principais traços desses movimentos e a maneira através da qual incidiram sobre a produção literária. Após expor seu programa teórico para o estudo do controle do imaginário imposto aos romances procurou aplicar, de modo mais específico e detalhado, seus procedimentos em alguns romances paradigmáticos do período, que foram citados acima. Foi diante dessas circunstâncias específicas que: A dissimulação, que implicava esconder-se o esforço imposto para seu cumprimento, ‘imitava’ exatamente a regra da arte, da qual manifestamente se distanciava. A ficção possível era controlada pela ficção externa (falsidade, mentira, embromação). Dito de maneira mais explícita: os mecanismos de controle se exerciam por uma medicina homeopática, isto é, o controle era o ‘veneno’ com o qual tanto se reduzia a ficção interna, permitindo-se que circulasse desde que não irrealizasse normas substantivas, quanto se privilegiava o diálogo do faz de conta. (Ibidem, p.54. Grifos do autor).
O exercício imposto às técnicas de construção literária por tal mecanismo estabelecer-se-ia de modo implícito. No entanto, à medida em que passavam das pequenas cortes italianas do começo do século XVI para a Espanha da primeira metade do XVII e, daí, para a França absolutista da segunda metade, os mecanismos de controle do ficcional, por um lado, mostravam-se em um palco internacional e, por outro, ofereciam condições de verificar-se, ao menos em parte, o que haviam procurado esconder. (Ibidem, p. 57).
Todavia: O fenômeno do controle do imaginário só pode ser intuído a partir do instante, das décadas finais do século XVIII, em que a arte se autonomiza das instituições de que estivera a serviço. Mas, paradoxalmente, a arte, no processo de sua autonomização, não esteve motivada para repensar o processo do controle. Seu horizonte concentrava-se na visão da liberdade a conquistar (Ibidem, p. 60. Grifos do autor).
Em função disso, o controle é um instrumento político cujos efeitos são de ordem estética […]; ele tanto interfere na construção das obras em circulação como provoca o retardo no aparecimento do romance dos tempos modernos e, depois, de sua legitimação institucional. (Ibidem, p. 78).
A eficiência com que tais mecanismos envolviam-se com o processo de produção dos romances se devia também ao fato de que a “experiência da arte […] não nos dá acesso a puras imagens, mas a objetos tematizados e recebidos como imaginários” (Ibidem, p. 154. Grifos do autor). E essas questões, quando não controladas, poderiam expor as próprias fragilidades com que os mecanismos de controle aspiravam camuflar, silenciosamente, para manter, em outra extremidade, a posse dos meios de controle da esfera sociocultural.
Digno de nota sobre essa questão é o tratamento oferecido pelo autor, no capítulo O imaginário e a imaginação (Ibidem, pp. 110-155). Nesse capítulo, além de circunstanciar, historicamente, a criação desses conceitos, também procurou indicar de que maneira os mecanismos de controle e a produção literária apoiavam-se neles para mediar seus diálogos com a sociedade, assim como, manter ou alterar suas expectativas (temporais, políticas, culturais, etc.).
Afinal, como os “mecanismos de controle, por definição, mudam de acordo com os valores que os configuram”, (Ibidem, p. 195) o “fato de que o romance se tenha tornado o gênero dominante na ficção da modernidade não significa, de imediato, senão que certa configuração do controle metamorfoseou-se noutra” (Ibidem, 2009, p. 177), cujas funções, entretanto, não deixariam de corresponder as suas formas anteriores.
Nesses termos, devemos notar ainda que “o controle científico não substitui o antigo [de cunho religioso], senão que se acrescenta a seu conteúdo” (Ibidem, 2009, p. 201), pois, é certo “que a mudança de eixo do controle afeta a importância que antes tinham os gêneros e as técnicas predeterminados como modelos pela retórica, prática substituída pela atenção ao factual”. Contudo, “em situações de cunho moral, permanec[ia]m as normas do antigo controle” (Ibidem, p. 195). Por isso, não é sem sentido que o romance trate de questões morais dando-lhes novos contornos, em função de suas críticas implícitas ou explícitas à operacionalidade do sistema, de modo a tentar transpô-lo. Ao ultrapassar o sistema, o romance busca apoiar-se no acontecido – nos fatos “reais” e dignos de nota, mas também naqueles de menor significado social – como medida de representação plausível à temática desenvolvida no enredo da narrativa, assim como para se privar de formas mais incisivas de controle sobre sua elaboração, sua publicação e sua distribuição. Isso porque a “presença do controle científico limitava-se à exaltação do fato, que aglutinava agora os instrumentos que haviam sustentado o controle de orientação religiosa” (Ibidem, p. 201).
É desnecessário acrescentar que, nesta resenha, seria impossível conceder, ainda que de forma muito sucinta, o tratamento adequado à análise feita pelo autor sobre os romances paradigmáticos do período, a saber: Dom Quixote, As relações perigosas, Moll Flanders e Tristram Shandy. Para o autor, tais obras cobririam os principais momentos e questões circunstanciadas tanto pelo controle do imaginário de cunho religioso, depois científicos. Ao mesmo tempo, neste ínterim, deram-se as bases para a autonomização do discurso literário, que configuraria o amadurecimento e a afirmação do romance moderno.
Evidentemente, a escolha daqueles romances não excluiria a possibilidade de análise de outros, cuja importância o autor não deixa de indicar, mas, em função também de predisposições pessoais, deliberadamente, selecionou aqueles e não outros.
Ora, justamente, por ser um acerto de contas com sua produção anterior, cuja insatisfação o predispôs a mais esta empreitada, buscando um avanço sobre suas interpretações anteriores ao articular os mecanismos de controle do imaginário (religioso e científico) às circunstâncias que forjaram o aparecimento e a afirmação, entre os séculos XVI e XVIII, do romance moderno, este livro constitui uma importante referência deste campo temático, sendo, merecidamente, laureado com o segundo lugar no prêmio Jabuti de 2010, cujo primeiro lugar, na categoria Teoria/Crítica Literária, ficou com a obra A clave do poético de Benedito Nunes.
Por fim, destacamos que este livro ganha em substância ao ser lido na sequência de Trilogia do controle e de História. Ficção. Literatura, pois, o leitor pode acompanhar, passo a passo, os principais momentos em que se desenvolveram suas hipóteses, suas teorias e suas interpretações sobre os mecanismos de controle do imaginário e as ressonâncias desses mecanismos sobre a produção literária do período moderno e contemporâneo, em que ocorreu a afirmação do romance moderno no Ocidente. O leitor pode também evidenciar outros exemplos de controle já que, em sua Trilogia do controle, Costa Lima dá destaque à análise de outros romances e de outros autores.
Nesse sentido, valendo tanto pelo conjunto, quanto pela qualidade analítica presente neste livro, a obra de Luiz Costa Lima apresenta-se como a de poucas no país, cuja forma de interpretação segue uma constância e uma coerência teórica e metodológica, representando um significativo acréscimo sobre o entendimento de questões fundamentais a respeito da relação complexa e mutável entre formas de sociedade, formas de saberes e formas de ficção, além de aproximar os eixos da teoria literária, da filosofia e da história em uma abordagem interdisciplinar profícua para todas as áreas.
Referências
COSTA LIMA, Luiz. História. Ficção. Literatura. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
____. Trilogia do controle. O controle do imaginário. Sociedade e discurso ficcional. O fingidor e o censor. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007.
Diogo Roiz – Doutorando Universidade Federal do Paraná. E-mail: diogosr@yahoo.com.br. Rua Tibagi, 404/100 – Centro 80060-110 – Curitiba – PR Brasil.
Urdidura do Vivido: Visão do Paraíso e a obra de Sérgio Buarque de Holanda nos anos 1950 – NICODEMO (HH)
NICODEMO, Thiago Lima. Urdidura do Vivido: Visão do Paraíso e a obra de Sérgio Buarque de Holanda nos anos 1950. São Paulo: EdUSP, 2008, 248 p. Resenha de: MONTEIRO, Pedro Meira. Permanência e mudança: em torno de Sérgio Buarque de Holanda. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 6, p. 221-227, março 2011.
Urdidura do Vivido, de Thiago Lima Nicodemo, é uma contribuição fundamental à fortuna crítica de Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982). Tratase do primeiro livro dedicado, inteiramente, a Visão do Paraíso, obra-prima do historiador, publicada como tese, em 1958, e, no ano seguinte, na forma de livro.
A escolha de uma palavra rara no título (“urdidura”) revela, inicialmente, um leitor atento às sugestões da obra buarquiana: aquilo que se urde é o reflexo de uma imaginação voltada para os espaços móveis e cambiantes, indefinidos e porosos, que constituem o centro das preocupações de Sérgio Buarque. Assim, indica-se o leque metafórico aberto pelos títulos de seus livros e ensaios produzidos depois de Raízes do Brasil, a partir da década de 1940: caminhos, fronteiras, veredas, redes, todos evocando a fluidez de territórios refratários à cristalização, através dos quais ideias e técnicas conjugam-se, confrontam-se e adaptam-se “com a consistência do couro, não a do bronze”, para lembrar uma passagem célebre de Monções, de 1945.
A ideia de um espaço em que o vivido é urdido, tramado, submetido a uma amarração singular e sempre passível de novas combinações, sugere também que Thiago Nicodemo deve muito – como aliás todos os que nos dedicamos ao estudo da obra buarquiana – às reflexões de Maria Odila Dias, para quem o problema da permanência e da mudança é central. Como fixar, com as palavras, um universo que, entregue a um fluxo complexo como os que estão presentes nos estudos históricos, é em si mesmo contrário à fixidez? Essas e outras questões são abordadas pelo livro de Thiago Nicodemo, que revisita, por meio de um criterioso trabalho de pesquisa, o terreno híbrido no qual se pode situar a obra de Sérgio Buarque. Ainda no plano das condições de produção de um estudo como este, vale lembrar que, na década seguinte à morte do autor de Visão do Paraíso, abriram-se as sendas para que os estudiosos prestassem atenção à indissociabilidade entre o historiador e o crítico literário.
A publicação de Capítulos de Literatura Colonial, em 1991, e da crítica literária esparsa, com O Espírito e a Letra, de 1996, por iniciativa, respectivamente, de Antonio Candido e Antonio Arnoni Prado, permitiu sondar a zona em que os dois campos – a análise histórica e a literária – dialogam, constituindo um objeto singular, apontando para os problemas comuns da permanência e da mudança. Em outros termos, trata-se de avaliar aquilo que é irredutível, compreensível apenas em certo tempo e espaço, e aquilo que parece escapar em direção a outros tempos e espaços, reduzindo-se a fórmulas que atravessam as fronteiras para reaparecer aqui e ali, sem que saibamos, num primeiro momento, qual a sua proveniência. A questão fundamental, que constitui o cerne da investigação de Urdidura do Vivido, é o balanço irresolúvel entre a “vida”, de um lado, e a possibilidade de inscrevê-la no corpo de um conhecimento sem reduzi-la a uma fórmula morta e vã, de outro. Não à toa, estes são problemas comuns aos dois campos, e é de uma peculiar combinação entre o crítico e o historiador que nasce a escrita de Visão do Paraíso.
Urdidura do Vivido situa, em um quadro de largo alcance, o problema do rompimento com o passado, do momento em que se torna possível abandonálo.
Ou ainda, nos termos de Goethe, trabalhados por Thiago Nicodemo, tratavase da fantasia de que pudéssemos nos emancipar dele, livrando-nos do seu jugo para prometeicamente (ou fausticamente) avançar em direção ao futuro, finalmente liberados da tralha fantasmática que nos ata ao passado. Esse é o ponto de partida da análise, que recorda que o fazer histórico é, necessariamente, uma intervenção no tempo, conforme a croceana ideia de uma história sempre, inevitavelmente, “contemporânea”.
À medida que se avança na leitura de Urdidura do Vivido, aprende-se como, da escrita de Bloch à refundação moderna do romanismo em Curtius, encontra-se uma questão agônica, incompreensível sem que se considere a Segunda Guerra: a necessidade de não mais permitir que a história fosse um instrumento de manipulação ideológica. Nesse sentido é que o romanismo de Curtius surge como uma maneira de se imaginar um espaço europeu anterior aos nacionalismos mais estritos e restritivos, fundados em equívocas mitologias locais. Para se pensar em termos ainda mais amplos, Urdidura do Vivido permite lembrar que a própria ideia de uma civilização baseada na herança das línguas românicas era uma forma de reagir à atomização pela qual passara a Europa, postulando uma espécie de eixo central que organiza a cultura que viria a ser chamada “ocidental”. Assim, uma senda e uma pergunta abrem-se aos pesquisadores: como avaliar as leituras, fascinações e influências de Sérgio Buarque de Holanda a partir do fim da Segunda Guerra, em contraste àquilo que foram as leituras de sua fase “alemã” (1929-1930), para lembrar expressão de Antonio Candido também recordada por Thiago Nicodemo? O primeiro capítulo, intitulado “O Historiador Encontra o Crítico”, traz algumas pistas interessantes nessa direção, uma vez que se aprende, detalhadamente, como a tópica de Curtius, retrabalhada e “historicizada”, permitiu a Sérgio Buarque rebater o caráter ahistórico que ele repudiava nas análises “formalistas” (os anos 50 foram o tempo de glória do New Criticism), aliando, a um profundo senso de mudança, a possibilidade de pensar fórmulas retóricas e lugares literários que atravessam o tempo – como o serão as tópicas do paraíso terrenal estudadas nos textos de viajantes e cronistas.
Torna-se então fundamental perceber a gestação de Visão do Paraíso não apenas como possibilitada pelos anos que Sérgio Buarque passou em Roma (1952-1954), mas também por esse amplo debate, e pela tentativa de compreender que fórmulas à primeira vista atemporais são, na verdade, utilizadas dentro de quadros históricos específicos. Ademais, como lembra Thiago Nicodemo, as investigações de Sérgio Buarque foram, em certo momento, parte de um esforço coletivo pela compreensão da “história da literatura brasileira”, segundo o projeto capitaneado por Álvaro Lins, que teria Sérgio como responsável pelo segmento de “literatura colonial”. Nas pesquisas do historiador da literatura, portanto, começa a surgir a atenção pelo recorrente tema das delícias da terra, que jamais deveria ser confundido com um sentimento protonacionalista, evitando assim que as fantasias patrióticas do século XIX se imiscuíssem à análise do texto colonial.
Todo o problema da “originalidade” e do quadro retórico e analógico em que se desenvolve a literatura colonial revela-se neste ponto. Teria sido interessante um diálogo entre Thiago Nicodemo e Alcir Pécora, que, em um texto originalmente publicado em 2002, analisou a interpretação buarquiana do padre Vieira e de Tomás Antonio Gonzaga, voltada, segundo o crítico, às “diferenças do passado”. Pécora resolutamente advoga que Sérgio resguarda-se das leituras teleológicas da poesia setecentista e o faz de forma especialmente interessante ao considerar os seus modelos internacionais, sobretudo os italianos, permitindo-lhe adotar uma crítica convincente do vocabulário usualmente empregado no tratamento dos árcades (PÉCORA 2008, p. 26).
A questão é também candente, hoje ainda, no âmbito da teoria literária, sempre que se discute o quanto o crítico pode ou deve reportar-se ao conjunto de verossímeis e de valores que conformam a produção colonial, por exemplo.
Como se tal crítico, em suma, devesse mergulhar em um tempo alheio ao seu próprio. Em outros termos, trata-se de verificar até onde a atenção à teia retórica (onde se situa a crítica de Pécora e de João Adolfo Hansen, para citar apenas dois nomes fundamentais) prende um autor a “seu tempo”, e até onde categorias forjadas a partir do século XIX devem ser simplesmente descartadas na análise de textos coloniais.
Dialogando com as teses maiores de Visão do Paraíso, o capítulo seguinte (“Idade Média, Renascimento e a Escrita da História em Visão do Paraíso”) enfrenta a questão, central para Sérgio Buarque, de uma suposta ausência de ruptura em relação ao mundo medieval, na forma mentis dos portugueses. O desafio era saber como, diante da paisagem do Novo Mundo, ressuscitou-se todo um complexo universo de referências tradicionais e como, no caso específico dos portugueses, as formas do pensar não teriam sido radicalmente alteradas diante da “novidade” da América, que fica assim subsumida a concepções mais “realistas” e “pedestres” do novo. Um dos méritos da investigação de Thiago Nicodemo é o de iluminar a questão por meio da análise dos debates registrados durante defesa de tese na Universidade de São Paulo, quando o então candidato Sérgio Buarque de Holanda retomava seu diálogo com Eduardo D’Oliveira França, membro da banca examinadora que aprovaria Visão do Paraíso e permitiria a Sérgio assumir a cátedra de História da Civilização Brasileira naquela instituição. O debate corria em torno da continuidade ou da quebra de uma visão “medieval” portuguesa, e da possibilidade ou não de se compreender a ação humana por meio de conceitos abrangentes e desencarnados.
Uma vez mais, assoma o problema da “ruptura”, isto é, do momento em que permanência e mudança confrontam-se. A explicação básica de Sérgio Buarque é a de que o caráter prematuro da centralização política em Portugal (o primeiro Estado moderno, por assim dizer) desobrigou as novas classes (aí o caráter “burguês” da Casa de Avis) de se constituir em agentes novos, permitindo que se aferrassem a um “estranho conluio de elementos tradicionais e expressões novas” (NICODEMO 2008, p. 111), como se lê em Visão do Paraíso, que neste ponto explicita os andaimes de uma tese já presente em Raízes do Brasil: a de que o povo português é, em certo sentido, refratário à novidade do Renascimento e ao espírito especulativo da ciência moderna em sua aurora. O caráter prático, chão e pedestre da forma de pensar de portugueses vai marcar, finalmente, sua visão do paraíso, que seria sempre mais crédula e simples (ou antes: pacificamente analógica) que a dos espanhóis.
Retomando cuidadosamente a história da conceituação da “Idade Média”, do humanismo italiano ao idealismo alemão e à periodização romântica de um tempo progressivo, Thiago Nicodemo deslinda o que lhe parece ser uma “flexibilização”, em Visão do Paraíso, da dualidade que contrapõe o medievo à era moderna (idem, p. 117), e nesse aspecto é novamente Curtius quem aparece como principal referência, ao lado de um autor como Panofsky. O pano de fundo desse intrincado debate (especialmente, embora não exclusivamente, alemão) é a questão dos limites entre a Idade Média e o Renascimento (tema que recende a Burckhardt), mas é também a possibilidade de encontrar resquícios de um no outro, ou antes, de buscar, no outro, aquilo que se imagina exclusivo de um dos polos. Aí, o berço dos debates sobre o “dionisíaco”, e da entrada em cena de elementos “irracionais” para o desvendamento da lógica e dos limites do legado “racional” que o senso comum atribui ao corte operado pelo Renascimento. Alinham-se então intelectuais como Huizinga, Bloch e Warburg [que] vivenciaram o ambiente de crítica ao racionalismo e positivismo de antes da Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, formularam concepções de história atentas a significados de um mundo pré-industrial no qual as crenças e os mitos tinham papel fundamental. Isso implicava a revisão de certos temas em comum, tais como o da ideia da Idade Média como lugar desinteressante, de trevas e irracionalidade. No outro extremo, foi necessário rever o Renascimento como sinônimo de racionalidade e equilíbrio (NICODEMO 2008, p. 127).
Teria sido interessante, aqui também, ver Thiago Nicodemo reagir à leitura, profundamente cética, de Maria Sylvia Carvalho Franco (citada de passagem nas “Considerações Finais”) a respeito da tese da continuação do medievo no Renascimento, em Visão do Paraíso. Afinal, o encantamento com o mítico e o pré-moderno não seria um ponto em que os debates historiográficos em questão encontram certa potência “regressiva” já presente no modernismo brasileiro? Foi nas águas desse modernismo, encantado por um mundo não cartesiano, que se formara a imaginação do jovem Sérgio Buarque, muito antes de ele se tornar o historiador erudito reconhecido por todos. Além disso, haverá, todavia, um ponto cego a trabalhar em Visão do Paraíso: grande parte da argumentação sobre o senso de “maravilha” que rege a imaginação espanhola, em oposição ao realismo pedestre dos portugueses, está baseada nos relatos de Colombo, cuja visão do mundo é um tema em si complexo, e ainda aberto a investigações. Identificar a imaginação colombina à face “espanhola” da descoberta da América pode ser um rico problema a contraditar, de forma a revisitar e homenagear a grandeza de Visão do Paraíso.
Ainda no segundo capítulo, recupera-se a tensão entre a irredutibilidade e unicidade do fenômeno histórico e o desejo de subsumir tais fenômenos, em seu âmbito individual, a macro-estruturas ou estruturas profundas que regeriam e explicariam o social. Tratava-se do grande debate entre a história e a antropologia de corte estruturalista, o qual, como lembra Thiago Nicodemo, tem no Brasil um momento inaugural, quando os jovens Braudel e Lévi-Strauss ensinavam na USP. Entre a lentidão das mudanças estruturais e o torvelinho das mudanças de superfície, projetava-se, novamente, o tema do movimento e do fluxo, e o problema de onde (e como) encontrar o ponto em que a permanência dá lugar à mudança, ou ainda a zona em que ambas – permanência e mudança – convivem. Esse é o pano de fundo contra o qual se coloca o pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, que se pode compreender como uma alta expressão brasileira do debate historiográfico europeu, em meio ao qual se legitimariam, a partir dos anos 50, as várias matrizes do marxismo acadêmico.
A oscilação entre o ponto pequeno da análise individual, com a atenção voltada para os mínimos detalhes da vida, e as grandes correntes mentais que se deixariam codificar em conceitos e termos abrangentes, forma o núcleo do debate historiográfico moderno, às vezes pensado por meio da tensão entre o conhecimento idiográfico e o saber nomotético. A solução buarquiana para tal problema metodológico seria a busca incessante, nos documentos (aí incluída a literatura), dos “vestígios” de sensibilidades passadas, que caberia ao historiador assumir momentaneamente, sempre que quisesse compreender o ponto em que a ação individual encontra o horizonte coletivo de sensibilidades e expectativas, sendo que apenas tal horizonte permitir-lhe-ia, afinal, pensar a história como algo para além do anedótico.
O terceiro e último capítulo (“Sentidos da Colonização”) evidencia as articulações do pensamento buarquiano, conectando preocupações presentes em Raízes do Brasil (1936) a Visão da Paraíso, passando pela inédita dissertação de mestrado apresentada, ainda em 1958, à Escola de Sociologia e Política: Elementos Formadores da Sociedade Portuguesa na Época dos Descobrimentos.
Trata-se de uma interessante reconstrução da ideia prevalecente de um espírito “aventureiro”, como se lia em Raízes do Brasil, a orientar a exploração lusitana.
Uma espécie de mal de origem – tão fundamental na imaginação negativa do que foi a formação do Brasil contemporâneo – explicita-se na ideia de que a colonização portuguesa funda uma sociedade voltada para fora, incapaz de desenvolver-se com vistas a si mesma.
A interlocução com Caio Prado Jr., bem como a importância das teses principais de Raízes do Brasil, ilumina assim a feitura de Visão do Paraíso. O que não impede Thiago Nicodemo de corroborar a noção corrente – a meu ver redutora – de que entre Raízes do Brasil e os trabalhos históricos posteriores haveria uma espécie de evolução, de um Sérgio Buarque que se profissionaliza e que, portanto, abandona o que, em seu ensaio de estreia, teria sido a “rigidez de conceitos e modelos explicativos” (NICODEMO 2008, p. 182). É amplamente sabido que Sérgio Buarque renegou, até certo ponto, Raízes do Brasil, confrontando-se, em vários momentos de sua vida, com o fantasma daquele livro que durante tanto tempo causou mal-estar (especialmente na USP, há que lembrar), seja pelo seu caráter ensaístico, seja por seu suposto reducionismo sociológico (que facilmente seria identificado como “ideológico”).
O quanto tal reducionismo é fruto de uma leitura pobre de Raízes do Brasil é ainda matéria controversa, assim como a mutação de um Sérgio Buarque “sociólogo” em “historiador”, que pauta não poucas leituras de sua obra, pode também ser questionada.
Embora não se detenha sobre tais aspectos, e por momentos corrobore a visão negativa do próprio Sérgio Buarque sobre Raízes do Brasil, Thiago Nicodemo nota como a centralização precoce do Estado português é o núcleo explicativo do “desleixo” da empresa lusitana nos trópicos, com fortes implicações para a compreensão do “sentido” da colonização. Uma pergunta do presente, portanto, organiza o passado, sem pretensões teleológicas ou messiânicas, mas simplesmente como parte daquela tarefa original do historiador, trabalhada na “Introdução”, de “exorcizar” o fantasma do passado, desencantando-o pelo conhecimento. Nesse ponto, justamente, Urididura do Vivido promove um brilhante curto-circuito entre as reedições de Raízes do Brasil e Visão do Paraíso, notando como a mudança de tom, da primeira para a segunda edição de Raízes, é já o fruto de uma oscilação entre a ideia de um “acerto” português nos trópicos e uma dúvida sobre o mesmo acerto, como se o “taumaturgo” (no primeiro caso) tivesse cedido ao “exorcista” (no segundo momento), de acordo já com os termos do prefácio à segunda edição de Visão do Paraíso.
O nó da questão é, em certo sentido, o futuro do Brasil: com aquelas raízes, que fazer? Tal pergunta faz com que a investigação regresse, inevitavelmente, aos anos modernistas de Sérgio Buarque e à sua insatisfação declarada com a forma final da nacionalidade, isto é, com sua arquitetura ideal.
O livro de Thiago Nicodemo tem o imenso mérito de recordar essas conexões entre o modernista de primeira hora e o pesquisador maduro, mostrando, ao mesmo tempo, que há ainda muito a percorrer no terreno da análise da obra de Sérgio Buarque de Holanda. Entretanto, com a publicação de Urdidura do Vivido, qualquer investigação passa agora a contar com uma compreensão densa e ampla dos caminhos do pensamento buarquiano nos anos 1950. Lastro e muita vela.
Referências
PÉCORA, Alcir. A importância de ser prudente. In: MONTEIRO, Pedro Meira; EUGÊNIO, João Kennedy (org.). Sérgio Buarque de Holanda: perspectivas. Rio de Janeiro/ Campinas: EdUERJ/ Editora Unicamp, 2008.
Pedro Meira Monteiro – Professor Princeton University pmeira@Princeton.EDU 349 East Pyne 08544 Princeton – NJ.
Teoria da história; Historiografia; Ceticismo.
Em terreno movediço: biografia e história na obra de Octávio Tarquínio de Sousa – GONÇALVES (HH)
GONÇALVES, Marcia de Almeida. Em terreno movediço: biografia e história na obra de Octávio Tarquínio de Sousa. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009, 348 p. Biografia e historiografia brasileira. Resenha de: TOLENTINO, Thiago Lenine Tito. Biografia e historiografia brasileira. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 6, p.199-203, março 2011.
Apesar de, historicamente, preencher espaços volumosos nas estantes de bibliotecas e nos catálogos editoriais, o gênero biográfico brasileiro é objeto de poucos estudos no âmbito da história da historiografia brasileira. Desde a criação do IHGB, em 1838, até meados do século XX, o fazer biográfico esteve, não sem sofrer mudanças significativas nos modos da escrita e das concepções acerca do gênero, sempre no horizonte da atividade do historiador brasileiro. O livro de Marcia de Almeida Gonçalves, fruto de sua tese de doutorado defendida em 2003 na FFLCH/USP, contribui, nesse sentido, de forma primordial aos estudos acerca do gênero biográfico brasileiro. A obra revela a riqueza de um debate, hoje esquecido, que, já nos anos 1920, pautava-se em torno de questões como as das relações da biografia com a história e com a literatura, assim como, no reconhecimento do gênero biográfico como perspectiva capaz de contemplar a importância da compreensão do indivíduo durante o pós-guerra, em diálogo com as descobertas psicanalíticas e com a consolidação da sociedade burguesa.
Na construção de uma análise historiográfica acerca do gênero biográfico, a autora optou por ter um personagem como ponto de partida: Octávio Tarquínio de Sousa. A escolha é bastante acertada. Tarquínio de Sousa (1889-1959), historiador/biógrafo relativamente desconhecido, foi o autor de uma série de biografias que, em 1958, foram reunidas sob o título de História dos Fundadores do Império do Brasil (1958). Vinte anos, porém, separam a História dos Fundadores da publicação da primeira biografia escrita pelo autor: Bernardo Pereira de Vasconcelos e seu tempo (1937). Durante todos esses anos, as reflexões de Octávio Tarquínio acerca do gênero biográfico ganharam variados contornos relacionados às diferentes influências intelectuais com as quais teve contato.
O livro de Gonçalves é particularmente fértil, justamente, na recomposição das perspectivas desenvolvidas acerca da biografia desde os anos 1920 até a década de 1950. Tais perspectivas tiveram ressonâncias distintas no interior da obra de Tarquínio de Sousa.
A produção biográfica de Tarquínio de Sousa desenvolveu-se em uma época que foi tida pelos escritores contemporâneos como um período de uma “epidemia biográfica”. Essa constatação pode ser verificada no fato de o gênero biográfico figurar, nos anos 1930/40, entre os cinco mais publicados pelas grandes editoras da época, como, por exemplo, a Cia Editora Nacional, a José Olympio, a Editora Globo e a Editora Irmãos Pongetti. A expressão “epidemia biográfica” foi cunhada pelo crítico literário e líder católico Tristão de Ataíde (Alceu Amoroso Lima). Segundo Tristão, o fenômeno seria motivado pela emergência de um “estado de espírito”, na sociedade daquela época, que estaria desenvolvendo uma “grande tendência à realidade”. A ideia de uma sedução realista que compeliu a intelectualidade a desenvolver um esforço cognitivo para decifrar e para apreender a realidade, principalmente, a realidade nacional, encontra ressonâncias em, praticamente, toda produção dos anos 1930 subscrita no topos “Estudos Brasileiros”.
O fazer biográfico, porém, era mobilizado segundo diferentes perspectivas e foi, justamente, em relação a este “anseio realista” que as biografias revelaram-se ora fugidias à exigência realista do conhecimento historiográfico, devido a suas relações com o literário e o ficcional; ora como, fundamentalmente, apropriadas à construção do saber histórico, justamente, por sua capacidade de humanização dos processos passados ao revelar suas conexões mais intrínsecas. Uma das concepções acerca da biografia que mais teria gerado debates na intelectualidade brasileira, durante os anos 1930/40, foi a “biografia moderna”.
A autora retrata a trajetória da “biografia moderna” desde seus criadores europeus – André Maurois, na França, Emil Ludwig, na Alemanha, e Lytton Strachey, na Inglaterra – até sua recepção pela intelectualidade brasileira.
Identificada com o contexto posterior à primeira guerra mundial, a “biografia moderna” estava inserida em um contexto de revolta antipositivista “revolta antipositivista”, no qual emerge uma nova concepção de natureza humana mediada pelo conceito de inconsciente, pela valorização do meio histórico e cultural na compreensão das possibilidades e limites da ação dos indivíduos no mundo, pela junção, em escalas diferenciadas, do intuitivo e do racional nos métodos cognitivos (GONÇALVES, 2009, p. 154-155).
A recepção da “biografia moderna” em terras brasileiras rapidamente assumiu um sentido de identificação entre o fazer biográfico e a criação literária.
Em 1929, o crítico literário Humberto de Campos comemorava o fato de, a partir do surgimento da “biografia moderna”, ficar reservado ao Instituto Histórico a “missão soturna e benemérita de arquivar certidões de batismo, de coligir testemunhos de contemporâneos, de colecionar citações de historiadores eminentes” (CAMPOS apud GONÇALVES, 2009, p. 110). As biografias, porém, seriam agora escritas por “homens de pensamento – pelos romancistas, pelos poetas, pelos críticos literários –, porque ela deixará de ser história, isto é, ciência, para tornar-se arte em uma de suas expressões mais puras e legítimas” (CAMPOS apud GONÇALVES, 2009, p. 110). A “biografia moderna” passou, então, a ser sinônimo de biografia romanceada, contrapondo-se às biografias históricas.
Autores como Sérgio Buarque de Hollanda, Alceu Amoroso Lima, Lúcia Miguel Pereira, Sylvio Elia, Nelson Werneck Sodré e Luiz Viana Filho iriam, nos anos 1930/40, compor o debate intelectual em torno da biografia, ora defendendo seu caráter histórico, ora promovendo sua relação com a ficção.
Na maior parte dos casos, procurava-se uma conciliação entre as duas perspectivas.
Octávio Tarquínio de Sousa, fio condutor da obra de Gonçalves, percebia o sentido daquela epidemia biográfica como um sintoma de uma época que seria caracterizada pela “inumana anulação do indivíduo” (SOUSA apud GONÇALVES, 2009, p. 207) e que, por “reação inevitável” (SOUSA apud GONÇALVES, 2009, p. 207), era ávida por livros em que os “homens apareçam de alma nua, homens particulares, homens diferentes uns dos outros, homens como a vida modela e destrói […] a vida, toda a vida em suas mais opostas e diversas faces” (SOUSA apud GONÇALVES, 2009, p. 207).
E foi a partir de um teórico reconhecido por seu destaque à importância do conceito de ‘vivência’ [Erlebnis] para a compreensão nas ciências humanas que Octávio Tarquínio sintetizou suas perspectivas acerca do fazer biográfico.
De fato, segundo o biógrafo brasileiro, “sua tarefa biográfica inspirou-se em boa parte das lições de Dilthey” (SOUSA apud GONÇALVES, 2009, p. 296).
Nota-se, portanto, que Octávio Tarquínio de Sousa percebia no gênero biográfico um viés valioso para a compreensão das realidades passadas. Reconhecia o valor historiográfico inestimável de biografias clássicas como Estadista no Império (1897-1898), de Joaquim Nabuco, e Dom João VI no Brasil 1808-1821 (1908), de Oliveira Lima. Ao mesmo tempo, Octávio Tarquínio considerava como fundamentais as inovações trazidas ao gênero biográfico por meio do surgimento da “biografia moderna”. Não obstante, foi com base no teórico alemão Wilhem Dilthey (1833-1911) que Tarquínio de Sousa conseguiu sistematizar o valor do gênero biográfico para a compreensão da história.
Tratava-se de se perceber a “conexão estrutural de uma época ou período” não em que o indivíduo e o mundo histórico tornam-se distintos, porém, infinitamente, relacionados: assim como os homens não podem ser compreendidos se extraídos de sua época histórica, seria impossível compreender os processos históricos sem a atuação dos indivíduos.
Nesse sentido, observa-se, em Octávio Tarquínio, a possibilidade de indivíduos tornarem-se representativos de determinadas épocas, pois os sujeitos seriam um “ponto de cruzamento” de nexos efetivos e estruturais expressivos de comunidades e de sistemas culturais históricos. As trajetórias individuais trazem como que marcada, em seus corpos e em suas mentes, todo um mundo histórico que assume sentidos singulares através de cada experiência individual. Ao mesmo tempo, considera-se a existência de “sujeitos supraindividuais” como o direito, a arte, a religião e a nação. Eles seriam “um sujeito especial, preso a uma unidade que envolveria muitos sistemas particulares” (GONÇALVES, 2009, p. 306). A compreensão em ciências humanas e, especificamente, na historiografia, teria, portanto, um caráter hermenêutico marcado pela compreensão e pela revivência e sempre associado ao reenvio constante dos feitos individuais aos traços mais gerais de um mundo histórico.
A perspectiva historista trazia em seu bojo o caráter irrepetível do passado, a sua desvinculação de qualquer sentido teleológico (providência, progresso, liberdade) e a impossibilidade de redução da vivência histórica a uma explicação que a esgotasse.
Conforme demonstra a autora, Octávio Tarquínio de Sousa foi seletivo na apropriação tanto do pensamento de Dilthey, quanto das demais perspectivas com as quais teve contato. De fato, em sua busca pela renovação e, mesmo, pela validação do gênero biográfico como viés epistemologicamente legítimo à produção do conhecimento historiográfico, Octávio Tarquínio de Sousa sistematizava uma série de referências na composição da narrativa biográfica: Documentos de época, como cartas, jornais e atas oficiais, eram relacionados tanto com a historiografia mais antiga sobre a história do Brasil, como Southey e Armitage, quanto com autores renovadores do saber histórico brasileiro, como Gilberto Freyre. O gênero biográfico traduziria tanto uma inovação, fruto da demanda contemporânea por uma interpretação das realidades passadas segundo significados que remetessem à “compreensão” e à “vivência”, quanto um esforço revisionista, que objetivava reavaliar e reestruturar o saber histórico constituído.
O livro de Gonçalves traz, portanto, uma inestimável contribuição à história da historiografia nacional, justamente, por abordar discussões acerca de gêneros pouco, ou quase nunca, observados pelos especialistas da disciplina. De fato, o que a renovação dos estudos em história da historiografia brasileira deve revelar é a complexidade de temáticas e de perspectivas nas quais os historiadores brasileiros debruçavam-se, principalmente, entre o fim do século XIX e a metade do século XX. As relações da história com a literatura, da história com a época na qual é produzida, as possibilidades da história na constituição das identidades regionais e nacional, os conflitos em torno do passado mais legítimo e verdadeiro e, portanto, os sentidos políticos inerentes à produção historiográfica constituíram temáticas centrais nas discussões historiográficas brasileiras do período citado. Trata-se, portanto, de revisitar autores e obras que, por muito tempo, foram considerados como, justificadamente, esquecidos, e tantos outros sequer lembrados, em função de seu atraso segundo uma concepção evolucionista da “ciência” histórica. Em tempos de problematização acerca do sentido evolucionista da “ciência histórica”, o diálogo com aquela produção passada torna-se, cada vez mais, inescapável à reflexão historiográfica contemporânea.
Referências
NABUCO, Joaquim. Estadista no Império. Rio de Janeiro: H Garnier, 1897- 1898. 3 vols.
LIMA, Oliveira. Dom João VI no Brasil 1808-1821. Rio de Janeiro: Tipografia do Jornal do Comércio, 1908.
SOUSA, Octávio Tarquínio de. Fundadores do Império do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958. 10 vols.
SOUSA, Octávio Tarquínio de. Bernardo Pereira de Vasconcelos e seu tempo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1937. Coleção Documentos Brasileiros.
Thiago Lenine Tito Tolentino – Doutorando Universidade Federal de Minas Gerais thiago_lenine@yahoo.com.br Rua Henrique José Ribeiro, n 30, Trevo 31545010 – Belo Horizonte – MG Brasil.
Invenções da Idade Média: óculos, livros, bancos, botões e outras inovações geniais – FRUGONI (HH)
FRUGONI, Chiara. Invenções da Idade Média: óculos, livros, bancos, botões e outras inovações geniais. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007, 184 p. Resenha de: CAVALCANTE, Felipe Cabral. História como entretenimento: o prazer que pode ser proporcionado por uma obra do conhecimento histórico. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 6, p.218-220, março 2011.
O livro resenhado não é uma obra que contenha, como o título atesta, todas as invenções da Idade Média e, portanto, venha a servir como manual para a busca de aparatos criados naquele período histórico; no entanto, é inegável sua utilidade como fonte introdutória sobre o tema.
A confusão foi causada pela tradutora que, ao transpor o título da obra para o português, promoveu uma pequena alteração. O título original, em italiano é: “Medioevo sul naso: occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali”, que em português traduz-se por “A Idade Média sobre o nariz: óculos, botões e outras invenções medievais” ao invés de, como optou a tradutora Eliana Aguiar, “Invenções da Idade Média: óculos, livros, bancos, botões e outras inovações geniais”.
O livro tem o objetivo de, como a metáfora1 do título original subentende, mostrar “invenções” da Idade Média que utilizamos até hoje sem que percebamos, mas que estão “bem debaixo de nossos narizes”. Além disso, através desses inventos, pretende mostrar o cotidiano da Baixa Idade Média, especificamente, do período que se convencionou chamar de Renascimento, por meio das mudanças que esses novos aparatos provocaram nos hábitos cotidianos das pessoas.
A escritora do livro, a historiadora Chiara Frugoni, filha do grande medievalista Arsenio Frugoni, nascida em Pisa, concentra seu recorte geográfico de estudo na Itália,2 e, ao escrever sobre as invenções, utiliza obras já publicadas sobre o assunto, mesclando suas informações em uma só, na tentativa da construção de uma genealogia o mais exata possível sobre a invenção de determinado aparato.
Dentre as obras utilizadas há um destaque para Decameron, de Giovanni Boccaccio e Il Trecentonovelle, de Sacchetti, além da utilização da análise semiótica de diversas imagens, constando na obra uma média de 100 ilustrações, todas previamente interpretadas pela autora.
Sobre o método de escrita da autora, observa-se que ela utiliza em seu discurso a primeira pessoa, ao fazer comparações entre nossos dias e a Idade Média; fora isto, o discurso, em geral, é feito em terceira pessoa.
Como já mencionado, cada capítulo do livro constitui-se em um resumo de obras já publicadas sobre o assunto, mas, o que realmente merece destaque no livro, além das diversas ilustrações analisadas no decorrer da obra, são as notas de rodapé, por constituírem uma fonte “riquíssima” para um aprofundamento maior de cada questão introduzida pelo livro, pois possuem indicações de leituras auxiliares, além de exporem as citações diretas, ou seja, os trechos tirados das fontes primárias em sua língua original, para que possa ser feita a comparação entre o original e a tradução.
Sobre a exposição factual cronológica, percebe-se não se tratar, necessariamente, de algo feito de maneira diacrônica, considerando a existência de certos momentos sincrônicos, nos quais são feitas comparações para, em seguida, ser possível retornar ao diacronismo, sempre tentando unir um fato ao outro, para demonstrar que as mudanças, ocorridas na Idade Média, não ocorreram de forma isolada, mas sim, juntas, sendo que algumas, como demonstra a autora, foram consequência de outras.
Invenções da Idade Média – um livro que foi escrito em 2001, mas que só recebeu tradução para o português em 2007 – desmistifica o falso modelo convencionado de que a Idade Média teria sido a Idade das Trevas.
Não se trata de um manual prescritivo, mas sim, de uma leitura sugestiva aos interessados em aprofundar conhecimentos sobre o assunto, tanto pela sua abrangência sobre diversos temas, quanto pela diversa bibliografia indicada pelas notas de rodapé. Além disso, não se constitui apenas em uma obra para estudo, mas também para entretenimento, devido ao emprego de uma linguagem simples, a qual foi transposta também pela tradutora, tornando a leitura bastante agradável.
Notas
1 “Sobre o nariz”.
2 Provavelmente por ela ser italiana.
Felipe Cabral Cavalcante – Graduando Universidade Federal do Amazonas. E-mail: f.cabral27071991@hotmail.com Rua Monte Castelo, 16, conjunto Coophasa – Nova Esperança 69037-430 – Manaus – AM Brasil.
Teoria da História (v.2) Reconstrução do passado: os princípios da pesquisa histórica | Jörn Rüsen
RÜSEN, Jörn. Reconstrução do passado. Teoria da história II: os princípios da pesquisa histórica. Tradução de Asta-Rose Alcaide. Brasília: UnB, 2007, 188 p. Resenha de: ARRAIS, Cristiano de Alencar. Métodos e perspectivas na teoria da história de Jörn Rüsen. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 05, p.218-222, setembro 2010.
Fruto de um projeto de pesquisa que demandou aproximadamente uma década de reflexões sobre os fundamentos, limites e possibilidades do conhecimento histórico, Reconstrução do passado é parte constituinte da trilogia de Jorn Rüsen sobre teoria da história que teve sua publicação original iniciada em 1983 com Razão histórica e finalizada em 1989, com a publicação de História viva. O conjunto desses três livros constitui-se numa das mais importantes contribuições desse historiador e filósofo da história que, desde a década de 1960, com a publicação de sua tese de doutoramento sobre J. G. Droysen, vem militando no campo da teoria da história e da história da historiografia.
Como observou Rocha (2008), a relação sistêmica entre os volumes faz com que a importância de cada um deles deva ser pensada, num primeiro momento, de maneira mais ampla. Essa relação está explícita na tentativa do autor de cobrir os principais elementos constituidores da história como ciência, tomando como referência a estrutura experimental desenvolvida por Droysen (2009) – uma autojustificativa sobre o significado da teoria da história e sua função para a constituição do saber histórico, uma reflexão sobre os fundamentos do método histórico, desenvolvidos a partir dos conceitos de metódica e sistemática, e um exame da função tópica do saber histórico.
Evidentemente que essa referência sintética não dá conta do vigoroso empreendimento de apropriação desenvolvido pela trilogia. A utilização do termo apropriação não é injustificada, na medida em que, para além dessa dívida intelectual com a obra de Droysen, pode-se perceber também a utilização de um dispositivo heurístico que comanda as reflexões produzidas nos três volumes.
Se como nos próprios termos de J. Rüsen, a teoria da história é uma metateoria (um pensar sobre o pensamento histórico), nada mais coerente que esse tipo de reflexão nortear também o seu próprio projeto filosófico. Nesse sentido, o primeiro volume é dedicado a questões relativas aos interesses (as carências de orientação na mudança temporal), o segundo volume, aos métodos (as regras da pesquisa empírica) e às perspectivas de interpretação (modos de explicação, perspectivas e categorias de análise) e o terceiro e último volume às formas (de representação do passado, associado à historiografia) e às funções (a didática como instrumento capaz de direcionar o agir humano).
Essa retomada das reflexões produzidas ainda no século XIX também pode ser em parte percebida, por exemplo, em Memória, história e esquecimento, de Paul Ricoeur, na medida em que este autor estrutura seu projeto filosófico segundo uma tríade sustentada por uma proposta fenomenológica para a relação entre história e memória (a história como herdeira erudita da memória), epistemológica (a metódica, sistemática e tópica, identificadas, respectivamente, com a fase documental, explicativa e de representância) e hermenêutica (uma crítica à pretensão da história como saber absoluto, uma ontologia da condição histórica e uma fusão de horizontes, no sentido gadameriano) (RICOEUR 2008). Mas no caso da trilogia de Rüsen, existe uma dimensão pragmática que procura associar o produto da pesquisa em sua forma expositiva – a historiografia – às necessidades de socialização humana, visto que a mesma se torna instrumento formador da identidade histórica.
Dentro desse grande projeto de análise é que se situa, portanto, Reconstrução do passado. Em que pese a mudança de tradutor, que acarretou uma sensível modificação na forma do texto e afetou a inteligibilidade de algumas passagens – demandando ao leitor uma atenção redobrada às suas torções e à linguagem adotada neste volume – considero importante destacar três temas que demonstram a vitalidade dessa obra específica.
Primeiro, a inversão da relação entre metódica e sistemática, visto que nos tradicionais manuais dedicados à teoria e metodologia da história, a parte dedicada à “teoria” tem apenas valor provisório e acessório. Na proposta do autor, a regulação metódica depende das determinações prévias sobre o que deve ser elaborado como “história”, ou seja, existe uma dependência explícita entre os métodos empregados na pesquisa e os pontos de vista que o pesquisador aplica à matéria. Assim, “O conhecimento histórico não é construído apenas com informações das fontes, mas as informações das fontes só são incorporadas nas conexões que dão o sentido à história com a ajuda do modelo de interpretação, que por sua vez não é encontrado nas fontes” (RÜSEN 2007, p. 25).
Daí porque, partindo da crítica ao uso análogo que certas filosofias da história fazem de suas teorias, com as ciências da natureza – uma aproximação que parte, por um lado, de uma suposição equivocada de que só é racional uma explicação que recorra a leis, e que trata um determinado tipo de racionalidade como o único existente, como percebeu Perelman (2004), e por outro, de uma preocupação de tornar a história tecnicamente útil, sem levar em consideração que essa pragmática no interior das ciências humanas não deve ser julgada a partir de critérios técnicos, mas existenciais – o autor analisa duas formas de explicação na história: a nomológica e a intencional, apontando suas limitações. O intuito, neste caso, seria determinar uma forma mediana do procedimento explicativo na ciência da história. A superação desses dois modelos seria encontrada na explicação narrativa associada às considerações desenvolvidas por Danto (1965). Entretanto, há que se ressaltar que elas pouco avançam sobre as teses de Ricoeur (1994) ou White (1995), denotando, portanto, uma necessidade de atualização dessa discussão, tão importante à época da publicação de Reconstrução do passado.
Um segundo importante elemento a ser destacado na obra está associado ao tratamento dado às filosofias da história, no âmbito de uma teoria da história, ou seja, a solução encontrada pelo autor para o problema da possibilidade de uma teoria da história que incorpore a noção de totalidade para a ciência da história. Neste caso, a primeira tarefa empreendida é a de destruir o edifício teleológico das filosofias da história de tipo especulativo, seja com um argumento formal (a história “não pode deixar de ser concebida como universal sem deixar de ser história, isto é, estruturada narrativamente” [RÜSEN 2007, p. 58]), seja sob o ponto de vista material (a crítica de uma concepção de humanidade derivada de uma dimensão biológica, sem levar em consideração suas implicações para o mundo histórico). Tais questões, segundo o juízo do autor, implicam a inviabilidade de um tipo de teoria da história que possa ser considerada sob o ponto de vista absoluto, total e fora do próprio processo que narra.
Isso não implica, entretanto, um alinhamento a um ponto de vista que imponha uma concepção de experiência histórica marcada pela diversidade e pela diferença. Como opção a essas duas alternativas, Rüsen propõe uma antropologia histórica teórica que, formalmente, apresente a mudança como cognoscível por meio de seus conceitos elementares. Nesse sistema de categorias históricas, o tempo seria caracterizado como história, de maneira a ser apreendido pela pesquisa. É importante notar que se trata aqui de uma distensão da concepção kantiana de tempo como categoria a priori, na medida em que o tempo da natureza torna-se humano. Além disso, materialmente, uma antropologia histórica teórica explicaria os fatores que são determinantes nesse processo, dimensionando um “sistema de suposições quanto às razões da mudança temporal do homem e do mundo” (RÜSEN 2007, p. 67) e construindo um quadro de referências das interpretações históricas, além de funcionar como instrumento de reconhecimento de uma identidade coletiva.
Dessa forma a noção de totalidade poderia ser recuperada por meio do conceito de humanidade (agora uma concepção normativa que procura responder às perguntas sobre como o homem realiza sua historicidade), cujo sentido seria gerado pela própria mobilidade temporal do agir e sofrer humanos. A proposta do autor, entretanto, carece de um desenvolvimento maior, na medida em que não analisa a forma como essa proposta se realizaria historiograficamente, assim como suas consequências para interpretações da experiência temporal baseadas em sistemas de categorias que tematizam a própria mudança.
Por último, o autor efetua um reposicionamento do conceito de heurística no âmbito da metodologia histórica nesse momento de redefinição das fronteiras da ciência da história. A julgar pela forma como a heurística é geralmente tratada na maioria das obras dedicadas a este tema, este parece ser um aspecto menor, meramente técnico, de catalogação e tipologização das fontes. Na direção contrária dessa perspectiva, Rüsen entende a heurística como o momento em que o saber teórico toma a forma de questionamentos claros e abertos à experiência, ao mesmo tempo em que produz uma estimativa metodologicamente regulada do que as fontes podem dizer (de modo a superar a limitação dos campos de experiência já apreendidos e direcioná-las ao historicamente estranho). É, além disso, o momento de exame e classificação das informações das fontes relevantes para responder às questões levantadas (visto que a relevância de uma fonte depende das perguntas históricas elaboradas) e da ampliação do conteúdo informativo das mesmas. Nesse sentido, o autor proporciona à heurística um status até então esquecido, afinal “uma hipótese é heuristicamente fecunda se corresponder às carências de orientação das quais, em última análise, se originou” (RÜSEN 2007, p. 119).
Há que se ressaltar também o esforço do autor em abordar as operações substanciais da pesquisa, ou seja, a forma como o conteúdo experiencial do passado, projetado nas fontes, pode ser apreendido. Entre a abordagem analítica e a abordagem hermenêutica existiria a abordagem dialética, com uma função análoga ao modelo narrativo de explicação histórica, desenvolvido no primeiro capítulo da obra. Muito embora a pretensão dialética esteja explícita, a tentativa de aproximação dos dois modelos denota uma clara submissão da analítica à hermenêutica. Nesse sentido, não se realiza exatamente um movimento dialético, mas uma incorporação de contextos de causalidade e de processos estruturais e sistêmicas do agir humano aos processos reconstrutivos de sentido desse agir. Assim, embora mascarado, o privilégio dado por Rüsen continua associado pela tradição hermenêutica da qual é um legítimo representante.
Finalmente, a ênfase dada pelo autor aos problemas lógicos e conceituais que envolvem os princípios da pesquisa histórica revela uma marca própria e inovadora que permeia todos os três livros que compõem suas reflexões para o campo da teoria da história. Ao invés de um conhecimento enciclopédico e de catalogação, típico dos mais populares manuais, Reconstrução do passado é um convite ao aprofundamento sobre os fundamentos da ciência da história e dos fatores que articulam o pensamento histórico com vistas à sua racionalização. Nesse sentido e na medida em que supera uma concepção eunuca do exercício teórico na pesquisa histórica, Rüsen denota a face mediadora da teoria da história, expondo sua capacidade de articular a abstração conceitual com as determinações empíricas do processo de constituição do saber históricocientífico.
Referências
DANTO, A. Analytical philosophy of history. London: Cambridge University Press, 1965.
DROYSEN, J. G. Manual de teoria da história. São Paulo: Vozes, 2009.
PERELMAN, C. Retóricas. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
RICOEUR, P. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Unicamp, 2008.
_______. Tempo e narrativa – V. 1. Campinas: Papirus, 1994.
ROCHA, S. M. Resenha do livro História viva. In História da historiografia, n° 1. 2008. Disponível em http://www.ichs.ufop.br/rhh/index.php/revista/ article/view/29/26. Acesso em 25 de julho de 2010.
WHITE, H. Meta-história: a imaginação histórica no século XIX. São Paulo: Edusp, 1995.
Cristiano Alencar Arrais Professor Adjunto Universidade Federal de Goiás (UFG) alencar_arrais@yahoo.com.br Rua 1044, 129/903, Ed. Imperial – Setor Pedro Ludovico Goiânia – GO 74825-110 Brasil Palavras-chave Teoria da história; Sistemática; Metodologia.
Desconstruindo a história – MUNSLOW (HH)
MUNSLOW, Alun. Desconstruindo a história. Tradução de Renata Gaspar Nascimento. Petrópolis: Vozes, 2009, 272 p. Resenha de MELLO, Ricardo Marques. Um desconstrucionista desconstruindo a história. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 05, p.232-238, setembro 2010.
Alun Munslow é professor visitante de teoria da história da universidade inglesa de Chinchester. É também editor de Rethinking History: The Journal of Theory and Practice, um dos principais periódicos internacionais dedicado a publicar textos inseridos nas discussões a respeito das condições cognitivas do saber histórico a partir de perspectivas comumente nomeadas pós-modernas, que, em certo sentido, são desdobramentos de considerações nietzschianas, de insights da linguística saussuriana e de discussões oriundas da filosofia da linguagem.
Desconstruindo a história, cuja primeira edição data de 1997, insere-se nesse debate. Especificamente, Munslow questiona-se sobre as possibilidades de recuperação e representação precisa do conteúdo do passado por meio da narrativa. Ele é adepto da tese de que a linguagem, diferentemente do que acreditam muitos historiadores, não é um meio transparente para descrever e explicar a realidade pretérita, mas um fator que impõe ao passado um dado formato que não lhe é próprio, criando, destarte, um significado para os indivíduos do presente.
O livro de Munslow, porém, não se reduz à defesa de uma perspectiva teórica sobre o conhecimento historiográfico. Nele, seu autor identifica e descreve três abordagens, coexistentes contemporaneamente, sobre o saber historiográfico, o reconstrucionismo, o construcionismo e o desconstrucionismo, de modo que o leitor possa situar-se a respeito dos principais argumentos usados pelos praticantes dessas três vertentes.
Na Introdução, Munslow apresenta as quatro questões que nortearam os sete capítulos e a conclusão do livro: 1) O empirismo pode constituir-se como uma epistemologia? 2) Qual o caráter e a função da evidência? 3) Qual o papel do historiador e como ele usa as teorias sociais para compreender e explicar a história? 4) Qual a importância da forma narrativa para a explanação histórica? (MUNSLOW 2009, p. 12). Toda a estrutura de Desconstruindo a história gira em torno de uma estratégia: colocar essas quatro questões a cada uma das três abordagens. Em outros termos, Munslow pretende expor como as perspectivas reconstrucionista, construcionista e desconstrucionista responderiam, cada uma a sua maneira, a esses quatro questionamentos.
No capítulo um, o autor apenas apresenta cada uma das três abordagens de modo breve. Além disso, identifica o estruturalismo, o pós-estruturalismo e o que denomina de novo historicismo (estadunidense) como origens das atuais revisões sobre o estatuto da história como disciplina.
No capítulo dois, Munslow caracteriza as abordagens reconstrucionista e construcionista da história, tendo em conta os quatro pontos supracitados que nortearam seu trabalho (epistemologia, evidência, teorias sociais, narrativa).
Epistemicamente, ambas compartilham a crença geral na capacidade do historiador em conhecer o que realmente ocorreu no passado por meio da análise do material empírico. Ademais, seus praticantes acreditam que há uma separação nítida entre fato e valor, história e ficção, sujeito e objeto, e de que a verdade, fim último de um trabalho historiográfico, não é uma perspectiva (MUNSLOW 2009, p. 57). O mecanismo que assegura a verdade pretérita é a referenciação. Crê-se, portanto, na relação de correspondência entre o que ocorreu no passado e o que é descrito sobre ele, entre os significados de então e os apresentados pelos historiadores do presente. A evidência, dessa perspectiva, assume o caráter de fonte comprobatória. Para os reconstrucionistas, essa característica da evidência emerge por um processo indutivo: é a análise do material empírico que permite as descobertas sobre o acontecimento pesquisado. Para os construcionistas, porém, a verdade pretérita não surge apenas das evidências, mas pode ser combinada com teorias sociais em um processo, também, dedutivo. O uso de teorias sociais na compreensão do passado pelos construcionistas é justamente o que os diferenciam dos reconstrucionistas, avessos a qualquer tipo de apreensão a priori. Os reconstrucionistas conservadores (termo do autor) criticam o uso de teorias, pois elas dizem respeito a situações universais de comportamento e, por isso, são impróprias para entender realidades e agentes históricos singulares. Os construcionistas, por sua vez, contra-argumentam dizendo que seus modelos são “conceitos” que emergem das evidências como um auxílio para a própria compreensão da evidência. Além disso, toda teoria poderia ser colocada à prova pelo material empírico. Na questão da narrativa, em linhas gerais, os reconstrucionistas conservadores sustentam que ela funciona apenas como um veículo para conclusões inferidas a partir das fontes. Os reconstrucionistas moderados e os construcionistas sustentam que a narrativa constrói significado, mas permanece como uma dimensão secundária (MUNSLOW 2009, p. 79- 80).
No capítulo três, Munslow caracteriza a abordagem da qual é adepto, o desconstrucionismo. E o faz marcando as diferenças entre este, o reconstrucionismo e o construcionismo. No quesito epistêmico, o desconstrucionismo nega o pressuposto teórico que atribui à historiografia condições de conhecer o passado como realmente aconteceu, seja pela análise empírica, seja por meio do uso de teorias sociais. Entre os resquícios pretéritos e sua representação narrativa no presente, existe uma série de elementos que se interpõem, como a ideologia, a linguagem, as preferências pessoais e as discussões historiográficas, impedindo, assim, de haver imparcialidade e objetividade. Para os desconstrucionistas, os significados do passado são antes criações circunstanciadas que descobertas reveladas pelos historiadores. A evidência a partir dessa perspectiva, não reflete e/ou representa o passado, mas serve ao historiador na composição de sua narrativa. Munslow, contudo, ressalta que a abordagem desconstrucionista não é antirreferencialista, mas ela nos adverte sobre as fronteiras e o papel que a evidência exerce no trabalho do historiador: a evidência não emite os significados do passado, por um lado, nem permite que qualquer coisa seja escrita sobre ele, restringindo, destarte, a poiesis historiográfica. Em outros termos, nem primazia nem insignificância.
Em relação às teorias sociais, ele limita-se a mencionar que a discussão a respeito do uso ou não de teorias como um recurso é irrelevante. No aspecto relativo à narrativa, porém, o autor de Desconstruindo a história despende uma longa descrição, uma vez que as principais diferenças entre as três abordagens são oriundas justamente da forma como cada uma compreende a narrativa.
Com base em Roland Barthes, Michel Foucault, Stephen Bann, Frank Ankersmit, Paul Ricoeur e, sobretudo, Hayden White, Munslow afirma que no desconstrucionismo a narrativa historiográfica não é apenas um meio de apresentação dos resultados de pesquisa. O historiador, ao reunir, selecionar e usar informações pretéritas na elaboração de um texto coerente, vale-se da imaginação figurativa, impondo um enredo ao passado a fim de criar e constituir um significado ao presente. Não há, portanto, uma relação precisa de correspondência entre o passado e sua representação narrativa.
Baseado nos argumentos dos reconstrucionistas e dos construcionistas, Munslow ocupa-se, no quarto capítulo, em assinalar o que há de errado com a história desconstrucionista. Em linhas gerais, o grupo dos contendores radicais, representados por Geoffrey Elton, Michael Stanford e Arthur Marwick, reitera os pressupostos mais conservadores do reconstrucionismo. O grupo dos denominados reconstrucionistas moderados ou realistas-práticos, baseados nas obras de Edward Carr e Robin G. Collingwood, e representados, principalmente, por Joyce Appleby, Lynn Hunt, Margaret Jacob, James Kloppenberg, James Winn, James Mcmillan, Frederick Olafson e Behan McCullagh, aceitam parcialmente as proposições desconstrucionistas, sem, contudo, se desprenderem dos princípios empiricistas: eles admitem certas limitações da linguagem, a presença da subjetividade, certo grau de manipulação das evidências, a construção social da verdade e até um apriorismo – com a pergunta inicial apresentada pelos historiadores às suas fontes. Porém, insistem que alguma objetividade há de existir: e ela provém da referenciação, a qual permite a vinculação entre presente e passado. Os moderados fogem, assim, do absolutismo do reconstrucionismo conservador, por um lado, e do desconstrucionismo relativista, por outro.
No quinto capítulo, Munslow faz o caminho inverso, perguntando-se o que há de errado com o reconstrucionismo/construcionismo, reiterando as críticas feitas pelos adeptos do desconstrucionismo. O argumento geral consiste em, uma vez mais, defender a parcela de imposição e criação do historiador em relação ao passado. Nesse sentido, o desconstrucionismo renega, entre outras, a crença dos reconstrucionistas na relação de correspondência entre a evidência e a verdade histórica; reafirma que a construção do significado dos eventos pretéritos é fruto da adoção de uma dada estrutura narrativa; contesta a convicção de que é possível encontrar a estória, sentido, significado dos fatos pretéritos, simplesmente por que eles não têm um sentido em si; e refuta o argumento dos construcionistas, os quais posicionam o arcabouço teórico em primeiro plano e a narração como algo secundário.
No sexto e sétimo capítulos, Munslow comenta as contribuições dos dois principais autores que fornecem suporte teórico para as proposições desconstrucionistas, Michael Foucault e Hayden White. De acordo com Munslow, o pensador francês rejeita a relação de correspondência entre as palavras e as coisas ou, em outros termos, a correspondência entre o mundo empírico e os discursos a seu respeito: a evidência, por exemplo, não expressa a realidade em si, mas ela mesma é uma representação/interpretação historicamente determinada: pelas disputas por poder, pela episteme dominante de uma época, pelas forças constitutiva e formativa que a linguagem exerce. O historiador, portanto, não tem acesso direto ao passado. Ele seria alguém que faz uma interpretação das representações pretéritas, que não é objetiva, imparcial e linguisticamente transparente. A linguagem usada por ele molda os dados do passado – a partir de uma dada episteme, isto é, uma forma específica de produção do conhecimento – de tal modo que estes façam sentido e tenham significado para os indivíduos do presente: em vez de refletir a realidade, a linguagem, na tentativa de apreendê-la, a constitui.
Depois da análise das contribuições de Foucault, Munslow interpreta os princípios teóricos de Hayden White “provavelmente o mais radical desenvolvimento na metodologia histórica nos últimos trinta anos” (MUNSLOW 2009, p. 187). Alguns pressupostos whiteanos ressaltados são relevantes para compreendermos a base das argumentações dos desconstrucionistas. Entre eles, o de que os eventos em si não trazem consigo uma dada história originária: isto é, os acontecimentos não são inerentemente trágicos, cômicos, satíricos, etc. Não existe um enredo a descobrir nos acontecimentos pretéritos. Estes são, em termos de enredo, neutros e amorfos. É o historiador, no presente, que organiza as informações de uma determinada maneira a fim de que a narrativa tenha um dado significado, impondo ao passado um enredo de um tipo específico. Essa organização é condicionada pelo uso, consciente ou não, de um tropo (metáfora, metonímia, sinédoque e ironia), que, por sua vez, condiciona as opções éticas, estéticas e epistêmicas do discurso historiográfico.
Outro pressuposto relevante refere-se à relação entre parte e todo: os enunciados de uma obra historiográfica podem ser verdadeiros; porém, uma narrativa historiográfica, considerada um todo integrado, não é a mera soma de suas partes. Trata-se de outro nível do discurso dos historiadores, no qual se constrói e atribui significado ao seu objeto. Esse significado é, em grande medida, uma consequência do tropo escolhido e não das próprias fontes. Esses dois pressupostos sustentam as afirmações de White, e as apropriações de Munslow, sobre o caráter imposicionalista do historiador, por meio da linguagem, na construção das narrativas sobre o passado e, consequentemente, de seus significados.
Na conclusão do livro, Munslow refuta a ideia de que a aceitação dos argumentos desconstrucionistas possa acarretar algum descrédito para o status da história como disciplina. A exemplo do que fez no capítulo cinco, ele sugere que reconhecer o papel da narrativa não é um novo tipo de essencialismo, isto é, algo que substitui o empirismo. Mas um princípio que abre espaço para novas maneiras de descrever o passado, com maior consciência do processo de produção do discurso historiográfico. Ter conhecimento do papel que a formalização da linguagem exerce no estudo do passado e pôr em questão a verdade/imparcialidade/objetividade da historiografia “pode levar a uma forma mais abrangente de análise histórica, menos provável de excluir o marginalizado e ‘o outro’” (p. 225). Depois da conclusão, Munslow ainda incluiu um glossário com parte dos principais verbetes usados no livro, bem como um “Guia para leituras adicionais”, no qual cita obras ligadas às três formas de abordagens descritas por ele.
Em termos gerais, compreendo que o livro como um todo apresenta alguns problemas. O primeiro é relativo às categorias usadas para designar as três abordagens (reconstrucionismo, construcionismo e desconstrucionismo): qualquer tentativa de delimitar autores tão distintos entre si em apenas três modalidades tende a abreviar a complexidade de posições. Roger Chartier, por exemplo, ora é colocado ao lado de autores desconstrucionistas, como White – o que é, no mínimo, curioso –, ora é incluído, juntamente com outros historiadores da École des Annales, na plêiade de construcionistas. O segundo diz respeito à falta de discussão e/ou conceituação do que se compreende por termos como objetividade, verdade histórica, imparcialidade, entre outros.
Embora possa parecer, essa não é uma discussão vã, contemplação vazia ou fuga do que realmente interessa. Mas um ponto de partida que não deve ser ignorado. Outro problema teórico refere-se ao uso do termo desconstrucionismo como uma forma de abordar a história, isto é, uma prática da mesma natureza do reconstrucionismo e do construcionismo. Apesar de alguns historiadores aceitarem as proposições ditas desconstrucionistas, essa maneira de conceber a produção do conhecimento histórico não se consubstanciou ainda como uma forma de investigar o passado, mas, até o momento, como uma reflexão teórica sobre a forma como os historiadores transformam os fragmentos do passado em historiografia. De outro modo, é, antes, uma teoria a respeito das possibilidades cognitivas do saber historiográfico (metateoria) e não propriamente uma abordagem da história em seu acontecer. E, por fim, o autor usa, por vezes e indistintamente, a palavra história para designar tanto a disciplina como os acontecimentos no tempo, dificultando o entendimento de determinados trechos.
Todavia, Desconstruindo a história tem muitos méritos. Conquanto a originalidade de ideias não seja um atributo a ser destacado, sobretudo por ser baseado nas proposições de Foucault e White, o livro de Munslow organiza didaticamente complexas maneiras de se entender o conhecimento histórico em três termos e apresenta ao leitor importantes tópicos e pressupostos das discussões atuais sobre teorias da história, que, em certo sentido, são muito úteis para aqueles que se interessam pelo tema. Outro ponto a ser ressaltado é que, por ter o foco em uma discussão que é encaminhada majoritariamente em ambiente anglo-saxão, Desconstruindo a história torna visível autores pouco citados entre pesquisadores nacionais. Além disso, embora Munslow seja adepto do desconstrucionismo, ele, a rigor, não reduziu totalmente as outras duas abordagens (reconstrucionismo e construcionismo) a esquematismos simplistas.
Diferentemente disso, ele cita e apresenta um número razoável de autores alinhados com essas duas “correntes”, mostrando-se, inclusive, simpático com algumas “soluções” encontradas pelos realistas-práticos (reconstrucionistas moderados), ainda que tenha enfatizado, o que é compreensível, determinadas ideias e encaminhado o debate de modo que o desconstrucionismo, ao final, fosse considerado a melhor maneira (senão única) de se conceber a produção do conhecimento historiográfico.
Embora repetitivo e com uma tradução problemática, Desconstruindo a história, enfim, pode ser considerado um livro que introduz o leitor em um ambiente intelectual bem delimitado, defende uma perspectiva no debate contemporâneo acerca do fazer historiográfico e estimula-nos a refletir sobre o ofício de historiador. Ainda que não se concorde com os pressupostos e ideias do “desconstrucionismo”, conhecê-lo por um de seus defensores parece ser uma maneira astuta de discordar, com fundamento, das proposições dessa vertente. Por isso, Desconstruindo a história pode ser um ponto de partida proveitoso àqueles que pretendem pesquisar e escrever a respeito da história e/ou pensar sobre esse complexo e atraente processo.
Ricardo Marques de Mello Doutorando Universidade de Brasília (UnB) ricardo.mm@hotmail.com Campus Darcy Ribeiro, ICC Norte, Subsolo, Sala 679 Brasília – DF 70910-900 Brasil.
Historiografia y sociedad: discursos, instituciones, identidades – SUÁREZ et. al. (HH)
SUÁREZ, Teresa; TEDESCHI, Sonia (comps.); COUDANNES, Mariela; SCARAFÍA, Inés; GILETTA, Carina; VECARI, Silvina. Historiografia y sociedad: discursos, instituciones, identidades. Santa Fe: Universidad Nacional del Litorial, 2009, 240 p. Resenha de MICHELETTI, Maria Gabriela. Un itinerario historiográfico por la provincia argentina de Santa Fe. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 05, p.239-245, setembro 2010.
El propósito confeso de “entregar una nueva visión historiográfica descentrada pero no desconectada de la producción capitalina” transita las páginas del libro compilado por Teresa Suárez y Sonia Tedeschi, que busca ubicarse así dentro del impulso que desde hace algunos años han adquirido en la Argentina los estudios de historia de la historiografía regional.
Al respecto, el Prólogo de María Gabriela Quiñónez –docente universitaria e investigadora dedicada al estudio de la historia de la historiografía de la región Nordeste– presenta un muy buen estado de la cuestión sobre los desafíos y dificultades que ha debido enfrentar este campo del saber en la Argentina y, también, sobre los progresivos logros que ha ido alcanzando en tiempos recientes. Opacado aún y en parte invisibilizado dicho campo por una historia de la historiografía argentina que centraliza, a la vez, producción y objeto de estudio en Buenos Aires, resultan estimulantes los trabajos que, como el que nos convoca en esta oportunidad, procuran moverse de ese eje para ocuparse de discursos, disciplinas, instituciones y actores de otros espacios regionales.
De todos modos, la alternativa queda planteada: ¿debe pensarse la historiografía regional como un campo aparte, tal como parece demostrarlo la práctica de la disciplina en el país, o es posible que estos estudios se integren como uno de los objetos propios de la historiografía argentina? O dicho de otra manera, ¿será finalmente superado ese “obstáculo epistemológico” del que habla Quiñónez, que lleva a que las obras producidas en Buenos Aires puedan presentarse como historias argentinas, en tanto que todo intento de explicar los procesos desde las provincias sea tenido por historia regional? El libro que nos ofrecen a la lectura Suárez y Tedeschi, precisamente, se inserta dentro de esta línea que entiende posible contribuir al conocimiento de la historia de la historiografía argentina a partir de un contexto de producción provincial, en este caso, santafesino.
Los textos que integran la compilación, algunos de ellos dados a conocer previamente a través de versiones preliminares en encuentros científicos y publicaciones especializadas, son el producto de seis años de estudio y trabajo, avalados por dos proyectos de investigación llevados adelante en el seno de la Universidad Nacional del Litoral.
Ha sido el interés por dirigir una mirada introspectiva hacia su propio quehacer en la práctica de la disciplina, el que ha servido de disparador a las compiladoras y a su equipo –integrado por Mariela Coudannes, Inés Scarafía, Carina Giletta y Silvina Vecari– para desplazar parcialmente sus preocupaciones desde las problemáticas históricas abordadas en trabajos anteriores hacia perspectivas de índole historiográfica, que se fueron profundizando hasta conducirlas a la decisión de encarar la historia de la historiografía santafesina como campo específico de estudio. Los resultados de este moverse hacia el “tercer piso”[1] de la reflexión historiográfica (AURELL 2005, p. 14-15) son los que se presentan hoy en Historiografía y sociedad. Discursos, instituciones, identidades a través de dos secciones principales: “Disciplinas e instituciones”, e “Historiadores”. Nueve artículos de diversa densidad teórica y metodológica se reparten entre ambas secciones (tres en la primera y seis en la segunda), y nos prometen introducirnos en el proceso de configuración del campo historiográfico en la provincia de Santa Fe, entre sus inicios a fines del siglo XIX y los años sesenta del siglo XX. En realidad, la mayor riqueza interpretativa y de análisis de fuentes la encontramos para el período que se abre hacia la segunda década del siglo XX y, aun más, hacia 1930, en tanto que las etapas iniciales de aquel proceso aparecen apenas delineadas.
Dos categorías de análisis han sido elegidas por las compiladoras para vertebrar los estudios que presentan: la de generación de memoria y la de construcción social de la memoria. Ambas, tomadas en conjunto, les han posibilitado una doble apertura del objeto de estudio según los actuales lineamientos teórico-metodológicos de la historia de la historiografía (CATTARUZZA 2003, p. 212-214), al permitirles, por un lado, incluir sujetos que escribieron la historia, más allá de su mayor o menor encuadramiento dentro de los parámetros del historiador profesional, y, por otro lado, extender el análisis a diversos ámbitos sociales, institucionales, políticos, intelectuales, etc., en los que se construyeron –y desde los que se difundieron– visiones del pasado, a veces en tensión o contrapuestas entre sí. La consulta de fuentes de diverso tipo, más allá de las obras estrictamente historiográficas, contribuyó a encaminar la investigación en el sentido apuntado. De la conjunción de estos factores resulta un texto dinámico, que da cuenta –tal como lo sostienen las compiladoras del volumen– de un universo historiográfico “heterogéneo y abierto, desmoronando la imagen de una historiografía santafesina homogénea, estática y restringida”.
La sección “Disciplinas e instituciones” se abre con un trabajo de Mariela Coudannes sobre la historiografía santafesina entre 1935 y 1955. A la autora le interesa desentrañar hasta dónde los historiadores que actuaron durante esos años fueron verdaderos profesionales o más bien políticos de la historia –opción esta última por la que parece inclinarse. Para ello se detiene –en especial para el primer decenio, que constituye su especialidad[2]– en el análisis del contexto, las ideologías, las identidades sociales y políticas, y las relaciones entabladas con el poder. Se trata de un enfoque novedoso y aún poco utilizado en los estudios sobre historia de la historiografía santafesina, que le permite a Coudannes hacer interesantes aportes para un período que fue clave en el proceso de institucionalización de la disciplina histórica en la provincia. La autora explica, por ejemplo, que el proceso de profesionalización de la historia en la provincia se vio retrasado, entre otros motivos, por la resistencia de las familias tradicionales, dueñas del poder político, a perder el monopolio de la memoria social.
Sendo trabajos de Teresa Suárez y Sonia Tedeschi completan, desde el plano de lo institucional-disciplinar, a la primera sección. El primero se centra, a partir de herramientas conceptuales y metodológicas propias de la Historia de la Ciencia, en las convergencias entre Historia y Arqueología en el espacio del litoral santafesino–entrerriano. Pese a constituir la “Nación” el objeto hegemónico de los estudios historiográficos, durante la primera mitad del siglo XX quedaron espacios para el abordaje de la ciencia. La autora se detiene en el análisis de las instituciones y de los condicionamientos académicos, sociales, políticos e ideológicos a través de los cuales se desenvolvió –no sin dificultades y obstáculos– el mismo.
Por su parte, el trabajo de Tedeschi se ocupa del campo historiográfico santafesino en el período 1935-1970, si bien a través de la trayectoria individual de Salvador Dana Montaño. A través de este observatorio, busca indagar en la renovación disciplinar operada durante ese período y, en particular, en la relación entablada entre historia y ciencia política. Poniendo en relieve a un actor “oculto”, “opacado”, del escenario historiográfico provincial, revela una personalidad de aristas interesantes que realizó una significativa contribución como historiador de las ideas políticas argentinas y americanas, que manifestó preocupación por recuperar el aporte de las provincias a la organización nacional, y que procuró promover el estudio científico de la Política en el ámbito universitario.
La sección “Historiadores”, en tanto, se inicia con un trabajo de Inés Scarafía y Carina Giletta que, a través de la categoría de “memorias del poder”, se propone examinar el rol desempeñado por Estanislao Zeballos y Gabriel Carrasco –dos intelectuales santafesinos de fines del siglo XIX vinculados a los círculos de decisión política y económica– en la construcción y ordenamiento de la memoria y en el desarrollo de una historiografía asociada al poder del Estado. A ese fin, las autoras han seleccionado un texto de cada uno de ellos para el análisis: La rejión del trigo y el Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, dedicados en particular a las cuestiones de poblamiento e inmigración. La temática contemporánea y las motivaciones del presente que dieron marco a estas dos obras, la circunstancia de que, al elaborarlas, Zeballos y Carrasco actuaron, más que como verdaderos historiadores, como políticos al servicio del proyecto de país impulsado por la generación del ’80, y el hecho de que se trate de dos autores sumamente prolíficos, invitan a evaluar, sin embargo, si no sería conveniente ampliar el corpus sometido a análisis incluyendo, además, obras de índole más específicamente histórica, a fin de forjar un juicio más acabado sobre los aportes historiográficos de ambos.
A continuación, Teresa Suárez procura deconstruir el mito que el memorialismo propio del “programa nacional” de las primeras décadas del siglo XX construyó en torno a la figura de Gregoria Pérez de Denis. El artículo transita entre los tiempos de Gregoria, tratando de desentrañar los verdaderos alcances y móviles del donativo que hiciera esta dama al general Manuel Belgrano en 1810, y el análisis historiográfico de la imagen que de ella forjaron sus memorialistas –no únicamente el Félix Barreto que anuncia el título del capítulo de Suárez sino también otros historiadores– del siglo XX. Imaginario social, historia de las mujeres, perspectiva del género, renacimiento de la biografía, historia y memoria, análisis del discurso, entre otras herramientas disciplinares y metodológicas, aportan aquí a una nueva lectura del papel desempeñado por aquella mujer santafesina en la época revolucionaria.
El trabajo conjunto de Inés Scarafía, Carina Giletta y Silvina Vecari indaga en la visión que acerca de la colonización española en América fue provista por los historiadores vinculados a la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe y, en particular, por tres de ellos: Ángel Caballero Martín, José María Funes y José Pérez Martín. Se trata, según las autoras, de una visión hispanista centrada en la perspectiva del “colonizador”, que rescata la misión evangelizadora y civilizadora de España en América. Desarrollada por los historiadores mencionados entre las décadas del ’30 y del ’70 del siglo XX, y condicionada por su formación, afinidades ideológicas y vínculos con estructuras institucionalizadas y tradicionales, esta visión no daría cuenta de las nuevas lecturas que, desde el punto de vista del “colonizado”, se estaban produciendo en el campo historiográfico argentino y que se consolidarían desde mediados de siglo.
Un tercer artículo de Teresa Suárez sirve para introducir la figura del que ha sido considerado el más importante y reconocido historiador de la provincia: Manuel Cervera (1863-1956). Se trata, en realidad, del único trabajo incluido en la compilación dedicado especificamente a este historiador, y lo hace a través de un ángulo particular de análisis: la relación que entiende que existe entre el orden temático instituido por Cervera en su principal obra (La historia de la ciudad y provincia de Santa Fe, de 1907) y un documento de carácter histórico memorial de la etapa virreinal, consistente en una petición dirigida por el Cabildo de Santa Fe al virrey en 1780. Suárez hace notar la estructura similar de ambos textos, y rastrea los que considera “elementos identificatorios” entre el trabajo de Manuel Cervera y el de aquéllos que le han servido de testigos por medio de aquel petitorio: la secuencia cronológica de la primera Santa Fe, la formación de milicias santafesinas para la defensa frente al indígena, el nexo entre Santa Fe y su entorno regional y Santa Fe como ciudad relevante en una unidad política mayor. El artículo de Suárez se completa con un estudio sobre la educación y formación académica de Cervera y las influencias intelectuales que marcaron su obra, entre memorialista y científica, y que puede encuadrarse dentro del modelo de “historia integral”.
Al trabajo de Teresa Suárez le sigue otro de Mariela Coudannes, que continúa con el estudio de la relación entre historia y memoria, esta vez en torno a las representaciones sobre la identidad santafesina presentes en la Historia de Santa Fe, del historiador Leoncio Gianello (1908-1993). Entre esas representaciones destacan: la imagen de armonía en las relaciones interétnicas de la Santa Fe colonial, el esfuerzo y heroísmo santafesino demostrados en la lucha contra el indígena y en los sacrificios militares y económicos, y el protagonismo del pueblo santafesino acompañando a sus “grandes hombres” en la defensa de la libertad y la autonomía provincial. Se trata de representaciones sobre la identidad santafesina que ya habían sido enunciadas desde fines del siglo XIX y principios del siguiente por otros historiadores, como Ramón Lassaga y Manuel Cervera, y que Gianello toma y reconstruye a mediados del siglo XX a partir de su presente. Entiende Coudannes que este autor, al elaborar su relato histórico desde sus propios intereses y preocupaciones, puso de manifiesto un claro propósito de intervenir activamente en el proceso de construcción social de la memoria de su época.
Desde esta perspectiva –que hace recordar lo sostenido por Hobsbawm y Ranger en La invención de la tradición (HOBSBAWM; RANGER 1999, p. 12-13)–, la aparente antinomia historia/memoria queda diluida, en tanto el historiador mismo no puede escapar a las manifestaciones de su propia memoria, las cuales quedan reflejadas en su obra.
Finalmente, corresponde a Sonia Tedeschi cerrar la compilación con un trabajo sobre Juan Álvarez (1878-1954), el historiador más reconocido de Rosario –ciudad ubicada en el sur provincial– y quien, debido a sus enfoques innovadores, realizó un significativo aporte al estudio de la disciplina en la Argentina y la región. A partir del análisis de una selección de las principales obras de Álvarez enmarcadas en su contexto de producción, la autora examina su discurso historiográfico a fin de determinar su propuesta de periodización y manejo del tiempo histórico –que hace llegar hasta el pasado reciente–, algunas de las representaciones presentes en sus trabajos, y sus concepciones sobre la memoria colectiva y la función social de la Historia. De este examen, Álvarez surge como un autor pluridisciplinar, con la visión de una Historia que contenía una función revisora y correctiva de las distorsiones del pasado, escrita en un lenguaje accesible y con una función educadora, y capaz de aportar a la resolución de los problemas contemporáneos y de proyectarse al futuro en sentido de cambio social y económico.
Hasta aquí, una breve síntesis de lo que el lector puede encontrar en las páginas de Historiografía y sociedad. Si bien puede aducirse que, como historia de la historiografía santafesina, la obra presenta algunas lagunas, las mismas se justifican, por una parte, por su mismo carácter de compilación que la exime de la necesidad de ofrecer una estructura orgánica y, por otra parte, por la escasez de trabajos previos sobre el tema, confeccionados a partir de los nuevos paradigmas que señala la ciencia histórica (tal como sí habían ido apareciendo en los últimos años para otros espacios regionales de la Argentina. Vg.: MAEDER et al 2004). Además, ha sido una elección de las autoras el abordar en ciertos casos actores casi ignorados, dejando intencionalmente a un lado trayectorias más reconocidas. Por estos motivos, este libro constituye un indudable aporte, y su principal mérito reside en la renovación teórico-metodológica que significa para el campo historiográfico en la provincia de Santa Fe. Es de esperar, que su aparición sirva de disparador para nuevos estudios sobre la escritura del pasado santafesino, que continúen o complementen al que hoy pone a disposición de la comunidad científica y del público en general el equipo coordinado por Suárez y Tedeschi.
Referencias
AURELL, Jaime. La escritura de la memoria. Valencia: PUV, 2005.
CATTARUZZA, Alejandro. Por una historia de la historia. In: CATTARUZZA, Alejandro; EUJANIAN, Alejandro. Políticas de la historia. Argentina 1860- 1960. Buenos Aires: Alianza, 2003.
HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (eds.). The invention of tradition. Cambridge University Press, 1999 (1983).
MAEDER, Ernesto; LEONI, María Silvia; QUIÑONEZ, María Gabriela; SOLÍS CARNICER, María del Mar. Visiones del Pasado. Estudios de Historiografía de Corrientes. Corrientes: Moglia ediciones, 2004.
[1] Señala Jaume Aurell que es tarea del historiógrafo releer la producción histórica de los que le han precedido desde el tercer piso de la reflexión historiográfica, trascendiendo el primer piso, el de la misma historia –la vivencia de los acontecimientos– y el segundo piso, el de la reflexión histórica –el estudio de una época determinada.
[2] Mariela Coudannes Aguirre tiene en curso la tesis de Maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional del Litoral (Arg.) sobre el tema “Historiadores y usos del pasado en Santa Fe: 1935-1943”.
María Gabriela Micheletti – Profesora asistente Universidad Católica Argentina (UCA) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Investigadora asistente mgmicheletti@conicet.gov.ar Sarmiento, 1254 Rosario 2000 Argentina.
A história na América Latina – MALERBA (HH)
MALERBA, Jurandir. A história na América Latina: ensaio de crítica historiográfica. Rio de Janeiro: FGV, 2009, 146 p. Resenha de: GROSSO, Carlos Eduardo Millen. A historiografia na América Latina em questão. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 05, p.228-231, setembro 2010.
O livro de Jurandir Malerba, A história na América Latina: ensaio de crítica historiográfica, vem se juntar à escassa bibliografia em português sobre a historiografia latino-americana. A proposta do livro consiste em apresentar, sinteticamente, as vertentes historiográficas do Continente em uma perspectiva histórica, possibilitando ao leitor perceber o processo de mudança da historiografia a partir da década de 1960.
Ainda que o autor classifique esta análise historiográfica como heurística, seu texto é bem mais que um conjunto de hipóteses de investigação a ser testada à luz de pesquisas futuras, não só pelo rigor com que é apresentada, mas também pela perspectiva histórica empregada. Jurandir Malerba, na tentativa de explicar como as grandes linhas da historiografia foram desenhadas nas últimas quatro décadas, argumenta que a história da historiografia da América Latina, entre os anos de 1960 até os dias atuais, é marcada por uma radical transição paradigmática que levou à recusa das histórias de caráter holístico e sintético, em detrimento de novas modalidades analíticas de escrita histórica, centradas em objetos construídos em escala reduzida.
As tendências historiográficas estão agrupadas em dois capítulos cujos títulos já demonstram a abordagem histórica que ultrapassa os enfoques tradicionais, que, normalmente, resultam em “uma classificação estática e não mais que descritiva das vertentes historiográficas do continente” (MALERBA 2009, p. 14): “Décadas de 1970 e 1980 – a história econômica e a história social”; “Décadas de 1980 e 1990 – nova história política e nova história cultural”. No entanto, é preciso sublinhar, o livro de Jurandir Malerba não tem como objetivo abarcar todo o material historiográfico latino-americano produzido no período em questão. Trata-se de destacar as “tendências majoritárias” dessa historiografia, analisando os trabalhos mais representativos.
É justamente na análise das principais obras das correntes historiográficas da América Latina que reside o ponto alto do livro. O autor expõe, com clareza, as referências teóricas, as problemáticas, os temas e os debates que orientaram e vem orientando tais estudos, sem se eximir do contexto histórico local e mais amplo de transformações societais e epistemológicas catalisadas na década de 1960.
A partir dos anos 60, assiste-se à reorganização do modo de funcionamento social e cultural das sociedades de capitalismo central. Salientamse, neste contexto, as contestações ao colonialismo europeu, a rápida expansão do consumo e da comunicação de massa, o enfraquecimento das normas autoritárias e disciplinares e o impulso de individualização. Vê-se, além disso, o abalo dos alicerces absolutos da racionalidade e o fracasso das grandes ideologias da história. Nos termos de Gilles Lipovetsky, tal movimento se deu sob o signo da “descompressão cool do social” (LIPOVETSKY; CHARLES 2004, p. 50). De fato, os neologismos pós-moderno, pós-estruturalista tinham um mérito: evidenciar a grande transformação que se desenvolvia nas sociedades de democracia liberal, caracterizada pela redução das pressões e imposições sociais.
No meio de toda essa ebulição elevam-se novas perspectivas historiográficas, que se alicerçam, essencialmente, em quatro axiomas: a preocupação com o popular, os objetos construídos em escalas reduzidas, a valorização das estratificações e dos conflitos, os socioculturais como objetos de investigação.
Esse movimento é uma reação contra os modelos de se conceber e praticar história que insistiam em seguir abordagens holísticas e totalizantes, promovendo a discussão de temas aos quais as grandes narrativas haviam deixado de fora da disciplina: mulheres, negros, índios, crianças, gays etc.
Com a abertura dessas perspectivas teóricas e temáticas ligadas, basicamente, aos campos da história social e da nova história cultural, foram e estão sendo gestados inúmeros trabalhos em todo mundo. No caso específico da América Latina, o ingresso ocorreu de forma acentuada a partir dos anos 80. Jacques Le Goff (1996, p. 541) descreve uma revolução quantitativa e qualitativa realizada pelos historiadores, na qual o interesse da memória coletiva e da história já não se cristaliza exclusivamente sobre os grandes homens e os acontecimentos. A história que avança depressa, a história política, diplomática, militar, interessa-se por todos os homens, suscita uma nova hierarquia mais ou menos implícita dos documentos.
Por óbvio, o espaço de uma resenha não possibilita esquadrinhar todo caminho analítico percorrido pelo autor. A despeito de todo valor intrínseco dos novos objetos (escravos, índios, mulheres, trabalhadores rurais, população rural) e dos modelos teórico-metodológicos, altamente pertinentes e relevantes, Jurandir Malerba conduz o leitor à reflexão de que certas práticas repetidas, sem muito esforço analítico ao longo dos anos, são merecedoras da atenção dos historiadores. Por exemplo, a excessiva fragmentação do objeto de estudo resulta numa visão setorizada da cultura, de modo a dificultar a obtenção de um panorama cultural de um determinado local com um conjunto de miniaturas etnográficas.
Além disso, Malerba parece tentar mostrar que as problemáticas advindas de sociedades típicas liberais não comportam todas as particularidades históricas da América Latina: Sem entrar no mérito do valor intrínseco daquelas temáticas, cada uma delas altamente pertinente e relevante, desejo aqui apenas destacar o fato de que chegaram à América Latina “vindas de fora”, como problemáticas urgentes, típicas de sociedades liberais desenvolvidas que já não têm as mesmas questões estruturais para resolver, como, por exemplo, aquelas que caracterizam a totalidade das nações latino-americanas em virtude de circunstâncias históricas que as chamadas “teorias da dependência” começaram a denunciar e estudar na década de 1960, vis-à-vis as relações econômicas assimétricas com as economias centrais e as consequentes formas injustas de inserção dessas mesmas nações no mercado mundial como exportadoras de matéria-prima e importadoras de produtos industrializados e tecnologia. (MALERBA 2009, p. 34-35) Na posição do autor, que é questionável, a historiografia da América Latina parece incorrer no erro da mimese. Segundo o qual, “o que há de novo na historiografia latino-americano se encontra no passado, estando o presente pleno de pastiche e cópia” (MALERBA 2009, p. 120). A seu ver, as novas perspectivas teóricas e temáticas ligadas aos campos da história social e da nova história cultural frearam o desenvolvimento de teorias, especialmente a teoria do desenvolvimento, e temas condizentes com os problemas estruturais da América Latina, como a histórica concentração da propriedade da terra e a má distribuição de terras. Ao contrário de muitos autores, que destacam justamente uma série de problemas na teoria da dependência, Malerba tende a enfatizar o caráter genuíno do pensamento formulado na América Latina, para explicar sua história e situação presente.
Enfim, o livro é leitura interessante e provocativa – num universo editorial em que os livros cada vez menos arriscam –, e nos estimula a continuar refletindo sobre a historiografia da América Latina. Na conta dos aspectos negativos mencione-se que, em certos momentos, o autor parece refutar o legado positivo do pós-estruturalismo, refletido nas novas tendências historiográficas na América Latina a partir dos anos 60.
Referências
LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Unicamp, 1996.
LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sébastien. Les temps hypermodernes. Paris: Grasset & Fasquelle, 2004.
MALERBA, Jurandir. A história na América Latina: ensaio de crítica historiográfica. Rio de Janeiro: FGV, 2009.
Carlos Eduardo Millen Grosso – Doutorando Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) machadosartre@yahoo.com.br Rua Trindade, s/n Florianópolis – SC 88040-900 Brasil.
Escrituras da história: da história mestra da vida à história moderna em movimento (um guia) – ANHEZINI (HH)
ANHEZINI, K. Escrituras da história: da história mestra da vida à história moderna em movimento (um guia). Guarapuava: Unicentro, 2009, 80 p. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. As metamorfoses da “escrita da história”. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 05, p.223-227 setembro, 2010.
A história mestra da vida possui certidão de nascimento grega [com a obra de Tucídides], o nome cunhado em latim [por Cícero], os primeiros exemplos que a compunham eram profanos. […] Todavia, no século XVIII, essa forma de conceber a história se dissolveu.
Um novo espaço de experiência criou um novo horizonte de expectativas e, nesse processo, a concepção de tempo foi transformada. (ANHEZINI 2009, p. 76).
Nesses termos, Karina Anhezini (professora de teoria da história na UNESP, campus de Assis) sintetiza as mudanças da “escritura da história”, entre os séculos IV antes de Cristo e o século XVIII, como uma passagem da história mestra da vida (e fornecedora de exemplos) para a história enquanto processo contínuo, empreendida originalmente pelas “filosofias da história”, produzidas pelo “movimento iluminista” na Europa. Sua obra é voltada para o aluno que está ingressando no curso de história – estando inserida no projeto de ensino semipresencial da Universidade Estadual do Centro-Oeste (a Unicentro/PR), de oferecimento do curso de licenciatura plena em história à distância –, mas por suas qualidades pode facilmente ser útil ao especialista e a todo interessado em temas de história. Por outro lado, o livro chega também em boa hora, pois, se acrescenta a uma bibliografia ainda escassa em nosso meio, de obras introdutórias ao campo da teoria da história, da historiografia e da introdução aos estudos históricos, durante muito tempo limitados aos manuais acadêmicos de Jean Glénisson, José van den Basselaar, José Honório Rodrigues, José Roberto do Amaral Lapa, Francisco Iglésias, e, mais recentemente, por obras como História e teoria (2003) de José Carlos Reis e Teorias da história (2004) de Astor Antônio Diehl.
Seu principal objetivo foi, tomando de empréstimo a ideia de “operação historiográfica” de Michel de Certeau (1925-1986), mostrar que o “fazer história” inevitavelmente carrega as marcas de um “lugar” (um recrutamento, um meio, uma profissão), de “procedimentos de análise” (uma disciplina) e de uma “escrita”, que é a construção de um “texto” (uma literatura), que fazem com que o exercício de “escritura da história”, seja uma “prática” efetuada pelo historiador. Com esse intento, a autora procurou mostrar a importância do contexto para o indivíduo, e como ele age na produção da obra, na formação e nas experiências do autor (que limitado à sua época, carrega as suas marcas), como e por que ele escreve a sua obra e a quem ele a direciona, quais as estratégias narrativas que foram utilizadas e como o autor forma o seu estilo, de que modo a obra foi publicada e qual a herança crítica que ela deixou.
Mas que não se engane o leitor mais apressado, imaginando que pelo texto ter esse perfil didático, não deixe de carregar erudição. A própria simplicidade com que o leitor é conduzido pelo livro, fruto de um estilo de exposição dos dados, lhe deixará com a impressão de superficialidade.
Entretanto, esse não é o caso, e vejam-se tão somente alguns pontos para se demonstrar o argumento.
O primeiro ponto importante diz respeito à forma como a autora demonstra que embora a história mestra da vida constituísse um modelo de escrita da história, houve muitas variações no modo sutil com que cada autor, grego ou romano da Antiguidade (e mesmo depois no período medieval e moderno), apropriou-se dele na sua apresentação dos dados, por meio de uma narrativa.
Ela inicia essa demarcação fornecendo subsídios para que o leitor possa perceber como a História, antes de se distinguir como gênero específico, utilizou-se da epopeia, porque a “narrativa heroica de ações grandiosas, a construção da memória do aedo e a descoberta de um regime de historicidade são, nas palavras de Hartog, as condições que possibilitaram o que, alguns séculos mais tarde, será nomeado por Heródoto, história” (p. 16). Nesse processo, demonstra que questões como: verdade, testemunho, diferenças entre realidade e imaginação, real e ficção, e “o fato de ver paralelamente os dois lados abre a possibilidade de pensar […] [qual o] papel para o historiador” (p. 17). Por isso, também ressalta o que caracterizou a epopeia, com os exemplos da Ilíada e da Odisseia, e quais as diferenças e aproximações entre ela e a (escrita da) História, por que: A organização do texto épico se pautava na narrativa dos feitos dos homens e dos deuses. Com Heródoto, a história não pretendeu romper completamente com essa característica central da palavra épica, mas, sem dúvida, provocou algumas fraturas. […] a preocupação com a memória; a renúncia às certezas do aedo; a narrativa dos feitos dos homens, pois os feitos dos deuses escapam às possibilidades do historiador investigar; diferente do aedo o historiador viaja com os próprios pés e pelos relatos de outros e não mais por inspiração divina (p. 21).
Com Tucídides (455-404 a.C.), a escrita da história agrupa o valor de “prova”, seja com a participação direta do historiador quanto aos eventos narrados, seja por demarcar uma abordagem adequada ao espaço do observador no presente (que, evidentemente, será depois criticada por visualizar a “história política”, com esta exclusividade). Ao eleger a Guerra do Peloponeso, um fato marcante em sua época, Tucídides começou a dar ênfase à história baseada em “exemplos”. Ainda que ambos considerassem “a tradição oral superior à tradição escrita” e confiassem “em primeiro lugar em seus olhos e ouvidos e depois nos olhos e ouvidos de testemunhas confiáveis”, diferenciavam-se na medida em que “Tucídides nunca se contentava em registrar algo sem assumir a responsabilidade pelo que registrava” e também “raramente indicava as fontes porque queria ser digno de confiança” (p. 25-26). Outro aspecto importante, ao comentar tais autores, foi o destaque que a autora deu ao informar os diferentes usos (e abusos) que tanto a obra como os autores tiveram ao longo do tempo, em função das características políticas e culturais de cada momento, que fará com que em cada período histórico “os textos” tenham “significados diferentes e que, por isso, precisamos ficar atentos para questionarmos os cânones literários, filosóficos e, sobretudo, historiográficos” (p. 29).
Com Aristóteles (384-322 a.C.) e Políbio (210-130, aprox.) houve uma preocupação especial em se diferenciar os papéis de cada campo do saber, que, para o primeiro, a História seria incumbida do “particular”, enquanto a Poesia (épica) do “geral” (fato marcante durante séculos, por excluir a capacidade de reflexão filosófica nos estudos históricos), e o segundo lhe responde ao pretender escrever a “primeira história universal”. Com Cícero (106-43 a.C.), a escrita da história passará a dar importância sobre alguns temas, como: “exemplos, imparcialidade, biografia, história dos grandes homens e imitação”. Para ele, “a história, para ser verdadeiramente escrita, para deixar de ser apenas o registro nos anais, deve ser escrita para o orador e ninguém melhor que ele, o próprio orador, para escrever tal história, pois domina a arte da palavra, a eloqüência”.
Não será sem razão que a história passara a ser mestra da vida, ao fornecer os exemplos descritos pelo orador. E: Para escrever a história são necessários fatos e palavras. O historiador pode ordenar esses fatos, apresentá-los por meio das palavras, mas nunca poderá instaurá-los, criá-los, instituí-los. Os fatos são verdadeiros, eles existem, seu aproveitamento e composição pertencem à competência do orador (p. 37).
Por outro lado, as críticas levantadas por Luciano de Samósata (125- 181) são descritas pela autora como um momento de reflexão teórica pouco usual na Antiguidade, e de profundo interesse para se entender os caminhos da escrita da história, e os usos políticos a que foi submetida. Ao demonstrar como Flávio Josefo se utilizou das características desse modelo de “escritura da história”, com vistas a criticar tanto gregos como romanos que foram seus criadores, por a praticarem de forma inconsistente e inadequada, este acreditará que “sua história é verdadeira não somente pelos procedimentos da autópsia aprendidos com Tucídides, mas porque uma instituição [a Igreja] atesta a veracidade dos fatos narrados” (p. 47). O aparecimento de uma instituição, neste caso a Igreja, para demarcar a autenticidade e veracidade dos fatos narrados pelo historiador, constitui o início da fundação do “lugar”. Com Eusébio de Cesareia (265-340) e Santo Agostinho (354-430) essa questão será ainda mais marcante nos contornos que tomaram a escrita da história, tendo em vista a importância que terá a instituição na demarcação dos temas e objetos a serem escolhidos, analisados e descritos pelo historiador.
Depois de descrever as variações e a durabilidade da história mestra da vida na “escritura da história”, a autora, tendo por base a obra de Reinhart Koselleck (Futuro passado), passará a demonstrar a sua dissolução no século XVIII. Para isso foi necessária a formação de “novas” expectativas sobre o passado, o presente e o futuro. E que se deram em função de uma mudança na compreensão da História (enquanto processo contínuo), não mais como fornecedora de exemplos sobre o passado, mas como indicação da maneira que se dará o processo histórico (no presente e no futuro), apreendendo o “conceito de coletivo singular”, ao destacar que “acima das histórias” está a História. Nesse aspecto, o surgimento, nesse momento, das “filosofias seculares da história” fará com que a história adquira “um caráter processual cujo fim é imprevisível” (p. 72) e, com isso, favorecerá a inauguração de um novo futuro, por meio da reelaboração do passado. Além disso, a modernidade marcará o aparecimento de uma experiência conjunta de aceleração e de retardamento, com as revoluções e suas contraofensivas. Para ela, Koselleck explicará como a “aceleração causada pela Revolução Francesa modifica a forma de compreensão do tempo e, portanto, altera o próprio tempo” (p. 74).
Nesse sentido, além de fornecer subsídios para que o ingressante ao ofício de historiador possa compreender o que é a teoria da história, e de que modo a escrita da história muda com o tempo, a autora também dá base para que este perceba que qualquer modelo de “escritura da história” não é homogêneo, que sua elaboração é mediada por questões políticas e culturais, que este traz as marcas de seu tempo, que seus fundamentos visam atingir a um fim e este fim pode também direcionar a maneira com que os dados são apresentados (seja numa forma narrativa ou outra). Contudo, mesmo considerando seus objetivos didáticos, não há como negar que em alguns pontos os argumentos poderiam ter ficado mais consistentes, com o aporte de outros autores, como: Carlos Ginzburg (de Relações de força, e de O fio e os rastros), Luiz Costa Lima (de História.Ficção.Literatura, e de O controle do imaginário & a afirmação do romance), François Cadiou (de Como se faz a história) e Maria das Graças de Souza (de Ilustração e história) – para ficar apenas em alguns. Muito embora essa questão e alguns pequenos erros tipográficos da edição, que em nada interferem nos méritos da obra, esta deve ser muito elogiada pelo seu caráter didático. A lamentar apenas a política editorial da Universidade Estadual do Centro- Oeste (a Unicentro/PR), que, com pequenas tiragens (como a deste livro de 400 exemplares, ainda que reconheçamos a especificidade do projeto em questão), não comercializa suas obras, que seriam fundamentais para um intercâmbio entre outros cursos de história e de ciências sociais, além de disponibilizar as obras para um público mais amplo.
Diogo da Silva Roiz – Doutorando Universidade Federal do Paraná (UFPR) diogosr@yahoo.com.br Rua Tibagi, 404/100 – Centro Curitiba – PR 80060-110 Brasil.
A história na América Latina: ensaio de crítica historiográfica – MALERBA (HH)
MALERBA, Jurandir. A história na América Latina: ensaio de crítica historiográfica. Rio de Janeiro: FGV, 2009, 146 p. Resenha de: HURBY, Hugo. Caminhos da historiografia latino-americana. História da Historiografia, Ouro Preto, n 05, p.212-217, setembro 2010.
O recente livro de Jurandir Malerba atesta o rico momento no qual os historiadores se encontram. Recuperando o que lemos em número recente neste periódico, “a História da Historiografia vai ocupando um espaço cada vez mais importante no ateliê dos historiadores” (GUIMARÃES 2009, p. 258). Espaço assaz fértil de reflexão sobre o nosso próprio métier. O autor é professor com trânsito por várias instituições, pesquisador experiente e escritor/tradutor de difundidos e instigantes trabalhos. A editora é renomada pela qualidade de suas publicações e especial atenção dedicada à História. Momento propício, autoria qualificada e editoração incentivadora reúnem-se em A história na América Latina: ensaio de crítica historiográfica.
Oriundo de pesquisas do autor para compor a volumosa Colección Unesco de Historia General de América Latina (MALERBA 2006a), o livro tem por objetivo refazer os itinerários da historiografia latino-americana, a fim de perceber o processo de mudanças a partir da década de 1960. O intuito de compreender essa trajetória parte de duas premissas: considerar os anos 60 ponto de inflexão da cultura ocidental e não perder de vista as fortes e ambíguas relações que os intelectuais latino-americanos mantêm com os centros hegemônicos, Estados Unidos, Inglaterra e a França.
Pequeno em suas dimensões, o livro é grande na pretensão analítica e pesado nas críticas. Introdutoriamente, o autor nos dá uma ampla visão da historiografia ocidental através do contexto intelectual na “transição paradigmática”, que tem os anos de 1968 e 1989 como dois marcos simbólicos.
De um a outro se observa o paulatino recrudescimento do “pós-estruturalismo” desembocando nas proposições “pós-modernas”. Ressalvados o sincretismo e as imprecisões que tais termos carregam, o autor problematiza dois postulados ligados a essas correntes de pensamento: a teoria da linguagem e a negação do realismo. O texto preliminar fecha com uma questão de suma importância e próxima a muitos pelo impacto nos cursos de graduação de onde somos.
Malerba reflete, com muita propriedade, sobre a presença do marxismo na historiografia latino-americana: aparato teórico, metodológico e ideológico fomentador de forma vivaz do debate a partir da segunda metade do século XX. Aqui inicia a análise crítica do autor sobre trabalhos específicos de intelectuais latino-americanos, nos quais vislumbramos o pulsar da tradição marxista na Argentina, Peru, México, Brasil. Tal tradição criativa e influente, deveras afetada pelas grandes transformações mundiais, passou a sofrer pesadas críticas, suscitando o chamado “pós-marxismo”. Se esses momentos “pós” na América Latina recebem atenção pela perda da referência na totalidade em que se inserem, Malerba aponta, igualmente, para a saudável retomada de uma tradição problematizadora, que mistura os ensinamentos do marxismo mais arejado com os aportes do movimento historiográfico francês dos Annales.
Esse diálogo dos Annales com o marxismo renderia, conforme o autor, o que de melhor se produziu nos últimos 30 anos na historiografia latino-americana nos campos da história econômica e história social. A produção na América Latina, nessas duas modalidades de escrita histórica, é mapeada no primeiro capítulo, intitulado “Décadas de 1970 e 1980”. Nele, o autor nos apresenta o labor de historiadores econômicos no Brasil, Argentina e Chile, ainda na primeira metade do século XX, cujos esforços foram conjugados na Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL). A partir dos problemas de desenvolvimento da região, o autor analisa a eclosão de teorias da dependência como pensamento genuinamente formulado por intelectuais latino-americanos para explicar o presente através do passado. A validade de teorias como essas, sob visão macrossocial e histórica, acabaria por sucumbir no cenário acadêmico diante do contexto de fragmentação da “transição paradigmática”.
Ao longo da década de 1970, a História econômica, gradualmente, assumiu grande prestígio e vitalidade. De maneira muito didática, Malerba esquematiza os temas abordados pela história econômica distribuídos nos períodos colonial, nacional e século XX. Destes, o campo da economia colonial foi um dos que mais impulsionou a historiografia econômica na América Latina. Guiados pelo autor, acompanhamos os trabalhos de vários pesquisadores, com destaque para os estudos de história agrária no Brasil. Ainda no primeiro capítulo, o diálogo do marxismo com os Annales nos é mostrado ao seguirmos o itinerário da história social através da pertinente seleção de publicações. A ampliação dos horizontes temáticos da história social deu-se, principalmente, pelas pesquisas sobre escravidão, trabalho e movimentos sociais.
Especificamente sobre a história social do trabalho, para além da constatação de renovação acarretada pelo marxismo britânico, Malerba nos mostra como a abordagem tradicional, concentrada quase exclusivamente nas ideologias das classes trabalhadoras, seus líderes e suas relações formais com os partidos políticos, vai sendo superada. A produção historiográfica sobre a classe operária e o mundo do trabalho na América Latina se altera mediante o impacto das profundas transformações globais. Através da “nova história social”, os pesquisadores passam a enfatizar a diversidade das experiências entre as massas trabalhadoras, fugindo das pretensões generalizantes. Questões de gênero, etnicidade, desenvolvimento da cultura popular, formação de identidades e vida cotidiana (daqueles que não participaram de sindicatos ou partidos políticos de trabalhadores) são exemplos que Malerba nos traz para mostrar a incorporação de leque mais amplo de tópicos na história social do trabalho nesses países.
No período de transição democrática, na década de 1980, os pesquisadores latino-americanos se esmeraram por conhecer o papel de resistência da sociedade civil organizada. O tumultuado momento contribuiu para a força desse campo através do tema dos movimentos sociais. Novas preocupações e objetivos acabaram por transformar a natureza dos movimentos sociais e as relações entre eles (sindicalistas, gays, feministas, ambientalistas). Não obstante tal diversificação, o foco do interesse dos historiadores recaiu sobre as questões de identidade e cultura. No entanto, de forma perspicaz, Malerba mostra como a produção acadêmica passa a adotar postura mais cautelosa do que a celebrativa inicialmente. Posição que, no entanto, ainda não conseguiu afastar a militância das pesquisas.
No segundo capítulo, “Décadas de 1980 e 1990”, Malerba avança na análise tendo a “nova história política” e a “nova história cultural” como dois campos que melhor caracterizam a produção latino-americana nos últimos decênios do século. No primeiro campo, o autor seleciona dois temas de destaque na historiografia. Nas pesquisas sobre a construção do Estado e da Nação na América Latina independente (século XIX) percorremos os estudos na Argentina, México, Colômbia, Peru e Brasil. O movimento de revitalização na história política é observável quando os pesquisadores tornaram mais complexas questões como a emergência de identidades nacionais, ruptura do pacto político entre colônia e metrópole, variedades de federalismos, participação de grupos camponeses e indígenas. Os trabalhos historiográficos sobre os regimes populistas e ditatoriais, igualmente, foram merecedores da atenção dos pesquisadores na história política.
Até então trabalhando com foco nos sujeitos, processos político-partidários e na história do Estado e das elites no poder, as historiografias nacionais começaram a renovar essa abordagem tradicional.
Considerando a “nova história cultural” como outro campo importante de estudos no período, Malerba problematiza o seu próprio advento e caracterização na historiografia. Mais recentemente, segundo o autor, apesar das amplas pretensões, os pesquisadores envolvidos neste campo se identificariam pela referência a um corpo canônico de obras, referências teórico-metodológicas, escolha de certas fontes e uso de “jargão” especializado sobre representações, textualidade, relações de poder, subalternidade e identidades sexuais e raciais, intimidade e privacidade, cultura popular. Se, aparentemente, a agenda do campo está definida, Malerba aponta que sua forma de execução se caracteriza por certa “mestiçagem” na abordagem e “liberdade criadora” na prática para além do receituário prescrito. A pujança da história cultural pode ser percebida nos dois exemplos selecionados pelo autor. Tanto na história do cotidiano e da vida privada, como na de relações de gênero, fica visível o imbricamento desse campo com os demais trabalhados ao longo do livro.
Seguindo a forma clara e didática que acompanha os parágrafos do livro, a parte final comporta importante orientação bibliográfica. Complementa aquelas referências trabalhadas ao longo do texto, indicando sucintamente uma série de trabalhos de pesquisadores em diferentes países, não só latino-americanos. A rica bibliografia apresentada e trabalhada pelo autor nos permite adentrar em balanços historiográficos gerais e regionais, e nas discussões teóricas.
O ensaio de crítica historiográfica de Jurandir Malerba, em sua pretensão de síntese, delineia tendências na historiografia latino-americana ao selecionar publicações de maior representatividade nos campos e momentos historiográficos. Autores, livros e grupos de pesquisas em diversos países da América Latina alicerçam o ensaio como linhas mestras ou tendências majoritárias na historiografia. Linhas ou tendências que se cruzam, mesclam, dialogam através de fronteiras porosas. O caráter seletivo, pois panorâmico, como o próprio autor adverte, fez com que outras vertentes na produção historiográfica não fossem contempladas. Somos precavidos, ainda, para o descompasso entre as trajetórias nas diversas historiografias nacionais, em que os campos escolhidos assumem, em alguns casos, rótulos distintos. Porém, ao final da leitura do livro, ficamos convictos de que os quatro campos selecionados – história econômica, política, social e cultural – são expressivos para mostrar o turbilhão que varreu o ateliê de Clio, a partir da década de 1960, fragilizando teorias, projetos, modelos, métodos, certezas, verdades. E para mostrar também o quanto os profissionais da História, ainda hoje, se encontram afetados por uma transição em aberto.
Diante dessa caminhada pela historiografia latino-americana, em um momento de guinada radical nas formas de se conceber e praticar a história, a análise de Malerba permite enxergarmos, claramente, três questões. Os historiadores latino-americanos reiteraram seu papel de importadores de pensamentos, modismos, pastiches, cópias. As problemáticas “vindas de fora”, típicas de sociedades liberais desenvolvidas, refletiram, muitas vezes, os anseios e as demandas da cultura do pesquisador estrangeiro (latino-americanista) e não necessariamente os dos povos pesquisados. Haveria a hegemonia de uma literatura estrangeira como “substrato teórico da produção local”. Através de “clichês”, avulta a dificuldade dos historiadores em assimilar as reflexões teóricas daquela literatura na orientação de suas pesquisas e na própria construção dos textos. Mas fugindo do “imperialismo científico” ou da “expansão do capitalismo no Terceiro Mundo”, Malerba adverte para a complexidade do intercâmbio acadêmico Norte-Sul. A crescente aproximação dos intelectuais latino- -americanos da intelligentsia nos centros hegemônicos, em especial estadunidense, permitiu a entrada de novos personagens e temáticas na agenda dos pesquisadores. Esse ingresso conduziu a uma sofisticação metodológica ao exigir novos tratamentos para certos tipos de fontes. A segunda questão está na importância do pós-estruturalismo e seus sucedâneos na destruição de “velhas verdades engessadas”. No entanto, contribuíram negativamente para a perda da percepção global da sociedade latino-americana, de sua história e de suas relações com o resto do mundo. O afastamento epistemológico das abordagens holísticas e totalizantes fez diminuir o alcance das “teorias”, fragmentando-as. Por fim, a análise de Malerba indica a premência da democratização da produção e circulação de informações pelo ambiente acadêmico latino-americano para possibilitar a definição de nova agenda para os estudos históricos que atenda aos interesses de seus povos.
Se a proposta do autor não consegue iluminar todo amplo espaço que o título do livro alude, aceitemos o estímulo dado por Malerba a fim de que problematizemos as hipóteses e percepções lançadas, perscrutemos outros campos e a produção dos demais colegas latino-americanos. O importante é não perdermos de vista a abrangência dos estudos históricos, já que a carreira acadêmica nos conduz a questões cada vez mais reduzidas, descoladas muitas vezes do todo. Em razão disso, a leitura dessas sínteses é extremamente importante, não só para o estudante, mas para o próprio pesquisador experimentado que se preocupa em se ver (para se colocar) como integrante de uma disciplina em crise de crescimento.
Para finalizar essa resenha crítica, permito-me lançar quatro indicações suscitadas pela provocante leitura do ensaio. Como exemplos recentes da salutar dinâmica entre os historiadores latino-americanos, lembremo-nos do II Encontro da Rede Internacional Marc Bloch de Estudos Comparados em História (Porto Alegre, outubro de 2008) e do IX Congresso Internacional da Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC), em maio de 2010, na Colômbia. Esperanças de trocas fecundas, igualmente, estão focadas na nascente Universidade Federal da integração Latino-Americana (UNILA). Outro ponto está na possibilidade de pensarmos, desde já, a trajetória da historiografia latino- -americana na primeira década do século XXI. Somente no Brasil, além da irrigação nesses campos trabalhados por Malerba, tivemos a proliferação de novas “plantações”. Por exemplo, a quantidade de simpósios temáticos nos dois últimos encontros da Associação Nacional de História (ANPUH) é expressiva: 76 em 2007 e 85 em 2009.
Na visada historiográfica pós-muro, para além dos centros citados – Estados Unidos, França e Inglaterra – poderíamos ir além refletindo sobre a relação dos historiadores latino-americanos com os centros de pesquisa alemães e italianos através da pós-graduação e/ou crescente aumento das publicações aqui traduzidas. Por fim, reitero os esforços do professor e pesquisador Jurandir Malerba na problematização da historiografia contemporânea materializados, principalmente, em Esboço crítico da recente historiografia sobre a independência do Brasil (MALERBA 2006b), A história escrita (MALERBA 2006c) e Historiografia contemporânea em perspectiva crítica (MALERBA; ROJAS 2007), ao lado dos quais este novo livro sobre a historiografia na América Latina passa a fulgurar.
Bibliografia
GUIMARÃES, L. M. P. Entrevista para Valdei Lopes de Araujo. História da historiografia, 3:237-258, Ouro Preto, set. 2009.
MALERBA, J.; ROJAS, C. A. (org.). Historiografia contemporânea em perspectiva crítica. Bauru: Edusc, 2007.
_____. Nuevas perspectivas y problemas. MARTINS, E. de R.; PEREZ BRIGNOLI, H. (org.). Teoría y metodología en la Historia de América Latina.
Madrid: Trotta, 2006a. p. 63-90. (Colección Unesco de Historia General de América Latina, v. 9) _____. Esboço crítico da recente historiografia sobre a independência do Brasil (c. 1980-2002). In: _____. (org.). A independência brasileira, novas dimensões. Rio de Janeiro: FGV, 2006b. p. 19-52.
_____. (org.). A história escrita, teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006c.
Hugo Hruby Doutorando Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) hugohruby@yahoo.com.br Rua Assunção, 395/101 Porto Alegre – RS 91050-130 Brasil.
Los dos príncipes: Juan D. Perón y Getulio Vargas. Un estudio comparado del populismo Latinoamericano – Groppo (HH)
GROPPO, Alejandro. Los dos príncipes: Juan D. Perón y Getulio Vargas. Un estudio comparado del populismo Latinoamericano. Villa María: EDUVIM, 2009, 479 p. Resenha de: CARRIZO, Gabriel. Acerca del “renacer de los estudios sobre el Populismo”: una (nueva) mirada comparativa del Peronismo y el Varguismo. História da Historiografia. Ouro preto, n.5, p.205-211, set. 2010.
En los estudios acerca del populismo en América Latina ha primado una explicación historicista de dicho fenómeno político. En efecto, la tradición latinoamericana ha entendido que el populismo se encuentra circunscrito en un período histórico particular de América latina, desde la década del ‘30 hasta la desaparición del modelo de desarrollo de industrialización mediante la sustitución de importaciones a fines de la década del ‘60. En esta perspectiva es clara la fuerte asociación entre la política populista (entendida como una alianza de clases bajo la conducción de un líder carismático) y la estrategia de desarrollo mediante la industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Asimismo, en cuanto estudio historiográfico del populismo exista, se ha destacado su uso reduccionista, su vaguedad e imprecisión, su estiramiento conceptual, su carácter pantanoso que obligaría a su olvido. Se lo ha postulado como sinónimo de Estado interventor y asistencialista y / o como negación de los valores elementales de la democracia representativa al poner énfasis en la cuestión del liderazgo demagógico, las relaciones clientelistas y la manipulación de masas, lo que ha implicado no pocas veces considerar al populismo como un “peligro”.
Por ello se lo ha destacado como una anomalía que aparece en los sistemas políticos que no son estables y dinámicos y que una vez en el poder, el populismo busca debilitar las instituciones al privilegiar la relación directa con la gente.
Para Francisco Panizza (2009), el problema de este enfoque historicista es que presenta serias limitaciones en el momento de explicar fenómenos populistas que trascienden la etapa histórica y el lugar geográfico. Además, los aportes provenientes en su mayoría de la sociología política, nos siguen mostrando que el populismo es un término que todavía hoy evoca una serie de significados contradictorios. Como ha apuntado Gerardo Aboy Carlés (2003), en algunas utilizaciones “anárquicas” del concepto, algunos autores han concebido al populismo como un mero estilo de liderazgo, asociando dicha categoría con la demagogia.
En el año 2009 se editó un nuevo libro acerca del populismo en América Latina, en el marco de lo que Paula Biglieri ha denominado “el renacer de los estudios sobre el populismo” (2007). La obra de Alejandro Groppo no solamente presenta una serie de novedades teóricas y empíricas que seguramente habrán de revitalizar los estudios del peronismo y el varguismo, sino que además presenta una mirada comparativa entre Brasil y Argentina (no muy usual) a partir del enfoque de Ernesto Laclau desarrollado últimamente en su Razón Populista (2005).
Para Alejandro Groppo, el populismo estaría dado por un nombramiento político o inclusión radical que le da una existencia simbólica a aquellos sujetos que no habían sido incluidos simbólicamente en la política. Este nombramiento político implica tanto la expansión como la redefinición de los límites de la comunidad política, al incorporar a aquellos sujetos que estaban relegados en los márgenes de la política. En el caso del peronismo, la profundidad dislocatoria del mismo radica en que es el Estado (a través de Perón) el que produce dicha nominación perdiendo su neutralidad para tomar partido por un sector específico.
Además, este nombramiento político se da de manera paralela con una visión no condicionada de la justicia social, produciendo estos dos procesos la politización del campo de las relaciones laborales y sociales.
Lo novedoso de la estrategia de investigación desarrollada por Groppo es que él se desplaza desde el sistema de enunciación y producción del discurso hacia su enunciación y recepción, pues el autor entiende que al indagar y analizar cómo otros discursos políticos existentes reaccionaron ante una enunciación dada, conoceremos cómo ellos percibieron esa enunciación y por qué lo hicieron así.
En el caso argentino, en ese nombramiento político mucho tuvo que ver la intervención ideológica de Perón, la cual será determinante para otorgarle una nueva dirección a la revolución de Junio de 1943. El contexto político de la revolución sin una dirección definida, la falta de liderazgo presidencial en el proceso iniciado en Junio, así como también la ausencia de una definición clara de identidad en los partidos políticos y otros actores sociales, fueron factores que le facilitaron a Perón iniciar un proceso de rearticulación de las fuerzas socio-políticas. Esa nueva dirección tuvo que ver con una re-descripción de la revolución como una revolución esencialmente social, operación ideológica que fue acompañada por el significante justicia social. Groppo afirma: la nueva interpretación de la revolución como revolución social se fue convirtiendo progresivamente en el significado mismo de la revolución como tal. La principal operación retórica de Perón fue introducir en la arena pública una profunda re-descripción del proceso revolucionario en nuevos términos. Al hacer esto, Perón borra del imaginario de la revolución su contenido político – institucional y lo llena y dota con un nuevo contenido.
Desde ese momento en adelante el significante “justicia social” proveyó el principio de fijación que nombraba al proceso en curso (GROPPO 2009, p.
195-196).
Al definir el significante justicia social como el contenido de la Revolución de Junio, Perón además criticó la no intervención del Estado en el área de las relaciones laborales y con esta operación generó una inédita politización de la cuestión laboral en Argentina. Asimismo, el discurso de la revolución social adquirirá con Perón un carácter nacional. Y la institución específicamente diseñada para tal pretensión será la Secretaría de Trabajo y Previsión y la instalación de las respectivas delegaciones regionales. Dicha Secretaría se constituyó en el primer ejemplo de centralización y expansión a nivel nacional de una oficina estatal a cargo de la política y la previsión social. A partir de aquí, la extensión de la revolución a través del territorio nacional fue precisamente una manera de politizar la “cuestión laboral”, cuyo impacto ha comenzado a analizarse en algunos casos provinciales (ERBETTA 2008; ROMANUTTI 2008).
Es interesante ver cómo esa nueva dirección que le imprime Perón a la Revolución de Junio afecta el espacio rural. Para Groppo, fue fundamental el nombramiento político de Perón del trabajador rural como “esclavo”, es decir, que dicho actor social encarnaba la idea misma de injusticia social. El Estatuto del Peón de 1944 vino a aumentar el nivel de antagonismo en el campo y su resultado fue tanto la reactivación de demandas rurales anteriormente postergadas como un incremento en los niveles de organización y sindicalización de los trabajadores rurales. Como se muestra en la obra, tanto la Sociedad Rural Argentina como la Federación Agraria Argentina, se oponían a los dos elementos centrales que implicaba el Estatuto: la imposición de patrones de nacionalización en el modelo de salarios mínimos en todo el país, y la estrategia política de burocratización de las relaciones laborales.
Tanto la SRA como la FAA discutían la definición del trabajador rural como una esclavo (para ellos las relaciones laborales estaban basadas en términos de paternidad); se oponían a la nacionalización de los salarios mínimos (para ellos era contraproducente porque debían tenerse en cuenta los aspectos económicos y las diferencias regionales); y cuestionaban la política de Perón que favorecía el conflicto y generaba antagonismo político (para ellos, en el campo debía seguir primando la armonía social, es decir, un ámbito libre de conflictos).
Como vemos, en el caso del peronismo, el Estado no fue considerado por los grupos económicos dominantes como un factor externo formando parte de una alianza policlasista como ha entendido gran parte de la historiografía dedicada al tema, sino todo lo contrario: fue percibido como un agente antagónico ubicado totalmente del lado de los trabajadores.
Esta intervención discursiva de Perón generó una serie de dislocaciones traumáticas en todas las fuerzas políticas opositoras. Tanto el Partido Socialista, el Partido Comunista como la Unión Cívica Radical tenían una visión condicionada de justicia social, no entendían los derechos de los trabajadores en términos de antagonismo político, se opusieron a la estrategia impulsada por Perón de nacionalización de los salarios mínimos y demonizaron al peronismo, colocándolo en el lugar de lo abyecto. Como bien muestra Groppo, al analizar los discursos de las fuerzas políticas opositoras en la emergencia del peronismo, se percibe que no había tanta diferencia entre ellos, explicando la aparente heterogeneidad de la Unión Democrática. Para las fuerzas políticas opositoras al peronismo como es inexplicable que haya sido posible ese vínculo tan íntimo entre sujetos del pueblo y la propuesta de Perón, esta relación se ve como anti natural en el sentido que es necesario explicarla como una reversión misma del sujeto humano. El argumento anti humanista explica esa galvanización identitaria peronismo –sujetos apelando precisamente al carácter bestial, calculador, hedonista, materialista del ser humano (GROPPO 2009, p. 263).
Lo interesante del libro de Groppo es que muestra de qué manera, a partir de otros presupuestos teóricos que leen la evidencia empírica, se puede llegar a una interpretación distinta acerca de los populismos en América Latina. La tradición latinoamericana no solamente postulaba a los casos de Argentina, Brasil y México como ejemplos clásicos de Populismo, sino que también establecían determinadas periodizaciones para cada caso. El enfoque propuesto por Groppo permite revisar estas afirmaciones.
En el caso de Brasil, 1930 era considerado un punto de ruptura en tanto la Revolución cerraba la etapa de la República Vieja para dar paso al Varguismo, al romperse el pacto del café con leche. Para Groppo, esta ruptura no es tal por varias razones. En primer lugar, porque Vargas representaba la estabilidad de los grupos dominantes en el poder. En segundo lugar, porque el proyecto político de la elite paulista era vista como cercana a la política de Vargas. Y lo que es más importante, porque Vargas no era descrito como un peligro a los ojos de la elite paulista. Vargas no era expresión de fuerzas largamente reprimidas sino que era su barrera de control.
El actor político que sí va a generar un trauma, que según Groppo lo asemeja a Perón, fue Luis Carlos Prestes. En efecto, el líder intelectual y político de los tenentes introdujo en la formación política brasileña la idea de revolución social. Entonces, Prestes y no Vargas representó la radicalización de la revolución, introdujo el antagonismo y facilitó la extensión de fronteras discursivas. Con esto, Prestes era representado como una amenaza más peligrosa que Vargas.
En su Manifiesto de Mayo de 1930, Prestes politiza el conflicto social, interpela a la población marginal de la sociedad brasileña (hablando de “proletariado sufriente”, “trabajadores oprimidos” y “masa miserable”) y expone una clara visión de la articulación entre áreas urbanas y rurales. Para Prestes, el programa político de la Alianza Liberal era un simple cambio de hombres, y que no prometía una verdadera revolución, al garantizar virtudes liberales solamente. En la recepción en los demás actores políticos, la intervención discusiva de Prestes fue considerado un evento dislocatorio, que remitía a imágenes del “abismo”, tratando de evitar llegar a opciones radicales.
Groppo también explica la imposibilidad de la politización de la cuestión social en Brasil, aun bajo el Estado Novo. Esto se debió a que el gobierno no la institucionalizó como una política nacional y universal eficaz en todo Brasil, articulando trabajadores urbanos y rurales, como sí lo hizo Perón. Esto se debió a que los sectores dominantes en Brasil postulaban una visión condicionada de la justicia social, respecto de las posibilidades económicas, productivas o regionales. La justicia social debía ser establecida de acuerdo con la capacidad sistémica y económica de sostenerla.
Lo revelador del trabajo de Groppo es que para él la concepción de justicia social en Vargas estaba también sujeta a consideraciones económicas o al logro de ampliación del mercado interno. Dice el autor: Tanto Vargas como los sectores económicos dominantes tenían una visión similar acerca del rol de la “justicia social” en la formación política. Esto explica el apoyo de esos sectores al varguismo. Es más, estos sectores no mostraron una identidad dislocada en términos del liberalismo económico ni sostuvieron una visión de la intervención del Estado como una “amenaza” al patrón establecido de relaciones sociales, ni tampoco articularon una idea monetarista – cuantitativista del incremento de salarios (…) como sí fue el caso de los sectores dominante contra Perón en Argentina (GROPPO 2009, p. 408).
Lo mismo es posible de ser observado con la Ley de Salarios Mínimos de 1936. Aquí el análisis de Groppo muestra que las demandas del empresariado se mantuvieron firmes en torno a la institucionalización de la regionalización de los salarios.
A diferencia del caso del Peronismo, donde la lucha política era entre una tendencia a la nacionalización (la política social de Perón) y sus escollos regionales (sectores económicos y políticos opositores), en el caso de Brasil tenemos una discusión entre la política oficial ya mediada por las demandas regionalizantes y los sectores que impulsan una profundización de esta segmentación. Entonces, el desarrollo desigual entre regiones y estados fue efectivamente en Brasil un factor estructural condicionante, pero lo fue precisamente porque estaba inscripta tanto en el discurso político de los sectores económicos como en la estrategia política del gobierno de Vargas (GROPPO 2009, p. 414).
Es por ello que, al observar la recepción discursiva que la ley tuvo en los sectores del trabajo, Vargas fue percibido como alguien ajeno a sus intereses.
Es más, para los trabajadores Vargas representaba los intereses del bloque de poder.
La legislación laboral no fue un factor de conflicto entre las asociaciones de empleadores y sectores empresarios y Vargas. Tampoco produjo una dislocación generalizada en la identidad de las elites económicas dominantes, y por lo tanto, no vieron de manera traumática a la política social de Vargas.
En definitiva, el libro de Groppo nos muestra que si tomáramos al populismo como sólo un estilo carismático de liderazgo beneficiado por la rápida industrialización de algunos países latinoamericanos desde la década del ‘30, no se advertirían las diferencias en las estrategias ideológicas discursivas entre Vargas y Perón, como veremos a continuación.
En primer lugar, las condiciones estructurales iniciales, esto es, una estructura histórica nacionalizada y desarrollo más homogéneo, facilitaron la emergencia del peronismo. En segundo lugar, con respecto a la inclusión radical de un sujeto subalterno, en Perón la estrategia discursiva vinculó a los trabajadores urbanos y rurales como un modo de articular el campo y la ciudad, mientras que en Vargas ese lazo estaba ausente. Ese acto de inclusión radical en Perón cuestionó las bases que organizaban la comunidad hasta ese momento, convirtiéndose para los demás discursos en un peligro para el orden social. Es en este último punto donde Groppo señala cierta equivalencia entre Perón y Prestes. Sin embargo habían dos diferencias sustanciales: en primer lugar Perón gobernó el país, lo que le permitió introducir el antagonismo desde el Estado y a través de decisiones de política pública; en segundo lugar, introdujo desde el Estado el antagonismo en un espacio donde no existía. Por último, la introducción de un tipo específico de significante vacío también muestra diferencias. Si en Perón el significante “justicia social” originó las reacciones en su contra, en el caso de Vargas el significante “unidad nacional” evitó la formación de una oposición política.
Referencias ABOY CARLÉS, Gerardo. Repensado el Populismo. Política y gestión. Rosario: Homo Sapiens Ediciones, vol. 4, 2003.
BIGLIERI, Paula. El concepto de populismo. Un marco teórico. En BIGLIERI, Paula & PERELLÓ, Gloria (comps.). En el nombre del pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista. Buenos Aires: UNSAM Edita, Universidad Nacional de General San Martín, 2007.
ERBETTA, María Cecilia. “Rápida, justa y barata”. La implementación de la justicia del trabajo en Santiago del Estero (1943-1955).Ponencia, Primer Congreso de Estudios sobre el Peronismo. La Primera década.
Universidad Nacional de Mar del Plata, 6 y 7 de Noviembre, 2008.
LACLAU, Ernesto. La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2005.
PANIZZA, Francisco. Introducción. El Populismo como espejo de la democracia.
En PANIZZA, Francisc (comp.). El Populismo como espejo de la democracia, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009.
ROMANUTTI, Virginia. Discurso político e instituciones. La Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión como organizadora de la cuestión social en Córdoba durante el Peronismo. Ponencia, Primer Congreso de Estudios sobre el Peronismo. La Primera década. Universidad Nacional de Mar del Plata, 6 y 7 de Noviembre, 2008.
Gabriel Carrizo – Investigador Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) gabo.carrizo@gmail.com Avenida Comodoro Rivadavia, 716 – Standar Norte Comodoro Rivadavia – Chubut 9005 Argentina Palabras-clave Populismo; Historiografia; Análisis del discurso.
Senhores da história e do esquecimento: a construção do Brasil em dois manuais didáticos de história na segunda metade do século XIX – MELO (HH)
MELO, Ciro Flávio de Castro Bandeira. Senhores da história e do esquecimento: a construção do Brasil em dois manuais didáticos de história na segunda metade do século XIX. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008, 224pp. Resenha de: CARVALHO, Rosana Areal de; RODRIGUES Elvis Hahn. Manuais didáticos de História do Brasil: entre a memória e o esquecimento. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 04, p.314-319 março 2010.
O livro Senhores da história e do esquecimento: a construção do Brasil em dois manuais didáticos de história na segunda metade do século XIX publica a tese de doutoramento defendida na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em 1997, pelo professor Ciro Flávio de Castro Bandeira de Melo que, além da reconhecida trajetória no ensino de História, se faz amigo do tempo. Sem pressa, como bom mineiro, vem cunhando a vida de professor sustentada em experiências riquíssimas, seja proveniente dos níveis de ensino nos quais atuou, seja pelo gosto de estudar que sempre manifestou.
Trata-se de um estudo comparativo entre dois manuais escolares de história, em momentos distintos da educação brasileira: Lições de História do Brasil, de Joaquim Manuel de Macedo e História do Brasil, de João Ribeiro. São obras de referência sobre o conhecimento histórico, no âmbito didático. Em comum, além da produção de um manual escolar (termo mais apropriado para a época), os dois autores estiveram vinculados ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, e foram professores do Colégio Pedro II. Logicamente, em medida e tempos diferentes.
A partir daqui, a resenha deste livro se faz muito difícil, pois se trata de uma tese defendida em 1997. Uma resenha nos moldes tradicionais trataria de confrontar a obra com a produção historiográfica da época. Neste caso, temos outra possibilidade: que influências essa obra exerceu na produção historiográfica posterior? Qual seria o melhor caminho a tomar? Independente do caminho a tomar, não temos dúvida de que a jornada empreendida pelo Prof. Ciro exigiu muito fôlego. Primeiro, porque trilhou por várias áreas do conhecimento: aborda a historiografia brasileira, ao tratar das produções vinculadas ao IHGB e as influências de historiadores como Varnhagen e Capistrano de Abreu. Trata do ensino de história, dado que os autores foram professores do “Pedro II”, modelo de ensino secundário instituído no Brasil na mesma década da criação do IHGB. E, junto com o ensino de história, temos o cerne do trabalho, que é compreender e confrontar dois manuais didáticos nos aspectos relativos à elaboração, às influências recebidas pela historiografia disponível e ao processo de didatização do conhecimento histórico. Perpassa, portanto, as representações sobre a história do Brasil: o que deve ser memória e o que deve ser esquecimento. Segundo, porque para tratar de cada uma dessas áreas se fez necessário outros tantos estudos que estão presentes na obra. Por exemplo, parte da trajetória do IHGB, envolvendo os autores-mestres como Varnhagen e Martius. Ainda inclui o Imperial Colégio de Pedro II, chamado Ginásio Nacional após a Proclamação da República. São os “agentes”.
O trabalho se debruça sobre dois momentos. O primeiro – Os agentes – abarca o lugar de produção das obras em seus respectivos momentos históricos. Enuncia as influências presentes em cada uma das obras e como estas se remetem à tradição historiográfica produzida pelo IHGB, a partir de sua fundação, em 1838. O segundo momento – Os livros – faz um estudo comparativo de como os manuais abordam temas consagrados e emblemáticos da História do Brasil tais como: o Descobrimento, os indígenas, as invasões estrangeiras, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana de 1817, a Chegada da Família Real, a Independência, Escravidão e Abolição. Melo aborda esses temas a partir das continuidades e rupturas, na medida em que defende a hipótese da obra de Macedo ser destinada à educação dos súditos da Coroa, e a obra de Ribeiro comprometida com a educação do cidadão republicano.
Nesta primeira parte da tese, Melo enuncia seus referenciais teóricos a partir dos conceitos de hegemonia, direção e controle sobre o todo social e político. Direção aos aliados e domínio sobre os opositores. O ensino de história se insere nesta relação como forma não violenta de hegemonia de uma visão de mundo, segundo os enunciados de Gramsci.
A partir destes conceitos, Melo compreende a obra Lições de História como expressão da centralidade e estabilidade da monarquia, para a formação do súdito. E História do Brasil, por outro lado, significa ruptura dos modelos construídos por Varnhagen, no sentido de formação do cidadão republicano; expressão de um tempo de esperanças políticas a partir da República e da abolição. Neste sentido, lança mão do historicismo alemão e dos estudos antropológicos (sob a égide da biologia e eugenia), conceitos predominantes no Brasil ao final do século XIX. Em síntese, Melo dá um trato de historicidade aos seus objetos, observados à luz de seu tempo.
Esta historicidade é desenvolvida a partir dos referenciais que conduzem a produção das obras. Para tanto, discorre sobre a fundação e o papel do IHGB na construção do saber histórico e na produção historiográfica brasileira. Destaca Von Martius e Varnhagen, por conta de suas contribuições e importância a partir das premissas enunciadas em suas obras Como se deve escrever a história do Brasil e História Geral do Brasil, respectivamente. Recorre, também, aos traços biográficos dos autores pesquisados, seus papéis enquanto professores do Imperial Colégio de Pedro II/Ginásio Nacional, compreendido como lugar da intelectualidade brasileira do século XIX.
A análise destes “agentes” é importante para se compreender o deslocamento das linhas explicativas da história brasileira. A obra de Macedo, ou Dr. Macedinho, como era conhecido, é, em última instância, uma síntese da obra de Varnhagen, preparada para uso didático dos alunos do Colégio Pedro II.
A obra de Ribeiro, por outro lado, busca romper com os paradigmas da obra anterior, que perdurou ao longo do século XIX neste colégio e em outras escolas secundárias pelo país afora, pois era uma obra obrigatória nos exames preparatórios para ingresso nos cursos superiores no Brasil.
A obra de Von Martius, para Melo, influencia a obra de Ribeiro, mais do que este enuncia em seu prefácio, que apenas diz que Martius deu indicações vagas e inexatas como modelo de investigação sobre a história brasileira. A propósito desta assertiva, Múcio Leão, autor contemporâneo de João Ribeiro, ao redigir a apresentação da obra Trechos Escolhidos, cuja coletânea reúne diferentes ensaios e enxertos de João Ribeiro sobre diferentes áreas, já anunciava a influência de Martius sobre a obra de Ribeiro: “[Martius] que escreveu um pequeno mas lúcido trabalho ensinando Como se deve Escrever a História do Brasil, trabalho em cujas linhas gerais João Ribeiro em parte se inspirou” (LEÃO, 1960, p. 10). Ainda que, pela análise documental, possamos chegar à mesma conclusão, e a obra de Leão esteja citada na bibliografia da tese, Melo não a anuncia no seu trabalho, ou seja, não informa que tal questão já havia sido colocada por um estudioso que lhe é anterior – a obra fora publicada pela Livraria Agir em 1960.
Macedo, por outro lado, apesar dos elogios a Martius, segue na esteira de Varnhagen, inclusive no tom encomiástico próprio ao historiador oficial da Monarquia. Por exemplo: não reconhece a participação das três raças que constituem a nacionalidade brasileira. Esta estaria restrita à civilização branca, católica e portuguesa, que seria o legado da nação independente e monárquica, como manda a tradição do povo aqui constituído e ungido pela vontade divina.
Ao longo da segunda parte da tese se debruça sobre o cotejamento entre os manuais em questão e demonstra a importância dos mesmos quanto ao ensino de história do Brasil. Joaquim Macedo compõe sua história tendo como centro os reis e príncipes e, em alguns casos, subalternos mais ilustres que deixaram suas marcas na expansão e consolidação do império português.
O Brasil independente, neste sentido, é uma continuação autônoma, sem dúvida, da civilização portuguesa. O tratamento dado a questões como a escravidão africana, a independência do Brasil, as sedições no período colonial, é marcado pela contenção, sem esboçar qualquer conflito com a Coroa. No entanto, e isso Melo deixa bem claro, as concepções mais pessoais de Macedo estão em obra literárias, utilizadas como parâmetro de comparação para problematizar o sentido da história em Lições que não expressa, necessariamente, o posicionamento do autor sobre o tema.
Macedo aborda a história política sob um ângulo jurídico, tratando as sedições, como a Inconfidência, a Conjuração Baiana e a Revolução de 1817, como crimes de lesa-majestade, causa da acertada repressão da Coroa, além de serem movimentos que não respeitaram as tradições e os costumes brasileiros. Nesta linha interpretativa, a monarquia era o caminho mais adequado às tradições brasileiras, sobretudo, quando comparada às Repúblicas hispanoamericanas, que se esvaíam em guerras civis. O que era um excelente argumento para Macedo explorar e criticar os ideais republicanos presentes em segmentos políticos no Brasil à sua época.
Ribeiro, por sua vez, explora a ação de outros agentes, como o povo, para designar a formação do país e da nacionalidade brasileira. Isto implica em tratar a questão da miscigenação, negada e/ou omitida em Macedo, como formadora da raça mameluca, especificidade da nacionalidade brasileira. A Monarquia, para Ribeiro, significou um atraso, que impediu o povo de se apossar do Estado e desenvolver a democracia. Por outro lado, tem na Monarquia o legado da unidade política nacional que, possivelmente, teria se fragmentado em diversas repúblicas, a exemplo da América hispânica. A interpretação de Ribeiro segue a linha de evolução do povo e das instituições brasileiras que tem, na República, o seu regime definitivo e consoante com o estágio de desenvolvimento do caráter real da nacionalidade brasileira.
Melo explica-nos a superioridade das reflexões na obra de Ribeiro, que contava com mais de 50 anos do IHGB no âmbito da produção e organização das fontes; sem contar com as reflexões filosóficas mais sofisticadas, como as de Tobias Barreto e Silvio Romero, da Escola de Recife, expoentes do germanismo nas ciências humanas no Brasil, ao final do século XIX. No contexto em que Macedo produziu sua obra a história do Brasil estava por fazer. Por isso, apenas sintetiza a obra mestra – História Geral, de Varnhagen. Contudo, em aspectos como a chegada da Família Real e a Independência, Macedo tem certa autonomia em relação à obra de Varnhagen, com reflexões próprias e distintas. Ribeiro assimila bem o materialismo alemão, que coloca na cultura e na economia o sentido das ações e do desenvolvimento da história brasileira, numa contraposição à obra de Macedo, imbuída de teologia, como uma das determinantes do desenvolvimento de nossa história.
Entendemos que o mérito do trabalho está em resgatar, no âmbito das idéias e discursos, os caminhos do ensino de história ao longo do século XIX e primeira metade do século XX. Se, por um lado, não explora a fundo os significados históricos nas linhas interpretativas dos autores, por outro, abre caminhos para discussões que lhe sucederam em torno da nacionalidade brasileira no ensino de história, como Feições e fisionomias: a história do Brasil de João Ribeiro de Patrícia Hansen.
Neste sentido, entendemos que os referenciais de Gramsci não esgotam os significados históricos. Ou seja, mais do que expressão de uma relação de forças presentes na sociedade brasileira do século XIX, são elementos constituinte da realidade, na medida, em que dirigem opiniões, que se desdobravam em ações políticas, valores e costumes e mesmo preconceitos, notadamente, sobre os negros e as nações indígenas.
Há que se destacar, ainda, uma antiga discussão: o papel do livro didático na difusão do conhecimento histórico. Em que medida um manual didático pode acompanhar os resultados mais recentes da pesquisa historiográfica? Nos trabalhos analisados por Melo ao mesmo tempo em que está explícita a historicidade de cada manual, identifica-se a posição política dos autores.
Seguindo esse raciocínio, não é difícil compreender o papel do livro didático de História num contexto de repressão como foi caracterizado o período da Ditadura Militar no Brasil, por exemplo. No entanto, os anos 80 nos colocam frente a uma outra realidade. Por um lado, surgem as novas correntes historiográficas que vão redirecionando o fazer histórico, consoante a uma nova concepção de história, de documento, de sujeito histórico. Nesses anos, o livro didático foi profundamente discutido enquanto instrumento pedagógico.
Por outro lado, convive-se com a reconstrução democrática e seus desdobramentos, muito especialmente no campo educacional e, para os fins deste trabalho, a “revolução” no ensino de história. De uma forma simples, podemos dizer que os anos 80 foram anos de experiências, de busca de alternativas para romper com as amarras tão duras experimentadas pelo ensino de História nos anos anteriores. Essa “revolução” atingiu também os livros didáticos, incluindo as ações do Ministério da Educação e Cultura com a criação do Plano Nacional do Livro Didático. Estabeleceu-se, então, o grande desafio: em que medida o livro didático é capaz de difundir o conhecimento histórico no que este tem de mais atualizado, seja do ponto de vista do conteúdo seja quanto aos procedimentos metodológicos.
Mas, então, prevaleceu a lei de mercado: livros descartáveis em oposição à longevidade das obras analisadas por Melo; projetos gráficos elaboradíssimos, em detrimento do conteúdo; e, ainda pior, livros de qualidade que colocam em suspenso a formação do professor. Mas também devemos reconhecer que a “verdade” histórica é hoje cada vez mais questionada, menos estável. Ao mesmo tempo em que a pesquisa histórica é cada vez mais veloz. Em alguma medida, sem dúvida, tal realidade está refletida nos livros didáticos do final do século XX.
Também fica claro que as obras didáticas são expressão do tempo, do debate e dos conceitos de uma época, mas isso não significa a inexistência de outros caminhos, de outras possibilidades de escrita, ou de outras posições políticas. É isso que nos mostra Melo, em particular com o trabalho de Joaquim Macedo que, em suas obras literárias, era mais liberal do que se apresenta no livro didático; reforçando que este está destinado a uma missão e um público específicos. Hoje, da mesma forma, não é difícil identificar o posicionamento político dos autores nos livros didáticos; quando não, encontrarmos uma obra que se curvou aos ditames do mercado em detrimento da excelência do conteúdo.
Rosana Areal de Carvalho – Professora Adjunta Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) rosanareal@ichs.ufop.br Rua do Seminário, s/n – Centro Mariana – MG 35420-000 Brasil Elvis Hahn Rodrigues Mestrando Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) elvishahn@yahoo.com.br Campus Universitário – Martelos Juiz de Fora – MG 36036-900 Brasil.
A experiência do tempo: conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845) – ARAUJO (HH)
ARAUJO, Valdei Lopes. A experiência do tempo: conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845). São Paulo: Hucitec, 2008, 204pp. Resenha de: TURIN, Rodrigo. Experiência, história e modernidade no Brasil oitocentista. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 04, p.299-305 março 2010.
Experiência, história e modernidade no Brasil oitocentista 300 Apresentado originalmente como tese de doutoramento junto à PUC-Rio, em 2003, A experiência do tempo: conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845), de Valdei Lopes de Araújo, não era um trabalho desconhecido aos estudiosos da historiografia brasileira oitocentista. Ainda em seu formato de tese, já havia se tornado uma referência incontornável ao debate acadêmico sobre a formação de um conceito moderno de história no Brasil. Sua publicação pela editora Hucitec, dentro da importante coleção Estudos Históricos, vem, portanto, fazer justiça à valiosa contribuição representada por seu trabalho, cujos desdobramentos se estendem em uma série de artigos e capítulos de livros. Essa publicação vem somar-se, igualmente, aos recentes trabalhos realizados sobre a história dos conceitos, referentes tanto ao Brasil em particular, como também ao mundo Ibérico – com destaque para o Léxico da História dos Conceitos Políticos do Brasil (cujos verbetes farão parte de um Diccionario político y social iberoamericano), para o qual Valdei também contribuiu, em parceria com João Paulo Pimenta, escrevendo sobre o conceito de “história”. (FERES JÚNIOR; JASMIN 2007; FERES JÚNIOR 2009; SEBASTIÁN; FUENTES 2002; PADILLA 2002; PADILLA 2008). Aliam-se aqui, com extrema competência, trabalho historiográfico e reflexão teórica, numa definição de historiografia que tem se mostrado cada vez mais necessária e, felizmente, ampliada em nosso campo – para o qual Valdei Araújo, deve-se dizer, tem contribuído como poucos, não apenas com seus trabalhos, como também na organização de espaços que possibilitam a troca e o debate entre os especialistas.
A hipótese central de A experiência do tempo vincula-se às célebres investigações capitaneadas por Reinhart Koselleck acerca da formação dos conceitos fundamentais da Modernidade, cujos resultados encontram-se na monumental obra coletiva Geschichtliche Grundbegriffe. Lexikon zur Politischezocialen Sprache in Deutschland, organizada com Werner Conze e Otto Brunner.
De acordo com a tese de Koselleck, entre 1750 e 1850 houve uma transformação no sentido dos conceitos sócio-políticos no mundo linguístico germânico, assim como a criação de neologismos que denunciavam uma mudança no modo como o passado e o futuro (ou “espaço de experiência” e “horizonte de expectativa”, entendidos como categorias meta-históricas) eram relacionados enquanto “forma” da experiência. A produção de uma crescente assimetria entre essas categorias fez com que as expectativas em relação ao futuro se desvinculassem de tudo quanto as experiências do passado tinham sido capazes de oferecer aos homens no presente. Com isso, o próprio tempo era alçado a “objeto” da experiência, assumindo um caráter reflexivo cujo resultado seria a própria formação do conceito moderno de história como um singular coletivo (KOSELLECK, 2006). Koselleck denomina esse período de forte mudança conceitual como Sattelzeit – uma espécie de antecâmara da Modernidade propriamente dita (Neuzeit). O que as investigações de Valdei Lopes de Araújo sugerem é justamente a existência de um análogo ao Sattelzeit kosellekiano para o Brasil oitocentista.
A hipótese que permeia suas investigações está centrada em uma “real descontinuidade discursiva” e conceitual ocorrida na década de 1830 (pp.19-20). Esta descontinuidade caracteriza-se, como mostra o autor, pela formação de uma experiência moderna do tempo no Brasil, marcada por uma crescente historicização da realidade, frente à experiência dos letrados provenientes do ambiente ilustrado português, ainda presos a modelos cíclicos. Assim, entre a geração que participou do processo de independência e aqueles que se veriam incumbidos da tarefa de construir uma narrativa identitária nacional, uma nova rede semântica foi configurada – ao mesmo tempo índice e fator de um novo espaço de experiência que marcava a inserção do Brasil na Modernidade. No desenvolvimento desta tese central, Valdei Araújo discute uma ampla variedade de tópicos e autores, cuja articulação, além de reforçar o sentido de seu argumento, permite vislumbrar a extensão abarcada por essa mudança conceitual em seus níveis ético, estético, político e intelectual. Não podendo, aqui, fazer jus à riqueza trazida por suas análises desses diversos tópicos, concentrarei minha leitura em torno de duas noções mais gerais que permeiam sua narrativa e que, igualmente, me permitem organizar alguns problemas envolvendo o meu próprio interesse na historiografia oitocentista. Estas noções são as de “descontinuidade” e de “Modernidade”.
As duas partes que dividem A experiência do tempo estruturam a forma narrativa e analítica através da qual o autor apresenta esse processo de descontinuidade conceitual. Na primeira, centrada nos textos de José Bonifácio, Valdei Araújo realiza uma apurada análise semântica dos termos através dos quais Bonifácio, expressando uma consciência de crise do Império lusitano, procurava orientar as ações necessárias para sua solução. Seus projetos de reformas ilustradas, definidas em momentos sucessivos, apoiavam-se nos conceitos de “restauração” e “regeneração” – o primeiro indicando a expectativa de restaurar o velho Portugal e, assim, “anular” a aceleração do tempo (p.36); enquanto o segundo já guardava em si uma maior abertura à temporalidade, ao movimento, apesar de manter-se ainda ligado a uma compreensão “cíclica e fechada do desenvolvimento das civilizações” (p. 59), vendo na emancipação do Brasil a possibilidade de um novo começo pautado por princípios imutáveis, em conformidade com a Razão iluminista. A análise dos textos de Bonifácio indica, assim, um movimento direcionado a uma crescente temporalização dos conceitos políticos, sociais e estéticos, mas cujas limitações, além de carregarem seus escritos com algumas ambiguidades, como afirma Valdei, seriam explicitadas pela própria marcha dos eventos. Para a geração que se ocuparia do processo de organização de um Estado Nacional, a continuidade de um mundo lusobrasileiro inscrita no sistema andradiano mostrar-se-ia cada vez mais problemática. Uma das contribuições mais valiosas da tese de Valdei Araújo está justamente em mostrar como esse processo levaria à elaboração de um sentido da história brasileira centrada nos termos “metrópole” e “colônia”, garantindo sua individualidade histórica.
Na segunda parte do livro, o autor nos apresenta o movimento de ruptura com a rede semântica herdada dessa geração de Bonifácio; uma ruptura que, como parece sugerir, também se expressaria numa oposição entre conceitos ilustrados e conceitos românticos. Enquanto para Bonifácio a história se vinculava ainda a um trabalho “fundamentalmente descritivo” e a diversidade dos fenômenos poderia ser organizada “com base nas leis gerais da natureza”, para a geração de Gonçalves de Magalhães e dos sócios do IHGB os conceitos centrais vão revestir-se de “uma espessura histórico-cultural” (p.104). Mesmo quando um autor como o Visconde de São Leopoldo vincula o IHGB às ideias da “ilustração”, para Valdei Araújo essa noção de ilustração se mostra distante do “quadro fechado e cíclico” da geração anterior (p.149). Assim, diferentemente de outras interpretações que vêem a tradição ilustrada presente nos trabalhos do IHGB, como também um de seus fundamentos (GUIMARÃES 2006), o autor associa a formação de uma consciência histórica moderna no Brasil mais diretamente ao romantismo e sua ruptura com os conceitos iluministas – daí o lugar central que destina ao texto de Gonçalves de Magalhães publicado na Revista Nitheroy, no qual a noção de literatura assumiria os atributos do conceito moderno de história (p. 121). Mais do que um processo de historicização, Valdei destaca assim o caráter de quebra e ruptura que caracteriza essa descontinuidade conceitual entre as duas gerações. Desse modo, como afirma, “o fundamental é perceber como conceitos centrais adquirem uma nova qualidade”, e, portanto, a “permanência de uma retórica da nação esconde o fato de já não se falar mais da mesma coisa” (p.104). De fato, como salienta com propriedade o autor, a continuidade de um mesmo vocabulário não pode ser tomada como índice de uma identidade conceitual entre períodos históricos distintos. As análises de Valdei Araújo, nesse sentido, são primorosas em detectar o caráter das mudanças na forma de experimentar o tempo abertas com o processo de emancipação, direcionando as expectativas daquela geração à necessidade de conceitualizar um sentido propriamente histórico para a nação brasileira em sua individualidade. Contudo, me parece igualmente que uma demarcação rígida, seja cronológica ou conceitual, entre o “antigo” e o “moderno” a partir de determinadas oposições pode gerar algumas dificuldades na compreensão das dinâmicas específicas que essa nova forma de experimentar o tempo assume nos textos desses autores.
Nos escritos de Bonifácio, como mencionado, já ocorria uma sensível temporalização dos conceitos (ainda que limitada), manifestada, por exemplo, no uso ambíguo da palavra “modernidade”(p. 82). Do mesmo modo, no trabalho de historicização da realidade levada a cabo pela geração seguinte não estariam ausentes, como nota o autor, elementos característicos de uma rede conceitual anterior, a exemplo da manutenção dos “antigos” enquanto clássicos e modelos de emulação, certas noções ligadas a uma concepção “cíclica” da história ou, ainda, ideias universais iluministas. É na constatação dessas permanências – e não no conjunto das transformações semânticas apresentadas no livro – que a interpretação de Valdei nos encaminha a uma reflexão teórica. Para o autor, a permanência das referências a autores da tradição clássica, por exemplo, não poderia ser confundida com algum tipo de continuidade conceitual com a geração de Bonifácio (p. 150). Essa aparente permanência se explicaria, antes, por uma “metaforização”. Ainda que o autor não explore o sentido desse termo, não podemos esquecer que as metáforas, como os conceitos e mesmo os lugarescomuns, também exercem um papel estruturante (BLUMENBERG 1995). Se, por um lado, Valdei mostra de maneira convincente a formação de um novo campo de experiência que se abre como “desenvolvimento progressivo de uma identidade”, logo, da historicidade; por outro lado, certas permanências como a do uso dos clássicos como figuras de autoridade, seja estética, seja moral, dentro da fórmula da historia magistra vitae, não deixam de colocar alguns problemas a esse quadro de análise. Entender essas presenças como “estratégia compensatória” (p. 97), “metaforização” (p. 150), “hesitações iniciais” (p. 147) ou como falta de uma “compreensão sintética” das forças que compunham um entendimento moderno da história (p. 144), talvez signifique desconsiderar a efetividade que elas realmente desempenhavam na representação histórica desses autores e, desse modo, erigir obstáculos para a compreensão da singularidade dos modos como a história foi conceitualizada e experimentada no Brasil oitocentista. Ao final do livro, o autor salienta essas ambiguidades expressas por permanências, vinculando-as à ausência do conceito de “evolução” – cujo aparecimento só se daria na década de 1870 e sem o qual os autores da geração romântica não poderiam “juntar passado, presente e futuro em um progresso linear e sem ruptura” (p. 184). O problema é que a explicação, nesse ponto específico, concentra-se em um “ainda não”, caracterizando essas permanências de modo negativo, como resquícios ou atavismos de uma outra época conceitual. O entendimento da positividade dessas permanências dentro de um processo de transformação da rede semântica, no entanto, só viria reforçar e enriquecer o dinâmico panorama de reformulação conceitual apresentado em a Experiência do tempo.
Nesse sentido, algumas das ambiguidades que se mostram nesses autores talvez possam ser esclarecidas num esforço constante de nós, historiadores, esclarecermos as perguntas que nos fazem ver tais ambiguidades. O próprio uso do modelo koselleckiano de Modernidade, universalizado a partir de certas oposições, pode acabar gerando distorções, arcaísmos e ambiguidades que, antes de serem inerentes aos próprios textos estudados, são projeções das lentes através das quais os enxergamos. Preocupação semelhante foi colocada por Elias Palti: “Na medida em que modernidade e tradição aparecem como blocos perfeitamente coerentes e opostos entre si, as contradições na história intelectual aparecerão necessariamente como resultado de uma espécie de assincronia conceitual, isto é, a superposição de duas épocas históricas diversas” (PALTI 2007a, p. 64; PALTI 2007b). O desafio para a realização de uma história dos conceitos em espaços culturais distintos daquele analisado por Koselleck, portanto, é manter sempre esse instrumento heurístico aberto, como algo que nos permite interrogar os textos, mas sem deixar, ao mesmo tempo, de fazer o movimento de retorno, revendo e refigurando os instrumentos de nossas indagações. Só assim, acredito, seria possível abrir uma dimensão verdadeiramente comparativa não apenas dos regimes de historicidade, mas também das diversas configurações do que o conceito de Modernidade pretende ou pode abarcar. A permanência dos antigos enquanto fonte de autoridade, para usar o exemplo já citado, não poderia ser entendido, talvez, como um índice do lugar fundamental que as concepções hierárquicas desempenhavam no Império do Brasil, levando ao reconhecimento e à valorização da assimetria implícita na noção mesma de autoridade (D’ALLONNES 2006)? Independente da validade dessa hipótese, o desafio, me parece, é reconstruir a efetividade desses elementos na estruturação da rede conceitual onde aparecem. Se o modelo nos permite ver certas semelhanças e diferenças, a questão, enfim, é entender como essas diferenças ganham sentido na forma como esses letrados e políticos experimentavam o tempo – naquilo que toda experiência tem de singular e geral, de continuidade e inovação. Com isso, outros momentos importantes desse processo de historicização poderiam ser articulados às valiosas descobertas de A experiência do tempo, seja em recuo, como a década de 1770, com o ambiente erudito ilustrado português, seja avançando, caso da década de 1870, cujas expectativas específicas levaram a um movimento forte de democratização, ideologização e secularização dos conceitos históricos e políticos. Somente futuras investigações, contudo, poderiam verificar a pertinência e validade dessas articulações.
O livro de Valdei Lopes de Araújo, enfim, é decisivo justamente em nos encaminhar esses e outros problemas fundamentais para a compreensão do processo de formação de um conceito moderno de história no Brasil, nos mostrando a importância da década de 1830 enquanto momento chave do processo de historicização da realidade e como esse processo esteve fortemente vinculado, no Brasil, à organização do Estado Nacional. A cirúrgica escolha do material, a maturidade da reflexão teórica e o vigor de sua interpretação estendem-se por todo o livro, garantindo uma exposição clara e segura, colocando-se de maneira franca ao leitor e ao mesmo tempo instigando-o a reagir ao texto. Como mencionei, A experiência do tempo abre inúmeras outras questões a serem desenvolvidas, firmando-se como uma referência central aos estudiosos de historiografia brasileira. E o melhor que se pode esperar de uma obra dessa natureza é justamente que suscite sempre novas indagações, gerando, com o prazer da pesquisa, novas intersecções entre presente, passado e futuro.
Referências
BLUMENBERG, Hans. Naufragio con espectador. Madrid: Visor, 1995.
D’ALLONNES, Myriam Revault. Le pouvoir des commencements. Essai sur l’autorité. Paris : Seuil, 2006.
FERES JÚNIOR, João; JASMIN, Marcelo (orgs). História dos conceitos.
Diálogos transatlânticos. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio/Loyola/IUPERJ, 2007.
FERES JÚNIOR, João (org). Léxico da História dos Conceitos Políticos do Brasil. Belo Horizonte: UFMG, 2009.
GUIMARÃES, Manoel L. Salgado. “Entre as luzes e o romantismo: as tensões da escrita da história no Brasil oitocentista”, in: Estudos sobre a escrita da história. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2005.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora PUC-Rio, 2006a.
PADILLA, Guillermo Zermeño. “História, experiência e Modernidade na América Ibérica, 1750-1850”, Almanack Braziliense, n. 7, maio de 2008.
PADILLA, Guillermo Zermeño. La cultura moderna de la historia. Una aproximación teórica e historiográfica. México: El Colegio del México, 2002.
PALTI, Elias. “Temporalidade e refutabilidade dos conceitos políticos”, in: FERES JÚNIOR, João; JASMIN, Marcelo (orgs). História dos conceitos. Diálogos transatlânticos. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio/Loyola/IUPERJ, 2007a.
PALTI, Elias. El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado. Buenos Aires: Siglo Veiuntuno, 2007b.
SEBASTIÁN, Javier Fernández, FUENTES, Juan Francisco (Eds). Diccionario Político y Social del Siglo XIX Español. Madrid: Alianza Editorial, 2002.
Rodrigo Turin – Pós-doutorando Universidade de São Paulo (USP) rodrigoturin@gmail.com Av. Prof. Lineu Prestes, 338 São Paulo – SP 05508-000 Brasil.
A atualidade do acontecer: o projeto dialógico de mediação na hermenêutica de Hans-Georg Gadamer – ARAÚJO (HH)
ARAÚJO, André de Melo. A atualidade do acontecer: o projeto dialógico de mediação na hermenêutica de Hans-Georg Gadamer. São Paulo: Humanitas, 2008, 240pp. Resenha de: CALDAS, Pedro Spinola Pereira. Hans-Georg Gadamer e a tradição. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 04, p.299-305, março 2010.
O livro A atualidade do acontecer, de André de Melo Araújo, originado de uma dissertação de mestrado defendida na USP, é, sem dúvida, uma contribuição relevante para as reflexões teóricas sobre história e historiografia no Brasil.
Seu principal valor se encontra no esforço do autor em compreender a obra de Hans-Georg Gadamer (1900-2002), sobretudo Verdade e Método, de 1960, para a hermenêutica histórica. Dentre os historiadores brasileiros, ou bem estou bastante desatualizado na bibliografia especializada, ou creio que nenhum se ocupou em escrever um livro inteiramente dedicado a Gadamer.
Isto, por si só, já recomenda a leitura de A atualidade do acontecer,[1] publicado pela editora Humanitas, com apoio da FAPESP.
Mas não é só uma questão de haver-se preenchido uma lacuna. O fato de se publicar, no Brasil, um livro sobre Gadamer escrito por um historiador é uma oportunidade para que se debata intensamente a relação entre a teoria da história e a filosofia, algo tão difícil quanto raro. E, suspeito, a razão desta ausência de debate se deve à forma como nós, brasileiros, e, no caso específico, historiadores brasileiros, herdamos as peculiaridades do contexto intelectual alemão. Mais especificamente, como os historiadores brasileiros, em geral (há sempre as exceções de praxe), reagem ao nome de Martin Heidegger. Somese a isto ao fato de se evitar, mesmo na Alemanha, cautelosamente o confronto entre a teoria da história com o projeto de uma ontologia fundamental de procedência fenomenológica. Jörn Rüsen, por exemplo, um dos grandes nomes da teoria da história na atualidade, talvez ainda nos deva tal embate. [2]Gadamer paga, portanto, um preço alto por ser vinculado a Heidegger. Corrigindo: os historiadores brasileiros é que exigem tal preço, mas que se explica pelo fato de um dos filósofos mais importantes do século XX ser lembrando pela comunidade historiográfica nacional, sobretudo, em duas ocasiões: como um dos precursores filosóficos do linguistic turn e como alguém que não escondeu suas simpatias pelo nacional-socialismo.
Portanto, repito: que um jovem historiador tenha trazido Gadamer para o debate, em forma de livro, é, em si, uma oportunidade a ser aproveitada.
Uma chance para enriquecer o debate na área de teoria da história.
Para além disto, como aborda o autor o tema? Hermeneuticamente, respondo. E o que isto significa? Nas palavras do autor: “(…) este trabalho não consegue escapar de uma apresentação circular. Aqui não se trata de uma exposição sistemática dotada de um começo e de um fim claros, já que o desenvolvimento interpretativo pressupõe a totalidade dos esforços mediadores
Há mais de dez anos estudando teoria e filosofia da história e historiografia alemã, eu mesmo também não posso oferecer uma boa razão por ainda não ter pensando na possibilidade de um confronto entre Heidegger e a teoria da história.
do pensamento” (ARAÚJO 2009, p.19). Um texto hermenêutico é (ou pode ser), portanto, circular. Sua forma de apresentação não é um molde exterior ao conteúdo, mesmo porque, se formos coerentes com o princípio hermenêutico, não há sentido que seja definitivo. Não se trata de relativismo, mas sim de constantemente fazer o esforço de construir o sentido, recuando, deixando-se sempre e novamente ser atingido pelo passado, e jamais tomá-lo como pronto, dado e dito: o processo interpretativo se faz na escrita, não sendo, pois, uma operação exclusivamente mental passada ao papel.
E é a partir deste critério que precisamos compreender também o esforço de André de Melo Araújo, a saber: entre outras possibilidades dadas no pensamento gadameriano, trata-se de entender a historicidade do método, perceber a marca de sua finitude de modo a evitar o que nele se apresenta de meramente instrumental, como algo dado fora de um mundo. É possível, portanto, estabelecer o diálogo entre teoria da história e hermenêutica filosófica tendo, como termo comum, o método. Por inúmeras vezes, o autor mostra o quanto Gadamer critica a redução de uma concepção de história à epistemologia, isto é, a uma noção dicotômica entre sujeito e objeto. Logo no princípio do livro, lê-se: “O fenômeno da história, portanto, não é puro objeto adaptável aos padrões métricos da ciência nem à sua aferição linear e contínua do tempo, mas é refratário à denominação exteriorizante de objeto, de instância alheia à temporalidade que o constitui” (ARAÚJO 2009, p.33).
Aliás, permita-me o leitor a digressão, talvez poucos exercícios hoje fossem mais ricos, na área de teoria da história, do que comparar, por exemplo, a concepção de unidade do método histórico, exposta por Jörn Rüsen em Reconstrução do Passado, com Verdade e Método, de Gadamer. Portanto, uma reflexão de fôlego, como a feita por André Araújo, vem em boa hora. Mais ainda, e sigo com a digressão, pensar linguagem e história a partir de Gadamer implica discutir o problema em bases outras, para além das contribuições de Hayden White e divulgadores. O livro indica que a questão é mais profunda: basta lembrar que Gadamer jamais dispensa a dialética de Hegel, autor tratado pelos “pós-modernos” como se fosse um vírus letal a ser isolado – o que implica dizer que nunca é lido. Dialética, linguagem e história estão juntas em um Gadamer leitor de Hegel, e, felizmente, também no livro de André Araújo.
E, de fato, este é um dos assuntos centrais do livro. Nas palavras do autor: “O caminho de leitura aqui apresentado é balizado pela proposta teórica de validação de um projeto de verdade próprio às reflexões das ciências humanas, cuja possibilidade de compreensão é tecida pela mediação da linguagem” (ARAÚJO 2009, p.17). Verdade e linguagem, portanto, não se excluem.
Todo o argumento do autor se desenvolve em três partes. Cada uma delas abre veredas para muitas discussões. Dentre estas, destaco algumas, pois considero impossível tratar de tudo que suscita discussão e interesse. Espero que o corte não seja arbitrário e caprichoso.
A primeira parte, denominada “A Deformação especular do foco da subjetividade”, talvez tenha o seu eixo na indicação de como o humanismo científico encobriu como pôde “o amargo sabor da finitude” (ARAÚJO 2009, p.26). Na contramão da marcha vitoriosa da ciência, haveria, então, a hermenêutica compreensiva, na qual a finitude se mostra em um horizonte que a torna evidente. E esta finitude, afirma-nos o autor, se mostra em inúmeras experiências: do não entendimento, do reconhecimento de que o outro pode ter razão e de que já estamos inseridos em uma estrutura do tempo e em uma pré-compreensão do mundo. Em uma tradição.
Ainda nesta primeira parte, é digno de elogios, embora eu seja suspeito em fazê-lo dado o meu interesse pelo tema, que o autor dedique tantas páginas ao conceito de Bildung, a partir do qual o embate com o humanismo clássico é feito.3 Segundo André Araújo, o conceito hegeliano de Bildung se faz presente na obra de Gadamer na medida em que “(…) nos remete tanto para a finitude da operação do juízo, para os limites da capacidade de julgar, quanto para a capacidade de cumprir as obrigações para com o outro. Justamente aqui reside, acreditamos, o ponto máximo do interesse gadameriano, cuja hermenêutica se volta para a possibilidade de que o outro tenha razão” (ARAÚJO 2009, p.
43). Some-se a isto o fato do homem culto, para Hegel, ser aquele que conhece do ponto de vista universal – aliás, além de passagens da Propedêutica filosófica, o autor poderia também usar passagens semelhantes da Razão na História, algo que permitiria, inclusive, um debate interessante entre os conceitos de tradição, em Gadamer, e de Espírito, em Hegel. Fica apenas aqui dada a sugestão.
Lamento, apenas, que o autor, no momento em que marca a diferença entre a acepção clássica e a compreensão gadameriana de Bildung, faça-o com demasiada rapidez. Afinal, qual seria a conotação clássica? A de Goethe, Wilhelm von Humboldt, Schiller, e, claro, de Hegel? Se Hegel é um dos representantes eminentes da visão clássica da Bildung, o que Gadamer aproveitaria e o que ele descartaria do projeto hegeliano de formação? Como leitor, fiquei na dúvida se o autor assume a visão de Gadamer exposta em Verdade e Método (cf. GADAMER 1990, p.15-24), ou se a amplia, utilizando outros textos da mesma tradição. Se já dei uma sugestão, agora faço uma pequena provocação: como compreender a obra de Gadamer a partir da idéia de tradição. O ponto é: e se os humanistas estiverem com a razão? Neste sentido, me parece que o autor adota uma postura excessivamente empática com seu autor, como se ele não pudesse não ter razão – algo que, hermeneuticamente, é controverso, na medida em que, segundo o próprio Gadamer em passagem citada por André Araújo, “a interpretação se torna necessária onde o sentido de um texto não se deixa compreender imediatamente” 3 Apenas discordo do autor quando ele afirma, já nas páginas conclusivas, que “a política é exatamente o componente fundamental que se encontra enfraquecido na formulação humanística da Bildung”.
Imagino que o autor tenha se atido à idéia difundida, entre outros, por Fritz Ringer, mas creio que a obra de Wilhelm von Humboldt, importante não somente para a lingüística e para a teoria da história, mas para a teoria política (é considerado uma das referências fundamentais do liberalismo clássico) poderia render pensamentos mais robustos sobre a concepção política de Bildung. De maneira menos direta, o próprio Hegel, de modo algum um liberal clássico, também, em sua Filosofia do Direito, não deixou de usar o termo Bildung.
(apud ARAÚJO 2009, p.168). Ora, não estou a dizer que André Araújo considera o texto de Gadamer “claro como água de riacho”, como diria Rubem Braga, mas que, mesmo adotando a estratégia – essa sim hermenêutica – de escrever de maneira mais elíptica, em que o sentido nunca está dado de antemão, pareceme que não há espaço para impasses e, portanto, incompreensões em Gadamer.
É bem verdade, por outro lado, que André Araújo afirma que Gadamer aproveita de Hegel a idéia de Bildung como superação do imediato, mas sem a dissolução da finitude que ocorreria em Hegel (cf. ARAÚJO 2009, p.53).
Ainda na primeira parte, o autor discute outro ponto fundamental: a crítica gadameriana ao historicismo, ou melhor dizendo, ao tratamento metódico do acontecer histórico, que partiria, necessariamente, de uma separação entre sujeito e objeto. Aqui me parece que o autor poderia ter ido mais longe, e consultado, diretamente, os textos dos autores apresentados por Gadamer em “Geschichtliche Vorbereitung”, item I da segunda parte de Verdade e Método. É bem conhecida a intenção de Gadamer em mostrar que o esforço dos historiadores e teóricos da história do XIX foi em vão: ao tentarem construir outro modelo de ciência, exclusivo para as ciências humanas, Ranke, Droysen, Dilthey e outros ficaram presos também na rede que nega a finitude do conhecimento. Gadamer, sinceramente, me parece apressado neste assunto – ao menos no que diz respeito a Droysen, ele me parece errar o alvo (cf. GADAMER 1990, p.274-275). Basta ler um trecho da Historik, logo em seu início: Pois cada ponto no presente, cada coisa e cada pessoa, é um resultado histórico, contém em si uma infinidade de relações, que estão introjetadas e internalizadas. (…) O homem ilumina seu presente com um mundo de lembranças, que não são arbitrárias, caprichosas, mas que são o desdobramento (…) daquilo que ele tem em torno de si e em si como resultado dos tempos passados; ele tem esse momento, em uma primeira instância, imediatamente, sem reflexão, sem consciência; ele o tem, como se não o tivesse, e somente quando ele o observa e o traz à consciência, ele reconhece, o que ele tem de si neles, nomeadamente, a compreensão de si mesmo (DROYSEN 1977, p.10).
Claro que não pretendo dizer que Droysen é um precursor de Heidegger.
Isto seria absurdo, mesmo porque Droysen ainda aposta, como bom homem do século XIX, na consciência, no método e na reflexão controlada. Mas, de modo algum, consciência e reflexão operam uma separação entre sujeito e objeto como condição da ciência. Em heideggerianês: para Droysen, de alguma maneira o homem já se vê aberto para a estrutura na qual sempre já foi lançado.
Ele se vê como parte de uma tradição. A diferença, claro, é que, a partir daí, será possível ainda, para Droysen, propor uma metodologia.
Não vem tanto ao caso, nesta resenha, criticar Gadamer ou fazer a apologia de Droysen, mas de perguntar por que motivo Gadamer partiu de uma concepção de ciência algo redutora, como se todas as concepções de ciência do século XIX fossem uma vaga mistura de positivismo com iluminismo.
O autor mesmo afirma, em uma nota ao pé da página, na última parte do livro, que não lhe cabia verificar se a interpretação de Gadamer sobre o historicismo estava correta ou não, interessando-lhe apenas os desdobramentos da crítica de Gadamer à ciência (cf. ARAÚJO 2009, p.169). Não se trata de cobrar algo que o próprio autor não pretendeu trabalhar, mas de se indagar se não se ganharia de fato se tal confronto tivesse sido feito. Neste aspecto, André de Melo Araújo me parece, mais uma vez, ter aderido excessivamente às teses de Gadamer: Eis o abalo que o pensamento gadameriano promove no cerne da razão, que se deve descolar do mais puro plano da idealidade transcendente, em que a apreensão totalizada, acabada e absoluta da realidade seria possível, para reconhecer o horizonte temporal de sua própria conformação histórica.
A idéia gadameriana de razão se configura como histórica, e o jogo em meio ao qual ela se encontra é marcado pelo vigor presente da história (ARAÚJO 2009, p.61).
Pergunto: seria a configuração histórica da razão efetivamente um abalo causado pelo pensamento de Gadamer? Em Johann Gottfried Herder isto já não aparece, quando ele mesmo, ao escrever sua breve e irônica filosofia da história em 1774, afirma que, ao tentar escrever generalidades, reconhece sua própria finitude? Cito um breve trecho: Ninguém no mundo reconhece mais do que eu as fraquezas da caracterização geral. Pinta-se o quadro de todo um povo, de toda uma época, de toda uma região. Quem foi assim que pintamos? Que imperfeito o instrumento da representação (…) Quem terá notado o que há de indizível na tarefa de dizer qual a propriedade específica de um homem e de assim dizer distintivamente aquilo que o distingue? (cf. HERDER 1995, p.34).
É verdade também que a solução teológica do protestante Herder não será imitada por Gadamer, mas, de alguma maneira, na história do romantismo hermenêutico, o reconhecimento do próprio limite, e, portanto, da alteridade, é algo que já se faz – talvez não com o refinamento de um Gadamer, e, muito menos, com o impacto de um Heidegger, mas, também, considero ainda que uma leitura de Gadamer há de ser feita tendo, ao lado, as obras por ele criticadas.
Por que não nos propormos a uma experiência própria de leitura dos textos da tradição, para que possamos nos apropriar delas, herdá-las? Afinal, se se afirma que o pensamento de Gadamer realizou um abalo, imagino que este abalo tenha sido dado no escopo de uma tradição. Daí lamentar a opção do autor em não averiguar a procedência das críticas de Gadamer.
Na segunda parte do livro, “O núcleo dialético do dialogismo lingüístico”, André Araújo se dedica a retomar a discussão sobre linguagem e verdade, anunciada, inclusive, como um dos eixos em torno do qual seu argumento gira.
Alçando o debate à devida complexidade, o autor afirma: É importante enfatizar que Gadamer não abandona radicalmente a idéia de razão [Vernunft], mas sim o revestimento instrumentalizado do conceito pela ciência, ou mesmo sua forma absolutizada pela filosofia hegeliana. A razão, desfeitos estes dois percalços, sustenta parte do esforço dialógico no encontro do outro e na determinação compreensiva da consciência de si (ARAÚJO 2009, p.101).
É este o momento em que André Araújo desenvolve alguns aspectos bastante ricos: falar em uma razão que não seja instrumental nem absoluta é falar de uma experiência em que a alteridade se torne incontornável e fundamental, algo que ocorre sempre que o mundo não se deixa converter em objeto (cf. ARAÚJO 2009, p.109).
Aqui vale a pergunta, suscitada pela leitura do livro: por que não ler a tradição criticada por Gadamer à luz da pergunta: por que o mundo se deixou objetivar? Por que se esqueceu do caráter constitutivo da linguagem? Uma coisa é dizer que iluminismo e romantismo acabaram, um e outro, objetivando a experiência, e, com isso, esqueceram-se de sua finitude essencial. Outra é mostrar como isso se deu. E como esta experiência também, não está, ela mesma, acabada, posto que, se o fizéssemos, também a estaríamos vendo como dado, como objeto. Ela também ainda vigora. Mas como? Feita a pergunta, cabe ver, portanto, o lugar central da arte no pensamento de Gadamer e como este lugar consegue pensar a razão de uma maneira diversa.
É fundamental lembrar, agora, da maneira como Gadamer lê a tradição grega. Cito Verdade e Método, a propósito da definição de theoria: nós nos comportamos teoricamente quando “(…) ante uma questão, podemos nos esquecer de nossos próprios objetivos” (GADAMER 2007, p.182). E o filósofo segue: “(…) em princípio a theoria não deve ser pensada como um comportamento da subjetividade, como uma autodeterminação do sujeito, mas a partir daquilo que o sujeito está olhando. A theoria é verdadeira participação, não é atividade; é um sofrer (pathos), isto é, um ser atraído e dominado pela visão (…)” (idem).
A experiência teórica é, portanto, a experiência do espectador, mais especificamente a experiência extática em que “se está fora de si”. Mas, para Gadamer, remetendo-se ao Fedro, de Platão, “o estar-fora-de-si é a possibilidade positiva de estar inteiramente em alguma coisa” (GADAMER 2007, p.183).
Pergunto-me se não poderíamos dizer que, em Gadamer, toda experiência estética é histórica. Creio que o livro de André Araújo nos permite pensar a partir desta vereda, porquanto ela inverte o que habitualmente se diz sobre história e arte, isto é, de que a experiência histórica é estética – como faz, por exemplo, um Frank Ankersmit (cf. ANKERSMIT 2004, 2005). Mais uma vez, esperava apenas que o autor se detivesse um pouco mais no conceito de simultaneidade como modo de ser da tradição, e, neste sentido, como o acontecer preserva a experiência da contingência, e, neste sentido, pode, aí sim, retirar das garras do historicismo (na definição de Gadamer) o objeto entendido como singularidade ocasional, recuperando-o em sua fundamentação ontológica. O modo de ser da tradição, portanto, revela a estrutura da temporalidade em que o mundo não deixa mais ser controlado como se fosse um objeto.
Trata-se da experiência da simultaneidade, analisada por Gadamer longamente no item “Temporalidade da estética”. A simultaneidade seria, portanto, o acontecer em sua atualização, o momento em que o ocasional e o decorativo desvelam sua fundamentação ontológica. O teatro é um bom exemplo dado por Gadamer: É por isso que o palco teatral é uma instituição política de natureza única, porque somente na execução faz transparecer aquilo tudo que há no jogo, a que está aludindo, os ecos que desperta. Ninguém sabe de antemão qual será o resultado e o que irá se perder no vazio. Cada execução é um acontecimento, mas não um acontecimento que se oponha ou posicione ao lado da obra poética como algo autônomo; o que acontece no acontecimento da encenação é a própria obra (GADAMER 2007, p. 209).
Na terceira parte de seu estudo – “Do vigor extratextual da existência” – André Araújo apresenta, entre outras, uma questão das mais ricas, a saber, o embate sobre a concepção gadameriana da atividade da história. A partir de Jean Grondin, o autor elabora o significado do caráter decisivo da transcendência dentro de uma hermenêutica da finitude: “A transcendência é justamente o padrão da ultrapassagem da toda ‘experiência feita na vida’, no mesmo registro em que já percebíamos que a arte pode ser a correspondência humanamente finita do que se concebe por eterno” (ARAÚJO 2009, p.171-172).
A costura da obra se apresenta aqui muito bem cosida: as discussões sobre a arte reaparecem aqui como lastro indispensável para se pensar a transcendência. Mas como se configura esta transcendência? Neste sentido, imagino, a recuperação do diálogo entre Gadamer e Reinhart Koselleck é bastante interessante. Afinal, há na historiografia alguma brecha para o vislumbre da transcendência? O que está em jogo é, de alguma maneira, a experiência fundamental da hermenêutica: se em Koselleck a ação histórica pode também aparecer como negação da alteridade (o poder-massacrar, o poder-matar, poder-aniquilar, Totschlagenkönnens), a obra de Gadamer enfatizará que o vigor da existência será sempre, nas palavras de André de Melo Araújo, o da “não-identidade de si para com o mundo” (ARAÚJO 2009, p.197). E isto é decisivo: (…) olhar unilateralmente para o sujeito – ora como produtor da matéria artística, ora como seu receptor –, ou direcionar a atenção apenas para a materialidade da obra é fazer surgir os pólos da falsa dicotomia objetivadora da ciência, que carrega como conseqüência a impossibilidade do reconhecimento da conformação artística como uma relação social, como uma prática social (ARAÚJO 2009, p.207).
As palavras do autor são bastante instigantes, na medida em que o problema do projeto da ciência moderna estaria em tentar reduzir toda experiência possível ao fim dos conflitos, algo a ser feito mediante a correta aplicação do princípio de identidade – do sujeito com o objeto, ou do objeto com o sujeito. A hermenêutica só mantém seu vigor quando houver uma discrepância, portanto, um resto que indique sempre a inesgotabilidade da história, e, portanto, a finitude de todo aquele que nela se vê inserido.
Apenas algumas breves notas para reflexão: como poderíamos descrever esta situação como “social”? Deveríamos retornar a Simmel para realizar tal descrição? E, mais uma sugestão, por que não comparar a situação hermenêutica da experiência fundamental da não-identidade (que chamo de discrepância) com a desenvolvida em Adorno? Não me parece impossível, pois se Heidegger e Marx separam Gadamer e Adorno, Hegel os une.
De toda forma, divagações de lado, é muito interessante o livro de André de Melo Araújo. Pensar a hermenêutica não somente como método, mas como estrutura na qual estamos sempre já lançados é algo digno de mérito; mais ainda, pensar linguagem e história em nível para além das (por vezes) requentadas querelas entre modernos e pós-modernos é um alento.
Referências
ANKERSMIT, Frank. Representación histórica. In: ______. Historia y Tropología: Ascenso y caída de le metáfora. México, D.F.: FCE, 2004.
______. Sublime historical experience. Palo Alto: Stanford University Press, 2005.
ARAÚJO, André de Melo. A Atualidade do acontecer: O projeto diálogico de mediação histórica na hermenêutica de Hans-Georg Gadamer. São Paulo: Humanitas, 2008.
DROYSEN, Johann Gustav. Historik. Stuttgart; Bad-Canstatt: Fromann- Holzboog, 1977.
GADAMER, Hans-Georg. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr, 1990.
______. Verdade e Método. Petrópolis; Bragança Paulista: Vozes, Editora da Universidade de São Francisco, 2007.
HERDER, Johann Gottfried. Também uma filosofia da história para a formação da humanidade. Lisboa: Antígona, 1995.
[1] Sem querer cometer injustiças, vale lembrar as publicações, sob forma de artigos, da Profa. Norma Côrtes (UFRJ) sobre o filósofo alemão. CÔRTES, Norma. Descaminhos do método: Notas sobre história e tradição em Hans-Georg Gadamer. In: Varia História, v.22, n.36, 2006; ______. Desafios hermenêuticos: as noções de tempo e tradição em Hans-Georg Gadamer. In: BUSTAMANTE, Regina e LESSA, Fábio (orgs.) Dialogando com Clio. Rio de Janeiro: Mauad, 2009.
[2] Cf. BAMBACH, Charles R. Heidegger, Dilthey and the Crisis of Historicism. Ithaca; London: Cornell University Press, 1995, p.18.
Pedro Spinola Pereira Caldas – Professor Adjunto Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) pedro.caldas@gmail.com Av. Pasteur, 296 – Urca Rio de Janeiro – RJ 22290-240 Brasil,
Ideias de história: tradição e inovação de Maquiavel a Herder – LOPES (HH)
LOPES, Marcos Antônio (org.). Ideias de história: tradição e inovação de Maquiavel a Herder. Londrina: Eduel, 2007, 336pp. Resenha de: BENTIVOGLIO, Julio. História dos modernos, vocação pelos antigos: sentidos do passado no alvorecer da modernidade. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 04, p.320-326, março 2010.
Ao tratar do sentido da história na modernidade, dirá Koselleck que novas formas da experiência histórica foram acompanhadas por um conceito moderno de história. Para ele, entre os séculos XVI e XVIII, observou-se “uma temporalização da história, em cujo fim se encontra uma forma peculiar de aceleração que caracteriza a nossa modernidade” (Koselleck, 2006, p.23). Cada vez mais crescia a suspeita de que a história humana não tinha uma meta definida a atingir, embora o conhecimento do passado continuasse sendo útil para governos e governados. Constituía-se, portanto, uma consciência histórica que afastava o presente do passado, aproximando-o do futuro. Este é panorama em que os diferentes ensaios de Ideias de História – tradição e inovação de Maquiavel a Herder se inserem, analisando concepções de história no pensamento de Maquiavel, Guicciardini, Bodin, Bossuet, Vico, Voltaire, Hume, Montesquieu, Rousseau, Gibbon e Herder. A presença marcante da história, com seus usos e significados, é constante nestes clássicos do Renascimento e do Iluminismo, revelando uma transformação do conceito e da prática histórica em relação aos antigos, algo que na França ficou conhecido como a querela dos antigos e modernos, que tomou de assalto a Academia Francesa em 1687 (DeJean, 2005, 75).
Trata-se de um tipo de publicação ainda incipiente no Brasil, visto serem raras as coletâneas de história da historiografia, sobretudo em se tratando de história universal. Seu organizador, Marcos Antônio Lopes, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina, autor de obras e coletâneas consagradas como Grandes nomes da história intelectual, Para ler os clássicos do pensamento político e Fernand Braudel – tempo e história, reuniu neste livro um conjunto expressivo de renomados pesquisadores que nos brindam com a essência da obra daqueles pensadores modernos.
Marcos Lopes indica logo na apresentação que durante o Renascimento e o Iluminismo os pensadores sempre recorriam aos estudos dos antigos e ao passado como referências, procurando indicar o lugar em que se colocavam em relação à tradição e à experiência histórica percorrida. A rigor, entre os séculos XVI, XVII e XVIII a história era ferramenta preciosa em quaisquer campos de reflexão, fossem sistemas filosóficos, estudos literários, morais ou ensaios políticos. No campo efetivamente histórico, revela o organizador, a querela dos antigos e modernos marcaria uma autêntica escalada do historicismo que progressivamente solapa uma perspectiva ahistórica de tempo. Não obstante, vejo que a história guardava cada vez mais proximidade com o que depois se convencionou chamar de filosofia da história, ou seja, articulando em torno de um sentido a relação passado-presente-futuro, sentido este que poderia ser alcançado pelo entendimento humano, como atestam o pensamento de Voltaire e Rousseau, por exemplo. Esse caráter especulativo e filosófico que dá o tom da coletânea revela seu débito com a abordagem collingwoodiana.
O livro aparece antes da existência de uma síntese similar sobre a história da história na Antiguidade, ou seja, das ideias de história entre os antigos. Assim, na ausência de uma coletânea que trate de Heródoto, Tucídides, Políbio, Cícero ou Tácito, dentre outros, Ideias de História ocupa um lugar de destaque ao apresentar uma discussão aprofundada sobre algumas concepções modernas de história. No entanto, como em toda coletânea, podem ser sentidas ausências, como as de Hobbes, Mabillon, Kant, Commynes, Condorcet e Bolingbroke.
Isso não tira, absolutamente, o mérito da obra com seus estudos pontuais e sistemáticos, que informam e esclarecem a complicada trama pela qual o estudo do passado se efetuava a partir do século XVI no pensamento de alguns importantes pensadores. Trata-se de um momento em que o conceito e o próprio estudo do passado sofriam uma sensível mutação, deixando de ser entendido apenas como magistra vitae, ou como a descrição de narrativas de reis e imperadores, assumindo um status cada vez maior de ciência (Koselleck, 2006, 21s).
Das especificidades da história dos antigos limitadas aos feitos de seus povos, emergia uma preocupação de integrar as diferentes histórias em uma mesma história. Espelhando-se nos antigos, dos quais preservam inúmeros pontos de concordância, tais como o do caráter exemplar, da repetição, da importância da esfera política dentre outros; os modernos rompem com o olhar tradicional sobre a relação entre o passado, sua narrativa e o presente ao ampliar a assimilação crítica do tempo e dos clássicos greco-romanos. Embora ainda fossem modelares, não eram mais vistos como fonte exclusiva de autoridade.
Os ensaios também indicam que aqueles autores subsumiam a história e seu estudo à reflexão filosófica, pois se colocava à história uma tarefa que não tivera na agenda dos antigos: crônicas, anais e memórias careciam de um sentido universal como desejava a razão moderna em sua ânsia por crítica e erudição. O passado não perdia seu caráter pedagógico, pelo menos no todo, mas se ampliava a convicção de uma história entendida como aperfeiçoamento e progresso. Concomitantemente, o estudo do passado adquiria um caráter bem mais sistemático e rigoroso, do que então tivera, no qual o método ganhava enlevo, muito embora a história continuasse sendo um ramo atrelado ora à filosofia, ora às belas letras (Gervinus, 2010, 28), como um gênero narrativo menor.
Ao contrário dos antigos nos quais a urdidura dos eventos ou sua narrativa eram a dimensão mais importante fazendo com que o elemento cronológico superasse, muitas vezes, a importância dos julgamentos; entre os modernos a ênfase recaía sobre a crítica, de modo que a história iluminava a compreensão de determinados temas, diluindo-se a importância dos eventos e ampliando-se o valor dos temas e das fontes tratados. Outro aspecto notável é o futuro assumir uma dimensão fundamental, minando a possibilidade do presente ser experimentado como algo fixo e imutável. Novas perspectivas passaram a pautar a relação sujeito-objeto do saber e, independentemente do modo como o passado era percebido, seja para romper com generalizações, seja para encontrar regras gerais, a história continuava, entretanto, a oferecer exemplos para a vida. Patenteia-se nos autores clássicos reunidos nesta coletânea a convicção de que a história “pode conduzir ao relativo aperfeiçoamento moral e intelectual de seus contemporâneos […] cujas histórias são instrumentos recorrentes apropriados para comprovar doutrinas morais, teológicas, jurídicas ou políticas” (Koselleck, 2006, p.43).
Daí o esforço dos pesquisadores desta coletânea em compreender e localizar as idéias de história e o momento em que foram concebidas, suas tradições, embates e assimilações. Eis o sentido que alimenta o espírito da obra, pois, os colaboradores revelam que muito mais do que apropriação ou crítica, havia inovações naqueles pensadores, que ao fazerem parte do desenvolvimento de uma nova concepção de história estavam dotados de grande originalidade teórica e metodológica. Em seu conjunto, todos os textos que compõem o livro são tributários de Idéia de História publicado em 1946 por Robin G. Collingwood, que inaugurou um novo capítulo na história da historiografia com sua abordagem historicista e filosófica (1952).
Para os modernos não se tratava apenas de narrar feitos humanos notáveis, evitando-se o esquecimento, ou ainda apenas registrar eventos singulares, mas, sobretudo, de pensá-los dentro de um contexto, como um processo. Encontrar conexões, tal era o desafio, algo que já havia sido proposto por Chladenius. Este pensador germânico havia indicado ainda que, além das conexões, era também fundamental deixar claro para os leitores o ponto de vista (Sehepunkt) adotado pelo autor (Chlandenius, 1752, 36s).
No primeiro capítulo, José Luiz Ames dedica-se a dissecar o pensamento de Maquiavel e revela como o florentino adotava a história como um conhecimento inestimável para se compreender as regras gerais da ação política.
Para ele a história era o resultado das ações humanas e Roma um modelo útil para se compreendê-las e se estabelecer comparações com o presente. Mas, embora o passado fosse louvável, isso não significaria, absolutamente, que devesse ser imitável. A história deveria ser pensada sob o prisma da identidade, dos desejos e humores humanos e da diferença dos acontecimentos históricos.
Embora eventos políticos pudessem se repetir, isso não implicaria numa história imutável. Ou seja, a noção maquiaveliana de imitação, nas palavras de Ames, “está longe de ser a repetição mecânica” (p.29). Mesmo quando apelava para um modelo de tipo circular, utilizava-se de uma noção de prognóstico (Koselleck, 2006, 35).
Em seguida Sylvia Ewel Lenz analisa Guicciardini, que, se nos reportássemos ao modo como Gervinus pensa a narrativa histórica, teria feito a transição da narrativa cronológica para a memorialística. Curiosamente, o autor mantém a presença do fatalismo medieval, dos sinais, da fortuna. Muito embora tenha incorrido em pecados capitais em relação ao método, como já apontara Ranke (1824), ao deixar-se impressionar por superstições e preconceitos correntes de seu tempo, Guicciardini fez uma história do tempo presente com um zelo documental sem precedentes (p.48).
No terceiro capítulo, Marcos Antônio Lopes discute a obra de Bodin que tomava a história com uma preocupação política, para compreender as ações humanas em sua relação com as formas de governo, mas ao contrário de Maquiavel, não perdeu de vista as diferenças de escala da política antiga para a política do presente. Ele incorpora o espírito da histoire accomplie, ou seja de uma história perfeita, que busca o rigor metodológico, a crítica documental, evitando ser mera descrição de transições dinásticas ou um romance de reis. E separou “a história sacra, a história humana e a história natural” revelando que a “história humana não tem qualquer meta a atingir; ela é o campo aberto da inteligência humana” (Koselleck, 2006, 28-9).
Bossuet foi também analisado por Marcos Lopes no quarto capítulo, ele que em sua obra representou o esforço de reunir histórias particulares em uma mesma história, acreditando que o conhecimento histórico daria enorme impulso à hermenêutica bíblica além de ser um dos veículos mais apropriados para a educação dos príncipes. Providência e história seguiam uma ordem universal e Deus se encarregaria de corrigir as distorções provocadas pelos príncipes, pois como Santo Agostinho – sua grande influência – já havia sugerido, os Estados terrenos e a cidade de Deus não eram pólos opostos.
João Antônio de Paula analisa o pensamento de Vico no capítulo seguinte, cuja Ciência Nova representou uma verdadeira revolução no pensamento e uma das compreensões mais originais da história. Para Paul Hazard, Vico ilustra perfeitamente um momento decisivo da crise da consciência européia, inaugurando “uma nova maneira de pensar ao mesmo tempo inovadora, em seu conteúdo, e desconcertantemente original, em sua forma” (p.116). Karl Löwith encarou o italiano como precursor de Herder, Dilthey, Hegel, Splenger e Niebuhr, dentre outros; cujas idéias adormecidas aguardariam pelo advento do romantismo, do idealismo e do historicismo, para despertarem com força absoluta, visto colocarem a história como o base de todo conhecimento. Atribuise a Vico a elaboração da primeira filosofia da história.
No sexto capítulo Renato Moscateli toma Montesquieu, “escritor que ganhou renome de grande pensador político por ter estabelecido princípios que fundamentariam as constituições de inúmeros Estados modernos” (p.151) que em uma de suas primeiras obras Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e sua decadência, de 1734, demonstrava a importância do exame de diferentes causas e personagens, de sua interpretação e não meramente de sua narração. Sua análise revela que os eventos se reúnem numa teia de causas essenciais, dotadas de sentido, pois, para ele “não é a fortuna que domina o mundo, mas ações concretas, físicas, morais, humanas. Em O espírito das leis Montesquieu parte do jusnaturalismo e da política para, embasado no terreno da história edificar uma das mais importantes obras do pensamento ocidental moderno que não se limita à classificação ou à descrição de sistemas jurídicos ou da arquitetura das leis, mas procura localizar sua essência cunhando conceitos, tipos ideais e introduzindo uma nova perspectiva de análise que parte das virtudes políticas e morais como molas para a compreensão dos fenômenos humanos.
Voltaire é alvo do ensaio de Estevão de Rezende Martins no capítulo seguinte, paladino da tolerância, da liberdade e divulgador par excellence do racionalismo inglês e do pensamento iluminista francês. Segundo Estevão, para Voltaire, quanto mais esclarecido os homens, mais livres serão, pois, “apostava na espontaneidade da razão (do são entendimento), que haveria de encontrar sempre a boa solução” (p.185) e seguiu Locke “na exigência de fundamentar empiricamente a filosofia e a ciência, e de não aceitar qualquer conhecimento que não esteja exclusivamente baseado em observações” (p.190). No Ensaio sobre os costumes, Voltaire indica a necessidade de um novo tipo de história, que encontre o sentido do tempo e o espírito humano, que seja mais científica e crítica, evitando especulações teo-teleológicas (p.201).
No oitavo capítulo a professora Sara Albieri da USP analisa o pensamento de David Hume, autor da História da Inglaterra do período romano até a revolução de 1688, causando espécie ao publicar volumes seguindo uma inversão cronológica. “Hume julgara ter escrito uma narrativa histórica imparcial […] acima do conflito das interpretações partidárias, esperando persuadir as partes em disputa e atrair o consenso das opiniões” (p.206). Hume evidencia a máxima de Voltaire de que somente os filósofos deveriam escrever a história. Sara percebe em Hume a sensível mutação ocorrida da história narrativa, para uma história mais filosófica com maior preocupação metodológica e científica, cujo estilo foi obscurecido pela historiografia romântica posterior, salvo no destaque conferido à imaginação.
Em seguida Renato Moscateli se debruça sobre Rousseau, para o qual a história preserva o caráter de exempla, pois persegue o princípio da perfectibilidade humana perdida e que deve ser reconquistada; “há em seu pensamento histórico uma verdadeira argumentação dialética que liga o processo de aprimoramento da razão humana “a demonstração da corrupção que o acompanha passo a passo” (p.237).
No penúltimo capítulo Gibbon é alvo da análise de José Antonio Dabdab Trabulsi que revela o gênio do inglês em sua démarche histórica interpretativa, marcada pela erudição clássica, pelo interesse na diferença e pela subjetividade da narrativa. Mais que historiador, seria também um philosophe (p.264) em sua tentativa de fazer uma história natural da religião à semelhança de Hume em sua clássica História do declínio e queda do Império Romano.
Herder é o último pensador, analisado por Astor Diehl, fecha a coletânea, expressão dos desafios que, na encruzilhada do Iluminismo e do Romantismo, forjou os alicerces sob os quais se desenvolveria o historicismo alemão.
Como se vê, a Ideias de História realiza uma síntese louvável para se compreender a trajetória do conhecimento histórico e suas expressões em alguns pensadores clássicos da era moderna, descrevendo algumas representações do passado e sua compreensão, revelando a complexidade dos relatos historiográficos na modernidade e o caráter perturbador de novas leituras do mundo e das experiências do tempo. Como revela Hans-Ulrich Gumbrecht,
No interior do tempo histórico, não se pode imaginar que quaisquer fenômenos estão livres de mudança e isso leva à aceitação geral da premissa de que períodos históricos diferentes não podem ser comparados por quaisquer padrões de qualidade meta-histórica (GUMBRECHT, 1998: 15).
A partir daquele período, nenhum indivíduo, grupo ou momento histórico poderia ser visto como a repetição de fenômenos antecedentes, cada presente era experimentado como uma possibilidade de mudança pelo seu futuro, colocando a temporalidade e seu cronótopo como uma categoria estrutural de investigação histórica. Não por acaso apareceriam então as filosofias da história como fonte de modelos narrativos, procurando encontrar padrões para a experiência do passado, reveladoras da essência das ações humanas.
Referências
CHLADENIUS, Johann Martin. Allgemeine geschichtswissenchaft. (Ciência histórica geral – trad. Sara Baldus 2009). Leipzig : Friedrich Landisches Erben, 1752.
COLLINGWOOD, R. G. Ideia de la historia. México: Fondo de Cultura Economica, 1952.
DEJEAN, Joan. Antigos contra modernos: guerras culturais e construção de um fin de siècle. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
FUETER, Eduard. Histoire de l´historiographie moderne. Paris: Librairie Félix Alcan, 1914.
GERVINUS, Georg G. Fundamentos de teoria da história. Petrópolis: Vozes, 2010 (no prelo).
GUMBRECHT, Hans Ulrich. Modernização dos sentidos. São Paulo: Editora 34, 1998.
HAZARD, Paul. Crise da consciência européia (1680-1715). Lisboa: Cosmos, 1948.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos.
LÖWITH, Karl. Meaning in History. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
Julio Bentivoglio Professor Adjunto Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) juliobentivoglio@gmail.com Av. Fernando Ferrari, 514 Vitória – ES 29069-900 Brasil.
O ensino secundário no Brasil Império – HAIDAR (HH)
HAIDAR, Maria de Lourdes Mariotto. O ensino secundário no Brasil Império. 2 edição. São Paulo: Edusp, 2008, 272pp. Resenha de: LIMA E FONSECA, Thais Nivia de. Uma radiografia dos primórdios do ensino secundário no Brasil. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 04, p.336-340, março 2010.
Publicado pela primeira vez em 1972 com o titulo O ensino secundário no Império Brasileiro, o estudo de Maria de Lourdes Mariotto Haidar tem sido referência obrigatória para os que se interessam pelas questões relacionadas ao ensino secundário no Brasil, e mais especificamente nos primeiros tempos de sua sistematização após a independência, durante o periodo imperial. Partindo das primeiras iniciativas de organização, por parte do Estado, para este nivel de ensino, realizadas a partir de 1834, a autora analisa radiograficamente a evolução do ensino secundário deste momento até o final do Império, em 1889.
O pioneirismo do seu estudo inicia-se pela própria temática, visivelmente negligenciada pelos estudos sobre a história da educação brasileira até a segunda metade do século XX. Este campo da pesquisa histórica, até então muito marcada pela influência dos trabalhos publicados até meados daquele século – principalmente o de Fernando de Azevedo, A Cultura Brasileira, de 1943 – considerava o período monárquico do Brasil independente como uma época de apagamento das atividades educacionais sob o controle do Estado. Ao indicar a República como a iniciadora de uma “verdadeira” política educacional na história brasileira, essa historiografia relegou o Império a um segundo plano nesta matéria, chegando a negar sua atuação na criação de qualquer política respeitável sobre a questão.
Ao assumir, neste contexto, um estudo direcionado ao período imperial, Haidar contava com poucas contribuições anteriores sobre o assunto.[1] Não lhe foi possível, portanto, evitar o trabalho de vulto no levantamento de fontes, essenciais em qualquer pesquisa histórica, mas absolutamente indispensáveis quando se tratava de dar maior visibilidade a um processo complexo, então ainda pouco conhecido, que interpôs a conjuntura política e as questões educacionais, principalmente na segunda metade do século XIX. Esse é, sem dúvida, um dos mais evidentes méritos do seu trabalho, pois ela foi criteriosa no esforço da pesquisa de fontes, e em sua organização.
A clara preocupação em radiografar este processo – indo mesmo além do ensino secundário em si, mas atentando para outras dimensões da educação escolar brasileira daquele período – acabou por levar a autora a agarrar-se muito aferradamente às informações documentais, levadas ao seu texto de forma profusa, ao longo de uma narrativa com forte peso na cronologia, onde leis, regulamentos, decretos, pareceres (além de muitos nomes associados a estes documentos) mencionados ao longo da obra, exigem dobrada atenção do leitor, numa narrativa por isso mesmo, às vezes cansativa, e que obriga a idas e vindas no texto para que o fio da meada não se perca. O constante recurso à transcrição de documentos, às vezes em longos trechos, tanto no corpo do texto quanto nas notas de rodapé contribui para isso. Tem o mérito de tornar os documentos acessíveis ao leitor, mas muitos deles bem que poderiam fazer parte de um anexo. Contudo, não se pode negar o caráter ricamente informativo da obra.
Riqueza informativa que permitiu a Maria de Lourdes Haidar reunir elementos para explicar as complexas articulações e interesses que envolveram diferentes sujeitos no processo de organização da educação escolar no Brasil império, particularmente da educação secundária, e que contribuíram sobremaneira para a montagem de um sistema de organização e funcionamento que expressavam essa movimentação social e política. E que, de certa forma, ajudaram a estabelecer algumas das características do ensino secundário e do ensino superior no Brasil nos períodos posteriores. Entre essas características, destacam-se a estreita relação do ensino secundário com as formas de ingresso no ensino superior, o que o tornava um nível de escolarização acessível basicamente às elites e setores médios, além da fraca presença do Estado como responsável direto por este nível de ensino. A conveniência deste tipo de estrutura tornou-a duradoura, vigorando como uma prática quando da elaboração de políticas educacionais até já avançada a República, ao longo de boa parte do século XX.
Na busca pelo entendimento desse processo, Maria de Lourdes Haidar procurou analisar os contrastes e os conflitos, de naturezas diversas, entre o poder central e as províncias, na sua maior parte decorrentes da legislação destinada a organizar o ensino secundário no Brasil império, o que nos permite inferências sobre qual seria a importância atribuída à educação em geral e ao ensino secundário em particular, no movimento político de descentralização/ centralização observado no Brasil no século XIX, e no âmbito do pensamento liberal que pautava ação política brasileira naquele momento. Com essa preocupação, a autora demonstrou os contrastes entre as ações mobilizadas no sentido de promover a descentralização e a autonomia provincial, por exemplo, e as tendências centralizadoras na estruturação do ensino secundário como forma de ingresso nos cursos superiores. Desse movimento resultaria, de forma evidente, o papel central adquirido pelo Colégio de Pedro II como instituição modelar para o ensino secundário, e o enfraquecimento de muitas instituições correlatas em diferentes províncias do Império. Distorções dessa natureza foram cuidadosamente analisadas pela autora, confrontando expressiva variedade de documentos.
Importante é demarcar, também, a importância assumida pelo trabalho de Haidar e seu caráter referencial no que diz respeito ao Colégio de Pedro II, objeto particular do terceiro capitulo do livro. O escrutínio sobre seu funcionamento, à luz das políticas relativas ao ensino secundário ao longo do século XIX abriu caminho para muitos pesquisadores que passaram a se interessar por esta instituição de ensino, investigada mais recentemente sob diferentes prismas. Não é por acaso, portanto, que O ensino secundário no Brasil Império seja referência obrigatória não apenas para trabalhos que, direta ou indiretamente lidam com o Colégio Pedro II, mas para pesquisas focadas nas instituições escolares do Império em geral.
A utilização de fontes que muitos denominam “escolares” – porque produzidas no âmbito nas instituições escolares – foi um recurso fundamental para uma aproximação, na medida do possível, com o funcionamento do ensino secundário no Brasil império, não apenas no âmbito das prescrições legais a respeito dele, mas nas realidades dos diversos colégios, liceus, institutos e externatos então existentes em diferentes localidades do Brasil. Assim, além do foco posto sobre o Colégio de Pedro II, a mais importante instituição pública de ensino secundário, Maria de Lourdes Haidar voltou-se para a análise do ensino secundário em outras escolas, da iniciativa particular, masculinas e femininas.
Esse enfoque é, na verdade, de grande importância, pois na segunda metade do século XIX ampliou-se o espaço para a iniciativa particular no âmbito educacional, espaço este que foi prodigamente aproveitado, a partir daí, pelas escolas confessionais ligadas a ordens e congregações religiosas masculinas e femininas.
A forte presença destes setores no ensino secundário, apoiada na fraca participação do Estado, ajudaram, ao longo do tempo, a consolidar o ensino privado fora da educação de nível elementar. O estudo de Maria de Lourdes Haidar foi fundamental para o rastreamento dos caminhos iniciais dessa característica do sistema educacional do Brasil independente, mesmo até o período republicano. Esse é, aliás, um campo de pesquisa florescente na historiografia da educação brasileira.
Na organização dos capítulos da obra, fica clara a intenção de demonstrar toda essa trajetória, iniciando pela análise do processo político e legislativo que, a partir do Ato Adicional de 1834 promoveria a autonomia das províncias do Império em várias matérias, entre as quais a organização da educação, incluindo o ensino secundário. No segundo capitulo Haidar envereda pela apresentação do funcionamento dos cursos preparatórios e dos exames para ingresso no ensino superior, analisando seus impactos nos diferentes tipos de escolas secundárias do Império, em geral afetadas negativamente pelas deformações provocadas pelo sistema. Nos capítulos seguintes, o foco recai sobre o ensino secundário propriamente dito, no Colégio Pedro II, nas escolas particulares e no ensino feminino.
Numa primeira leitura, O ensino secundário no Brasil Império nos parece uma obra essencialmente descritiva, produzida quando a historiografia da educação ainda não havia se ligado numa prática investigativa e analítica que marcou o movimento de renovação da historiografia brasileira, principalmente a partir da década de 1980. E, ainda, explicada num cenário em que era nítida a pouca especialização daqueles que se dedicavam aos estudos históricos no campo da educação, em sua maioria sem formação específica em História.
Maria de Lourdes Haidar, contudo, não caiu nos esquematismos que marcaram a historiografia entre as décadas de 1960 e 1980 no Brasil, e que podem ser facilmente encontrados em muitos livros sobre história da educação produzidos naquele período. Uma leitura atenta – e paciente, pelos aspectos do texto que comentei anteriormente – faz aflorar um estudo denso, que ultrapassa a mera descrição, e que constrói articulações importantes entre instâncias absolutamente essenciais para a compreensão dos processos de escolarização no ocidente moderno, e que envolvem muito mais que concepções pedagógicas, mas relacionam-se a linhas de pensamento político e social, a políticas de Estado, a estruturas de poder local, a pressões sociais de diferentes intensidades.
Perfeitamente justificável, portanto, a reedição da obra, trinta e seis anos depois de seu aparecimento.
[1] 1 Basicamente as obras de Henrique Dodsworth (Cem anos de ensino secundário no Brasil, de 1968) e de Primitivo Moacyr (A instrução e Império – subsidios para a história da educação no Brasil, e A instrução e as provincias, ambos de 1940), conforme as indicações bibliográficas da autora.
Thais Nivia de Lima e Fonseca Professora Adjunta Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) thais.fonseca@pq.cnpq.br Av. Antonio Carlos, 6627 – Pampulha Belo Horizonte – MG 31270-901 Brasil.
Science in the Spanish and Portuguese Empires: 1500-1800 – BLEICHMAR et. al. (HH)
BLEICHMAR, Daniela et alii (ed.). Science in the Spanish and Portuguese Empires: 1500-1800. Stanford: Stanford University Press, 2009, 456 pp. Resenha de: KANTOR, Iris. A ciência nos impérios português e espanhol. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 04, p.294-298 março 2010.
O recém publicado Science in the Spanish and Portuguese Empires – 1500- 1800, reúne quinze artigos e dois ensaios que fazem a síntese dos principais argumentos desenvolvidos na coletânea. Direcionada ao público universitário anglo-americano, o livro procura redimensionar o peso do legado ibérico na construção do mundo moderno. A coletânea valoriza os modos de fazer, comunicar e teorizar das ciências praticadas no âmbito dos impérios português e espanhol. Seus organizadores denunciam a persistência de visões reducionistas e depreciativas associadas à cultura científica ibérica que, segundo eles, ainda persistem nas grandes narrativas historiográficas sobre a formação do campo científico moderno.
O silêncio não é recente, mas contemporâneo às campanhas de detração promovidas pelos impérios rivais, veiculadas pela difusão da legenda negra e pelas controvérsias sobre a inferioridade natural e humana do Novo Mundo ao longo dos séculos XVII e XVIII. Por outro lado, essas imagens negativas do colonialismo ibérico também foram apropriadas pela historiografia decadentista (tanto na vertente liberal como marxista) que, por sua vez, atribuiu à censura inquisitorial, ao catolicismo e aos jesuítas, as principais obstruções ao desenvolvimento do pensamento científico nos países e regiões de colonização ibérica.
Os estudos reunidos nessa coletânea procuram superar definitivamente a dicotomia entre prática científica e cultura católica, demonstrando que o enquadramento teológico político do mundo natural – sensibilidade científica barroca que conjuga a intervenção divina com o experimentalismo – não teria constituído um impedimento para formulação de modelos explicativos com validade universal.
Um dos principais méritos da interpretação proposta é restituir o protagonismo ibérico. Presença percebida não apenas como contribuição pontual à história da ciência moderna, mas como parte de processos históricos mais amplos em que se procura reconstruir os contextos sociais de legitimação dos “sistemas científicos”. Não se trata de avaliar os fracassos ou os eventuais sucessos dos empreendimentos em si mesmos, mas, sim, de compreender os impactos globais e locais resultantes da acumulação (ou dispersão) de conhecimento adquirido na experiência de gestão de impérios de dimensão transcontinental.
Essa perspectiva desloca o foco de análise para a mobilidade geográfica dos diferentes atores (individuais e coletivos) implicados no processo de transmissão dos saberes para além das fronteiras políticas, religiosas, sociais e lingüísticas. Esse novo ângulo de observação permite estabelecer um quadro interpretativo distinto das abordagens historiográficas precedentes, geralmente, marcadas pelas visões decadentistas ou por reações apologéticas. Os autores dessa coletânea não caíram na armadilha de transformar as descobertas marítimas em pedra de toque do nacionalismo científico. Um anacronismo sempre difícil de contornar tendo em vista o papel ativo da Coroas na criação de instituições especializadas e na formação de corpos profissionais.
A compreensão da imbricação (não sem tensões e conflitos) entre os desígnios imperiais e a produção científica apresenta-se como um desafio teórico que contraria os modelos de análise weberiano ou habermasiano. Com efeito, os artigos evidenciam uma realidade matizada, um contexto de experiências constituído por uma diversidade de espaços institucionais e informais (conselhos, corte, salões cortesãos, universidades, academias, seminários missionários, jardins botânicos, bibliotecas privadas, expedições e gabinetes itinerantes etc…), mas também por diferentes modalidades de interação social. A riqueza desses diferentes situações nos obriga a uma revisão dos modelos sociológicos clássicos. As teorias de Pierre Bourdieu são invocadas para explicar as condições de exercício das atividades científicas na Nova Espanha de maneira bastante convincente.
Da mesma maneira, os autores não desconsideram as restrições impostas à difusão das descobertas científicas por motivos geopolíticos: os segredo de Estado (arcana imperii). Contudo, destacam que, mais do que controlar o fluxo da informação científica, as coroas lograram impedir sua publicação, e, por conseqüência, sua difusão e reconhecimento oficial no âmbito da república das letras européia. Onésimo de Almeida e Kevin Sheehan, por exemplo, chamam atenção para importância dos relatos dos navegantes portugueses e espanhóis na obra Francis Bacon, muito embora o autor não tenha atribuído os devidos créditos às fontes utilizadas. Ao contrário dos impérios rivais, as Coroas Ibéricas nunca souberam explorar o potencial de propaganda dos experimentos bem sucedidos em seu próprio favor.
Seguindo a pista deixada por Alexander von Humboldt, o prefaciador da coletânea, Cañizares-Esguerra, alerta para a necessidade de investigar centenas ou milhares de manuscritos ainda inéditos depositados nos arquivos e bibliotecas para uma correta avaliação dos alcances e limites da cultura científica ibérica.
Palmira Costa e Henrique Leitão também enfatizam que o pesquisador deve percorrer as correspondências das autoridades metropolitanas e locais, os diários de viajantes e comerciantes, os relatórios de missionários e cronistas locais para captar a dimensão quotidiana dessas experiências.
Dividida em quatro unidades, a coletânea busca novas abordagens para o enquadramento da produção científica na escala intra-imperial e trans-imperial.
Na primeira parte, “Reassessing the Role of Iberia in Early Modern Science”, dois balanços bibliográficos traçam um panorama atualizado das investigações realizadas nas últimas duas décadas. Tanto no caso português, como no caso espanhol, os autores constatam as dificuldades de recepção por parte da historiografia estrangeira das contribuições mais recentes. Na segunda parte, “New Wold, New Sciences”, os autores exploram as tensões de natureza epistemológica suscitadas pelo confronto entre campo e gabinete, entre experiência prática e especulação teórica. Na terceira parte do livro, “Knowledge Production: Local Contexts, Global Empires”, abordam-se as relações entre ciência e a construção dos impérios de longa distância, e os estudos de caso atenuam a dicotomia entre centros e periferias ao enfatizarem o intenso intercâmbio de conhecimento e a multiplicidade de variáveis que interferiam na produção local.
Com efeito, a expansão comercial e o processo colonizador levaram à intensificação dos contatos com as populações nativas. Desígnios comerciais e políticos possibilitaram o aparecimento de uma camada social – tradutores ou mediadores culturais – fundamental na conversão entre os sistemas de conhecimento nativo e o europeu. A atuação desses “experts” comprovaria a enorme capacidade de apropriação da sócio e biodiversidade locais. Personagens híbridos – nem totalmente crioulos, nem completamente europeus – como o navegador português a serviço de Felipe III (Felipe II de Portugal) Pedro Fernandez de Quirós, o matemático e astrônomo Carlos de Singüenza y Góngorra, o naturalista e editor de periódicos Jose Antonio Alzate y Ramirez e o naturalista José Celestino Mutis. Todos eles atestam a coexistência e articulação de matrizes de pensamento, muitas vezes distintas, mas que estimularam a elaboração de outras linguagens e taxonomias científicas, mais recentemente denominadas de epistemologias patrióticas (cf. Cañizares-Esguerra).
A politização dessas epistemologias como reação às reformas ilustradas em fins do século XVIII não constitui um objeto de questionamento nesta coletânea. Nesse aspecto, os estudos distanciam-se das perspectivas historiográficas que buscam ver nas tensões entre cientistas peninsulares e crioulos uma fonte de inspiração para afirmação das identidades antimetropolitanas (cf. Antonello Gerbi, David Branding, Thomas Glick). Os organizadores deixam isso evidente quando propõem um recorte temporal que abarca o período de 1500 a 1800, sem comprometer-se com a cronologia do processo de emancipação política deflagrada a partir das invasões napoleônicas e após a revolução de Cadiz (1812). Fiona Clark, Daniela Bleichmar e Paula de Vos, pelo contrário, destacam a tendência para afirmação do patriotismo imperial que unia peninsulares e crioulos contra os preconceitos veiculados pelas teorias da inferioridade natural do Novo Mundo.
Na quarta e última parte da coletânea, “Commerce, Curiosities and the Circulation of Knowledge”, explora-se mais diretamente as interconexões entre motivações mercantis, ciência aplicada e curiosidade. Os estudos trazem à tona novos atores cujos experimentos empíricos e as vivências concretas estiveram na raiz das inovações tecnológicas, posteriormente incorporadas e difundidas por cientistas europeus de grande prestígio. Reconstitui-se a cadeia de transmissão dos conhecimentos úteis para o comércio e para os governo dos povos (sobretudo no campo da medicina, botânica, mineração, técnicas de navegação, astronomia e cartografia). Em mais de 300 anos de colonização, as coroas ibéricas teriam desenvolvido sistemas de coleta e processamento das informações, configurando uma rede não apenas institucional, mas também informal, mobilizada em escala planetária. Paradoxalmente, até mesmo as iniciativas das ordens missionárias (nos colégios jesuíticos, franciscanos e dominicanos) colaboraram para formação de uma cultura empírica, aberta ao experimentalismo e à concepção secular do mundo natural.
Entre os quinze estudos apresentados, quatro apenas dedicam-se ao império português e o restante ao espanhol. Somente um artigo (de Junia Ferreira Furtado) está dedicado ao mundo luso-americano. O desequilíbrio é notório, mas não compromete a perspectiva global de análise, pelo contrário, demonstra que ainda há um longo percurso de investigação a ser percorrido…
Sobretudo no que toca aos entrecruzamentos possíveis entre os dois impérios, conexões temáticas, cronológicas e biográficas poderiam aproximar ainda mais as experiências comuns em contraste com os demais impérios. A historiografia recente tem mostrado que o “comércio erudito” entre os luso-americanos e os hispano-americanos era mais intenso do que se pressupôs. A contradição entre cosmopolitismo e nacionalismo científico tornou-se cada vez mais aguda após a expansão napoleônica. Fazer ciência no mundo ibérico nunca foi um labor neutro, mas carregado de investimento político, econômico, filosófico e afetivo.
Science in the Spanish and Portuguese Empires abre uma agenda historiográfica indiscutivelmente fundamental.
Iris Kantor – Professora Adjunta Universidade de São Paulo (USP) ikantor@usp.br Av. Prof. Lineu Prestes, 338 São Paulo – SP 05508-000 Brasil.
Os gregos e nós: uma antropologia comparada da Grécia Antiga – DETIENNE (HH)
DETIENNE, Marcel. Os gregos e nós: uma antropologia comparada da Grécia Antiga. Tradução de Mariana Paolozzi Sérvulo da Cunha. São Paulo: Loyola, 162pp. Resenha de: BENHIEN, Rafael Faraco. Em defesa de uma antropologia histórica: com os gregos e para além deles. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 04, p.352-357 março 2010.
Como seu nome indica, este livro de Marcel Detienne explora certas relações entre os antigos gregos e nós. Ainda assim, em contraposição ao que geralmente se projeta em tais relações, o autor se recusa a reificar por meio delas quaisquer mitos de origem do Ocidente. Da mesma forma, enfrenta com ousadia o discurso corporativista, mais ou menos sofisticado conforme o caso, daqueles que sustentam uma epistemologia própria aos estudos históricos, sejam eles “antigos” ou “modernos”, “nacionais” ou “estrangeiros”. Os Gregos e Nós trata, antes de tudo, da defesa e dos resultados de uma metodologia experimental, o comparatismo.
É bem verdade que tal método nada tem de novo, como sugere o próprio autor ao recuperar alguns dos fundadores da sociologia, da antropologia e da linguística modernas. Com efeito, para Émile Durkheim, Marcel Mauss e Antoine Meillet, aos quais se somaram mais tarde Marcel Granet e Émile Benveniste, a comparação deveria estar no cerne de toda a reflexão sobre essa dimensão específica da Natureza que é o Social. Não por acaso, no prefácio do primeiro volume do Année Sociologique, publicado em 1898, o próprio Durkheim afirmou: “a história só pode ser uma ciência na medida em que explica, e não pode explicar senão comparando. Mesmo a simples descrição é impraticável de outra maneira: não se descreve bem um fato único, ou do qual se possuem raros exemplos, porque ele não é bem observado”. Ora, tanto para Detienne, como para os cientistas sociais por ele citados, não se trata de reafirmar a essência de um objeto dado a priori, mas sim de colocar em cheque o próprio arranjo de questões a partir do qual o pesquisador concebe a série documental a ser estudada. Em outras palavras, o autor se quer herdeiro da tradição que toma o comparatismo como um instrumento privilegiado para dissolver especulações ontológicas.
Mas se o comparatismo já possui uma história considerável, não deixa de ser interessante ver o quanto sua presença é relativamente recente na obra de Detienne. Explico-me. Entre as décadas de 1960 e 1980, intervalo no qual o autor iniciou carreira e conquistou renome internacional, sua adesão ao grupo que tinha por patrono Louis Gernet e por patrão Jean-Pierre Vernant deu-se em sintonia com os estudos helênicos. Detienne notabilizou-se então por estudar exclusivamente as sociedades gregas, em especial seus mitos e sua religião.
Neste período, o comparatismo, embora evocado de tempos em tempos, não produziu muito mais do que as tímidas páginas que servem de anexo a Problèmes de la Guèrre en Grèce Ancienne (1985), cuja organização ele dividiu com Vernant.
A partir de meados dos anos 1970, contudo, em paralelo aos trabalhos do “helenista puro”, Detienne passou a se interessar cada vez mais pela história crítica de certos conceitos-chave em seu próprio métier. Em L’Invention de La Mythologie (1981), por exemplo, sem se ater a recortes temporais institucionalmente estabelecidos, ele procurou analisar a constituição do campo epistemológico que marcou o sentido moderno de categorias como mito e mitologia. Acompanhando seus empregos ao longo dos séculos, ele mostrou como tais termos foram utilizados por especialistas para reafirmar subrepticiamente toda uma série de pré-conceitos, em particular aqueles que servem para opor civilização e barbárie, razão e imaginação.
Tal esforço reflexivo, associado ao rompimento com Vernant, acabou levando Detienne a, na sequência, reavaliar o papel do comparatismo em sua produção. Em trabalhos como Transcrire les Mythologies (1994), Comparer L’Incomparable (2000) e Comment Être Autochtone (2003), o “helenista” foi aos poucos se confundindo com o “antropólogo”. Vale dizer: cada vez mais distante do discurso que localiza nos antigos gregos uma especificidade ontológica em geral dotada de inestimável valor (os inventores da razão, da estética e da política), Detienne se propôs a observá-los a partir do confronto, ancorado em determinadas variáveis, com as mais distintas experiências societárias. Surgem assim outras razões, outras estéticas e outras políticas, todas aptas a iluminarem-se reciprocamente. Poder-se-ia dizer, e isto estaria correto, que tal transformação só foi possível em função das questões e dos conhecimentos acumulados por Detienne enquanto helenista. Não obstante, na medida em que a perspectiva defendida em seus derradeiros trabalhos engendra um desencantamento dos nossos gregos, tornados um entre tantos povos igualmente interessantes, é preciso reconhecer que há também aí um ataque aos valores celebrados nos mesmos espaços em que ele se formou.
Os Gregos e Nós, publicado originalmente na França em 2005, aprofunda ainda mais esta guinada na trajetória de Detienne. Ao longo de seus seis capítulos, o autor ora procura fundamentar intelectualmente sua proposta comparatista, ora apresenta de forma sucinta os trabalhos coletivos que ele coordenou em torno de temas tratados por tal viés. O capítulo que abre o livro, Fazer antropologia com os gregos, por exemplo, apresenta o projeto de uma antropologia histórica da Grécia Antiga. Tal texto opõe, a partir de um balanço da história das ciências sociais, historiadores e antropólogos. Em linhas gerais, para Detienne, enquanto estes se propuseram desde cedo a comparar “incomparáveis”, colocando frente a frente sociedades que lhes pareciam dotadas de dignidades distintas, aqueles estabeleceram genealogias e oposições destinadas a instaurar ou a reforçar o caráter singular de cada experiência societária. É contra esta história do particular, organizada desde o século XIX em torno da categoria de nação, que Detienne conclama os historiadores e antropólogos atuais a se unirem.
O próximo capítulo, Do mito à mitologia, discute as diferentes embocaduras que, desde o século XVI, guiaram o estudo da mitologia. Na primeira parte do texto, o autor explora o estratégico lugar reservado aos gregos por inúmeros especialistas, qual seja, o de guardiões da fronteira que separa o mito e a razão. Para colocar em cheque tal posição, Detienne então recupera a polissemia da própria noção grega de mito e evoca, em seguida, a análise estruturalista como um caminho eficaz para dar conta desta diversidade.
Afinal, sugere ele, trata-se de um método atento à correspondência entre muitos planos semânticos no mais amplo recorte comparatista possível.
Transcrever as Mitologias, o terceiro capítulo, remete aos estudos realizados no livro homônimo que o autor organizou em meados da década de 1990. A questão que guia aqui a análise é a seguinte: como reagem diferentes sociedades ao verem suas tradições orais ganharem suporte escrito? Comparando experiências gregas, romanas, ameríndias, japoneses e judaicas, Detienne evoca os atores das transcrições, bem como a estrutura social que dá sentido a seus atos. Contrastando um e outro caso, ele procura evidenciar o quanto a cristalização da tradição jamais é ingênua, bem como seu papel na consolidação de novos regimes de historicidade, ou seja, nas formas de se reinventar os vínculos entre o passado, o presente e o futuro.
No capítulo seguinte, A Boca da Verdade, o autor faz um balanço das discussões que se seguiram à publicação de seu livro Les Maîtres de la Vérité dans La Grèce Anchaïque (1967), em particular no que diz respeito à história do vocábulo grego “verdade” (alétheia). De início, a preocupação de Detienne é desvincular este seu antigo trabalho dos defensores da Grécia como “inventora da verdade”. Afinal, mudanças nos sistemas de verdade não são um privilégio do Ocidente, tampouco implicam a substituição de um bloco monolítico por outro. Para o autor, aliás, a modalidade de “verdade” que passa a vigorar na Grécia a partir do século VIII a.C. tomou vários caminhos, muitas vezes conflitantes entre si (a vontade da assembléia de guerreiros, a dos filósofos, a dos sofistas, a dos poetas e assim por diante). A segunda parte do texto, por seu turno, defende a importância de se continuar nas trilhas de uma antropologia das figuras míticas dos mestres da verdade arcaicos. Segundo o autor, tanto os hermeneutas de Lille (p. 83-7), quanto os filósofos discípulos de Heidegger (p.
87-90), ignoraram a importância de tal ciência e, portanto, não puderam avançar muito além do que já sabiam. Aqui, porém, o mais interessante é ver quem Detienne elege como interlocutor e quais argumentos utiliza para desbancá-los.
Quanto aos próprios argumentos, ao menos no que concerne o círculo constituído em torno de Jean Bollack, o mínimo que se pode dizer é que eles simplificam de modo grosseiro os trabalhos dos hermeneutas. Basta abrir os volumes de Bollack sobre Empédocles ou Heráclito para perceber que uma antropologia está sim ali presente e que ela permite colocar em relação diversos textos.
Achar seu Lugar é o título do quinto capítulo da obra. Retomando tópicos já trabalhados em seu livro Comment Être Autochtone (2003), Detienne se preocupa em abordar o problema da construção de identidades históricas. Por certo, o tema não poderia ser mais atual: graças aos esforços de políticos como Le Pen e Sarkozy, a especificidade da França voltou a transformar-se em terreno de acirrados debates. Buscando instrumentos de crítica contra tais novas “mitologias”, o autor volta-se para as práticas e os processos administrativos implicados na produção da crença acerca da autoctonia e da fundação em diferentes sociedades. É assim que ele contrasta, entre outras, as experiências da Atenas do século V a.C. com as da Padânia, da França e de Israel modernos.
Já o derradeiro capítulo, Comparáveis nos balcões do político, investe contra o culto da origem da política e do político na Grécia Antiga. Para tanto, o autor toma como terreno de combate diferentes modalidades de reuniões de pessoas em processos decisórios. A assembléia dos guerreiros gregos é assim comparada à dos cossacos e à dos circacianos, bem como às reuniões dos religiosos budistas no Japão, dos cônegos seculares na França Medieval e dos iniciados (senufo) da Costa do Marfim. Por meio de tais expedientes, interessa a Detienne inventariar quem, em que circunstâncias e de que modo, tem acesso à palavra pública. Assim se compreende melhor, insiste ele, tanto o fato do exercício da política não possuir uma única origem, como ajuda a problematizar as circunstâncias que destruíram estas experiências sociais particulares.
Tendo em vista a estrutura e o tema da referida obra, cumpre dizer aqui que sua tradução para o português chega em boa hora. Com efeito, nós, que vivemos uma expansão sem precedentes do sistema universitário brasileiro (talvez com os dias contados, quem sabe?), podemos pensar a partir dela mudanças interessantes a serem implementadas para as futuras gerações.
Entre os historiadores, por exemplo, qual a razão, além da corporativa, para se manter o curriculum centrado nas etapas de uma história que raramente reflete sobre o ato, em grande medida arbitrário, que a nomeia “Ocidental”? Precisamos de mais cadeiras de Grécia e de Roma Antigas, de Idade Média ou de História do Brasil? A sugestão de Detienne é clara: uma vez que “nossa história não começa com os gregos”, que ela é “infinitamente mais vasta”, é preciso estender nossos interesses para outros domínios. E há mais: é também necessário fazer com que novos e velhos domínios se cruzem, dialoguem entre si. Uma história comparada, outro nome para uma antropologia histórica, não pode se dar ao luxo de formar eruditos inteiramente dedicados ao estudo de uma só cultura.
Afinal, parodiando o Durkheim de As Formas Elementares da Vida Religiosa, o cientista social não deve se interessar apenas por este ou aquele homem em particular, mas também pelo Homem e, ainda mais urgentemente, por todos aqueles com os quais ele compartilha o privilégio e a responsabilidade de dividir um presente.
Por fim, algumas rápidas ponderações sobre a tradução e a edição. Embora tenha realizado um trabalho honesto, a tradutora demonstra não ter grande familiaridade com o vocabulário próprio das ciências sociais, algo nefasto para o leitor desavisado. Assim, contrariando os usos consagrados em português, ela traduz Année Sociologique por Ano Sociológico (p. 33); Potière Jalouse por Ceramista Ciumenta (p. 46 – é bom lembrar que o interessado nesta obra de Claude Lévi-Straus a encontrará em bibliotecas e livrarias brasileiras com outro título, Oleira Ciumenta); e os Annales por Anais (p. 188). A editora deveria ter sanado tais deslizes com uma revisão técnica adequada. Quanto à edição, é simplesmente lamentável que o desaparecimento das oito páginas repletas de fotografias do original francês não seja sequer indicado ao leitor brasileiro.
Rafael Faraco Benthien – Doutorando Universidade de São Paulo (USP) Bolsista FAPESP rfbenthien@hotmail.com Rua Dr. Nogueira Martins, 420/83 – Saúde São Paulo – SP 04143-020 Brasil.
Caio Prado Júnior: o sentido da revolução – SECCO (HH)
 Lincoln Secco. Foto: Francisco Emolo
Lincoln Secco. Foto: Francisco Emolo
SECCO, Lincoln. Caio Prado Júnior: o sentido da revolução. São Paulo: Boitempo Editorial, 2008. MONTALVÃO, Sergio.[1] Biografia intelectual como exercício de escrita da história. História da Historiografia, Ouro Preto, n.4, p.306-313, mar. 2010.
Ensina-nos Ítalo Calvino que os clássicos são livros acerca dos quais não se costuma dizer: “estou lendo”. E sim: “estou relendo”. Desde a sua publicação, nas décadas de 1930 e 1940, a obra histórica de Caio Prado Júnior foi lida de diferentes maneiras, suscitando aplausos e críticas, de acordo com o próprio deslocamento da historiografia, mantendo vivo, no entanto, o interesse dos leitores. Chegado o ano de 2008, pouco depois de completar-se o centenário de nascimento do autor de Evolução Política do Brasil (1933) e Formação do Brasil Contemporâneo (1942), a sua biografia, feita por Lincoln Secco em Caio Prado Júnior: o sentido da revolução, da editora paulistana Boitempo, apresenta não apenas o intelectual dedicado à interpretação do Brasil, mas o ativista e parlamentar de esquerda, o publisher da editora Brasiliense. Voltado para o grande público, esse estudo não perde, em nenhum momento, o rigor analítico, tendo o mérito de reunir o pensador e o homem de ação, de traçar um retrato de corpo inteiro de um dos mais formidáveis historiadores do século XX.
O livro de Lincoln Secco se beneficiou da voga de estudos caiopradianos que se sucederam a partir da segunda metade da década de 1990 (IUMATTI, 1998 e 2007; MARTINEZ, 1998; RICUPERO, 2000, GNERRE, 2001 e SANTOS, 2001). A abertura dos arquivos do Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS/SP) e a descoberta dos cadernos políticos de Caio Prado Júnior – parcialmente apresentados na tese de Paulo Iumatti, que elegeu as anotações sobre o ano de 1945, o último do Estado Novo de Vargas –, hoje abertos à consulta pública no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP), abriram um campo sobre o qual historiadores e cientistas sociais puderam descortinar as suas relações políticas e pessoais.
A nova ordem documental levou à mudança de foco, da historiografia ao historiador. Este movimento acompanhou as possibilidades de pesquisa atuais, que permitem maior variação nos jogos de escala. Parte evidente do regime de historicidade do século XIX, a biografia, depois de impactada pela história estrutural, renasceu a partir do final da década de 1960, em pesquisas que tiveram como objetivo revelar o cotidiano e a cultura dos “excluídos da história” (LORIGA, 1998). A partir de então teve início um movimento de revisão da história social, até então seduzida pelos expedientes de quantificação da chamada história serial. A crise do “paradigma galilaico” implicou na saturação da ideia de se levar a história ao limite de uma ciência em construção (GRENIER, 1998). A fortuna da biografia, porém, não se limitou apenas à história social, mas teve acolhida e espaço crescentes na história política renovada, que se dispôs a refletir sobre a ação dos indivíduos na esfera pública e de poder, recusando não somente a abordagem heróica, que fazia com que poucos personagens do passado gozassem de dignidade pessoal, mas também a abordagem totalizante, prefigurada em concepções teleológicas, que negavam o valor da experiência e do vivido.
A arte de tornar pública a sua opinião, criação, interpretação ou tese, que caracteriza os intelectuais e o seu relacionamento com a pólis, se inicia como atividade solitária e permanece associada ao autor ou à autora dos diferentes de obras e intervenções. Mesmo no caso dos “intelectuais orgânicos”, conforme o conceito gramsciniano, o empenho em servir a uma classe social depende de esforço próprio, que não pode ser delegado a terceiros. Na política, o intelectual está constantemente envolvido com processos e escolhas, nem sempre coerentes, de um lado e de outro. As suas escolhas políticas se fazem em meio a processos e acontecimentos históricos. Guerras, revoluções, torturas, genocídios, injustiças e desrespeito ao que consideram direitos individuais ou coletivos marcaram a entrada dos intelectuais na arena pública. Denúncias, acusações de desvios ou exacerbações daqueles que eles próprios apoiaram em um primeiro momento, levaram-nos à contestação ou ao silêncio. Se sujeito a tantas singularidades e idiossincrasias, haveria como tratar o intelectual além da biografia? Este me parece o desafio do livro de Lincoln Secco: tornar a biografia de Caio Prado Júnior um exercício de história política e, ao mesmo tempo, um exercício de história da historiografia.
O livro resenhado divide-se em cinco partes: “Os anos de formação”, “O parlamentar”, “O revolucionário”, “O historiador” e a “Questão agrária”. É interessante acompanhar esta divisão e, a partir dela, ver a atualidade e a originalidade dos enfoques utilizados. A origem familiar de Caio Prado Júnior, nascido do casamento de Caio da Silva Prado com Antonieta Penteado da Silva Prado, remete de imediato à elite paulistana, tendo Lincoln Secco ressaltado a importância do ramo materno, geralmente esquecido, ao escrever que “uma parcela importante da fortuna de seus pais provinha da família Penteado, que enriqueceu com a fabricação de sacos de juta demandados pela comercialização do café” (SECCO, 2008, pp. 19-20). Assim, a educação escolar e o convívio com os hábitos e a cultura da alta burguesia levaram Caio Prado Júnior a seguir os padrões típicos de sua classe social, identificáveis na frequência à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, pela qual recebeu o título de bacharel em 1928, e no casamento com Hermínia Cerquino, em 1929, no Mosteiro de São Bento.
A participação política do historiador teve início no movimento de cisão da oligarquia paulista, sintomaticamente demonstrada pela criação do Partido Democrático em 1926, do qual participou ativamente, inclusive na campanha presidencial de Getúlio Vargas e João Pessoa para as eleições de 1930. A revisão da sociedade oligárquica e a ânsia pela sua democratização formam o emblema político de Caio Prado Júnior. O fracasso da Revolução de 1930 em desarmar o pêndulo que, para o historiador, a fez retroceder mais do que avançar no sentido da autêntica superação do mando tradicional, ancorado na permanência da estrutura colonial e dependente da economia brasileira, o fez procurar, entre as opções da época,[2] a forma mais pertinente de expandir o radicalismo de suas ideias.
O comunismo dos anos 1930 foi vivido por Caio Prado Júnior como a experiência mais autêntica e radical de democratização e modernização aceleradas, conhecida pessoalmente por ele em sua viagem à União Soviética, depois defendida em sua possível aplicação ao Brasil, pelo que demonstram seus artigos na imprensa, escritos no tempo da Aliança Nacional Libertadora (ANL), da qual foi vice-presidente da regional de São Paulo. A crença nas ideias do marxismo soviético[3] e a imobilidade dessa crença no decorrer da sua vida levaram Caio Prado Júnior a se engajar numa “quase religião laica”. A expressão foi retirada por Lincoln Secco da autobiografia de Eric Hobsbawm e expõe, muito elucidativamente, o sentimento de dois intelectuais e historiadores marxistas de grande expressão em face daquilo que conformou as suas respectivas identidades públicas. Passar à esquerda comunista significava fazer parte de uma comunidade doutrinária, com regras e direcionamentos de difícil questionamento, e aceitar o modelo soviético como exemplo incontestável de sucesso político. Os posicionamentos de Caio Prado Júnior sempre revelaram a sua retidão em relação aos cânones da era stalinista, não passando por revisões e autocríticas devido a comportamentos heréticos, como outros intelectuais do partido, entre os quais podemos citar Astrojildo Pereira, Heitor Ferreira Lima e Octávio Brandão. A prisão em 1935 e o exílio na Europa nos primeiros anos da ditadura varguista tornaram-no um exemplo da inteligência engajada.
Mesmo sem negligenciar a importância desses anos de formação, nos quais Caio Prado Júnior escreveu os dois livros mais importantes de sua bibliografia, Lincoln Secco destaca a sua experiência parlamentar, no final da década de 1940, durante o pequeno intervalo de legalidade do Partido Comunista do Brasil (PCB). Depois de não ter apoiado a causa da “constituinte com Getúlio”, preferindo uma aliança tática dos comunistas com a União Democrática Nacional (UDN), o historiador e proprietário da Editora Brasiliense,[4] lançou-se candidato a deputado estadual pelo PCB, foi eleito e compôs a bancada comunista com mais dez deputados. Os Anais da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) o apresentam em debates nos quais demonstrou o trato polido e a fina ironia das suas colocações. Segundo Lincoln Secco, o ápice da sua presença no parlamento foi o projeto destinado à criação de uma fundação de amparo à pesquisa científica, concessora de bolsas e incentivos a estudantes e professores universitários.
A cassação do registro eleitoral do PCB causou novamente a prisão de Caio Prado Júnior e o fez ingressar, nos anos 1950 e 1960, em ativa “luta cultural”, entrincheirado na Revista Brasiliense. Foi nesta publicação que o historiador avaliou o tempo presente e discutiu o tema da revolução brasileira.
Sabe-se que Caio Prado Júnior olhava com desconfiança o governo João Goulart (1961-1964) e toda a agitação em torno da sua persona. O personalismo da política brasileira, germe do populismo e de toda a desgraça da esquerda que havia entendido a política de massas, induzida a partir dele, como a antecâmara da política revolucionária, chegava ao clímax em 1963, após o plebiscito de 6 de janeiro, que encerrou o período parlamentarista iniciado dois anos antes e devolveu a Goulart a inteireza dos poderes presidenciais. Reforma agrária na lei ou “na marra”, superação dos “resquícios feudais”, “dispositivo militar”, “burguesia nacional-progressista” e a máxima de Luís Carlos Prestes dizendo-se próximo ao poder, na visão de Caio Prado Júnior, pouco acrescentavam à revolução brasileira, que representava a passagem da colônia à nação e não ocorreria de maneira explosiva, no tempo curto dos acontecimentos políticos.
A entrada do historiador no debate político teve a retaguarda do filósofo.
Neste ponto, é muito interessante a contribuição de Lincoln Secco, pois a filosofia de Caio Prado Júnior pouco tem sido investigada e quando inquirida se apresenta com outras matrizes teóricas que não o marxismo. Encontra-se nela a recepção do positivismo lógico de Bertrand Russel e do Círculo de Viena, a partir da qual Caio construiu uma apreciação da história em que só há processos e relações, sem um sentido encontrado de antemão. Essa observação já havia sido feita por Jacob Gorender (1989, p.261), mas ganhou um destaque especial na biografia aqui comentada, pois é apresentada como fundamento lógico-teórico das análises políticas do historiador, sempre avessas a esquemas classificatórios feitos a priori.
As páginas sobre a circulação das ideias de Caio Prado Júnior acerca do tema da revolução brasileira, da maneira pouco entusiasmada como foram recebidas entre a intelectualidade de esquerda à sua consagração, materializada pela entrega do prêmio Juca Pato, de intelectual do ano de 1966, demonstram o conhecimento de Lincoln Secco sobre a história do marxismo no Brasil. É o que se pode notar pela seguinte passagem da biografia: Independentemente da opinião que temos sobre aquele livro [A revolução brasileira, 1966], ele enfim fez com que Caio Prado Júnior deixasse de ser apenas um comunista politicamente marginal no interior do partido para se situar no centro de uma polêmica sobre as razões da derrota da esquerda.
Isso porque sua leitura do Brasil agora encontrava um novo ambiente cultural e o próprio marxismo cedia lugar a uma era de vários marxismos, como já vimos. Caio Prado Júnior se tornou o novo paradigma das leituras críticas da nossa história e passou da condição de herege à do mais brilhante e modelar pensador marxista brasileiro. (SECCO, Op. Cit. pp. 117-118).
Enquanto a consagração de Caio Prado Júnior como intelectual de esquerda teve que aguardar a derrota da sua vanguarda política, o mesmo não aconteceu com o historiador que utilizou o materialismo histórico como método de investigação. A quarta parte de O sentido da revolução se inicia com a frase: “A história estava no alfa e ômega do seu pensamento” (Idem, p. 153). A história e não o marxismo. Mesmo que tenha sido reverenciado como o primeiro a retirar os frutos advindos dos conceitos de Marx para entender os cinco séculos da História do Brasil e sua relação com o capitalismo na Idade Moderna e Contemporânea, Caio Prado Júnior cultivou, em toda a sua trajetória de pesquisador, o melhor dos hábitos tradicionais de leitura e interpretação das fontes históricas. No entanto, não se pode deixar de incluí-lo no sopro de renovação dos estudos históricos e sociais da década de 1930. A intenção de Evolução Política do Brasil foi superar a tradicional historiografia do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e, ao mesmo tempo, contestar os devaneios acerca da presença do feudalismo em nossa formação social, presente numa incipiente produção de autores marxistas. O capítulo sobre o período regencial expõe o ímpeto revisionista da historiografia caiopradiana. Nele se encontra a primeira tentativa de se chegar ao solo dos conflitos políticos do século XIX, colocando o povo em cena. Organizado como síntese, o livro traça um roteiro das revoltas acontecidas na década de 1830, revelando personagens como os irmãos Antônio e Francisco Vinagre, que lideraram os cabanos do Pará, e o escravo Cosme, fundador de um quilombo no Maranhão durante a Balaiada. A entrada do povo na política não foi vista com ingenuidade. Francisco Vinagre, após se insurgir contra o governo de Félix Clemente Malcher e controlar o poder, buscou se aproximar do governo imperial e negociou um acordo (PRADO JÚNIOR, 1991 [1933], pp. 75-76). O escravo Cosme, logo intitulado “imperador, tutor e defensor de todo o Brasil”, “vendia a seus companheiros títulos e honrarias” (Idem, p. 80).
A interpretação histórica do Brasil feita por Caio Prado Júnior encontra a sua metodologia mais definida em Formação do Brasil Contemporâneo e História Econômica do Brasil.[5] Ambos obtiveram apreciável aceitação crítica, estando na raiz da história econômica praticada na Universidade de São Paulo (USP), como se observa da leitura de Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial, de Fernando Novais. Críticas a essa interpretação e, em especial, aos excessos relativos à determinação externa da economia brasileira e à falta de acumulação interna de capitais viriam mais de três décadas depois. Ao apresentar essa polêmica, Secco defendeu o biografado contra as acusações da sua obra marxista ter-se apoiado mais nos aspectos da circulação de capitais (movimentos do mercado mundial capitalista da era moderna) do que nos aspectos da produção, mais especificamente do modo de produção predominante na colônia, apresentado como escravista.[6] Escreveu que os críticos: não atentaram para o fato de que, na periferia, o estudo da esfera da distribuição é que conduz à totalidade. Isso porque o dinamismo do modo de produção está no centro do sistema e é este que dita a lógica da reprodução global sistêmica ou, nas palavras de Caio Prado Júnior, dá o ’sentido da colonização’ (SECCO, Op. Cit. p. 177).
O capítulo final, Questão agrária, tratou também da atualidade de Caio Prado Júnior. Foi este um ponto de atrito entre o intelectual e o partido no início dos anos 1960, quando, em artigos da Revista Brasiliense, Caio defendeu a introdução da legislação trabalhista no campo e criticou as propostas do agrarismo pecebista. A especificidade do trabalhador rural, sujeito a relações capitalistas e à nossa herança rural, leia-se patriarcal e autoritária, levaram o historiador a bater-se pela cidadania daqueles que então eram a maior parte da população nacional. O problema segue até hoje e mostra a complexidade de tempos históricos embutidos na modernidade brasileira.
Para finalizar, é importante destacar a qualidade do projeto gráfico do livro, o caderno de fotos que revela os hábitos sociais do biografado e, sobretudo, os documentos anexados à edição. Entre estes documentos, a carta enviada a Carlos Nelson Coutinho comentando um escrito acerca da revolução baiana de 1798 diz muito sobre a concepção de história de Caio Prado Júnior. Não vou comentá-la aqui, preferindo deixar a curiosidade aos leitores que tiverem a oportunidade de ler esse valioso estudo sobre um dos fundadores de nossa moderna historiografia.
Bibliografia
CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos? São Paulo: Cia. das Letras, 2007.
CÂNDIDO, Antônio. “A revolução de 30 e a cultura”. Novos Estudos CEBRAP, vol. 2, São Paulo: 1984, pp. 27-36.
GNERRE, Maria Lúcia Abaurre. A Forma e a Nação: Estilo Historiográfico em Formação do Brasil Contemporâneo. Campinas: Universidade Estadual de Campinas (Dissertação de Mestrado em História), 2001.
GORENDER, Jacob. “Do pecado original ao desastre de 1964”. In. D’INCAO, Maria Ângela. História e ideal: ensaios sobre Caio Prado Júnior. São Paulo: Brasiliense/UNESP, 1989, pp. 259-269.
__________. Escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1988.
GRENIER, Jean Yves. “A história quantitativa ainda é necessária?” In. BOUTIER, Jean e JULIA, Dominique. Passados recompostos: campos e canteiros da história. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/Ed. FGV, 1998.
IUMATTI, Paulo Teixeira. Diários políticos de Caio Prado Júnior. São Paulo: Brasiliense, 1998.
__________. Caio Prado Júnior: uma trajetória intelectual. São Paulo: Brasiliense, 2007.
LORIGA, Sabina. “A biografia como problema”. In. REVEL, Jacques (Org.) Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1998.
MARTINEZ, Paulo Henrique. A dinâmica de um pensamento crítico: Caio Prado Júnior (1928-1935). São Paulo: Universidade de São Paulo (Tese de Doutorado em História), 1998.
NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808), 8ª edição. São Paulo: Hucitec, 2006.
PRADO JÚNIOR, Caio. Evolução política do Brasil, 19ª edição. São Paulo: Brasiliense, 1991.
RICUPERO, Bernardo. Caio Prado Júnior e a nacionalização do marxismo.
São Paulo: Editora 34, 2000.
SANTOS, Raimundo. Caio Prado Júnior na cultura política brasileira. Rio de Janeiro: Mauad, 2001.
[1] Doutorando Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV) berlioz66@hotmail.com Praia de Botafogo, 190/14º andar Rio de Janeiro – RJ 22250-900 Brasil.
[2] Escrevendo sobre a Revolução de 1930 e a cultura, Antônio Cândido tratou das diversas formas de radicalização do período, decorrentes do “convívio íntimo entre a literatura e as ideologias políticas e religiosas” (1984, p. 30), que levaram os intelectuais a vivenciar experiências radicais no catolicismo, no fascismo e no comunismo.
[3] Aqui penso o marxismo soviético enquanto ideologia e razão de Estado, não enquanto interpretação histórica das sociedades.
[4] Fundada em 1943, a Editora Brasiliense teve como demais sócios: Arthur Neves, Caio da Silva Prado e Leandro Dupré.
[5] Este livro retoma em grande parte as teses do livro anterior, sobretudo em relação ao período colonial.
[6] 5 A tese do modo de produção escravista colonial foi defendida por Jacob Gorender em um estudo que procurou encontrar sua lógica interna, descrita em leis específicas de reprodução histórica.
Um iluminismo português? A Reforma da Universidade de Coimbra (1772) – CARVALHO (HH)
CARVALHO, Flávio Rey de. Um iluminismo português? A Reforma da Universidade de Coimbra (1772). São Paulo: Annablume, 2008, 135 pp. Resenha de: SILVA, Ana Rosa Cloclet da. As “luzes” de um “reino cadaveroso”: entre a polêmica e a tradição. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 03. p.174-180 setembro 2009.
Como pensar a singularidade ibérica e, particularmente, portuguesa no contexto da intensa transformação mental e cultural da época moderna? Como conceber a via trilhada pela modernidade lusa, desde meados do século XVIII, no âmbito de fenômenos que, a despeito de repercutirem em todo o ocidente europeu e nas colônias americanas, rejeitaram sempre definições precisas, seja pelas suas origens esparsas, seja pelas especificidades das circunstâncias históricas que a viram nascer, ou pelas profundas divisões que separaram aqueles que se definiam filósofos, num mesmo espaço cultural? Como situar-se em relação a enfoques que, tradicionalmente, consolidaram conceitos e noções sobre o fenômeno ilustrado luso, pautados na polaridade entre seu suposto atraso e palidez frente às “luzes européias”? São estes alguns dos desafios enfrentados pelo jovem historiador Flávio Rey de Carvalho, no livro recentemente publicado pela editora Annablume – Um iluminismo português? A Reforma da Universidade de Coimbra (1772) –, cujo título já denuncia o teor das questões que instigaram sua pesquisa.
Neste trabalho – resultado de sua dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de História da Universidade de Brasília, em 2007, sob orientação da Profa. Dra. Tereza Cristina Kirschner -, o autor persegue questão de inestimável relevo e que, há muito, demandava estudo mais verticalizado: a problematização do fenômeno das Luzes em Portugal, pautada no esforço em romper com dois vieses interpretativos que, articulados, desdobraram-se na produção historiográfica portuguesa do século XX. Por um lado, a interpretação cristalizada por historiadores inspirados na produção literária portuguesa de finais do XIX, tendentes a realçar as idéias de atraso e decadência presentes nos discursos dos primeiros reformadores do Reino, derivando desta leitura uma “ênfase exagerada e unilateral atribuída aos estigmas da diferença e da eterna defasagem” da ilustração portuguesa, associada ao monopólio ideológico eclesiástico (pp.
25-28). Por outro, o que o autor identifica como sintoma mais geral entre historiadores de diferentes nacionalidades: “a adoção indiscriminada de certa noção de Iluminismo”, como conjunto de idéias harmoniosas, autônomas e descarnadas de seus contextos políticos e culturais de elaboração que, trazendo no cerne a crença na razão transformadora, na crítica universal, na busca da felicidade, teriam inspirado, a partir da França, um ambicioso programa de secularização, humanidade, cosmopolitismo e liberdade (pp. 28-33). Uma concepção que, vale frisar, embora endossada por determinadas abordagens ainda hoje influentes, é aqui atribuída um tanto quanto indiscriminadamente às clássicas formulações de Peter Gay, Ernst Cassirer, Paul Hazard, intelectuais cujas contribuições, além de cunhadas em momentos muito distintos, inseremse em áreas específicas do campo disciplinar e teórico, só passíveis de nivelamento mediante rigorosas ponderações.[1]
Instigado pelas controvérsias interpretativas suscitadas por ambas as tendências e pautando-se numa recente produção intelectual que tende a romper com os ‘modelos” e estigmas mencionados, o autor deriva seu percurso investigativo, tomando por objeto central as reformas pombalinas da Universidade de Coimbra, implementadas a partir de 1772. Assim, perquirindo os motivos imediatos e a concepção predominante entre os reformadores da Universidade, privilegia a análise de três documentos principais: o Compêndio histórico da Universidade de Coimbra (1771) – elaborado pela Junta de Providência Literária, criada em 23 de Dezembro de 1770 com o objetivo de examinar o estado da Universidade -; os Novos Estatutos – que em 28 de agosto de 1772 recebiam licença para serem implementados em substituição aos velhos, em vigor deste 1598 – e a Relação geral do estado da Universidade, elaborada por Francisco Lemos em 1777.
Embora bastante revisitado pela historiografia luso-brasileira, o recorte temático e o corpo documental eleito recebem, na presente obra, um tratamento apurado, verticalizado a partir do esforço de identificação dos principais vetores que estruturaram o discurso antijesuítico, seu conteúdo político e ideológico, bem como as congruências do ambiente intelectual luso com as “Luzes do século”. Além do detalhamento dos conteúdos programáticos formulados pelo âmbito estatal, a opção pela sistemática metodológica de contrapor estas fontes com algumas obras representativas do pensamento iluminista francês – dentre as quais os próprios verbetes da Encyclopédie –, examinando seus traços comuns, algumas adaptações, bem como a simultaneidade da produção do pensamento ilustrado no reino e no além-pirineus, permite ao autor desconstruir as noções de atraso, decadência, isolamento e estrangeiramento das Luzes em Portugal – a partir das quais concebeu-se tradicionalmente a suposta “crise mental” do século XVIII português -, bem como o próprio conceito de Iluminismo, tal qual divulgado pelas sínteses históricas do século XX.
Guiado por tais propósitos, a narrativa desdobra-se em quatro capítulos. No primeiro, alinhando-se a versões contemporâneas da historiografia portuguesa, bem como da produção intelectual – sobretudo anglo-saxônica – sobre o Iluminismo,[2] o autor problematiza o suposto impasse existente entre Portugal e a modernidade européia, tomada por aquilo que situa como herança dos intelectuais inseridos no movimento romântico luso: segundo ele, uma noção de “história da humanidade”, sob os signos de superioridade, exemplaridade e universalidade (p.27), por ele identificados à denominada “geração de 1870”, mas que, a rigor, já se inscrevem numa tendência prérealista e naturalista, como é o caso dos textos de Antero de Quental, de 1871, tomados pelo autor como referência paradigmática de tal tendência. Empenhado na historicização dos fenômenos em causa e compartilhando das perspectivas recentes, que tomam o Iluminismo como fenômeno plural, perpassado por especificidades, debates, diferenças e tensões internas, o autor analisa algumas expressões cunhadas por intelectuais portugueses frente ao reconhecimento de peculiariedades do caso luso no contexto das Luzes setecentistas. É assim que conceitos como “iluminismo católico” – cunhado pelo historiador português Luis Cabral Moncada e generalizado como mera contraposição à suposta tendência anticlerical do Iluminismo (pp. 34-36) -; “ecletismo” – presente nos textos de filosofia e história do século XX, com destaque para José Sebastião da Silva Dias, tomado como atitude filosófica de mera contemporização com as idéias do século (pp. 36-40) -; “ilustração de compromisso” – proposto pelo historiador português Norberto Ferreira da Cunha, para designar uma forma de compatibilizar a incorporação das novidades, com a tradição lusa pós-tridentina (pp. 40-41) -, a despeito da intenção inicial de seus formuladores, acabaram, segundo o autor, por reforçar a visão pejorativa imputada à ilustração portuguesa, recrudescendo sua contraposição à “culta Europa”.
Em qualquer dos casos, conclui que tais tendências não se apresentam como “anomalias” do caso luso, mas reprisaram-se em diferentes contextos, não justificando os estigmas do atraso, decadência e isolamento intelectual do país que, segundo o autor, também não corresponderiam às impressões dos próprios reformadores setecentistas. Este último, a meu ver, argumento merecedor de estudo mais detido, pautado tanto num alargamento das fontes quanto no diálogo com uma produção historiográfica recente que, longe de constituir-se por abordagens generalistas, com tendência à mera “repetição umas das outras” (p. 19) – julgamento precipitado um tanto generalista do autor, que tende a desqualificar outras possibilidades de verticalização a partir da documentação analisada – têm demonstrado não serem os diagnósticos do atraso e da decadência “exceção de uns poucos estrangeirados” (p. 48), constituindo, a despeito de seu conteúdo político e ideológico, vetores estruturantes dos diagnósticos e das reformas implementadas pelo Marquês de Pombal, ele próprio um “estrangeirado”.[3]
No segundo capítulo, é examinada a situação do ensino universitário português e a proposta de reforma da Universidade, à luz de duas fontes principais: o Compêndio histórico e os novos Estatutos. Argumentando que a “decadência do ensino estendia-se à maioria das universidades européias no período” (p. 43), ainda presas ao modelo de instrução escolástico, o autor infere que o saber nestas ministrado não poderia constituir contraponto ao suposto atraso português, além de explicar “porque a ciência moderna se desenvolveu exteriormente ao ambiente universitário” (p. 46). Afirmações no mínimo instigantes de uma análise mais retida às instâncias e veículos de informação por meio dos quais os “estrangeirados” lusos vislumbraram comparativamente a situação de Portugal, emitindo seus diagnósticos. De outro modo: se no âmbito das Universidades de Évora e Coimbra não se impunham diferenças significativas em relação à situação universitária geral européia, como era o ambiente fora da instância do ensino superior? Quais os espaços de diálogo e troca de experiências freqüentados por estes primeiros reformadores lusos, que franqueavam os elementos para a elaboração de raciocínios comparativos? Indagações cuja pertinência é reforçada pela própria constatação do autor – segundo o qual os “reformadores de Coimbra tinham consciência de que os conhecimentos filosófico-científicos (…) aperfeiçoavam-se e enriqueciam-se, cada vez mais, com os novos descobrimentos feitos fora da esfera ortodoxa das universidades” (p. 108) – e que vêm sendo incontornavelmente associadas pela recente produção historiográfica luso-brasileira a duas instâncias fundamentais: a diplomacia e as academias científicas criadas no âmbito da República das Letras.[4]
Como contribuição definitiva do capítulo – e em boa medida inédita, no que concerne ao tratamento da documentação -, Flávio de Carvalho averigua o cerne da crítica pombalina à Companhia de Jesus, concluindo que o mesmo residia na “metodologia escolástica”: um método essencialmente especulativo, assentado na “prevalência da filosofia peripatética”; no “descaso ao estudo do grego e latim”; na “desordem do conteúdo ensinado nas cadeiras universitárias”; na “falta de disciplinas subsidiárias e na fragmentação do conhecimento”, assim como na “ausência do ecletismo” (p. 52). A partir destas críticas, reclamavam uma orientação prática aos estudantes, pautada tanto na erudição – requisito para a interpretação dos textos antigos – quanto na experimentação e, portanto, no empiricismo das Luzes, esgarçando uma concepção de método perfeitamente alinhada àquela preconizada pelos literatos franceses, reforçando seu argumento de que a crítica dos reformadores lusos à atividade dos jesuítas constituiu antes “manobra política, de cariz ideológico” (p. 61), que sintomas de atraso e isolamento cultural do Reino.
No terceiro e quarto capítulos, o autor analisa as reformas que melhor representaram o renovado programa de instrução, apresentado pelos Estatutos de 1772: segundo ele, a reestruturação das Faculdades de Leis e a criação da Faculdade de Filosofia, ambas em consonância aos objetivos de fortalecimento e centralização do poder régio – o qual não podia prescindir, sob o ponto de vista jurídico, do esforço de “formalização” e “uniformização” das leis, submetido, desde então, aos preceitos do jusnaturalismo racionalista – e revigoramento da economia do Reino “por meio do estímulo à pesquisa dos recursos naturais rentáveis em todo o império” (p. 64).
No primeiro caso, segundo o autor, pautadas nos “princípios iluministas e apresentando feições regalistas”, as reformas na prática jurídica encaminhadas por Pombal visaram desfazer as bases plurais e fragmentárias de uma “prática jurisprudencial tida como incerta”, empenhando-se no sentido da racionalização e uniformização do direito (pp. 68-74). Objetivo que seria galgado através de dois marcos interligados das reformas pombalinas: a Lei da “Boa Razão”, de 18 de 1769, e a reforma dos Cursos Jurídicos da Universidade de Coimbra. A primeira, envolvida pelo espírito jurídico cunhado no âmbito da ilustração européia, fundava uma prática jurisprudencial de caráter racionalista e disciplinador submetida, no caso português, à interpretação exclusiva do Supremo Senado da Casa de Suplicação, que circunscrevia o uso legítimo do direito canônico ao poder temporal, além de estabelecer punições “aos juristas que insistissem na manutenção de usos e práticas vetados”, impondo uma nova noção de direito fundada no “voluntarismo régio” e nos condicionantes morais da “boa razão”.
Estas, segundo Flávio de Carvalho, as disposições norteadoras das críticas apresentadas no Compêndio às jurisprudências canônica e civil ministradas na Universidade de Coimbra, bem como da reforma estatuária da Faculdade de Leis, a qual destacou-se pelo esforço de ordenamento e articulação entre saber prático e teórico, pela delimitação clara das esferas de atuação dos direitos canônico e civil, pela valorização do direito pátrio e das pesquisas históricofilológicas, pela adoção do método “sintético-demonstrativo-compendiário” e pela criação do direito natural e uso da “boa razão”, formando desse modo juristas habilitados ao cumprimento “claro, uniforme e preciso das leis” (pp.100).
No concernente à criação da Faculdade de Filosofia, as reformas pombalinas coadunam-se a uma concepção de filosofia cunhada no âmbito da República das Letras, a qual era alçada à condição de verdadeiro “meio universal” de elaboração, desenvolvimento e consolidação dos diversos campos do conhecimento, submetida ao método empírico e experimentalista aplicado, privilegiadamente, aos fenômenos passíveis de serem apreendidos no “mundo natural sensível” (pp. 102-104). Desse modo, a análise dos novos Estatutos da Universidade de Coimbra denuncia o esforço de implementação dos estudos filosóficos em nível do ensino superior, os quais, englobando privilegiadamente as áreas de medicina, matemática e filosofia natural – nestes dois últimos casos, procedendo-se à criação das respectivas Faculdades de Matemática e Filosofia – , fecundavam uma noção de filosofia comprometida com a transmissão de princípios sólidos e úteis, formando “filósofos dignos das Luzes do século” e oferecendo “lições subsidiárias aos alunos das demais faculdades coimbrãs”.
Neste sentido, a criação desta última Faculdade teria representado um marco fundamental na assimilação e divulgação da metodologia empírico-experimental em Portugal (p. 104), institucionalizando o conhecimento científico moderno, coadunando-se à necessidade de reelaboração dos mecanismos de exploração dos recursos naturais do império ultramarino, num momento em que evidenciavam-se os primeiros sintomas de sua crise.
Em qualquer dos âmbitos das reformas assinaladas, o estudo de Flávio Rey de Carvalho desvenda o profundo comprometimento dos reformadores portugueses com o ideário do século – e, particularmente, com a assimilação de princípios metodológicos e epistemológicos divulgados no âmbito da “República das Letras” -, orientado para o atendimento dos desígnios da monarquia lusa e articulados aos dogmas do catolicismo. Um fenômeno que, longe de desqualificar o ambiente intelectual luso setecentista, esgarça dimensões que estiveram no bojo de todo o movimento filosófico e científico em curso em outros países, corroborando a pertinência de tomá-lo como uma das expressões de um movimento intelectual que só pode ser compreendido na sua pluralidade, justificando a expressão empregada pelo autor: um “Iluminismo português”.
Um trabalho digno de mérito, que atende plenamente aos objetivos propostos e, inevitavelmente, incita algumas ponderações – fruto da própria natureza polêmica do objeto eleito -, bem como convida a desdobramentos futuros, os quais devem vir necessariamente pautados no diálogo mais afinado com a historiografia, no alargamento do núcleo documental e do recorte cronológico ora considerados, bem como no aprofundamento de algumas dimensões norteadoras do conteúdo programático analisado, por ora apenas tangenciadas. Particularmente, ocorre-me a enriquecedora articulação das reformas com a questão imperial e com a criação do aparato humano necessário à fecundação dos projetos políticos elaborados, impondo um perfil de homem público capaz de reunir os qualificativos intelectuais, administrativos e morais,[5] supostamente adequados ao exercício da difícil tarefa de equilibrar inovação e conservação, no enfrentamento dos desafios impostos pelos tempos modernos.
Referências
FALCON, Francisco (1993). A Época Pombalina. 2a. ed., São Paulo: Ática.
SILVA, Ana Rosa Cloclet da (2006). Inventando a Nação. Intelectuais Ilustrados e Estadistas luso-brasileiros (1750-1822). São Paulo: Hucitec
CLUNY, Isabel (1999). D. Luís da Cunha e a idéia de diplomacia em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte.
SILVA, Júlio Costa Rodrigues da (1998). Ideário Político de uma Elite de Estado. Corpo Diplomático (1777/1793). Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2 vols. (Tese de Doutoramento).
KANTOR, Íris (2004). Esquecidos e Renascidos. Historiografia Acadêmica Luso-Americana (1724-1759). São Paulo: Hucitec.
FILHO, Oswaldo Munteal. Uma Sinfonia para o Novo Mundo. A Academia Real das Ciências de Lisboa e os caminhos da Ilustração luso-brasileira na crise do Antigo Sistema Colonial. Rio de Janeiro: UFRJ, 2 vols. (Tese de Doutoramento).
[1] Na intenção de salientar algumas destas especificidades, devemos lembrar que enquanto Peter Gay é um historiador consagrado pelos estudos no campo da história social das idéias – o que, em boa medida, já problematiza o tratamento supostamente “descarnado” por ele emprestado ao Iluminismo – e que elabora seus estudos sobre o Iluminismo na década de 1970, o filósofo judeu-alemão Ernst Cassirer especializou-se no campo da filosofia cultural de tendência neokantiana, nos anos de 1920-40, enquanto o historiador francês Paul Hazard tornou-se um especialista em História da literatura comparada entre as décadas de 1920-40, especialidade que seguramente permeia seu clássico A crise da consciência européia, de 1935.
[2] 2 No caso da historiografia portuguesa contemporânea, o autor dialoga mais diretamente com as abordagens de Sebastião da Silva Dias, Jorge Borges de Macedo, Francisco Domingos Contente e Pedro Calafate. Para o debate atual sobre o Iluminismo, baseia-se nas abordagens de Dorinda Outram, Jonathan Israel, Robert Darnton, dentre outros.
[3] Apenas a título de ilustração, merecem destaque as questões pioneiramente propostas por FALCON (1993), as quais vêm sendo desdobradas por sucessivas gerações de historiadores, dentre as quais incluo minha pesquisa de doutoramento SILVA (2006).
[4] Dentre estas, vale menção os trabalhos de CLUNY (1999); SILVA (1998); KANTOR (2004); FILHO (1998).
[5] 5 Ocorrem-me as importantes reflexões do historiador K. Maxwell ao desvendar esta dimensão das práticas pombalinas, em sua obra Marquês de Pombal. Paradoxo do Iluminismo. Rio de Janeiro: Paz Terra, 1996.
Ana Rosa Cloclet da Silva – Professora Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) cloclet@ig.com.br. Rodovia D. Pedro I, km 136 – Parque das Universidades, Campinas – SP, 13086-900 Brasil.
A dinâmica do historicismo: revisitando a historiografia moderna | Flávia Varela, Helena Miranda Mollo, Sérgio Ricardo da Mata e Valdei Lopes de Araujo
A coletânea organizada por Flávia Florentino Varella, Helena Miranda Mollo, Sérgio Ricardo da Mata e Valdei Lopes de Araujo é mais uma boa testemunha do recente incremento das reflexões sobre história e historiografia no Brasil.
Remontando ao II Seminário Nacional de História da Historiografia, realizado em agosto de 2008, em Mariana-MG (UFOP), o livro contém 14 artigos escritos por pesquisadores lotados em diferentes universidades de quatro das cinco grandes regiões brasileiras. É demasiado vasto e complexo o leque dos temas abordados no livro, de modo que uma discussão detalhada de cada um dos artigos seria aqui inapropriada. Muito mais oportuno parece ser um breve exame geral dos componentes de tal leque temático – e é precisamente isso o que se tentará a seguir. Leia Mais
A Global History of Modern Historiography – IGGERS et. al. (HH)
Georg Iggers / News Deceased.Picture
IGGERS, Georg G.; WANG, Q. Edward; MUKHERJEE, Supriya. A Global History of Modern Historiography. London: Pearson-Longman, 2008, 436 pp. Resenha de: MALERBA, Jurandir.[1] História da Historiografia, Ouro Preto, n.3, p.1167-173, set 2009.
Há uma longa tradição histórias da historiografia, cujo início remonta, pelo menos, ao século XIX. Como qualquer outro campo do conhecimento histórico, cada época propõe problemas e abordagens, investiga e narra a história (da historiografia, neste caso) à sua maneira. O mais recente livro do emérito Professor Georg Iggers e Q. Edward Wang (com a contribuição de S. Mukherjee), traz uma contribuição sem precedentes aos estudos históricos. Sua excelente análise das linhas de força da historiografia contemporânea é francamente amparada numa abordagem de Global History, ou seja, de que vivemos numa época de globalização e essa marca de nosso tempo está cravada nos modos contemporâneos de se escrever história. Mais que isso, que esse processo de globalização é fortemente marcado por outro paralelo de ocidentalização dos modos de se pensar e produzir história. Sua análise propõe-se enfaticamente comparativa, mais do que um mero recitativo ou catalogação de historiografias regionais ou nacionais.
O método escolhido impõe aos autores tratar a história da historiografia dentro de um período que permita essa abordagem global e comparativa, portanto, desde finais do século XVIII (quando as várias tradições historiográficas ocidentais e orientais começam a interagir) até os dias de hoje. O foco da obra incide precipuamente nas interações de diversas tradições historiográficas ocidentais e não-ocidentais num contexto global. Se no início do período estudado as trocas transculturais são poucas, elas se intensificam vertiginosamente a partir do final do século XIX no sentido do que os autores entendem como processos (no plural!) de ocidentalização das historiografias não-ocidentais, pois que esses processos são múltiplos, diversos, compreendendo desde a difusão dos paradigmas racionalistas e normativos ocidentais no Oriente até suas mais diversas formas de filtragem e resistência cultural (SATO 2006). Outro pressuposto importante é o de que os modelos ocidentais de pensamento não são tomados, na obra, como intrinsecamente positivos ou normativos, mas contextualizados conforme os diversos momentos e cenários. O “Ocidente”, entendem os autores, não se refere a uma unidade orgânica, mas a algo muito complexo, heterogêneo, a tal ponto marcado por fissuras políticas e intelectuais que melhor se pode falar de “influências” ocidentais (no plural), mas nunca de um único Ocidente se irradiando de forma imperialista pelo globo.
Outra marca forte da obra é sua sensibilidade para tratar “historiografia” num sentido mais amplo do que meramente o stock de obras produzidas pelos historiadores, a produção acadêmica, mas percebendo essa tradição acadêmica dentro de processos mais amplos de constituição de culturas históricas.[2] Basta lembrar que toda produção acadêmica desde Ranke, quando a história surgiu como disciplina acadêmica na Alemanha e logo por todo Ocidente e imediatamente no Japão Meiji, foi concebida sobre os ideais da objetividade científica, da neutralidade axiológica, do método crítico, do amparo às fontes – quando na prática toda essa mesma produção decimonónica foi artilharia letal na guerra de construção dos mitos nacionais. (MALERBA, prelo).
A consideração do conceito de cultura histórica é um pilar da obra. Evitando restringirem-se à análise textual da bibliografia histórica, os autores trabalham sim com os textos e seus autores, mas sem descurar que estes permanecem imersos em climas de opinião maiores, dentro de suas culturas originárias, o que induz os autores a examinarem, para além dos textos, os cenários institucionais, políticos e intelectuais dentro dos quais se inserem as diversas historiografias. Por exemplo, a formação das cátedras universitárias e a respectiva profissionalização dos historiadores, o apoio governamental, o peso dos estudos históricos no cenário político mais amplo no momento da construção das nações-estado e seu impacto vertiginoso na opinião pública da classe média e os efeitos da difusão das discussões científicas (como o darwinismo social, por exemplo) no século XIX e início do XX foram cuidadosamente levados em conta na análise da escrita histórica do mesmo período.
Para tratar da história da escrita e do pensamento históricos no período mais recente da era moderna, quando se incrementam os intercâmbios culturais em escala global, o livro se ampara em outro conceito básico, além do de globalização: no conceito de modernização. Grande parte da teoria social desde o iluminismo foi construída a partir do pressuposto de que a história moderna equivale ao processo acelerado de modernização do Ocidente. Por modernização, via de regra, subentende-se uma ruptura com as instituições e os paradigmas tradicionais de pensamento, seja na religião, na economia, na política, ruptura essa ancorada em três pontos: o surgimento da ciência moderna (rompendo com o senso comum e o pensamento dogmático) (SANTOS, 1995), as revoluções liberais do longo século XIX (HOBSBAWM 1999ª) e o processo de industrialização capitalista (COLEMAN 1992; HARTWELL 1970; HOBSBAWM 1999b). Desde os economistas clássicos (Smith, Ferguson, Condorcet) até a década de 1960 aproximadamente, entendia-se modernização como um processo uniforme que caminhava (herança da idéia de progresso da ilustração) com as descobertas científicas, a consolidação do mercado capitalista mundial e das sociedades civis e o estabelecimento de democracias liberais pelo mundo afora. Por suposto que a crítica à idéia de modernização é tão antiga quanto a própria, tendo se sofisticado imenso ao longo do século XX, particularmente pelo pensamento de base marxista.[3] Globalização e modernização não se confundem, embora sejam indelevelmente conectados. A globalização, como demonstrou Felipe Fernández- Armesto num livro fascinante, é tão velha quanto a humanidade (FERNÁNDEZARMESTO 2009).[4] Mas a modernização a que se referem nossos autores refere-se à época mais recente, tendo uma primeira fase entre os séculos XVI e XVIII, uma segunda coincidente com a fase dourada do imperialismo europeu no globo e uma terceira, posterior à segunda guerra mundial. Cada um desses momentos, de acordo com os autores, impactou de forma decisiva a consciência histórica e o pensamento e a escrita da história. O corpo da obra foi desenhado para demonstrar como esses processos da história do pensamento histórico e as diversas fases da globalização moderna se entrelaçam. De modo que a meta dos autores é demonstrar os desdobramentos no pensamento e na escrita histórica em seus contextos intelectuais, sociais e econômicos mais amplos, desde o século XVIII ao início do século XXI, abordando as interações entre culturas histórica ocidentais e não-ocidentais, numa exposição estrategicamente narrativa.
O livro começa com uma panorâmica de diversas tradições historiográficas pelo mundo afora, com ênfase no Ocidente, Oriente Médio, Extremo Oriente, Sudoeste da Ásia e Índia ao longo do século XVIII, para, em seguida, passar à discussão das transformações das práticas historiográficas na era moderna com o advento do nacionalismo, desde o Ocidente se espraiando pelo globo.
Esse processo se caracteriza pelo surgimento da história acadêmica, com a fundação da primeira cátedra universitária de história por Ranke e a respectiva profissionalização da atividade historiadora (IGGERS 1998, ORTEGA Y MEDINA 1980). Não obstante sua força, o historicismo alemão sofreu um golpe letal no início do século XX, particularmente no período entre guerras. Seu efeito foi uma reorientação no pensamento histórico ocidental, com o advento da história científica e estrutural tal como propugnada pelo Annales, que deitou profunda influência no exercício da escrita da história ao longo do século XX.
Nos universos não-ocidentais, a sedução da história nacionalista persistiu por mais tempo, por todo século XX, muito embora, conforme demonstram os autores (cap. 5), críticas contundentes ao paradigma nacionalista pulularam em vários países orientais, como a Índia e o Japão, principalmente no período pós-guerra. Tais críticas ganharam força com o advento do pós-modernismo e sua crítica ao recitativo da historiografia moderna no Ocidente do pós-guerra, quando se assiste ao esforço, deflagrado pelos Annales braudelianos e reverberado pelo historiadores e cientistas sociais anglo-americanos e ingleses, no sentido de expandir as fronteiras do campo de conhecimento da história para além do paradigma nacionalista. Essa crítica ganhou força com as críticas pós-coloniais oriundas dos chamados Subaltern Studies propostos por autores indianos (NANDY 1995) e pelo Orientalismo (SAID 1990) de Said nos anos 1970 e 80. Paralelamente, outras forças, de caráter político e religioso, que impactaram na escrita da história no Oriente Médio e na Ásia no último quartel do século XX foram a eclosão do Islamismo e a queda do marxismo.
Após essa discussão, os autores abordam as mudanças recentes na prática historiográfica mundo afora sob a força da globalização, elencando cinco tendências importantes no mapa historiográfico atual que, provavelmente, estarão presente num futuro próximo: a continuidade do “giro cultural e historiográfico” que deu originou a “nova história cultural” (CLIFFORD 1986); a expansão ainda maior da história feminista e de gênero (SCOTT 1988; HARAWAY 1988, EPPLE 2006); a nova convergência entre os estudos históricos e as ciências sociais na construção da crítica à pós-modernidade; os desafios à historiografia nacional associados aos estudos pós-coloniais; e, finalmente, a emergência e disseminação da world history e da global history, já muito fortes no mundo anglo-americano, mas praticamente ignoradas no Brasil.
Como todo bom estudo historiográfico, as análises e conjeturas dos autores desta A Global History of Modern Historiography possuem caráter heurístico, apontam para tendências, reclamam novos estudos. Seus grandes diferenciais são, por um lado, a aberta rejeição do eurocentrismo e, por outro, a defesa veemente da investigação racional, esta diretamente dirigida contra boa parcela da crítica pós-moderna à herança intelectual da Ilustração, que sustenta que um estudo objetivo da história não é possível porque o passado não se apóia na realidade objetiva, não passando de um construto da mente ou de uma linguagem não-referencial, de acordo com o qual todo estudo histórico inevitavelmente derivaria para uma forma de literatura imaginativa, carente de critérios objetivos para o estabelecimento da distinção entre verdade e falsidade nos estudos históricos (MALERBA 2008; ZAGORIN 1998; DRAY 1989). A proposta desta obra de fôlego vai nos antípodas das posturas radicais pós-modernas.
Numa obra com a envergadura desta, que busca analisar em chave comparativa a história do pensamento histórico em perspectiva global na época moderna, seria inevitável diferenças de ênfase e profundidade na análise. Uma crítica que não poderia passar em branco volta-se às inevitáveis lacunas e àquelas diferenças, para nós evidentes no tratamento dado, por exemplo, à análise da historiografia latino-americana (“Da Teoria da Dependência aos Estudos Subalternos”), tratada em cinco páginas e amparada em oito referências bibliográficas, todas elas em inglês.[5] Não causará espanto que especialistas acusem a mesma generalidade no que tange às análises do livro voltadas às tradições historiográficas de outras partes do globo.
Essa observação, porém, não compromete o mérito dessa grande obra de síntese, interpretativa, estruturada a partir de pressupostos claros e construída por autores que trazem vasto conhecimento das culturas históricas de sua proveniência. Uma obra destinada a ser referência para as novas histórias da historiografia.
Bibliografia citada
CLIFFORD, James. Introduction: Partial Truths. In: Clifford, J.; G. Marcus (ed.). Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press, 1986.
COLEMAN, D.C. Myth, History and the Industrial Revolution. London & Rio Grande: Hambledon P, 1992.
DIEHL, Astor. Cultura historiográfica: memória, identidade e representação. Bauru: Edusc, 2002.
DRAY, William. On the Nature and Role of Narrative in History. In: ____ On History and Philosophers of History. Leiden/Nova York: E. J. Brill, 1989.
EPPLE, Angelika. Gênero e a espécie da história: uma reconstrução da historiografia. In: Malerba, J. A história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto: 2006.
FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe. Os desbravadores. Uma história mundial da exploração da Terra. Tradução de Donaldson M. Garschagen. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
HARAWAY, D. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies.Vol. 14, No. 3, 575- 599, 1988.
HARTWELL, R.M. (ed.). The Industrial Revolution. New York: Barnes & Noble/ Oxford: Basil Blackwell, 1970.
HOBSBAWM, Eric. The age of Revolution: Europe 1789-1848. London: Peter Smith, 1999a.
____. Industry and Empire: The Birth of the Industrial Revolution. New York: The New Press, 1999b.
____. A Era Dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
IGGERS, G. The german conception of History: the national tradition of historical thought from Herder to the present. London: Wesleyan University Press, 1988.
MALERBA, Jurandir. A história na América Latina: ensaio de crítica historiográfica. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.
_____. La historia y los discursos. Una contribución al debate sobre el realismo histórico. Contrahistorias, v. 9, p. 63-80, 2008.
_____. (Org.). Lições de história. A construção da ciência no longo século XIX. (no prelo).
NANDY, Ashis. History’s Forgotten Doubles. History and Theory. Volume 34, Issue 2, Theme Issue 34: World Historians and Their Critics (May, 1995), 44-66.
ORTEGA Y MEDINA, Juan A. Teoría y crítica de la istoriografía científicoidealista alemana (Guillermo de Humboldt- Leopoldo von Ranke). México: UNAM, 1980.
SAID, Edward. Orientalismo: o oriente como invenção do ocidente.São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
SANTOS, Boaventura de S. Toward a new common sense. Londres/Nova York: Routledge, 1995.
SATO, Masayuki. Historia normativa e história cognitiva. In: Malerba, J. A história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006.
SCOTT, J. Gender: A Useful Category of Historical Analysis. In: ____. Gender and the Politics of History. New York: Columbia University Press, 1988.
WEBER, Max. Economía y Sociedad: teoria de la organizacion social. México: Fondo de Cultura Económica, 1977. (3ª reimpressão).
ZAGORIN, Perez. History, the Referent, and Narrative: Reflections on Postmodernism Now. History and Theory, 38(1):1-24, fev1998.
[1] Professor Adjunto Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul (PUC-RS) jurandir.malerba@pucrs.br Avenida Ipiranga, 668 – Partenon Porto Alegre – RS 90619-900 Brasil.
[2] 1 No sentido proposto por Jörn Rüsen e divulgado no Brasil por Astor Diehl (2002).
[3] 2 Mas igualmente por outras vertentes de pensamento, dentre as quais destaca-se a obra de Weber (1977).
[4] 3 Para uma abordagem que enfatiza o caráter recente do fenômeno, cf. HOBSBAWN (2005).
[5] 4 Para uma análise recente das tendências majoritárias na historiografia da América Latina desde a década de 1960, cf. Malerba (2009).
Más allá del territorio: la historia regional y local como problema. Discusiones, balances y proyecciones – Sandra Fernandez
 Desde hace poco más de dos décadas, la historiografía argentina ha sido testigo de acaloradas discusiones que, tanto desde el campo de la teoría como desde estudios concretos, fueron demarcando sendas novedosas que no han sido del todo transitadas ni agotadas. Las numerosas inquietudes desplegadas desde algunos espacios académicos, la entrada incontenible –y por cierto bienvenida– de nuevos problemas y miradas que modificaron impetuosamente las agendas de discusión, así como los intentos por revisitar desde posturas complejizantes un relato histórico “nacional” plagado de mitos e invisibilidades, cimentaron el terreno para el desarrollo de la historia regional y local en nuestro país. Aunque su llegada a la arena historiográfica argentina puede evidenciar un cierto “rezago”, especialmente si se la compara con sus tempranos desarrollos en Europa y América Latina, los tópicos y conclusiones en torno a los cuales giró la reflexión –y que tuvieron como marco jornadas, simposios y congresos en distintos puntos del país– no pueden concebirse en términos de “ecos” de lo que se acontecía en otras latitudes. Más bien, un grupo de cientistas sociales se nutrió de ellos y los puso en tensión tomando como referente el acontecer del campo disciplinar local.
Desde hace poco más de dos décadas, la historiografía argentina ha sido testigo de acaloradas discusiones que, tanto desde el campo de la teoría como desde estudios concretos, fueron demarcando sendas novedosas que no han sido del todo transitadas ni agotadas. Las numerosas inquietudes desplegadas desde algunos espacios académicos, la entrada incontenible –y por cierto bienvenida– de nuevos problemas y miradas que modificaron impetuosamente las agendas de discusión, así como los intentos por revisitar desde posturas complejizantes un relato histórico “nacional” plagado de mitos e invisibilidades, cimentaron el terreno para el desarrollo de la historia regional y local en nuestro país. Aunque su llegada a la arena historiográfica argentina puede evidenciar un cierto “rezago”, especialmente si se la compara con sus tempranos desarrollos en Europa y América Latina, los tópicos y conclusiones en torno a los cuales giró la reflexión –y que tuvieron como marco jornadas, simposios y congresos en distintos puntos del país– no pueden concebirse en términos de “ecos” de lo que se acontecía en otras latitudes. Más bien, un grupo de cientistas sociales se nutrió de ellos y los puso en tensión tomando como referente el acontecer del campo disciplinar local.
Así, desde mediados de la década de 1980 se fueron conformando grupos de investigación con el objetivo de iniciar indagaciones de corte regional que se enfocaran sobre cuestiones que, hasta ese momento, habían quedado relativamente marginadas de las grandes líneas de interés. En esta tarea, se destacaron los centros universitarios de Rosario, Tucumán y Comahue, los que resaltaron las particularidades regionales que atravesaban las formas de organización del mercado y del Estado Central en la inserción de la Argentina en la división internacional del trabajo que proponía el modo de producción capitalista. Años más tarde, estos proyectos impulsarían a varios investigadores a ensayar intentos de conceptualización de la “región” y su significado para la Historia.[2] Sin embargo, y por más de que ya ha corrido mucha tinta sobre la vigencia y pertinencia de esta práctica historiográfica, la historia regional y local parece tener todavía un buen número de detractores en los espacios académicos quienes, apelando a justificaciones que no siempre poseen fundamentos sólidos, muestran cierto resquemor ante su innegable, creciente y bien merecido lugar en la investigación y enseñanza de la historia en distintos niveles.
En este contexto, Más allá del territorio… aparece como un aporte fundamental para insertarse en la discusión tanto desde la teoría como desde la empiria, aunando los esfuerzos y experiencias de reconocidos historiadores e historiadoras cuyos intereses puntuales, no siempre coincidentes, están guiados aquí por un enfoque y por una forma particular de abordar los problemas históricos que desarrollan. Lejos de ser una barrera a la comprensión y coherencia interna del libro, esta diversidad de preocupaciones abre un horizonte que, si bien es fragmentado y no agota la totalidad de la riqueza temática y temporal de los trabajos desde el enfoque regional y local, permite al lector aventurarse en muchas líneas de investigación desplegadas y aún vigentes.
A su turno, los autores de los nueve capítulos que dan cuerpo a la obra proponen un recorrido por los espacios particulares del saber a los que han dedicado años de su formación académica, rescatando el accionar de diversos actores en los escenarios y momentos más disímiles y tomando al recorte regional y local ora como objeto de reflexión en sí mismo, ora como propuesta metodológica para repensar algunos postulados más o menos asentados y aceptados en el quehacer de la disciplina. Pero más allá de las especificidades temáticas de cada contribución, se pueden destacar algunas líneas comunes que, aunque no estén explicitadas directamente, sobrevuelan a todas las intervenciones.
En primer lugar, el carácter de la región en tanto construcción y recorte analítico es realizado por el investigador en función de sus intereses concretos.
En este sentido, la región no supone una territorialidad más o menos naturalizada y solamente perceptible a través de los sentidos, sino que tiene que ver con una trama social y relacional que la va configurando temporalmente, a la vez que se presenta como un espacio de interacción dinámico, en constante cambio y redefinición. Esto implica considerar que las fronteras o delimitaciones de la región no se corresponden necesariamente con los límites jurídico-administrativos que la historiografía más tradicional tomaba como principales referentes; y que la propia temporalidad de estos espacios, así como los ritmos de las continuidades y cambios, ameritan un tratamiento particular que no se condice mecánicamente con las cronologías admitidas para otros recortes espaciales.
En segundo lugar, la alusión a lo regional y lo local no tiene como meta la búsqueda de ejemplos que ratifiquen los supuestos de la historia general, sino que más bien se trata de detectar la singularidad y particularidad de los problemas históricos en un espacio más acotado y, a partir de ahí, revisar críticamente las grandes “verdades” de la historia general, evitando a su vez caer en lo meramente anecdótico o pintoresco. De allí se desprende que, tal como afirma categóricamente Fernández, “su eje no es temático sino analítico. Dicho con otras palabras, la historia regional no propone un nuevo tema, un nuevo objeto, sino una nueva mirada, un nuevo acercamiento, un nuevo abordaje analítico” (p. 39).
Los primeros dos capítulos se destacan por una fuerte impronta teórica y por los esfuerzos de sus autores en dar cuenta de la polifonía que rodea a las categorías de lugar y región. Anaclet Pons y Justo Serna resaltan la flexibilidad y artificialidad de la noción de “lugar” en tanto constructo del cientista social.
Asimismo, se detienen en algunas metáforas (de la lente y de la red) que son desglosadas y leídas en su relación con la historia local y con otras corrientes como la microhistoria. Por su parte, Sandra Fernández nos sitúa en el contexto argentino para trazar el recorrido de esta práctica desde las variables y concepcionesmás tradicionales de la región hasta las nuevas búsquedas. En este sentido, convoca a la realización de estudios comparativos que permitan una incorporación de la producción generada hasta el momento, apostando no simplemente a la indagación de la localidad, la comarca o la región sino a estudiar “localmente” elementos que hacen a la densidad de la trama social, por ejemplo las formas de construcción y percepción identitarias.
Partiendo del establecimiento de relaciones –y diferenciaciones– entre la historia regional y local y otros modelos interpretativos que, como la microhistoria italiana, tuvieron un muy considerable impacto en el mundo académico argentino, Susana Bandieri nos introduce en la génesis, puntos de partida y resultados de una experiencia de investigación particular en el año 1995, que reunió bajo expectativas comunes a docentes y alumnos de historia de la Universidad Nacional de Comahue (Argentina) y de la Universidad de la Frontera de Temuco (Chile). Por un lado, ilustra el modo en que la conformación de una región –la Norpatagonia– rompía con las divisiones administrativas de las provincias y con las actuales fronteras internacionales, develando continuidades, flujos y contactos constantes entre actores de los países a ambos lados de la cordillera. Por otro, logra demostrar con creses no sólo que ciertos presupuestos e hipótesis que se barajaban desde la historia general –como el tan mentado éxito de la penetración del Estado Nacional en el espacio patagónico– debían ser modificados o, al menos, matizados; sino que la realidad actual de los estudios regionales y locales es más vasta de lo que usualmente se cree.
El capítulo confeccionado por Andrea Reguera, vinculado a los estudios rurales y a las dinámicas de los procesos regionales, se aboca a dar cuenta de las articulaciones del accionar de los actores entre sí y con la comunidad –en este caso, en el marco del poblado de Tandil al sur de la provincia de Buenos Aires–, en un proceso que admite ser explorado desde la perspectiva local.
Tomando las observaciones y planteos de viajeros, aventureros, científicos, cronistas locales e historiadores, se recrea una urdimbre de relaciones en ese otrora espacio de frontera en constante ebullición, operación intelectual en la cual la comunidad y el espacio local se erigen en unidades de análisis pertinentes a la hora de reconsiderar numerosos temas y aseveraciones.
Los aportes de Darío Barriera y Diego Roldán se ubican en el mundo urbano, aunque cada uno está signado por especificidades temáticas y registros argumentativos propios que es útiles desplegar. El primero apela a una estrategia narrativa original que toma como excusa el comentario a un texto de Rodolfo González Lebrero para ir abriendo un abanico de posibilidades de pesquisa de fenómenos espaciales en el área rioplatense colonial. A esto añade la búsqueda de precisiones conceptuales referidas a la “espacialidad” en los procesos históricos a nivel regional y local. Por su parte, Roldan se sumerge en las formas en que se han llevado adelante los acercamientos a la historia cultural de las ciudades y en la historia de los imaginarios urbanos desde mediados del siglo XX, pensando en la actualidad de buena parte de las imágenes conformadas a lo largo de esos años así como en la vitalidad de algunas de las hipótesis esbozadas en diversos contextos de producción científica. Con la prosa ágil y amena que suele caracterizar a su producción, pasa revista a los modelos de arribo a estas problemáticas desde variadas perspectivas de trabajo, entre las que se destacan la planificación y sociología urbanas y la geografía económica, pasando por las teorías del desarrollo y la dependencia hasta llegar a las aproximaciones intelectuales que abogaban por diversas entradas a las densas realidades urbanas desde la economía, lo social, lo cultural y lo político. Concluye con algunas referencias a los denominados nuevos estudios urbanos de las últimas décadas.
Por su parte, las contribuciones desde la historia reciente y las iniciativas de recuperación de memorias a la luz todo un universo de acontecimientos, sentidos y significaciones novedosos, conectados a problemas históricos no demasiado distantes temporalmente, en interacción con la propuesta del libro, han sido encaradas por Débora Cerio y Gabriela Águila. El mundo de la conflictividad social en la Argentina de las décadas de 1960 y 1970 considerado por Cerio en clave regional abre la arista de la construcción de identidades sociales y de la complejización de la realidad histórica. No obstante, y como plantea acertadamente, puede verse una ausencia considerable de indagaciones regionales sobre las modalidades de organización y lucha de las clases subalternas. El desafío propuesto no es sólo sanear esta situación sino también propugnar una construcción pluridisciplinar de la categoría de región que capitalice los desarrollos antropológicos y los esfuerzos por dotar de sentido a las luchas e identidades políticas en una nueva clave. En el caso del trabajo de Águila, se salda la brecha entre la enunciación de postulados teórico-metodológicos y la aplicación práctica de los mismos en problemáticas históricas concretas, en este caso, la represión, la resistencia y el consenso generados en relación a la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983. Lejos de circunscribirse a Rosario, la historiadora reconstruye el accionar de los actores sociales en un espacio como es el Gran Rosario, que necesariamente escapa a los límites de la ciudad para incluir a otras localidades adyacentes de la provincia de Santa Fe, revelando la riqueza de las contribuciones regionales a la hora de plantear una historia más densa y comprometida.
El cierre de esta obra colectiva queda a cargo de Elvira Scalona, quien rescata y trae a primer plano la relevancia didáctica y los modos pedagógicos de implementación de la enseñanza de la historia en clave regional y local en las escuelas argentinas a partir de la sanción y puesta en marcha de la Ley Federal de Educación. La estrategia narrativa la lleva a recuperar las líneas argumentativas que implican su inclusión –muchas veces ilusoria o vaciada de sentido y contenido– en los programas de la educación formal así como a ponderar su injerencia en la conformación de identidades ciudadanas críticas en el contexto de globalización actual.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la alusión a los estudios regionales y locales que hace la compiladora en la introducción como un gran mosaico es más que acertada. Planteos diversos, temáticas plurales todavía abiertas y fructíferas se amalgaman en cada uno de los recorridos sugeridos, más no definitivos. De esta manera, y parafraseando a Barriera, Más allá del territorio… se convierte en una obra relevante y provocativa en tanto abre más problemas de los que cierra. Esto, lejos de ser una falencia, debe entenderse como el corolario de uno de los principales objetivos que persigue la obra: alentar deliberadamente la discusión y la reflexión en pos de la consiguiente ampliación de preguntas, dudas y posibles respuestas que toda historia, como ciencia social, debe provocar.
Notas
1. Auxiliar Docente de 2a Categoría “Ad Honorem” Universidad Nacional de Rosario (UNR) leosimonetta@hotmail.com Calle San Martin 519, 5º piso, departamento “5” Rosario – Provincia de Santa Fe 2000 Argentina.
2. FERNANDEZ, Sandra. “El revés de la trama. Contexto y problemas de la historia regional y local”. In BANDIERI, Susana; BLANCO, Graciela y BLANCO, Mónica (coords.). Las escalas de la historia comparada. Tomo 2: Empresas y empresarios. La cuestión regional. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2008, pp. 238-240.
FERNÁNDEZ, Sandra R. (Comp.). Más allá del territorio: la historia regional y local como problema. Discusiones, balances y proyecciones. Rosario (Argentina): Prohistoria ediciones, 2007, 182 pp. Resenha de : SIMONETTA, Leonardo C.[1] Tras las huellas de lo local y lo regional: notas críticas y tendencias de la análisis en la historiografía argentina. História da Historiografia, Ouro Preto, n.3, p.161-166, set. 2009.
Historiografia alemã pós-muro: experiências e perspectivas – GERTZ; CORREA (HH)
 René Gertz /ucsplay.ucs.br
René Gertz /ucsplay.ucs.br
GERTZ, René E.; CORREA, Sílvio Marcus de S. (orgs). Historiografia alemã pós-muro: experiências e perspectivas. Santa Cruz do Sul/Passo Fundo: Edunisc/Editora UPF, 2007, 245pp. Resenha de: MATA, Sérgio da.[1] História da Historiografia, Ouro Preto, n. 2, mar. 2009.
Poucas pessoas fizeram tanto pela divulgação, no Brasil, da historiografia alemã quanto René Gertz. Há 22 anos atrás, em conjunto com Abílio Baeta Neves, ele publicava sua excelente coletânea A nova historiografia alemã, ocasião em que, salvo engano, autores como Klaus Tenfelde, Jürgen Kocka e Jörn Rüsen se tornaram pela primeira vez acessíveis em português. O volume era na verdade uma excelente introdução ao que alguns dos mais importantes historiadores alemães do pós-guerra pesquisava e, sobretudo, como pesquisava. A revista “História e Sociedade” (Geschichte und Gesellschaft) transformara-se numa nova Meca, e autores como Hans-Ulrich Wehler e Wolfgang Mommsen desfrutavam de enorme influência.
Duas décadas depois, a situação dá mostras de ter mudado, e de forma surpreendente, tanto no Brasil quanto na Alemanha. Rüsen e Koselleck se tornaram referências obrigatórias mesmo entre nossos estudantes de graduação. Clássicos do pensamento histórico como Droysen, Ranke e Burckhardt têm sido revisitados e, aos poucos, contemplados com novas traduções. Até mesmo um interesse crescente pelo aprendizado da língua alemã pode ser diagnosticado por toda a parte. Em suma, um quadro impensável em 1987.
A publicação de Historiografia alemã pós-muro: experiências e perspectivas, livro composto de textos selecionados e traduzidos pelo mesmo Gertz e por Marcus Correa, mostra a que ponto a situação na Alemanha alterou-se significativamente. A referência no título do livro à reunificação tem toda a razão de ser, pois, grosso modo, até então seria correto falar em duas historiografias alemãs: a ocidental e a oriental. Em que pese a subserviência político-ideológica da maioria dos historiadores da Alemanha Oriental, como apontou há pouco Estevão Martins (Martins, 2007, p. 62), estudos como o de Middel (2005) mostram que a partir da década de 1950 homens como Walter Markov e Manfred Kossok desenvolviam ali sofisticados estudos de história comparada – na boa tradição da Universidade de Leipzig, cujas origens sabidamente remontam a Karl Lamprecht. A reunificação, em 1989, significou uma pá de cal sobre esta incipiente historiografia marxista renovada. Bem poucos sobreviveram no mundo acadêmico “pós-muro”.
No plano propriamente teórico, a influência da Escola de Frankfurt refluiu a olhos vistos. A morte de Niklas Luhmann e a desgastante polêmica mantida entre Habermas e Peter Sloterdijk, ambos fatos ocorridos em fins da década de 1990, pareciam assinalar o eminente declínio das teorias de longo alcance nas ciências sociais alemãs e, por conseguinte, nos meios historiográficos. À “escola de Bielefeld” restou a crítica às novas perspectivas advindas de outras comunidades historiográficas, tais como a história cultural, a história do cotidiano e a micro-história. Em que pese o muito de acertado que há nessas críticas (cf.
Wehler, 2002), percebe-se que setores do mainstream se enclausuraram nos cânones da ciência social histórica. Neste sentido, mais que um retrato da novíssima historiografia alemã, a coletânea de Gertz e Correa oferece-nos uma espécie de índice de uma comunidade historiográfica em plena crise de redefinição de paradigmas. Uma crise, diga-se de passagem, que parece ter nos aproximado.
Percebe-se que o que lá se pratica não é, hoje, muito distinto do que os historiadores brasileiros fazem – ou faziam, na década de 1990. Sente-se também que aquele plus de originalidade da “história social” e da “história da sociedade” – com seu alto rigor analítico e sofisticação teórica – se perdeu.
Os ensaios coligidos por Gertz e Correa não têm a pretensão de oferecer uma contribuição original aos dilemas teórico-metodológicos da historiografia “pós-muro”. Trata-se, em sua maior parte, de balanços historiográficos e de discussões de caráter introdutório, o que em todo o caso tem a vantagem de proporcionar um painel útil e didático a todo aquele que pretende se familiarizar com uma tradição que só conhecemos ainda muito epidermicamente. A seguir, nos limitaremos a fazer alguns apontamentos mais gerais, e a uma ou outra observação crítica sobre os pontos de vista dos autores.
Willibald Steinmetz abre o volume com uma exposição abrangente, intitulada “Da história da sociedade à ‘nova história cultural’”. Acompanhando o pensamento de Otto G. Oexle, Steinmetz tende inicialmente a superestimar o pioneirismo alemão no que se refere à Kulturgeschichte, minimizando, assim, a originalidade das abordagens surgidas na segunda metade do século XX. Mas reconhece que projetos editoriais inovadores como o Léxico de conceitos histórico-políticos de Brunner, Conze e Koselleck surgiram concomitantemente a desenvolvimentos aparentados no mundo anglo-saxão, no bojo do assim chamado linguistic turn. Steinmetz defende a história cultural da crítica de Wehler segundo a qual estaríamos passando por uma despolitização do discurso histórico. Os historiadores culturais, ao contrário, estariam se dedicando também “a áreas consideradas centrais pelos representantes da história social política” (p. 34). O que é sem dúvida correto. Mas ao sustentar que “os espaços de ação constituem-se na e por meio da linguagem” (p. 38), vê-se o quanto a tendência a se autonomizar a esfera da linguagem, a torná-la o a priori de toda análise histórico-social, encontra eco em Steinmetz. O uso do conceito de “comunicação” mostrar-se-ia quiçá mais profícuo, posto que evoca explicitamente a importância da interação entre os sujeitos na construção e reconstrução do sentido subjetivo de suas ações, bem como do mundo social como um todo. Todo agir comunicativo pressupõe ainda a existência de regras previamente estabelecidas (poderíamos chamá-las proto-instituições). Sem o “programa” por elas proporcionado, o indivíduo enfrentaria grande dificuldade para resolver seus problemas concretos de comunicação, seja ao manter uma simples conversa telefônica, seja ao redigir uma resenha acadêmica. Desatento a estas outras possibilidades analíticas, é natural que Steinmetz caia no beco sem saída do relativismo, tão comum àqueles que cedem à tentação do essencialismo culturalista. Partindo do princípio que “toda a realidade […] é simbolicamente construída” (p. 41), ele enreda-se no falso dilema que é o de se perguntar sobre o que vem a ser efetivamente “real” ou “fictício” nesta “multiplicidade de construções paralelas, mas, em princípio, equivalentes, da realidade” (p. 42, grifo nosso). Trata-se, a nosso ver, ora de construções primárias da realidade, ora de construções secundárias. Às primeiras, surgidas da interação social imediata e veículos de um saber pré-teórico, cabe o que Luckmann chama de “prioridade ontológica”, mas de forma alguma o estatuto de o “verdadeiro” por excelência. Todas as construções sociais da realidade são “verdadeiras”, o que não significa que se situam num mesmo plano e que não haja, entre elas, alguma hierarquia constitutiva.
O ensaio seguinte, de Ute Daniel, prossegue o debate sobre a história cultural. Diferentemente de Steinmetz, Daniel parte da Kulturgeschichte alemã de princípios do século passado apenas para mostrar que as referências atuais afastam-se radicalmente do pendor nomológico e monista de alguns dos nomes daquela geração. Na Alemanha, como por toda a parte, a ênfase tornou-se decididamente hermenêutica nas últimas décadas. Embora a autora acredite que “até o final do século XIX somente […] Jacob Burckhardt […] lidava com história cultural” no meio acadêmico de língua alemã (p. 54), o que cremos ser inexato, ela reconhece a importância de historiadores como Eberhard Gothein (sucessor de Max Weber em Heidelberg e futuro orientador de Ernst Kantorowicz), além de Kurt Breysig e Lamprecht. A respeito da famosa polêmica suscitada por este último, Daniel a reduz a um conflito entre historicismo/história política de um lado e evolucionismo/história cultural do outro, sem, porém, atentar para um inegável pano de fundo institucional do embate: o que também estava em jogo era a preeminência de Berlim como principal centro historiográfico de língua alemã. A intempestiva reação de Meinecke (barrando o acesso de Lamprecht à Historische Zeitschrift) e dos demais neo-rankeanos, bem como os reiterados ataques a todo e qualquer impulso renovador advindo das universidades de Basel, Heidelberg e Leipzig, tudo isso mostra a que ponto uma visão “culturalista” da história da historiografia esbarra em limitações mais ou menos sérias.
O que segue é um panorama convencional da pluralização crescente do mercado de idéias historiográficas na Alemanha após a década de 1960, um processo não muito distinto do ocorrido no Brasil, inclusive pelas resistências a ele impostas: lá, pela história social da “escola de Bielefeld”, aqui, pela história social de extração marxista. A mesma sensação de déjà vu acomete o leitor ao percorrer as páginas do texto de Wolfgang Hartwig, “História cultural política do entreguerras”. Uma discussão incomparavelmente mais densa e propositiva sobre a história cultural da política, feita por Thomas Mergel (2003) e inclusive já vertida por Gertz ao português, possivelmente teria sido uma opção mais interessante que o ensaio de Hartwig, cujo único ponto positivo é o de oferecer uma longa e atualizada bibliografia dos novos estudos desenvolvidos sobre o entreguerras alemão.
Já Johannes Fried dedica um extenso ensaio ao tema “História e cérebro: desafios à ciência histórica através da crítica à memória” (p. 97-141). Poderíamos resumi-lo à seguinte proposição: a memória, esta modalidade de relação com o passado situada numa encruzilhada entre o biológico e o cultural, não pode servir a uma historiografia entendida como ciência do passado. Se a memória é um fenômeno mais “coletivo” (Halbwachs) que “cultural” (Assmann), se se pode reduzi-la fenomenologicamente a estruturas da consciência (Ricoeur) ou associá-la à materialidade de monumentos e espaços específicos (Nora), é algo que não chega a interessar diretamente a Fried em sua discussão. Tem-se, a princípio, a impressão que o autor promoverá alguma espécie de diálogo com a neurociência. O que poderia ter sido estimulante, mas que, todavia, não se confirma. Ele parte de um famoso episódio: as conversas entre Niels Bohr e Werner Eisenberg no outono de 1941, em Copenhague, a respeito da utilização militar da fissão nuclear, descoberta pouco antes do início da II Guerra. Nos anos seguintes, Bohr e Eisenberg nunca entrariam em acordo sobre o local e o teor exato destas conversas. Depois de uma tentativa de reconstituição deste interessante episódio, Fries subitamente adota um ponto de vista “naturalista” estrito sobre a memória, e dispara: “uma história derivada exclusivamente da lembrança cerebral é algo cheio de erros, uma construção irreal” (p. 114). Daí serem “suspeitos todos os depoimentos produzidos pela capacidade de memória” (p. 115) Simplesmente “não se pode confiar em tais reproduções e construções” (p. 116). Ele lista, com a minúcia de um relojoeiro suíço, as quinze características que definem e circunscrevem os processos mnemônicos (p. 122- 123), e constata: “uma testemunha que recorda […] não descreve aquilo que realmente aconteceu; antes, fornece uma abstração que vai se afastando dos fatos”. Para quem imaginava que essa modalidade de realismo ingênuo sofrera um golpe de morte no país de Dilthey e Gadamer, é sem dúvida decepcionante.
Felizmente, os organizadores contrabalançaram o efeito potencialmente devastador do ensaio de Fried com aquele que pensamos ser um o melhor ensaio do livro: “A caminho da ‘história das vivências’? História oral na Alemanha” (p. 142-172), da historiadora e jornalista Babett Bauer. Ao mostrar as grandes dificuldades lá enfrentadas pela oral history, Bauer ajuda-nos a perceber que nem tudo são flores para os representantes da novíssima historiografia alemã.
Pesquisadores como Alexander von Plato e Lutz Niethammer preferem falar em “história das vivências” (Erfahrungsgeschichte), algo certamente mais interessante e matizado que aferrar todo um campo de pesquisa a um método.
Não obstante, são muitos os que insistem em “encarar com ceticismo a realização de pesquisas com base em fontes orais” (p. 145-146). O papel de porta-voz da tradição coube mais uma vez a Wehler, para quem os que se valem da história oral não passam de “historiadores descalços”.1 Mesmo sob fogo cerrado, alguns projetos inovadores, norteados por aquilo que se difundiu sob a designação de historiografia democrática, surgiram ao longo da década de 1980. É o caso das “oficinas de história”, grupos formados por historiadores profissionais e leigos interessados na reconstituição da história regional e local, aos quais se juntaram iniciativas semelhantes realizadas com o apoio dos sindicatos alemães. A nova perspectiva revelou-se especialmente profícua no estudo da história da Alemanha Oriental. Como a quase totalidade dos registros escritos estavam submetidos ao ferrenho controle do serviço secreto e das forças desegurança do regime, somente a “história das vivências” permitiu visualizar os “elementos crescentes de dissenso” e o “declínio do conformismo entre a população” (p. 153) nos últimos anos da ditadura. Na segunda parte de sua exposição, Bauer discorre longa e sofisticadamente sobre as possibilidades e dificuldades teóricas da Erfahrungsgeschichte.
Os dois últimos ensaios, de Peer Schmidt (“Da história universal à história mundial”) e Reinhard Wendt (“O olhar para além das fronteiras continentais: história extra-européia na recente historiografia de língua alemã”) tratam do desafio da superação daquilo que os autores acreditam ser a demasiada autocentralidade da produção historiográfica de seu país. Para o latinoamericanista Schmidt, trata-se agora de buscar uma “história mundial de novo tipo”, afastada das “elaborações eurocêntricas de uma história universal que saiu de moda” (p. 187). Wendt mostra, de forma oportuna, que Lamprecht já havia insistido na necessidade de a história incorporar o estudo dos povos “sem história”. Impulsos semelhantes, observa ele, partiam também da geografia. De fato, Friedrich Ratzel publicara em 1904 um longo artigo na Historische Zeitschrift em que critica Eduard Meyer por deixar de fora de sua História da Antiguidade os chamados “povos naturais”. A abordagem de Wendt, mais completa e minuciosa que a de Schmitt, mostra o que tem sido feito pelos que pretendem superar a história “meramente” nacional sem cair nos mesmos erros de Hegel e Ranke. A que ponto tal perspectiva efetivamente se difundiu, isso já é outra coisa. Basta mencionar o projeto, em pleno andamento, de edição de uma História Mundial pela prestigiosa Enciclopédia Brockhaus. Segundo apuramos com um dos autores envolvidos, dos vinte volumes planejados, apenas um será dedicado à Ásia, enquanto que um outro terá de ser dividido entre América e África…
A discussão sobre o que deve ser uma nova história mundial, universal ou – como preferem alguns – “transnacional”, encontra-se de toda forma bastante amadurecida na Alemanha. Se Historiografia alemã pós-muro revela um campo no qual temos muito ainda o que avançar, é certamente este. A retomada dos pontos de vista de Voltaire, Ratzel, Spengler, Jaspers e outros se expressa em revistas já estabelecidas como Saeculum, Comparativ e Zeitschrift für Weltgeschichte; enquanto que nomes como o já citado Matthias Middel assumem a condição de porta-vozes desta história universal renovada. Impulsos análogos se façam notar no campo da história da historiografia, como demonstram os esforços de Rüsen (2002) em incrementar o “debate intercultural”, e até mesmo na história social (Kocka, 2003).
A cultura historiográfica alemã já não é “tão estranha assim” para o público brasileiro, observa com acerto Astor Diehl em seu posfácio ao livro.
Concordamos com ele que para isso tem concorrido o afluxo crescente de jovens historiadores às universidades e centro de pesquisa alemães. Mas um papel não menos importante foi e continua a ser desempenhado por René Gertz, o que demonstra a que ponto o esforço de tradução é decisivo na economia da troca – ainda tão incipiente – entre os mercados historiográficos dos dois países.
Resta-nos deixar uma sugestão para iniciativas similares no futuro: um estudo acurado sobre os novos canais de circulação de conhecimento histórico que são os portais eletrônicos (H-Soz-u-Kult, Clio-on-Line, Sehepunkte), e que permitem acompanhar com enorme agilidade o estado das discussões, os debates e as novas tendências da historiografia alemã.
Referências
KOCKA, Jürgen. Losses, Gains and Opportunities: Social History Today. Journal of Social History, v. 37, p. 21-28, 2003.
MARTINS, Estevão de Resende. Historiografia alemã no século XX: encontros e desencontros. In: MALERBA, Jurandir; ROJAS, Carlos A. (orgs.) Historiografia contemporânea em perspectiva crítica. Bauru: Edusc, 2007.
MERGEL, Thomas. Algumas considerações a favor de uma história cultural da política. História Unisinos, v. 7, n. 8, p. 11-55, 2003.
MIDDEL, Matthias. Weltgeschichtsschreibung im Zeitalter der Verfachlichung und Professionalisierung. Leipzig: Akademie Verlagsanstalt, 2005.
RÜSEN, Jörn. Western Historical Thinking: an intercultural debate. New York: Berghahn, 2002.
WEHLER, Hans-Ulrich. Historisches Denken am Ende des 20. Jahrhunderts. Göttingen: Wallstein, 2002.
[1] Professor Adjunto Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) sdmata@ichs.ufop.br Rua do Seminário, s/n – Centro Mariana – MG 35420-000
Identidade nacional e modernidade brasileira – SOUZA (HH)
 Gilberto Freyre / saopauloreview.com.br
Gilberto Freyre / saopauloreview.com.br
SOUZA, Ricardo Luiz de. Identidade nacional e modernidade brasileira: o diálogo entre Sílvio Romero, Euclides da Cunha, Câmara Cascudo e Gilberto Freyre. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, 232 pp. Resenha de: LOWANDE, Walter Francisco Figueiredo.[1] História da Historiografia. Ouro Preto, n.2 mar. 2009.
Sílvio Romero, Euclides da Cunha, Câmara Cascudo, Gilberto Freyre, Identidade nacional, Modernidade brasileira, Interpretações do Brasil
Fruto da Tese de Doutorado defendida por Ricardo Luiz de Souza, em 2006, no Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais e sob orientação de José Carlos Reis, percebe-se que o livro Identidade nacional e modernidade brasileira parte da mesma premissa que guiou a feitura de Identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC (Reis, 2007). Trata-se de compreender um conjunto de obras preocupadas em fornecer grandes interpretações do Brasil, esforço que possibilitaria o desvendamento da lógica que as perpassa. Se, no caso de José Carlos Reis, podemos depreender que tal lógica refere-se, grosso modo, a um posicionamento a favor ou contra a colonização portuguesa, o livro ora resenhado é o diálogo “indireto” entre Sílvio Romero, Euclides da Cunha, Câmara Cascudo e Gilberto Freyre, em torno de conceitos como identidade nacional, modernidade e tradição, que enlaça as clássicas obras desses autores.
Ao se atribuir um sentido a um conjunto de obras que as perpassa e que vai além do significado individual, “imanente” a cada uma delas, dotando-lhes, assim, de uma linha comum que as atravessa e que nos permite supor uma evolução discursiva da qual participam os autores selecionados, corre-se o risco de simplificar uma realidade de produção textual mais complexa. Com tal afirmação, não pretendo negar a importância deste tipo de análise, sem a qual não se pode conhecer o conjunto dos efeitos que podem ser produzidos pela linguagem escrita numa configuração sócio-histórico-cultural específica. No entanto, num esforço de análise assim conduzido, deve haver um especial cuidado a fim de não se subjugar o que uma obra tem de peculiar. Um exemplo disso é o já citado trabalho de José Carlos Reis, no qual este autor se preocupa mais com o enquadramento de Gilberto Freyre numa tradição de “elogio da colonização portuguesa” do que com a realização de uma análise mais aprofundada do conjunto de sua obra. Isso o leva, a meu ver, a enfatizar a idéia de que o ensaísta pernambucano teria construído uma imagem idílica da colonização portuguesa, interpretação que não pode ser estendida a toda sua obra. Como já foi notado por alguns autores (Viana, 2001; Rocha, 2001; Paoli, 2003; Araújo, 1994; Souza, 2000), Casa-Grande & Senzala dispõe de vários elementos que mostram justamente o contrário, ou seja, mostra uma dominação por vezes cruel do senhor sobre seus escravos, uma proximidade que não se dá, no geral, de forma afável.
A opção de Ricardo Luiz de Souza, no entanto, encontra-se fortemente embasada por uma perspectiva que analisa cada autor e cada obra em seus mais amplos aspectos: são tratados os traços psicológicos e biográficos, os contextos histórico, social, econômico e cultural e as relações intelectuais e institucionais, sendo as obras tomadas de maneira bastante ampla, o que permite que Souza relativize as eventuais simplificações. As influências são devidamente pesadas e o diálogo entre os autores não se dá de forma mecânica: talvez o maior laço entre eles, além da temática abordada, seja a veia ensaística. Enfim, em Identidade nacional e modernidade brasileira, os debates acerca da construção da identidade nacional e da modernidade a partir dos autores escolhidos são tratados com grande responsabilidade.
No capítulo introdutório, Souza demonstra um esmerado cuidado na definição dos conceitos que nortearão seu trabalho e na escolha do método, que possibilitará a compreensão dos autores através do diálogo que eles travam entre si. Cada obra merecerá um capítulo específico adiante, no qual os conceitos bem definidos da introdução servirão como ponto de partida para suas análises.
Para Souza, as identidades nacionais são construídas. Um “povo”, conceito que “sinaliza a existência de um substrato comum, entre os membros de determinadas populações, que tende a ganhar força simbólica e discursiva com base na representação de identidades nacionais prenhes de significados comuns” (pp. 23-24), buscaria uma estabilização através da construção de uma identidade nacional. Esta, que fique bem entendido, não é a mesma coisa que o citado “substrato comum”, algo que parece existir, a partir do que se depreende do argumento do autor, de forma dispersa, levemente sentida, ou seja, um fenômeno do qual ainda não se tomou coletivamente consciência, mas que proporciona uma certa ligação entre os indivíduos. Desta forma, a identidade, uma espécie de construto a posteriori, não reflete “de forma mecânica e integral”, segundo o autor, os indivíduos que discursivamente representa; nasce de interesses advindos dos setores dominantes; é moldada em interação à alteridade, não existindo um “outro” absoluto e homogêneo; obscurece heterogeneidades e conflitos; não é estática; e, por fim, é uma construção discursiva, que nasce “de uma imagem construída, não-verificável e não empiricamente demonstrável” (p. 25).
Esta “identidade nacional”, inspirada em Norbert Elias e no conceito de “memória coletiva” de Maurice Halbwachs, seria estruturada pela tradição. De acordo com Souza, a tradição é corporificada em símbolos, que são coisas retiradas da “esfera mundana” e, assim, re-significadas. A tradição surge então não como algo apenas situado estaticamente no passado, mas como conjunto de símbolos disputados por diversos grupos na construção de uma noção de identidade hegemônica. A tradição também estaria intrinsecamente ligada ao conceito de modernidade. Esta última é entendida como anseio de um grupo por um futuro cuja busca se dá a partir da tradição. O presente se torna assim transitório, o futuro cada vez mais distante e o passado desejado como recuperação da estabilidade perdida em tal busca. Desta forma, segundo o autor, embora tendam a ser classificadas dicotomicamente em escalas valorativas ligadas às idéias de “bem” e “mal”, modernidade e tradição interagem constantemente, a modernidade atuando com base nas tradições que a determinam, e, por outro lado, a tradição sendo continuamente alterada sob os impactos da modernidade, constantemente modificada em função dos diferentes grupos que a disputam.
A perspectiva adotada por Ricardo Luiz de Souza nos permite então perceber em que medida espaço de experiências e horizonte de expectativas, categorias que tomo de empréstimo de Reinhart Koselleck (2006), se articulam nas interpretações do Brasil. Nas tentativas de definição de uma identidade nacional, a relação entre tradição e modernidade adquire formatos diversos, em consonância com cada ideal de futuro discursivamente construído.
O primeiro autor a ser assim compreendido é Sílvio Romero. Ele constata o atraso brasileiro em relação às nações européias e busca suas causas numa identidade nacional, naturalmente, socialmente e racialmente determinada.
Romero inaugura uma análise identitária que passa pela miscigenação e inclui o negro como fator explicativo central. As condições socioeconômicas mostrarse- iam insuficientes para explicar o que ele considera uma aversão do brasileiro ao capitalismo. O problema, para Romero, é como modernizar um país possuidor de uma população mestiça e, portanto, segundo ele, racialmente inferior. A conclusão a que chega é que as elites deveriam conduzir esta população mestiça num processo de “branqueamento”. Por outro lado, é na cultura popular, produzida por esta população mestiça, que residem as verdadeiras características de uma identidade nacional, tradição com base na qual as elites construiriam uma nação moderna. Um crescente pessimismo e “provincianismo” de sua parte (termo este não tomado num sentido pejorativo, mas relativo ao seu orgulho regional) permeariam estas idéias e, além disso, para Souza, elas corresponderiam a um reordenamento social, em que suas teorias raciais justificariam uma “nova desigualdade a ser implementada” (p. 69).
A identidade nacional é, por sua vez, encontrada por Euclides da Cunha numa dicotomia que seu olhar, tanto de engenheiro como de literato, descobre no Brasil a partir da observação de Canudos: a dicotomia que existe entre litoral e sertão, entre civilização e barbárie (ou, mais tarde, entre civilização e atraso). Se, a princípio, em Os sertões, o sertanejo é um bárbaro, posteriormente Cunha constatará que seu isolamento em relação à civilização proporcionou, na verdade, a conservação da identidade nacional em seu estado embrionário.
Este sertanejo se torna, também, um exemplo de como a raça superior portuguesa conseguiria suplantar o meio adverso e prevalecer numa combinação gênica na qual preponderaria. O desafio seria conciliar a premente modernidade à Nação. A modernização do país seria produzida, portanto, tomando como base a identidade nacional descoberta nos caracteres do sertanejo. Contudo, o alheamento das elites estaria produzindo o massacre destes indivíduos portadores da “fórmula da nacionalidade”.
Também na obra de Câmara Cascudo se faz presente a dicotomia entre sertão e cidade, ou entre província e centro urbano: os primeiros termos da dualidade são os lugares da tradição e, os últimos, os da modernidade. Contudo, Cascudo não pretende conciliá-los, mas preservar a cultura popular, a partir da qual se poderia entrever a identidade nacional. O estudo do folclore serviria, então, como ferramenta para tal empreitada. Pretende ele “resgatar elementos milenares no que é contemporâneo, demonstrando a universalidade de crenças e costumes que se escondem sob o manto do regional” (p. 147). A miscigenação seria também fator preponderante para a compreensão dessa cultura popular, na qual o elemento português ocuparia, mais uma vez, posição privilegiada.
Na análise que faz da obra de Gilberto Freyre, Ricardo Luiz de Souza toma a acertada decisão de incluir sua produção pós-1960, pois é nela que a identidade nacional, densamente pesquisada em Casa-Grande & Senzala, Sobrados e Mucambos entre outras obras escritas, sobretudo, na década de 1930, encontrará o caminho para o mundo “além do apenas moderno”. Tal caminho será iluminado pelo conceito de lusotropicalidade. Souza destaca que o otimismo freyreano em relação ao futuro assenta-se na apologia que faz da mestiçagem, pois ela, que define a identidade nacional brasileira, possibilitaria uma vantagem num mundo pós-moderno. Da automação decorreria um tempo livre para o qual a vivência hispânica do tempo estaria mais preparada. Ao contrário dos outros autores, em Freyre a modernidade é superada, pois se trata de um momento histórico no qual uma série de valores urbanos entraria em conflito com um sistema rural no qual os contrários se equilibrariam.
Ao retratar as significações e re-significações que os conceitos de “identidade nacional”, “modernidade” e “tradição” sofreram nas obras selecionadas, cuja relevância da análise é por sinal muito bem fundamentada, Souza encara, deste modo, a produção discursiva de maneira muito acertada. Não há, conforme se depreende desta leitura, um discurso unitário, absolutamente hegemônico, sobre o que viria a ser a identidade do brasileiro. O que se verifica, em contraposição, é uma constante disputa por definições, cada uma delas compondo de maneira específica e em variados graus de sucesso um “estoque” disponível para as mais variadas interiorizações individuais. Desta forma, embora constantemente se afirme que o poder público impôs uma unificação cultural por intermédio de uma definição específica do que fosse a identidade nacional, podemos perceber que esta realidade discursiva é muito mais complexa e não deve ser encarada como um único discurso vencedor.
Por fim, o que aqui expus sucintamente pretende-se uma apresentação de um trabalho sem dúvida mais rico do que esta resenha pode abarcar. Não obstante, em alguns momentos, pode ser sentido um sub-aproveitamento dos fatores propriamente lingüísticos frente aos extra-lingüísticos (não é discutido, por exemplo, de que modo as “ideias” dos autores atuam no mundo social enquanto textos, ou melhor, enquanto “atos de fala”),[2] Ricardo Luiz de Souza tem o mérito de tratar de uma considerável amplitude de fatores relacionados aos conceitos que coloca em relevo. Seu estilo, marcado por uma análise que privilegia um grande número de aspectos, colocados em relativamente curtos e abundantes parágrafos, possibilita tal feito, além de tornar o texto mais interessante pela ampla erudição que demonstra, e não por uma prolixidade que rejeita.
Referências Bibliográficas
ARAÚJO, Ricado Benzaquen de. Guerra e paz: Casa-Grande & Senzala e a obra de Gilberto Freyre nos anos 30. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1994.
CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENAU, Dominique. Dicionário de análise do discurso. 2ª ed. – São Paulo: Contexto, 2006.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto; Puc-Rio, 2006.
PAOLI, Maria Célia. “Movimentos sociais, movimentos republicanos?” In SILVA, Fernando Teixeira da et al. (Org.). República, liberalismo, Cidadania. Piracicaba: Editora UNIMEP, 2003.
POCOCK, J. G. A. Linguagens do ideário político. São Paulo: Edusp, 2003.
REIS, José Carlos. As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. 9ª ed.
ampl. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.
ROCHA, João César de Castro. “Notas para uma futura pesquisa: Gilberto Freyre e a escola paulista”. In FALCÃO, J. e ARAÚJO, R. M. B. de. [orgs.]. O Imperador das idéias: Gilberto Freyre em questão. Rio de Janeiro: Colégio do Brasil/ UniverCidade/ Fundação Roberto Marinho/ Topbooks, 2001.
SOUZA, Jessé. A Modernização seletiva: uma interpretação do dilema brasileiro. Brasília: Unb, 2000.
VIANNA, Hermano. “A meta mitológica da democracia racial”. In FALCÃO, J. e ARAÚJO, R. M. B. de. (Orgs.). O Imperador das idéias: Gilberto Freyre em questão. Rio de Janeiro: Colégio do Brasil/ UniverCidade/ Fundação Roberto Marinho/ Topbooks, 2001.
[1] Mestrando em História Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) wartelowande@yahoo.com.br Rua Salomão de Vasconcelos, 96 – Chácara Mariana – MG 35420-000 Palavras-chave Modernidade; Tradição; Identidade nacional.
[2] 1 Cf. o verbete “Ato de fala” escrito por Catherine Kebrat-Orecchioni, traduzido por Maria do Rosário Gregolin (Charaudeau; Manguenau, 2006). Conferir também o debate travado por John Pocock (2003) com a “Escola de Cambridge”.
Peace in International Relations – RICHMOND (HH)
RICHMOND, Oliver P. Peace in International Relations. Abingdon: Routledge, 2008, 232p. Resenha de: CAVALCANTE, Fernando. Revista Brasileira de Política Internacional. v. 52, n. 1, Brasília Jan./June 2009.
No campo de estudos, as Relações Internacionais surgiram com o fim último de evitar tragédias como a Primeira Guerra Mundial. Seus estudiosos, não lograram desenvolver um entendimento preciso da paz: ao contrário, concentraram-se nas dinâmicas do poder e da guerra, assumindo o entendimento realista de que a violência é inerente à natureza humana e às relações entre estados. Esta é a crítica mais ampla das pesquisas de Oliver Richmond e transparece nas publicações anteriores do autor, dentre as quais se destacam Maintaining Order, Making Peace (2002), The Transformation of Peace (2005) e Challenges to Peacebuilding: Managing Spoilers During Conflict Resolution (2006).
Em Peace in International Relations, Richmond aprofunda sua crítica e analisa as concepções de paz (frequentemente implícitas) nas teorias das Relações Internacionais. Ao apontar as limitações das abordagens deterministas/positivistas na primeira parte do livro, o autor clama por abordagens interdisciplinares e entendimentos plurais no estudo do tema. Nesse sentido, as abordagens póspositivistas, apresentadas na segunda parte, podem facilitar o desenvolvimento de ontologias, teorias e métodos que permitam um melhor entendimento da paz.
Partindo de uma epistemologia positiva, os idealistas concebem a paz de forma universal, sustentada na harmonia entre os povos e nas instituições; é uma visão normativa. Para os realistas, críticos da “utopia” idealista, a paz não é mais que uma quimera, a simples ausência de violência – é uma paz negativa, como viria a ser posteriormente definida. Os Marxistas, por sua vez, apresentam uma idéia de paz calcada na justiça social e na igualdade de classes, a ser atingida após a eliminação das estruturas (violentas) que perpetuam a dominação econômica de umas classes sobre as outras. Traços comuns dessas teorias, de acordo com o autor, são o materialismo, a racionalidade instrumental, a sua pretensão de cientificidade e a suposta análise objetiva e imparcial da realidade.
Ainda na primeira parte, Richmond retoma o argumento de The Transformation of Peace, desconstruindo a concepção de paz liberal – um híbrido das três visões anteriores – e verificando sua apropriação por determinados atores (Ocidentais) que buscam a conservação de uma ordem de estados soberanos, democráticos e market-oriented – não raro por meios violentos, como intervenções. Finalmente, são abordadas as contribuições dos peace and conflict studies, uma espécie de transição entre positivismo e pós-positivismo. Para o professor da Universidade de St. Andrews, sua importância reside na tentativa de entender a paz mais ambiciosamente, não apenas a partir das perspectivas dos estados e elites, mas também das preocupações em torno dos direitos humanos, das questões de gênero e do papel desempenhado por entidades não estatais.
Na segunda parte do livro, são analisadas as teorias críticas e as pósestruturalistas. Essas abordagens oferecem conceitualizações de paz bastante mais sofisticadas, assentadas em epistemologias positivas que visam a pazes emancipatórias. Os críticos teorizam uma paz pós-vestfaliana, em que a soberania territorial não mais desfigure as relações entre estados. Tal formulação reflete, em sentido mais amplo, a insatisfação com o pensamento mainstream das ciências sociais e devota-se à análise de temas como hegemonia, dominação e patriarcalismo, sendo fortemente influenciada pela Escola de Frankfurt. Os pós-estruturalistas procuram avançar este entendimento ao questionar as relações entre conhecimento e poder, partindo dos trabalhos de filósofos como Michel Foucault e Jacques Derrida. Sua visão de paz envolve a aceitação das diferenças e a rejeição de todas as soberanias, a fim de que estas não levem a disputas de poder ou à coerção.
Alguns pontos, contudo, não são tratados no livro com a profundidade desejável: é o caso, por exemplo, das teorias construtivistas e feministas. O autor tampouco desenvolve consistentemente sua proposta de agenda interdisciplinar da paz, limitando-se apenas a esboçar algumas “asserções preliminares”. A leitura é ainda marcada pela característica falta de linearidade na apresentação dos argumentos do autor – questão relativizada com a inclusão de introduções e conclusões em cada capítulo. Tais faltas, contudo, não tiram do livro o mérito maior de consolidar a discussão sobre a paz no debate acadêmico das Relações Internacionais, dando seqüência à obra e aos esforços anteriores de Richmond. Peace in International Relations é um texto ímpar para estudantes e acadêmicos interessados nas questões teóricas dos estudos da paz e dos conflitos.
Fernando Cavalcante – Doutorando em Política Internacional e Resolução de Conflitos pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra – Portugal. E-mail: cavalcante_fernando@yahoo.com.
O universalismo europeu: a retórica do poder – WALLERSTEIN (HH)
WALLERSTEIN, Immanuel. O universalismo europeu: a retórica do poder. São Paulo: Boitempo, 2007, 146p. Resenha de: MULLER, Paulo Ricardo. Revista Brasileira de Política Internacional. v.52, n.1, Brasília Jan./June 2009.
Em O universalismo europeu (tradução do original de 2006, The european universalism) Wallerstein confronta o realismo da construção das relações internacionais contemporâneas com uma necessidade humanista de produção de alternativas aos modelos hegemônicos de sistema-mundo. A partir deste conceito – sistema-mundo -, forjado em obras anteriores suas, o autor busca sistematizar uma série de argumentos que compõem críticas à globalização e aos discursos universalistas que a acompanham, explicitando de que forma estes discursos representam visões européias particulares universalizadas junto aos processos de expansão econômica, política, cultural e militar de países da Europa ocidental e dos Estados Unidos sobre o restante do mundo. Este “universalismo europeu” é incorporado à própria historiografia ocidental como narrativa central da evolução dos povos e países em direção à formação de um sistema-mundo moderno fundado nas relações entre Estados-nação e no valor do “desenvolvimento” e do “progresso” como processos que devem levar, necessariamente, às formas de organização social identificadas como “civilizadas”, exemplificadas pelas sociedades européias em diferentes períodos históricos.
O universalismo europeu deve ser substituído por um “universalismo universal”, ou seja, um projeto de sistema-mundo que busque incorporar e representar valores largamente compartilhados tanto na escala das relações interpessoais quanto na escala das relações interestatais. As condições sociais para a construção de um universalismo total são apontadas pela análise de situações de disputa entre a visão expansionista do modelo europeu de civilização e visões alternativas que buscaram relativizar a superioridade evolutiva auto-atribuída do ocidente em relação a outros contextos geopolíticos. Ao explicitar estas disputas, Wallerstein desmistifica a posição hegemônica da Europa ocidental e dos Estados Unidos no sistema-mundo moderno mostrando processos histórica e socialmente localizados de construção e consolidação desta posição por meio de mecanismos de poder econômico, político e militar. Estes mecanismos são analisados nos três capítulos centrais dos livros, respectivamente dedicados aos discursos universalistas do colonialismo, do orientalismo e da cientificidade, mostrando como estes discursos articulam valores que se reproduzem, contemporaneamente, na globalização, nos direitos humanos e na democracia.
Ao relacionar estes discursos com diferentes períodos históricos, o autor procura desconstruir a retórica que legitima o status quo das relações de poder na arena internacional, mostrando que os processos de dominação se consolidam em meio a debates e questionamentos do cerne dos argumentos que afirmam a universalidade do modelo ocidental de desenvolvimento e civilização. É a função da análise do debate sobre o “direito de intervenção” (droit d’ingérence) agenciado pelo colonialismo espanhol para justificar a imposição de práticas cristãs aos ameríndios sob o argumento de que as práticas pagãs seriam contrárias às “leis naturais”. Também é o que fica expresso na análise sobre a constituição do orientalismo como doutrina política que justifica o colonialismo na Ásia sob o argumento de que as “civilizações orientais” – as sociedades asiáticas dotadas de códigos escritos: China, Império Otomano, Índia e Pérsia – teriam estancado seu progresso rumo à modernidade por não articularem os valores universais pregados pelo cristianismo e pelo ideário civilizatório.
Estes argumentos são reiterados contemporaneamente pelos movimentos de dominação e expansão econômica e geopolítica dos países ricos sobre o restante do mundo, desta vez em nome dos direitos humanos dos grupos mais fracos em países com conflitos civis ou em nome da implantação da democracia nestes países, ou ainda da inclusão de um número cada vez maior de pessoas na globalização de mercado. A pergunta que o livro nos traz é: quem tem o direito de intervir em nome dos direitos humanos ou da democracia, se ao fazê-lo também o direito básico à autodeterminação é desrespeitado? Em uma época que sinaliza uma crise de legitimidade das potências dominantes, a resposta sugerida é a de que os questionamentos ao “universalismo europeu” ainda hegemônico possam resultar em estruturas de relações internacionais que não tenham apenas os Estados como atores centrais, mas também redes sociais que promovam encontros entre diferentes visões de mundo, e a partir da constatação dos valores compartilhados nestes espaços, construir uma proposta de “universalismo universal”.
Paulo Ricardo Muller – Mestrando em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. E-mail: paulomuller@gmail.com.
Traços étnicos: espacialidades e culturas negras e indígenas – RATTS (BGG)
RATTS, Alex. Traços étnicos: espacialidades e culturas negras e indígenas. Fortaleza: Museu do Ceará; Secult, 2009. 23p. (Coleção Outras Histórias, 56). Resenha de: RIOS, Flávia Matheus. Boletim Goiano de Geografia. Goiânia, v. 29 n. 1, jan./jun., 2009.
O autor de Traços Étnicos: espacialidades e culturas negras e indígenas não poderia ser mais feliz quando escolheu para a capa do seu livro a pintura de uma menina Tremembé. Eis que a pintura da pequena Josiane, que na época só tinha seis anos de idade, parece à primeira vista construir uma flor, desenho comum feito por crianças da sua idade. Entretanto, a “ingenuidade infantil” nos surpreende com um belo detalhe iconográfico: no centro de nossa suposta flor nos deparamos com o desenho de um olho. Um olho atento e vivo. O movimento plástico ultrapassa nossas primeiras impressões. Certamente a flor ainda está ali, mas agrega o olho à sua identidade. A flor agora é pensada na condição de algo que vê. Mais: pode ser agrupada – compartilha identidade – junto a todos seres que obedecem a mesma classificação: algo que vê. Exemplo: homem e flor podem ser o mesmo. Eis a primeira mensagem da pintura: aquilo que é heterogêneo, que inicialmente não compartilha as mesmas propriedades ontológicas, pode conviver e transformar-se, sem deixar de ser o que é. O homem e a flor são o mesmo e ainda assim, homem é homem e flor é flor. Mas o desenho não termina aí. Do núcleo da flor, exatamente onde reside sua visão, parte um traço quase reto em direção ao canto direito, que se finda no que chamaríamos uma “pequena florzinha”. Nesse movimento a flor é pensada na condição de algo que gera. A florzinha é muito diferente daquela outra que nos vê, mas está ligada por um traço firme e objetivo ao olho que nos captura. Segunda mensagem: o que liga algo que vê e algo que gera a sua própria continuidade e permanência no mundo não é a aparência externa, e sim a própria visão.
A menina Josiane teria composto um auto-retrato? Ela que é algo que vê e entre os Tremembé tem seu lugar como algo que gera? Não saberemos ao certo. Mas a questão lançada pelo antropólogo Alex Ratts parece ser: quais as possibilidades de que a pequenina Tremembé possuía para permanecer na história como algo que gera, mediante a visão atroz da especulação fundiária, migrações forçadas e encilhamento cultural impostos a todo o seu grupo étnico? Como manter o traço que unifica e transforma aquele algo que vê? Qual a relação entre tradição e criação cultural vivenciada por grupos étnicos que como índios Tremembé, quilombolas cearenses e comunidades negras urbanas, atravessam o dilema da expropriação das condições elementares de existência social e cultural? Esses são os dilemas enfrentados em Traços Étnicos, livro composto por artigos curtos escritos num período de amadurecimento intelectual e político entre 1992 e 2006. Ao longo de diversas temáticas, como mobilização política do ritual do Torém no processo de emergência étnica Tremembé, os impasses da comunidade do trilho com a especulação imobiliária em Fortaleza ou mesmo a apropriação de Zumbi de Palmares nas festas tradicionais da comunidade quilombola de Conceição dos Caetanos, o professor Ratts articula crítica social e análise antropológica na intersecção de dois conceitos basilares: cultura e espaço. Na verdade, o questionamento das fronteiras disciplinares entre a antropologia e a geografia tem sido a marca registrada do autor enquanto acadêmico e militante do movimento negro. Por um lado, a tradição disciplinar de Franz Boas tem lhe permitido notar que “o olho que vê é o órgão da tradição”, o olho que tem um lugar e uma história, aquilo que se depreende da poética plástica de Josiane: a cultura enquanto flores ligadas por uma visão. Por outro, a geografia crítica, atenta tentativa de guetização política do que Milton Santos chamou de o “espaço do cidadão”, informa que os imperativos políticos da economia, da técnica, do racismo ambiental alteram os lugares donde o órgão da tradição vê e neste caso, a visão é outra. Neste sentido, a luta de índios e negros pela terra, pelo direito à cidade e à identidade, ou seja, a emergência das identidades étnicas como variável significativa na economia espacial nordestina e brasileira nos mostra que “olho da tradição” é também o olho da indignação. O olho que tenciona as desigualdades através da re-criação de novos vínculos culturais e políticos, olho que indaga a terra da luz: “quanto dá de ti pra meu viver florir entre ares de verão?” O desafio da construção identitária entre indígenas e negros cearenses é o desafio de fazer emergir na rede urbana de Fortaleza, bem como na estrutura fundiária de todo o Ceará, espacialidades alternativas e democráticas. Negros e índios no Ceará compartilham a experiência de serem “povos invisíveis”, ambos tiveram suas imagens rasuradas nos discursos oficiais, que apresentavam o estado como resultante da mistura entre as raças.[1] Ainda é comum se ouvir dos mais informados cidadãos cearenses que inexistem negros no estado e que os índios que restaram não são “autênticos”. Essa ideologia opressiva, versão cearense do mito da democracia racial, tem relegado as comunidades indígenas e negras à completa invisibilidade até os dias atuais, privando-lhes de políticas públicas que resguardem seus direitos previstos pela Carta Constitucional de 1988. Em hora oportuna, o Museu do Ceará realizou a presente publicação, escrito para um público amplo de variadas faixas etárias. Sem dúvida, encontra-se nele um excelente material de apoio pedagógico para professores e alunos, tendo em vista as medidas atuais do país para garantir a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, assegurado pela lei federal de número 11.465/08. Esforços intelectuais como esses cultivam a emersão de negros e indígenas como delicadas flores cearenses para aqueles que nunca as tinham visto com esses contornos, esses traços. E olhos.
[1] No segundo capítulo do livro (p. 17), Alex Ratts apresenta um trecho do funesto relatório apresentado a Assembléia Legislativa Provincial por José Bento da Cunha Figueiredo em 9 de outubro de 1863, no qual afirmava: “Já não existem aqui índios aldeados ou bravios. […] Ainda hoje se encontra maior número de descendentes das antigas raças; mas acham-se misturados na massa geral da população, composta na máxima parte de forasteiros, que excedendo-os em número, riqueza e indústria, têm havido por usurpação ou as terras pertencentes aos aborígenes. […] Os respectivos patrimônios territoriais foram mandados incorporar à fazenda por ordem cultural imperial, respeitando-se a posse de alguns índios.”
Matheus Gato de Jesus – Bacharel em Ciências Sociais pela UFMA, pós graduado em Sociologia pela USP.
Flávia Matheus Rios – Mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pesquisadora em relações raciais do departamento de Sociologia da USP/CNPQ.
Why developing countries need tariffs? How to nama negotiations could deny developing coutries’ right to a future – HÁ-JOON CHANG (BGG)
CHANG, Há-Joon. Why developing countries need tariffs? How to nama negotiations could deny developing coutries’ right to a future. Geneva: South Centre, 2005, p. 113. Resenha de: SANTOS, Leandro Bruno. Boletim Goiano de Geografia. v. 29 n. 1 jan./jun., 2009.
O autor do livro, Ha-Joon Chang, é coreano e professor na University of Cambridge, onde é diretor-assistente de estudos sobre o desenvolvimento. Chang foi consultor de diversas organizações internacionais (UNCTAD, Wider, Banco Mundial etc.) e recebeu inúmeros prêmios por publicações e por seu trabalho voltado à compreensão dos principais problemas enfrentados pelos países pobres em suas trajetórias de desenvolvimento. O leitor brasileiro já teve a oportunidade de conhecer um de seus trabalhos mais importantes, Chutando a escada: A estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica, publicado pela Editora Unesp, em 2004. É importante salientar que a divulgação do presente livro não teve finalidade comercial, mas o objetivo de contribuir para o debate sobre os aspectos que fazem parte da Rodada Doha, patrocinada pela Organização Mundial do Comércio (OMC). A publicação é de responsabilidade da South Centre, uma organização intergovernamental dos países em desenvolvimento, responsável pela solidariedade do Sul, pela cooperação Sul-Sul, entre outras ações, e pela Oxfam International, uma confederação de doze organizações que visam trabalhar juntas para encontrar soluções duradouras no combate à pobreza e à injustiça social. A ideia imanente à obra é que o tipo de cortes tarifários propostos nas negociações atuais de Acesso ao Mercado Não-Agrícola (Non-Agricultural Market Access – NAMA), no âmbito da OMC, danificará o desenvolvimento futuro dos países em desenvolvimento, condenando-os ao eterno subdesenvolvimento e à eterna pobreza. Por isso, os países em desenvolvimento precisam combater as propostas do NAMA como se o futuro dependesse disso. O livro, de mais de 100 páginas, conta com uma rica bibliografia em inglês (livros, capítulos de livros, artigos em revistas especializadas) e está dividido em 5 partes.
Na primeira parte, Introdução: NAMA – O perigo subestimado, destaca que as negociações de NAMA terão maior impacto que as trocas agrícolas e, portanto, os países em desenvolvimento devem estar conscientes do perigo potencial para o desenvolvimento futuro. A nova rodada de diminuição das tarifas industriais ganha relevância porque: i) os cortes principais serão feitos por países em desenvolvimento de renda média; ii) a ampla gama de ferramentas políticas diminuiu nos últimos vinte anos, aumentando a importância relativa das tarifas como uma ferramenta política; iii) as tarifas industriais deverão ser cortadas acentuadamente, ao passo que a redução das tarifas agrícolas será menos draconiana; iv) os cortes propostos não têm precedentes históricos (relembrando os dias de colonialismo e de tratamentos desiguais) e as tarifas já são bem menores que as que prevaleceram nos países desenvolvidos até os anos 1970. Na segunda parte, Tarifa e teoria do desenvolvimento econômico, defende que as “indústrias nascentes”, em vez de subsídios, restringidos pela falta de recursos e pela OMC, necessitam de proteção tarifária “até que elas passem por um período de ‘aprender’ e tornem-se capazes de competir com os produtores dos países mais avançados” (p. 11). Até a Segunda Guerra Mundial, em função dos recursos orçamentários apertados, das limitações nas decisões de investimentos, da ausência de regulação industrial e de um Banco Central, as tarifas foram um instrumento importante ao desenvolvimento industrial para os países desenvolvidos de hoje. As tarifas tornaram-se menos importantes para os países desenvolvidos depois da Segunda Guerra Mundial “porque uma gama muito ampla de ferramentas políticas tornou-se disponível e porque houve maior espaço político para usá-las, comparado aos períodos anteriores e posteriores” (p. 21). Durante os anos 1980, com a ascensão da ideologia monetarista e neoliberal, os países desenvolvidos forçam os países em desenvolvimento a cortar subsídios, a privatizar as empresas industriais, de modo que “as tarifas são agora a única principal ferramenta de proteção industrial que restou aos países em desenvolvimento” (p. 24). A teoria comercial padrão que dá base ao NAMA está baseada em suposições irrealistas de mercados perfeitos e do livre comércio. Os cortes tarifários propostos no NAMA podem danificar o desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, trarão poucos benefícios, possivelmente de 0,1% a não mais que 1% da renda mundial. Em Tarifa e desenvolvimento econômico – evidência, terceira parte, fundamentado em evidências históricas e contemporâneas, desmonta o discurso que relaciona laissez-faire e desenvolvimento econômico dos países desenvolvidos, ao mostrar que Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Japão, entre outros, utilizaram inúmeras medidas visando à industrialização que hoje eles pregam como “ruins” para os países em desenvolvimento, dentre elas as imposições tarifárias, as restrições comerciais, os subsídios à exportação, a restituição tarifária sobre insumos intermediários e a constituição de empresas público-privadas. É incisivo ao afirmar que os países desenvolvidos nunca praticaram o que eles agora pregam aos países em desenvolvimento em termos de política comercial. Nos primeiros dias de suas industrializações, esses países usaram inúmeras medidas protecionistas e intervencionistas (especialmente tarifas) para promover suas indústrias (p. 34). Apesar da falta de articulação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento como oriundos de um mesmo processo, destaca três fases perseguidas pelos países em desenvolvimento. Na primeira, quando da condição de colônias, sob a prevalência do imperialismo e de tratados desiguais, o crescimento econômico e da renda foi irrisório. Na segunda, depois da Segunda Guerra Mundial, momento de autonomia política e do Estado atuando como demiurgo na industrialização, os países em desenvolvimento conseguiram os maiores percentuais de crescimento do PIB e da renda. Finalmente, a partir dos anos 1980, com a crise econômica e a ascensão dos ideais neoliberais, os países em desenvolvimento foram forçados, pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), a adotar políticas de liberalização econômica e de privatização que culminaram num retrocesso aos avanços dos anos de proteção estatal. Com isso, defende a rejeição da suposição que dá base às negociações do NAMA, “que afirma que as tarifas e outras formas de proteção comercial são más para o crescimento dos países em desenvolvimento” (p. 89). Na quarta parte, De volta ao NAMA: Os princípios atrás do NAMA (e da OMC) e por que eles estão errados, examina criticamente os princípios que governam o processo de negociações do NAMA. O primeiro dos princípios, o campo de batalha nivelado, corresponde à remoção das “vantagens injustas” dos países em desenvolvimento vis-à-vis países desenvolvidos, como altas tarifas, proteção mais fraca aos direitos de propriedade intelectual e maiores restrições aos investimentos diretos. Porém, argumenta que não é possível nivelar jogadores desiguais. O segundo princípio, tratamento diferencial e especial, é criticado porque, em vez de especiais, as altas tarifas e outros meios de proteção são “apenas tratamentos diferentes para países com necessidades e capacidades diferentes” (p. 93). O terceiro, reciprocidade menos que completa, argumento de que aos países em desenvolvimento será permitido cortes menores de tarifas, é enganoso pelo fato dos cortes proporcionais e os impactos serem maiores vis-à-vis países desenvolvidos. O quarto e último princípio, flexibilidade, é a idéia que alguns setores chaves poderão ser removidos dos compromissos de abertura no NAMA. Porém, o perigo é que, para os setores liberalizados, não haverá mais volta como no passado. Finalmente, na quinta parte, intitulada Conclusão: O direito a um futuro, diante da possibilidade de os cortes tarifários propostos no NAMA danificarem o futuro dos países em desenvolvimento, afirmar que “se os países desenvolvidos têm o direito de proteger seus passados através de subsídios e da proteção agrícola, os países em desenvolvimento têm o direito de construir um novo futuro através de subsídios e proteção industrial” (p. 102). Os argumentos contra o uso da proteção e dos subsídios “podem ser compreendidos como uma outra arma no arsenal dos países ricos para ‘chutar a escada’ dos países em desenvolvimento” (p. 103). A fim de evitar um aprofundamento do abismo entre os que têm e os que não têm, advoga em favor da necessidade de maiores espaços políticos para os países em desenvolvimento para que eles possam conseguir o que é bom para eles e, em sua opinião, uma suspensão imediata das negociações do NAMA seria um bom começo. Essa obra é de fácil leitura e contém muitas informações e evidências históricas sobre as políticas pró-desenvolvimento de países desenvolvidos e em desenvolvimento. O autor desvenda os reais interesses dos países desenvolvidos nas rodadas da OMC visando à redução das barreiras comerciais e mostra a importância de não ceder ao NAMA. Num momento de incertezas e de forte pressão para, em vez de aumento das restrições tarifárias, uma liberalização comercial com o fito de amenizar as consequências da crise financeira, geógrafos, economistas, cientistas políticos, dentre outros, precisam alertar sobre os riscos da maior abertura econômica, sobre os prováveis interesses dos países desenvolvidos e sobre a falta de relação entre o discurso liberal e os fatos históricos.
Leandro Bruno Santos – Doutorando em Geografia pela Universidade Estadual Paulista.
Teoria da História (v.3) História Viva: formas e funções do conhecimento histórico | Jörn Rüsen
 Retrato de Jörn Rüsen/What is Metahistory/vimeo.com/2020.
Retrato de Jörn Rüsen/What is Metahistory/vimeo.com/2020.
RÜSEN, Jörn. História Viva: teoria da história - Formas e funções do conhecimento histórico. Tradução de Estevão de Rezende Martins. Brasília: Editora UNB, 2007, 159p. Resenha de: ROCHA, Sabrina Magalhães.[1] História da Historiografia. Ouro Preto, n.1, ago. 2008.
História Viva: teoria da história: formas e funções do conhecimento histórico é a mais recente publicação brasileira da obra do historiador alemão Jörn Rüsen.
Lançada pela editora da Universidade de Brasília e traduzida pelo professor Estevão de Rezende Martins em 2007, essa obra corresponde ao último volume da trilogia intitulada Teoria da História, cujos dois primeiros volumes se encontram publicados pela mesma editora. Trata-se, certamente, de uma importante publicação que viabiliza ao leitor brasileiro o contato com a reflexão desse importante historiador, ainda pouco conhecido nos círculos acadêmicos nacionais.
Sua significação se revela também na medida em que a obra preenche um espaço importante no que se refere à discussão teórica sobre o conhecimento histórico, contribuindo para minorar essa grande lacuna em nosso mercado editorial.
Configurando-se, portanto, como último volume de uma trilogia, essa obra conclui a reflexão que Jörn Rüsen vinha desenvolvendo nos dois números anteriores: Razão Histórica e Reconstrução do Passado. Compreendida nesse sentido, a obra pode ser considerada como parte de um sistema. Contudo, e embora guarde uma conexão íntima com os volumes anteriores, História Viva pode ser apreendida isoladamente, tendo em vista que se dedica a refletir com profundidade sobre dois pontos específicos desse sistema mais amplo. Essa questão que se está tratando como um “sistema” da trilogia de Rüsen refere-se à reflexão, pela perspectiva da teoria da história, sobre a matriz disciplinar da ciência da história. Nesse sentido, enquanto nos volumes anteriores se trata de idéias e métodos, nesse terceiro a reflexão é dedicada às formas e funções do conhecimento histórico.
A perspectiva central da obra de Rüsen é refletir sobre o conhecimento histórico a partir da teoria da história, ou, em seus próprios termos, entender a teoria da história como autocompreensão da ciência da história. Trata-se de uma produção situada em um contexto de retomada das discussões teóricas acerca do conhecimento histórico. Rüsen faz parte de um conjunto de pensadores contemporâneos, como Reinhart Koselleck, Hayden White, Michel Foucault, François Hartog, Frank Ankersmit, dentre muitos outros, que, especialmente a partir da segunda metade do século XX, defrontou-se com os desafios impostos pelas novas configurações nas esferas econômica e política, e, por sua vez, com a crise de paradigmas nas ciências humanas e sociais. Tratava-se de conjunturas originais que transmitiram suas incertezas para o âmbito do conhecimento histórico, colocando-lhe questões relativas à sua fundamentação, seu estatuto de cientificidade, sua relação com as artes. Configurou-se, portanto, um quadro que demandava reflexões teóricas, mas não mais nos moldes dos grandes modelos explicativos elaborados no século XIX. A teoria será revestida por outras formas, as respostas oferecidas não serão sistemáticas, unívocas ou finalistas, mas múltiplas, e, em grande medida, fragmentárias.
Partindo desse contexto, pode-se compreender o desejo de Rüsen de entender a teoria da história como autocompreensão da ciência histórica, como sua resposta, sua formulação particular. Formulação essa que se desenvolve a partir da argumentação de que a história continua sendo um conhecimento, uma disciplina científica, ainda que uma ciência formatada por uma racionalidade particular. Esse será, portanto, o pressuposto básico que perpassa os três volumes de sua obra. Em História Viva, o autor aborda as formas e funções do conhecimento histórico, ou, a historiografia e a formação histórica, procurando pensá-las a partir da própria cientificidade da história. A tese desenvolvida aqui é que mesmo nesses dois âmbitos, constantemente tratados como acessórios, como externos, se revela a racionalidade do conhecimento histórico, a história enquanto uma ciência. Sobretudo, esses dois aspectos, historiografia e formação histórica, são partes constituintes dessa racionalidade, momentos da investigação nos quais o saber histórico efetivamente se completa; como o próprio autor insinua no título da obra, se torna vivo.
No primeiro capítulo, “Tópica: formas da historiografia”, Rüsen reflete sobre a formatação historiográfica do conhecimento histórico, sobre a escrita da história propriamente dita, sua constituição em uma narrativa. Partindo da elaboração de uma diferenciação entre pesquisa histórica e historiografia, demonstra-se como essas duas operações, apesar de distintas, guardam conexões entre si e se constituem em operações científicas. Uma das principais singularidades dessa análise, portanto, é a atribuição de estatuto de cientificidade também ao procedimento de escrita da história. Na construção de Rüsen esse argumento justifica-se na medida em que reconhece a interpretação como uma operação cognitiva da pesquisa. Nesse sentido, é a pesquisa que revela um sentido narrativo à historiografia, e não essa que lhe impõe tal característica.
Há aqui o pressuposto de uma organização do real preexistente, um sentido que não deve ser imputado, mas apreendido pelo pesquisador. Rüsen afirma que a historiografia não deve criar, mas “rememorar sentido”.
Compreendendo pesquisa e historiografia como racionalidades, Rüsen associa a primeira a uma função cognitiva e a segunda a uma função comunicativa, desenvolvendo um raciocínio kantiano. A historiografia, através dos procedimentos da estética e da retórica, transmite a “razão pura”, a análise teórica obtida pela pesquisa, a uma “razão prática”, que se relaciona diretamente com as formas de vida. Pesquisa e historiografia seriam, portanto, processos da constituição narrativa de sentido. Propõe-se então que essa constituição pode ser configurada em uma tipologia, apresentando assim quatro topoi: o primeiro, o tradicional, volta-se para as origens, tendo a interpretação da experiência do tempo determinada pela categoria continuidade; o segundo, o exemplar, é um topos cujas determinações de sentido são mais abstratas que no topos tradicional, refere-se às formatações historiográficas no modelo da historia magistra vitae, em que as expectativas são orientadas pelas experiências; já o terceiro, o topos crítico, seria aquele que esvazia os modelos de interpretação histórica dominantes, problematiza-os, desestabiliza-os, representa a ruptura da continuidade; por fim, o topos genético refere-se à interpretação da experiência do tempo em que o foco central é a própria mudança temporal, sendo marcado por categorias como “processo”, “progresso”, “evolução”, “revolução”.
Esses tipos não seriam formas puras já que estariam sempre articulados uns com os outros em contextos complexos, em grande medida contextos de tensão. Para o autor, essa seria uma tensão responsável por conferir à historiografia uma historicidade interna própria. Tal afirmação parece-nos ser um dos pontos menos seguros da obra ou, pelo menos, pouco esclarecido. Ao afirmar que a tensão entre os tipos dota a historiografia de historicidade, Rüsen está concebendo-os em uma perspectiva de epocalidade, de sucessão temporal.
Poder-se-ia vislumbrar em sua elaboração até mesmo uma perspectiva evolutiva, em que o topos genético supera, em um sentido hegeliano, os demais. Ao que nos parece, tal abordagem da história da historiografia demanda alguns cuidados, especialmente pelo fato de que ao se trabalhar com uma perspectiva evolutiva corre-se o risco de não historicizar devidamente o objeto. Contudo, como se disse, essa é uma questão que parece passar pela obra de forma um pouco obscura, especialmente porque a própria construção em tipos ideais parece apontar não para a sucessão, mas para a convivência entre os quatro topos.
Uma outra questão que se pode colocar a essa tipologia refere-se a sua operacionalidade. Certamente, essa não é a preocupação central de Rüsen; mas se trata de uma questão relevante, especialmente para aqueles que se dedicam à história do conhecimento histórico. Rüsen constrói uma análise sofisticada teoricamente e em muitos pontos esclarecedora, contudo, podermos nos interrogar sobre sua utilização como ferramenta teórica, como categoria que auxilia e viabiliza a compreensão histórica da historiografia. Ao que nos parece, a tipologia construída pelo autor coloca alguns problemas ao historiador, especialmente por minimizar as relações das formatações historiográficas com seus contextos de produção. Uma possível aplicação direta dessa formulação incorreria, portanto, no risco de apagar o caráter propriamente histórico da historiografia. No entanto, esse é um risco apresentado por quaisquer categorizações, no qual por vezes é produtivo incorrer a fim de se buscar aspectos poucos iluminados por uma análise mais particularista. Nesse sentido, pode-se compreender que a construção de Rüsen poderia sim se prestar como um importante instrumento teórico de análise para a história da historiografia, desde que conjugada com esse olhar mais “individualizante”.
Já o segundo e último capítulo, “Didática: funções do saber histórico”, tem como tema central a práxis como fator determinante da ciência histórica. Nesse sentido, Rüsen se propõe a elaborar os pontos da didática da história que são relevantes para a teoria da história, compreendendo tanto a historiografia quanto o aprendizado como operações constitutivas da ciência histórica. Rüsen defende que o pensamento histórico só se “forma” plenamente quando se relaciona diretamente ao todo, ao agir e ao eu de seus sujeitos. A formação histórica representa, então, o conjunto de competências de interpretação do mundo e de si próprio, articulando orientação do agir com autoconhecimento. Em outros termos, formação histórica seria a capacidade de constituir sentido narrativamente, uma capacidade que não é inata, que requer aprendizado.
Parece se processar, assim, um salto quanto ao capítulo anterior no que se refere à constituição narrativa de sentido. Como se analisou, o autor coloca à historiografia o papel de “rememorar” um sentido pré-existente no real e que se revela através da pesquisa histórica. Tratando da formação histórica, a operação parece ser invertida. Rüsen defende que é importante conhecer essa construção que denomina de “história objetiva”, mas que os sujeitos não se constituiriam se aprendessem somente ela. É necessário possuir a própria capacidade de constituir sentido, apropriar subjetivamente esse aprendizado histórico objetivo, e, logo, imputar-lhe novos sentidos. A formação histórica cumpre assim uma função de orientação cultural, na medida em que viabiliza a consciência da própria relatividade histórica e da dinâmica temporal interna da relatividade histórica. Nas palavras de Rüsen, viabilizando o autoconhecimento e a orientação para o agir, ela abre uma chance para a liberdade.
Expressos esses pontos, faz-se necessário retornar à questão inicial de Rüsen: “o saber histórico pode ser utilizado na prática sem perder sua cientificidade?” Sua resposta passa pela própria fundamentação da formação histórica. Rüsen afirma que quando se completa, quando está “formado”, o saber histórico dos sujeitos estabelece um equilíbrio argumentativo entre o relacionamento com a experiência e o relacionamento com o sujeito, correspondente, portanto, ao nível argumentativo da história como ciência. É interessante observar que mesmo construindo um “sistema” que busca afirmar a história como uma disciplina científica, Rüsen argumenta contrariamente ao excesso de especialização e de metodologização da ciência histórica, afirmando que esse caminho a desvincularia de sua função e de sua própria fundamentação, qual seja, a relação, o contato com a práxis, com a experiência.
O autor conclui sua obra remetendo-se à relação entre história e utopia e argumentando que se pode visualizar em ambas um superávit de expectativas, a vontade humana de querer ser outro. Contudo, entre elas há a diferença substancial de que a história não ficcionaliza o real como a utopia, mas historicizao, logo, o desejo de mudança, de transcendência, aparece como possível, esperável, pois é fundado na experiência. Com isso, podemos também concluir retomando a tese que perpassa toda a obra e também se revela nessa construção história-utopia. Todo o esforço de Rüsen pode ser compreendido a partir de seu anseio em demonstrar que a história é uma disciplina científica, com uma racionalidade particular, que tem como princípio e como fim a relação com a experiência, com a práxis. Utilizando a teoria da história como autocompreensão da ciência histórica, essa se revela, então, como uma disciplina científica, mas em íntima relação com a experiência histórica, que emerge de seus anseios e tem como função responder a eles.
[1] Mestranda em História Universidade Federal de Ouro Preto Rua Prefeito João Sampaio, 80 - São Gonçalo Mariana - MG 35420-000.
Foucault: sa pensée, sa personne – VEYNE (HH)
 VEYNE, Paul. Foucault: sa pensée, sa personne. Paris: Albin Michel, 2008, 214 pp. Resenha de: JOANILHO, André Luiz.[1] História da Historiografia. Ouro Preto, n.2, ago. 2008.
VEYNE, Paul. Foucault: sa pensée, sa personne. Paris: Albin Michel, 2008, 214 pp. Resenha de: JOANILHO, André Luiz.[1] História da Historiografia. Ouro Preto, n.2, ago. 2008.
“Mamãe, o quê um peixe pensa?” (p. 209) –, Foucault estava ao mesmo tempo dentro e fora do aquário. Um ser duplo que observa os peixes, mas é também o próprio peixe que observa, sem nenhum temor, pois não tinha o medo da morte (p. 210) ou do seu próprio aniquilamento. Seus textos o construíam de modo sempre provisório: “o que escrevi não me interessa mais. O que me interessa é o que poderei escrever e o que poderei fazer” (196).
Digamos que dessa forma ele ocupa um não-lugar. Não está onde esperamos encontrá-lo, a sua identidade foi dissolvida nas formas discursivas que constituem as inumeráveis verdades sobre as coisas.
Talvez um dia tenhamos os foucaultianos de direta e de esquerda. Aqueles que buscam a negação do indivíduo e aqueles que querem a “desrepressão” da sociedade. Foucault nunca procurou tornar seus escritos em panfletos. Ele foi um observador apanhado pelas turbas intelectuais ávidas de teorias mais “verdadeiras” que as anteriores que haviam morrido por tédio. Desejam encontrar o verdadeiro caminho para o futuro, mas não há nada em Foucault sobre isso.
Ele observava e poderia dizer: “bom, nada do que acreditamos hoje restará no futuro”, pois “é preciso que nos habituemos à idéia de que nossas caras convicções do presente não serão aquelas do amanhã” (p. 64).
Em contrapartida deveríamos então a nos ater ao nada, pois “se pode apostar que o homem se desvaneceria, como, na orla do mar, um rosto na areia.” (Foucault. PC, 404)? Ele, enfim, seria o niilista que nada deseja a não ser o nada? Ao contrário. Para Paul Veyne, Foucault não destruiu a verdade sobre o ser, sobre o mundo, ele simplesmente esgrimava palavras como um samurai/ peixe num cemitério de verdades eternas que morreram por abandono. Às vezes se permitia fazer exumações, mas, ao contrário do que se desejava, não para trazer de volta algo que tinha partido, e sim para descrever melhor a verdade morta. Um arqueólogo à moda antiga. Verdades efêmeras que duraram menos de duzentos anos com relação aos loucos. Outras também efêmeras sobre a punição. Outras que evanesceram rapidamente sobre as sexualidades.
E conseqüentemente as nossas próprias não são tão permanentes. “O passado antigo ou recente da humanidade é apenas um vasto cemitério de grandes verdades mortas” (Paul Veyne, 2008, p. 24) A arte da exumação não fazia dele um pós-moderno, pois lhe escapava o sentido dado aos textos pela livre interpretação, mas também não era um “pré-moderno” (Ibid., p. 53), desejando o retorno de uma totalidade perdida.
Vários foucaultianos (este termo que faria rir Foucault) encontram nele os discursos da pós-modernidade: dissolução dos sujeitos, não há verdade, só há discursos e, portanto, só interpretações. Outros, ao contrário, viram nele o arguto crítico da última ratio do poder, a singularidade do indivíduo. Nem um, nem outro. “Não, não, não estou onde achas, mas aqui, onde, rindo, posso te olhar.” (Certeau, 1987, p. 51) Nossa insistência em decretar que o que temos hoje é eterno e se fez sobre os erros do passado impediu muitas vezes de perceber as questões que emergiam nos textos de Michel Foucault. Por exemplo, “não se acha em lugar algum a sexualidade ‘em estado selvagem’” (Veyne, 2008, p.75) que o tempo e a história tratariam de depurar, civilizar, até os dias atuais. As verdades emergem das práticas e também através delas esvaecem. Logo, toda verdade é provisória. Não, ela não é relativa, é provisória, verdadeira, mas local. Não se estende ao longo do tempo, não é um pedaço da Verdade, não é uma má compreensão, nem engano, é só uma verdade provisória e local.
Aprendemos, com Paul Veyne, que a genealogia é a arte do detalhe, por isso não permite totalizações (Ibid., p. 127) e, portanto, teorizações. Antes de tudo, Foucault é um detalhista, um curioso de laboratório que devota tudo o que aprendeu numa pesquisa singular e, por isso, não desejoso de universalização. O projeto genealógico não pretende explicações universais.
Mais além, sua explicação é falha, porque não propõe uma teoria sobre o todo, a respeito do ser, mas sobre o singular, sobre as práticas que estabeleceram a loucura no século XVI, ou sobre a punição no século XIX. Não almeja a verdade de uma época, mas modos de funcionamento de determinadas práticas nos seus detalhes.
Ele não tratou do Zeitgeist em diferentes sociedades e períodos, mas de como se conjugaram práticas em torno do sexo ou do preso. E estes termos não se referem a entidades que atravessam o tempo, são práticas que constituíram localmente o que as pessoas entendiam por estas coisas.
Foucault “não era nenhum pouco relativista, historicista, ele não via ideologia por toda parte” (Ibid, p. 9), “…ele pretendia somente uma cientificidade e verdades empíricas e perpetuamente provisórias.” (Ibid., p.130). Daí o equívoco em desejar dele uma história totalizante ou julgá-lo a partir desta perspectiva, como muitos historiadores o fizeram, pois não: estavam nada dispostos a se abrirem a outro questionamento, aquele que seria de um filósofo em obras que mal compreendiam e que eram, de fato, ainda mais difíceis para eles do que para outros leitores, porque eles não podiam as ler senão em relação à sua própria estrutura metodológica (Ibid., p. 37).
Daí a acusação fácil da imprecisão das datas na obra de Foucault ou de desconsideração de determinados documentos, relevando outros.
Evidentemente se aguardamos a precisão do historiador, ficaremos frustrados.
Ele não se prestava a este tipo, mesmo porque, não havia universais. São dois procedimentos, do inquiridor e do viajante. O inquiridor tem em mente a verdade, o viajante só tem a curiosidade de ver como funcionam as coisas. Afinal, “Foucault escreve que ele não faz nada além do que contar histórias.” (Certeau, 1987, p. 49).
Então, o método também é local. Uma espécie de positividade do tipo: o que isto quer dizer exatamente. Bem longe da virada lingüística dos anos sessenta, nada de pós-modernidade, “o método fundamental de Foucault é compreender exatamente o que o autor do texto quis dizer no seu tempo” (Veyne, 2008, p. 27). Este método escapa ao relativismo e à pura interpretação.
As objetivações de determinados objetos numa época não são interpretações e a verdade uma quimera. Acredita-se no que se faz como se tem a certeza de que o fogo queima. Porém, como foi dito, o que se faz é sempre uma singularidade e não está em relação à outra como se fosse possível afinar a pontaria para atingir finalmente o alvo.
O poder, para ele, por exemplo, não é algo que se possui, não é algo que está num lugar específico, apesar das arquiteturas que o acomodam. Ele é relacional e capilar. Não está num centro e emana suas teias até as periferias.
Para Foucault ele não é radial. Ele se dá nas relações mais comezinhas: professor/ aluno, carcereiro/presidiário, pais/filhos. Porém, um equívoco comum é transplantar para a capilaridade o antigo modelo do poder: a relação simples de mando e obediência. Não, não é este o sentido. Foucault não descobriu que o poder central contaminou todo o tecido social, colocando sempre alguém numa posição de força sobre outra pessoa. Ele é relacional, portanto, forças são exercidas em vários sentidos. Se um professor “pode”, os alunos também. Pois o que regula essas relações não é a dessimetria, mas a capacidade de normatizar o outro. O professor normatiza os alunos que normatizam o professor. Um comportamento é requerido dos alunos pelo comportamento do professor que, por sua vez, não é simplesmente opressivo ou repressivo, mas algo que faz funcionar. Poderíamos então dizer que a sedução é uma forma de poder, e quem já se recusou a este tipo de relação? Como xamãs, exorcizamos os nossos maus espíritos naquilo que entendemos por poder. Ele é ruim, mau por si próprio, ou ainda, é nele que encontramos todos os males do mundo. Livremonos do poder e teremos o paraíso.
No entanto, Veyne nos mostra um autor que não quer salvar o mundo, resolver os problemas humanos, mesmo porque ele é o observador que está fora/dentro do aquário: “o papel de um intelectual é arruinar as evidências, dissipar as familiaridades adquiridas; não é modelar a vontade política dos outros, de lhes dizer o que têm a fazer. Qual é o seu direito de fazê-lo?” (Veyne, 2008, p. 178). Antes de ser um historiador do corpo, do discurso, do poder, da sexualidade, da disciplina, ele é um filósofo da liberdade, mas não daquela que seria a da sociedade e do indivíduo face às formas de opressão, mas de uma que seria a da ontologia e do ser.
Mais uma vez, Paul Veyne nos lega uma obra valiosa para compreender este pensador que no fim queria falar apenas da estética da vida (Ibid, p. 156).
Parece que não podia simplesmente falar das formas de subjetivação do indivíduo sem ter de sempre desenhar um rosto de areia na linha de arrebentação. Foucault, sa pensée, sa personne é um livro indispensável para quem quiser compreender este pensador e sua obra.
Referências
CERTEAU, Michel. Histoire et psychanalyse entre science ET fiction. Paris : Gallimard, 1987.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1981.
VEYNE, Paul. Foucault, sa pensée, sa persone. Paris: Albin Michel, 2008.
[1] Professor Adjunto Universidade Estadual de Londrina (UEL) al.joanilho@uol.com.br Rua Espírito Santo, 1833/73 Londrina – PR 86020420.
Las dificultades con la filosofía de la historia – MARQUARD (HH)
 MARQUARD, Odo. Las dificultades con la filosofía de la historia. Valencia: Pre- Textos, 2007, 268pp. Resenha de: MATA, Sérgio da.[1] História da Historiografia, Ouro Preto, n.1, ago. 2008.
MARQUARD, Odo. Las dificultades con la filosofía de la historia. Valencia: Pre- Textos, 2007, 268pp. Resenha de: MATA, Sérgio da.[1] História da Historiografia, Ouro Preto, n.1, ago. 2008.
MARQUARD Odo (Aut), Las dificultades con la filosofía de la historia (T), Pre- Textos (E)
O famoso dito de Madame de Staël sobre aquele “povo de poetas e pensadores” encerra uma meia verdade. A metade falsa é a que diz respeito aos poetas. Lembro-me de uma cena que tive a oportunidade de acompanhar pela televisão há alguns anos atrás: o velho Habermas, quando do recebimento do Prêmio da Câmara do Livro alemã, discursando longamente para uma platéia em que estavam o então chanceler Schröder e todo o primeiro escalão do governo social-democrata. Essa gente leva os filósofos a sério.
Na medida em que o pensamento filosófico alemão sempre levou a história – embora nem sempre os historiadores – a sério, não faz qualquer sentido persistir naquela tola cesura, outrora defendida por um Fustel de Coulanges, de que “há história, e há filosofia. Mas não há filosofia da história”. Esta fórmula traduz uma forma de escapismo não de todo incomum no meio historiográfico, tendo ainda a grande desvantagem de tornar o historiador cego para as inúmeras modalidades de filosofia da história existentes. Especialmente quando, sem se dar conta, partilha de uma delas.
Se a crítica da filosofia da história ao longo do XIX deve muito ao historicismo, a da segunda metade do século XX se confunde com a (embora não se reduza à) crítica do marxismo. O curioso é que quanto mais a trajetória dos novecentos desmentia as previsões catastrofistas/utópicas dos marxismos de todas as colorações, mais espaço se lhe concedia no debate intelectual, na imprensa, na academia. A filosofia da história não é apenas um fenômeno recorrente e persistente; seus postulados por vezes mostram-se impermeáveis ao mais flagrante desmentido dos fatos. Tal fenômeno, convenhamos, dá o que pensar. Odo Marquard foi um dos que tentou explicar o porquê disso.
Nascido em 1928, Marquard cedo se afastou das duas tendências dominantes da filosofia alemã no pós-1945. Aos 21 anos, na companhia de seu amigo Hermann Lübbe e outros, foi a Freiburg, onde, segundo disse mais tarde, “todos acreditavam em Heidegger”. Lá, se surpreendeu com a existência de pelo menos quatro “seitas” que reivindicavam para si o direito de representar o verdadeiro pensamento do autor de Ser e tempo. A forma pouco respeitosa com que Heidegger analisou uma seção da Crítica da Razão Pura o incomodou (Marquard, 1989). Interessou-se também pela obra de Marcuse, mas o maio de 1968 lhe abriu os olhos para as contradições internas do projeto teóricopolítico dos frankfurtianos. Desde então, ele diz ter se tornado uma espécie de “derrotista transcendental”. Como Lübbe, acabou se juntando ao grupo de Joachim Ritter na Universidade de Münster, tendo participado do gigantesco empreendimento que foi a publicação do Dicionário Histórico da Filosofia (treze volumes editados entre 1971 e 2007). Do aprendizado com Ritter, a quem reiteradamente se referiu como mestre, Marquard preservou tanto a liberalidade no diálogo com diferentes tradições filosóficas quanto – e isso me parece decisivo – a crítica da crítica à modernidade (Diersch, 2004). O pertencimento a este “terceiro partido”, o de Ritter, tão pouco conhecido fora da Alemanha, ajuda a explicar porque somente três décadas após a publicação do original o leitor de língua hispânica tem acesso às Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie.
Ademais, a derrocada do assim chamado “socialismo real” e a subseqüente crise das esquerdas ofereceu condições para que um autor assumidamente cético como Marquard se faça ouvir por um público mais amplo. O cético, diz ele, não é alguém que não tem uma posição, mas alguém com demasiadas posições. O cético se curva ante o fato de que “o homem é uma forma de vida que pende para discrepâncias de opinião” (p. 117). Ele nada tem em comum com o pessimista crônico, cuja inclinação pelas filosofias da história em nada difere da do otimista crônico. O cético torna-se particularmente apto a conviver com o que nosso autor acredita ser o traço fundamental da modernidade: o pluralismo. E a valer-se daquela figura de linguagem que é a preferida dos céticos, a ironia. Em março deste ano, por ocasião de sua condecoração pelo presidente Horst Köhler, declarou numa entrevista que “a filosofia deve ser de um tipo tal que pelo menos seu autor seja capaz de entendê-la”. Quisera ser esta a divisa de toda a filosofia.
O que este auto-denominado “beletrista transcendental” – Marquard é detentor, entre outros, dos prêmios “Sigmund Freud” de prosa científica e “Ernst Robert Curtius” pelo conjunto da obra ensaística – persegue em Las dificultades con la filosofía de la historia? O livro apareceu originalmente em 1973, como primeiro produto da sua transição do campo da estética e do estudo da obra de Kant, Schiller e Schelling para a filosofia da história propriamente dita. Seu projeto ali, ele o definiu como uma “filosofia da história da resignação da filosofia da história”, uma “teoria da decadência da teoria do progresso” (p. 28 e 164).
Mas esta filosofia é assumidamente uma crítica. Para tanto, Marquard se vale de uma vasta literatura e de uma perspicácia impressionante, bem como da antropologia filosófica, que ele demonstra – com minúcia de historiador – ser não apenas coeva, mas o oposto da filosofia da história. Daí que o livro seja dividido em duas seções. A primeira, denominada “preparativos para dizer adeus à filosofia da história”, e a segunda “preparativos para dizer adeus à crítica da antropologia”, cada uma contando três capítulos. Uma densa e provocativa introdução antecipa para o leitor as teses principais defendidas ao longo de livro. Sua sentença de abertura: “o filósofo da história limitou-se a transformar o mundo de diversas maneiras; agora se trata de deixá-lo em paz” (p. 19).
Isso poderia sugerir a defesa de um princípio de não-ação, e, portanto, conservadorismo. Marquard se defende dizendo que o ceticismo não se opõe ao interesse por um mundo melhor (como afirmou Horkheimer), “mas apenas às ilusões desse interesse” (p. 38).
O seu alvo não é apenas a filosofia da história em sua acepção dominante, mas também o que ele chama de as suas formas “tardias”: a hermenêutica, os surtos tipologizantes na historiografia e na sociologia, a psicanálise, o estruturalismo francês. Inegavelmente, adversários de peso. E, no entanto, o brilhantismo da crítica e a solidez dos argumentos, não bastasse a sofisticação estilística com que os constrói, fazem da leitura de Las dificultades con la filosofía de la historia um exercício de fruição intelectual e estética que é raro – bem raro – em obras desta natureza.
O escopo dos problemas tratados se amplia de maneira vertiginosa. Marquard nos revela as insuspeitas dívidas de Hegel em relação à filosofia transcendental; os resíduos de filosofia da história no pensamento de Freud; o surgimento surpreendente e algo paradoxal da noção de “tipo” nos últimos escritos de Dilthey; e ainda a história do conceito filosófico de antropologia desde fins de século XVIII. Mas pode-se dizer que o eixo do empreendimento crítico de Marquard se encontra nos ensaios Idealismo e teodicéia e Até que ponto pode ser irracional a filosofia da história? Em Idealismo e teodicéia o autor desenvolve uma sofisticada análise das origens religiosas da filosofia da história. Não ao modo de Karl Löwith, mas num sentido bem mais radical e, por assim dizer, específico. Ele parte da teologia. De fato, foram os teólogos os primeiros a atacar um elemento basilar do idealismo alemão, qual seja, a “tese da autonomia”. O idealismo postula a liberdade radical do homem, donde se conclui que deve ser o homem, não Deus, quem dirige o destino humano. A crítica do idealismo realizada por teólogos judeus, protestantes e católicos a partir da década de 1920 é, acima de tudo, a crítica da autonomia. Marquard acredita ser necessária uma defesa da tese da autonomia, “posto que a autonomia é o princípio da modernidade” e que “seu abandono implica geralmente na condenação do mundo moderno como decadência” (p. 187).
A questão de fundo é bastante antiga, e num certo sentido fora antecipada pelo gnosticismo. Agostinho tentara resolvê-la. Foi finalmente Leibniz, em 1710, que chegou à sua elaboração clássica: somente a autonomia do homem torna plausível a existência do mal no mundo, pois, do contrário, teríamos de atribuílo a Deus – eis aí o cerne do problema da teodicéia. Algo que o Corão exprime exemplarmente: “Deus não oprime os homens. Eles oprimem-se a si mesmos” (10:44). Marquard afirma que a teodicéia só se realiza integralmente no idealismo alemão e na tese, por este defendida, da liberdade radical do homem. O idealismo “salva” Deus da incômoda condição de responsável pelo mal que grassa no mundo. Se a configuração do idealismo deve ou não ser entendida à luz das teses de Koselleck sobre a patogênese do mundo burguês, é algo que não interessa diretamente a Marquard. O que ele busca, antes, é demonstrar a existência de uma outra conexão fundamental: a de que a filosofia da história moderna se origina da transformação da teodicéia tradicional em teodicéia idealista.
Será esse fardo, o da autonomia radical, demasiado pesado para o homem? De certo. Tanto Kant como Fichte e Schelling foram levados, posteriormente, a procurar forças que guiassem ou suportassem o homem em sua tarefa. Essas forças seriam a natureza e… o próprio Deus. O resultado, paradoxal (Marquard é um especialista na identificação de paradoxos), pode ser resumido assim: o idealismo prolonga a teodicéia, e, no entanto, “invoca a Deus ao mesmo tempo em que o faz irreal” (p. 70).
Pode parecer que tal problema nada diga respeito aos historiadores, mas pelo menos dois dos mais conhecidos dentre eles não viam as coisas desta forma. Droysen escreveu no prefácio ao segundo volume de sua história do helenismo que “a mais alta tarefa de nossa ciência é, efetivamente, a teodicéia”.
A julgar pelas últimas páginas de suas Reflexões sobre a história universal, Burckhardt tinha uma opinião semelhante. O ponto alto do seu livro é, na minha forma de entender, o ensaio Até que ponto pode ser irracional a filosofia da história? Como é do feitio do autor, o texto se desenvolve a partir de uma tese apresentada logo de início. A tese: “a filosofia da história é irracional ao menos quando em nome da emancipação preconiza o [seu] contrário e quando em nome da autonomia preconiza a heteronomia” (p. 75). Vejamos como ele a desenvolve e sustenta.
O advento da filosofia da história, que Marquard reconhece ter sido exemplarmente historiado por Koselleck, redefine a situação do homem. De marionete de Deus ele passa a artífice do mundo. À época de Leibniz predominava o otimismo metafísico, e Deus ainda podia ser absolvido. Na segunda metade do século XVIII, porém, este sistema é posto em questão.
Precisamente neste momento nasce a filosofia da história. E, em decorrência dela, chega-se a uma terrível questão. Sendo mal o mundo, ou Deus é mal ou… então Deus não existe. A única possibilidade de “salvar” Deus, isto é, de preservá-lo em sua absoluta pureza e bondade, é expulsá-lo de todos os assuntos humanos. Daí que o idealismo alemão seja, na prática, o que Marquard chama de um ateísmo ad maiorem Dei gloriam.
A filosofia da história seria uma continuação da tentativa de solução do problema da teodicéia, só que por outros meios. Para Marquard, a filosofia da história é “a realização plena da posição da autonomia [do homem]; sua missão é a da demonstração concreta da seguinte tese: o próprio ser humano faz seu mundo e numa tal medida que inclusive ali onde não há mais remédio senão aceitar o dado, isto pode explicar-se pelo fato de que ele simplesmente se esqueceu de que ele próprio era seu criador” (p. 80). O homem deve se lembrar ou ser lembrado da autonomia da qual havia se esquecido e consumá-la na forma de liberdade. O ônus desta liberdade está em que ele deve também assumir para si, e apenas para si, a razão de todo o mal. Ele, não Deus, é um “autor de atrocidades” (Täter von Untaten, no original).
Coisa estranha: este homem (como Dostoiévski já havia percebido), agora liberto e consciente de sua liberdade, não parece muito feliz com ela. Manifestase então o que Marquard julga ser uma disposição fundamental – antropológica, portanto – do homem: a da “arte de não ter sido”. Sob a égide da filosofia da história, o homem parece carecer de vontade de ser plenamente aquilo que ela lhe promete. Significa, na prática: alguém deve conduzir a história – e que não sejamos nós! Alguém ou algo, como o espírito universal, as classes sociais, etc. Dá-se o fenômeno sumamente interessante de que justamente as filosofias da história que emanciparam o homem passem a buscar, compulsivamente, um “outro ator”, o ator verdadeiro da história. Com este fim, acabam associando-se às filosofias da natureza, como se percebe em Schelling, em Marx, em Engels. Finalmente, essa busca por um “outro ator” acaba esbarrando, não raro, no terreno do qual a filosofia da história inicialmente pretendera se afastar, o da religião. Completa, assim, um giro de 360 graus.
Não é outro o caminho trilhado pelos Horkheimer e Benjamim tardios, fortemente marcados por preocupações de tipo teológico e messiânico. A autonomia do homem não tornou o mundo melhor. Esse “outro ator” desempenha a função de um álibi, de uma justificativa pelo nosso fracasso enquanto senhores dos destinos do mundo. Um álibi com diversas faces, como a natureza, o messias, até mesmo o inimigo de classe.
Enfim, o argumento de Marquard, construído com inegável brilhantismo e concisão, retorna à questão que dá nome ao capítulo. Em que reside a irracionalidade da filosofia da história? Nisto: no de defender, simultaneamente, uma tese (a da autonomia) e o seu contrário (a heteronomia).
Se eu pudesse fazer um reparo a este belo livro, seria um reparo de natureza puramente formal. A sua introdução deveria vir ao fim, na forma de uma conclusão. Pois muito do que ela antecipa, de maneira complexa e extremamente condensada, só se apreende após a leitura de todos os ensaios.
Ali, o autor mostra como extrai da crítica de Hans Blumenberg ao conceito de secularização a essência do seu empreendimento. Haveria uma relação direta entre teodicéia e filosofia da história. Esta não passaria de uma forma secularizada daquela. Para Marquard, “a filosofia da história não se define especificamente por sua modernidade”. Na verdade, postula ele, “a filosofia da história é a antimodernidade” (p. 25). Pois ela assenta no “mito da emancipação” e nada mais faz que trair-se a si mesma. Se a teodicéia culmina na eliminação de Deus, a filosofia da história culmina na eliminação do ser humano.
As aporias da filosofia da história levam-no a buscar o seu oposto, a antropologia filosófica. É no mínimo divertida a forma como ele demonstra em que medida tanto Dilthey como alguns dos discípulos de Heidegger (Löwith e Bollnow, entre outros) trilharam exatamente esse caminho (p. 146, 254-255).
Para Marquard, fique claro, não se trata de uma tentativa de superação, mas de diálogo. Poder-se-ia dizer que o cético, parafraseando aquele personagem de Guimarães Rosa, entende que uma filosofia, apenas, é muito pouco.
Há muitos filósofos amigos da história, mas bem poucos que sejam amigos dos historiadores. Marquard é um deles, e somente por esta razão já valeria à pena lê-lo. É bem verdade que, em outra ocasião, afirmou que “a história é algo demasiado importante para ser deixada apenas aos historiadores” (Marquard, 1986, p. 54). De acordo. Contudo, e para isso ele próprio chamou a atenção, sem a historiografia e as demais ciências empíricas da realidade – como as chamava Weber – a filosofia cede à tentação de encontrar em si mesma a única realidade que verdadeiramente conta (die Versuchung, die Philosophie zum einzigen Realitätsverhältnis zu machen). Sem a ciência histórica, tanto maiores as chances de que o discurso filosófico sobre a história manifeste essa forma peculiar de alienação que é a de enredar-se em si mesmo. Em entrevista reproduzida em seu último livro lançado na Alemanha, Marquard (2007, p. 20) sugere que a melhor forma de fuga do mundo se obtém por intermédio do sono, não da filosofia.
Bibliografia
DIRSCH, Felix. Konservativer Skeptiker zwischen Herkunft und Zukunft. Criticón, n. 181, p. 43-48, 2004.
MARQUARD, Odo. Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982.
_____. Apologie des Zufälligen. Stuttgart: Reclam, 1986.
_____. “Die verweigerte Bürgerlichkeit”. Frakfurter Allgemeine Zeitung, 23/ 09/1989.
_____. Skepsis in der Moderne. Stuttgart: Reclam, 2007.
[1] Professor do Departamento de História Universidade Federal de Ouro Preto Rua do Seminário, s/n – Centro Mariana – MG 35420-000.
Em busca da Idade Média: conversas com Jean- Maurice de Montremy | Jacques Le Goff
 LE GOFF, Jacques. Em busca da Idade Média: conversas com Jean- Maurice de Montremy. Tradução de Marcos de Castro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, 222p. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva.[1] História da Historiografia. Ouro Preto, n.2, ago, 2008.
LE GOFF, Jacques. Em busca da Idade Média: conversas com Jean- Maurice de Montremy. Tradução de Marcos de Castro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, 222p. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva.[1] História da Historiografia. Ouro Preto, n.2, ago, 2008.
Torna-se cada vez mais comum a apresentação de trajetórias acadêmicas e intelectuais em forma de testemunho, coletadas a partir de conversas e entrevistas, normalmente efetuadas quando o profissional está perto do final de sua carreira e se encontra em idade avançada, na qual a avaliação e organização da obra se evidenciam corriqueiramente.
Para Jacques Le Goff esse tipo de empreendimento já se tornou comum, uma vez que o têm praticado desde o final da década de 1970, devido ao sucesso da História das Mentalidades e do Imaginário. No entanto, enquanto as conversas e entrevistas concedidas nos anos de 1970 e 80 vislumbravam mais a atuação do autor e do grupo, ao qual faz parte até hoje, que é o da ‘terceira geração’ do movimento dos Annales na França, nas que tem oferecido nesta primeira década do século XXI, estas tem demarcado especificamente sua trajetória e produção intelectual. Leia Mais
História da Historiografia | UFOP | 2008
Mais uma revista acadêmica. Com a explosão do espaço virtual, não há como ignorar o resmungo de um leitor que constate, com o nascimento de mais uma publicação, o crescimento desmesurado do número de textos para conhecer e informações para assimilar. Portanto, considerando que a multiplicação de artigos científicos parece, em algumas ocasiões, uma perigosa metástase, há uma necessidade de se apresentar ao público, cuja atenção precisa ser valorizada.
Pensamos que parte da sensação de cansaço deve-se a uma evidência na realidade acadêmica brasileira: as revistas estão, em geral, atadas aos programas de pós-graduação; e os programas se estruturam em linhas de pesquisa que precisam ter sua produção contemplada. É justo e prático que assim seja, claro. Há, porém, um preço: a indefinição dos perfis e a dispersão da produção acadêmica. Para o pesquisador especializado – por vezes precocemente especializado – é extremamente difícil encontrar uma referência que lhe permita rastrear e colher os textos de sua bibliografia, sobretudo, aquela produzida no Brasil. É comum termos um interlocutor em nossa língua, quando nos imaginamos isolados em uma área de pesquisa ainda não consolidada.
A proposta de História da Historiografia (Ouro Preto, 2008-), portanto, não consiste em dispersar e fragmentar ainda mais a produção acadêmica, mas em oferecer um espaço de convergência da produção crescente, em volume e qualidade, no campo da teoria e história da historiografia – por isso a vocação interinstitucional da revista. Afinal, foi em uma série de encontros, ocorridos ao longo dos anos e em diferentes cidades do Brasil, que se percebeu que o olhar reflexivo sobre a Historiografia não é tão insólito quanto se poderia imaginar. Claro: esta atividade reflexiva se expressa de várias maneiras, seja por meio da filosofia da história mais tradicional, seja pelo que dela mais se espera, ou seja, ponderações epistemológicas sobre o ofício do historiador e sobre os diferentes modos de se escrever história ao longo do tempo, no Brasil e no Ocidente como um todo.
Afinal, da mesma maneira que criticaríamos uma formação musical que desprezasse Bach e Villa-Lobos, ou o escritor que desconhecesse Machado de Assis e Cervantes, os historiadores procuram cada vez mais perceber a importância da leitura aberta dos clássicos, além de compreender as transformações sofridas por seu ofício. Não se fará aqui uma história canônica. Os trabalhos que o leitor encontrará são tentativas de relembrar e elaborar as diferentes motivações que levaram os seres humanos a pensar e representar suas vidas historicamente. A História da Historiografia aqui debatida ultrapassa – embora não exclua – o debate historiográfico indispensável na discussão especializada e nos projetos de pesquisa; ela procurará, destarte, explorar a riqueza desse campo de pesquisa particular sem isolá-lo do conjunto maior do qual faz parte.
Periodicidade quadrimestral.
Acesso livre.
ISSN 1983-9928
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos



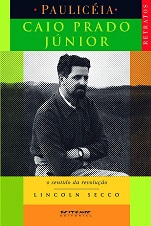 Lincoln Secco. Foto: Francisco Emolo
Lincoln Secco. Foto: Francisco Emolo
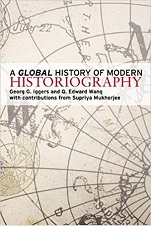


 René Gertz /ucsplay.ucs.br
René Gertz /ucsplay.ucs.br

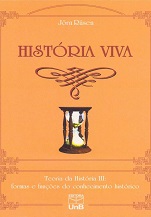 Retrato de Jörn Rüsen/What is Metahistory/vimeo.com/2020.
Retrato de Jörn Rüsen/What is Metahistory/vimeo.com/2020.


