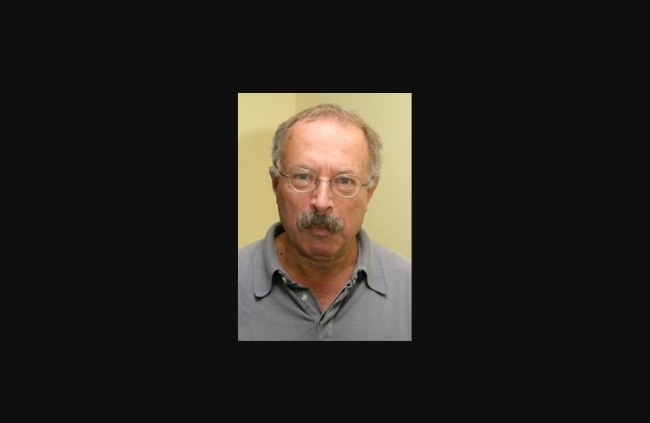Posts com a Tag ‘História da historiografia’
Independências: 200 anos de história e historiografia/Acervo/2022
Em 2022 completaram-se 200 anos da(s) Independência(s) do Brasil. Datas marcantes costumam ser oportunidades instigantes para comemoração e reflexão. Afinal, transformam-se em uma oportunidade para revisitar temas e renovar olhares, interpretações e abordagens sobre eles. No caso dessa efeméride, foi o que aconteceu, dentro e fora da academia. Teses e dissertações, exposições, livros, sítios eletrônicos, seminários e simpósios, textos e um sem-número de artigos científicos foram produzidos ao longo deste ano (e ainda deverão continuar a ser publicados nos próximos), trazendo à tona antigas questões, mas fornecendo novos encaminhamentos e novas roupagens. Leia Mais
A escola dos Annales (1929-1989): a revolução francesa da historiografia | Peter Burke
O escritor Peter Burke é um historiador inglês, que trabalha com história cultural na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, é doutor pela Universidade de Oxford. Exerceu o cargo de docente na área de História das ideias na School of European Studies, na Universidade de Essex, lecionou ainda nas universidades Sussex (1962), Princeton (1967) e realizou trabalho como professor visitante no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA – USP) (1994- 1995). É autor de diversas obras, por exemplo, O que é história cultural? A escrita da história: novas perspectivas; Testemunha ocular: o uso de imagens como evidência histórica, entre outras produções. Leia Mais
A ideia de História na Antiguidade Tardia | Margarida Maria Carvalho, José Glaydson Silva e Maria Aparecida Oliveira Silva
A ideia de história na Antiguidade tardia (Detalhe de capa)
Por ser tributária do presente e estar sujeita às características de seu próprio tempo, a História carrega consigo anseios e projetos sociais de futuro (Fontana, 1982). Como destacou Reinhart Koselleck (2006, p.306), as narrativas históricas estão situadas entre os espaços de experiências do passado e o horizonte de expectativas sobre o futuro. A produção histórica da Antiguidade Tardia, de certa forma, torna patente essas proposições, uma vez que resulta do contato entre a antiga tradição clássica com o novo horizonte social, político e religioso aberto pelo cristianismo. Como corolário, pode-se reconhecer, neste período, a coexistência (e eventual amálgama) de perspectivas cristãs e profanas sobre o tempo e a História, bem como as origens e projetos de futuro para os reinos formados sobre o território imperial romano. Oferecer uma leitura abrangente sobre a produção histórica da Antiguidade Tardia, portanto, constitui uma tarefa desafiadora e que não pode prescindir da colaboração de diversos/as estudiosos/as.
Organizado por Margarida Maria de Carvalho, Glaydson José da Silva e Maria Aparecida de Oliveira Silva, o livro A ideia de História na Antiguidade Tardia (2021) congrega dezoito capítulos lavrados por pesquisadoras e pesquisadores do Brasil e do exterior, e oferece uma aproximação atual e qualificada sobre a produção histórica no período tardo-antigo. Oportuna e pioneira, a referida coletânea se une às já conhecidas publicações brasileiras sobre historiografia antiga (BRANDÃO, 2001; JOLY, 2007; RAMALHO, 2013; SILVA & SILVA, 2017; FUNARI & GARRAFONI, 2016, entre outros) de modo a oferecer um volume abrangente e dedicado, em específico, às várias formas de História produzidas na Antiguidade Tardia. Leia Mais
Recorridos de la historia cultural en Colombia | Hernando Cepeda Sánches e Sebastián Vargas Álvarez
Hernando Cepeda Sánches e Sebastián Vargas Álvarez | Fotos: Universidad Nacional de Colombia e Universidad del Rosario
 Al compás de distintas herramientas analíticas, teóricas y metodológicas, y diferentes aproximaciones temáticas y disciplinares, este libro danza el vals de la historia cultural en los quince años del grupo de investigación interinstitucional Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones. En tal sentido, Recorridos de la historia cultural en Colombia, además de ser un balance de la producción académica de más de una década y media de este colectivo, es ante todo una apuesta por pensar la cultura como una categoría que, puesta en diálogo y tensión entre la historia y otros saberes, es capaz de problematizar la manera en que distintos sujetos históricos, con sus diferentes lugares de enunciación y agencias, dotan de sentido y significado a su realidad.
Al compás de distintas herramientas analíticas, teóricas y metodológicas, y diferentes aproximaciones temáticas y disciplinares, este libro danza el vals de la historia cultural en los quince años del grupo de investigación interinstitucional Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones. En tal sentido, Recorridos de la historia cultural en Colombia, además de ser un balance de la producción académica de más de una década y media de este colectivo, es ante todo una apuesta por pensar la cultura como una categoría que, puesta en diálogo y tensión entre la historia y otros saberes, es capaz de problematizar la manera en que distintos sujetos históricos, con sus diferentes lugares de enunciación y agencias, dotan de sentido y significado a su realidad.
Así, entendiendo la historia cultural como un “campo específico de los estudios históricos, interesados en comprender y explicar el lugar de producción de las nociones con las que los sujetos sociales explican su presencia en el mundo” (p. 15), el libro presenta una serie de textos que, desde variadas sensibilidades y rutinas de investigación, se aproximan a la historiografía cultural en Colombia. Arte, alimentación, bestialidad, ciudadanía, democracia, espacio público, memoria, nación, microhistoria y vida cotidiana, son algunos de los temas que derivan en valiosos aportes historiográficos. Leia Mais
Microhistorias | Giovanni Levi
Giovanni Levi | Foto: Universidad Austral de Chile
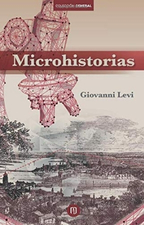 La publicación de la obra del destacado historiador italiano es un verdadero acierto editorial, entre otras razones porque Giovanni Levi ha sido ante todo un escritor de artículos de revista, siempre producto de investigaciones apoyadas en una cuidadosa consulta de archivo, pero no autor de libros, género del que solo se le conocen dos: Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna, de 1985, que nunca circuló en castellano, y La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del siglo xvii, también de 1985, traducido pronto a muchas lenguas, entre ellas al español en 1990. La publicación de esta colección de ensayos también es la ocasión para el lector de tener una perspectiva más equilibrada de la riqueza analítica de la llamada microstoria italiana, casi siempre reducida entre nosotros a una obra: El queso y los gusanos, el gran best-seller de Carlo Ginzburg de 1976, lo que significó una cierta distorsión en el conocimiento de esta importante corriente historiográfica, al reducirla a una de sus líneas, al tiempo que se empobreció la propia obra de Ginzburg, cuyos demás títulos permanecen más o menos ignorados.
La publicación de la obra del destacado historiador italiano es un verdadero acierto editorial, entre otras razones porque Giovanni Levi ha sido ante todo un escritor de artículos de revista, siempre producto de investigaciones apoyadas en una cuidadosa consulta de archivo, pero no autor de libros, género del que solo se le conocen dos: Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna, de 1985, que nunca circuló en castellano, y La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del siglo xvii, también de 1985, traducido pronto a muchas lenguas, entre ellas al español en 1990. La publicación de esta colección de ensayos también es la ocasión para el lector de tener una perspectiva más equilibrada de la riqueza analítica de la llamada microstoria italiana, casi siempre reducida entre nosotros a una obra: El queso y los gusanos, el gran best-seller de Carlo Ginzburg de 1976, lo que significó una cierta distorsión en el conocimiento de esta importante corriente historiográfica, al reducirla a una de sus líneas, al tiempo que se empobreció la propia obra de Ginzburg, cuyos demás títulos permanecen más o menos ignorados.
Microhistorias es una colección de veinte ensayos —cincuenta años de trabajo—, seleccionados por el propio Levi, reunidos en una excelente edición y con traducciones (del italiano, el francés y el inglés) que parecen muy correctas, y que dejan una imagen clara no solo de la historiografía italiana de los últimos cincuenta años, sino en gran parte de la historiografía internacional del siglo xx, y del propio recorrido intelectual de Giovanni Levy. Tal vez la gran dificultad de reseñar este volumen sea la de su amplitud temática y la riqueza de problemas que se examinan, tanto desde el punto de vista del enfoque “microanalítico” —término que también aparece en Levi—, como desde el punto de vista del “oficio de historiador”: el mundo de los archivos, el trabajo de las fuentes, la relación con las otras ciencias sociales, la primacía de los problemas y sobre todo de las preguntas sobre las técnicas, y las exigencias de claridad y precisión en la transmisión de los resultados de investigación al público lector. Leia Mais
Tendências Historiográficas na Revista Brasileira de História: 1981-2000 | Ricardo Marques de Mello
Os anos 1980 e 1990 são usualmente considerados momento de inflexão da historiografia em nosso país, com a falência das metanarrativas iluminista e marxista e das teses de longa duração. Ao promover diálogo interdisciplinar com a antropologia e a teoria literária, os historiadores brasileiros teriam propiciado a ascensão da micro história e da história cultural. Muitos se valeriam de novas fontes para meditar sobre representações, e privilegiariam recortes temporais recentes e recortes espaciais em território nacional, regionais ou locais. A mudança de bases teóricas, com inspiração na Nova História e em autores como Michel Foucault, Edward Thompson, Walter Benjamin e Clifford Geertz, alavancaria o enfoque de temas, objetos e sujeitos históricos até então apagados. Todavia, a apropriação superficial desses pensadores, somada à presença tímida, no Brasil, da produção e do conhecimento de obras de teoria, teria favorecido uma prática empirista da escrita da história.
À vista disso, seria possível determinar a validade destes pressupostos nas fontes da história da historiografia do período referido? Se sim, como? Se não, por quê? Poderiam os historiadores empregar estas formulações para definir tendências historiográficas estaticamente? Leia Mais
Uma introdução à história da Historiografia brasileira 1870-1970 / Thiago Nicodemo, Pedro Santos e Mateus de Faria
Thiago Lima Nicodemo / Foto: Jornal da Unicamp /
 O título é chamativo: Uma introdução à história da historiografia brasileira (1870-1970). O texto oscila entre o inventário das concepções de historiador ideal e a transmutação do objeto “historiografia” ou “história da historiografia”, na duração de um século: de reflexão dispersa em necrológios e artigos de jornal à disciplina curricular da formação universitária em História.
O título é chamativo: Uma introdução à história da historiografia brasileira (1870-1970). O texto oscila entre o inventário das concepções de historiador ideal e a transmutação do objeto “historiografia” ou “história da historiografia”, na duração de um século: de reflexão dispersa em necrológios e artigos de jornal à disciplina curricular da formação universitária em História.
Thiago Lima Nicodemo (Unicamp), Pedro Afonso Cristovão dos Santos (UNILA) e Mateus Henrique de Faria Pereira (UFOP), os autores, são jovens pesquisadores da área de Teoria e História da Historiografia. Tentaram se livrar da história da historiografia brasileira como inventário de homens e livros em ordem cronológica, mas enfrentaram dificuldades comuns entre os que, em grupo, querem conciliar pensamentos e práticas historiográficas díspares na exposição de um discurso sobre a matéria. Leia Mais
History in Times of Unprecedented Change: A Theory for the 21st Century | Zoltán Boldizsár Simon
Não são poucos os intérpretes que tendem a enxergar a assim chamada filosofia da história a partir de uma divisão entre aqueles que seriam, por um lado, os interesses dedutivo-especulativos desse campo e por outro, as suas preocupações analíticas. Se a primeira dessas linhas de interesse se debruça sobre os sentidos e propostas da história vista como um processo, a segunda trata dos fundamentos da história entendida enquanto um saber (Tucker 2009, 3-4; Doran 2013, 6-7; Paul 2015, 3-5). É mais ou menos consensual, de igual modo, que essa divisão entre especulação e análise acentuou-se a partir da segunda metade do século XX, com o esgotamento dos grandes modelos filosóficos que visavam dotar de sentido o processo histórico, analisando-o sob a otimista ótica moderna do decurso do tempo. Incapaz de especular sobre “a história em si” (fragmentada pelos traumas da primeira metade do século passado), a filosofia da história passou a se preocupar cada vez mais com os contornos do próprio conhecimento histórico1. Nas últimas cinco décadas, essa divisão não apenas se intensificou como a filosofia da história viu o seu escopo ser reduzido drasticamente em duas linhas gerais de interesse: a análise das experiências temporais e o estudo das narrativas. Se no primeiro caso predominaram teses sobre as limitações das formas modernas de trato com o tempo (como a famosa discussão a respeito do “presentismo”), no segundo, prevaleceram estudos preocupados em desnudar o caráter incontornável da linguagem na produção de conhecimento e nas formas de relação com o passado. Por maiores que sejam os esforços em apartar essas duas tendências, elas apontam para uma característica comum tanto à experiência quanto ao conhecimento histórico nesse início de século XXI: para o imobilismo engendrado pelas consequências presentistas e narrativistas derivadas da filosofia da história contemporânea. Leia Mais
Francesco de Sanctis: la scienza e la vita | Fulvio Tessitore
“Sono sempre stato colpito dalla singolare ripresa, a ben poca distanza, del gran tema della ‘utilità’ della storia da parte di due grandi e diverse personalità quali quelle di De Sanctis e di Nietzsche”.
É assim que Fulvio Tessitore conduz a publicação de suas páginas sobre Francesco De Sanctis: la scienza e la vita (il Mulino, 2019, pp. 107), nas quais, de acordo com as intenções programáticas da série que a acolhe, estão reunidos a preleção inaugural realizada por ele para o ano acadêmico de 2017-2018 do Istituto Italiano per gli Studi Storici e alguns de seus desenvolvimentos nos cursos do mesmo ano, seguidos ao fim, oportunamente, de um apêndice que reproduz o ensaio sobre de De Sanctis de 1972 e o comentário que Croce lhe dedicou na “Crítica” de 1924. Leia Mais
Mujeres y hombres en la historia: Una propuesta historiográfica y docente – BOLUFER PERUGA (I-DCSGH)
BOLUFER PERUGA, M. Mujeres y hombres en la historia: Una propuesta historiográfica y docente. Granada. Pomares, 2018. Resenha de: GUILLOT, Helena Rausell. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.97, p.85-86, out./dez. 2919.
El libro que presenta Mónica Bolufer dentro de la colección «Mujeres, historia y feminismos» tiene como objeativo fundamental contextualizar el surgimiento de la historia de las mujeres dentro de la renovación historiográfica del siglo xx, además de reivindicar sus aportaciones y de analizar su presencia en la historia ensenada a nivel universitario. Pero Mujeres y hombres en la historia no es tan solo un texto historiográfico, ya que incluye reflexiones sobre la historia ensenada, además de exponer y argumentar una propuesta didáctica propia, basada en más de veinte anos de experiencia docente e investigadora.
La obra se estructura en tres partes, que se corresponden con cada uno de los capítulos. La primera de ellas está consagrada a la renovación historiográfica que se inicia en el siglo xx con la Escuela de los Annales y el marxismo. Este repaso historiográfico sirve para explicar la aparición y el afianzamiento de la historia de las mujeres como campo historiográfico y de investigación desde los anos setenta del siglo xx.
Sus reflexiones se construyen a partir de la lectura de algunas de las aportaciones sobre epistemología de la historia más valoradas de las últimas décadas (Iggers, Hernández Sandoica, Aróstegui o Moradielos), además de incluir referencias a los autores clásicos del siglo xx. Están igualmente presentes algunas de las voces más autorizadas de la historiografía de género, la historia de las mujeres o del movimento feminismo (Mary Astell, Inés Joyce, Jane Austen, Joan Wallach Scott, Virginia Woolf…), junto a fragmentos de obras literarias, en una aproximación ya clásica dentro de los estudios de género que valora la literatura como fuente histórica y como instrumento para recuperar las voces de las mujeres del pasado.
Quizá sea el tercer apartado, el dedicado a «ensenar la historia de las mujeres en la universidad», el que pueda resultar más interesante desde el punto de vista de la didáctica de las ciencias sociales. Entre sus reflexiones, encontramos el reconocimiento a figuras como Dolores Sánchez Durá, Pilar Maestro, Joaquín Prats o Rafael Valls y a aquel sector más implicado del profesorado de secundaria que impulsó los Movimientos de Renovación Pedagógica. La autora llega a argumentar la necesidad de que el cambio historiográfico y pedagógico vayan estrechamente unidos, además de criticar la falta de aportaciones con respecto a la ensenanza de la historia de las mujeres en el ámbito universitario. Asimismo, razona que esta historia del género pueden desempenar un papel especialmente fecundo en la actualización de las formas de entender y de ensenar la historia en los distintos niveles educativos, a partir de algunas de las posibles aportaciones de la historia de las mujeres a la historia ensenada, entre las que destaca: aprender a pensar históricamente (historicidad de las categorías de femenino y masculino); la existencia en el tiempo de modelos no hegemónicos, minoritarios o discordantes; la necesidad de enriquecer la reflexión sobre la complejidad de las relaciones y las desigualdades sociales; o la atención a las formas variadas de la presencia y protagonismo de las mujeres en la historia.
Otra de las aportaciones más sugerentes de la obra es el balance que realiza con respecto a la presencia de la ensenanza del género en los grados de historia y en otras titulaciones y posgrados. La autora documenta que, en la actualidad, se imparten, con denominaciones distintas (historia de las mujeres, del género, de las relaciones de género…), asignaturas especializadas en veintiocho universidades, en algunas de ellas desde hace casi veinte anos o más (caso de las universidades de Barcelona, Valencia, Granada, Oviedo, Complutense y Autónoma de Madrid) y otras en las que gozan de una trayectoria más reciente. Dichas materias se insertan en treinta y cuatro grados, entre ellos veintiuno en historia, pero también en historia del arte, historia y ciencias de la música, humanidades y otras disciplinas científicas y sociales (como medicina o comunicación audiovisual). Dentro de los estudios de posgrado, estas asignaturas están presentes en veintisiete másters, ocho de ellos interuniversitarios, tanto en historia como en historia del arte y patrimonio, y aquellos dedicados a estudios de género (Bolufer, 2018, pp. 85 y 86).
La obra concluye con un muy buen aparato crítico que distingue entre lecturas básicas, textos de época y lecturas complementarias y que se complementa con una filmografía escogida. Esta misma autora ha lanzado de forma casi simultánea otro libro, Arte y artificio de la vida en común: Los modelos de comportamiento y sus tensiones en el Siglo de las Luces, en la editorial Marcial Pons (2019). Dicho texto reflexiona en torno a la civilidad y la circulación de libros e ideas en la Europa de la Ilustración. Mónica Bolufer Peruga es catedrática de historia moderna en la Universidad de Valencia.
Helena Rausell Guillot – E-mail: helena.rausell@uv.es
[IF]
Los historiadores colombianos y su oficio: reflexiones desde el taller de la historia | José DAvid Cortés, Helwar Hernando Figueroa e Jorge Enrique Salcedo
Dos críticas han aparecido con mediana frecuencia en los trabajos de algunos historiadores colombianos durante los últimos años. La primera, está relacionada con la indiferencia del gremio frente a la divulgación del conocimiento histórico, y la segunda, con la mercantilización de las publicaciones indexadas que se genera por la implementación del sistema de puntos salariales en las universidades públicas y privadas. Siguiendo esta línea de argumentación, considero que el libro Los Historiadores Colombianos y su oficio: reflexiones desde el taller de la historia, publicado en 2017 por la Universidad Javeriana de Bogotá, puede incluirse dentro de esta corriente de críticas que buscan replantear el rol de los académicos, las universidades y el gobierno, este último representado en órganos como Colciencias, frente a la valoración del conocimiento. En palabras de sus coordinadores, José David Cortés, Helwar Figueroa y Jorge Salcedo, “es cada vez más notorio que la producción histórica e historiográfica ha caído en el mecanismo de la producción industrial, en donde se escribe y se publica no por el bien de la disciplina”. Leia Mais
Uma introdução à história da historiografia brasileira (1870-1970) – NICODEMO et. al (A)
NICODEMO, Thiago Lima; SANTOS, Pedro Afonso Cristovão dos; PEREIRA, Mateus Henrique de Faria. Uma introdução à história da historiografia brasileira (1870-1970). Rio de Janeiro: FGV, 2018. 238p. Resenha de: ALMEIDA, Letícia Leal de. História da historiografia brasileira: uma apresentação do percurso historiográfico. Antíteses, Londrina, v.12, n. 23, p. 850-857, jan-jul. 2019.
A História da Historiografia é um campo de discussão que se preocupa com a profusão dos discursos historiográficos, que visam compreender as relações que se estabelecem entre os historiadores, as instituições e a História. Buscando compreender as tensões entre o passado e as representações construídas na historiografia, os historiadores que se dedicam a essa perspectiva visam refletir sobre a emergência dos discursos, preocupações, critérios de validação e confiabilidade da historiografia.
O livro Uma introdução à história da historiografia (2018) foi construído a partir dos debates travados nos encontros do Seminário Brasileiro de História da Historiografia, bem como no Núcleo de História da Historiografia e Modernidade da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
Em conjunto, Nicodemo, Santos e Pereira são historiadores que se têm dedicado à História da Historiografia, participando da organização dos encontros na UFOP, bem como na problematização da História da Historiografia enquanto campo de produção. Thiago Lima Nicodemo é professor de Teoria da História da Unicamp, com pesquisas desenvolvidas em torno da produção historiográfica de Sérgio Buarque de Holanda. Pedro Afonso Cristovão dos Santos é professor de Teoria da História da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), com pesquisas sobre intelectuais do século XIX, com destaque a Capistrano de Abreu.
Mateus Henrique de Faria Pereira é professor associado de História do Brasil da Universidade Federal de Ouro Preto, com estudos em Historiografia no Tempo Presente, Intelectuais e Teoria da História.
O recorte temporal do livro visa contemplar discussões a partir da emergência da História da Historiografia no Brasil, desde o surgimento do moderno conceito de História no século XIX, além das apropriações e ressignificações das matrizes europeias no Brasil. Buscando compreender o percurso da História da Historiografia até a institucionalização da História nas Universidades e ao refletir sobre a elaboração da Cultura História brasileira e dos estudos desenvolvidos acerca desse tema, visa instaurar um lugar para as produções brasileiras na História da Historiografia. A maior parte do livro se centra no contexto após a institucionalização das Universidades.
No que se refere à História, a partir da estruturação dos cursos nas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras no Brasil, partir de 1930 (FERREIRA, 2013). O mérito do texto está em apresentar um fio condutor na emergência do historiador de ofício: a partir da preocupação dos historiadores em situar-se em relação às produções anteriores, problematizando a organização da Historiografia brasileira a partir de suas próprias tensões e especificidades, rompem, assim, com a perspectiva da relação centro-periferia, discutindo a produção dos autores na organização de conceitos e de critérios para a Historiografia no Brasil.
No primeiro capítulo, os autores constroem o percurso da Historiografia enquanto campo, ou seja, relacionando problemas, aportes teóricosmetodológicos, nos quais diversos autores buscaram compreender o passado brasileiro. Utilizando um recurso do Google, o Ngram Viewer2, buscaram localizar a palavra Historiografia e seus correlatos em outros idiomas, com destaque para o inglês, espanhol, francês, italiano e alemão, ressaltando, assim, a ascensão no uso da palavra Historiografia a partir do século XX, enquanto fenômeno transnacional. O crescimento, segundo os autores, se deve à estruturação dos primeiros cursos de História nas Universidades, o que ampliou consideravelmente a produção em História (NICODEMO; SANTOS; PEREIRA, 2018, p. 23 – 25).
Nos capítulos seguintes, segundo e terceiro, destacam os primeiros esforços de se pensar a Historiografia Brasileira, como os livros de José Honório Rodrigues, desde a Teoria da História do Brasil, de 1949, até História da História do Brasil e a Historiografia colonial de 1979. José Honório Rodrigues é um dos autores basilares para se compreender o processo organização do ofício do historiador, do caráter amador-ensaísta ao historiador acadêmico (IGLÉSIAS, 1988).
Desde o gênero ensaístico, que misturava História e Política, os autores apresentam a emergência de novas formas de apreensão do tempo. A divisão da Historiografia no Brasil deveria considerar a produção desde o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, em 1838, até a organização das Universidades, momento em que a História iniciou o processo de organização disciplinar, definindo seus limites, enquanto uma tradição especializada.
A partir do processo de consolidação da disciplina e da emergência do historiador profissional, os autores discutem sobre a transição entre o intelectual polígrafo e o historiador acadêmico. Nesse sentido, referenciam a produção de Capistrano de Abreu, no Necrológio de Francisco Adolfo de Varnhagen, publicado em 1878.
Nesse texto, se discutiu sobre o caminho da História Nacional, apresentando um protótipo de historiador: Transparecem as qualidades que comporiam o historiador ideal: a erudição, o conhecimento em primeira mão das fontes, aliados a uma capacidade de fazer reviver, pela escrita, os eventos estudados e de ter empatia com o objeto (NICODEMO; SANTOS; PEREIRA, 2018, p. 23-25).
Varnhagen, aos olhos de Capistrano, ao apresentar preocupações com as fontes e metodologias, próprias do métier do historiador, foi destacado pelos autores como precursor da Historiografia, compondo um estilo e uma escrita.
Desse modo, a História foi tecendo uma legitimidade enquanto produção de conhecimento. Em vista disso, a produção do século XIX se deu através da acumulação de informação e de fontes, além da crítica documental (NICODEMO; SANTOS; PEREIRA, 2018, p. 64).
Ao retratar Varnhagen, Capistrano apresenta uma visão mais refinada do processo metodológico, enviesado pela perspectiva de verdade em História. Os autores esclarecem que, devido à essa produção, a partir do acúmulo exaustivo das fontes, marcada pelo viés cronológico, possui uma natureza diferenciada que visava articular presente, passado e futuro.
Outro texto fundamental, destacado pelos autores, publicado em 1951 por Sérgio Buarque de Holanda, foi O pensamento histórico no Brasil nos últimos 50 anos. Para Holanda, Capistrano seria o ponto de partida para a Historiografia, enquanto processo de definição dos estudos históricos. A contribuição desse texto é de incidir sobre os anos 20 e 30, momento em que vigorou a produção ensaística.
Sérgio Buarque de Holanda produziu ensaios interpretativos, enquanto uma preocupação desse período, contemporâneo aos estudos de Gilberto Freyre e Caio Prado Júnior, que analisaram as heranças coloniais, esses escritos visavam transformar a realidade brasileira. O gênero ensaísta-síntese visava articular instrumentos teóricos, influenciados por matrizes diferentes: americana, alemã e francesa, momento em que o meio de inserção dos intelectuais se dava através da crítica literária ou do serviço público. Os autores dão destaque a Sérgio Buarque de Holanda como um intelectual de transição, entre o intelectual polígrafo e o historiador universitário (NICODEMO; SANTOS; PEREIRA, 2018, p. 74 – 75).
No terceiro capítulo, a organização das primeiras Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras no Brasil, com destaque à criação da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, criada em 1934 a partir da missão francesa, e da Faculdade Nacional de Filosofia de 1939, marca o início da organização da produção acadêmica.
Porém, a consolidação dessa produção só começaria a aparecer a partir de 1950, momento em que a pesquisa em História adquire um novo sentido orientada por problemas mais delimitados e mais aprofundados (FERREIRA, 2013).
Ainda nesse capítulo, os autores aprofundam as proximidades da produção acadêmica com a produção dos ensaístas. Nas Universidades, o processo de reflexão sobre o que fora produzido desde o século XIX apresentava rupturas e continuidades.
Holanda foi um dos intelectuais que defendeu a institucionalização universitária e a valorização do trabalho acadêmico. A partir da sua produção, de Raízes do Brasil de 1934, Monções, de 1945, até Caminhos e Fronteiras, de 1957, é possível compreender a preocupação do autor com as condições sociais da produção, bem como o refinamento de uma erudição em história. A produção de Holanda refletiu sobre a mudança na concepção de métodos e dos instrumentos teórico-metodológico, para além das generalidades, e visou afirmar uma cultura acadêmica a partir do discurso do historiador profissional, atento aos dilemas do presente.
A partir da institucionalização das Universidades, no quarto capítulo, os autores buscaram compreender a repercussão da produção acadêmica, com o aumento substancial da produção em História, tanto a partir da estruturação de instituições de fomento às pesquisas, quanto com a criação de cursos universitários e de um mercado editorial que permitiu a circulação dessas produções, como a criação de revistas acadêmicas, com destaque à Revista de História da Universidade de São Paulo. Dentro dessa dinâmica, vale ressaltar que a organização das Universidades estava alinhada à preocupação com a formação de professores e não de pesquisadores, por isso o cuidado estava centrado no ensino de História e na Didática da História.
No quinto capítulo, os autores aprofundam as discussões centrais do livro, sobre a organização da História da Historiografia como campo, no I Seminário Internacional de Estudos Brasileiros de 1971. Nesse seminário, Francisco Iglésias apresenta uma das primeiras concepções de História da Historiografia, enquanto exame exaustivo dos livros sobre História do Brasil e de um roteiro de textos importantes, reafirmando o papel de Capistrano de Abreu, como marco desse tipo de reflexão.
Segundo os autores, a História da Historiografia já havia sido mobilizada em 1961, a partir da publicação da Iniciação aos estudos históricos, de Jean Glenisson, com a colaboração de Pedro Moacyr Campos e Emília Viotti da Costa, ao referirse aos desafios da relação entre Teoria da História e História da Historiografia.
História geral da civilização brasileira, lançado em 1960, é outro livro central para História da Historiografia e foi organizado por Pedro Moacyr Campos e Sérgio Buarque de Holanda, com ênfase aos estudos sobre o Brasil imperial.
A partir da afirmação da Universidade como centro de produção em História, o quinto capítulo visou compreender o reconhecimento do trabalho do historiador, bem como as preocupações dos primeiros professores universitários. Desde a organização do primeiro simpósio da Associação Nacional de Professores Universitários, que aconteceu em Marília em 1961, bem como na produção das coletâneas de José Honório Rodrigues e das produções de José Amaral Lapa, até a inserção da História da Historiografia nos currículos universitários, os autores discutem sobre as implicações políticas e teórico-metodológicas desse processo nas produções acadêmicas a partir de 1960, a partir da inserção da História da Historiografia nos currículos universitários, que conciliava tanto a análise da produção dos historiadores quanto a História da História, esta como sinônimo de História da Historiografia.
Foi a partir de 1970 que se deram os embates em torno da inclusão da História da Historiografia enquanto disciplina separada da Teoria da História, presente nas produções de José Roberto do Amaral Lapa. Para este, a História da Historiografia deveria analisar criticamente a produção dos historiadores e a transformação do pensamento histórico, o que significava afirmar que a História da Historiografia possuía um objeto próprio, teorias e metodologias. A reafirmação desse campo rejeitava uma análise centro-periferia, pois buscava construir marcos a partir da própria produção historiográfica, não mais marcos políticos, como a fundação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro ou das Universidades. Além do mais, propunha uma investigação sobre métodos, pressupostos teóricos e formas de se escrever a Historiografia brasileira.
Isto posto, os autores buscaram compreender a organização do campo da História da Historiografia, embates e dilemas, expressos desde os primeiros textos reflexivos como em Capistrano de Abreu e Sérgio Buarque de Holanda, a organização das coletâneas como as de José Honório Rodrigues, até a institucionalização da disciplina nos currículos universitários. Enfim, o processo de composição de uma cultura histórica que aos poucos se tornou universitária, a partir do adensamento de projetos políticos, compreendendo sua dimensão prática e política. Como destacado pelos autores: Os tempos são de disputas intensas pelo passado e a dimensão ético-política da escrita da história volta a ser central. Também é hora de pensar nas práticas dos historiadores do passado, incluindo nossos mestres, como práticas arqueologicamente investigáveis. Também é hora de pensar se não é momento da história da historiografia e da teoria da história irem além (NICODEMO; SANTOS; PEREIRA, 2018, p. 186).
Tal permite-nos compreender o processo de transformação da escrita em História no Brasil, bem como a organização de métodos e conceitos que consolidam a História da Historiografia.
A História da Historiografia, nesse sentido, permite compreender os balanços do fazer histórico, a partir da investigação sistemática acerca dos discursos produzidos sobre o passado, refletindo sobre as memórias construídas pelos autores em suas obras, suas posições teórico-metodológicas, tensões em torno da escrita da História, que, sob uma perspectiva presentista após os anos 70, visam compreender as novas experiências de apreensão do tempo.
O livro traz uma importante contribuição à historiografia, desde o recorte temporal realizado pelos autores, de 1870 a 1970, que permite compreender o percurso da História da Historiografia no Brasil. Por tratar-se de um balanço do tema, possibilita aos pesquisadores principiantes se inteirar dos debates, conhecer autores referenciais, enfim, compreender a especificidade da escrita da História no Brasil, além de vislumbrar um campo de pesquisa em plena expansão, como muitas fontes inéditas, novos problemas de pesquisa, à luz de novas perspectivas teórico-metodológicas.
Referências FERREIRA, Marieta de M. A História como ofício: a constituição de um campo disciplinar. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.
IGLÉSIAS, Francisco. José Honório Rodrigues e a historiografia brasileira. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 55 – 78, 1988.
NICODEMO, Thiago Lima; SANTOS, Pedro Afonso Cristovão dos; PEREIRA, Mateus Henrique de Faria. Uma introdução à história da historiografia brasileira (1870-1970). Rio de Janeiro: FGV, 2018. 232 p.
Notas
2 O Google Ngram Viewer é um recurso do Google que mapeia a frequência da palavra pesquisada a partir de fontes de 1500 a 2008.
Letícia Leal de Almeida – Professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Doutoranda no Programa de Pósgraduação em História da Universidade Estadual de Santa Catarina. Email: leticialeal.historia@gmail.com.
Autoritarismo e personalismo no poder executivo acreano | Francisco Bento da Silva
O livro de Francisco Bento, Autoritarismo e Personalismo no Poder Executivo Acreano, 1921-1964, editora Edufac, 2012, aborda a construção histórica da sociedade acreana em bases integralmente autoritárias. Francisco Bento da Silva é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Acre, com Mestrado em História pela Federal de Pernambuco, com Doutorado em História pela Federal do Paraná, sendo o presente trabalho resultado de sua pesquisa de mestrado. O livro traz evidências e apontamentos para a questão de que o Brasil conviveu muito pouco com as manifestações e práticas democráticas. O conceito de democracia nesses mais de cem anos de republicanismo não se aplica plenamente aos procedimentos e práticas políticas existentes até então.
A obra divide-se em três capítulos. No primeiro, o autor busca ressaltar o caráter autoritário da formação e o direcionamento político do Acre Federal nas suas diversas fases, que vai desde a sua anexação ao Brasil, em 1903, passando pelas várias organizações administrativas até o período pós 1920 quando ocorreu a unificação administrativa. Expõe a descentralização do poder executivo, de forma Departamental (1904-1920), a nomeação dos governadores era feita pela União (1921-1930), a introdução dos Interventores Federais entre 1930 até 1937 e por último o período em que os governadores voltam a ser nomeado pela União, esse período vai de 1937 a 1962. Leia Mais
Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história na África – PAIVA (AN)
PAIVA, Felipe. Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história na África. Niterói: Eduff, 2017. Resenha de: MACHADO, Carolina Bezerra. A escrita da História da África: Política e Resistência Anos 90, Por to Alegre, v. 26 – e2019501 – 2019.
Em meio a constantes desafios político-ideológicos, os estudos africanos vêm se firmando como um campo de pesquisa no cenário brasileiro, o que contribui diretamente para o desenvolvimento da escrita da História da África no país. Esse movimento favorece também o rompimento dos estereótipos ainda pertinentes que geram desconhecimento, preconceitos e deturpações acerca da historicidade africana, por anos renegada ou mesmo ocidentalizada. A mudança de perspectiva está amparada em uma historiografia que busca valorizar o africano enquanto sujeito da sua história, colocando-o em primeiro plano para refletirmos sobre os eventos no continente africano, o que não significa renegar a sua relação com o outro, mas desejar compreender os processos históricos a partir do olhar de dentro. Ressalta-se ainda que essa perspectiva traz à tona a riqueza da diversidade presente no continente, que sob o olhar colonial sempre foi visto como homogêneo. Nesse sentido, o livro Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história da África de Felipe Paiva traz um debate fundamental para repensarmos a escrita historiográfica da África. Resultado de sua pesquisa de mestrado, defendida na Universidade Federal Fluminense e agora publicada pela Eduff, o livro concentra-se em um caloroso debate sobre a ideia de resistência na obra História Geral da África da Unesco. Tomado como principal fonte ao longo da sua pesquisa, o conjunto de oito volumes publicados em diferentes momentos entre a década de 1960 e 1990, de acordo com o autor, apresenta uma “polifonia conceitual”, não só pelas diferentes vozes que compõem os volumes, mas, sobretudo, pela diferença teórica que os acompanham ao abordar o termo resistência.
De acordo com Paiva, essa abordagem deveria vir acompanhada de um debate conceitual em que resistência deveria aparecer como um conceito móvel, considerando o ambiente de tensões, conflitos e disputas políticas que envolvem a história do continente. Ou seja, como conceito deve ser visto dentro de um processo passível de permanências e rupturas e retomado dentro da sua historicidade. Logo, ao escolher como referência a obra publicada no Brasil pela Unesco, deve-se considerar o contexto político-social em que cada volume foi produzido, principalmente ao darmo- -nos conta que foi um período de intensas mudanças no cenário africano a partir da independência dos países, rompendo com o jugo colonial.
Todavia, o livro também não deixa de apontar para trabalhos anteriores de intelectuais que compõem a coletânea, o objetivo é introduzir o leitor ao intenso debate historiográfico em que a HGA foi produzida. As escolhas teóricas que a acompanham já vinham sendo desenvolvidas e fundamentadas em torno de uma perspectiva que elegia o africano como o sujeito da sua história. Além disso, chama a atenção também o tratamento do autor para os autores da obra, vistos não apenas como referências historiográficas, mas como personagens históricos e testemunhas de uma época (PAIVA, 2017, p. 19). Essa posição reconhece o quanto esses intelectuais foram testemunhas de mudanças, atuando no processo de formação de suas nações e, por isso, atores diretos na legitimação de um movimento historiográfico que era também, se não, sobretudo, político-ideológico.
A escolha da obra não é fortuita, a sua produção fora marcada por um campo de luta política, que pretendia retomar a perspectiva africana como análise central. Para isso, a escolha dos autores da coletânea foi claramente um ato político, à medida que dois terços eram intelectuais africanos (LIMA, 2012, p. 281). Como afirma o historiador Joseph Ki-Zerbo, um dos grandes nomes e organizadores da obra, a História Geral da África vinha na contramão de uma perspectiva que negava a historicidade do continente. Desse modo, a obra não deve ser encarada apenas dentro do campo historiográfico, mas também a partir do campo político, em que o ato de resistir pode ser encarado como a força motriz da coleção. Por isso, acertadamente, Felipe Paiva retoma o termo resistência, presente entre os volumes, mas não claramente definido no conjunto da obra. A polifonia apareceria de imediato a partir dos diferentes usos da palavra, que, para o pesquisador, apenas ganha valor conceitual dentro de um espaço colonial e que, por outro lado, desaparece quando os conflitos são entre africanos. Até o VI volume teríamos um uso apenas vocabular da palavra, sem ser claramente definida, assim sendo apenas a partir do volume VII, quando os autores se voltam para o conceito, visto que a presença colonial passa a ser analisada em sua especificidade.
Como realçamos, a sutileza em abordar determinado conceito ao longo da HGA chama-nos a atenção para os usos políticos da obra. O debate promovido contribui para refletirmos sobre a escrita da história da África em diálogo com uma perspectiva teórica que repensa as relações coloniais a partir dos agentes internos. É nesse limiar que as contradições e complexidades ausentes em uma análise do continente, até então presa a uma perspectiva eurocentrista, passam a ser evidentes. Dito isto, o título escolhido para o livro propõe apontar para as insubmissões africanas, a partir de suas diferentes vozes ancoradas no conceito polissêmico de resistência. Todavia, notamos que Paiva aponta para a contradição existente na HGA. Pois, embora os autores retratem os movimentos de resistência a partir de um processo homogêneo, construído em oposição ao colonialismo, a sensibilidade em analisar os artigos que compõem a coleção apontam para as diferenças existentes entre os intelectuais à medida que os interesses individuais, regionais, políticos, culturais, religiosos e, até mesmo, de gênero, vão aparecendo na escrita. Nesse sentido, o uso da palavra resistência deve ser problematizado, por mais que no conjunto da obra seja possível identificarmos que a palavra tenha sido forjada contra o colonizador.
Dividido entre o prefácio de Marcelo Bittencourt, seu orientador ao longo da pesquisa, que destaca o valor da obra a partir da sua contribuição teórica; uma apresentação, que aponta para os objetivos que pretende, as hipóteses que levanta, assim como o porquê de algumas de suas escolhas teórico-metodológicas e mais três capítulos com subdivisões, o livro de Felipe Paiva vem preencher uma lacuna importante para a escrita da história do continente africano, que dentro da realidade acadêmica brasileira também se traduz em resistência.
O primeiro capítulo volta-se, sobretudo, para um debate teórico e historiográfico o qual se destaca um intelectual: Joseph Ki-Zerbo. A análise pormenorizada de suas pesquisas anteriores, estas que dialogam com a escrita da obra referencial, permite acompanhar alguns dos objetivos desenvolvidos na HGA, comprometida historiograficamente com um contexto histórico de valorização do continente africano e de afirmação dos movimentos nacionalistas e independentistas que ganhavam força naqueles anos. Nesse ínterim, podemos notar o quanto a escrita de Ki-Zerbo se encontra sensível à perspectiva pan-africanista, traduzida para o “grau de família” que Paiva chama a atenção. A ideia de “família africana”, ou mesmo da África enquanto pátria, é observada a partir dos “intercâmbios positivos que ligariam os povos africanos nos planos biológico, tecnológico, cultural, religioso e sociopolítico” (PAIVA, 2017, p. 25). Tal abordagem, de acordo com o autor, merece cuidado, pois por vezes pode negar as contradições existentes entre os intelectuais que contribuíram para a obra, conforme fora apontado acima.
Por isso, ao retomar a ideia de resistência na obra durante o período que antecedeu a presença colonial, esse é visto por Felipe Paiva apenas em sentido vocabular, sem uma definição concreta. O sentido conceitual só aparece em oposição a um outro, estrangeiro, nunca em referência aos combates internos, produzindo uma falsa ideia de harmonia entre os africanos, que a análise do conjunto da própria obra é capaz de negar, como nos mostra seu livro. Desse modo, o primeiro capítulo volta-se para os interesses teóricos e políticos da obra, enfatizando uma leitura que vê a escrita historiográfica do continente dentro de uma perspectiva de tomada de consciência do africano, em um claro processo chamado de “(re)africanização da África”. Somos, nesse sentido, a partir da leitura de Felipe Paiva, direcionados aos cuidados que devemos ter ao nos aprofundarmos sobre os debates acalorados que cercam os interesses que levaram à escrita da obra.
Quanto ao segundo capítulo, a abordagem volta-se, especificamente, para o volume VII da HGA, em que para o autor o conceito de resistência passa a ser propriamente construído e apresentado junto a preocupações epistemológicas antes ausentes. Ao abordar esse momento da coletânea, Paiva ressalta a construção de uma África como personagem, que sofre um trauma e, de maneira coesa, se constrói em roupagem de resistência contra o colonizador. É a partir dessa narrativa que resistência enquanto conceito se desenvolve e dirige-se exclusivamente em oposição ao colonialismo. Temos aí a construção de uma ideia de África pautada a partir da experiência colonial, que embora retomasse a história dos africanos a partir de um novo enfoque, ainda guardava uma visão harmônica do continente. A presença europeia seria vista como um choque que rompeu com o passado africano.
Devemos destacar, ainda nesse capítulo, as interpretações sobre o conceito de resistência pertinentes para o historiador. Para ele, podemos apontar para duas abordagens entre os autores da HGA: a tradicionalista e a marxista. A primeira refere-se a um passado pré-colonial permeado 4 de 5 por uma suposta coesão entre o passado, anterior ao colonialismo e retratado como grandioso e estático, e o presente, interessante a partir de uma concepção nacionalista, em que as lutas anticoloniais do século XIX estariam plenamente em diálogo com os movimentos independentistas que irromperam em meados do século XX. Assim, esses movimentos eram vistos dentro de uma tradição de valorização de uma África resistente e una, que por vezes se utilizou da concepção racial para formatar suas ideias. Há, em diálogo com essa perspectiva, grande ênfase nas autoridades tradicionais retratadas como defensoras de um modelo de vida ligado à tradição africana, posta em oposição à modernidade, interpretada como uma imposição colonial.
Por outro lado, mas com o mesmo objetivo de destacar a tradição de resistência dos africanos, a abordagem marxista é assim denominada a partir do “uso de noções e categorias advindas da historiografia marxista ou que lhe são próximas” (PAIVA, 2017, p. 94). Ou seja, não necessariamente esses autores se colocam como marxistas mas retratam o conceito de resistência, sobretudo, em reação ao capitalismo. Por isso, a ênfase na luta de classes, formada na esteira das relações de produção advindas com o colonialismo e impostas aos africanos.
Esses dois aportes teóricos, de acordo com Felipe Paiva, servem para repensarmos sobre um tema fundamental na ideia de resistência na África: a sua temporalidade. Ou seja, como podemos captar quando inicia o processo de resistência em África? Pois, por mais que ocorra uma continuidade entre as variadas formas de oposição africana no período colonial e as lutas independentistas, temos que considerar que elas não são um movimento homogêneo que se estruturou necessariamente para desembocar nas independências, afirmando um caráter progressivo (PAIVA, 2017, p. 114). Cabe, então, apontar para as complexidades que cercam essa relação, visto que a defesa central da pesquisa reside em considerar resistência enquanto processo, passível de permanências e rupturas.
O debate sob esse ponto de vista inicia no final do capítulo 2, a partir de uma série de análises dos autores que compõem a HGA, e levam ao capítulo 3. Voltado, sobretudo, para o VIII volume da coleção, o capítulo problematiza a ideia contida nesse volume de que a libertação nacional seria herdeira de uma tradição de resistência presente na África. Para um aprofundamento da questão, Paiva lança mão de estudos anteriores do organizador do volume, o queniano Ali Mazrui, ressaltando as diferenças construídas pelo intelectual entre protesto, interpretado como fenômeno do Estado-nação, e resistência, vista como conceito herdeiro direto desse movimento. Desenvolve-se um grande debate teórico que tem por objetivo problematizar o modo como resistência é encarada dentro de um ambiente de valorização nacionalista com grande influência do pan-africanismo.
A partir dos debates travados e construídos com argumentações que extrapolam os objetivos iniciais do livro, pois nos levam para questões como nacionalismo, pan-africanismo, colonialismo, entre outros temas pertinentes à África, ressaltada dentro de sua complexidade, a leitura de Indômita Babel é uma importante oportunidade para conhecermos um pouco mais a História da África, sobretudo, a partir da sua escrita historiográfica, cercada de tensões e desafios. O diálogo com a História Geral da África, referência primordial para os estudos africanos, enriquece e solidifica a discussão proposta por Felipe Paiva, que continua a tecer em sua trajetória acadêmica um debate político-ideológico a partir dos intelectuais africanos Kwame Nkrumah e Gamal Abdel Nasser, tema da sua pesquisa de doutorado, que vem sendo desenvolvida desde 2015 no programa de história da Universidade Federal Fluminense.
Referências
LIMA, Mônica. A África tem uma história. Afro-Ásia, Salvador, n. 46, p. 279-288, 2012. PAIVA, Felipe. Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história na África. Niterói: Eduff, 2017.
Carolina Bezerra Machado – Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: lowbezerra@gmail.com.
Escritas de viagem, escritas da história: estratégias de legitimação de Rocha Pombo no campo intelectual, 2018 | Alexandra Lima da Silva
A obra Escritas de viagem, escritas da história: estratégias de legitimação de Rocha Pombo no Campo intelectual é escrita por Alexandra Lima da Silva. Nela, a autora problematiza as estratégias de legitimação a partir da viagem realizada pelo educador Rocha Pombo ao norte do Brasil, em 1917. Vislumbra, dentre as diversas facetas de Rocha Pombo – intelectual, historiador, professor de história, escritor de livros de história –, interpretar sua face de viajante. Na introdução do livro, narra seu encontro com este sujeito ainda enquanto estudante de graduação. Destaca sua busca por pistas, seguindo as pegadas desse homem, realizando uma vasta pesquisa em arquivos e instituições de guarda da cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades.
José Francisco da Rocha Pombo nasceu em Morretes, cidade localizada no Paraná, em 4 de dezembro de 1857. Na pequena cidade onde nasceu, teve acesso apenas à educação primária, por não haver na região escolas secundárias. Em 1897, viaja para o Rio de Janeiro onde se estabelece como um prestigiado professor de história. Na cidade, tece suas redes de sociabilidades junto a Silvio Romero, Manoel Bomfim e José Veríssimo. Mesmo com o tempo ocupado nas tarefas do ensino, o intelectual dedica-se à escrita de poesias, à política e à produção de compêndios de história. Sua obra mais conhecida, alvo de críticas pelos literatos da época é o livro de história, de título: História do Brasil. Leia Mais
Conmemoraciones, patrimonio y usos del pasado – PAGANO; RODRÍGUEZ / Episodios de la Cultura Histórica Argentina – EUJANIAN et. al (HU)
PAGANO, N.; RODRÍGUEZ, M. (comp.). Conmemoraciones, patrimonio y usos del pasado. La elaboración social de la experiencia histórica. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores, 2014. 192 p. EUJANIAN, A.; PASOLINI, R.; SPINELLI, M.E. (coord.). Episodios de la Cultura Histórica Argentina. Celebraciones, imágenes y representaciones del pasado. Siglos XIX y XX. Buenos Aires: Biblos, 2015. 209 p. Resenha de: ZAPATA, Miguel Hernán. Historia, memoria, patrimonio y celebraciones: nuevos problemas y tendencias en los estudios de historiografía argentina. História Unisinos 21(3):461-466, Setembro/Dezembro 2017.
Desde los inicios del complejo proceso de institucionalización de la historia como disciplina científica en Argentina, el área denominada comúnmente “Historia de la Historiografía” constituyó –siguiendo a las tradiciones intelectuales europeas del siglo XIX– una suerte de materia obligada en la formación general de los futuros historiadores dedicada, en su sentido tradicional de “historia de la historia”, a reflexionar sobre los textos históricos y sus autores. En las últimas décadas, diferentes tendencias, como la espectacular irrupción en la esfera pública de temáticas surgidas desde la “historia del presente” y, de manera más general, la aparición sistemática de las discusiones sobre el pasado en los debates políticos y los medios de comunicación, no solamente hicieron que el interés por la historia de la historiografía haya experimentado un crecimiento notable. Además, el propio campo de temáticas que comúnmente definían el objeto de estudio de la historiografía atravesó un intenso y complejo proceso de reflexión epistemológica, haciendo que este tipo de investigaciones rebosaran sus propios límites como disciplina “espejo”, es decir, como una actividad consagrada únicamente a desentrañar los caminos recorridos por la disciplina histórica hasta su definición y consolidación institucional en el ámbito local. Fue así que los historiadores argentinos especializados en esta área comenzaron a transitar otras posibles vías de indagación historiográfica y, en consecuencia, exploraron distintos procesos sociales e institucionales de activación de memorias y resignificación del pasado.
Ciertamente el campo delineado a partir de esta significativa renovación es demasiado vasto para ser sintetizado, pero es innegable que dos grandes líneas de investigación, que se suelen combinar y entrelazar en muchos casos, recortan los principales y actuales territorios de la historia de la historiografía en Argentina: una primera perspectiva de análisis historiográfica centrada en el desenvolvimiento de la historia como disciplina científica que sirviera de orientación para la investigación y la enseñanza del pasado, más familiar aunque de un modo menos heroico y dogmático, atendiendo a los procesos de profesionalización y combates por legitimar su situación disciplinar en el mundo intelectual y afirmar la concepción del conocimiento histórico como una investigación profesional y científica (metódica, racional y universal) frente a otras producciones sobre el pasado que circulan sobre el curso de las transformaciones políticas y culturales. Y una segunda perspectiva de la especialidad historiográfica, más amplia y heterodoxa, que concibe a la historiografía como un espacio propicio para la reflexión sobre los múltiples y contradictorios modos en que los grupos de una sociedad construyen relaciones con el pasado con miras a la intervención sobre el presente y que conllevan una cierta proyección hacia el futuro. En ese gran proceso se ve involucrada una diversidad de agentes, públicos, productos culturales y fenómenos de distinta naturaleza: el Estado que procura controlar y modelar memorias colectivas; los historiadores y los productos que ofrecían; los medios de comunicación que transmiten representaciones del pasado de todo tipo; las imágenes de ese pasado que elabora la literatura o el cine, los partidos políticos; las lecturas que ensayan los distintos destinatarios de esas imágenes y evocaciones.
Desde esta perspectiva, la historia de la historiografía argentina ha transitado un camino significativo y promisorio, pues, en efecto, de ser considerada un recurso puramente auxiliar de la historia (en tanto recopilación bibliográfica o relación de autores agrupados por temas y escuelas), esta subdisciplina se construyó como una auténtica área de especialización, discusión y producción profesional acerca de la influencia profunda que, desde su nacimiento, ejerce la historia en la experiencia social de una comunidad (desde aquella que le atribuía una función pedagógica a otra que reposaba en sus valores cognitivos, de la funcionalidad política a la cultural, desde la integración de ese pasado con el presente a su negación o abolición) y los problemas derivados de la existencia de distintas memorias, mitos históricos y visiones del pasado dictadas por las emociones, las disputas políticas y la construcción de identidades. En la actualidad, el campo académico argentino cuenta con varios equipos de trabajo consolidados en diferentes universidades y centros de investigación nacionales que conforman un punto de referencia de las investigaciones historiográficas sobre las diferentes representaciones y usos del pasado construidos tanto en los círculos académicos como en los espacios extraacadémicos. Como resultado de esta nueva sensibilidad y ejemplo de los territorios por los que avanza la especialidad historiográfica en nuestro país, aparecen en un primer plano los dos libros que son objeto de esta reseña: por un lado, Conmemoraciones, patrimonio y usos del pasado.
La elaboración social de la experiencia histórica (2014), una compilación de Nora Pagano y Martha Rodríguez, y, por otro, Episodios de la Cultura Histórica Argentina. Celebraciones, imágenes y representaciones del pasado, siglos XIX y XX (2015), organizado por Alejandro Eujanian, Ricardo Pasolini y María Estela Spinelli.
Más allá de la diversidad de temas, actores y períodos que cada trabajo analiza, ambos volúmenes parten del mismo presupuesto general, tomando a las conmemoraciones y a las políticas patrimoniales, así como también a los objetos que los emblematizan, como laboratorios privilegiados para percibir, dentro de las múltiples dinámicas sociales que una comunidad exhibe en un contexto temporal específico, las tensiones que emergen entre distintas interpretaciones y funciones del pasado, construidas acorde con las circunstancias del presente y por un conjunto heterogéneo de actores tanto a través de ciertas prácticas como así también de la valorización de espacios y objetos que genéricamente constituyen otros componentes de la cultura histórica. Una segunda línea que recorre ambos volúmenes, conectada y derivada de la anterior, consiste en conceptualizar a las conmemoraciones y al patrimonio histórico como fenómenos a través de los cuales uno o distintos colectivos sociales en pugna trazan un vínculo con su pasado y, por ende, se instituyen en dispositivos productores de imaginarios sociales con importantes secuelas en otros ámbitos de la sociedad. De ese modo, las diferentes contribuciones se detienen en escenarios políticos y culturales en los que es posible identificar las diferentes modulaciones que asume la constante redefinición de las relaciones entre un saber académico y su transmisión a la sociedad por medio de los otros soportes, esto es, las vinculaciones y tensiones entre erudición y divulgación, aspiración “científica” e intervención “pública”, entre historia y memoria, las diversas mediaciones y –fundamentalmente– los mediadores que posibilitaron esas relaciones.
En esta dirección, los dos libros comparten las huellas de una generación de historiadores movilizados por inquirir sobre este conjunto menos convencional y más amplio de estudios y problemas de la historia de la historiografía, aprovechando de modo renovado los conceptos y herramientas teórico-metodológicas de otros campos disciplinares y asentándose sobre el rico cimiento construido por núcleos de estudiosos del ámbito nacional y extranjero. Por tanto, estos nuevos ejemplares se presentan como excelentes ejemplos y puntos de partida de lo que en la actualidad se está constituyendo en una línea avanzada dentro de los programas de estudio e investigación encarados paralelamente en Estados Unidos, Europa y otros países de América Latina. Sin embargo, las respuestas a las preguntas que se plantean los autores que participan de ambas compilaciones no resultan de una transposición acrítica de modelos teóricos gestados en otros contextos y pensados para otros problemas, sino de una sostenida práctica de investigación, donde los debates importados adquieren su propia densidad a la luz de las preguntas que formulan sobre las modalidades locales que asumen los intentos de diferentes actores por gestar nuevas memorias.
En virtud de las claras líneas conectoras entre ambas compilaciones que hemos señalado supra, hemos decidido evitar realizar un recorrido lineal por cada uno de los acápites siguiendo el orden en que están dispuestos en cada libro y proponer, en cambio, una recensión de los mismos a partir de su agrupamiento en función de coincidencias temáticas y cercanías espacio-temporales, haciendo dialogar inclusive ciertos capítulos de un volumen con los trabajos del otro. Un primer núcleo de artículos se ocupa de las conmemoraciones de la Revolución de Mayo, una problemática no casual dentro de las opciones, puesto que si por un lado el dispositivo celebratorio constituye un objeto de interés legítimo para cualquier estudio historiográfico (pues una adaptación del pasado a las necesidades del presente comprende variadas formas de intervención que operan en la creación o remodelación de memorias e identidades colectivas), el contenido a rememorar, por su parte, condensa un importante entrelazamiento de tensiones y conflictos de más largo aliento sobre los sentidos asignados al acontecimiento para la sociedad argentina.
En efecto, desde la consolidación y expansión del Estado central a fines del siglo XIX, tanto el sistema escolar como los actos públicos contribuyeron a afianzar y difundir un relato fundador de la nación argentina en el que la Revolución de Mayo ocupó el lugar de “mito de los orígenes”, una suerte de semillero de la nacionalidad de acuerdo al historiador José Carlos Chiaramonte, en vistas de la necesidad de dar mayor cohesión y homogeneidad a una población sumamente compleja y diversa (integrada por criollos, indígenas e inmigrantes europeos) que habitaba la geografía nacional. En consonancia, mientras Alejandro Eujanian (in Eujanian et al., 2015) traza un cuadro analítico en el que observa los cambios y continuidades de las fiestas mayas en el Estado de Buenos Aires entre 1852 y 1860, Fernando Devoto (in Pagano y Rodríguez, 2014) nos traslada a los diferentes actos organizados por la clase dirigente argentina a principios de 1910 para celebrar los cien años de la Revolución de Mayo como un tipo especial de acontecimiento festivo con un claro perfil poliédrico.
Por su parte, Antonio Bozzo (in Eujanian et al., 2015) examina con minuciosidad la participación de intelectuales y artistas en algunas de las actividades propuestas por la Comisión Nacional de Festejos del Centenario. Por su parte, el siglo XXI continúa mostrando que las celebraciones continúan siendo una tecnología pedagógica capaz de ser empleada por el aparato del Estado para producir cierto tipo de anclajes identitarios, tal como indican Nora Pagano y Martha Rodríguez en sus acápites (Rodríguez in Pagano y Rodríguez, 2014; Pagano y Rodríguez in Eujanian et al., 2015). Mediante un sondeo original de algunas iniciativas culturales (proyectos editoriales, el mural del Bicentenario, una instalación interactiva y otra audiovisual) organizadas tanto por el gobierno nacional como por empresas privadas en el marco de las conmemoraciones del Bicentenario de la Revolución, las autoras concluyen que en cada una de estas instancias erigidas en ocasión del ritual colectivo se evocan la presencia de los diferentes sentidos del pasado puestos en juego, la multiplicidad de actores intervinientes en el proceso y el carácter de las mediaciones materiales y simbólicas.
Un segundo núcleo de trabajos prosigue en el tratamiento de la matriz instrumental de estos dispositivos celebratorios, pero en arenas que van más allá del Estado –y sus diferentes agencias y niveles– y se adentran en las prácticas de otros actores colectivos de la sociedad civil que, al calor de la vorágine de los sucesos políticos, sociales y culturales que signaban la vida del país y del extranjero, pusieron en marcha algunos mecanismos de intervención pública para fundar tradiciones y legitimar posiciones políticas y librar una lucha –a veces estridente, a veces opaca– por dotar de sentido al pasado frente a las versiones de sus muchos contendientes. Así lo exhibe el estudio de Julio Stortini (in Eujanian et al., 2015), dedicado a indagar el proceso de rehabilitación de la controvertida figura de Juan Manuel de Rosas, desde la década de 1930 hasta inclusive la etapa kirchnerista, por el revisionismo histórico (ese movimiento de corte nacionalista y antiliberal integrado por intelectuales pertenecientes a distintas tradiciones políticas que pretendían promover los estudios históricos), prestando atención a las mutaciones discursivas y reacomodamientos ideológicos en los diferentes contextos políticos durante los gobiernos peronistas. Por su parte, Eduardo Hourcade (in Pagano y Rodríguez, 2014) concentra su capítulo en una coyuntura particular de la saga revisionista: los proyectos destinados a repatriar los restos de Rosas, las polémicas que hicieron difícil su concreción –frente a otros anteriores, aparentemente menos polémicos, de personajes del panteón nacional (como Bernardino Rivadavia, José de San Martín, Domingo F.
Sarmiento y Juan Bautista Alberdi)– y su concreción definitiva en 1989, así como las circunstancias y motivos del fracasado intento por montar conmemoraciones asociadas al evento. En un registro similar, dos primeros textos de María Elena García Moral (in Pagano y Rodríguez, 2014) y Sofía Serás (in Pagano y Rodríguez, 2014) presentan puntualizaciones historiográficas sumamente originales sobre la cultura histórica de las izquierdas: mientras la primera decide comparar lo que se recuerda y cómo se recuerda dentro los grupos socialistas y comunistas en Argentina y Uruguay en diferentes contextos conmemorativos del siglo XX, la segunda autora reconoce –a través del periódico partidario El Obrero– la tensión entre elementos internacionalistas y nacionalistas en la creación y recreación de memorias e identidades colectivas a partir de ciertas imágenes del pasado que se promovían durante las celebraciones socialistas.
Los conflictos políticos de la historia reciente argentina también nos proveen otros ejemplos en los que es posible comprobar que no existen vínculos sencillos, evidentes, obligatorios entre las posiciones políticas de coyuntura y las historiográficas. Asumiendo de modo implícito esa suerte de dictum, María Estela Spinelli (in Eujanian et al., 2015) se adentra en la crisis política abierta a partir del golpe militar que derrocó el segundo gobierno de Juan Domingo Perón –ocurrido en septiembre de 1955– y, en consecuencia, el trabajo puede pensarse como un marco para las restantes contribuciones, puesto que su autora sintetiza, con la maestría de quien conoce el tema con solvencia, la serie de transformaciones, conflictos y proyectos políticos en pugna durante la década de 1960 y que rodearon las celebraciones oficiales del sesquicentenario de la Revolución de Mayo y de la declaración de Independencia. Un segundo trabajo de García Moral (in Eujanian et al., 2015) profundiza los usos del pasado en esa coyuntura político-cultural a partir del análisis de la labor editorial y, en particular, de la producción historiográfica realizada por fuera del ámbito académico por historiadores y/o intelectuales del socialismo y comunismo. Continúan por esta misma senda los aportes de Sofía Seras (in Eujanian et al., 2015), Ricardo Pasolini (in Eujanian et al., 2015) y María Julia Blanco (in Eujanian et al., 2015), aunque prefieren por hacerlo desde una aproximación más individual y personal, centrada en los escritos de los propios protagonistas: si Seras se ocupa de la construcción de la identidad del socialismo argentino a partir de los Recuerdos de un militante socialista del médico y político Enrique Dickmann (1874-1955), Pasolini hace lo propio con el comunismo mediante la interpretación, la crítica y la producción historiográfica de Aníbal Ponce (1898-1938). Por su parte, Blanco recupera las interpretaciones del pasado de la izquierda nacional en los ensayos históricos contenidos en algunos de los 35 libros de divulgación política y cultural que integraron la colección La Siringa publicados por el editor chileno Arturo Peña Lillo (1917-2009) en Argentina entre 1959 y 1963. Aunque los tres autores nos retratan un clima político-cultural que rápidamente nos muestra que todas las visiones del mundo incluyen –casi inevitablemente– visiones de su pasado, los recorridos particulares de estos intelectuales de izquierda también permiten detectar unos lazos más flexibles y menos definidos entre ciertos imagos y ciertas perspectivas historiográficas.
Finalmente, un tercer núcleo de artículos aborda la actividad memorativa de la conciencia histórica generada a partir de las nociones de patrimonio que circulan en el ámbito de la cultura, el poder simbólico de ciertas imágenes y lugares en el paisaje social y las políticas de patrimonialización a través de las cuales se asignan significados a ciertos activos materiales y/o inmateriales.
Por segunda vez la perspicaz pluma de Nora Pagano (in Pagano y Rodríguez, 2014) nos adentra en estas problemáticas con un logrado ensayo en el que reflexiona sobre un fenómeno particular de la administración de la memoria social durante el primer peronismo: la existencia de perspectivas y valoraciones contrapuestas de ciertos episodios y procesos del pasado argentino. De acuerdo a la autora, este fenómeno es producto de la línea patrimonial adoptada por el Estado durante esos años, identificable en las declaratorias de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos sobre los Sepulcros Históricos, y, paralelamente, de las actitudes asumidas por parte de la sociedad durante la conmemoración de los distintos centenarios –del escritor Esteban Echeverría y del pronunciamiento de Justo José de Urquiza (ambos en 1951), de la Batalla de Caseros (1952) y del Combate de la Vuelta de Obligado (1953)– que tuvieron lugar por aquel entonces. La preocupación por la perspectiva patrimonial en los debates colectivos sobre el pasado se repite en el capítulo de Gabriela Couselo (in Eujanian et al., 2015), cuyas páginas sistematizan los antecedentes, particularidades y controversias en la erección del monumento a la Bandera Nacional ideado por la escultora argentina Lola Mora (1866-1936) en la ciudad de Rosario, iniciado en el siglo XIX e incorporado recién en la década de 1990 al Pasaje Juramento –segmento del paisaje urbano vinculado a la bandera donde actualmente se encuentran las esculturas del inacabado proyecto.
Tres trabajos de una de las compilaciones merecen un comentario aparte, ya que si bien sus referentes espacio- temporales no coinciden con aquellos de la mayoría de los capítulos, centrados principalmente en distintos momentos y espacios de la cultura histórica argentina, no deja de ser cierto que insertan legítimamente dentro de la gama de preocupaciones que la historiografía ha considerado en los últimos años. Así las cosas, la italiana Sabina Loriga (in Pagano y Rodríguez, 2014) recorre las cuatro hipótesis sobre el origen de los etruscos y concluye que la opción por alguna de ellas supone la activación en el presente de una serie de enfrentamientos entre ciertos actores y proyectos políticos diferentes y a veces opuestos.
Situándose en España, Javier Moreno Luzón (in Pagano y Rodríguez, 2014) transita las conmemoraciones promovidas por el Estado español entre 1898 y 1918 (el primer centenario de la Guerra de Independencia, el tercer centenario de la publicación de la primera parte de Don Quijote de la Mancha y de la muerte de su autor, Miguel de Cervantes, y la oleada hispanoamericanista que tuvo su eje en el centenario de las independencias americanas de 1810-1811) y, en tal sentido, ofrece un interesante material empírico para realizar un contrapunto con el caso argentino y repensar los mecanismos estatales de nacionalización puestos en funcionamiento a ambos lados del Atlántico hacia las décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX. Finalmente, Gabriela Siracusano (in Pagano y Rodríguez, 2014) nos transporta nuevamente a América Latina, esta vez al ámbito andino, en el que descubre –a partir de modulaciones interpretativas cercanas a la sociología e historia del arte– los modos en que la iconografía particular procedente de los colores del arco iris se transfiere, apropia y resignifica socialmente en los Andes en tanto signo que aseguraba metonímicamente su presencia en todas las prácticas sociales de cuño religioso y político.
En conclusión, estas dos compilaciones sobre las interpretaciones del pasado en la historia argentina constituyen un novedoso y relevante aporte bibliográfico para enriquecer las discusiones historiográficas tanto a nivel particular como a un nivel más general. Para el caso argentino, las contribuciones reunidas en ambos volúmenes nos devuelven las preguntas y reflexiones de cada autor suscitadas a partir del estudio de ciertos acontecimientos, rituales y emblemas del pasado nacional, así como su plasmación en actos, fiestas, estatuas y monumentos, mostrando que el interrogante acerca de las complejas y cambiantes relaciones entre historia y memoria continuará siendo imprescindible para conocer otra dimensión de los conflictos que atraviesan a una sociedad y que la apertura de la historia de la historiografía a nuevos terrenos define la vía para avanzar en este tipo de conocimiento. Después de todo, no hay que olvidar que cualquier interpretación del pasado –la del Estado, las de los partidos políticos, las de las comunidades étnicas, las difundidas por la literatura, el cine y el periodismo, e incluso la de los propios historiadores– refleja puntos de vista diferentes de acuerdo a concepciones, valores e ideologías, por lo que no es extraño que cualquier definición del pasado histórico nacional mantenga lazos particularmente estrechos con la vida política y cultural de un país.
Y, en términos más amplios, estas recopilaciones –así como otros libros– pueden ser un excelente pretexto para incentivar la reflexión entre los historiadores sobre los usos de la historia, en especial cuando desde instancias públicas y privadas se los interpela a adoptar un posicionamiento epistemológico respecto de los rasgos que caracterizan las decisiones de los pueblos y sus gobiernos por gestionar la memoria histórica y en función de la profundidad e intensidad de los debates políticos e identitarios que se dibujan en cada escenario y a su alrededor. Mucho más cuando, en las últimas décadas, las conmemoraciones y las acciones de patrimonialización están dibujando un escenario sumamente poliédrico y laberíntico para los historiadores, no sólo por la reflexión teórica que despierta la tarea de diferenciar las intencionalidades –unas abiertamente políticas, otras más académicas– que permean los “usos públicos de la historia” visibles en las prácticas que acompañan los actos públicos y privados, sino también porque deberán asumir los múltiples retos que plantea estar ante experiencias sociales que no pueden reducirse a un simple acto de recuerdo y que, inevitablemente, nos traslada al terreno de los sentimientos, de la emotividad y de la identidad.
Resulta obvio que el “delirio conmemorativo” y la “fiebre monumentalista” responden a un movimiento a nivel mundial, pero en el caso concreto de América Latina ambas tendencias obedecen a las diferentes actividades organizadas por los gobiernos a partir de la celebración de los bicentenarios de las independencias iberoamericanas.
No se puede olvidar que desde el año 2008 la mayoría de las repúblicas latinoamericanas han tendido a construir distintos escenarios conmemorativos, con mayor o menor participación popular, centrados en la exaltación de los hechos y de los protagonistas considerados nucleares para el nacimiento de las nuevas naciones. A pesar de que muchos de los “mitos fundacionales” de los Estados nacionales han comenzado a demolerse por los recientes avances historiográficos, es innegable que esas y otras fiestas patrias continúan siendo aquellas atmósferas en las que ciertos sectores de la política y la sociedad encuentran las claves del pasado necesarias para dotar de legitimidad a ciertas políticas e instituciones de los Estados, o bien para definir el “espíritu colectivo” capaz de articular el presente y el futuro de comunidades nacionales hondamente heterogéneas, desiguales, fragmentadas y diversas.
En consecuencia, resulta sintomático que ciertos sectores de la sociedad continúan sosteniendo la posibilidad de encontrar en la historia cierto eje didáctico-moralizante –según el viejo topos ciceroniano magistra vitae– que les permita entrelazar juicio del pasado, instrucción del elemento tenido por esencial para la configuración de un sentido de comunidad.
Debido a esta situación, siempre latente en el seno de toda sociedad, se torna primordial la necesidad de buscar un enfoque que nos ayude a matizar, cuestionar o simplemente reflexionar críticamente sobre las lecturas del pasado. Es allí donde la historia de la historiografía lleva una gran ventaja, al contribuir con una perspectiva más cautelosa, más aguda, más crítica, en fin, de leer e interrogar las prácticas sociales que evocan ciertos discursos del pasado. Y ello, como lo demuestran las compilaciones aquí reseñadas, no parece ser un aporte menor.
Horacio Miguel Hernán Zapata – Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Instituto Superior de Formación Docente “Profesor Agustín Gómez” (ISFDPAG), Argentina. Uruguay 1483, Paso de los Libres, CP 3230, Provincia de Corrientes, Argentina. E-mail: 1 horazapatajotinsky@hotmail.com.
As estórias a favor da História: as Efemérides Mineiras, de José Pedro Xavier da Veiga – FAGUNDES (RTA)
FAGUNDES, Bruno Flávio Lontra. As estórias a favor da História: as Efemérides Mineiras, de José Pedro Xavier da Veiga. Belo Horizonte: Fino Traço, 2014. Resenha de: GIANELLI, Carlos Gregório dos Santos> Um inventário histórico de estórias inventadas. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.9, n.20, p.339‐343. jan./abr., 2017.
A diferenciação entre o que é uma história verídica e o que seria uma ficção muitas vezes já é sinalizada no uso da palavra. Para citar o exemplo na língua inglesa, o story (estória) se apresenta quase sempre que uma ficção quer se fazer explícita em oposição à palavra history (história), que se trata do estudo, análise ou até mesmo relato de algum fato ocorrido. Na língua portuguesa praticada no Brasil essa diferenciação existe em nosso vocabulário, mas, vem sendo cada vez menos utilizada. Ao se checarem livros ou coleções mais antigas, as estórias em contraposição às histórias estão presentes. No entanto, a palavra estória vem caindo em desuso sendo que a história tem servido tanto para a dita ficção como para a realidade. Não é à toa que o título do livro de Bruno Flávio Lontra Fagundes faz uso desse jogo de palavras ao tratar do tema proposto. “As estórias a favor da História: As Efemérides Mineiras de José Pedro Xavier da Veiga” tem como um de seus objetivos e fio condutor refletir sobre essa tensão presente entre a ficção e realidade na tessitura das narrativas históricas. Historiador de formação, Fagundes buscou nesse trabalho, que resultou em sua dissertação de Mestrado defendida junto ao Programa de Pós‐Graduação em Letras (Estudos Literários), da Faculdade de Letras da UFMG, aproximar duas áreas que muitas vezes foram consideradas totalmente opostas no campo da escrita: as estórias e as histórias.
Como indicado no título, o livro analisa a obra “As Efemérides Mineiras”, de José Pedro Xavier da Veiga, publicada em Minas Gerais no ano de 1897. Trata‐se de um livromonumento com mais de mil e oitocentas páginas, dividas em quatro volumes, que busca fazer um levantamento da história da província de Minas Gerais de 1733 a 1892. Torna‐se válido ressaltar que o próprio termo efeméride é pouco utilizado hoje, e cabe a breve explicação de que se trata do registro de algo importante que aconteceu em um dia específico. Levando‐se isso em consideração, fica um pouco mais clara a organização proposta por Xavier da Veiga em seu livro‐monumento. As efemérides não estão organizadas ano após ano, mas dia após dia. Essa primeira característica a ser observada logo no índice do livro já abre um espaço interessante de reflexão a respeito da organização cronológica e temporal que é proposta nessa obra do final do século XIX.
Fagundes ressalta que essa característica não era comum de outras efemérides realizadas na mesma época. Sendo assim, Xavier da Veiga propõe uma organização da história diferente deseus contemporâneos, tendo os anos como esteira condutora dos acontecimentos históricos. Nas “Efemérides Mineiras”, temos um calendário que parte de 1º de janeiro a 31 de dezembro, cobrindo não somente um ano, mas quase três séculos.
Nesse sentido, teríamos a organização mais ou menos desta maneira, como indica Fagundes: “1 de janeiro 1733 (…) 1740 (…) […] 2 de janeiro 1807 (…) 1811 (…).” O livro de Bruno Fagundes, a respeito da obra de Xavier da Veiga, se organiza da seguinte maneira: antes de fazer a sua análise das Efemérides, Fagundes mostra a apresentação que o próprio José Pedro Xavier da Veiga faz de sua obra monumental. O prefácio da obra de Xavier da Veiga contém desde instruções de como realizar a leitura, até uma espécie de pedido de desculpas pelas lacunas temporais presentes. Por se tratar de uma obra datada do ano de 1897, está inserida no contexto pós‐republicano em que se buscava de todo modo “re‐fundar” um novo país sob a égide dos novos ideais positivistas, materializados no lema ordem e progresso. Não se tratava apenas de buscar uma brasilidade moderna que fundamentasse as aspirações republicanas, mas de organizar a história do país muito mais por inventários documentais, como as efemérides, do que por outro tipo de produção historiográfica ou memorialística. Xavier da Veiga além de ser o autor das Efemérides foi o primeiro diretor do Arquivo Histórico Mineiro, o que denota o caráter depositário que a obra possuía para ele. Para Xavier da Veiga não se tratava apenas de contar estórias, mas de se guardar e, até mesmo, preservar a história.
Após a apresentação do livro, “Por ele mesmo”, Bruno Flávio Lontra Fagundes adentra a obra sempre mostrando algo que lhe sobressai e uma possível análise a ser realizada. Nos próximos três capítulos após a apresentação do livro pelo próprio Xavier da Veiga, Fagundes analisa três questões em que dedica um capítulo para cada: temporalidades; memória; e a própria noção de invenção da História que acaba suscitando das Efemérides.
Adiante, no livro, Fagundes analisa em seu quinto capítulo como Xavier da Veiga lidava com a carga documental que recebia de várias partes do estado de Minas Gerais para a realização da obra; é neste momento que o título dado por Fagundes faz‐se presente: “As estórias a favor da História”. Este que poderia até mesmo ser um lema adotado por Xavier da Veiga na compilação de documentos e testemunhos. O arquivista mineiro considerava importante desde os documentos oficiais, como decretos‐lei, até relatos de casos estranhos como alguns títulos indicam: “diamante achado por um preto; grandioso meteoro; um esqueleto monstro, etc.” Como já foi dito, o cargo de administrador do Arquivo Histórico Mineiro vai conferir a Xavier da Veiga a responsabilidade de salvaguardar todos os retalhos de história que lhe são enviados.
Anexos aos documentos que chegam para ele estão presentes, muitas vezes, bilhetes pedindo para que o pacote seja preservado, ressaltando a preciosidade daquele documento em questão. Tal cuidado que o arquivista e escritor mineiro possuía com os documentos que aos quais tinha acesso permeia toda a obra das Efemérides, assim como a função social do devir histórico que lhe é incumbido.
É dentro dessa questão que Fagundes, em seu sexto capítulo, lança a reflexão voltada à autoria das Efemérides. Seria apenas José Pedro Xavier da Veiga o autor de um livro que conta com tantas páginas resultantes de dezoito anos de trabalho? Qual a parcela de contribuição das centenas de anônimos que enviaram seus relatos e documentos para a realização desta empreitada? Tais reflexões cabem tanto para Fagundes, ao analisar as Efemérides, como para qualquer historiador que tenha contato com obras grandiosas, ou que no momento de tecer a sua própria narrativa histórica reflita sobre o lugar dos documentos e testemunhos em sua produção.
Em seu sétimo capítulo, é feita uma análise a respeito da figura do próprio José Pedro Xavier da Veiga, que além de ter ocupado o cargo de primeiro diretor do Arquivo Histórico Mineiro, também foi deputado, vinha de uma família de letrados que chegaram a ser proprietários de livrarias e possuía grande respeito justamente por ser apontado como um dos guardiões da história de Minas Gerais. No oitavo e último capítulo, Fagundes trabalha a relação entre Xavier da Veiga e o seu livro, mostrando como determinadas obras além de monumentalizar os personagens retratados nela podem enaltecer seus autores. Xavier da Veiga é destacado no imaginário social pela grande empreitada de memória e identidade mineira que constituiu suas Efemérides.
Por fim, cabe ressaltar a importância que o livro “As Estórias a favor da História: As Efemérides Mineiras de José Pedro Xavier da Veiga”, de Bruno Flávio Lontra Fagundes tem para o campo da História. As questões que o autor levanta, aproximando os campos dos estudos literários e da teoria da história são de grande relevância para aquele pesquisador que busca uma perspectiva interdisciplinar para o seu trabalho que acaba, em muitos casos, levando a uma reflexão mais profunda acerca do tema pesquisado.
Poderíamos, por fim, elencar os seguintes temas como muito importantes para o fazer historiográfico que são problematizados pelo autor: a questão da memória de um povo; o desafio da delimitação das temporalidades (tendo em vista a característica peculiar de organização temporal das efemérides que reverbera em sua narrativa histórica); o tratamento dado para um grande acervo documental; a função social exercida por Xavier da Veiga enquanto historiador mineiro; reflexões a respeito da autoria das efemérides (como podemos afirmar que Xavier da Veiga é o único autor de um livro composto por centenas de contribuições e relatos? Como podemos pensar nessa mesma problemática na tessitura de nossos trabalhos historiográficos?) e, por fim, a relação entre autor e obra.
Fagundes analisa com bastante seriedade um livro que se porta como monumento histórico e não apenas como uma narrativa histórica.
Carlos Gregório dos Santos Gianelli – Doutorando no Programa de Pós‐Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina. Brasil gianelli.87@hotmail.com.
[IF]
Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico – AURELL et al (S-RH)
AURELL, Jaume; BALMACEDA, Catalina; BURKE, Peter; SOZA, Felipe. Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico. Madrid: Ediciones Akal, 2013, 494 p. SILVA, Wilton Carlos Lima da. Outras palavras: sobre manuais e historiografias¹. SÆCULUM – REVISTA DE HISTÓRIA [34]; João Pessoa, jan./jun. 2016.v
Entre minhas aventuras recentes se inclui uma tentativa de praticar exercícios e alongamentos através de aulas de Pilates, que resultaram ao mesmo tempo em uma rápida melhoria de minhas condições físicas de homem obeso e sedentário ao custo de algumas pequenas dores musculares e certas sequelas em minha autoestima – se a traição amorosa dói, no entanto pode ser relativizada pelas minhas particularidade e as do objeto do meu desejo, já a percepção de que seu próprio corpo está lhe traindo e que isso acontece porque somente você é o responsável dói o dobro. No entanto, em meio ao desconforto pela constatação de minhas limitações físicas e certo orgulho pela persistência estoica naquela atividade que expunha de forma inquestionável uma de minhas muitas limitações, uma sobrinha, que é fisioterapeuta, me consolou: “Pilates é assim. Se está fácil é porque você não está fazendo direito!”. Ensinar história, particularmente na universidade, é um desafio de mesma natureza e que poderia ser descrito de forma bastante semelhante – quando é feito de forma simples e fácil é porque não está sendo bem feito. A tensão entre as exigências de uma boa formação, as limitações de tempo e de recursos para a construção de um bom curso, os diferentes níveis de envolvimento e cognição dos alunos, a intensa e extensa produção historiográfica contemporânea, a acessibilidade limitada aos textos, as dificuldades de intercâmbios intelectuais, as tendências corporativas e de endogêneses teórico-metodológicas, a crescente especialização do trabalho docente, entre outros aspectos do ensino universitário, tornam o surgimento de bons manuais algo extremamente necessário e positivo. No caso brasileiro, o destaque confirmado pelas seguidas edições de Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia3, de 1997, e o surgimento de Novos domínios da História4, em 2012, ambos manuais organizados por Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas, entre outros exemplos possíveis, demonstra a importância desse tipo de publicação enquanto ferramenta de trabalho para professores e pesquisadores. Publicações semelhantes em outros idiomas oferecem uma vantagem a mais, além do mapeamento e da ordenação de natureza didática e expositiva de um campo amplo e múltiplo que qualquer historiografia dinâmica apresenta, a possibilidade do reconhecimento de convergências e divergências temáticas e teórico-metodológicas são um ganho difícil de desprezar. Nesse sentido, Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico é um livro com quatro autores, de três países distintos e diferentes especialidades, o que se traduz em um panorama historiográfico rico e diferenciado5. A ambição de se oferecer uma história da historiografia, pelo menos em língua inglesa, tem outros respeitáveis representantes recentes em distintas tradições intelectuais, como A History of Histories: epics, chronicles, romances and inquiries from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century (2007), um alentado volume de 553 páginas do historiador inglês John Burrow6, A global History of History (2011), outro volumoso livro, de 605 páginas, do professor anglo-canadense Daniel Woolf7, ou The Oxford History of historical writing (2011-2012) que é uma obra coletiva, em cinco volumes, que envolve uma infinidade de autores e editores distintos por volume8. Embora todas as três tenham méritos indiscutíveis nenhuma delas está livre de algumas críticas e questionamentos. O historiador inglês Keith Thomas fez uma elogiosa resenha do livro de Burrow, professor emérito de Oxford, na qual reconhece no autor, uma das maiores autoridades sobre a história intelectual dos séculos XVIII e XIX e, na obra, o resultado de um enorme esforço de erudição, com texto um muito agradável e repleto de observações agudas9.
Embora também assinale a existência de alguns pequenos equívocos só perceptíveis por especialistas, como por exemplo, a inclusão de somente duas mulheres entre os historiadores dignos de nota (Anna Commena, um princesa bizantina do século XII, e Natalie Zemon Davis, a autora norte-americana de O retorno de Martin Guerre10) ou seu escopo de análise limitado a historiadores da Europa e da América do Norte (particularmente os que escreveram em inglês ou estão disponíveis em tradução). Por sua vez o livro de Woolf, que já havia organizado A global Encyclopedia of historical writing11, de 1998, impressiona pela combinação de uma significativa erudição com um estilo agradável e didático, utilizando-se de mútuas referências entre textos e imagens, em um esforço de apresentação de uma abordagem claramente desvinculada da perspectiva eurocêntrica, e que em busca de uma perspectiva verdadeiramente global, ao longo de seus nove capítulos, valoriza escritos históricos da América do Sul, Coréia, Tailândia, Islândia, Tibete e Pérsia ao lado de outros da Antiguidade Greco-Romana, do Renascimento e do Iluminismo no Ocidente. Os dois últimos capítulos, inclusive, intitulados respectivamente “Clio’s empire: European historiography in Asia, the Americas and Africa” e “Babel’s tower: history in the Twentieth Century”, trazem duas questões extremamente interessantes: a questão da força e influência dos modelos intelectuais europeus na historiografia não europeia e a poliglosia do discurso historiográfico contemporâneo. Curiosamente, talvez como sintoma de nosso isolamento intelectual, quer pela questão idiomática quer por limitações da produção local, nas dezesseis páginas do índice onomástico da edição em inglês não existe nenhuma referência sobre a historiografia brasileira. Finalmente, a extensa obra financiada por Oxford tem uma clara preocupação em afirmar tanto a excelência acadêmica de sua equipe internacional de estudiosos quanto a ênfase na diversidade cultural. O volume 1, com 672 páginas, é organizado por Andrew Feldherr12 e Grant Hardy13, oferecendo ensaios de diversos autores sobre o desenvolvimento da escrita histórica a partir do antigo Oriente Próximo, da Grécia clássica, Roma, e do Leste e Sul da Ásia desde as suas origens até 600 d.C. O volume 2, também com 672 páginas, sob coordenação de Sarah Foot14 e Chase F. Robinson15 reúne vinte e oito especialistas que buscam apresentar a diversidade da escrita da história na Europa e na Ásia entre 400-1400, realçando tanto características regionais e culturais quanto abordagens temáticas e comparativas sobre gênero, guerra e religião, entre outros aspectos, que se fazem nos trabalhos de historiadores do período delimitado. O volume 3, com 752 páginas, é organizado por quatro especialistas, o argentino Jose Rabasa16, o japonês Masayuki Sato17, o italiano Edoardo Tortarolo18, e o canadense, já citado, Daniel Woolf19, abordando o período entre 1400 e 1800, em ordem geográfica de leste a oeste, da Ásia as Américas, com as principais contribuições da escrita da história no período. O volume 4, com 688 páginas e organizado pelo australiano Stuart MacIntyre20, Juan Maiguashca21 e Attila Pok22, apresenta ensaios sobre a historiografia no mundo entre 1800 e 1945, abordando um leque de culturas e países que se estende do pensamento histórico e da erudição europeia passando por Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, México, Brasil e América do Sul espanhola, além de China, Japão, Índia, Sudeste da Ásia, Turquia, o mundo árabe e da África Subsaariana. Finalmente, o último volume, de número 5, com 744 páginas e organizado pelo sinólogo Axel Schneider23 e pelo canadense Daniel Woolf, que também participou da organização de um dos volumes anteriores, apresenta um arco temporal que se estende de 1945 até os dias atuais, discutindo distintas abordagens teóricas e interdisciplinares para a história assim como buscando demarcar particularidades e similitudes entre historiografias nacionais e regionais. O diferencial de Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico, em contraste com as obras anteriormente citadas, segundo seus próprios autores, é que o time de quatro pesquisadores permite superar as limitações de formação de um único especialista (o caso dos trabalhos de Burrow e Woolf) ao mesmo tempo em que o número relativamente reduzido de colaboradores permite a articulação do texto enquanto um panorama mais articulado e menos semelhante a um jogral com temas estanques – o caso do manual de Oxford –, resultando em uma combinação específica de volume informacional e inteligibilidade do quadro panorâmico. A famosa frase de Gaston Bachelard, que compara o conhecimento a uma fraca lanterna que é utilizada para iluminar um grande sótão, de modo que iluminar um dos cantos do aposento é deixar boa parte dele na escuridão, é uma imagem recorrente para descrever toda obra de síntese. Assim como os três textos referenciados anteriormente apresentam problemas e soluções para o pesquisador ou docente interessado em ampliar ou compartilhar seus conhecimentos em uma perspectiva global da produção historiográfica, o mesmo se percebe no volume de Aurell, Balmaceda, Burke e Soza.
Esse trabalho, inclusive, apresenta mais duas particularidades, uma de dimensão geracional, pois Burke pode facilmente ser reconhecido como um autor consolidado em termos de tempo, extensão da obra e diversidade de temas, Aurell e Balmacera seriam autores de produção mais recente, com obras bem referenciadas, mas que ainda estão se constituindo, e Soza é um jovem pesquisador, e o foco linguístico cultural, pois o historiador inglês, casado com uma brasileira, tem tanto familiaridade com a tradição intelectual de língua inglesa e francesa, como também em português, e os demais autores, enquanto conhecem a historiografia europeia, também transitam pela produção de língua espanhola – entre outros aspectos isso permitiu, em contraste com algumas das obras citadas, que a produção espanhola e portuguesa aparecesse desde de a Idade Média e houvesse um capítulo específico sobre a América Latina (assim como outros dois sobre a historiografia chinesa e a árabe). O esforço em resgatar a prática da cultura historiográfica enquanto rede de relações que envolve produtores do conhecimento, seus receptores e os mecanismos de conservação e divulgação aproxima a estrutura do trabalho da obra clássica da história da literaturas Mimésis24 (1946), de Erich Auerbach, na qual a apresentação do cânone divide espaço com o incentivo a descoberta e a busca dos originais. Para isso, ao final de cada capítulo há um conjunto de indicações bibliográficas e comentários sobre as principais tendências teórico-metodológicas, os autores e as obras mais representativas de cada período. Em termos estruturais, os dois primeiros capítulos, sobre a antiguidade greco-romana (p. 09-94) ficam a cargo de Catalina Balmaceda; o terceiro capítulo, do período medieval (p. 95-142), é abordado por Jaume Aurell; os capítulos 4º, do Renascimento e a Ilustração (p. 143-182), e 5º, sobre historiografia islâmica e chinesa (p. 183-198), são escritos por Peter Burke; o 6º, sobre historicismo, romanticismo e positivismo (p. 199-236), o 7º, sobre a transição do século XIX ao XX (p. 237-286) e o 8º, sobre o giro linguístico e as histórias alternativas (p. 287- 340), são tratados por Jaume Aurell e Peter Burke; enquanto que o 9º e último capítulo (p. 341-437), sobre historiografia latino-americana, é assinado por Felipe Soza25. Além da oportunidade de entrar em contato com características das obras de autores pouco conhecidos na tradição intelectual brasileira, como os árabes Ibn Khaldun e Mustafa Naima, os chineses Sima Qian e Ouyang Xiu ou o indiano Ranajit Guha, o livro destaca-se pela síntese rica e ampla sobre a historiografia latino americana. Em geral os manuais enfrentam o desafio de equilibrarem-se entre a representação da extensão de um conhecimento sobre o qual se projetam e a síntese didática e acessível de um vasto campo de conhecimento, buscando oferecer um que o detalhismo do especialista. Com certeza todos os trabalhos aqui citados, e em especial, pelas particularidades anteriormente expressas, o livro Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico cumpre de forma exemplar tais ambições, merecendo inclusive uma tradução para o português. Quem ler, comprovará.
Notas
1 Este texto é resultado de um estágio de pesquisa realizado na Universidade de Sevilha, Espanha, entre janeiro e fevereiro de 2016, com bolsa do Programa de Movilidad de Profesores e Investigadores Brasil-España, da Fundación Carolina.
3 CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
4 CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Novos domínios da História. Rio de Janeiro: Campus; Elsevier, 2012.
5 Jaume Aurell é Professor Titular de Historia Medieval e Teoria da História na Universidade de Navarra, Espanha; Catalina Balmaceda, professora de Historia Clássica do Instituto de Historia da Pontifícia Universidade Católica, Chile; Peter Burke, professor emérito da Universidade de Cambridge, Inglaterra; e Felipe Soza, professor adjunto do Instituto de Historia da Pontifícia Universidade Católica, Chile.
6 A obra foi traduzida para o português. Ver: BURROW, John. Uma História das Histórias: de Heródoto e Tucídides ao século XX. Tradução de Nana Vaz de Castro. Rio de Janeiro: Record, 2013.
7 A obra foi traduzida para o português. Ver: WOOLF, Daniel. Uma História global da História. Tradução de Caesar Souza. Petrópolis: Vozes, 2014.
8 FELDHERR, Andrew & HARDY, Grant (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 1: beginnings to AD 600. Oxford: Oxford University Press, 2011. FOOT, Sarah & ROBINSON, Chase F. (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 2: 400-1400. Oxford: Oxford University Press, 2011. RABASA, José; SATO, Masayuki; TORTAROLO, Edoardo & WOOLF, Daniel (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 3: 1400-1800. Oxford: Oxford University Press, 2011. MacINTYRE, Stuart; MAIGUASHCA, Juan & POK, Attila (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 4: 1800-1945. Oxford: Oxford University Press, 2011. SCHNEIDER, Axel & WOOLF, Daniel (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 5: historical writing since 1945. Oxford: Oxford University Press, 2012.
9 THOMAS, Keith. “Mapping the world – a History of Histories: epics, chronicles, romances and inquiries, from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century”. The Guardian, Londres, 15 dez. 2007. Disponível em: <http://www.theguardian.com/>. Acesso em: 20 out. 2015.
10 DAVIS, Natalie Zemon. O retorno de Martin Guerre. Tradução de Denise Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
11 WOOLF, Daniel (org.). A global ecyclopedia of historical writing. Londres: Taylor & Francis; Nova York: Routledge, 1998.
12 Professor de Antiguidade Clássica na Universidade de Princenton, EUA.
13 Professor da História de Religiões na Universidade da Carolina do Norte, EUA.
14 Professora de História das Religiões na Universidade de Oxford, Reino Unido.
15 Professor da Universidade de Nova York, especializado em História islâmica.
16 Professor da Universidade de Harvard, EUA, especialista em literatura e estudos pós-coloniais. 17 Professor da área de Teoria da História e Historiografia da Universidade Yamanashi, Kyoto, Japão. 18 Professor de História Moderna e de Historiografia da Universidade de Turim, Itália. 19 Professor da Queen’s University, Kingston, Canadá. 20 Professor da Universidade de Melbourne, Austrália. 21 Professor especialista em História da América Latina da Universidade de York, Toronto, Canadá. 22 Professor da Academia Húngara de Ciências, Budapeste, Hungria. 23 Professor da Universidade de Gottingen, Alemanha.
24 AUERBACH, Erich. Mimésis: a representação da realidade na Literatura Ocidental. Tradução de G. B. Sperber. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2015. 25 Sobre História e historiografia da/na América Latina, ver também: MAIGUASHCA, Juan. “História marxista latino-americana: nascimento, queda e ressurreição”. Almanack, São Paulo, UNIFESP, n. 7, mai. 2014, p. 95-116. Disponível em: <http://www.almanack.unifesp.br/>. Acesso em: 21 out. 2015.
Wilton Carlos Lima da Silva – Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Assis. Professor Livre-Docente do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP Assis. Coordenador do MEMENTO – Grupo de Pesquisa de Memórias, Trajetórias e Biografias (UNESP Assis/ Diretório CNPq). E-Mail: <wilton@ assis.unesp.br>.
https://periodicos.ufpb.br/index.php/srh/article/download/29242/15841
[MLPDB]Estratos do tempo: estudos sobre história – KOSELLECK (HP)
KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo: estudos sobre história. Tradução de Markus Hediger. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora PUC-Rio, 2014. 352 p. Resenha de: HRUBY, Hugo. A complexidade do tempo histórico. História & Perspectivas, Uberlândia, v. 29, n. 54, 2 ago. 2016.
A Clio Tucidideana entre Maquiavel e Hobbes: os olhares da história e as figurações do historiador – PIRES (HP)
A História, a Retórica e a Crise de paradigmas – BERBERT JR (AN)
BERBERT JÚNIOR, Carlos Oiti. A História, a Retórica e a Crise de paradigmas. Goiânia: Universidade Federal de Goiás/Programa de Pós-Graduação em História/Funape, 2012, 296p. Resenha de: PASSOS, Aruanã Antonio dos. Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 41, p. 351-355, jul. 2015.
Mais de quarenta anos depois de seu início, o debate ainda causa polêmica. De um lado, os defensores de uma tradição que almeja à história o estatuto de ciência, rainha das humanidades. Do outro, alguns estudiosos interessados na dimensão narrativa e discursiva da história tentando mostrar que essa pretensão à ciência só se sustenta na cabeça de alguns sujeitos que monopolizam um saber e estão mais interessados em suas dimensões políticas e legitimidade institucional. Do olhar mais superficial de um jovem estudante que se inicia na difícil tarefa de entender uma profissão tão antiga, esses dois grupos mostram-se contraditórios e uma avaliação preliminar desse mesmo jovem tende a ressaltar que definitivamente as posições são irreconciliáveis. Ledo engano, como bem mostra o livro A História, a retórica e a Crise de Paradigmas, de Carlos Oiti Berbert Júnior, que vem a público pela editora da Universidade Federal de Goiás.
Apresentado como tese de doutorado defendida no programa de pós-graduação em História da Universidade de Brasília, o trabalho soma méritos ao campo da teoria da história e da historiografia no Brasil de forma consistente, e vem a enriquecer os debates sobre o pós-modernismo no campo do conhecimento histórico. Sob este aspecto, cabem aqui algumas observações. A primeira refere-se ao crescimento da teoria da história em território nacional. É inegável que ela nunca esteve ausente dos gabinetes e da pena dos historiadores.
Tampouco foi subordinada fiel ou joguete na mão daqueles que procuravam legitimar ideais e posturas políticas. Ao contrário, esse crescimento de publicações, cursos, livros, programas de pós- -graduação, eventos que se voltam para a teoria da história, pode ser entendida pelo próprio momento em que a historiografia vive. Nas palavras de François Dosse, um momento de “retorno do sentido”, em que após as críticas que emergiram de um lado pela linguistic turn norte-americana, além do esgotamento do estruturalismo e do marxismo, a sensação era de pós-orgia, metáfora que empresto do pós-moderno Jean Baudrillard. E nesse contexto a teoria passou a ser encarada como leitmotiv para uma reconstrução epistemológica e metodológica que superasse as aporias da pós-modernidade.
A segunda ressalva refere-se ao caráter inerente da escrita da história e sua narração, objeto de atenção especial por parte de Berbert Júnior. Podemos especular que desde que Heródoto e Tucídides iniciaram a escrita da história tal como a concebemos, o elemento da “narrativa” sempre esteve entre as preocupações dos historiadores.
O que não podemos negligenciar é a natureza da discussão em torno da narrativa no final do século XX. Em muito esta discussão tem por pano de fundo a “crise” dos paradigmas estruturalistas, marxistas e dos Annales do final dos anos 1970 e, por outro lado, um “retorno” à narrativa enquanto elemento de especificidade do conhecimento histórico que em muito se aproximaria da narrativa literária. O caráter de cientificidade almejado pelos Annales teria passado definitivamente por cima do caráter narrativo da história, por mais latente que esse caráter atualmente nos pareça e ainda que muitas das grandes obras produzidas por Marc Bloch e Lucien Febvre contemplem elementos literários (p. 19).
Como pano de fundo de todo o debate estabelecido em torno desse suposto “retorno” da narrativa, encontramos o estabelecimento de novas posturas teóricas e metodológicas em relação à produção de conhecimento histórico. Neste mesmo contexto, encontramos a micro-história italiana, a “new left” inglesa e, mais posteriormente à própria “guinada linguística” nos EUA, escrevendo – literalmente – o passado de forma diferente dos grandes modelos. A análise de Berbert Júnior leva esse contexto à tona a partir da constatação de que há uma
crise de paradigmas no interior da própria narrativa histórica (p. 9), o que já é ponto de grandes controversas ainda hoje. Assim, o autor define as dimensões do seu estudo: “[…] principalmente, apresentar os caminhos que levaram à crise que resultou, simultaneamente, no rompimento com o paradigma moderno e no estabelecimento de um novo paradigma, denominado pós-moderno” (p. 9).
Ao extremo, podemos observar Hayden White proclamando a história enquanto ficção documentada. Os efeitos causados pela historiografia da chamada “guinada linguística” caíram em erro ao absolutizar o estatuto do passado. Essa postura acabou por tornar qualquer compreensão do passado como ultrassubjetivista, em que a categoria moderna da “universalidade” assumindo contornos absolutos demoliu com a diferença entre as culturas (p. 223).
Porém, não se pode negar que a noção de White de imaginação histórica é fundamental dentro da epistemologia da história atual e os desdobramentos afetam vários campos do saber histórico: cultural, político, simbólico, religioso etc. O que Berbert Júnior revela de fundamental é que o paradigma pós-moderno acabou por relegar a retórica a uma simples questão de poder, quando, e aqui temos outro ponto forte do livro, a retórica está no centro de tensão entre as rupturas que pós-modernos almejaram fazer com as metanarrativas universais modernas (p. 10).
Assim, o coração da obra ressignifica a retórica como uma chave não apenas interpretativa, mas como alternativa diante das aporias tanto de modernos quanto de pós-modernos. Uma via para superação da crise de paradigmas: “[…] a retórica possui outras funções na teoria da história que não somente aquelas que foram destacadas pelos autores vinculados ao paradigma pós-moderno”, já que: “[…] a possibilidade de retomar o caráter de referência da narrativa a partir da capacidade do texto historiográfico de se referir ao passado”, efetiva-se na própria retórica (p. 227-229).
Ancorado em farta bibliografia, o trabalho divide-se em três capítulos, em que tanto o debate quanto autores fundamentais dos dois paradigmas – Dominick LaCapra, Paul Ricouer, Carlo Ginzburg, Jörn Rüsen, Hayden White, Terry Eagleton, Michel de Certeau, Frank Ankersmith, Keith Jenkins – são tratados de forma clara e ao mesmo tempo sem prolixismos ou vulgarizações que empobrecem a tessitura dos acontecimentos e muitas vezes tornam qualquer discussão teórica abstrata demais e descolada da realidade.
Um dos primeiros desafios é a definição do paradigma pós- -moderno, que também demonstra uma das tônicas de toda obra: sua acessibilidade e a escolha das interlocuções. Acertadamente, o texto foge das polemizações e se concentra no cerne do debate em que se definem as diferenças e surpreendentemente desvela as similitudes entre modernos e pós-modernos. Assim, “[…] a ruptura estabelecida entre o chamado paradigma pós-moderno e o moderno concede ao primeiro uma excessiva ênfase na interpretação” (p. 26).
Ao invés de estudar-se a “obra em si”, passou-se a dar maior valor às interpretações sobre a obra. A realidade em si não teria, dessa maneira, mais interesse central nas preocupações dos historiadores, já que a “[…] atribuição de significado e a interpretação estariam muito mais vinculadas a determinados esquemas a priori (tais como os encontrados em estratégias definidas a partir da ‘elaboração do enredo’, da ‘formalização da argumentação’ e das ‘implicações ideológicas’) do que à pesquisa histórica propriamente dita” (p. 36).
No limiar dessa perspectiva, como bem demonstra o capítulo dois (Universalidade, contingência a teoria da história: uma análise de categorias), ao analisar as asserções de Keith Jenkins, percebe-se que a relativização de toda abordagem dos historiadores é o resultado eminente da perspectiva pós-moderna, já que: “[…] se não existe, a certeza de que a história possa apreender diretamente do passado, a consequência maior será a relativização de todas as abordagens e o abandono da epistemologia no que se refere à análise do discurso entendido com ou um todo” (p. 43). Aqui encontramos outro ponto alto da análise da obra. Para além do mapeamento das premissas dos dois paradigmas, interessa a percepção dos caminhos alternativos que “[…] consigam evitar tanto o reducionismo objetivista, preconizado pelo paradigma moderno, quanto o voluntarismo subjetivista, exortado pelo paradigma pós-moderno, quando da atribuição do significado” (p. 45).
E, para a percepção dos possíveis caminhos alternativos, é a noção de retórica que, em diálogo com o direito, pode estabelecer uma compreensão das dimensões teóricas do debate. Nas palavras do autor: “[…] advogamos uma concepção de retórica que considere os aspectos cognitivos e o papel dinâmico da relação entre o historiador, os textos e o contexto e, que está inserido” (p. 77). Talvez aqui tenhamos uma pista importante para se pensar nas formas de superação das aporias e armadilhas que o debate coloca ao nosso jovem estudante, o qual antes não acreditava nessa possibilidade.
Por fim, é inegável que a obra contribui sobremaneira para a teoria da história e historiografia atuais, pela acessibilidade, clareza e pela qualidade das análises. Ao final, o leitor sente-se estimulado a avançar naquilo que o texto não pôde fazer: a crítica da recepção do debate em território nacional, ponto esse tangenciado no primeiro e segundos capítulos de forma breve. Mas a essa tarefa caberia outra obra tão ou mais densa quanto esta.
Aruanã Antonio dos Passos – Doutorando em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Contato: aruana.ap@gmail.com.
História e historiografia: exercícios críticos – REVEL (Topoi)
REVEL, Jacques. História e historiografia: exercícios críticos, Curitiba: Ed. UFPR, 2010. Resenha de PEREIRA, Mateus. Jacques Revel: entre a história da historiografia e a “crise” da história social. Topoi v.16 n.31 Rio de Janeiro July./Dec. 2015.
O livro em questão apresenta uma das mais importantes análises sobre a história da historiografia francesa do século XX. A publicação dos textos de Revel referenda, complementa e complexifica determinadas visões consolidadas sobre aquela que foi (e talvez ainda seja) a principal matriz historiográfica para os historiadores brasileiros.1 O autor é bastante conhecido no Brasil por seus ensaios, suas entrevistas e por suas posições institucionais, em particular por suas atuações junto à revista e ao “grupo” dos Annales.2 O livro pode ser lido como um retrato das diversas “crises” – supostas ou reais – da produção histórica francesa a partir do final do século passado, em especial da história social.3
São nove textos publicados em distintas ocasiões. Sendo que o primeiro, “construções francesas do passado”, ocupa quase cem páginas. Esse primeiro capítulo, publicado originalmente em 1995, pretende “dar conta de uma história da historiografia” (p. 19) francesa após a Segunda Guerra Mundial. Para o autor, os Annales, mais do que uma escola, são e foram um projeto aberto a diversas solicitações de determinados presentes. Segundo Revel, desde o fim da Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) o ensino de história ganhou, por um lado, um papel cívico para reanimar a nação humilhada; e, por outro, os historiadores assumiram lugar de destaque na formação e na elaboração da política universitária francesa. Tratava-se de uma história “positivista”, caracterizada pela recusa à interpretação. Para Jacques Revel, essa posição constitui um traço de longa duração ainda presente na historiografia francesa, distinguindo-a, portanto, da tradição alemã.
O autor enfatiza que a proposta levada a cabo pelos primeiros Annales de transformar a história em uma ciência “também propunha um positivismo” (p. 29). Para o autor, o “positivismo” (o termo é utilizado em várias passagens do livro de forma pouco rigorosa), o “marxismo” e o “estruturalismo” podem ser agrupados sob o rótulo de “funcionalismo”. É esse paradigma unificador do campo das ciências sociais “que parece ter pouco a pouco se abatido, sem crise aberta, durante as duas últimas décadas” (p. 79). Tal fato, aliado à dúvida que invadiu as sociedades, contribuiu para o aumento do “ceticismo sobre a ambição de uma inteligibilidade global do social, que fora o credo, implícito ou explícito, das gerações precedentes” (p. 79). Essas “crises” de fundo, que implicaram a revisão do lugar dos historiadores na sociedade francesa, questionaram os pressupostos de um projeto baseado nas “certezas de uma história social” (p. 79).
Revel destaca que os “pais fundadores” dos Annales, Marc Bloch e Lucien Febvre, rejeitaram toda a construção teórica e epistemológica que sustentava o projeto sociológico durkheimiano. É no interior dessa perspectiva e da defesa da prevalência da história em relação às outras ciências sociais que se dá a escolha do conceito de “social” para o primeiro plano de investigação histórica: “o social está na medida das ambições ecumênicas e unificadoras do programa” (p. 33). Com o objetivo de problematizar o conceito, o autor cita uma frase na qual Febvre afirma: “uma palavra tão vaga quanto ‘social’ […] parecia ter sido criada para servir de ensino a uma revista que pretendia não rodear as muralhas” (apud Revelp. 33). O autor destaca que para os primeiros autores dessa “escola” a história permanece essencialmente empírica, em especial pelo fato de que o “social não é jamais o objeto de uma conceituação sistemática, articulada, ele é sobretudo o lugar de um inventário, sempre aberto, de relações que fundam a ‘interdependência dos fenômenos'” (p. 36). Para Jacques Revel, a chamada segunda geração aprofunda esse “novo empirismo” ou “positivismo crítico” (p. 54) onde o “método” ganha primazia em detrimento da teoria e das condições de produção históricas. Porém, desde os anos 1970, assiste-se a um conjunto de interrogações sobre a disciplina e a prática historiográfica levada a cabo a partir desses pressupostos. Desde então surge (não apenas na França) uma série de tentativas para se pensar uma “nova história” do social, crítica e problemática.
O capítulo seguinte pode ser lido como um desdobramento do primeiro. Ele procura fazer uma história da noção de mentalidades na historiografia francesa, bem como dos seus usos. O grande destaque é a análise do “contextualismo” e do organicismo do projeto de uma história das mentalidades em Febvre. Podemos dizer que o argumento principal dos dois textos, em especial “Construções francesas do passado” – o mais importante do livro – é a de que o giro/virada crítica (tournant critique) dos Annales (entre 1988 e 1989) foi uma tentativa de propor uma resposta, um caminho ou uma solução para a “crise” da história social.4 Posição que implicou rever a ideia de interdisciplinaridade, abrindo caminho para a reflexão historiográfica e para perspectivas experimentais. Trata-se, assim, de uma defesa fundamentada das posições políticas, institucionais e epistemológicas do próprio Jacques Revel, já que entre os membros do comitê de direção da revista ele foi um dos principais responsáveis pelo tournant critique dos Annales.5 É bom lembrar que os resultados desse projeto podem ser vistos, em especial, no livro organizado Bernard Lepetit,6 onde se propõe uma outra história social, e em Um percurso crítico: Doze exercícios de história social, do próprio Jacques Revel.7
O livro História e historiografia é composto também por três textos publicados em Um percurso crítico, a saber: “A instituição e o social”, “Máquinas, estratégias e condutas”, “O fardo da memória”. Eles apresentam autores e perspectivas que, do ponto de vista de Revel, ajudam a pensar alternativas à “crise” da história social: as proposições de Michel de Certeau, Michel Foucault, Edward Palmer Thompson (ainda que apareça de forma marginal no livro) e Norbert Elias, além da microanálise, dos jogos de escalas e dos estudos de caso.
O capítulo “A instituição e o social” procura pensar o “social” a partir da instituição a fim de contribuir para os “deslocamentos e as reformulações decorrentes do discurso que os historiadores do social detêm sobre a instituição” (p. 117). Trata-se de criticar diversas perspectivas historiográficas que tendiam à “institucionalização do social” (p. 124) e a “oposição radical entre a instituição e o social” (p. 130). O autor exemplifica sua crítica a partir dos estudos de prosopografia social. Para ele, a maioria desses estudos restringiu-se à análise, à descrição, à uniformização e, em especial, aos estudos estritamente institucionais. Critica-se, também, a utilização de classificações sociais preestabelecidas nesses trabalhos.
Em relação à Michel de Foucault, o autor argumenta que alguns deslocamentos do itinerário do filósofo são representativos: “do modelo da máquina ao tema da ‘governamentabilidade’, do poder às ‘relações de poder'” (p. 132). Sobre a obra desse autor, Revel, em “Máquinas, estratégias e condutas”, afirma que a maioria dos historiadores está satisfeita com uma leitura redutora de sua obra. Apesar disso, ou por isso mesmo, seus textos são lidos com assiduidade e fidelidade pelos historiadores há mais de quarenta anos. Ele sugere que, ao contrário de um uso que pretende restituir o sentido essencial do texto Foucault, dever-se-ia “levar em conta o conjunto dos efeitos, entendidos e mal entendidos que são como a sombra espectral de uma proposta” (p. 175).
Nessa direção, não deixa de chamar atenção uma citação de Siegfried Kracauer no ensaio consagrado a esse autor: “adoro o lado confuso do pensamento dos historiadores; ele é igualmente exato na medida em que permanece inacabado” (apud Revel, p. 184). É bastante interessante também a aproximação que Revel opera entre as perspectivas de Kracauer e as de Paul Ricoeur (Tempo e narrativa), no que se refere à heterogeneidade e incompletude da narrativa histórica. Um dos pontos altos do ensaio é a forma como o autor explora, a partir de Kracauer, a homologia entre história e fotografia. Ricoeur é convocado novamente para acompanhar a reflexão do autor sobre “recursos narrativos e conhecimento histórico”. Além desse filósofo, percebemos, ao longo do livro, como a obra de Reinhart Koselleck foi importante, na França, para a reflexão historiográfica e teórica na passagem do século XX para o XXI. Em especial para criticar a ambição ingênua e simplista de certo realismo e cientificismo da história social francesa do século XX. Revel defenderá a experimentação da narrativa histórica como alternativa a esse tipo de história nos dois breves textos que fecham o livro. O primeiro sobre a questão da biografia; o outro dedicado aos estudos da memória. Ainda que vaga, a ideia de experimentação é utilizada como um elogio à ousadia e, ao mesmo tempo, como uma crítica a ideia de “método”.
Para adensar a heterogeneidade do livro, a condição de testemunha dos movimentos da historiografia francesa, presente em vários textos, ganha forte destaque em “Michel de Certeau historiador: a instituição e seu contrário”. Para Revel, a instituição está presente no trabalho do autor de A escrita da história para “logo ser desmentida” (p. 142), já que Certeau “não deixou de sentir-se atraído pelas produções inclassificáveis, pelas separações, pelo trabalho contínuo de reclassificação que opera a história” (p. 142). Não haveria nas preocupações desse historiador uma separação radical entre a experiência (seja individual ou coletiva) e suas formas institucionais. Para dar conta dessa complexidade emerge no vocabulário certoniano uma constelação conceitual que mobiliza uma argumentação bastante singular. Em busca de cartografias, topografias ou escalas múltiplas, ganham destaque, em sua linguagem, termos como: possibilidades políticas e sociais, confrontação (conflito e negociação), deslocamentos, passagens, perda, falta, mística, operação, criação, legitimação, autoridade, lugar, bricolagem, errância, jogos, alteridade, invenção, outro, cruzamentos, redes, desvio. “A operação historiográfica”, importante texto de Certeau, pode ser lido, assim, como um acontecimento geracional: um “momento em que na disciplina um ‘despertar epistemológico’ atesta, por várias frentes, uma ‘urgência nova'” (p. 144). Na dinâmica entre o lugar ou a errância, a instituição ou seu contrário, o Certeau de Revel é mais complexo e ambíguo: “o que lhe pareceu sempre essencial e, que provavelmente, dá unidade ao seu trabalho, são os usos não institucionais da instituição” (p. 149). Certeau, dessa maneira, “não se satisfazia nem com um regime de evidência compartilhada, nem com um regime de suspeita generalizada” (p. 145). Essa leitura do autor de “A operação historiográfica” nos ajuda a combater abusos do subjetivismo contemporâneo, já que para Michel de Certeau a produção histórica é produto de um lugar essencialmente social. O Certeau de Revel nos recorda que “o historiador se submete aos imperativos de uma profissão pela qual deve fazer conhecer e com a qual ele se encontra em negociação constante por tudo que toca suas maneiras de fazer e de dizer” (p. 145).
A heterogênea coletânea de textos de Jacques Revel nos ajuda a repensar certos passados e conceitos dominantes e estruturadores da nossa prática historiadora. Nessa direção, o livro pode contribuir para pensar questões que o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro talvez tenha formulado de forma mais radical: os conceitos (e suas distinções implícitas) de “social” e “cultural” ainda têm pertinência? Qual a relevância de uma “antropologia [diríamos: história] social ou cultural”? As alternativas para Castro oscilam entre repensar os adjetivos que acompanham a disciplina e/ou na elaboração de uma linguagem conceitual diversa.8
Podemos dizer que a presença explícita e implícita de Michel de Certeau na obra aqui resenhada contribui para que Revel realize o exercício de criticar a historiografia dos antecessores e do seu presente para, ao mesmo tempo, construir espaços e lugares para a emergência do novo. A leitura de História e historiografia nos ajuda, portanto, a pensar nos desafios de ontem e de hoje tanto da história social como da história da historiografia. Em especial, por servir de alerta à tentação que essas subdisciplinas permanentemente vivem: a de ser considerada, por seus praticantes, a melhor – talvez até a mais verdadeira – “forma” de se escrever história. Contra essa sedução, os ensaios de Revel sugerem outros caminhos: a criatividade, a experimentação, o rigor, a erudição e a crítica.
Referências
BOUCHERON, Patrick. O entreter do mundo. In: BOUCHERON, Patrick; DALALANDE, Patrick. Por uma história-mundo. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. [ Links ]
DAHER, Andrea. Entrevista com Jacques Revel. Topoi, Rio de Janeiro, 2009. [ Links ]
DELACROIX, Christian. La falaise et le rivage. Histoire du “tournant critique”. Espaces Temps, n. 59/60/61, p. 86-111, 1995. [ Links ]
FERREIRA, Marieta de Morais. Entrevista com Jacques Revel. Revista Estudos Históricos, v. 10, n. 19, p. 121-140, 1997. [ Links ]
GONDRA, José Gonçalves. Telescópios, microscópios, incertezas – Jacques Revel na História e na História da Educação. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FILHO, Luciano Mendes de Faria (Org.). Pensadores sociais e História da Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. [ Links ]
GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Exercendo um ofício – Entrevista com o historiador Jaques Revel. Revista História Oral, v. 5, p. 189-199, 2002. [ Links ]
LEPETIT, Bernard. Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale. Paris: Albin Michel, 1995. [ Links ]
REVEL, Jacques (Org.). Jogos de escala: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: FGV, 1998. [ Links ]
REVEL, Jacques. A invenção da sociedade. Rio de Janeiro: Difel, 1989. [ Links ]
REVEL, Jacques. Micro-história, macro-história: o que as variações de escala ajudam a pensar em um mundo globalizado. Revista Brasileira de Educação, v. 15, n. 45, 2010. [ Links ]
REVEL, Jacques. Un parcours critique. Douze essais d’histoire sociale. Paris: Galaade, 2006. [ Links ]
REVEL, Jacques. Proposições: ensaios de história e historiografia. Rio de Janeiro: Eduerj, 2009. [ Links ]
VIVEIROS DE CASTRO, E. O conceito de “sociedade” em antropologia. In: VIVEIROS DE CASTRO, E. A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. p. 297-316. [ Links ]
1Ver, também, REVEL, Jaques. Proposições: ensaios de história e historiografia. Rio de Janeiro: Eduerj, 2009.
2Cf., por exemplo, DAHER, Andrea. Entrevista com Jacques Revel. Topoi, Rio de Janeiro, 2009; FERREIRA, Marieta de Morais. Entrevista com Jacques Revel. Revista Estudos Históricos, v. 10, n. 19, p. 121-140, 1997; GONDRA, José Gonçalves. Telescópios, microscópios, incertezas – Jacques Revel na História e na História da Educação. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FILHO, Luciano Mendes de Faria. (Org.). Pensadores sociais e História da Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2012, p. 81-109. GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Exercendo um ofício – Entrevista com o historiador Jaques Revel. Revista História Oral, v. 5, p. 189-199, 2002. Ver, também, REVEL, Jacques. A invenção da sociedade. Rio de Janeiro: Difel, 1989; REVEL, Jacques (Org.) Jogos de escala: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: FGV, 1998; e REVEL, Jacques. Micro-história, macro-história: o que as variações de escala ajudam a pensar em um mundo globalizado. Revista Brasileira de Educação. v. 15, n. 45, 2010.
3De algum modo, Jacques Revel deixa de lado um importante aspecto que vem sendo destacado por outros autores, a saber: a perda de prestígio e/ou centralidade da historiografia francesa no mundo. A esse respeito, no interior dos debates sobre a história-mundo, Patrick Boucheron, por exemplo, em 2013, afirma: “atolados nas querelas suscitadas pelo embaraçoso legado braudeliano, extraviados pelas sereias da microstoria que fazia a história em migalhas, incapazes de se dar conta do quanto a França encolhera, transformada em potência mediana da historiografia, exportando sua French Theory como outros exportam conhaque ou bolsas (ou seja, como um produto de luxo para elites mundializadas), deixavam, totalmente, de responder ao chamado da Word History“. BOUCHERON, Patrick. O entreter do mundo. In: BOUCHERON, Patrick; DALALANDE, Patrick. Por uma história-mundo. Belo Horizonte: Autêntica, 2015, p. 7.
4Un tournant critique? Annales ESC, Histoire et sciences sociales, n. 2, p. 291-293, 1988; Un tournant critique. Annales ESC, Histoire et sciences sociales, n. 6, p. 1371-1323, 1989.
5DELACROIX, Christian. La falaise et le rivage. Histoire du “tournant critique”. Espaces Temps, n. 59/60/61, p. 86-111, 1995.
6LEPETIT, Bernard. Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale. Paris: Albin Michel, 1995.
7Original francês: REVEL, Jacques. Un parcours critique. Douze essais d’histoire sociale. Paris: Galaade, 2006.
8VIVEIROS DE CASTRO, E. O conceito de “sociedade” em antropologia. In: VIVEIROS DE CASTRO, E. A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, p. 297-316.
Mateus Henrique de Faria Pereira – Doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e professor na Universidade Federal de Outro Preto (UFOP). Ouro Preto, MG, Brasil. E-mail: matteuspereira@gmail.com.
Historiografia e nação no Brasil: 1838-1857 / Manoel L. S. Guimarães
Luís César Castrillon Mendes – Universidade Federal de Mato Grosso.
GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Historiografia e nação no Brasil: 1838-1857. Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 2011. 284p. Resenha de: MENDES, Luís César Castrillon. História histórias. Brasília, v.3, n.5, p.223-226, 2015. Acesso apenas pelo link original. [IF]
O desafio historiográfico – REIS (AN)
REIS, José C. O desafio historiográfico. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 160p. (Coleção FGV de bolso. Série História). Resenha de: SALGUEIRO, Eduardo de Melo. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 39, p. 407-415, jul. 2014.
José Carlos Reis, autor de diversas obras sobre teoria e filosofia da história, apresenta, em O desafio historiográfico, uma porção de temas que vem inquietando os historiadores, sobretudo em relação às crises que a ciência da história tem enfrentado desde os meados do século XX. Neste sentido, logo na introdução, o autor lança diversas questões sobre o “fazer” a história e o “ser” historiador. Conforme ressalta, seu livro “[…] tem a pretensão de propor uma reflexão ao mesmo tempo fácil e densa, rápida e profunda […] sobre o ‘desafio historiográfico’” (p. 7).
Qual seria esse desafio? Ou seriam desafios? No decorrer dos seis capítulos do livro (alguns inéditos, outros reorganizados a partir da sua vasta publicação), Reis intentará mostrá-lo[s]. No primeiro deles – homônimo ao título do livro –, o autor inicia a discussão evidenciando algumas das questões que mais têm importunado os historiadores ao longo das últimas décadas. Com “irônico sadismo”, Reis pretende com isso provocar, ou melhor, “irritar” os profissionais da história, expondo uma porção de críticas que a área tem sofrido, pois, na sua visão, “[…] o ganho com isso é enorme! É o fim do dogmatismo, da solene e hipócrita confiança no ‘ofício’”, uma vez que promove “o enfraquecimento dos sérios e pedantes tência de fontes; o esquecimento de reserva, isto é, aquele que é reversível, um tesouro profundo que pode ser recuperado; e o esquecimento manifesto, aquele que é conscientemente manipulado, apagando-se situações “constrangedoras” da história de um país, por exemplo.3 Como controlar tais abusos e vencer os esquecimentos? Seria a historiografia capaz de proteger a memória? Na leitura de Reis, Ricoeur acredita que sim, pois uma memória […] instruída, esclarecida pela historiografia, e uma historiografia capaz de reanimar a memória declinante, que a reatualiza, que reefetua o passado, podem ser uteis à vida […] na busca do reconhecimento de si dos indivíduos em seus grupos, dos grupos em relação aos outros e da humanidade como união universal dos grupos e indivíduos (p. 45).
Ainda no segundo capítulo, o autor apresenta-nos as três fases da operação historiográfica elaboradas por Ricoeur. A fase documentária, momento em que o historiador procura coletar dados exteriores, a partir dos problemas e das hipóteses por ele lançados; a fase da explicação/compreensão, momento em que o pesquisador organiza a massa documental na tentativa de compreendê-la e interpretá-la; e a terceira fase, que é a da representação narrativa, isto é, o fechamento da operação historiográfica – sem nos esquecermos, claro, da recepção e apropriação dos leitores.
No fechamento do capítulo, José C. Reis afirma mais uma vez que Ricoeur procura reunir memória e historiografia, pacificar a sua “relação difícil”, demonstrando que o objetivo de ambas é o mesmo: vencer o esquecimento. O objetivo maior da memória-historiografia é a “reconciliação com a vida”, que se realiza “no perdão”, por meio de um trabalho de luto, de “psicologia coletiva” que a historiografia acaba exercendo (p. 61). Tal concepção, no entanto, pode ser criticada se levarmos em consideração os perigos que existem com a perspectiva apaziguante ricoeuriana, pois é muito mais fácil para o opressor esquecer-se das atrocidades que cometeu do que para o oprimido se esquecer das que sofreu, e temas como o Holocausto e o Golpe Militar estão aí para nos mostrar como não é fácil achar uma justa medida entre o perdão e a justiça.
No terceiro capítulo, o autor retoma algumas das discussões feitas no início do livro e se dedica a nos mostrar o debate em torno da narrativa histórica, evidenciando especialmente as críticas feitas por Hayden White, que provocaram diversas crises na historiografia. O historiador norte-americano é categórico ao sinalizar que o discurso historiográfico não seria realista, pois os historiadores fazem apenas a construção de versões por meio de um “artefato verbal em prosa”, e que a “[…] história é uma representação narrativa das representações-fontes”, não havendo oposição entre história e ficção (p. 64); “o passado como tal” é inacessível e o passado ao qual os historiadores podem ter acesso – seus traços ou restos documentais – é constituído por textos (discursos), e não por uma realidade extradiscursiva – um referente externo ao discurso (FALCON, 2011, p. 170). Em resumo: não há cientificidade na operação historiográfica.
Para fazer tal análise, Reis abordará principalmente a obra Tempo e narrativa4, de Ricoeur, que faz uma profunda discussão acerca dessas indigestas questões apontadas por White. Segundo nosso autor, Ricoeur defende o realismo histórico, pois “[…] o tempo vivido não é inenarrável”, “[…] as narrativas históricas são ‘variações interpretativas’ do passado […] mas [são] realistas”, uma vez que “[…] as intrigas variam, mas as datas, os documentos, os personagens, os eventos, os locais, são os mesmos”. Exemplificando, Reis ressalta que existem várias configurações narrativas sobre a Revolução Francesa ou o Golpe de 64, “[…] mas elas não podem alterar [seus] dados exteriores” (p. 69-76). No decorrer do capítulo, entretanto, ele nos mostrará que, para Ricoeur, apesar de inicialmente heterogêneas e opostas, as narrativas histórica e ficcional também se entrecruzam, porém sem se confundir.
Como exemplo de tal afirmação, no último tópico do capítulo, há uma análise do debate feito por Ricoeur acerca da obra O Mediterrâneo e o mundo mediterrânico à época de Felipe II, de Braudel, que “[…] seria um exemplo revelador do caráter produtivo do entrecruzamento entre narrativa histórica e ficcional” (p. 83) e que evidencia o fato de que não há um “retorno à narrativa” – na prática, nunca houve “nem partida nem abandono”, pois mesmo as primeiras gerações dos Annales nunca abandonaram a narrativa, uma vez que “sociedades”, “classes”, “mentalidades” e inclusive o “Mediterrâneo” são “quase-personagens” de uma narrativa, já que “mesmo a mais estrutural é construída a partir das fórmulas que governam a produção das narrativas (CHARTIER, 2002, p. 86-87), o que, claro, não invalida o discurso histórico.
No quarto capítulo, o autor faz uma descrição geral das princi‑pais características dos Annales, mostrando aquilo que houve de inovador na sua prática historiográfica, em oposição à historiografia tradicional oitocentista. Segundo Reis, os primeiros Annales são partidários de uma “história-problema”, que se opunha à historiografia tradicional, acusada de ser meramente narrativa, descritiva e desproblematizada, pois pretendia apenas “[…] narrar os eventos políticos, recolhidos nos próprios documentos, em sua ordem cronológica, em sua evolução linear e irreversível, ‘tal como se passaram’”. Na “história-problema”, o historiador escolhe seus objetos no passado a partir de interrogações do presente (p. 93). Para obter tal êxito, os Annales inovaram de várias maneiras: a noção de “fato histórico” como construção, em oposição ao “fato dado” nos documentos (escola metódica); a ampliação e a variedade do uso das fontes históricas; e a ambição de uma história total e global. Unindo-se a tais propostas, os annalistes propuseram o uso da interdisciplinaridade.
Ainda que breve, tal discussão servirá como uma antessala para o debate feito no capítulo seguinte, Annales versus marxismos: os paradigmas históricos do século XX. Nesse capítulo, o autor faz inicialmente uma abordagem acerca das principais diferenças entre a modernidade iluminista e a pós-modernidade para poder, posteriormente, situar os Annales e o marxismo. No primeiro caso, o projeto moderno iluminista é eminentemente racional e constrói um sujeito singular-coletivo absoluto e consciente, e a história é um processo inteligível com um final claro, isto é, “[…] a vitória da razão, que governa o mundo” (p. 105). Para tanto, segundo Reis, a modernidade desprezava o presente e o passado, lançando seu olhar para o futuro e provocando, assim, uma “aceleração da história”. Esse é um dos pontos em que recaem as críticas a tal projeto, pois a “intervenção radical da realidade histórica” acabou por produzir um nível de agressão que não trouxe progresso e felicidade. Daí emerge uma visão anti-iluminista, que pretende pôr fim ao “projeto moderno” em favor de um “pós-moderno”.
O pós-modernismo é dividido em duas fases: a primeira delas é ligada ao estruturalismo, que criticava a noção de “sujeito-universal”, uma vez que, para os estruturalistas, “[…] o homem não é só sujeito, mas também objeto” (p. 108). Entretanto, ali ainda havia uma tentativa de “[…] produzir uma inteligibilidade ampliada da história”, “um discurso da razão” (p. 110) – não mais centrada no sujeito absoluto, pois “sua verdade é oculta” e fica além da ilusória, falsa e aparente razão. Na segunda fase, mais conhecida como pós-estruturalista, radicalizavam-se algumas posições, incluindo-se até mesmo os primeiros estruturalistas nas críticas, por ainda manterem um discurso racionalizante. Nas palavras de Reis, a pós-modernidade desconstrói, deslegitima, deslembra, desmemoriza o discurso da ‘razão que governa o mundo’ […], aborda um mundo humano parcial, limitado, descentrado, em migalhas […], assistemático, antiestrutural, antiglobal” (p. 111), e “o conhecimento histórico é múltiplo e não definitivo: são interpretações de interpretações (p. 112).
“Onde situar os Annales e os marxismos?”, nos pergunta Reis. Em primeiro lugar, é difícil situá-los, pois ambos não são homogêneos e talvez isso seja até um componente positivo, conforme ressalta, talvez “[…] a heterogeneidade interna dos dois grupos permita alguma aproximação e colaboração” (p. 114). Neste sentido, o autor divide sua discussão em três leituras, enfatizando especialmente as diferenças entre o marxismo-soviético e os Annales: uma primeira que valoriza aquilo que é comum; a segunda, que nos mostra sua oposição; e uma terceira que os considera simplesmente diferentes, isto é, nem complementares nem opostos, apenas “[…] vistos como teorias, hipóteses de trabalhos que só têm valor e só podem dialogar porque são ‘diferentes’” (p. 115), e só assim é possível obter elementos para a escrita de uma história plural, e não totalitária. A respeito da sobrevivência ou não de ambas as correntes – Annales e marxismo –, tudo dependerá do resultado do embate entre “o projeto moderno” versus “pós-modernidade”, uma vez que ainda não há total abandono do iluminismo.
O último capítulo da obra pareceu um tipo de apêndice, que teve como intenção inserir a historiografia brasileira em um debate teórico até então eminentemente norte-americano-eurocêntrico. A discussão ali feita é válida e importante, mas seria mais apropriada em outra ocasião, pois é curioso que uma abordagem tão rica tenha sido feita em um capítulo tão curto. Cremos que o ideal seria dedicar uma obra de mesmo perfil (isto é, versão de bolso) somente às contribuições de Freyre, já que tal investida nos pareceu solta e sem conexão direta com os demais capítulos. De qualquer modo, é importante frisar que Reis intentou abrir uma discussão sobre “ser historiador do/no Brasil” no sexto capítulo. No entanto, como tal tarefa seria impossível de ser realizada em tão pouco espaço, o autor apresenta apenas a contribuição de Gilberto Freyre, sobretudo no que tange ao seu talento como narrador e como precursor de uma porção de temas inovadores na historiografia, uma vez que “[…] descobriu, ao mesmo tempo que os franceses dos Annales, a história do cotidiano […] das mentalidades coletivas, a renovação das fontes da pesquisa histórica” (p. 144) etc. Isso significa dizer que, apesar de toda a contradição e a polêmica que cercam a obra e a figura de Gilberto Freyre, ele também foi um inovador, e não somente um reprodutor de tendências europeias, não desconsiderando, é claro, que boa parte de sua formação acadêmica foi feita nos Estados Unidos, sob forte influência alemã. O desafio historiográfico é uma importante contribuição, especialmente para historiadores mais jovens, pois José Carlos Reis consegue fazer um debate extremamente complexo muito didaticamente, e isto é louvável. Não podemos deixar de dizer, entretanto, que algumas questões são tão resumidas que podem dificultar a compreensão de um leitor iniciante, exigindo, de certo modo, uma leitura prévia de alguns temas ou uma busca em outra bibliografia, como o próprio autor avisa na introdução da obra.
Ademais, além de advertir contra um dos maiores males da escrita da história e de seus profissionais, isto é, a tendência “parricida” em relação aos nossos mestres e às correntes historiográficas anteriores a nós, o que ficou subentendido é o fato de que Reis inclina-se a aceitar a proposta ricoeuriana, isto é, a via do diálogo e da “não dogmatização” do saber histórico. O ideal, na visão do autor, é caminharmos sempre pela via da compreensão, ainda que os embates sejam inevitáveis. Neste sentido, faz-se necessário aproveitarmos o que há de importante nas mais diversas vertentes historiográficas, sem incorrermos no erro de ficarmos cegos e per‑didos em uma só visão.
Notas
1 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François. Campinas: Ed. Unicamp, 2007.
2 Ricoeur – diz Reis – pondera, entretanto, que em algumas profissões, como o teatro, por exemplo, a “memória artificial” é uma poderosa arma contra o esquecimento (p. 37).
3 Helenice Rodrigues da Silva dá um exemplo típico em relação ao esquecimento mani‑festo. Diz ela que, nas comemorações dos “500 anos do Brasil”, foram “esque‑cidos” “os massacres indígenas, a escravidão negra, as violências da história”, em prol dos “mitos fundadores e das utopias nacionais (o ‘paraíso tropical’ e o ‘país do futuro’)” (2002, p. 432).
4 RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Editora WMF/Martins Fontes, 2010.
Referências
CHARTIER, Roger. À beira da falésia: a história entre certezas e inquietude. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2002.
FALCON, Francisco J. C. Estudos de teoria e historiografia, volume I: teoria da história. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, Helenice Rodrigues da. “Rememoração”/comemoração: as utilizações sociais da memória. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 22, n. 44, p. 425-438, 2002.
Cláudia Regina Bovo – Professora do Departamento de História da Universidade Federal do Mato Grosso, doutoranda em História/Unicamp. Endereço Eletrônico: claubovo@yahoo.com
A fascinação weberiana: As origens da obra de Max Weber – MATA (AN)
MATA, Sérgio da. A fascinação weberiana: As origens da obra de Max Weber. Belo Horizonte: Fino Traço, 2013. 236p. Resenha de: CUNHA, Marcelo Durão Rodrigues. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 39, p. 417-426, jul. 2014.
Na linha de estudos atuais no campo da história intelectual e das ideias, o professor Sérgio da Mata realiza em A fascinação weberiana: as origens da obra de Max Weber um trabalho que, dentre outros objetivos, busca elucidar as bases do encantamento intelectual, da sedução que a obra de Max Weber suscita na comunidade acadêmica em todo o mundo.
A “fascinação” – termo cunhado na década de 1950 por Nelson Werneck Sodré – denota, segundo o historiador mineiro, um tipo de tentação intelectual que, de forma ambivalente, poderia levar ao mesmo tempo à obliteração da autonomia da obra de um autor, bem como à sua consequente abnegação no campo das ideias.
Na contramão deste caminho entre fascinação e sacrifício do intelecto, Sérgio da Mata traz um instigante estudo acerca do legado weberiano, desde a dívida do intelectual para com a Escola Histórica Alemã até os caminhos e as fronteiras da recepção de sua obra em terras brasileiras.
Ancorados num extenso trabalho de pesquisa em arquivos e bibliotecas alemãs, os estudos reunidos pelo Weberforscher brasileiro baseiam-se em uma melhor compreensão dos chamados “anos de aprendizagem”, de formação histórico-jurídica do intelectual alemão, antes do seu tardio sociological turn, ao fim da primeira década do século vinte.
Com o princípio metodológico básico de analisar apenas o que antecede esse marco, preocupando-se com o “início” e o desenvolvimento progressivo da vida intelectual weberiana, o autor evita a tendência a panoramas retrospectivos ou a um tipo de teleologismo muito comum em abordagens sobre obra de Weber, ainda perceptível em trabalhos recentes, como os de Francisco Teixeira e Celso Frederico (TEIXEIRA; FREDERICO, 2011), ou no artigo de Gerhard Dilcher (DILCHER, 2012).
Tendo como pressuposto a elevação feita pelo próprio Weber da ciência histórica à categoria de Grundwissenschaft, o pesquisador enxerga na formação intelectual do autor de A ética protestante uma perspectiva que seria sempre e decididamente histórica. Essa ideia de um approach weberiano às ciências históricas – que há alguns anos causaria estranhamento a leitores desatentos – é a base do argumento de Mata em boa parte de sua obra.
Em um exercício de história contrafatual, o autor chega mesmo a sustentar que, caso a carreira de Weber tivesse se encerrado em 1909, este dificilmente estaria situado entre os fundadores da moderna sociologia alemã.
É em tal provocação que reside a tentativa por parte do historiador de reconstrução da trajetória de Weber dentro daquilo que denomina a “era de ouro do historicismo”. Discordando de interlocutores que tendem a observar na virada do oitocentos ao século vinte o germe de uma crise da ciência histórica, Mata vê, pelo contrário, na fundamentação epistemológica do historicismo – realizada por Dilthey, Schmoller, Bernheim, Windelband e Rickert no período – uma indissociável gênese da obra e da metodologia weberianas.
É justamente fugindo da sombra da sociologia de Max Weber que o autor inicia todo um capítulo acerca daqueles anos de aprendizagem em Heidelberg, Göttingen e Berlim – “três templos da ciência histórica oitocentista” (MATA, 2013, p. 35) –, quando o jovem “jurista” formar-se-ia em um ambiente intelectual amplamente influenciado pela Weltanschaung histórica.
Mata busca aqui identificar algumas das figuras que mar‑caram o início da trajetória intelectual do estudante oriundo de Erfurt para concluir que Weber foi, nem mais nem menos que qualquer contemporâneo seu, o resultado dos estilos de pensamento histórico
419.
Anos 90, Porto Alegre, eentão vigentes. Seus laços familiares com o eminente historiador Hermann Baumgarten, a simpatia inicial pelo trabalho de Heinrich von Treitschke, além do convívio do jovem Max com o círculo de Theodore Mommsen, são alguns dos muitos indícios que corroboram a tese do autor.
Desconstruindo a ideia de que Weber teria rejeitado, ou mesmo se oposto à ciência histórica de seu tempo, o historiador nos prova o contrário a partir de um olhar atento sobre a pouco estudada primeira fase da carreira do intelectual germânico. Considerando a perspectiva trazida por Mata nesse primeiro capítulo, torna-se fácil concordar com sua assertiva, segundo a qual “Max Weber começou a tornar-se o Max Weber que conhecemos no berço esplêndido do historicismo alemão” (MATA, 2013, p. 35).
Mas, longe de limitar a ascendência intelectual do jovem autor aos domínios da Ciência Histórica, Mata fornece-nos o panorama de toda uma constelação de ideias e relações intelectuais que teriam influenciado a formação do economista e historiador do direito Max Weber.
A partir da leitura sincrônica de alguns dos mais importantes estudos históricos e econômicos publicados pelo autor até 1905, Mata é capaz de identificar um padrão metódico comum na obra do então professor de Heidelberg. Ao tratar em especial da concepção plural das relações de causalidade e, ao mesmo tempo, da tendência de Weber a enfatizar determinadas macrodeterminações em função do problema específico elucidado, o pesquisador contesta aquelas leituras que tendem a exagerar a perspectiva “idealista” do autor alemão.
É este apurado exame dos primeiros trabalhos de Weber que permite ao historiador chegar a duas conclusões gerais: primeiro, que Weber (ao menos na primeira fase de sua carreira) não teria proposto nem se tornado refém de uma “teoria” histórico-social abrangente. Segundo, que somente o desconhecimento em relação à obra weberiana explicaria por que se chegou a ver no autor de Erfurt uma versão idealista de Marx. E são justamente as preocupações práticas que permitem ao historiador identificar uma “clavis weberiana” – especialmente nos vinte primeiros anos da trajetória intelectual do autor. Por trás da inteligência teórica, Weber falaria sempre em uma intenção prática.
Na trilha do que persegue nas digressões teóricas de um Weber prematuro, Mata procurará, entretanto, nas publicações tardias do intelectual turíngio, sinais de uma possível concepção filosófica da história. Principalmente no que tange à sua percepção do processo de racionalização ocidental e no caráter inexorável que atribui ao conceito de Rationalizierung, o autor brasileiro irá buscar no resultado das investigações empíricas weberianas possíveis ligações com a obra do historiador escocês Thomas Carlyle.
Por sua “extraordinária força ética” e pelo ideal de reforma social em harmonia com a recusa a toda alternativa que implicasse a subversão violenta da ordem, Carlyle tornara-se bastante sedutor aos olhos da intelectualidade alemã do fin-de-siècle. Do autor de Past and Present, Weber herdara, por exemplo, aquela ampla dimensão atribuída ao trabalho na modernidade e as idiossincrasias da noção de “heroís‑mo carismático” no cerne do processo de burocratização ocidental.
Exercício semelhante é feito pelo autor no que diz respeito à dívida weberiana ao pensamento do filósofo neokantiano Heinrich Rickert. Distanciando-se da apressada leitura de Ivan Domingues (DOMINGUES, 2004) e dos equívocos cometidos por Fritz Ringer (RINGER, 2004) na análise de tal relação, Mata insiste na necessidade de entendimento dos pressupostos rickertianos para melhor compreensão dos fundamentos do pensamento histórico de Weber. Do autor de Os limites da formação de conceitos nas ciências naturais, Weber extraíra a ideia de que as pré-condições à caracterização de um trabalho de história como científico seriam: objetividade, contextualização e imputação causal. Weber teria expressado bem esta preocupação de Rickert ao observar que o historiador que abre mão dessas pré-condições comporia “um romance histórico, não uma verificação científica”.
Além disso, do filósofo prussiano, teria sido importante para o economista político aquele abrangente conceito de cultura – segundo o qual o cultural seria qualquer realidade investida não apenas de sentido, mas de valor – e o seu ideal de “verdade” como um valor do qual a ciência jamais poderia abrir mão. Longe de expressar um relativismo, o perspectivismo histórico weberiano, como exposto por Mata, estaria muito mais próximo daquele modesto ideal de verdade defendido por Rickert. 420 Marcelo Durão Rodrigues da Cunha.
Abertas tais perspectivas críticas quanto à análise das origens do pensamento histórico weberiano, Sérgio da Mata amplia o debate no quarto capítulo, ao tratar da discussão em torno da “teoria” dos tipos ideais, desenvolvida por Weber. É realizando uma história do próprio conceito em tela que o autor relativiza a originalidade da tal aspecto do pensamento teórico-metodológico do intelectual alemão.
Expressando uma tentativa de fundamentar a perspectiva tipologizante nas ciências naturais, o autor alerta que a noção de “tipo” havia se tornado um jargão na Alemanha entre fins do século dezenove e início do vinte. Como reverberação da Methodenstreit entre economistas alemães e austríacos – envolvendo nomes como Gustav von Schmoller e Carl Menger (RINGER, 2000) – e do debate, igualmente intenso, que contrapôs historiadores políticos a historiadores culturais (ELIAS, 1997, p. 117), Mata verifica a percepção de alguns daqueles limites do historicismo que contribuíram para a reformulação epistemológica da disciplina histórica na Alemanha guilhermina. Nas discussões entre Eberhard Gothein, Dietrich Schäfer e Ernst Troeltsch, seria perceptível o embate acerca da utilidade de categorias tipológicas que visassem a extrapolar os limites do singular na representação de fenômenos históricos.
É também na ciência jurídica e na ligação de Weber com o jurista Georg Jellinek que Mata identifica como o autor do artigo sobre a “Objetividade”, de 1904, teria feito uso dos “tipos empíricos” de Jellinek, invertendo seus polos – os denominando “tipos ideais” – de modo a se distanciar de seu elemento propriamente normativo, – aproximando-os do que classificava como “ciências da realidade”.
A dívida de Weber para com a teologia – e aqui destacam-se as formulações de Ernst Troeltsch – é ressaltada como igualmente importante naquilo que se tornaria tão central em sua obra. Como uma espécie de conceito jurídico “desnormativizado”, o tipo ideal weberiano representaria uma forma de compromisso entre o abandono e a conservação da filosofia da história, sendo, nesse sentido, uma “forma resignada da filosofia da história”. Mais do que simples‑mente comprovar que não há originalidade na “teoria” weberiana dos tipos ideais, Mata é capaz de trazer novamente à tona uma série de debates entre eruditos que outrora padeciam em um longo período de esquecimento.
Ao tratar de outro controverso aspecto da obra de Weber, a “isenção de valor” ou “neutralidade axiológica” (Wertfreiheit) do conhecimento histórico social, o autor opta por reconstruir a evolução de tal sentido na obra de Weber, contrapondo a posição do intelectual às de alguns de seus contemporâneos. Em trabalhos como o ensaio sobre a “Objetividade” ou em A ética protestante, além do diálogo com as obras de Rickert e Schmoller, o historiador evidencia, em um primeiro momento, que há na obra de Weber uma preocupação com o “dever ser” (Sollen) do erudito que extrapola o campo propriamente epistemológico, estendendo-se também à ética da prática pedagógica.
Mata conclui que Weber sustenta a opinião segundo a qual o historiador, o jurista e o sociólogo podem e devem ter sua própria visão de mundo, sua ética e suas convicções políticas, mas não a ciência histórica, o direito e a sociologia enquanto tais. Weber afirmaria querer se afastar dos adeptos de uma neutralidade axiológica “radical”, para quem a historicidade dos postulados éticos deporia contra a importância histórica destes. Ao mesmo tempo, julgaria que não cabe à ciência empírica valorar positivamente uma ética só por ela ter dado forma a épocas e culturas inteiras. Nesse sentido, a neutralidade axiológica weberiana residiria, em última análise, numa transposição da ética da convicção para o campo gnosiológico.
Apontando o caráter estritamente formal da solução weberiana para o problema dos valores, além de sua posição pouco consequente do ponto de vista filosófico, Mata joga luz sobre o tão atual debate acerca das relações entre ciência e consciência moral.
Dando prosseguimento ao debate acerca da influência do pensamento weberiano na ciência histórica, o pesquisador ambiciona, no sexto capítulo, compreender os motivos do amplo desconhecimento a respeito da obra de Weber – tanto no Brasil quanto no exterior – e do seu legado para o ofício dos historiadores.
Dedicando-se ao entendimento de alguns importantes aspectos da visão de Weber sobre a ciência histórica, Mata analisa a opinião do intelectual frente aos escritos de três relevantes historiadores – Leopold von Ranke, Karl Lamprecht e Eduard Meyer – de modo a melhor aproximar-se de sua própria visão a respeito do tema.
Em tal exercício, o historiador conclui que tudo parece afastar as posições de Weber, sobretudo, do segundo desses autores. Os argumentos apresentados na polêmica com Meyer levam-no, toda‑via, a concluir que entre a história “positivista” de Lamprecht e a história compreendida como “ciência cultural” de Weber existiam evidentes afinidades eletivas. Mata percebe que ambos se reconheciam como representantes de uma história cultural que desafiava abertamente os rígidos cânones historiográficos vigentes.
A aproximação com o trabalho do Weber historiador no atual momento do que classifica como “crises de sentido intersubjetivas” seria, segundo Mata, profícua na medida em que – distanciando-se de uma perspectiva de exagero do ficcional – este versaria sobre uma ciência preocupada com os desdobramentos do real.
Nos capítulos seguintes, o autor reitera tal posição referente à relevância da Weberforschung no presente, ao analisar o uso do conceito de “despotismo oriental” e o debate acerca da existência de uma posição religiosa e de uma teologia política na obra de Max Weber.
No primeiro caso, em um pequeno excurso complementar, Mata empreende uma elucidativa avaliação dos escritos weberianos acerca da situação política na Rússia do início do século vinte. Em sua análise, o autor conclui que Weber surpreendentemente mantém sua opinião a respeito do suposto imobilismo russo – de forma coerente com o que era pensado pelos fundadores do materialismo histórico em sua noção de “despotismo oriental”.
No segundo, Mata reserva dois capítulos inteiros para debater a complexa relação do autor em tela com a teologia e a prática religiosa. A partir de uma perspectiva própria à história das ideias, o historiador enaltece a importância do homo religiosus Max Weber para o “estudioso da religião Max Weber”. Em uma minuciosa análise da trajetória dos estudos teológicos de sua família, além das relações do jovem jurista com seu primo Otto Baumgarten, o autor percebe que, longe do que era pregado por Friedrich Schleiermacher, Weber entendia que vida religiosa interior e ação transformadora no mundo não deveriam nem poderiam se contradizer.
Mais adiante, ao discutir a existência de uma teologia política por trás da Ética protestante, o autor traz – em recurso a elementos sociopolíticos, acadêmicos e biográficos do contexto de produção da obra – uma surpreendente interpretação do mais conhecido trabalho do intelectual alemão. Levando em consideração elementos biográficos, além da posição do autor diante da política de seu tempo, Mata é capaz de perceber no estudo de história cultural weberiano tanto a expressão tardia do Kulturkampf1 quanto um tratado de teologia política.
Tratando ainda do clássico estudo de Weber, o historiador irá desconstruir no capítulo seguinte o que considera a formulação do mito de A ética protestante e o espírito do capitalismo como obra de sociologia. Considerando a forma pela qual o autor emprega as categorias de “tipos ideais” – “uma construção mental destinada à medição e caracterização sistemática de conexões individuais, isto é, importantes devido à sua especificidade” (WEBER apud MATA, 2013, p. 180) –, Mata percebe em tal recurso heurístico a tentativa por parte do autor de facilitar a identificação e a análise de realidades percebidas como singulares, que seriam, em última instância, históricas. Além disso, declarações do próprio Max Weber e uma análise do contexto de produção historiográfica do período corroboram a tese do historiador mineiro, segundo a qual A ética protestante teria sido concebida, antes de tudo, como um estudo de história cultural.
Uma última e relevante preocupação de Mata em seu traba‑lho diz respeito à recepção da obra de Max Weber entre historiadores brasileiros desde o início da difusão de seus escritos em território nacional ao longo do último século. De uma favorável leitura de suas ideias durante as décadas de 1930 e 1940 – em interlocutores como Sérgio Buarque de Holanda e José Honório Rodrigues – à crítica e incompreensão de sua “interpretação espiritualista da História” Mata busca em nossa historiografia aquele “elo perdido” entre a obra weberiana e sua interpretação por interlocutores locais.
Neste caminho de reconstrução de itinerários e desmistificação de noções há muito atreladas à herança weberiana, o autor brasileiro erige novas perspectivas úteis à apreciação do “mito de Heidelberg” e de sua obra. Como alternativa a uma ótica demasiado contextualista, Mata opta por trabalhar com a noção de constelações intelectuais e suas delimitações (HEINRICH, 2005, p. 15-30) – ou “espaços de pensamento”. Tal esforço metodológico, conforme buscou-se demonstrar no curto espaço desta resenha, é coroado pelo sucesso da análise do autor em combinar contextos e insights biográficos, fornecendo-nos um panorama das principais conquistas da obra histórico-sociológica de Max Weber.
Se um dos objetivos de Sérgio da Mata – conforme exposto em suas últimas digressões – estava associado à compreensão de um autor dedicado à história como ciência da realidade, pode-se considerar que seu trabalho cumpre à risca a intenção de trazer à tona tal debate. De posse daquela “coragem diante do real” e diante da recente tendência à “ficcionalização de tudo”, Mata é capaz de perceber em seu estudo o quanto o legado de Max Weber se mostra cada vez mais relevante ao entendimento do real enquanto vocação e profissão também no mundo contemporâneo.
Notas
1 Política implementada pelo chanceler Otto von Bismarck entre 1871 e 1878 com o objetivo de secularizar o Estado alemão e eliminar a influência da Igreja Católica Romana sobre a cultura e a sociedade germânica do período.
Referências
DIEHL, Astor Antônio. Max Weber e a história. Passo Fundo: Ediupf, 2004.
DILCHER, Gerhard. As raízes jurídicas de Max Weber. Tempo social, v. 24, n. 1, p. 85-98, 2012.
DOMINGUES, Ivan. Epistemologia das ciências humanas. São Paulo: Loyola, 2004.
ELIAS, Norbert. “História da cultura” e “história política”. In:______. Os alemães: A luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
HEINRICH, Dieter. Konstellationsforschung zur klassischen deutschen Philosophie. In: MUSLOW, Martin; STAMM, Marcelo (Hrsg.). Konstellationsforschung. Frankfurt am Main: C.H. Beck, 2005.
HÜBINGER, Gangolf. Max Weber e a história cultural da modernidade.
RINGER, Fritz. O declínio dos mandarins alemães: a Comunidade Acadêmica Alemã, 1890-1933. São Paulo: Edusp, 2000.
______. A metodologia de Max Weber. São Paulo: Edusp, 2004.
TEIXEIRA, Francisco José Soares; FREDERICO, Celso. Marx, Weber e o marxismo weberiano. São Paulo: Cortez, 2011.
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 1968.
______. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Marcelo Durão Rodrigues da Cunha – Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo. Bolsista Fapes. E-mail: marceloduraocunha@gmail.com.
Tempo presente e usos do passado / F. F. Varella, H. M. Mollo, M. H. F. Pereira e S. Mata
A profusão de acontecimentos e velozes transformações que marcaram “o breve século XX” provocaram nos historiadores, especialmente após a Segunda Grande Guerra, o interesse por investigar as questões de seu próprio tempo. Enfrentando preconceitos historiográficos estabelecidos no século XIX, quanto à (im)possibilidade de historicização do presente, os que se dedicaram a essa empreitada atravessaram décadas de questionamentos acerca da legitimidade científica de seus estudos. Nessa trajetória de enfrentamentos, que resultou na institucionalização da chamada história do tempo presente, a criação de institutos em vários países europeus voltados para a abordagem do pós-guerra e as demandas sociais pelo conhecimento da história próxima – muitas vezes, guiadas pela ideia de justiça e “preservação” da memória, a “aceleração” do tempo e o contexto de renovação historiográfica, a partir dos anos 1970 – exerceram importante papel, no terço final do século passado.
No Brasil, especificamente, a preocupação com problemas relacionados ao tempo presente começou a ganhar fôlego na historiografia nos anos 1990, como atesta, por exemplo, a tradução e publicação de importantes obras de historiadores europeus dedicados à análise do presente e luta por sua legitimação como objeto de investigação histórica. O surgimento de revistas especializadas, a instituição de laboratórios, grupos de pesquisa e a promoção de eventos com foco na temática demonstram o crescente espaço que o tempo presente vem conquistando na constelação das preocupações historiadoras em nosso país. Leia Mais
From history to theory – KLEIN (Topoi)
KLEIN, Kerwin Lee. From history to theory. Berkeley: University of California Press, 2011. Resenha de: AVILA, Arthur Lima. Os (des)caminhos de Clio em terras norte-americanas: episódios de uma história da história nos Estados Unidos. Topoi v.15 n.28 Rio de Janeiro Jan./June 2014.
Como escrever uma história da história nos Estados Unidos? Como dar conta das inúmeras e conturbadas mudanças epistemológicas, disciplinares e linguísticas ocorridas na historiografia daquele país? Como vinculá-las ao mundo extra-acadêmico? From history to theory, mais recente obra de Kerwin Lee Klein, professor da Universidade da Califórnia, Berkeley, busca dar conta dessas questões. Autor de um magistral livro sobre a imaginação histórica estadunidense nos séculos XIX e XX, Frontiers of historical imagination (Berkeley, 1997), o historiador agora se volta, segundo suas próprias palavras, para uma “história episódica da história e teoria” (p. 5) nos Estados Unidos da última centúria. Nesse sentido, From history to theory é menos uma monografia do que uma coleção de ensaios que transitam por temas diversos, do declínio da palavra “historiografia” no discurso histórico norte-americano à ascensão da direita cristã no país, todos tendo um norte comum: traçar a genealogia de momentos discursivos importantes nos âmbitos acadêmicos e públicos estadunidenses. Em outras palavras, Klein pratica algo próximo à história conceitual alemã, mas sem possuir as mesmas ambições filosóficas da Begriffsgeschichte, tratando de historicizar certas palavras-chave, vinculando-as a tradições narrativas e práticas linguísticas mais amplas. Trata-se, portanto, de um livro sobre as instáveis, cambiantes e problemáticas relações entre termos diversos, dos quais “história” e “teoria” são os principais, em vários contextos dos Estados Unidos do século XX, mas, especialmente, os das suas duas ou três últimas décadas – anos das notórias “guerras teóricas” em torno da virada linguística, da nova história cultural e do famigerado “pós-modernismo”.
Para Klein (p. 12), dois momentos foram cruciais para as mudanças ocorridas no discurso histórico estadunidense daquele período: a busca quase obsessiva, mas extremamente ilusória, por um status científico para a disciplina, com suas inúmeras justificações filosóficas, e a descolonização dos continentes africano e asiático, que forçou os historiadores norte-americanos a lidar com diferenças culturais de maneira muito mais profunda do que antes. É sob esse pano de fundo que Klein constrói sua narrativa, como ele mesmo a chama (p. 5), buscando, contudo, não repetir aquelas histórias da história tradicionalmente progressistas e whiggish, que enredavam o desenvolvimento da historiografia como uma marcha constante em direção a estágios mais científicos e, por isso, melhores do que os anteriores. Não há aqui aquela ingenuidade que estipula aos “pós-modernos”, por exemplo, a “destruição” dos pilares da historiografia “científica”, tão comum a certas análises, ou, de outra maneira, a louvação acrítica de “novas” histórias que, com todos os seus “radicalismos” e “inovações”, seriam necessariamente melhores do que as anteriores. O plot é deveras mais complicado do que um simples enredo de ascendência ou decadência.
Isso fica claro na análise que Klein faz da ascensão e queda dos conceitos de “historiografia” e “filosofia da história” no discurso histórico norte-americano, bastante reveladoras acerca da memória disciplinar que se constituiu naquele país. No primeiro caso, nos anos que se seguiram à profissionalização da história, o termo “historiografia” possuía um significado ambíguo e era justamente essa falta de claridade que lhe dava crédito no mercado conceitual dos historiadores. “Historiografia” podia significar a “escrita da história” propriamente dita, o “estudo crítico da escrita da história”, como defendido por nomes como Carl Becker e Charles Beard, e, finalmente, um corpus textual sobre algum tema específico (p. 19). Mais do que isso, o conceito podia combinar tanto uma reflexão filosófica sobre a prática histórica quanto uma narrativa da evolução do discurso histórico, o que o tornava essencial para aqueles que, como o pioneiro Frederick Jackson Turner, imaginavam a disciplina como algo mais do que a simples coleta de fatos e sua exposição “científica” numa narrativa “objetiva”. Dessa maneira, “historiografia” harmonizava os âmbitos teóricos e práticos da história, não os separando em formas estanques, como passaria a ocorrer a partir das décadas de 1950 e 1960. A partir dessas décadas, a burocratização e a superespecialização profissional, já analisadas por nomes como Ian Tyrrell (The great historical Jeremiad. The History Teacher, p. 371-393, May 2000) e Peter Novick (That noble dream. Cambridge, 1988), levaram a uma separação entre a reflexão teórica sobre a história e suas práticas disciplinares. Tal ruptura resultou no abandono dos cursos de “historiografia” oferecidos país afora e numa cada vez mais disseminada aversão à teoria, que se tornaria característica entre os historiadores norte-americanos da segunda metade do século XX. Além disso, para os dois lados do espectro político disciplinar, “historiografia” significava algo condenável ou realmente perigoso: para os conservadores, servia como porta de entrada para ataques teóricos à “história real”; para os radicais, ela funcionava como uma reafirmação do cânone e da preservação do establishment profissional. Não conseguindo convencer ninguém, “historiografia”, entendida principalmente como uma reflexão crítica sobre a disciplina, se tornou um termo virtualmente desacreditado nos Estados Unidos, em que pesem esforços recentes de autores como Eileen Ka-May Cheng (Historiography: a field in search of a historian. History and Theory, p. 278-289, May 2013), Ian Tyrrell (Historians in public. Chicago, 2005), Ellen Fitzpatrick (History’s memory. Cambridge, 2002), além do próprio Klein, em reabilitar a palavra.
Ao mesmo tempo que o termo “historiografia” caía em desgraça entre os historiadores, “filosofia da história” emergia como um conceito importante. Aqui, as preocupações de Klein com práticas linguísticas mais amplas entram em cena, com a hábil construção dos argumentos extradisciplinares que levaram à popularização do termo em terras estadunidenses. De acordo com ele (p. 45), “filosofia da história” encontrou eco especialmente entre dois grupos: aqueles acadêmicos vinculados à política e ao governo, interessados em encontrar um sentido metafísico mais amplo para o conflito entre “liberdade” (capitalismo) e “totalitarismo” (comunismo), e aqueles filósofos dispostos a perscrutar a tão propalada cientificidade da disciplina histórica e a encontrar uma linguagem verdadeiramente compatível com ela. Em ambos os casos, entretanto, os filósofos falharam não só em convencer seus próprios colegas da legitimidade de suas colocações, com os grandes departamentos de filosofia norte-americanos virtualmente ignorando “filosofia da história” enquanto uma disciplina passível de investimentos, como em alcançar os historiadores. Um exemplo de tal fracasso é o amplo debate da filosofia analítica envolvendo positivistas lógicos, como Carl Hempel e os defensores da covering law theory, e aqueles que rejeitavam tais argumentos, ainda que nos termos propostos pelos primeiros. Como demonstra Klein (p. 51-53), apenas um fraco eco de tais discussões alcançou os dedicados servidores de Clio. O pano de fundo de tal surdez, por assim dizer, é o mesmo que levou à decadência do conceito “historiografia”: a pronunciada e cada vez mais agressiva rejeição dos historiadores em empreender grandes debates teóricos, entendidos como irrelevantes para aquilo que os historiadores (supostamente) faziam realmente: ir aos arquivos e, como dizem os norte-americanos, get the story straight.
Ainda assim, a despeito da opinião dos “historiadores reais” sobre elas, as discussões continuaram. O engessado cientificismo professado pelos defensores da covering law theory, e não atacado de frente por seus opositores, levou a uma consequência que, a partir dos anos 1960, teria efeitos duradouros nos Estados Unidos: a reavaliação da história como uma arte, a ars historica, cujo lócus mais adequado de análise seria a crítica literária e não a filosofia analítica. Tal reação, melhor exemplificada nos trabalhos de Hayden White, especialmente no artigo “The burden of history” (1966) e no posterior livro clássico Metahistory (1973), significou uma virada em direção à estética para o julgamento crítico dos textos historiográficos e abriu o caminho para a linguistic turn das décadas de 1970 e 1980 (p. 56). Com tal mudança, pregou-se um dos últimos pregos no caixão da “filosofia da história”, substituída pelo termo “teoria”, mais “neutro” e sem tantas conotações metafísicas – simbolizado na fundação daquele que, até os dias de hoje, é o principal journal sobre teoria e, apesar dos pesares, filosofia da história em língua inglesa, History and Theory, em 1966.
Isso leva à pergunta sobre o que, afinal de contas, foi a tal “virada linguística”, ocorrida no esteio das transformações linguísticas e disciplinares descritas acima. Para Klein, a narrativa é deveras mais complicada do que a habitual história, já contada inúmeras vezes, da invasão dos Estados Unidos pela “teoria francesa”, que, dependendo de quem relata, poderia tanto ser a redenção de todos os males historiográficos ou, pelo contrário, a destruição dos pilares da disciplina. Chegamos ao segundo ponto crucial da análise de Klein: o papel da diferença cultural e, especialmente, da descolonização na emergência da linguistic turn, explorado nos dois capítulos seguintes. Seguindo um percurso pouco transitado por alguns analistas, como Gabrielle Spiegel (The past as text. Baltimore, 1997. p. 29-43) e Ethan Kleinberg (Haunting history: deconstruction and the spirit of revision. History and Theory, p. 113-143, Dec. 2007), o autor busca uma das origens, mas não a única, da virada linguística nos vínculos da antropologia geertziana com a etnolinguística norte-americana da primeira metade do século XX. Ao contrário da linguística europeia, preocupada em encontrar constâncias e uma gênese comum às línguas do Velho Mundo, a etnolinguística estadunidense lidou desde seu início com o choque cultural entre indígenas e europeus e euro-americanos, como demonstrariam os trabalhos pioneiros de Suzanne Langer e Edward Sapir (p. 69-71). O resultado foi uma apreciação da cultura como um fenômeno da linguagem e, por isso, relativa ao lugar daquele que fala, não existindo, portanto, posições universais que pudessem arbitrar entre culturas diversas. Dessa forma, por exemplo, a própria ciência ocidental seria apenas um dos diversos discursos possíveis sobre a realidade, mas não o único. Com a conjugação entre “cultura” e “linguagem”, deram-se, assim, as possibilidades semânticas para a emergência da antropologia geertziana e, por conseguinte, para uma das raízes da virada linguística nos Estados Unidos. Mesmo não desprezando em momento algum o papel de textos franceses e alemães para o surgimento da linguistic turn, Klein (p. 82-83) chega a duas importantes conclusões: em primeiro lugar, a de que os textos europeus tradicionalmente considerados os propulsores da virada linguística em terras norte-americanas são apenas uma parte de um corpus textual muito maior; em segundo lugar, a inferência de que o vocabulário da etnolinguística estadunidense moldou a tradução das “revoluções linguísticas do maio de 68 francês” (p. 83) no outro lado do Atlântico, que não pode ser devidamente entendida sem esse diálogo entre essas duas tradições.
No entanto, quando menos se espera, o fantasma de Hegel e sua “história universal” surgem novamente no horizonte. Para Klein, o pós-modernismo, ao menos em seu formato norte-americano, pode também ser entendido como uma refiguração do velho dictum hegeliano acerca dos “povos sem história”. Agora, contudo, não ter história era algo a ser celebrado e desejado pelos subalternos, como propõe Klein a partir da análise de uma série de autores, como James Clifford, Richard Rorty, Jean François Lyotard e, claro, Claude Lévi-Strauss. No que talvez seja uma das melhores análises do livro, Klein demonstra como, para os intelectuais acima mencionados, a história podia ser compreendida como um discurso colonizador e imperialista e imposto à força aos povos conquistados pelos europeus. A manutenção dessa antinomia, com a reificação de velhos binarismos entre “mito” e “história”, “metanarrativas” e “narrativas locais”, “histórico” e “não histórico”, é algo que assombra o “pós-modernismo” como seu “outro reacionário” (p. 101-102). Ao invés da celebração acrítica das narrativas subalternas, sejam elas quais forem, como resistência a uma todo-poderosa “história”, é necessário ter em mente o constante processo de reinvenção cultural pelo qual passam as narrativas, que incluem tanto aquelas grandes narrativas herdeiras de Hegel quanto as histórias locais tomadas como oposição àqueles desígnios globais, para usar a expressão de Walter Mignolo (Local histories/global designs. Princeton, 2001). As posições que determinadas histórias ocupam social e culturalmente são sempre contingentes; nada garante que a história subalterna de hoje não se transformará na grande narrativa “opressora” de amanhã (p. 110-111). Nesse sentido, ao invés de imaginarmos a “história” como algo que os europeus inventaram e depois impuseram ao resto do globo a ferro, fogo e livros, seria melhor imaginarmos o mundo como contendo uma profusão de histórias e tradições narrativas em diálogo e conflito, já que só isso permitiria, na visão de Klein, um discurso histórico global realmente democrático e desprovido de essencialismos e antinomias de todo o tipo. Diante das forças homogenizadoras do capitalismo contemporâneo, que fazem tabula rasa das diferenças planetárias para nos transformar em felizes consumidores pertencentes a uma “aldeia global” amorfa e indistinta, realizando o velho sonho neoliberal do “fim da história”, a exortação de Klein se faz, assim, essencial para a manutenção da história enquanto um discurso crítico, e não celebrador, do presente.
É esse potencial crítico que leva Klein a fazer, nos capítulos finais do livro, uma genealogia do conceito de “memória” em dois âmbitos diferentes e quase antagônicos, o do discurso histórico profissional e o do discurso da direita cristã que emergiu com força nos Estados Unidos dos anos 1970 e 1980. Para Klein, a emergência de “memória” como um conceito marcou uma mudança dramática nas práticas linguísticas das Humanidades contemporâneas, principalmente porque se tratou de um câmbio muito rápido e intenso. Em uma década, aproximadamente, as ciências humanas foram inundadas com o que pode ser corretamente chamado de uma “indústria de memória”, com o surgimento de periódicos especializados (History and Memory e Memory Studies, por exemplo) e a publicação de um sem-número de livros sobre o tema (p. 113-114). No entanto, se a memory turn pode ser entendida como uma reação compreensível à virada linguística e seu antifundacionalismo, a ideia de “memória” acabou canibalizando outros conceitos, muitas vezes imprimindo uma confusão linguística e conceitual à história bastante condenável, ao menos sob o ponto de vista de Klein. “Memória” passou, assim, a ser considerada, dentre outras coisas, uma antítese subalterna à “história” imperialista; algo quase místico encarnado em objetos e corpos; um agente histórico em si mesmo; uma resposta aos grandes traumas da modernidade, especialmente o Holocausto; e, finalmente, uma forma de discurso pretensamente científico, emprestado à psicanálise, e com aspirações curativas dificilmente concretizáveis (p. 116-128). O que todos esses usos têm em comum é justamente a sacralização da memória como uma alternativa terapêutica à história, transparecendo inclusive em autores pouco dados a visões “místicas” da história, como Dominick LaCapra e Saul Friedlander. No final das contas, a ampla, e às vezes exagerada, utilização do conceito refletiria, nos Estados Unidos, ao menos, uma vontade de “reencantar nossa relação com o mundo e encher o passado com presença” (p. 137), especialmente diante da “ameaça” da “virada linguística” e da suposta falta de sentido do mundo pós-pós-moderno, para parafrasear Nancy Partner.
Tais usos não seriam tão perigosos em disciplinas que se pretendem críticas e seculares, se, por outro lado, no mundo extra-acadêmico eles não estivessem avalizando e legitimando a emergência de forças políticas antidemocráticas e antisseculares. Estamos aqui falando do surgimento da direita cristã a partir dos anos 1970 e sua consolidação como uma personagem política importante na década seguinte, quando Ronald Reagan, de forma muito hábil, reuniu a cruz (os fundamentalistas cristãos) e o dinheiro (os fundamentalistas neoliberais de Wall Street) debaixo da asa do Partido Republicano. Três fenômenos intelectuais caminharam de mãos dadas com esse fato: a utilização de um vocabulário memorialístico pelos conservadores cristãos, que entendiam o “abandono” do cristianismo pelos estadunidenses como o “trauma” maior da história do país e urgiam, assim, um retorno às raízes religiosas nacionais; o desenvolvimento de uma teologia da história que incentivava a releitura do passado norte-americano a partir de uma ótica fundamentalista, que entendia a história do país como a luta literal entre o Bem e o Mal, isto é, entre os seguidores de Jeová e as hostes satânicas que haviam sequestrado o país; e, finalmente, a formulação de uma ideologia política cristã que rejeitava os valores liberais e republicanos comumente associados com o sistema político norte-americano e que defendia o fim do secularismo como essencial para a reconstrução cristã da América. Desta forma, Klein (p. 159) identifica a “memory talk” predominante nos Estados Unidos contemporâneos, inclusive em alguns de seus usos acadêmicos supostamente críticos, como um sintoma da ressacralização da vida pública em seu país, com consequências mais amplas bastante preocupantes (e justificadas, diante do avanço tremendo da extrema direita cristã na última década – cujos efeitos, sabemos, já começam a ser sentidos no Brasil…). Uma das possíveis respostas a isso, para ele, é justamente o restabelecimento da história como uma disciplina crítica, secular e em constante interrogação dos conceitos e narrativas que a sustentam, na academia e fora dela, e, por isso, capaz de responder ao avanço dessas forças antidemocráticas.
No fim, a mensagem de From history to theory é relativamente simples, mas poderosa: a história, para ter algum poder efetivo de crítica sobre o presente, precisa necessariamente se historicizar constantemente e compreender as tradições linguísticas e narrativas nas quais se insere, pois, sabemos, a disciplina não existe no vácuo. O que falamos e como falamos diz respeito tanto ao que herdamos do passado quanto aos diálogos que mantemos no presente. Por isso, o livro de Klein é uma leitura recomendada não só para aqueles que querem aprender sobre os controversos caminhos da história estadunidense no século XX, mas para todos que compreendem que, sem uma constante autorreflexão teórica e crítica maior, a disciplina está fadada a ser apenas algo feito por acadêmicos para acadêmicos, sem qualquer relevância pública maior. Aqui, concordo com Klein: tal coisa não é só indesejável, é perigosa.
Arthur Lima de Avila – Doutor em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor adjunto da mesma universidade. Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: arthurlavila@gmail.com.
O fato e a fábula: o Ceará na escrita da história | Francisco Réges Lopes Ramos
O estudo do historiador Francisco Régis Lopes Ramos intitulado de O fato e a Fábula: O Ceará na escrita da História, publicado em 2012, trata da construção de uma determinada visão da História do Ceará, que vai se modificando ao longo do tempo. A partir de um recorte temporal de 1860 até 1970 – o objetivo de Régis Lopes é tomar a História do Ceará como objeto “que foi se legitimando na medida em que foi se constituindo”. O historiador Régis Lopes, atualmente Professor da Universidade Federal do Ceará, pós-doutor pela Universidade Federal Fluminense, tem estudos acerca da religiosidade, memória, ensino e teoria da História. No entanto, neste trabalho deve-se esclarecer que seu interesse não é privilegiar os autores estudados “já feitos”, mas esses autores em seus “fazer-se”, que vão “aperfeiçoando” seus conhecimentos “na medida em que o tempo vai passando”. Esses autores são José de Alencar, Alencar Araripe, Cruz Filho, Raimundo Girão, Filgueira Sampaio, Pedro Théberge, Senador Pompeu, entre outros. Ao se centrar na “cultura letrada” (na ilha dos letrados), analisa o tema da História do Ceará através de autores, livros e obras de História do Ceará, especificamente de autores cearenses, ‘partindo’ de José de Alencar – literato cearense. Iracema, Sertanejo, Troco do Ipê entre outras, são obras (assim como outras de outros escritores) que perpassam boa parte do livro, possibilitando ao historiador pesar historicamente concepção do “passado” do Ceará. Até mesmo a percepção de uma construção da imagem de autores que se deu como fundamental para composição desse “passado” – muitas vezes imaginado – do Ceará. José de Alencar, o “filho ilustre da terra”, não por acaso, entra na obra de Cruz e Souza, História do Ceará – resumo didático (1931), como um cearense de (merecido) destaque. Uma certa interação entre a escrita sobre o Ceará e a escrita de livros didáticos no Estado é perceptível.
No entanto, a análise histórica de Régis não se trata de uma “perspectiva tradicional de história das ideias”, como ele mesmo destaca, como se o passado cearense fosse “algo dado” pela natureza e ao pesquisado resta-lhe “apenas descobri-lo”; trata-se, entretanto, de uma “inexistência do objeto em si mesmo”, de modo que legitime-se a “crença” no passado cearense. Régis Lopes inicia sua análise do ponto que diz respeito “a parte e o todo”. A partir da orientação pioneira, a escrita da História do Brasil não deveria desprezar as singularidades das províncias, pois estas deveriam se manter unidas (fazendo parte do “todo”). Contudo, o norte do trabalho parte da preocupação em como escrever a História do Brasil levando em consideração as particularidades de cada parte (províncias) relevantes e fundamentais para o todo (Brasil); de modo que essa História do Brasil não pareça um aglomerado “de histórias especiais de cada uma das províncias”, como afirma Régis citando Martius. Desse modo, a presente obra direciona-se para o papel de autores cearenses, “na história e na literatura”, que buscaram evidenciar a importância do Ceará para a História do Brasil, no interesse de, no presente, construir a ideia de um Ceará “louvável e correto.”
No estudo de obras como Iracema (1865), de José de Alencar, e História da Província do Ceará (1867), de Alencar Araripe, o autor parte da ideia de que essas obras são exemplos de “escrita militante”, pela qual seus autores buscaram “figurações do passado” na tentativa de imaginar um passado para o Ceará, destacando o intuito de construção de uma “nacionalidade”, pelos intelectuais do século XIX, através da qual procuraria efetivar um passado cearense que seria “transladado ao presente, (…) filtrado, digerido e transformado em força.”Isto está explicito no material didático organizado por Joaquim Nogueira publicado em 1921, no seu livro Ano Escolar. Nesta, Nogueira indicava orientações pedagógicas entre as quais havia o intuito de o trabalho do professor seguir o pressuposto de um tempo linear, pontuando os feitos ilustres na lógica de causa e consequência – precisava-se, portanto, “criar” fundadores para o Ceará. Nessa disputa e trânsito de valores, permeado de escolhas, elaboram-se datas e fatos (célebres) através de uma “narrativa sedutora (…), com uma trama bem urdida para atrair a atenção do leitor e (…) torna-lo cúmplice partícipe da história que ele lê e da qual participa como cearense que procura conhecer o passado para amar o presente.”
Assim, o que s destaca na oba é o interesse de modelar um determinado discurso para a História do Ceará que atendeu às demandas específicas do espaço-tempo em que os intelectuais cearenses estavam inseridos. É importante salientar em O Fato e a Fábula a necessidade que esses intelectuais tinham de legitimar tais considerações para com o passado do Ceará através do ensino, pois se acreditava na importância dos estudantes saberem terma e autores que trataram do Ceará. Dessa forma, tais operações historiográficas se davam no sentido de “civilizar” o povo através do ensino da história, uma verdadeira “missão” que as “ilhas de letrados” detinham. O capítulo XIX “Começo, meio e fim” é destacável para perceber a dimensão do ensino, neste capítulo Régis destaca os quatro livros didáticos mais usados, de algum modo, nas escolas cearenses. Os livros são: História da Província do Ceará (1867) de Alencar Araripe, a já citada de Cruz Filho, uma de Raimundo Girão, Pequena História do Ceará (1953), e História do Ceará de Filgueira de Sampaio; Lopes procura entender na análise dessas obras como se constitui “o enquadramento do tempo para dar conta do espaço delimitado como o Ceará”. O final de cada livro é o presente de cada autor, por isso observam-se temas como o pioneirismo cearense na Abolição, as secas, a migração ao Acre, e mesmo figuras tidas como importante, como Humberto Castello Branco – o “bravo cearense” – no capitulo “O Ceará na Presidência.” é destacável, pois esse se dedicou aos livros didáticos.
Além de destacar a importância que o ensino de História do Ceará teve para tais autores, Régis também ressalta a importância que esses autores deram à escrita da História cearense. De forma geral “estava em jogo a legitimidade tanto da História do Ceará quanto do historiador cearense”. A obra do historiador é pontual quando procura conceber que o passado cearense não é “algo dado” de modo que os autores e as obras vão se constituindo, construindo o conhecimento de acordo como passar do tempo. Por isso, afirma que tal “objeto”: o passado do Ceará em si inexiste, havendo apenas uma “crença” nesse passado, pois “se não fosse o objeto da crença, a própria crença nem poderia sonhar em existir”. Publicado em 2012, quando é evidente o debate atual acerca do trabalho docente, do conhecimento histórico, do conhecimento escolar, dos métodos de exames (ENEM, por exemplo), o livro possibilita uma reflexão acerca do próprio fazer historiográfico e do ser historiador, principalmente quando se percebe a discussão entre o “local” e o “nacional”, o “cearense” e o “brasileiro”.
Raul Victor Vieira Ávila de Agrela.
RAMOS, Francisco Régis Lopes. O fato e a fábula: o Ceará na escrita da história. Fortaleza: Expressão Gráfica Editora, 2012. Resenha de: AGRELA, Raul Victor Vieira Ávila de. Sobre o fato Ceará: acerca da fábula cearense. Cantareira. Niterói, n.20, p. 129- 131, jan./jul., 2014. Acessar publicação original [DR]
Varnhagen no caleidoscópio – GUIMARÃES; GLEZER (H-Unesp)
GUIMARÃES, Lúcia Maria Paschoal; GLEZER, Raquel (orgs.). Varnhagen no caleidoscópio. Rio de Janeiro: Fundação Miguel de Cervantes, 2013, 451 p. Resenha de: FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. História [Unesp] v.32 no.2 Franca July/Dec. 2013.
O crítico Sílvio Romero, na sua idiossincrática História da Literatura Brasileira, destaca, reiterada vezes, o quão variado eram os talentos e o quão empenhado era o patriotismo daqueles homens de letras que iniciaram suas atividades intelectuais no Brasil durante a primeira metade do século XIX. Romero salienta, sem dúvida com o propósito torto de fustigar os seus contemporâneos “demasiado cosmopolitas”, que eram homens cientes das imensas carências intelectuais do Brasil e orgulhosos de serem patriotas, homens que atuaram como romancistas, dramaturgos, pedagogos, administradores, políticos, médicos higienistas, historiadores, em suma, que atuaram onde sentiam que o país independente, ainda em processo de construção, deles necessitava para galgar um lugar entre as nações “civilizadas” do mundo, como então se dizia.
Exageros à parte, é por certo característico da atuação de grande parte dos homens de cultura brasileiros do Oitocentos o marcado espírito patriótico — “tudo para o Brasil e pelo Brasil”, como vinha estampado na capa da renomada revista Niterói — e uma produção intelectual extensa e variada — que ia do romance histórico aos relatórios provinciais —, da qual, não raro, mesmo os pesquisadores conhecem somente a parcela mais luminosa. Daí a importância e o interesse do lançamento de Varnhagen no caleidoscópio, obra coletiva, coordenada pelas pesquisadoras Lúcia Maria Paschoal Guimarães e Raquel Glezer, que traz para o leitor um panorama amplo e extremamente instrutivo da variada produção escrita de um dos mais importantes homens de cultura do Brasil oitocentista, Francisco A. Varnhagen.
Varnhagen… não é uma coletânea de artigos — formato que arrebata poucos leitores ultimamente — sobre a obra do renomado historiador; trata-se antes de uma obra coletiva, estruturada com esmero, que intercala ensaios analíticos e escritos do próprio Visconde de Porto Seguro, tudo precedido por uma introdução das coordenadoras, dando a conhecer as linhas gerais da obra e o percurso de vida do analisado. O eixo ou eixos do livro são, sem dúvida, aquilo que poderíamos denominar núcleos documentais: os escritos do próprio Varnhagen, uns menos outros mais conhecidos, todos, no entanto, ofuscados por seus trabalhos históricos e literários de grande vulto.
O primeiro eixo documental, composto por registros epistolares, nomeadamente por Oito cartas de Francisco Adolfo de Varnhagen a Diego Barros Arana (1864-1865), é precedido por dois ensaios analíticos, que preparam o leitor para a devida exploração das potencialidades interpretativas dos documentos que vai encontrar. No primeiro deles, a pesquisadora Raquel Glezer analisa uma outra correspondência do Visconde de Porto Seguro, aquela mantida, entre 1839 e 1849, com o português Joaquim Heliodoro Cunha Rivara, dando especial atenção às profundas relações de amizade que uniam os dois intelectuais, mas também, e sobretudo, ao circuito intelectual a que ambos pertenciam.
Em seguida, Lucia Maria Bastos Pereira das Neves e Guilherme Pereira das Neves descortinam para o leitor uma outra faceta de Varnhagen, a de diplomata. Explorando, em larga medida, a sua correspondência oficial, os pesquisadores traçam um quadro de seu périplo, entre 1860 e 1867, por diversos países da América Latina — Paraguai, Cuba, Colômbia, Equador, Venezuela, Chile e Peru —, onde cumpriu a delicada missão de defender os interesses de uma monarquia num mundo de repúblicas. A sua movimentada passagem pelo Chile e pelo Peru merece uma atenção mais detida dos autores. Aí, o representante monarquista da única monarquia das Américas, coerente com os princípios liberais que cultivava, posicionou-se, a despeito das diretrizes do seu governo, contra as ações da coroa espanhola, numa querela que esta manteve com as repúblicas do Pacífico ao longo dos anos de 1864 e 1865.
O segundo eixo é constituído pelo interessante Grande jornada a vapor, um relato de viagem no qual Varnhagen nos conta a rápida visita — 14 dias somente — que fez, em 1867, acompanhado da esposa e do filho, a 15 estados dos Estados Unidos da América. O relato da “escapadela” do Visconde ao vizinho do norte, logo depois de intempestivamente deixar as suas ocupações diplomáticas nas repúblicas do sul da América, é precedido por um ensaio da pesquisadora Lúcia Paschoal Guimarães, onde aprendemos um pouco sobre os antecedentes e as condições da viagem, compartilhamos de alguns detalhes pitorescos nela ocorridos e, acima de tudo, encontramos uma síntese dos comentários do viajante acerca da progressista, ordenada e próspera sociedade norte-americana, uma sociedade em que as mulheres gozavam de uma liberdade excessiva para os seus olhos, politicamente liberais mas moralmente conservadores.
O terceiro eixo traz o peculiar Memorial orgânico, um pequeno livro publicado inicialmente em 1849, que traça um “diagnóstico das deficiências da formação brasileira”, de um ponto de vista geopolítico e econômico, e apresenta uma ampla gama de propostas destinadas a superar os problemas do país e conduzi-lo para o rol das nações civilizadas. O ensaio que o precede, assinado pelo pesquisador Arno Wehling, trata de esmiuçar os diagnósticos e soluções propostos por Varnhagen, avaliando os seus impactos na política local, situando-os no ambiente político-cultural do Império e identificando os princípios gerais que os orientam.
Arremata este instigante Varnhagen no caleidoscópio um quarto eixo documental, no qual o leitor encontra o curioso A origem turaniana dos americanos tupis-caraíbas e dos antigos egípcios indicado pela filologia comparada, um minucioso escrito interessado em demonstrar, sobretudo através do estudo de variantes linguísticas, que os nossos tupis eram originários de um velho continente. De autoria do pesquisador Temístocles Cézar, o ensaio que o antecede, abrindo para o leitor possibilidades de interpretação do escrito, dedica-se a situar os esforços de Varnhagen no sentido de encontrar uma origem egípcia para os selvagens do Brasil numa discussão mais abrangente: aquela, tradicional na cultura do Ocidente, relativa ao binômio antigo/moderno.
Ao término da visualização do caleidoscópio Varnhagen, o leitor, de certo modo, reencontra, com muito mais nuances e detalhes, aquele tipo social, característico do Oitocentos brasileiro, instintivamente construído por Silvio Romero: o intelectual com múltiplos interesses culturais, dedicado a um sem número de atividades e movido por um saliente patriotismo, um patriotismo que, como tão bem demonstra a vida e a obra de Varnhagen, retórico ou não, passível ou não de críticas no tocante às direções que propunha para a pátria, movia e dava coerência aos escritos e ações dos homens de letras de então.
Jean Marcel Carvalho França – Professor Livre-docente de História do Brasil Colonial do Departamento de História da UNESP e autor, entre outros livros, de Literatura e sociedade no Rio de Janeiro Oitocentista (Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1999), Visões do Rio de Janeiro Colonial (José Olympio Editora, 2000), Mulheres Viajantes no Brasil (José Olympio Editora, 2008) e A construção do Brasil na literatura de viagem dos séculos XVI, XVII e XVIII (José Olympio Editora, Editora UNESP, 2012).
Linguagem, cultura e conhecimento histórico: ideias, movimentos, obras e autores | Diogo Roiz da Silva
Diogo da Silva Roiz é mestre em História pela Unesp de Franca- SP e Doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e tem se dedicado à produção de textos na área de Teoria da História e Historiografia, autor de diversos artigos e livros na área. Na obra intitulada “Linguagem, cultura e conhecimento histórico: ideias, movimentos, obras e autores”, Diogo Roiz nos apresenta seis capítulos, divididos em duas partes. Na primeira delas, intitulada “História e Literatura”, destaca os debates teóricos em torno de tal questão, sobretudo no que tange ao período pós-1960, posteriormente à denominada “virada linguística”, mostrando como os historiadores procuraram responder às críticas efetuadas pelas obras de Friedrich Nietzsche, Hayden White, entre outros. Na segunda parte da obra, “Literatura e História”, Roiz exibe algumas possibilidades de empreender um estudo utilizando fontes literárias, mostrando o quanto elas podem ser prósperas para a pesquisa histórica.
O que é instigante no trabalho é o fato de o autor fazer alguns importantes questionamentos, tais como, “De que maneira os historiadores se posicionaram, quando, a partir dos anos 1960, se tornou mais corriqueira a evidência de uma relação ambígua no campo dos estudos históricos, ao ser situado entre a ‘ciência histórica’ e a ‘arte narrativa’?”, ou então, “como as fontes literárias podem ser utilizadas na pesquisa histórica?” (ROIZ, 2012, p. 13). Leia Mais
Um metódico à brasileira: a história da historiografia de Afonso de Taunay (1911-1939) | Karina Anhezini
Apesar da importância da obra de Afonso de Taunay, durante muito tempo sua obra permaneceu pouco pesquisada. Nos últimos anos esse quadro foi alterado, como nos informa o sugestivo estudo de Ana Claudia Fonseca Brefe, O museu paulista: Affonso de Taunay e a memória nacional (2005), no qual se dedica a analisar parte da obra deste autor, especialmente, conjecturando sua contribuição na remodelação do Museu Paulista, quando foi seu diretor.
O trabalho de Karina Anhezini (2011) – fruto de sua tese de doutorado, defendida em 2006, e agora publicada – avança ainda mais nessas questões, ao propor analisar a história da historiografia de Afonso de Taunay, tendo em vista os locais que passou, e em que medida contribuíram com sua produção histórica. Assim, contrariando, de certa forma, aos cânones instituídos pela história do pensamento social e político brasileiro, o seu estudo procurou justamente inquirir a história da historiografia construída na obra de Afonso de Taunay, entre 1911 e 1939, e nos oferece uma bela contribuição para o estudo da temática. Leia Mais
Nova história em perspectiva. Propostas e desdobramentos (v. 1) | Fernando A. Novais e Rogério Forastieri Silva
Pensar os caminhos e desdobramentos da Nova História, suas implicações teóricas em meio aos discursos dos historiadores e situá-la no contexto geral da historiografia são algumas das propostas que norteiam este denso e instigante trabalho.
Organizado por Fernando Novais e Rogério Forastieri da Silva, professores de brilhante trajetória em universidades como a Universidade de São Paulo, Instituto de Economia da Unicamp e participação internacional em universidades como Louvain, Coimbra e Lisboa, este vem a ser o primeiro volume de uma coletânea de dois volumes: o primeiro intitulado “Propostas e desdobramento” e o segundo “Debates”. Leia Mais
Estudos de Historiografia Brasileira | Lucia Maria Bastos Pereira Neves e Lucia Maria Paschoal Guimarães
Estudos de Historiografia Brasileira revela o sentido histórico e plural da produção historiográfica no Brasil. Trata-se de uma competente avaliação de percursos, teorias, métodos e autores que, no conjunto, fornece um panorama variado sobre as nossas formas de interrogar as relações dos homens no tempo.
A coletânea, afinal, resulta do I Seminário Nacional da História da Historiografia Brasileira, realizado no IFCH/UERJ em 2008. Neste evento, ficou claro aos participantes que as reflexões sobre a temática cresceram muito nos últimos anos, e que, além disso, fazem parte de um campo de conhecimento específico: a história da História. O livro – organizado por Lucia Maria Bastos Pereira das Neves, (PUC-RJ), Lucia Maria Paschoal Guimarães (UERJ), Marcia de Almeida Gonçalves (UERJ/PUC-RJ) e Rebeca Gontijo (UFRJ) – traduz, portanto, um diálogo instigante entre historiadores de várias gerações e quadrantes brasileiros que se dedicam a pensar a história de seu próprio ofício. Leia Mais
Dicionário dos Historiadores Portugueses – Da Academia Real das Ciências até ao final do Estado Novo – MATOS (LH)
MATOS, Sérgio Campos de (Coord). Dicionário dos Historiadores Portugueses – Da Academia Real das Ciências até ao final do Estado Novo. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2015. Resenha de: PEREIRA, Miriam Halpern. Ler História, v. 62, p. 193-197, 2012.
1 Excelente ideia a de produzir um dicionário deste teor. Já existem noutros países europeus, Espanha, França ou noutros países mais distantes como o Brasil. Mas o dicionário português apresenta numerosas singularidades. Ser on-line, até agora este tipo de obras tem sido editado em papel. Também é novidade ser lançado no site da Biblioteca Nacional de Portugal uma obra em construção, os e-books costumam editar-se completos, este produto virtual assemelha-se às antigas edições em fascículos. Por enquanto tem só 30 entradas e listas das futuras entradas agrupadas por historiadores, temáticas, instituições e revistas. São essas listas que permitem compreender um pouco melhor o sentido da construção da obra, que anuncia como ponto de partida a Academia Real das Ciências e como ponto final o dia 25 de abril de 1974. As fronteiras são discutíveis. Na minha opinião ou se começava em Fernão Lopes ou em Alexandre Herculano, tal como têm sido as escolhas de outros países: em França, Christian Amalvi (2004) optou por principiar em Grégoire de Tours, em Espanha (2002) optou-se por 1840.
2 Mas intrigante e pouco claro é o ponto final: 25 de abril de 1974, data do final do Estado Novo. O que se entende por isso? Incluem-se os historiadores já existentes nessa data, ou seja que tinham obra publicada até então? Uma rápida leitura da lista dos nomes on-line mostra que não. Será em função da carreira universitária? Ou o doutoramento? Também não se acerta. Continuam a ser evidentes as ausências, além de tal não se coadunar com o critério anunciado de incluir autodidatas e personalidades de diferentes formações e não só académicos, o que, sendo sempre adequado, ainda o é mais quando se conhece o poderoso filtro ideológico e político que foram as instituições universitárias durante o Estado Novo. Mas tendo incluído Álvaro Cunhal, dever-se-ia incluir também Mário Soares, autor de As Ideias Políticas e Sociais de Teófilo Braga, com prefácio de Vitorino Magalhães Godinho (Centro Bibliográfico, Lisboa, 1950). Aliás a obra de Álvaro Cunhal, As lutas de classes em Portugal nos fins da Idade Média, só consta como editada em 1975, no Catálogo da BNP e é pena que a edição clandestina anterior não esteja depositada na BNP. O interesse de homens políticos pela escrita histórica, que explica a inclusão de vários outros nomes, é uma tradição portuguesa, que se deve valorizar hoje, face à «transmutação» atual de gestores tecnocratas em políticos, com demasiada frequência falhos de cultura histórica.
3 A grande notoriedade posterior a 1974 parece explicar a presença de autores que não tinham quase nada publicado no domínio da historiografia até o dia 25 de abril de 1974 e só depois daquela data, às vezes vários anos mais tarde, é que vieram a publicar obras de vulto de natureza histórica. O crivo não foi pois a relevância científica das obras publicadas antes de 1974, critério que é evidente não ter sido aplicado. O critério da morte terá sido o que explica uma dessas presenças, a de João Bénard da Costa, segundo me foi explicado pelo coordenador. Mas mesmo seguindo esse critério, continuam as ausências. Não constam Rómulo de Carvalho, Ana Maria Alves, César de Oliveira, Sacuntala de Miranda, Maria Ioannis Baganha, Jill Dias, António Candeias, entre outros. O critério da morte, adotado no caso francês, para evitar a tendência hagiográfica, podia até ter a vantagem de rejuvenescer o dicionário português. Estando prevista a sua conclusão em 2015, estarão excluídos desta obra 41 anos de produção historiográfica portuguesa! Por acaso trata-se, como é geralmente sabido, de um período de intensa renovação da historiografia e das ciências sociais em Portugal. Mas mesmo entre os autores clássicos encontrei uma lacuna inexplicável: como se pode omitir José Acúrsio das Neves autor da História das Invasões Francesas?
4 Uma boa ideia foi incluir os historiadores estrangeiros que escreveram sobre a história de Portugal, aliás bem poucos, mas também houve aqui esquecimentos importantes, recordo apenas H. E. S. Fisher, Rebecca Catz ou ainda Lucia Perrone que não constam, mantendo-se aqui a falta de um critério de escolha compreensível. E eis que se descobre nova indefinição: será que não se inclui a historiografia sobre as antigas colónias?
5 Autores estrangeiros prestigiados que estudaram a história colonial portuguesa em África, como Herman Bauman, Beatrix Heintze, David Birmingham, Allen Isaacman, Douglas Wheeler, René Pélissier, Basil Davidson não constam, embora várias das suas obras tenham sido editadas nos anos 50, 60 e início de 70. Foram fundamentais nesta área, numa época em que entre os portugueses quase só funcionários do Estado Novo escreviam sobre a África dita «portuguesa», sobretudo no que se refere aos séculos XIX-XX.
6 E como explicar também a reduzida presença de brasileiros, cuja produção sobre a história colonial portuguesa no Brasil é enorme? Consta Novais, cujo primeiro livro data de 1975 (portanto fora do período demarcado), mas não se avistam vários autores, alguns bem anteriores, como Tarquínio de Sousa, Alice Canabrava, E. Viotti da Costa, Carlos Guilherme Mota, entre tantos outros. Infelizmente o francês Abade Raynal escreveu o célebre livro O estabelecimento dos portugueses no Brasil (1770) antes de 1779, data da criação da Real Academia das Ciências.
7 Em relação à Asia, como se pode omitir Donald F. Lach, autor do notável livro Asia in the making of Europe (1.ª edição1965, reeditado 1971), em que se dedica a Portugal diferentes capítulos em cada um dos 4 volumes desta grande obra? Como ainda não se traduziu este livro magistral? Pannikar, autor de Asia and western dominance – a survey of Vasco da Gama epoch of Asian History (1959), também não está previsto. Só me tenho referido a autores com obra dentro das balizas atuais deste dicionário, ainda que as considere questionáveis. Talvez Gaston Perera, historiador do Sri Lanka, que estudou a ocupação portuguesa no seu país, em obras recentes, tendo falecido subitamente em 2011, pudesse também ser incluído…
8 A dificuldade em excluir a produção de 38 anos de intensa vida científica ou intelectual torna-se evidente quando se consultam as duas únicas entradas temáticas já existentes, História de Arte e História Cultural, a bibliografia referida é num caso posterior a 1979 e no outro a 1990. E naturalmente que a baliza temporal também ultrapassa largamente 1974 nas biografias e bibliografias ativas e passivas de algumas das principais entradas já existentes.
9 Consultando a lista das instituições, encontram-se as Faculdades de Letras e de Direito, mas aqui também as ausências surpreendem, não constam nem o ISCEF (predecessor do ISEG), nem sequer o GIS, predecessor do ICS, nem a Faculdade de Economia de Coimbra, nem o ISCTE (a comemorar este ano os 40 anos de existência). Quanto às revistas, só constam revistas fundadas antes de 1974, mas está indicado como termo limite do âmbito em consideração a data de 2011-2012, quando elas ainda existem. Porém, nenhuma das novas revistas que surgiram nesse período estão incluídas: a Revista da História das Ideias, a Revista de História Económica, a Ler História, entre outras. Ainda mais estranha é ausência da Revista de Economia, que antes de 1974 publicou estudos importantes de história.
10 Face às balizas temporais adotadas surpreende menos que ao mencionar as fronteiras da história com outras ciências humanas, se não refira nem a sociologia, nem a ciência política, embora já existissem com nome camuflado. O regime estado-novista tinha os seus gostos (des-gostos) linguísticos e semânticos. É mais um lapso.
11 Na apresentação on-line conclui-se que o dicionário será acrescentado regularmente com novas entradas e poderá beneficiar com sugestões críticas dos seus leitores. Aqui ficam as minhas. No que me diz respeito, embora o meu primeiro livro, que é o texto também da tese de doutoramento, tenha sido publicado em 1971, e tenha tido grande impacto e embora tenha vários artigos publicados em revistas estrangeiras e portuguesas prestigiadas antes do 25 de abril, e já então fosse professora universitária, espero e prefiro estar viva em 2015 e continuar a escrever e a publicar a meu gosto, a estar morta para ser incluída no dicionário, o que mesmo assim seria incerto… Desejo também nessa altura festejar os longos anos de José Manuel Tengarrinha, alguns bem menos de José Sasportes, de Maria Beatriz Nizza da Silva, e meus também. Todos nós com obra publicada antes de 1974 somos ainda demasiado jovens para este dicionário desatualizado de 41 anos. O dicionário espanhol, publicado em 2002, avançava até 1980, e mesmo assim foi criticado por não se prolongar mais. Bem equilibrada e transparente foi a opção do Dicionário Histórico de Economistas Portugueses, organizado por José Luís Cardoso, incluindo na sua seleção dos economistas aqueles que tivessem completado 70 anos à data da publicação. Útil também salientar que o critério de relevância científica, em detrimento de funções universitárias, administrativas, políticas ou outras, presidiu a essa escolha, assim como a prioridade dada à análise da obra científica, reduzindo a parte biográfica, em geral já retratada em outras obras de referência. O que também não constituiu norma comum nas entradas já disponíveis neste dicionário.
12 Não há nenhuma referência a um motor de busca por nomes ou temas, de forma a cruzar informação. Seria desde já útil. Quem se interessasse por António Sérgio poderia encontrar a referência à polémica com Mário de Albuquerque, referida por Ana Leal Faria, mas que não mereceu a atenção de Romero de Magalhães, com ou sem razão, essa não é a questão. Esperemos que, no que parece ser o primeiro dicionário virtual do mundo neste domínio, esta funcionalidade seja introduzida rapidamente. Não o fazer seria um desperdício dos novos meios tecnológicos. Um contrassenso. Mais um.
13 Sem qualquer sombra de dúvida, este dicionário merece ser revisto, remodelado com base em critérios transparentes e naturalmente atualizado – prolongando-o até o final do século XX, para não constituir uma ocasião perdida de prestar um excelente serviço à comunidade científica, evitando um considerável desperdício de meios humanos e financeiros, e podendo vir a contribuir para uma boa imagem nacional e internacional das instituições envolvidas, a Biblioteca Nacional de Portugal e o Centro de História da FLL-UL.
Miriam Halpern Pereira – Professora catedrática emérita do ISCTE-IUL e investigadora do CEHC, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. E-mail: miriam.pereira@iscte.pt
Historiografia e Nação no Brasil (1838-1857) | Manoel Luiz Salgado Guimarães
O livro de Manoel Luiz Salgado Guimarães, Historiografia e Nação no Brasil (1838-1857), [1] me fez reviver, pelo que recordo, a primeira vez em que a História me chamou atenção: uma visita ao Museu Histórico Nacional, no começo da década de 1970. Lembro ter notado a convergência entre o que aprendia nos livros didáticos, nas revistas ilustradas, nas festas cívicas e na narrativa das professoras e o que via no Museu: uma história de grandes homens que superavam as limitações de seu tempo e o moldavam à sua vontade. O livro de Manoel Guimarães esclarece as origens da cultura histórica que engendrou a constatação feita por mim, naquela visita.
Ao desvendar as raízes da historiografia brasileira, Manoel Guimarães aponta os signos que a demarcaram desde o início. Essa, desde onde percebo, é uma contribuição importante e oportuna, no momento em que a formação do historiador passa por uma inflexão decisiva e o seu mais significante campo de atuação vive uma crise surda. A distinção dos cursos de bacharelado e licenciatura e os questionamentos sobre a importância da área de História na Educação Básica reeditam questões análogas àquelas presentes na origem da disciplina no Brasil.
O livro abarca os primeiros vinte anos de atuação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Nesse período, Manoel Guimarães identifica o “processo de promoção da nação brasileira”, quando os estudos históricos buscaram atender aos objetivos de consolidação do Império e de formação da nação. Daí terem assumido importância política, a qual condicionou os seus primeiros passos e lhes delegou algumas de suas características mais duradouras.
A análise encaminha as conexões havidas entre os objetivos políticos e ideológicos do Império e a escrita produzida pelo IHGB. Identifico, nela, três movimentos. Primeiramente, as questões que importavam ao recém-constituído Império do Brasil: o contexto geopolítico no qual o país estava inserido; as relações entre as diversas regiões do Império; o perfil populacional, com imensas parcelas da população consideradas impróprias, diante do modelo de nação almejado. Em seguida, o perfil dos intelectuais ligados ao instituto. Em que pesem as diferenças de origem social, tinham em comum a formação – a Universidade de Coimbra – e a carreira – marcadamente dependente das oportunidades abertas pelo serviço público. Finalmente, a produção do IHGB. A questão indígena, o reconhecimento do território e os fatos históricos regionais ocuparam grande parte da produção da revista trimestral do instituto.
Os três movimentos sustentam um exame minucioso da cultura histórica que deu origem à historiografia brasileira. A análise que deles resulta desvenda os vínculos que ligavam o IHGB ao Estado imperial, tanto do ponto de vista programático (dos objetivos do instituto) quanto do ponto de vista operacional (a sua manutenção). Ela estabelece a identificação do instituto brasileiro com o modelo francês no qual se pautava. Ela esquadrinha a produção de seu sócio mais importante, Francisco Adolfo de Varnhagen, percebido como o formulador “da base da nacionalidade brasileira” a partir da perspectiva da elite imperial.
Trata-se de uma história da historiografia brasileira, demarcada pela indicação do significado assumido por ela, em meados do século XIX: para os sócios do instituto, a História constituía uma instância política – tanto de seu aprendizado, quando do seu exercício. Nesse sentido é que Manoel Guimarães encaminha a visão de história compartilhada pelos homens do instituto: uma história que se pretendia um manancial de exemplos e lições para os governos e comprometida com o progresso, desde certa perspectiva. Tal visão sustentou o caráter civilizador da escrita de uma História do Brasil, pelo IHGB, concretizado, sobretudo, pela consolidação de uma narrativa histórica que integrava os diversos elementos da população em acordo com uma ordenação que designasse o lugar de cada um, segundo uma hierarquia bem definida.
Da consideração da obra de Varnhagen, para quem a herança europeia deveria constituir a matriz da nacionalidade, emerge o argumento central do livro. A escrita da história do IHGB, demarcada pelos compromissos políticos com o Império, elegeu o Estado como principal agente, como “o motor da vida social”, instituindo um ideal de nacionalidade profundamente dependente dos interesses da classe dirigente e por ela demarcado. Da mesma forma, ela pretendeu “gerar sentimentos condicionadores de uma comunidade como passo relevante para o surgimento da nação brasileira” (p.229-258). A história formulada a partir desses princípios acentuava a participação dos colonos brancos no passado e encaminhava a sua liderança no presente e no futuro. Ela orientava uma visão do passado que delegava para as margens imensas parcelas da população brasileira.
A reflexão presente em Historiografia e Nação no Brasil (1838-1857), desde a publicação de seu resumo, deu azo a diversos estudos sobre a trajetória da disciplina, conforme apontam Paulo Knauss e Temístocles Cézar.[2 ]Essa, porém, não é sua única contribuição. Ela nos convida a refletir, também, sobre o quanto aquelas raízes permanecem latentes na cultura histórica, especialmente aquela difundida pelo saber histórico escolar. Esse, me parece, é um desafio importante que deriva da obra de Manoel Luiz Salgado Guimarães.
A remissão inicial à visita ao Museu Histórico Nacional e a relação que estabeleci, quando criança, entre o seu acervo e a narrativa que a disciplina História me apresentava não é fortuita. Ela ilustra a permanência daquele signo inicial que demarcou a historiografia brasileira e, sobretudo, a memória histórica. Manoel Guimarães deixa claro que a historiografia brasileira nasceu livre dos vínculos acadêmicos e em estreita relação com os imperativos políticos. Essa condição inicial foi decisiva para a produção subsequente, mesmo após a emergência de uma historiografia abalizada pelos ditames acadêmicos, determinando os rumos e usos da História entre nós. É certo que, desde a década de 1930, a historiografia problematiza tal herança, mas é igualmente certo que se a historiografia deixou de cumprir aquela função inicial e traçou outros rumos para si, o Ensino de História ainda se vê às voltas com ela.
Ainda na década de 1970 e na seguinte, os historiadores que refletiam sobre o Ensino de História assumiram um novo compromisso: formar o cidadão – um objetivo relacionado aos ideais democráticos que lutavam para afirmar-se ao longo e ao final da Ditadura Militar. Desde então, ‘formar o cidadão crítico’ tem se constituído no apanágio do Ensino de História. A partir do que pontua a reflexão de Manoel Guimarães, poder-se-ia argumentar que a matriz inicial não foi superada, mas substituída.[3] Não obstante, ela provoca a reflexão sobre o estatuto recentemente proposto e, principalmente, sobre a função e a importância do Ensino de História na Educação Básica, sua relação com a historiografia e seu lugar na constituição da memória histórica do Brasil de hoje.
Por mais de século e meio, os professores de História foram vistos (e se viram, também) como os responsáveis por transmitir a narrativa que inseria crianças e adolescentes no universo do qual faziam parte. Mesmo diante das críticas formuladas nas décadas de 1970 e 1980, essa responsabilidade permaneceu inalterada. Grande parte das aulas de história configura narrativas sobre o passado brasileiro e ocidental, ainda de uma perspectiva eurocêntrica – resultado, também, da matriz dos cursos de formação de professores. Dois fatores provocam a alteração desse quadro, desde fora, e colocam em questão a função da disciplina História em sala de aula: em primeiro lugar, a emergência de outros espaços a partir dos quais a memória histórica se constitui; em segundo lugar, a inclusão de novos agentes na narrativa sobre a formação do Brasil (refiro-me à inclusão da História da África, da Cultura Afro-brasileira e da História Indígena, na Educação Básica).
O livro de Manoel Luiz Salgado Guimarães sinaliza os caminhos a serem percorridos pelas reflexões que pretendam elucidar a trajetória da disciplina. Ele permite, portanto, entrever as questões que devem ser discutidas no que se refere à dimensão que incorpora e exige a atuação de um número imenso de historiadores: a Educação Básica. Desde onde falo, percebo três linhas de investigação necessariamente interligadas: a reflexão sobre a trajetória dos cursos de formação de professores em História – uma História da Formação; a reflexão sobre a prática docente em História – uma História do Ensino de História; e a reflexão sobre o estatuto do ensino de história na Educação Básica – uma História da Cultura Histórica Escolar.
Historiografia e Nação no Brasil (1838-1857) nasceu clássico. Ele não somente demarca uma periodização para a História da Historiografia, indicando o significado assumido por ela em dado momento, como inicia um campo de estudos. Isso já seria suficiente para torná-lo obra obrigatória. Mas, além de soberbamente escrito (o que acrescenta prazer à leitura), seu brilhantismo decorre das questões que suscita não apenas sobre o passado da disciplina, mas sobre seu presente e seu futuro. Ao desvendar as origens da historiografia brasileira, ele nos convida a pensar os percursos traçados por ela e seus desdobramentos. Neste momento, segundo me parece, esse convite deve ser aceito, de modo a refletir sobre seus rumos. Há que se discutir qual o lugar da História ensinada, qual a formação engendrada por ela, que compromissos lhe são pertinentes. Nosso agradecimento ao saudoso historiador pelo ensinamento e pela provocação. Boa leitura a todos!
Notas
1 Originalmente uma tese de doutoramento defendida em 1987 na Universidade Livre de Berlim, sob a orientação do professor Hagen Schulze. Desde 1988, um resumo da tese orienta um sem-número de reflexões sobre o período: GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Nação e Civilização nos Trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de uma História Nacional. Estudos Históricos, Rio de Janeiro: FGV, n.1, p.5-27, 1988.
2 Ambos assinam o belíssimo ensaio que apresenta a obra: KNAUSS, Paulo; CEZAR, Temístocles. O historiador viajante: itinerário do Rio de Janeiro a Jerusalém (Prefácio). In: Historiografia e Nação no Brasil: 1838-1857. Rio de Janeiro: Ed. Uerj, 2011. p.7-21. Acrescento ao rol elaborado por eles as seguintes obras: D’INCAO, M. A. História e ideal: ensaios sobre Caio Prado Jr. São Paulo: Brasiliense; Ed. Unesp, 1989; SAMARA, Eni de Mesquita; SOIHET, Rachel; MATOS, Maria Izilda S. de. Gênero em debate: trajetórias e perspectivas na historiografia contemporânea. São Paulo: Educ, 1997; FREITAS, Marcos Cézar de (Org.) Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 2001; SILVA, Rogério Forastieri da. História da historiografia: capítulos para uma história das histórias da historiografia. Bauru: Edusc, 2001; NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira; GUIMARÃES, Lúcia Maria Paschoal; GONÇALVES, Márcia de Almeida; GONTIJO, Rebeca. Estudos de historiografia brasileira. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2011.
3 Sobre isso ver COELHO, Mauro Cezar. A história, o índio e o livro didático: apontamentos para uma reflexão sobre o saber histórico escolar. In: ROCHA, Helenice Aparecida Bastos; REZNIK, Luís; MAGALHÃES, Marcelo de Souza (Org.) A história na escola: autores, livros e leituras. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2009. p.263-280.
Mauro Cezar Coelho – Faculdade de História, Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: mauroccoelho@yahoo.com.br
GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Historiografia e Nação no Brasil (1838-1857). Trad. Paulo Knauss e Ina de Mendonça. Rio de Janeiro: Editora Uerj, 2011. Resenha de: COELHO, Mauro Cezar. Historiografia e Nação no Brasil – um clássico e suas possibilidades, da gênese da historiografia ao lugar da História Ensinada nos dias de hoje. Revista História Hoje. São Paulo, v.1, n.1, p. 329-333, jan./jun. 2012. Acessar publicação original [DR]
MAYNARD Dilton Cândido Santos (Aut), Escritos sobre história e internet (T), Fapitec (E), Multifoco (E), LUCCHESI Anita (Res), Revista História Hoje (RHH), Internet, Séc. 20-21
Uma das mais belas apresentações de livros que já li começava assim: “Apresentar um livro é fazê-lo presente”. Ora, mas não é óbvio? Contudo, continua argutamente o autor: “Mas, qual poderia ser seu presente? O da escritura, que já não é, ou o da leitura, que ainda não é?”. Repito as palavras e questionamentos de Jorge Larrosa1 pensando na velocidade com que se transformam as paisagens da seara em que Dilton Maynard decidiu se enveredar ao eleger como tema central de seu livro as relações entre história e internet.
Sendo assim, a obra Escritos sobre história e internet chama a atenção por um particular interesse pelo tema dos ambientes telemáticos e provoca, em virtude disso, certo conforto antecipado em, ao menos, podermos esperar que sua leitura abrace as discussões sobre o elemento digital e suas implicações para o nosso métier, historicamente analógico e papirofílico. Assim, recomendo o livro desejando que as presenças que dele fizerem, consoantes ou dissonantes à minha, venham incrementar o debate acerca deste Novo Mundo para onde as agitadas águas do ciberespaço nos levam. Por enquanto navegamos à deriva.
O breve mas consistente volume de Maynard se apresenta nos moldes de um pequeno códex, composto por quatro artigos que foram escritos em momentos distintos e posteriormente linkados uns aos outros sob a tag dos problemas que a internet traz para o dia a dia da Oficina da História. Decerto o livro não pretende esgotar o assunto, mas sim, apresentar reflexões e propor questionamentos de caráter introdutório que possam, em um horizonte augurável, ser desdobrados mais à frente por outros pesquisadores. Mesmo porque a publicação é uma cápsula de perguntas, um convite a novas investigações sobre a internet e através dela. Aliás, a grande pergunta do livro talvez seja justamente aquela não dita, mas todo o tempo presente no background dessa leitura: “Afinal, por que não trabalhar com internet?”.
Para evidenciar como a internet pode ser um objeto-problema e também uma ferramenta-problema para os historiadores do nosso século, Maynard primeiro nos apresenta o que é essa tal Rede Mundial de Computadores, para depois trazer alguns casos de estudos resultantes de sua experiência com a internet nos últimos anos e pesquisas que vem realizando nessa área.
No capítulo de abertura, o autor esboça uma breve história da internet. Descreve a trajetória dessa inovadora tecnologia, pontuando, sobretudo, quais foram as circunstâncias históricas que favoreceram seu surgimento. Apresenta a emergência da internet como um produto do seu tempo, de demandas sociais específicas e condições propícias para o desenvolvimento de seu caráter aberto, descentralizado e colaborativo. Características que se acentuaram principalmente a partir da década de 1990, depois que a rede se libertou dos grilhões de sua missão como tecnologia militar do Departamento de Defesa norte-americano e começou a ser viabilizada também para fins comerciais.
Segundo Maynard, professor de História Contemporânea da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e orientador de diversos trabalhos sobre cibercultura, intolerância e extrema-direita na internet, teriam sido o cenário bipolarizado da Guerra Fria e, concomitantemente, o ambiente descentralizado dos protestos pacifistas e contraculturais das décadas de 1960 e 1970 a proporcionarem as condições ideais para o surgimento e desenvolvimento da ‘rede das redes’. Para o autor, “a verdadeira questão não é ser contra ou a favor da internet. O importante é compreender as suas mudanças qualitativas” (p.42).
É nessa esteira que o autor segue apresentando outros três principais filões por onde tem espreitado as implicações da internet nas dinâmicas sociais do Tempo Presente e, consequentemente, os desafios que tal panorama vem apresentando para a história. Na realidade, os capítulos centrais do livro dialogam todo tempo entre si. Isto porque ambos vão tratar em maior ou menor escala das apropriações que grupos de extrema-direita têm feito da internet. Suas preocupações referem-se ao modo como, cada vez mais, a internet se apresenta como “uma espécie de novo oráculo, como um espaço autônomo do conhecimento” (p.43). Do deslumbramento com essa realidade, e do fato de a internet ser uma espécie de zona neutra, território sem lei, ele alerta que decorrem graves perigos. Um deles, senão o principal, é o tema da engajada exposição do autor no Capítulo 2: a facilidade de produção de suportes pedagógicos na rede mundial de computadores e sua apropriação por grupos ou indivíduos de extrema-direita.
Para lidar com história em meio à superinformação característica da world wide web, em plena ‘Era Google’, tomando emprestada a expressão de Carlo Ginzburg,2 toda cautela é pouca, pois, como nos diz o historiador italiano, “No presente eletrônico o passado se dissolve”. Como assim? O ‘dissolver-se’ de Ginzburg pode ser lido em muitas direções, uma das quais é a que diz respeito aos dilemas da memória e do esquecimento na rede, como e o que preservar dos arquivos digitais neste século XXI. Entretanto, a preocupação do nosso autor é mais específica. A ‘dissolução’ do passado, para Maynard, está nas possíveis manipulações da história que podem ser feitas na internet. Uma das evidências desse problema, para ele, são os espaços virtuais destinados a servir de suportes pedagógicos para projetos de doutrinação, alguns deles comprometidos, por exemplo, com retóricas revisionistas. Tais iniciativas pretendem fazer reconstruções historiográficas, tentam estabelecer falsificações e forjar narrativas que classifiquem, por exemplo, as memórias sobre o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial como meras conspirações. Ele chama a atenção:
Em inversões interpretativas, os algozes são vítimas, qualquer tipo de documentação que evidencie tortura, prisão, assassinatos e a racionalização das mortes em campos de concentração e câmaras de gás é descartada como ‘falsificação’ … Em meio a apropriações simbólicas e batalhas da memória, estes portais são exemplos de ferramentas eletrônicas dedicadas a promover uma leitura intolerante da história sob pretensa pátina de luta por liberdade de expressão. (p.45)
Dentre as tentativas de reescrita da história, um dos casos destacados pelo autor é o do portal Metapedia,3 autodenominado ‘enciclopédia alternativa’, que traz, entre outros, verbetes sobre líderes e representantes da extrema- -direita, em que estes são apresentados sem nenhuma menção aos seus xenofobismo ou racismo. Mesmo o führer nazista, Adolf Hitler, é descrito com benevolentes esquecimentos. Fica para a nossa reflexão a importância de um inventário, como esse que empreende Maynard, de ódios e revisionismos soltos pela rede. Se não nos ocuparmos deles, a quem os delegaremos? Às inteligências estatais ou às polícias? Mas, e pela história, quem fará vigília?
Cabe lembrar que essa batalha das memórias e dos lugares de memórias é atualíssima e extrapola as fronteiras do ciberespaço. É importante ressaltar, portanto, que apesar dos limites dessa obra, o esforço que nela se faz para advogar em favor da sistemática investigação histórica do e no ciberespaço, embora se baseie majoritariamente em exemplos e documentações disponíveis na própria rede, guarda estreita relação com a realidade ‘não virtual’.
A intolerância promovida na rede por grupos extremistas como os skinheads, os carecas paulistas e outros, desgraçadamente faz vítimas reais para além dos frios números de audiência que podemos verificar em web-estatísticas. O alcance das páginas de ódio, como o www.radioislam.org, o www.ilduce.net e o www.valhalla88.com, [4] ou ainda o www.libreopinion.com (infelizmente os exemplos são vastos e de várias nacionalidades), é grande. E como lembra o título do terceiro capítulo, esses sites não trabalham isolados, em muitos casos se montam verdadeiras ‘Redes de Intolerância’, com troca de links, apoio ‘cultural’ (pela troca de banners etc.) e mesmo assistência mútua em caso de um site precisar ser hospedado em outra ‘casa’ para poder fugir ao rastreamento da polícia. Organizados e rápidos, eles conseguem escapar mais facilmente das investigações e das consequências, graças à transnacionalidade do mundo virtual, que permite, em certos aspectos, essa “anomia geográfica” (p.103-104), e assim prorrogam indeterminadamente a impunidade dos integrantes desses grupos. O que mais precisamos viver para lembrar o fascismo? Se a resposta for neofascismos, aí vamos nós. Preparem suas mentes, corações e hard disks para o caso de carregamentos muito pesados: xenofobia, machismo, homofobia, misoginia, racismo… eugenias.
Por fim, Maynard nos introduz no fantástico campo do ‘ciberativismo’ ou ‘hacktivismo’. Temas por onde esbarraremos também com os profissionais de Relações Internacionais preocupados com a diplomacia clássica em crise (será?) em tempos daquilo que algumas nações vêm chamando de ‘ciberguerra’ (guerra de informação) ou ainda ciberterrorismo. O autor demonstra como os Estados Unidos se apropriaram dos escândalos midiáticos referentes ao Cablegate [5] para alimentar uma interpretação belicista do momento, condenando as denúncias do Wikileaks e os atos de protestos do grupo de hackers Anonymous em 2010 como terrorismo. Para Maynard, o perigo dessa manipulação de opinião a partir de apropriações políticas do ativismo cibernético é a criação de uma atmosfera promissora para um “indesejável remake dos dias da Guerra Fria” (p.141). A saber, com quais intencionalidades políticas, a troco de que esquecimentos…
Os problemas expostos nesse livro nos remetem a vários estudos sobre história e internet, ou, como já batizaram alguns estudiosos, ‘Historiografia Digital’. Todos, contudo, bastante recentes e também marcados, uns mais, outros menos, por uma levada introdutória, da apresentação de problemas e tímidas formulações de hipóteses, em virtude da relativa novidade do tema.[6] Entretanto, pensando especialmente nas variantes ética, moral e política da história, gostaríamos de fazer referência aqui ao trabalho do historiador francês Denis Rolland, que, assim como Maynard, também entende a internet como uma nova fonte e objeto para a história, inscrita no Tempo Presente e demandando cautelosos e redobrados exames críticos. Para Rolland, na rede, a história assume frequentemente a forma de narrativas de ‘costuras invisíveis’, cujo nível de credibilidade científica é quase sempre desconhecido ou inverificável, o que pode acabar levando a um ‘mal-estar da história’, por ser, muitas vezes, repleta de dissimulações ou amnésias-construtivas, uma “história sem historiador”,[7] exposta, portanto, aos riscos de reconstruções historiográficas tal qual nos adverte Maynard no Capítulo 2 (p.43-66). É por tudo isso que, como afirma o autor já no início do livro, “pesquisar a história da internet, assim como navegar, é preciso” (p.42).
Notas
1. LARROSA, Jorge. Linguagem e educação depois de Babel. Trad. Cynthia Farina. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. p.7.
2. GINZBURG, Carlo. História na Era Google. Fronteiras do Pensamento, 29 nov. 2010. (Conferência). Disponível em: www.youtube.com/watch?feature=player_ embedded&v=wSSHNqAbd7E (Vídeo); Acesso: 22 mar. 2012.
3. Página da ‘enciclopédia’ em Português: pt.metapedia.org/wiki/P%C3%A1gina_principal; Acesso em: 23 mar. 2012.
4. Cujo conteúdo hoje se encontra disponível em outro endereço: www.nuevorden.net/portugues/valhalla88.html ; Acesso em: 23 mar. 2012. Anita Lucchesi Revista História Hoje, vol. 1, nº 1 340
5. Termo cunhado pela imprensa mundial para nomear o escândalo gerado pelo site Wikileaks ao divulgar centenas de documentos e telegramas ‘secretos’ de autoridades da diplomacia norte-americana sobre vários países.
6. Para uma apreciação mais detida dos problemas de ordem teórico-metodológica na relação entre história e internet, sob o ponto de vista da Historiografia Digital, ver: COHEN, Daniel J.; ROSENZWEIG, Roy. Digital History: a guide to gathering, preserving, and presenting the past on the web. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006. Disponível em: chnm.gmu.edu/digitalhistory/; Acesso em: 22 mar. 2012; RAGAZZINI, Dario. La storiografia digitale. Torino: UTET Libreria, 2004. Em língua portuguesa, ver: LUCCHESI, Anita. Histórias no ciberespaço: viagens sem mapas, sem referências e sem paradeiros no território incógnito da web. Cadernos do Tempo Presente, ISSN 2179-2143, n.6. Disponível em: www.getempo.org/revistaget.asp?id_edicao=32&id_materia=111; Acesso em: 23 mar. 2012.
7. ROLLAND, Denis. Internet e história do tempo presente: estratégia de memória e mitologias políticas. Revista Tempo, Rio de Janeiro, n.16, p.59-92. jan. 2004. p.2. Disponível em: www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg16-4.pdf ; Acesso em: 23 mar. 2012.
Anita Lucchesi – Mestranda, Programa de Pós-Graduação em História Comparada, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: anita.lucchesi@gmail.com
MAYNARD, Dilton Cândido Santos. Escritos sobre história e internet. Rio de Janeiro: Fapitec; Multifoco, 2011. Resenha de: LUCCHESI, Anita. Oficina da história no ciberespaço. Revista História Hoje. São Paulo, v.1, n.1, p. 335-340, jan./jun. 2012. Acessar publicação original [DR]
SPOSITO Fernanda (Aut), Nem cidadãos/ nem brasileiros: indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845) (T), Alameda (E), MOREIRA Vânia Maria Losada (Res), Revista História Hoje (RHH), Povos Indígenas, Estado Nacional, Província de São Paulo, América – Brasil, Séc. 19
A temática indígena ainda não entrou de maneira firme na história política do Império. É essa, pelo menos, a impressão deixada por algumas obras coletivas publicadas recentemente. Ao não tratarem dos índios e das nações indígenas, essas historiografias, que se apresentam como visões panorâmicas sobre o século XIX, terminam ajudando a propagar a falsa ideia de que os índios não eram uma preocupação política dos contemporâneos, ou não representavam uma ‘variável’ importante para a análise da experiência histórica brasileira do período. Em Nação e cidadania no Império: novos horizontes, 1 por exemplo, existem 17 capítulos e nenhum deles se dedica aos índios e às suas experiências durante o Oitocentos. O mesmo acontece em Repensando o Brasil do Oitocentos: cidadania, política e liberdade, 2 com 23 capítulos, nenhum dos quais enfocando a questão indígena como eixo central da análise. Não é aceitável, contudo, continuar discutindo a formação do Estado, a consolidação do território nacional e a cidadania, durante o Império, sem considerar de maneira clara, direta e corajosa o problema dos índios, das comunidades indígenas já integradas à ordem imperial e das inúmeras nações independentes que, progressivamente, foram conquistadas ao longo do próprio século XIX. A recente publicação de O Brasil Imperial, coleção em três volumes, com 33 capítulos, um deles dedicado aos índios,3 é digna de menção, pois representa um avanço significativo.
Uma questão importante para a compreensão política do Brasil, mas ainda muito negligenciada pela historiografia, é a posição do índio no processo político de organização do Estado nacional durante o Oitocentos. Por isso mesmo, é muito bem-vindo o livro de Fernanda Sposito Nem cidadãos, nem brasileiros: indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845). 4 O livro está dividido em duas partes: na primeira, intitulada “Os índios no Império: política e imaginário”, a autora dedica-se a analisar o indigenismo e a política indigenista imperial, com destaque para o período entre a Independência e a emergência do Segundo Reinado.
Com sólida base empírica, a autora demonstra que, depois da Independência, a monarquia, a escravidão e a convivência com os índios tiveram de ser refundados “em novas bases, no contexto do liberalismo e do modelo constitucional moderno” (p.14). Desse ponto de vista, a questão indígena tornou-se um dos assuntos importantes da pauta política do período e foi “reenquadrada à vista de temas como cidadania, soberania nacional, mão de obra etc.” (p.14). Nessa parte do texto, o objetivo central da autora é o de “perceber como os dirigentes do Estado e da nação em construção elaboraram políticas e pensamentos referentes às comunidades indígenas” (p.257). Para isso, Sposito explorou e percorreu várias searas do debate político sobre os índios, investigando a Assembleia Constituinte de 1823, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, as legislaturas do Senado, a legislação editada sobre os índios, a imprensa etc. O apetite da historiadora pelas fontes históricas é uma das marcas mais salientes de seu trabalho e, sem sombra de dúvidas, uma de suas maiores contribuições.
Na segunda parte, intitulada “No palco das disputas entre paulistas e indígenas”, a autora traça uma história mais social do que política, realizando uma reflexão sobre a expansão das fronteiras da província de São Paulo sobre os territórios dos Kaingang, Xokleng, Guarani e Kaiowa. Explora, portanto, a história das zonas de contato e os conflitos entre ‘índios’ e ‘paulistas’. Também aqui, a autora mobiliza um importante corpo documental sobre a província de São Paulo, fornecendo sólida base empírica à segunda parte de sua reflexão.
A conexão que Fernanda Sposito faz entre as duas partes de seu trabalho é também digna de destaque. Isso ganha especial evidência na discussão que ela realiza sobre a abolição das cartas régias do príncipe regente d. João, que mandavam mover guerras ofensivas contra os índios de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. As cartas régias, publicadas em 1808 e 1809, foram debatidas no Senado em 1830 e revogadas pouco depois, em 1831. De forma muito apurada, Sposito demonstra, por um lado, que aquela legislação joanina ainda estava em vigor na província de São Paulo, onde os moradores se valiam dela para manter índios no cativeiro. Por outro, evidencia que a pauta política nacional movia-se, muitas vezes, em função das injunções regionais. Afinal, foi em razão da intervenção dos dirigentes paulistas que o Senado se viu na contingência de discutir a revogação das guerras e a persistência do cativeiro indígena em certas regiões do Império (p.91).
A pesquisa de Fernanda Sposito amplia o atual debate historiográfico sobre cidadania durante o Oitocentos. É importante aprofundar, por isso mesmo, a reflexão sobre algumas hipóteses e conclusões centrais sustentadas pela autora. Sobre isso, faço duas observações: a primeira diz respeito ao uso do conceito Antigo Sistema Colonial que, ao contrário de ajudar a autora na problematização das fontes, leva-a a desenvolver uma interpretação sobre a transição da política indigenista colonial para a imperial pouco satisfatória. De acordo com Sposito,
A novidade da questão indígena no Estado nacional brasileiro foi que a situação de colonização que caracteriza a relação ente os dois universos ao longo do período colonial não cabia mais no modelo de um Estado moderno. Isso foi colocado desde a época de crise do Antigo Sistema Colonial, através das políticas pombalinas para os indígenas na segunda metade do século XVIII. (p.260)
Do ponto de vista dos índios, a ‘situação de colonização’ não foi superada com a emergência do Estado imperial, pois a sociedade nacional, numa espécie de colonialismo interno, continuou avançando e conquistando os territórios e as populações indígenas. A segunda parte do livro de Sposito é, aliás, um testemunho eloquente sobre isso. A diferenciação que a autora faz entre as políticas indigenistas colonial e nacional não se baseia na análise dos fatos. É antes caudatária de uma avaliação limitada sobre a política portuguesa em relação aos índios, entendida fundamentalmente como uma “política ofensiva de extermínio e escravização” (p.36), temporariamente suspensa durante o regime do Diretório dos Índios, quando prevaleceu a política de incorporação deles na qualidade de vassalos da monarquia portuguesa (p.37). Nem a documentação primária, citada pela própria autora, nem a historiografia mais recente sobre a política indigenista colonial corroboram sua interpretação.5 Afinal, se uma das faces da política indigenista colonial foi, de fato, a guerra, o extermínio e o cativeiro, a outra foi a territorialização6 dos índios por meio dos aldeamentos, transformando-os em súditos e vassalos da Coroa, com uma série de direitos e obrigações.7 Mais ainda, os aldeamentos – nos moldes preconizados por Manoel da Nóbrega e, posteriormente, regulamentados pelo Regimento das Missões de 1686 – e o Diretório pombalino foram as duas experiências coloniais nas quais os políticos e os intelectuais do Império se basearam para pensar e propor uma nova política de Estado para a incorporação dos índios à ordem imperial.8
A segunda e última observação diz respeito a uma das teses centrais do livro, ou seja, a de que o pacto político selado depois da Independência excluiu os índios da sociedade civil e política, porque eles não foram mencionados no texto constitucional (p.78). Assim, entre a Independência e a promulgação do Regulamento de Catequese e Civilização dos Índios, em 1845, “os indígenas não eram reconhecidos como cidadãos e tampouco como brasileiros” (p.258). Ainda segundo a autora, essa exclusão serve para explicar acontecimentos importantes, como a continuidade de ‘práticas coloniais’ no Império, como as guerras e as escravizações.
A ausência de uma definição precisa sobre o estatuto jurídico dos índios ou de um capítulo específico sobre a ‘civilização dos índios bravos’ na Constituição de 1824, tal como queria José Bonifácio e vários constituintes da Assembleia de 1823, não são condições suficientes, contudo, para postular a exclusão dos índios do pacto político imperial. Afinal, a situação jurídica dos índios pode ter ficado incerta e sob disputa, mas isso não significa que eles ficaram de fora do pacto político do período. Além disso, a própria autora demonstra que a demora em se criar uma legislação global sobre como lidar com os índios ‘bravos’ não se deveu à falta de interesse político pela questão, já que existiam diferentes projetos e propostas, mas sim à falta de consenso sobre o assunto (p.259).
Os constituintes de 1823 insistiram no argumento de que existiam no território do Império dois tipos diversos de índios, os ‘bravos’ e os ‘domesticados’, e cada um deles exigia um enfoque político diferente. Em relação aos ‘bravos’, sugeriu-se que eles precisavam ser, primeiro, ‘civilizados’ e integrados à sociedade para, depois, gozarem dos direitos políticos de cidadãos. Quanto aos índios ‘domesticados’, não se disse muito sobre eles na Constituinte. Mas o pouco discutido desenvolveu-se no sentido de considerá-los homens livres e nascidos no território brasileiro, por isso mesmo plenamente capazes de gozarem do título de cidadãos brasileiros. A política indigenista do Primeiro Reinado tampouco autoriza a afirmação de que os índios ficaram de fora do pacto político do período pós-Independência. Apesar de ter permitido bandeiras contra grupos indígenas considerados agressores, também mandou formar aldeamentos para outros considerados ‘selvagens’, mas não inimigos, e tratou como cidadãos certos grupos aldeados e avaliados como suficientemente ‘civilizados’, mandando regê-los segundo as leis ordinárias do Império. Os próprios índios, além disso, apropriaram-se da alcunha de ‘cidadãos brasileiros’ para lutarem por seus interesses, sem que isso soasse como uma reivindicação inapropriada ou extemporânea (Moreira, 2010).
Concluo estas considerações lembrando o que disse o índio Marawê, do Parque Nacional do Xingu. Para ele, a história dos índios se divide em a.B. e d.B., isto é, em “antes e depois do branco”.9 Na longa história indígena d.B., a transição da Colônia para o Império não representou uma ruptura profunda, mas trouxe algumas mudanças significativas que precisam ser, de fato, salientadas. A mais significativa foi, do meu ponto de vista, o crescente desuso de uma perspectiva de cidadania típica do antigo regime, quando ser índio e parte do corpo político e social, na qualidade de vassalo, era situação perfeitamente aceitável e ajustável.10 Em outras palavras, com o aprofundamento do liberalismo e do nacionalismo na ordem social e política do Império, aprofundou-se, também, a política de ‘assimilação’, entendida e praticada com o objetivo de dissolver o índio na sociedade nacional. Desse ângulo, Fernanda Sposito está bastante certa ao afirmar que a expectativa política dominante no período era a de considerar o índio “brasileiro ou, hipoteticamente cidadão, se deixasse, justamente de ser indígena” (p.143). Durante o Império, portanto, um dos desafios da política indígena foi lidar com os processos de cidadanização e nacionalização da política indigenista, que foram especialmente vorazes depois da promulgação da Lei de Terras de 1850, quando se intensificou a liquidação de aldeias e a desamortização das terras indígenas.
Notas
1 CARVALHO, José Murilo de. Nação e cidadania no Império: novos horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
2 Carvalho, José Murilo de; Neves, Lúcia Maria B. P. (Org.). Repensando o Brasil do Oitocentos: cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.
3 SAMPAIO, Patrícia Melo. Política indigenista no Brasil imperial. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Org.). O Brasil Imperial – 1808-1831. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p.175-206.
4 SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros: indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845). São Paulo: Alameda, 2012.
5 Perrone-Moisés, Beatriz. Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista no período colonial (séculos XVI a XVIII). In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura; Fapesp, 1992. p.115-132.
6 OLIVEIRA, João Pacheco de. Uma etnologia dos “índios misturados”? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais. Mana, v.4, n.1, p.47-77, 1998.
7 Almeida, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003.
8 MOREIRA, Vânia Maria Losada. De índio a guarda nacional: cidadania e direitos indígenas no Império (vila de Itaguaí, 1822-1836). Topoi, Rio de Janeiro, v.11, n.21, p.127-142.
9 CUNHA, Manuela Carneiro da. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2009. p.129.
10 MOREIRA, Vânia Maria Losada. O ofício do historiador e os índios: sobre uma querela no Império. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.30, n.59, 2010, p.53-72.
Vânia Maria Losada Moreira – Departamento de História e Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). E-mail: vania.vlosada@gmail.com
SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros: indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845). São Paulo: Alameda, 2012. Resenha de: MOREIRA, Vânia Maria Losada. Os índios na história política do Império: avanços, resistências e tropeços. Revista História Hoje. São Paulo, v.1, n.2, p. 269-274, jul./dez. 2012. Acessar publicação original [DR]
Almeida Maria Regina Celestino de (Aut), Os índios na História do Brasil (T), Editora FGV (E), ALMEIDA NETO Antonio Simplicio de (Res), Revista História Hoje (RHH), Povos Indígenas, Séc. 18-19, América – Brasil
A Lei 11.645 de 10 de março de 2008, que torna obrigatório o estudo de história e cultura indígenas (além da africana e afro-brasileira) nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, público e privado, explicita algumas importantes questões sobre o ensino dessa disciplina escolar. A mais evidente é o fato de não haver esse componente curricular nos cursos de Graduação e Licenciatura em História, salvo raras exceções, o que traz uma série de implicações àqueles professores que desejam cumprir a determinação legal, pois devem suprir essa lacuna na formação pelos mais diversos meios disponíveis. Entre eles, certamente, destaca-se o livro didático – esse ‘produto cultural complexo’, como disse Stray –, que acaba por exercer inusitado e importante papel na formação docente.
Outro aspecto, no entanto, ganha relevância na abordagem dessa temática em sala de aula: o fato de a cultura indígena não ser a dominante em nossa sociedade, tanto que é objeto dessa legislação específica. Assim, é considerada ‘a outra’, diferente, diversa, exótica e estranha, frente à cultura dominante, ocidental, branca, europeia, civilizada, cristã e ‘normal’. Sujeita aos estigmas classificatórios, a cultura desse ‘outro’ será identificada como primitiva, étnica, inferior e atrasada, será entendida como essencialista, ou seja, pura, fixa, imutável e estável, portanto, a-histórica. Dessa forma, o indígena que não se apresenta nesse suposto estado puro será considerado aculturado, não índio, sem identidade e sem tradição, daí os índios serem representados predominantemente como figuras do passado, mortas ou em franco processo de extinção, fadados ao desaparecimento.
Embora não seja destinado especificamente a suprir a demanda desses conteúdos pelos professores da educação básica, o livro Os índios na História do Brasil de Maria Regina Celestino de Almeida apresenta importante e denso panorama da temática, dentro dos limites de um livro de bolso (coleção FGV de bolso, Série História), e bem serviria a esse propósito. Baseia-se na produção historiográfica mais recente, em novas leituras decorrentes de documentos inéditos, novas abordagens fundamentadas em novos conceitos e teorias, bem como em pesquisas interdisciplinares, e começa, justamente, pela complexa discussão sobre a concepção de cultura indígena que acabou por alijar esse grupo social da História.
Desempenhando papéis secundários ou aparecendo na posição de vítimas, aliados ou inimigos, guerreiros ou bárbaros, escravos ou submetidos – nunca sujeitos da ação, uma vez dominados, integrados e aculturados –, desapareciam como índios na escrita histórica e, não à toa, estariam condenados ao desaparecimento também no presente, prognóstico derrubado pelas evidências apontadas pelo censo demográfico do IBGE de 2010, que aponta crescimento de 178% no número de indígenas autodeclarados desde 1991, bem como a existência de 305 etnias e 274 línguas.
O reconhecimento aos povos indígenas do direito de manter sua própria cultura, garantido pela Constituição de 1988, assim como sua maior visibilidade em lutas pela garantia de seus direitos, tiraram esses grupos dos bastidores da história – para usar uma imagem da própria autora –, garantindo-lhes um lugar no palco, despertando o interesse dos historiadores que passaram a percebê-los como sujeitos participando ativamente dos processos históricos. Tal percepção foi ainda favorecida pela imbricação entre história e antropologia na perspectiva de “compreensão da cultura como produto histórico, dinâmico e flexível, formado pela articulação contínua entre tradições e novas experiências dos homens que a vivenciam” (p.22), possibilitando novos entendimentos das ações dos grupos indígenas nos processos em que estavam envolvidos.
Ao discutir hibridação cultural, Canclini afirma que “quando se define uma identidade mediante um processo de abstração de traços (língua, tradições, condutas estereotipadas), frequentemente se tende a desvincular essas práticas da história de misturas em que se formaram”, o que torna impossível para esse antropólogo “falar das identidades como se se tratasse apenas de um conjunto de traços fixos, nem afirmá-las como a essência de uma etnia ou de uma nação”.1 Nesse sentido, Almeida chama nossa atenção para o necessário entendimento das “identidades como construções fluidas e cambiáveis que se constroem por meio de complexos processos de apropriações e ressignificações culturais nas experiências entre grupos e indivíduos que interagem” (p.24), que tornou possível nova mirada dos historiadores sobre a identidade genérica imposta sobre esses grupos, a começar pela denominação ‘índios’, como se constituíssem um bloco homogêneo, desconsiderando não só as diferenças étnicas e linguísticas, mas também os diferentes interesses, objetivos, motivações e ações desses grupos nas relações entre si e com os colonizadores europeus que, como não poderia deixar de ser, foram se modificando com a dinâmica da colonização.
Importante ressaltar que as considerações da autora sobre cultura e identidade são fundamentais para compreender a perspectiva adotada pelos historiadores que se debruçam sobre essa temática, mas igualmente necessárias para o leitor que pretende conhecer um pouco mais sobre os índios na História do Brasil e, por que não dizer, indispensáveis aos professores do ensino básico que, tendo de se haver com o ensino de história e cultura indígenas nos estabelecimentos de ensino público e privado, deparam com toda sorte de preconceito, racismo e etnocentrismo.
Imbuída dessa concepção dinâmica de identidade e cultura, a autora nos apresenta ao longo dos seis capítulos do livro alguns dos principais debates e pesquisas acadêmicos sobre a temática, sem entrar na discussão historiográfica sobre haver ou não uma história indígena, propriamente dita, ou sobre a controversa denominação etno-história, daí a interessante solução encontrada para o título da obra: Os índios na História do Brasil.
A autora esclarece que para o estudo das relações entre os colonizadores e indígenas, já nos primeiros contatos torna-se necessário não tomar estes últimos como tolos ou ingênuos dispostos a colaborar com os portugueses em troca de quinquilharias, mas compreender seu universo cultural. Discutindo, por exemplo, a peculiar relação com o outro na cultura Tupinambá, implicada na guerra, nos rituais de vingança, escambo e casamento, nos alerta que “embora eles tivessem grande interesse nas mercadorias dos europeus, suas relações com estes últimos significavam também oportunidades de ampliar relações de aliança ou de hostilidade” (p.40). Da mesma forma, afirma que “eles trabalhavam movidos por seus próprios interesses, e quando as exigências começaram a ir além do que estavam dispostos a dar, passaram a recusar o trabalho” (p.42), o que se somou ao fato de que no universo cultural desse grupo o trabalho agrícola era considerado atividade feminina.
Embasada em vasta bibliografia e em fontes primárias, a autora percorre a complexidade das relações indígenas nas diversas regiões do país – capitanias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande, Itamaracá, Ilhéus, Bahia, Ilhéus, Espírito Santo, São Tomé, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro etc. Nesse percurso, reafirma a identidade dos grupos indígenas como característica dinâmica, como é o caso dos temiminós do Rio de Janeiro, que provavelmente seriam uma construção étnica do contexto colonial, oriunda do subgrupo Tupinambá no processo de relações e interesses dos grupos indígenas e estrangeiros, pois “afinal, se a identidades étnicas são históricas e múltiplas, não há razões para duvidar de que os índios podiam adotar para si próprios e para os demais, identidades variadas, conforme circunstâncias e interesses” (p.61).
A condição de agentes históricos atribuída aos indígenas ganha evidência na análise da política de aldeamentos que, conforme demonstra Maria Regina Celestino de Almeida, possuía diferentes funções e significados para a Coroa, religiosos, colonos e índios. Para estes, poderia significar terra e proteção frente às ameaças a que estavam submetidos nos sertões, como escravização e guerras, o que não os impedia de agir conforme seus interesses e aspirações na relação com os outros grupos, não obstante as limitações de toda ordem a que estavam sujeitos nesses espaços de conformação. Dessa forma, valendo-se da legislação decorrente das políticas indigenistas, os índios aldeados “aprenderam a valorizar acordos e negociações com autoridades e com o próprio Rei, reivindicando mercês, em troca de serviços prestados. Sua ação política era, pois, fruto do processo de mestiçagem vivido no interior das aldeias. Suas reivindicações demonstraram a apropriação dos códigos portugueses e da própria cultura política do Antigo Regime” (p.87).
Nesse sentido, afirma a autora, os aldeamentos devem ser pensados como “espaços de reelaboração identitária” (p.98), seja ressignificando os rituais religiosos católicos, aprendendo a ler e escrever o português ou estabelecendo relações complexas e ambíguas com os diferentes grupos sociais, inclusive indígenas, segundo seus interesses.
Esse processo pode ser ainda observado na Amazônia de meados do século XVIII, quando índios tornaram-se vereadores, oficiais de câmara e militares (p.120), e se prolonga pelo século XIX, quando indígenas eram recrutados compulsoriamente para os serviços militares, notadamente a Marinha (p.147). Interessante lembrar o episódio da Guerra do Paraguai (1864-1870), na qual lutaram índios Terena e Kadiwéu, não sem utilizar diversas estratégias para escapar ao alistamento como Voluntários da Pátria. Mais tarde, no último quartel do século XX, essa participação foi evocada na reconstituição da memória desses grupos para reivindicar direitos territoriais no Mato Grosso do Sul ancorados no heroísmo e colaboração com o Estado (p.149). Sujeitos históricos no presente e no passado, condição que dialoga com as possibilidades de romper a invisibilidade indígena no passado e no presente.
Nota
1CANCLINI, Nestor. Culturas híbridas. São Paulo: Edusp, 2008. p.23.
Antonio Simplicio de Almeida Neto – Departamento de História, Universidade Federal de São Paulo. E-mail: asaneto@unifesp.br
Almeida, Maria Regina Celestino de. Os índios na História do Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. Resenha de: ALMEIDA NETO, Antonio Simplicio de. Indígenas na história do Brasil: identidade e cultura. Revista História Hoje. São Paulo, v.1, n.2, p. 275- 279, jul./dez. 2012. Acessar publicação original [DR]
ALEKSIÉVITCH Svetlana (Aut), As últimas testemunhas: crianças na Segunda Guerra Mundial (T), ROSAS Cecília (Trad), Companhia das Letras (E), FLÔR Dalânea Cristina (Res), OTTO Claricia (Res), Revista História Hoje (RHH), Crianças, Segunda Guerra Mundial, Testemunhas, Séc. 20
No livro As últimas testemunhas, Svetlana Aleksiévitch, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2015, apresenta uma centena de relatos de adultos que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial durante a infância. Com apenas duas pequenas citações “Em lugar de prefácio…”, o restante do livro é todo marcado pelas vozes dos entrevistados, e as conclusões da leitura ficam a cargo de cada leitor.
Os relatos, coletados entre os anos de 1978 e 2004 e somente traduzidos para o português em 2018, trazem o modo como cada adulto, na época criança, viu, sentiu e viveu a guerra. Tratava-se, na maioria, de crianças de 2 a 14 anos, com exceção de algumas que nasceram a partir de 1941, e de um garoto que nasceu no ano em que o conflito acabou (1945), mas que parece ter vivido a guerra tão intensamente quanto os demais, quando afirma: “Nasci em 1945, mas lembro da guerra. Conheço a guerra”, nos remetendo ao conceito de “acontecimento vivido por tabela” (Pollak, 1992).
Ao iniciar a leitura, fica-se buscando uma apresentação, uma contextualização do que virá, mas a interferência explícita da autora se restringe às citações tomadas como prefácio; à apresentação de cada entrevistado informando seu nome, a idade que tinha quando a Alemanha invadiu a União Soviética, em 1941, e a profissão que exercia na época em que Svetlana o entrevistou; e por fim, à seleção da parte do relato a ser apresentada. No mais, Svetlana dá voz aos entrevistados. São vozes que chocam, assustam, emocionam, indignam, provocam compaixão, deixam atônito o leitor.
Entre pausas, choro, verbalização do quanto é insuportável relembrar e afirmação de que pelo mal que lembrar faz preferem não recordar, relembraram e contaram, o que faz pensar que a autora, cuja prática com esse tipo de trabalho é reconhecida, deve ter conseguido construir uma relação de confiança e ou demonstrar a importância de suas histórias serem contadas, e assim conseguiu se colocar, verdadeiramente, na posição de escuta (Pollak, 1989). Com certeza, apesar do sofrimento que poderia lhes causar a rememoração daquelas vivências, perceberam na autora uma possibilidade de escuta de suas vozes, de suas vivências, e como resultado o leitor veio a conhecer suas histórias.
Para uma compreensão mais ampla e completa da realidade, é necessário que as “memórias subterrâneas” (Pollak, 1989) sejam trazidas à tona, e essa parece ser uma das principais contribuições de Svetlana, que entrevista pessoas comuns, com diferentes formações, que ocupam ou ocuparam postos de trabalho diversos e que tiveram experiências pós-guerra também diversas.
As experiências, ainda que do mesmo “evento” e que, de certa forma, compõem uma memória coletiva, são experiências individuais e, portanto, relatadas de forma particular por cada um dos entrevistados, e trazem vozes que destoam da história oficial.
Para além de toda a dor, fome, medo e sofrimento, chama atenção a percepção que algumas crianças de mais idade tinham do seu papel na guerra, segundo o relato dos entrevistados. Algumas delas faziam questão de ir para o front, lutar junto aos adultos. Ainda que por vezes fossem rejeitadas, pela idade e por seu tamanho, algumas não desistiam e, por fim, acabavam sendo aceitas e participando efetivamente junto aos soldados. Outras atuavam como auxiliares de profissionais de saúde nos postos e hospitais para tratamento de feridos de guerra. Percebe-se que havia nelas uma “formação nacionalista” do que seria “ser cidadão da nação”, e esse sentimento parece ter sido tão fortemente construído em algumas delas que, ao relatar, verbalizam ou deixam entender que, na época, não sentiram medo, não tiveram dúvida de seu dever de participar da guerra. Parece ter havido, naquela época, para aqueles sujeitos ainda com tão pouca idade, um “enquadramento de memória” (Pollak, 1989) em que o dever de cada sujeito estava acima do risco de morte eminente.
Ao pensar na infância como um período em que os sujeitos deveriam ser cuidados e protegidos por adultos, mereciam ter tempo para brincar, estudar e vivenciar momentos de lazer entre seus pares, pensar uma infância vivida na guerra, com crianças assumindo papel de adulto de modo aparentemente naturalizado, é certamente chocante para quem imagina, à distância, os fatos.
No geral, os relatos demonstram que todas as crianças, com “consciência nacionalista” ou não, viveram situações que ninguém, independentemente de idade, deveria viver. Elas viram as mais diversas crueldades. Viram seus pais serem fuzilados e jogados em valas, crianças serem queimadas ou fuziladas, adultos serem enterrados vivos, avós mortos, pessoas caídas cheias de marcas de tiros, comunidades inteiras sendo queimadas. Elas caminhavam entre mortos, entre tantas outras brutalidades. Eram crianças pequenas que foram afastadas de seus pais, que foram deixadas sozinhas ou, por vezes, tiveram de cuidar de seus irmãos, ainda menores, sem ter o que comer e beber, sem saber o que fazer, para onde ir e a quem recorrer. Sentiam tanta fome que a vegetação por onde passavam era devastada e dividida entre os sobreviventes como o único alimento. Na falta absoluta de comida, a água com cheiro do couro da cinta velha fervida virava sopa, e terra com leite derramado virava produto caro entre as terras vendidas como alimento. O medo era tanto que houve quem tenha ficado sem voz por mais de ano, ou quem tenha esquecido o próprio nome e a própria história. Foi um período em que os orfanatos passaram a ser a casa de muitas crianças, e poucos foram os que reencontraram os pais.
O cenário é o mesmo para todos os entrevistados, de modo que poderíamos falar de uma “memória coletiva” (Halbwachs, 2006), mas observa-se, pela variedade dos relatos e, principalmente, pelo sentido dado por cada um, que não há uma coesão, pelo menos não para todos. Há, aparentemente, dois grupos: aqueles que se percebiam como combatentes, que consideravam ter um dever a cumprir, faziam questão de cumpri-lo e se sentiam cidadãos ao ter sucesso, e aqueles que se viam como crianças que eram, perdendo seus portos seguros, sentindo medo, fome e dor. Todos seguiram uma trajetória infinita em busca de se reconstituir dentro de suas redes restritas de contato, ao longo de toda a vida. E suas lembranças, por serem opostas à memória nacional e provocarem desconforto, dor ou constrangimentos, ou ainda por buscarem preservar “os seus” de sofrimento, são marcadas pelos “não ditos”, por silêncios e por ressentimentos (Pollak, 1989).
É preciso entender que quem fala nesses relatos não são as crianças em si, que vivenciaram a guerra, mas os adultos que naquela época eram crianças e que hoje dão sentido àquele vivido com base em sua experiência da época e em sua trajetória de vida.
A leitura de As últimas testemunhas apresenta um período histórico-social extremamente dramático e cruel, que causou muito sofrimento e deixou marcas definitivas em muitas pessoas, mas esse quadro confirma, ao mesmo tempo, que memória, mesmo que seja influenciada, ao longo do tempo e por diversas formas, pelo meio social, continua sendo “um ato e uma arte pessoal de lembrar os acontecimentos” (Portelli, 1997), e somente ouvindo essas pessoas é possível ir montando o “mosaico” que é a história.
É preciso continuar ouvindo as memórias subterrâneas, como faz Svetlana, de modo a trazer à tona e manter viva a história que a história oficial gostaria de esquecer.
Referências
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução: Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2006.
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 200-212, 1992.
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-15, 1989.
PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: algumas reflexões sobre a ética na história oral. Projeto História, São Paulo, n. 15, p. 13-49, abr. 1997.
Dalânea Cristina Flôr – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil. E-mail: d.c.flor@ufsc.br
Claricia Otto – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil. E-mail: clariciaotto@gmail.com
ALEKSIÉVITCH, Svetlana. As últimas testemunhas: crianças na Segunda Guerra Mundial. Tradução do russo: Cecília Rosas. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. Resenha de: FLÔR, Dalânea Cristina; OTTO, Claricia. A escuta como forma de testemunhar o sofrimento vivido por crianças na Segunda Guerra Mundial. Revista História Hoje. São Paulo, v.8, n.16, p. 256-259, jul./dez. 2019. Acessar publicação original [DR]
SCHMIDT Maria Auxiliadora Moreira dos Santos (Aut), Didática reconstrutivista da história (T) CRV (E), PINA Max Lanio Martins (Res), SILVA Maria da Conceição (Res), Revista História Hoje (RHH), Didática Reconstrutiva da História, Ensino de História, Séc. 20-21, América – Brasil
O livro Didática Reconstrutivista da História da professora e historiadora Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt, publicado em 2020 pela Editora CRV, sediada em Curitiba, é o que existe de mais recente como reflexão teórica e metodológica para o campo da Didática da História no país. A autora percorre o caminho realizado pela influência do pensamento intelectual alemão, da mesma maneira que ressalta o influxo das reflexões realizadas no contexto da linha de investigação da Educação Histórica ibérica (portuguesa) e anglo-saxônica, da qual faz parte, sendo a principal referência dessa área em solo brasileiro.
Maria Auxiliadora Schmidt, carinhosamente conhecida como “Dolinha” por seus pares, possui uma longa trajetória na educação brasileira, que começou no final dos anos de 1970. Foi professora da educação básica por vários anos na cidade de Curitiba, apropriadamente do Ensino Fundamental II, o que a possibilitou conhecer a realidade do ensino na escola pública no Brasil. Como docente da Universidade Federal do Paraná (UFPR), atuou na formação de professores e pesquisadores das áreas de História e Educação e colaborou, e até o momento colabora, com instituições acadêmicas brasileiras, europeias e ibero-americanas. Atualmente, a pesquisadora é professora titular aposentada e está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) e ao Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH) da UFPR, tendo sido a fundadora deste.
O LAPEDUH transformou-se numa referência para o Ensino de História, e pode ser considerado o espaço que possibilita a professora Maria Auxiliadora Schmidt realizar suas pesquisas, bem como efetuar a orientação de alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, com vistas ao desenvolvimento de investigações no campo da Educação Histórica, tendo como princípio o paradigma da aprendizagem histórica. A historiadora é presidente da Associação Iberoamericana de Pesquisadores da Educação Histórica (AIPEDH), mantendo vínculos com uma de rede de pesquisadores e intelectuais na Europa (Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha e Itália), na América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México) e na América do Sul (Chile, Colômbia e Argentina). A pesquisadora também é bolsista de produtividade em pesquisa 1B do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), e, ainda, dispõe de vários artigos, livros e capítulos de livros publicados ao longo de sua carreira.
O livro Didática Reconstrutivista da História está divido em quatro capítulos, que possuem a finalidade de apresentar a trajetória intelectual da pesquisadora, assim como explicitar sua construção teórico-metodológica para o Ensino de História, que poderia ser chamada de novo paradigma para a aula de história. Sua perspectiva está focada na aprendizagem fundamentada na epistemologia da ciência de referência. A obra é produto de revisão da tese defendida pela autora em 2019, para progressão na sua carreira funcional no magistério superior como Professora Titular na UFPR.
A apresentação do livro ficou sob responsabilidade da pesquisadora Marlene Cainelli, professora da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que procurou, no prefácio, responder qual a motivação, o sentido e as carências de orientação que conduziram a historiadora Maria Auxiliadora Schimdt a escrever a obra. Além dessas questões, Marlene Cainelli enfatiza que o exemplar é uma possibilidade de leitura inovadora sobre a natureza didática do conhecimento histórico, tendo em vista que recupera a proposta de um ensino de História denso, estruturado e fundamentado, principalmente, na ciência histórica.
A introdução da obra visa responder o porquê de uma Didática Reconstrutivista da História, que segundo a autora foi formulado por meio do debate existente na Filosofia da História, com vista à sua relação com a aprendizagem do passado, fugindo assim, das discussões do campo da ciência da Educação. Partindo do consenso de que a Didática da História é a ciência da aprendizagem histórica, a pesquisadora conceitua a Didática Reconstrutivista da História como uma adesão ao fato de que a aprendizagem e a cognição histórica precisam ser referenciadas na História, na intenção de estabelecer metodologias que privilegiem, durante a aula de História, a relação passado, presente e futuro como uma reconstrução que possibilite novas narrativas históricas.
O capítulo inicial apresenta a visão da autora sobre o conceito transposição didática do francês Yves Chevellard e como ele esteve presente no Ensino de História em suas variações e adaptações, que foram efetuadas por intelectuais no decorrer do século XX. Ainda nessa primeira parte da obra, a pesquisadora analisa o pensamento de intelectuais brasileiros que, desde o início do século XX, trouxeram contribuições metodológicas para o estabelecimento do Ensino de História, a começar pelo intelectual Jonathas Serrano e sua proposta de 1917, finalizando com a análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1998, editados pelo Ministério da Educação (MEC). Em oposição à ideia da transposição didática, Maria Auxiliadora Schmidt apresenta o conceito de cognição histórica situada. Nesse sentido, a autora intenciona demonstrar, por meio do desenvolvimento das pesquisas em Educação Histórica e sua relação com a Didática da História alemã, que a aprendizagem histórica está relacionada à adoção de uma metodologia de ensino vinculada à ciência de referência, na mobilização da consciência histórica e, sobretudo, nas influências da História pública, que necessita ser levada em consideração no espaço escolar.
O capítulo seguinte discute a aprendizagem como fundamento da Didática Reconstrutivista da História. A autora inicia questionando por que se deve aprender História, o que para ela não é uma resposta simples, dado que, conforme os intelectuais que são apropriados, as respostas serão múltiplas. Todavia, encarar esse fundamento coloca a questão elementar que é a reconstrução do passado na aula de História como ponto de partida, o que, de acordo com a pesquisadora, permite a adesão ao pressuposto da narrativa como forma e função da aprendizagem histórica. A reconstrução do passado é necessária à medida em que as carências de orientação individuais ou sociais se modificam e são transformadas em outras carências. Nesse caso, o passado precisa ser novamente interpretado e reinterpretado pela consciência histórica, para permitir a orientação temporal dos sujeitos. Por isso, existe a necessidade do aluno (criança e jovem) aprender a pensar historicamente. Isso não significa transformá-lo num pequeno historiador, mas permitir que alcance as mesmas categorias mentais que os historiadores atingem quando estão analisando o passado e produzindo historiografia. Sendo assim, a pesquisadora sugere que a aprendizagem histórica precisa começar e terminar na consciência histórica. Para ela, o conceito de literacia histórica, de autoria do historiador inglês Peter Lee, consegue responder bem, porque é através do aprender a pensar historicamente que as crianças e jovens absorvem as categorias da História e do sentido histórico.
No capítulo três, a historiadora apresenta como a formação do pensamento histórico é a finalidade de uma Didática Reconstrutivista da História. Ela acredita que a formação do pensamento histórico é um desafio para a aprendizagem histórica, visto que é necessário ocorrer por meio da apropriação da produção histórica de sentido. Isso ocorre quando a experiência do tempo é alcançada pela dimensão da interpretação do tempo. O indivíduo tem que saber lidar com a história individual e com a história coletiva, organizando sua vida dentro da estrutura do tempo, com a finalidade de orientar intencionalmente seu futuro. Nesse contexto, Maria Auxiliadora Schmidt defende que a aprendizagem histórica precisa acontecer a partir das carências de orientação dos indivíduos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. Seria preciso, então, ocorrer uma mudança nos currículos de História no Brasil, visto que eles estão fechados dentro de uma visão quadripartite eurocêntrica do tempo e também estão a serviço dos interesses do Estado.
Outro ponto importante do capítulo três é o momento que, dialogando com os autores Peter Seixas, Carla Peck, Peter Lee e Jörn Rüsen, a autora propõe uma matriz para as competências do pensamento histórico. Essa matriz tem como objetivo principal servir de referência para o modo como opera a aprendizagem histórica, tendo em vista atingir uma das metas da Didática da História, que é construir a competência de atribuição de sentido pela narrativa histórica. As categorias apresentadas pela pesquisadora são as seguintes: argumentação, significância, evidência, mudança, empatia, interpretação, explicação, motivação, orientação e experiência (percepção). Todas essas categorias estão pensadas e fundamentadas no contexto da Filosofia da História germânica, ibérica e anglo-saxã. Para finalizar o capítulo, a autora ainda debate dois influentes pensadores, Jörn Rüsen e Paulo Freire, para demonstrar o humanismo como fundamento da Didática Reconstrutivista da História, indicando a necessidade de pautar o Ensino de História dentro dessa perspectiva, para contribuir com as formas básicas do processo de formação para a humanização.
No quarto e último capítulo, Maria Auxiliadora Schmidt apresenta sua proposta intitulada de Aula Histórica. Nela, demanda apresentar uma teoria e uma metodologia que estão pautadas na ideia de uma Didática Reconstrutivista da História, que foi amadurecida por meio de diálogo e reflexões com intelectuais europeus e canadenses. Há que ressaltar que o primeiro modelo tipológico de Matriz da Aula Histórica foi utilizado no ano de 2016, como referência das Diretrizes Curriculares para o Ensino de História da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, no estado do Paraná. Inspirada na Aula Oficina da professora e pesquisadora portuguesa Isabel Barca, a autora buscou subsídios na Matriz da Didática da Educação Histórica de Peter Seixas, na Matriz da Didática da Educação Histórica de Stéphane Lévesque, na Matriz Disciplinar da História e também na Matriz da Didática da História de Jörn Rüsen, para elaborar tanto a primeira, quanto a segunda Matriz da Aula Histórica.
Em sua última matriz, Maria Auxiliadora Schmidt estrutura a aula de História na mesma perspectiva de Jörn Rüsen, quando aborda a relação tipológica entre a vida prática (embaixo) e a ciência (em cima) numa circunferência em que existem essas duas divisões. A novidade acrescida pela autora é o fato da vida prática estar subsidiada em categorias entre a Cultura Infantil e Juvenil e a Cultura da Escola. É a partir dessas categorias que são entrelaçados os conteúdos Memória, Patrimônio e História Controversa, que necessitam ser levados em conta em suas formas horizontal e vertical durante a aula de História. Percebe-se que a História Controversa ocupa um ponto importante nas reflexões da autora, que, citando o historiador e didaticista alemão Bodo von Borries, espera que os historiadores-professores possam continuar enfrentando todos os temas difíceis, controversos e desconfortáveis da História.
Seguindo as introduções realizadas pela pesquisadora na sua segunda matriz, observa-se também que, no campo superior da circunferência, precisamente onde está representada a ciência, encontram-se articuladas a Cultura Histórica e a Cultura Escolar. É nesse campo que a metódica da Ciência Histórica necessita ser considerada, para que ocorra a reconstrução do passado na Aula Histórica. No centro da Matriz proposta para uma Didática Reconstrutivista da História encontra-se a categoria sentido, em específico a atribuição de sentido pela narrativa histórica. Neste ponto, percebe-se que a proposta articulada pela pesquisadora leva em consideração que historiadores-professores necessitam articular todos os elementos categoriais da Matriz, não para realizar uma transposição didática dos conteúdos acadêmicos de História, mas para atuarem a partir da reconstrução do passado pela perspectiva do método histórico.
Para finalizar seu último capítulo, a historiadora discute um tema polêmico, porém necessário, a ser enfrentado, posto que dicotomizou a práxis na História, colocando-se de um lado o historiador (aquele que pesquisa) e do outro, o professor (aquele que ensina). Por meio de um processo histórico longo que estabeleceu essa separação, a situação precisa ser superada, tendo em vista o avanço da pedagogia das competências no Ensino de História, que elimina a atribuição de sentido do pensamento histórico na vida prática como orientação temporal dos sujeitos no tempo presente. Assim, a pesquisadora afirma sem titubear, que o historiador que pesquisa é também um professor, e o professor que ensina é também um historiador, encontrando dessa maneira o elo que justifica sua Didática Reconstrutivista da História.
O livro Didática Reconstrutivista da História é, sem dúvida, um marco conceitual que visa à construção de uma teoria e uma metodologia para o Ensino de História no Brasil. Assegura-se que a obra é uma robusta reflexão intelectual, construída ao longo de anos de experiência, com a finalidade de propor, a partir dos reais problemas que são enfrentados por milhares de professores no chão da sala de aula, uma teoria do ensino e da aprendizagem histórica fundamentada na ciência de referência, valorizando principalmente a função do historiador-professor-pesquisador.
Max Lanio Martins Pina – Universidade Estadual de Goiás (UEG), Porangatu, GO, Brasil. E-mail: maxilanio@yahoo.com.br
Maria da Conceição Silva – Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil. E-mail: mariacsgo@ufg.br
SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos. Didática reconstrutivista da história. Curitiba: CRV, 2020. Resenha de: PINA, Max Lanio Martins; SILVA, Maria da Conceição. A Didática Reconstrutivista da História: uma proposta teórica e metodológica para o Ensino de História. Revista História Hoje. São Paulo, v.9, n.17, p. 228-233, jan./jun. 2020. Acessar publicação original [DR]
Clio and the crown: the politics of history in Medieval and Early- Modern Spain – KAGAN (HH)
KAGAN, Richard K. Clio and the crown: the politics of history in Medieval and Early- Modern Spain. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2009, 376 p. Resenha de: SILVEIRA, Pedro Telles da. Qual o lugar da história oficial na história da historiografia? História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7, p. 338-344, nov./dez. 2011.
Sublinhar que o panorama da produção historiográfica na Idade Moderna é mais variegado do que durante muito tempo se tendeu a imaginar não deixa de ser uma espécie de lugar-comum nas obras – não tão recentes assim – dedicadas ao tema. De fato, já nos ensaios e conferências de Arnaldo Momigliano1 tal apelo era feito, e ele se repete e se complexifica nos livros de Donald R. Kelley (KELLEY 1991, p. 14-15) e Anthony Grafton (2007), para ficarmos apenas com alguns dos mais conhecidos nomes associados ao estudo desse tipo de historiografia. As obras destes e de outros autores procuram todas resgatar a vivacidade, a diversidade e a pertinência dos debates historiográficos anteriores à formação da historiografia enquanto disciplina científica, processo que ocorre, grosso modo, no decorrer do século XIX. E, mesmo assim, aspectos importantes dessa produção continuam negligenciados, como é o caso da história oficial. É tendo em vista esta situação que se insere Clio and the crown, de autoria do historiador norte-americano Richard L. Kagan.
Afiliado ao influente grupo da atlantic history, tendo editado junto com Geoffrey Parker, um volume em honra a John H. Elliott,2 Richard L. Kagan fez sua carreira estudando a Espanha dos séculos XVI e XVII e a administração de seu então poderoso império. As marcas dessa atuação aparecem logo no início do primeiro capítulo, onde afirma que apesar de muito da historiografia produzida nos reinos espanhóis nos séculos que lhe interessam terem sido objeto de estudos recentes, estes têm como foco as características estilísticas e retóricas destes textos, e não suas funções e seus usos (KAGAN 2009, p. 18). Também a filiação institucional de Kagan, professor na universidade Johns Hopkins, permite compreender o amplo recorte temporal que o livro abarca. Partindo das primeiras crônicas escritas em vernáculo em Castela no século XIII, o livro se fecha na passagem do século XVIII para o XIX, quando a falência da Real Academia de la Historia em cumprir seus objetivos indica que a era da história oficial chegara ao fim. Com esse recorte em mente, Richard L. Kagan paga tributo a dois de seus colegas de departamento, Gabrielle Spiegel e Orest Ranum, que já atacaram questões semelhantes a respeito, respectivamente, da historiografia francesa medieval e da historiografia seiscentista deste mesmo reino.3 Para Kagan, história oficial é a historiografia produzida visando a defesa dos interesses tanto de um governante quanto de uma autoridade religiosa, de uma corporação urbana etc. Para o autor, esse tipo de historiografia é um instrumento que visa divulgar uma imagem positiva daqueles nela interessados – do mesmo modo, ela também pode ser escrita para contradizer uma narrativa previamente formada (KAGAN 2009, p. 3). Seu caráter agonístico, portanto, tornou o número de narrativas e contra-narrativas produzidas por cronistas, historiógrafos e outras personagens protegidas por um ou outro mecenas extremamente alto; como o próprio autor indica, adaptando a expressão de um dos autores debatidos, trata-se de um “mar de histórias” (KAGAN 2009, p.42). Essas mesmas características, argumenta o autor, frequentemente impediram uma consideração mais atenta a esta historiografia, facilmente rotulada como derivativa, pouco inspirada ou outras qualificações menos lisonjeiras (KAGAN 2009, p. 4-6). Trata-se de um dos méritos do trabalho que Richard L. Kagan consiga desfazer estes estereótipos com uma obra ao mesmo tempo sintética e informativa, que analisa a fundo seu objeto sem perder de vista os processos mais amplos nos quais ele se insere.
Esta mirada simultaneamente ampla e detalhada marca o primeiro capítulo, no qual o autor traça um quadro da historiografia hispânica entre o final da Reconquista e o reinado de Isabel e Fernando, os reis católicos. Destaca- -se, no texto, a estreita relação entre os projetos imperiais acalentados pelos mais diversos governantes castelhanos e a as características da historiografia por eles patrocinada. Serve particularmente a estes propósitos o trabalho do taller historiografico organizado por Afonso X, responsável pelas crônicas produzidas durante seu reinado, em especial a “General estoria”, uma crônica da história universal até o século XVIII, a qual apresenta a narrativa da criação de um imperium hispânico através da inserção dos feitos ocorridos na Península Ibérica numa história mundial. A visão de um império que reina sobre a Espanha mas também se alastra pelos territórios dominados pelos mouros direciona também muito das crônicas produzidas sob o reinado de Sancho IV, demonstrando a imbricação entre historiografia e projeto político.
Richard L. Kagan direciona, portanto, ainda que de maneira um tanto quanto breve, sua argumentação em direção ao debate acerca da importância da própria historiografia em período tão recuado quanto o da Reconquista.
Para o autor, ao contrário do que uma de suas interlocutoras – Gabrielle Spiegel – argumenta, o nascimento de uma historiografia em vernáculo na Espanha teve menos relação com a criação de narrativas que legitimassem as pretensões da nobreza do que “com a determinação de Afonso X de aumentar sua autoridade real e [com] seus esforços de fazer o castelhano (i.e., espanhol) a língua oficial tanto da administração quanto da lei”. O rei sábio, dessa forma, antecipou em cerca de dois séculos a preocupação de Antonio de Nebrija de que língua e império deveriam andar lado a lado (KAGAN 2009, p. 24).
O segundo capítulo, por sua vez, trata justamente de um desses governantes influenciados pela visão de império cuja semente foi plantada no século XIII, Carlos V. A historiografia oficial elaborada sob a proteção deste monarca indica um caso bastante acentuado da dinâmica que, para o autor, é uma das características da historiografia oficial hispânica: a tensão entre uma historia pro persona, centrada nos feitos do rei, e uma historia pro patria, cujo foco está nas conquistas realizadas pelo reino como um todo. O capítulo também desenvolve uma outra tensão que atravessa a história oficial, e não apenas a de matriz hispânica, qual seja, a entre as demandas de um governante, as funções de um cargo – o de cronista, no caso espanhol – e as características da formação dos letrados, personagens recrutadas para escrever essas mesmas histórias. No caso de Carlos V, a pretensão de glorificar o próprio nome choca- -se com a ojeriza de humanistas como Juan Ginés de Sepúlveda e Paolo Giovo ante os projetos imperiais e dinásticos do governante, atravancando e, no fim, impossibilitando a escrita de uma crônica de seu reinado enquanto o próprio governante vivia. A tensão entre os governantes e aqueles que compunham suas histórias indica também as transformações por que passa a historiografia, que se aproximava cada vez mais da política e da concepção de Quintiliano segundo a qual à história interessava mais a persuasão que a instrução (KAGAN 2009, p. 88).
O autor, dessa forma, insere-se diretamente no debate acerca da escrita da história na passagem do século XVI para o XVII, colocando em questão a conotação muitas vezes negativa dessa mesma passagem.4 Richard L. Kagan faz questão de frisar a impossibilidade de se separar as razões pelas quais a história é escrita das formas que ela irá assumir e, por conseguinte, também a indistinção entre forma e conteúdo da narrativa da historiográfica. Como afirma, “as negociações do imperador com Giovio tratavam tanto da substância […] quanto do estilo, ou seja, da maneira particular na qual os fatos eram apresentados” (KAGAN 2009, p. 89).
A tensão entre a historia pro patria e a pro persona e a difícil relação os monarcas e seus escribas enquadra a discussão dos três capítulos seguintes, não por acaso dedicados à historiografia durante o reinado de Filipe II. No terceiro capítulo, o autor aborda a recusa do monarca de patrocinar uma obra de história com os contornos de uma historia pro persona, laudatória de sua figura; a atitude, muitas vezes interpretada como sinal de modéstia, na verdade indica que frente ao “mar de histórias”, Filipe II procurava escapar à natureza agonística da história oficial. Para isso, segundo Kagan, o rei espanhol apoiava a escrita de uma história que celebrasse os feitos antigos dos espanhóis e, ao mesmo tempo, defendesse a unidade de seu reino resultando dos acontecimentos passados.
Não deixa, portanto, de se situar no âmbito dos projetos imperiais, como já abordara anteriormente. A recusa de Filipe II, entretanto, não pôde se estender à totalidade de seu reinado, já que frente aos ataques à sua monarquia, ele passou a se inclinar em direção ao apoio de uma história de sua própria época. Essa transformação no pensamento de Filipe II, objeto do quarto capítulo, é enquadrada, no quinto capítulo, no debate relativo às possessões hispânicas na América e na Ásia.
Richard L. Kagan estuda a criação do cargo de cronista das Índias tendo em vista justamente o pano de fundo dos ataques à monarquia universal de Filipe II, argumentando mais uma vez pela ligação entre as políticas relacionadas à história e a própria produção historiográfica. Significativamente, tendo em vista as preocupações do monarca espanhol em sustentar uma historiografia que não fosse mera rival de suas contemporâneas, o próprio cargo de cronista das Índias demonstra a união entre preceitos políticos e os princípios elaborados pelos historiadores para certificarem e justificarem suas histórias. Segundo o autor, o ocupante do cargo não se dedicava apenas ao registro das ações que tomassem lugar no Novo Mundo, pelo contrário, pois
seguindo os trabalhos de de historiadores tão influentes como Francesco Guicciardini e os ditados do gênero da ars historicae, ele [o cronista] também tinha de refletir sobre as causas dos eventos e sobre os motivos por trás das ações individuais e incluir, por motivos didáticos, exemplae de vários tipos (KAGAN 2009, p. 151).
A conjunção de todas estas preocupações – à maneira peculiar que lhe era possível de realizar tendo em vista ocupar um cargo oficial – está presente no trabalho do primeiro cronista das Índias, Antonio de Herrera y Tordesillas, personagem central deste quinto capítulo.
É neste momento que a proposta do autor rende mais frutos, pois Kagan consegue tecer de modo mais detido a trama entre todos os fios de sua obra: o imperativo dos monarcas, as necessidades de um gênero e as capacidades – tanto intelectuais quanto políticas – daqueles dele encarregados. Se na introdução de seu livro o autor afirma que, no cenário intelectual da época, era o historiógrafo a pessoa mais autorizada para escrever sobre o passado, pois apenas ele tinha acesso aos documentos necessários para tal (KAGAN 2009, p. 6), a análise que faz da obra de Antonio de Herrera, cronista das Índias entre 1596 e sua morte, em 1626, permite justamente compreender como trabalhava esse mesmo historiógrafo. Taxado muitas vezes de plagiário (KAGAN 2009, p. 172- 173), a fina análise de Kagan permite reconstruir a imagem do autor como um leitor judicioso das obras que utilizava para compor sua própria história – mais do que como um investigador em busca de informações novas; simultaneamente, permite compreender que a tarefa à qual se dedicava enquanto cronista não era tanto a escrita de uma nova história quanto a reelaboração das narrativas já existentes, de modo a adequá-las à defesa daquele para quem escreve. Se se tornou um tanto quanto comum fazer o paralelo da figura do historiador com aquela do juiz, Richard L. Kagan, através do exame do trabalho de Herrera, faz um sonoro argumento a favor da comparação – que já aparece na introdução de seu livro (KAGAN 2009, p. 6) – entre o historiógrafo e o advogado. Para ambos não se trata nem de garimpar informações novas nem de inventar fontes, isto é, de revolver os materiais da história imbuído de má fé; pelo contrário, o que está em questão é utilizar as possibilidades do trabalho histórico para manipular seus enunciados a favor ou contra aqueles a quem a narrativa se endereça (KAGAN 2009, p. 5). Tarefa que, mostra Kagan, depende tanto das regras de verificação do discurso histórico, então objeto de um intenso debate, quanto qualquer outra narrativa pertencente ao mesmo gênero. Ressalta, também, a compreensão da obra do historiador oficial como uma empresa coletiva mais do que resultado da iniciativa individual, algo que também a historiadora francesa Chantal Grell destaca em obra recente (GRELL 2006, p. 13).
A trama dessas tensões constitui, sem dúvida, o aspecto mais importante do livro, e é apenas de lamentar que, por vezes, tentando costurar entre os mais diversos autores e contextos, Richard L. Kagan aborde demasiado rapidamente estes temas, sem reproduzir análise como a que faz a respeito de Antonio de Herrera. Mesmo assim, ele é feliz ao tratar, no sexto capítulo, a incapacidade de Filipe IV e de seu ministro, o conde de Olivares, de controlarem a circulação de obras históricas no interior da fronteira de seu próprio reino como indício da existência, já no século XVII, de uma opinião pública capaz de contradizer a propaganda oficial (KAGAN 2009, p. 204). A intersecção entre a legitimação perante o público e a atividade do historiógrafo adiciona outra camada de significação ao trabalho do autor no livro.
Também no sétimo e último capítulo o autor aborda parcela dessa dinâmica, ao demonstrar que a proposta de uma renovação intelectual feita pelos novatores e pela Real Academia de la Historia acaba por sucumbir às pressões e às intrigas da vida cortesã. A assimilação das pretensões críticas desta última instituição ao funcionamento da máquina administrativa da qual a história oficial faz parte resultou na própria perda de sua importância. Ao cabo, a Real Academia de la historia foi ultrapassada – assim como a história oficial (GRELL 2006, p. 16) – pela evolução da própria historiografia.
A dinâmica entre a história oficial e as demais províncias da história é o aspecto que garante a relevância da obra de Richard L. Kagan. Para além da preocupação com o estudo da historiografia do período – uma área particularmente forte no meio historiográfico de língua inglesa –, Clio and the crown também se insere, como se tentou demonstrar aqui, num debate que começa a ganhar corpo a respeito das relações entre a história dos historiógrafos e a narrativa de constituição da própria historiografia. Para Kagan, autores como Grafton e Kelley acabam por definir de forma demasiado rígida a linha divisória entre a historiografia oficial e a daqueles autores não ligados a qualquer cargo.
Em passagem carregada de ironia, na qual faz um inventário dos celebrados historiadores que foram também historiógrafos – uma lista que vai de Fernão Lopes a Voltaire –, Kagan destaca a dificuldade de situar a fronteira entre a historiografia “acadêmica” – isto é, motivada pela comunidade de historiadores e destinada a ela – e a historiografia “polêmica”, ou seja, a história oficial, direcionada a leigos e submetida a inúmeras flutuações políticas (KAGAN 2009, p. 4). Da mesma forma, ser um historiador oficial não significava necessariamente ser um mau historiador.
Conforme a historiografia avança para a era dos cronistas e historiógrafos, a obra de Richard L. Kagan lembra que para analisá-la não é o bastante reproduzir os limites disciplinares modernos como conceitos analíticos da historiografia passada. Se a necessidade de situar os discursos em seus contextos é cada vez mais premente, perguntar-se pelo que há de oficial ou patrocinado em muitas das obras historiográficas do período moderno pode ser maneira de historicizar o próprio trabalho do historiador. À medida que a historiografia brasileira avança, por sua vez, rumo ao século XVIII, é interessante perguntar como conectar uma história do método histórico a uma história social da historiografia, preocupações por vezes tão distantes. Seja qual for a pergunta, considerar o lugar da história oficial na história da própria historiografia passa pela resposta que Richard L. Kagan acabou de dar.
Referências
GRAFTON, Anthony. What was history? The art of history in early modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
GRELL, Chantal. Les historiographes en Europe de la fin du Moyan Âge à la Revolution. Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2006.
KAGAN, Richard L. Clio and the Crown: Writing History in Habsburg Spain. In: KAGAN, Richard L.; PARKER, Geoffrey. Spain, Europe, and the atlantic world: essays in honor of John H. Elliot. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 73-99.
KELLEY, Donald R. Versions of history from Antiquity to the enlightenment. New Haven: Yale University Press, 1991.
MOMIGLIANO, Arnaldo. As raízes clássicas da historiografia moderna. Bauru: EDUSC, 2004.
SPIEGEL, Gabrielle. Romancing the past: the rise of vernacular prose historiography in thirteenth-century France. Berkeley: University of California Press, 1993.
RANUM, Orest. Artisans of glory: writers and historical thought in seventeenthcentury France. Chappell Hill: University of North Carolina Press, 1980.
Notas
1 Para ficar numa obra de fácil acesso pelo leitor brasileiro, ver MOMIGLIANO 2004.
2 A contribuição de Kagan ao volume compartilha o título com o livro aqui analisado, demonstrando a permanência das preocupações do autor ao longo de sua atuação, muito embora a ênfase e a extensão temporal do capítulo – restrito ao reinado de Filipe II – sejam muito mais limitadas que no livro que publica cerca de quinze anos depois; ver KAGAN; PARKER 1995, p. 73-79.
3 Refiro-me a SPIEGEL 1993 e também a RANUM 1980.
4 Como transparece, por exemplo, no trabalho já referenciado de Anthony Grafton, para quem, no século XVII, a história era uma narrativa política escrita por estadistas ou funcionários – historiógrafos profissionais –, dos quais muitos poucos preocupavam-se com as maneiras a partir das quais escolher, justificar e examinar as evidência (GRAFTON 2007, p. 230-231).
Pedro Telles da Silveira – Mestrando da Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: doca.silveira@gmail.com Rua Novo Hamburgo, 238 – Passo d’Areia 90520-160 – Porto Alegre – RS.
Nova História em Perspectiva – NOVAIS; SILVA (NE-C)
NOVAIS, Fernando A; SILVA, Rogerio Forastieri da (orgs.). Nova História em Perspectiva. São Paulo: Cosac Naify, 2011. Resenha de: FLORENTINO, Manolo. História, Sentido e Totalidade. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n.91, Nov, 2011.
Certa vez, em meio a uma reunião científica, foi sugerida a um alto gestor público a extinção dos cursos de mestrado no Brasil. A ideia partiu de um colega da área tecnológica, físico ou químico, não recordo bem. “Para que mestrados? É pura perda de tempo! Deveríamos selecionar nossos alunos diretamente para o doutorado!”, argumentou incisivo o colega. A resposta não tardou. O alto funcionário contestou na lata que, com as devidas exceções, as graduações brasileiras são muito ruins. Ao que, acrescentou, as pós-graduações do país eram legalmente soberanas para tornar obrigatórios ou não os mestrados como etapas da formação de seus alunos.
Ponto para o burocrata!
Pois a verdade é que, ao menos para o caso de História, os mestrados representam momentos de intenso exercício prévio à obra que se supõe resultará do doutorado. O motivo? A mais antiga dentre as chamadas ciências sociais, a História é, sobretudo, uma disciplina argumentativa — aspecto em que se sobressai dentre a chamada área de humanidades —, mas fundada na correta escolha e utilização de fontes de tipos diversos. Mais que isso, sua abrangência é enorme, seu objeto é, ao fim e ao cabo, indelimitável, o que por certo lhe imprime um caráter altamente artesanal e subjetivo. Mais claramente: argumentação aplicada ao tempo, à mudança, a partir do manejo de corpos documentais cujo escopo vem aumentando nas últimas décadas em função da imensa diversidade temática que cada vez mais caracteriza o ofício de historiador. É, pois, saudável que, ao menos no campo do saber historiográfico, nossos alunos passem por essa etapa preparatória fundamental encarnada nos cursos de mestrado.
Quando menos por isso é de grande importância para estudantes e especialistas em teorias da História a publicação do primeiro tomo da antologia de fôlego (três volumes no projeto original) organizada pelos professores Fernando Antonio Novais e Rogério Forastieri da Silva. Trata-se de trabalho cujo objetivo explícito é inserir a chamada Nova História na história geral da historiografia, enquadrando-a analiticamente em um tempo, em uma conjuntura. Afinal, como alertam Novais e Forastieri na longa e densa introdução à antologia, lenta e imperceptivelmente também a Nova História vai se tornando história.
A estrutura do primeiro volume de Nova História em perspectiva está centrada na apresentação de propostas e desdobramentos. Por propostas entenda-se trazer ao público novas traduções dos manifestos axiais dos nomes mais importantes de cada uma das três fases dos Annales. Daí os textos clássicos de Lucien Febvre, expoente da primeira fase, caracterizada pelo diálogo mais intenso entre a História e, sobretudo, a Sociologia; de Fernand Braudel, catalisador da segunda etapa, quando a interação entre a História e a Economia predominava; e, por fim, os lineamentos apresentados por Jacques Le Goff e Pierre Nora, que na década de 1970 impuseram novos rumos, marcados sobretudo pela maior abertura dos historiadores à Antropologia (ou, como querem Novais e Forastieri, sobretudo com a Etnografia) — a fase da Nova História propriamente dita.
Seguem-se os desdobramentos da avassaladora velocidade com que a Nova História se impôs nos meios acadêmicos ocidentais, contemplados neste primeiro volume da antologia pelas análises de André Burguière, Carlo Ginzburg, Emmanuel Le Roy Ladurie, Hayden White, Joyce Appleby, Lynn Hunt, Margaret Jacob, Massimo Mastrogregori, Maurice Aymard, Michel Vovelle, Natalie Zemon Davis, Philippe Ariès, Pierre Chaunu e Stuart Clark. Fecha o volume o texto de James Harvey Robinson, verdadeiro achado arqueológico, publicado originalmente em 1912 sob o sugestivo e antecipatório título de “A nova história”.
O que está em jogo aqui é, a partir de textos seminais, contribuir para o entendimento de como, na perspectiva dos organizadores da antologia, em pouco mais de quatro décadas os sucessivos grupos de profissionais agregados ao redor dos Annales acabaram, não sem profundas descontinuidades, por contribuir para instaurar um cenário historiográfico marcado pela extrema pulverização temática e — com as devidas exceções — por uma “pobreza teórica verdadeiramente capuchinha”, nas palavras de Novais e Forastieri.
É evidente, pois, a natureza crítica da longa introdução escrita pelos organizadores à Nova História inaugurada por Le Goff e Nora a partir do lançamento dos três volumes do hoje clássico Faire de l’histoire1. Os argumentos apresentados são eruditos, elegantes e fundados em uma lógica ferrenha.
De início nos é mostrado didaticamente o que vem a ser o fundamento da história-discurso, que corresponde à necessidade da criação da memória social. É estabelecida então a diferença entre a narrativa mítica, própria da constituição da memória coletiva entre os primitivos, e a narrativa histórica propriamente dita, ancorada, ao contrário da primeira, na temporalidade. Como diria certo filósofo, a história-discurso da civilização funda-se na necessária simbolização do homem no tempo.
A anterioridade da História em relação às Ciências Sociais demanda, logicamente, levar em conta o impacto do surgimento destas últimas sobre a História, e não o contrário. Nesse sentido, o século xix é muito bem localizado pelos organizadores como representando o ponto de inflexão na história do discurso historiográfico, instaurando a forma propriamente moderna de fazer História a partir do diálogo com as Ciências Sociais nascentes. Com uma importante diferença: enquanto as Ciências Sociais sacrificam a totalidade pela conceitualização, a História faz o inverso, sacrifica a conceitualização pela totalidade. Pela simples razão de que o historiador visa explicar para reconstituir um passado necessariamente total — ainda que se foque tal ou qual de seus aspectos —, enquanto o cientista social visa reconstituir para explicar.
É a partir desses pressupostos que Novais e Forastieri se posicionam criticamente em relação à terceira fase dos Annales, a da chamada Nova História. Em primeiro lugar, reconhecem que ela conforma um desdobramento das fases anteriores, na medida em que mantém, em termos gerais, o princípio básico de interlocução com as Ciências Sociais. A ruptura, entretanto, a caracteriza quando se detecta a diminuição desse diálogo e a afirmação de certa tendência à desconceitualização — dialoga-se muito mais com a Etnologia do que com a Antropologia, segundo os organizadores. À desconceitualização sucede uma imensa pulverização temática (a “História em migalhas” da qual fala François Dosse) e, pior, a descaracterização da natureza necessariamente total da história, dado que nenhum acontecimento pertence exclusivamente a uma única esfera do existir. Detalhe, bem explicitado por Novais e Forastieri: não se deve confundir esferas da existência (economia, política etc.) com níveis de realidade (estrutura, conjuntura etc.) — toda esfera da existência comporta necessariamente os vários níveis de realidade.
Em termos gerais, estou de pleno acordo com os organizadores deste primeiro volume de Nova História em perspectiva. Observando melhor o perfil de grande parte da produção historiográfica recente, é fácil capturar nele uma enorme gama de ceticismo — corolário do relativismo —, e mesmo de cinismo e niilismo. Mas lembro aqui ser necessário nunca deixar de duvidar. Da importância política da dúvida e do ceticismo que sempre marcaram a civilização ocidental contemporânea discorrem muito bem Joyce Appleby, Lynn Hunt e Margareth Jacob, na “Introdução a Telling the Truth about History“, presente na antologia de Novais e Forastieri.
Mesmo reconhecendo os traços gerais desenhados por Novais e Forastieri, no entanto, insisto no que há de extremamente positivo na crítica ao consagrado, seja ele estabelecido pela tradição ou pelo mercado. No mínimo porque a iconoclastia ou o simples exercício legitimado do espírito de porco abrem campo para todas as formas de expressões artísticas, historiográficas ou teóricas possíveis, inclusive para a apaixonada defesa que Novais e Forastieri fazem do marxismo, na segunda parte de sua introdução. Da importância criadora dos momentos de maior peso do ceticismo na cultura ocidental falam, por exemplo, no campo da literatura, os grandes nomes da ficção norte-americana entre 1920 e 1945 — Scott Fitzgerald, John Dos Passos e Ernest Hemingway, apenas para ficar em alguns dos mais conhecidos.
Por que os cito em um contexto no qual a discussão sobre a natureza na Nova História é o centro? Pelo simples fato de que, com todos os seus problemas, consigo capturar nesse movimento historiográfico a expressão da radicalização do conflito entre a sociedade e o indivíduo, este definitivamente sufocado pelas teorias totalizantes em todos os campos das Humanidades até as décadas de 1970 e 1980 (a longa censura não declarada à obra de Norbert Elias é disso apenas um exemplo). Há no movimento, pois, mais do que desvios em relação às modernas regras que definem o ofício do historiador. Há nele um grito pela localização do sujeito individual na História e a firme decisão de resgatar a tolerância e a diversidade como traços constitutivos da moderna civilização.
Notas
[1] Faire de l’histoire. Paris: Gallimard, 1974. [ Links ]Manolo Florentino – Professor do Instituto de História da UFRJ
A história ou a leitura do tempo | Roger Chartier
Fruto das pesquisas de Roger Chartier sobre as mutações da disciplina da história, realizadas desde o final dos anos de 1980, A história ou a leitura do tempo apresenta um panorama da historiografia nas três últimas décadas. O ensaio aborda os principais debates recentes da disciplina da história, desde seu estatuto de verdade, passando por sua aceitação social, a difícil relação entre história, memória e ficção, até o surgimento do livro digital e as novas formas de apresentação do texto historiográfico. Desde seu primeiro livro publicado no Brasil, A história cultural entre práticas e representações (1990) e seu célebre artigo “O mundo como representação”, publicado na revista dos Annales em 1989, o historiador vem se mostrando atento às reflexões teórico-metodológicas da disciplina. Em estudos posteriores, o autor buscou aliar a crítica textual à história do livro e da cultura, além estudar o recente impacto da cultura digital sobre a tradição escrita. Leia Mais
A história escrita. Teoria e história da historiografia | Jurandir Malerba
A teoria da história é mais do que apenas um pensamento sistemático sobre a História e sua escrita; a narrativa história se mostra, cada vez mais, complexa, por suas tensões entre fatos e ficções, verdade e imaginação, objetividade e subjetividade, fontes documentais e as retóricas do discurso; a historiografia não é apenas o discurso circunstanciado sobre as obras históricas, mas fixa-se, cada vez mais, em todo discurso sobre o passado. O que a coletânea de textos organizados por Jurandir Malerba nos mostra, em resumo, é um ‘fazer história’ mais denso e articulado, com as questões de nosso tempo.
Ao reunir as contribuições de Horst Walter Blanke, Massimo Mastrogregori, Frank Ankersmit, Jörn Rüsen, Angelika Epple, Masayuki Sato, Arno Wehling, Hayden White e Carlo Ginzburg, nos oferece uma mostra do resultado dos debates das últimas décadas a respeito da história da historiografia, da teoria da história, da epistemologia histórica, quanto ao princípio de realidade, ao gênero, a comparação e a narrativa. Para ele:
O critério principal para a seleção dos textos que constituem a presente obra foi a intenção de compor um painel, o mais amplo possível, dos campos problemáticos presentes na construção de uma teoria da historiografia, com vistas ao aprimoramento prático de uma revigorada história da historiografia. Nesse sentido, os textos […] reunidos oscilam da reflexão teórica acerca do conceito de historiografia para a reflexão crítica de uma epistemologia da história, passando necessariamente pelas potencialidades e limites metodológicos que cada caminho apresenta. Tratam-se, como é notório, de autores consagrados do pensamento histórico contemporâneo, provenientes das mais distintas tradições nacionais e simpatias teóricas.[1]
Para articular tais textos, o autor os posicionou em quatro blocos, a saber: a) os de que “o foco recai primordialmente sobre o conceito de historiografia e o estatuto teórico do texto historiográfico”, como se vê no texto de Blanke, Mastrogregori e de Arkersmit; b) “por ensaios com propostas mais teórico-metodológicas para o campo da história da historiografia propriamente dita”, como nos casos de Rüsen, Sato e de Epple; c) “discussão teórica da prática historiográfica para o campo da epistemologia”, em que se apresentam Wehling; d) e, no último “seria quase um exemplo das implicações políticas do exercício historiográfico, que tomamos propositadamente no exemplo-limite da história do Holocausto”, por meio do debate entre os textos de White e Ginzburg.
Além dos textos ora indicados, a coletânea ainda é enriquecida com o capitulo de Malerba, que indica os principais eixos das discussões sobre teoria e história da historiografia ocorridas no século passado. Para ele, haveria, sem dúvida, uma tensão entre, de um lado, o “anti-realismo epistemológico, que sustenta que o passado não pode ser objeto do conhecimento histórico ou, mais especificamente, que o passado não é e não pode ser o referente das afirmações e representações históricas”[2] , e, de outro, o “narrativismo, que confere aos imperativos da linguagem e aos tropos ou figuras do discurso, inerentes a seu estatuto linguístico, a prioridade na criação das narrativas históricas.”[3] Em ambos os casos, a pesquisa histórica esteve ancorada em matrizes, senão frágeis, ao menos em constante pressão, e com necessidade de justificação perante as outras áreas do saber. Mas, o “caráter auto-reflexivo do conhecimento histórico talvez seja o maior diferenciador da História no conjunto das ciências humanas.”[4]
Para Blanke, a “história da historiografia é uma atividade nova”, que esteve ao lado “do desenvolvimento da história como disciplina independente e com pretensões científicas”, com início “na época do iluminismo.”[5] Suas características estariam balanceadas entre tipos (história dos historiadores, história das obras, balanços gerais, história da disciplina, história das idéias históricas, história dos métodos, história dos problemas, história das funções do pensamento histórico, história social dos historiadores, história da historiografia teoricamente orientada) e funções (afirmativa e crítica). Não por acaso, Mastrogregori ressaltará que as “possibilidades de contato são certamente inúmeras”[6], visto a complexidade da tarefa de se efetuar adequadamente uma história da historiografia. Para Ankermist, tal tensão “nos confronta diretamente com o problema do relativismo resultante da historicização do sujeito histórico.”[7] Como nos indica Rüsen, a “historiografia é uma maneira específica de manifestar a consciência história”, porque “apresenta o passado na forma de uma ordem cronológica de eventos apresentados como ‘factuais’, ou seja, com uma qualidade especial de experiência.”[8] Por isso:
Não há cultura humana sem um elemento constitutivo de memória comum. Ao relembrar, interpretar e representar o passado, as pessoas compreendem sua vida cotidiana e desenvolvem uma perspectiva futura delas próprias e de seu mundo. História, nesse sentido fundamental e antropologicamente universal, é uma reminiscência interpretativa do passado de uma cultura, que serve como um meio de orientar o grupo no presente. Uma teoria que explica esse procedimento fundamental e elementar de dar sentido ao passado consoante à orientação cultural no presente é um ponto de partida para a comparação intercultural. Tal teoria tematiza a memória cultural ou a consciência histórica que define o objeto de comparação em geral. Ela serve como definição categórica do campo cultural no qual a historiografia toma forma. […] [e] a historiografia aparece, na sua estrutura geral da consciência histórica ou memória cultural, como uma forma específica de uma prática cultural básica e universal da vida humana.[9]
Ao levarem a cabo uma intensa discussão sobre o caso do Holocausto, White e Ginzburg promovem uma verdadeira investigação a respeito do lugar do enredo na narrativa histórica e de que maneira se configura o princípio de realidade, que dá forma e modela o discurso histórico.
Em todos esses aspectos, a coletânea em pauta, traz mostras de um panorama rico e denso dos intensos debates que circunstanciaram a produção da história da historiografia no século passado, cujas marcas e implicações ainda vemos nos resultados apresentados pela pesquisa histórica.
Notas
1. MALERBA, op. cit., 2006, p. 8.
2. MALERBA, op. cit., 2006, p. 13.
3. MALERBA, op. cit., 2006, p. 14.
4. MALERBA, op. cit., 2006, p. 15.
5. MALERBA, op. cit., 2006, p. 27.
6. MALERBA, op. cit., 2006, p. 87.
7. MALERBA, op. cit., 2006, p. 98.
8. MALERBA, op. cit., 2006, p. 125.
9. MALERBA, op. cit., 2006, p. 118
Diogo da Silva Roiz – Doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), bolsista do CNPq. Mestre em História pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).
MALERBA, Jurandir. (Org.) A história escrita. Teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Teoria da história e historiografia. Cordis – Revista Eletrônica de História Social da Cidade. São Paulo, n.6, p.367-371, jan./jun. 2011. Acessar publicação original [DR]
A história na América Latina: ensaio de crítica historiográfica – MALERBA (HH)
MALERBA, Jurandir. A história na América Latina: ensaio de crítica historiográfica. Rio de Janeiro: FGV, 2009, 146 p. Resenha de: HURBY, Hugo. Caminhos da historiografia latino-americana. História da Historiografia, Ouro Preto, n 05, p.212-217, setembro 2010.
O recente livro de Jurandir Malerba atesta o rico momento no qual os historiadores se encontram. Recuperando o que lemos em número recente neste periódico, “a História da Historiografia vai ocupando um espaço cada vez mais importante no ateliê dos historiadores” (GUIMARÃES 2009, p. 258). Espaço assaz fértil de reflexão sobre o nosso próprio métier. O autor é professor com trânsito por várias instituições, pesquisador experiente e escritor/tradutor de difundidos e instigantes trabalhos. A editora é renomada pela qualidade de suas publicações e especial atenção dedicada à História. Momento propício, autoria qualificada e editoração incentivadora reúnem-se em A história na América Latina: ensaio de crítica historiográfica.
Oriundo de pesquisas do autor para compor a volumosa Colección Unesco de Historia General de América Latina (MALERBA 2006a), o livro tem por objetivo refazer os itinerários da historiografia latino-americana, a fim de perceber o processo de mudanças a partir da década de 1960. O intuito de compreender essa trajetória parte de duas premissas: considerar os anos 60 ponto de inflexão da cultura ocidental e não perder de vista as fortes e ambíguas relações que os intelectuais latino-americanos mantêm com os centros hegemônicos, Estados Unidos, Inglaterra e a França.
Pequeno em suas dimensões, o livro é grande na pretensão analítica e pesado nas críticas. Introdutoriamente, o autor nos dá uma ampla visão da historiografia ocidental através do contexto intelectual na “transição paradigmática”, que tem os anos de 1968 e 1989 como dois marcos simbólicos.
De um a outro se observa o paulatino recrudescimento do “pós-estruturalismo” desembocando nas proposições “pós-modernas”. Ressalvados o sincretismo e as imprecisões que tais termos carregam, o autor problematiza dois postulados ligados a essas correntes de pensamento: a teoria da linguagem e a negação do realismo. O texto preliminar fecha com uma questão de suma importância e próxima a muitos pelo impacto nos cursos de graduação de onde somos.
Malerba reflete, com muita propriedade, sobre a presença do marxismo na historiografia latino-americana: aparato teórico, metodológico e ideológico fomentador de forma vivaz do debate a partir da segunda metade do século XX. Aqui inicia a análise crítica do autor sobre trabalhos específicos de intelectuais latino-americanos, nos quais vislumbramos o pulsar da tradição marxista na Argentina, Peru, México, Brasil. Tal tradição criativa e influente, deveras afetada pelas grandes transformações mundiais, passou a sofrer pesadas críticas, suscitando o chamado “pós-marxismo”. Se esses momentos “pós” na América Latina recebem atenção pela perda da referência na totalidade em que se inserem, Malerba aponta, igualmente, para a saudável retomada de uma tradição problematizadora, que mistura os ensinamentos do marxismo mais arejado com os aportes do movimento historiográfico francês dos Annales.
Esse diálogo dos Annales com o marxismo renderia, conforme o autor, o que de melhor se produziu nos últimos 30 anos na historiografia latino-americana nos campos da história econômica e história social. A produção na América Latina, nessas duas modalidades de escrita histórica, é mapeada no primeiro capítulo, intitulado “Décadas de 1970 e 1980”. Nele, o autor nos apresenta o labor de historiadores econômicos no Brasil, Argentina e Chile, ainda na primeira metade do século XX, cujos esforços foram conjugados na Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL). A partir dos problemas de desenvolvimento da região, o autor analisa a eclosão de teorias da dependência como pensamento genuinamente formulado por intelectuais latino-americanos para explicar o presente através do passado. A validade de teorias como essas, sob visão macrossocial e histórica, acabaria por sucumbir no cenário acadêmico diante do contexto de fragmentação da “transição paradigmática”.
Ao longo da década de 1970, a História econômica, gradualmente, assumiu grande prestígio e vitalidade. De maneira muito didática, Malerba esquematiza os temas abordados pela história econômica distribuídos nos períodos colonial, nacional e século XX. Destes, o campo da economia colonial foi um dos que mais impulsionou a historiografia econômica na América Latina. Guiados pelo autor, acompanhamos os trabalhos de vários pesquisadores, com destaque para os estudos de história agrária no Brasil. Ainda no primeiro capítulo, o diálogo do marxismo com os Annales nos é mostrado ao seguirmos o itinerário da história social através da pertinente seleção de publicações. A ampliação dos horizontes temáticos da história social deu-se, principalmente, pelas pesquisas sobre escravidão, trabalho e movimentos sociais.
Especificamente sobre a história social do trabalho, para além da constatação de renovação acarretada pelo marxismo britânico, Malerba nos mostra como a abordagem tradicional, concentrada quase exclusivamente nas ideologias das classes trabalhadoras, seus líderes e suas relações formais com os partidos políticos, vai sendo superada. A produção historiográfica sobre a classe operária e o mundo do trabalho na América Latina se altera mediante o impacto das profundas transformações globais. Através da “nova história social”, os pesquisadores passam a enfatizar a diversidade das experiências entre as massas trabalhadoras, fugindo das pretensões generalizantes. Questões de gênero, etnicidade, desenvolvimento da cultura popular, formação de identidades e vida cotidiana (daqueles que não participaram de sindicatos ou partidos políticos de trabalhadores) são exemplos que Malerba nos traz para mostrar a incorporação de leque mais amplo de tópicos na história social do trabalho nesses países.
No período de transição democrática, na década de 1980, os pesquisadores latino-americanos se esmeraram por conhecer o papel de resistência da sociedade civil organizada. O tumultuado momento contribuiu para a força desse campo através do tema dos movimentos sociais. Novas preocupações e objetivos acabaram por transformar a natureza dos movimentos sociais e as relações entre eles (sindicalistas, gays, feministas, ambientalistas). Não obstante tal diversificação, o foco do interesse dos historiadores recaiu sobre as questões de identidade e cultura. No entanto, de forma perspicaz, Malerba mostra como a produção acadêmica passa a adotar postura mais cautelosa do que a celebrativa inicialmente. Posição que, no entanto, ainda não conseguiu afastar a militância das pesquisas.
No segundo capítulo, “Décadas de 1980 e 1990”, Malerba avança na análise tendo a “nova história política” e a “nova história cultural” como dois campos que melhor caracterizam a produção latino-americana nos últimos decênios do século. No primeiro campo, o autor seleciona dois temas de destaque na historiografia. Nas pesquisas sobre a construção do Estado e da Nação na América Latina independente (século XIX) percorremos os estudos na Argentina, México, Colômbia, Peru e Brasil. O movimento de revitalização na história política é observável quando os pesquisadores tornaram mais complexas questões como a emergência de identidades nacionais, ruptura do pacto político entre colônia e metrópole, variedades de federalismos, participação de grupos camponeses e indígenas. Os trabalhos historiográficos sobre os regimes populistas e ditatoriais, igualmente, foram merecedores da atenção dos pesquisadores na história política.
Até então trabalhando com foco nos sujeitos, processos político-partidários e na história do Estado e das elites no poder, as historiografias nacionais começaram a renovar essa abordagem tradicional.
Considerando a “nova história cultural” como outro campo importante de estudos no período, Malerba problematiza o seu próprio advento e caracterização na historiografia. Mais recentemente, segundo o autor, apesar das amplas pretensões, os pesquisadores envolvidos neste campo se identificariam pela referência a um corpo canônico de obras, referências teórico-metodológicas, escolha de certas fontes e uso de “jargão” especializado sobre representações, textualidade, relações de poder, subalternidade e identidades sexuais e raciais, intimidade e privacidade, cultura popular. Se, aparentemente, a agenda do campo está definida, Malerba aponta que sua forma de execução se caracteriza por certa “mestiçagem” na abordagem e “liberdade criadora” na prática para além do receituário prescrito. A pujança da história cultural pode ser percebida nos dois exemplos selecionados pelo autor. Tanto na história do cotidiano e da vida privada, como na de relações de gênero, fica visível o imbricamento desse campo com os demais trabalhados ao longo do livro.
Seguindo a forma clara e didática que acompanha os parágrafos do livro, a parte final comporta importante orientação bibliográfica. Complementa aquelas referências trabalhadas ao longo do texto, indicando sucintamente uma série de trabalhos de pesquisadores em diferentes países, não só latino-americanos. A rica bibliografia apresentada e trabalhada pelo autor nos permite adentrar em balanços historiográficos gerais e regionais, e nas discussões teóricas.
O ensaio de crítica historiográfica de Jurandir Malerba, em sua pretensão de síntese, delineia tendências na historiografia latino-americana ao selecionar publicações de maior representatividade nos campos e momentos historiográficos. Autores, livros e grupos de pesquisas em diversos países da América Latina alicerçam o ensaio como linhas mestras ou tendências majoritárias na historiografia. Linhas ou tendências que se cruzam, mesclam, dialogam através de fronteiras porosas. O caráter seletivo, pois panorâmico, como o próprio autor adverte, fez com que outras vertentes na produção historiográfica não fossem contempladas. Somos precavidos, ainda, para o descompasso entre as trajetórias nas diversas historiografias nacionais, em que os campos escolhidos assumem, em alguns casos, rótulos distintos. Porém, ao final da leitura do livro, ficamos convictos de que os quatro campos selecionados – história econômica, política, social e cultural – são expressivos para mostrar o turbilhão que varreu o ateliê de Clio, a partir da década de 1960, fragilizando teorias, projetos, modelos, métodos, certezas, verdades. E para mostrar também o quanto os profissionais da História, ainda hoje, se encontram afetados por uma transição em aberto.
Diante dessa caminhada pela historiografia latino-americana, em um momento de guinada radical nas formas de se conceber e praticar a história, a análise de Malerba permite enxergarmos, claramente, três questões. Os historiadores latino-americanos reiteraram seu papel de importadores de pensamentos, modismos, pastiches, cópias. As problemáticas “vindas de fora”, típicas de sociedades liberais desenvolvidas, refletiram, muitas vezes, os anseios e as demandas da cultura do pesquisador estrangeiro (latino-americanista) e não necessariamente os dos povos pesquisados. Haveria a hegemonia de uma literatura estrangeira como “substrato teórico da produção local”. Através de “clichês”, avulta a dificuldade dos historiadores em assimilar as reflexões teóricas daquela literatura na orientação de suas pesquisas e na própria construção dos textos. Mas fugindo do “imperialismo científico” ou da “expansão do capitalismo no Terceiro Mundo”, Malerba adverte para a complexidade do intercâmbio acadêmico Norte-Sul. A crescente aproximação dos intelectuais latino- -americanos da intelligentsia nos centros hegemônicos, em especial estadunidense, permitiu a entrada de novos personagens e temáticas na agenda dos pesquisadores. Esse ingresso conduziu a uma sofisticação metodológica ao exigir novos tratamentos para certos tipos de fontes. A segunda questão está na importância do pós-estruturalismo e seus sucedâneos na destruição de “velhas verdades engessadas”. No entanto, contribuíram negativamente para a perda da percepção global da sociedade latino-americana, de sua história e de suas relações com o resto do mundo. O afastamento epistemológico das abordagens holísticas e totalizantes fez diminuir o alcance das “teorias”, fragmentando-as. Por fim, a análise de Malerba indica a premência da democratização da produção e circulação de informações pelo ambiente acadêmico latino-americano para possibilitar a definição de nova agenda para os estudos históricos que atenda aos interesses de seus povos.
Se a proposta do autor não consegue iluminar todo amplo espaço que o título do livro alude, aceitemos o estímulo dado por Malerba a fim de que problematizemos as hipóteses e percepções lançadas, perscrutemos outros campos e a produção dos demais colegas latino-americanos. O importante é não perdermos de vista a abrangência dos estudos históricos, já que a carreira acadêmica nos conduz a questões cada vez mais reduzidas, descoladas muitas vezes do todo. Em razão disso, a leitura dessas sínteses é extremamente importante, não só para o estudante, mas para o próprio pesquisador experimentado que se preocupa em se ver (para se colocar) como integrante de uma disciplina em crise de crescimento.
Para finalizar essa resenha crítica, permito-me lançar quatro indicações suscitadas pela provocante leitura do ensaio. Como exemplos recentes da salutar dinâmica entre os historiadores latino-americanos, lembremo-nos do II Encontro da Rede Internacional Marc Bloch de Estudos Comparados em História (Porto Alegre, outubro de 2008) e do IX Congresso Internacional da Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC), em maio de 2010, na Colômbia. Esperanças de trocas fecundas, igualmente, estão focadas na nascente Universidade Federal da integração Latino-Americana (UNILA). Outro ponto está na possibilidade de pensarmos, desde já, a trajetória da historiografia latino- -americana na primeira década do século XXI. Somente no Brasil, além da irrigação nesses campos trabalhados por Malerba, tivemos a proliferação de novas “plantações”. Por exemplo, a quantidade de simpósios temáticos nos dois últimos encontros da Associação Nacional de História (ANPUH) é expressiva: 76 em 2007 e 85 em 2009.
Na visada historiográfica pós-muro, para além dos centros citados – Estados Unidos, França e Inglaterra – poderíamos ir além refletindo sobre a relação dos historiadores latino-americanos com os centros de pesquisa alemães e italianos através da pós-graduação e/ou crescente aumento das publicações aqui traduzidas. Por fim, reitero os esforços do professor e pesquisador Jurandir Malerba na problematização da historiografia contemporânea materializados, principalmente, em Esboço crítico da recente historiografia sobre a independência do Brasil (MALERBA 2006b), A história escrita (MALERBA 2006c) e Historiografia contemporânea em perspectiva crítica (MALERBA; ROJAS 2007), ao lado dos quais este novo livro sobre a historiografia na América Latina passa a fulgurar.
Bibliografia
GUIMARÃES, L. M. P. Entrevista para Valdei Lopes de Araujo. História da historiografia, 3:237-258, Ouro Preto, set. 2009.
MALERBA, J.; ROJAS, C. A. (org.). Historiografia contemporânea em perspectiva crítica. Bauru: Edusc, 2007.
_____. Nuevas perspectivas y problemas. MARTINS, E. de R.; PEREZ BRIGNOLI, H. (org.). Teoría y metodología en la Historia de América Latina.
Madrid: Trotta, 2006a. p. 63-90. (Colección Unesco de Historia General de América Latina, v. 9) _____. Esboço crítico da recente historiografia sobre a independência do Brasil (c. 1980-2002). In: _____. (org.). A independência brasileira, novas dimensões. Rio de Janeiro: FGV, 2006b. p. 19-52.
_____. (org.). A história escrita, teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006c.
Hugo Hruby Doutorando Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) hugohruby@yahoo.com.br Rua Assunção, 395/101 Porto Alegre – RS 91050-130 Brasil.
A experiência do tempo: conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845) – ARAUJO (RBH)
ARAUJO, Valdei Lopes de. A experiência do tempo: conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845). São Paulo: Hucitec, 2008. 204p. Resenha de: CALDAS, Pedro Spinola Pereira. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30, n.59, jun. 2010.
A publicação de A experiência do tempo, de Valdei Lopes de Araujo, deve ser vivamente aproveitada. Trata-se de um livro rico, digno de se encontrar nas estantes dos interessados em história política e intelectual do Brasil no século XIX, mas também nas bibliotecas dos estudiosos da história da historiografia e – por que não? – da filosofia da história. Melhor ainda: pode despertar no estudioso de vocação empírica o interesse pelas questões filosóficas mais abstratas, bem como mostrar à mente mais especulativa e reflexiva que os conceitos podem encontrar correspondência na realidade histórica mutável.
Valdei Lopes de Araujo é professor na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), onde integra o Núcleo de Estudos em História da Historiografia e Modernidade (NEHM). O livro é fruto de sua tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura da PUC-Rio, resultante de pesquisa orientada por Luiz Costa Lima. A refinada abordagem feita por Valdei Araujo se explica, sem nenhum demérito para a originalidade da obra, em parte pela formação obtida sob orientação de um intelectual que sempre estimulou a reflexão teórica e foi um dos responsáveis pela difusão da hermenêutica literária no Brasil, e que resulta na grande contribuição do livro de Valdei Araujo para o debate teórico e historiográfico. Seu mérito, portanto, consiste na sofisticada incorporação de discussões teóricas desenvolvidas na Alemanha na segunda metade do século XX, sobretudo aquelas herdeiras e críticas da hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, autor que influenciaria tanto o historiador Reinhart Koselleck como um teórico e crítico literário do porte de Hans-Ulrich Gumbrecht. Sente-se a influência de Koselleck e Gumbrecht no texto de Valdei Araujo: do primeiro, a preocupação com a história conceitual, gênero no qual o autor se sai extremamente bem, dando bom exemplo de como os conceitos não são reflexos polidos da vida histórica, mas a própria forma pela qual esta se torna inteligível. Destarte, o conceito é lugar de experiência, e não de distanciada e desinteressada cognição por parte de intelectuais diletantes. Nada melhor que uma boa obra de história dos conceitos para que o estudioso da história do Brasil e da historiografia brasileira tenha a chance de manchar a imagem homogênea do intelectual brasileiro retórico e desocupado, que se preocupava com o mundo das letras somente por distração e ornamento. Mas o conceito – e aqui se percebe a influência de Gumbrecht – é também fruto de uma radical presença histórica, situada circunstancialmente. O livro, portanto, é profundamente feliz em se apropriar de textos teóricos como os de Koselleck e Gumbrecht sem, em momento algum, cair no erro de fazer de sua pesquisa uma exposição de conceitos importados, uma aplicação que viria meramente a confirmar o já sabido. Assim, embora a obra lide com fontes em grande parte já analisadas por outros historiadores, a maneira de lidar com elas é bastante original e criativa.
O livro inicia-se com uma questão fundamental para se pensar não somente a independência do Brasil, mas o que ela representa categorialmente como experiência moderna. Como diz Valdei Araujo em suas considerações finais: “A relação com o tempo e com o passado estava ainda condicionada, de um lado, por elementos clássicos da imitação e do exemplo e, de outro, por um entendimento geral do universo como a repetição de leis eternas e eventos cíclicos” (p.185).
A primeira parte de A experiência do tempo, denominada “A História do Sistema”, basicamente descreve e analisa a trajetória um tanto trágica de José Bonifácio de Andrada e Silva, o qual, tomando por base ainda uma visão cíclica de história, concebia o sentido da história do Brasil a partir da regeneração. Regeneração é possível somente se for entendida como a etapa subsequente à decadência, termo fundamental para a compreensão morfológica das ciências naturais. A propósito, é instigante perceber a semelhança do debate intelectual brasileiro sobre a modernização com a discussão travada no espaço alemão no último quarto do século XVIII, como demonstram as pesquisas de Peter Hans Reill.1 Porém, “regeneração”, para Bonifácio, se implicava a recuperação da essência de ser português, ainda que transplantada para o Brasil, não significava um retorno. Para usar os termos do autor, ao “espelhar” a história de Portugal, a história do Brasil abria uma possibilidade em sua busca de consciência, a de ser “uma outra história que já não podia mais ser de Portugal” (p.63). É esta a dialética delineada por Valdei Araujo, a do “tempo como repetição” (título do primeiro capítulo) para o “tempo como problema” (título do segundo capítulo). A tentativa da natural superação da decadência abria, portanto, a fresta para o projeto moderno. Afinal, a regeneração dar-se-ia em uma natureza virgem, pura, plenamente visível em seus princípios criadores, a qual teria sua potencialidade moldada pela ciência.2 O dilema da singularidade da história brasileira, posto pelo autor desde Bonifácio, é detidamente desdobrado no exame da possibilidade da existência histórica da língua e da literatura brasileiras, que deveriam ser construídas tendo por base o eixo clássico greco-latino, mas sem fazer dessa base um modelo a ser meramente copiado.
A segunda parte do livro (“O Sistema da História”), que compreende um excurso e dois capítulos adicionais, trata justamente da maneira pela qual os intelectuais brasileiros enfrentaram o incômodo gerado pela necessidade incontornável de se afirmar a singularidade nacional. Incômodo? Necessidade? Sim. O autor afirma-os muito precisamente: “As teorias disponíveis que poderiam explicar a constituição de novas formas, sejam animais, sejam políticas, estavam muitas vezes fundadas na ideia de degeneração” (p.126), e conclui, demonstrando a dimensão do problema, que, sendo verdadeiro o modelo organicista, “a mudança só poderia ser entendida como aperfeiçoamento, regeneração ou degeneração. O mesmo não seria válido então para as nações? Como entender o surgimento de uma nova nação?” (p.126).
Valdei Araujo apresenta, então, os esforços dos intelectuais envolvidos com a revista Nitheroy (como Domingos José Gonçalves de Magalhães) e com a própria fundação do IHGB. Se na primeira se percebia a tonalidade romântica com a qual se coloriria a singularidade nacional em fase de afirmação (mas na qual a história pertencia a um grupo amplo das “letras”), no documento fundador do IHGB, de 16 de agosto de 1838, percebe-se a presença de traços marcantes daquilo que – lembra muito bem o autor – Arnaldo Momigliano considerou fundamental para a caracterização da historiografia moderna, a saber, a conjunção da tradição antiquária e erudita, a preocupação com o sentido filosófico da história, e, por fim, a narrativa. Para Valdei Araujo, o primeiro traço é muito mais visível que os dois subsequentes, principalmente o terceiro, ainda muito discreto.
Outra faceta da modernidade ressaltada pelo autor, tão importante quanto o estabelecimento das bases da pesquisa histórica (mas dela decorrente), reside na abertura da possibilidade da experiência no lugar da imitação. O fato, assim, não é a recapitulação de um exemplo já feito, registrado, ensinado e conhecido, mas, sobretudo, a expressão da individualidade de uma época. O fato, portanto, é impensável dentro do modelo cosmológico ou exemplar, mas torna-se cognoscível em sua assimilação pela pesquisa antiquária e erudita no escopo da tentativa de afirmação da singularidade nacional.
A singularidade, de alguma forma, operava uma interessante transformação semântica: a degeneração deixava lugar para a consciência da finitude, para a consciência de uma experiência tipicamente moderna – a sensação da transitoriedade de todas as experiências. O projeto inicial do IHGB era, mostra muito bem Valdei Araujo, marcado por uma ambiguidade essencial: distante do organicismo que animara um José Bonifácio, o mundo letrado que girava em torno ao Instituto não respirava ainda o ar do pensamento evolucionista, naquele momento o único capaz de, para me apropriar de uma expressão de Henry James, ser o fio capaz de unir todas as pérolas. Como diferenciar as épocas da história do Brasil? Como organizar os fatos?
O livro de Valdei Araujo cumpre papel importante no ambiente atual de discussões teóricas e historiográficas, bastante marcadas pelo embate entre o ceticismo quase cínico dos ditos “pós-modernos” e os racionalistas. Afinal, Experiência do tempo mostra que a historiografia brasileira dá uma guinada fundamental em um momento de crise de orientação – para usar um termo de Jörn Rüsen. Portanto, não há problema algum em se escrever história em tempos de incerteza. De alguma maneira, sempre foi assim e esse foi o desafio sempre respondido, ainda que de muitas maneiras diferentes, pelos historiadores.
Notas
1 Cf. REILL, Peter Hans. Vitalizing nature in the Enlightenment. Berkeley: University of California Press, 2005; [ Links ] ______. Die Historisierung von Natur und Mensch. Der Zusammenhang von Naturwissenschaften und historischem Denken im Entstehungsprozess der modernen Naturwissenschaften. In: KÜTTLER, Wolfgang; RÜSEN, Jörn; SCHULIN, Ernst. Geschichtsdiskurs Band 2: Anfänge modernen historischen Denkens. Frankfurt am Main: Fischer, 1994. [ Links ]
2 Nesse sentido, permito-me uma comparação. José Bonifácio lembra muito o Goethe que viaja pela Itália. Na península, encontra a serenidade juvenil e a naturalidade de cuja falta tanto se ressentia em Weimar, onde já era um grande nome intelectual, sufocado pelas formalidades cortesãs. Vale lembrar que ambos – Bonifácio e Goethe – dedicavam-se largamente à ciência natural. Para uma visão da concepção de natureza em Goethe, ver MOLDER, Maria Filomena. O Pensamento morfológico de Goethe. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1995. [ Links ]
Pedro Spinola Pereira Caldas – Professor Adjunto II do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica. Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco H, sala 1H42. 38400-902. Uberlândia – MG – Brasil. E-mail: pedro.caldas@gmail.com.
[IF]Ideias de história: tradição e inovação de Maquiavel a Herder – LOPES (HH)
LOPES, Marcos Antônio (org.). Ideias de história: tradição e inovação de Maquiavel a Herder. Londrina: Eduel, 2007, 336pp. Resenha de: BENTIVOGLIO, Julio. História dos modernos, vocação pelos antigos: sentidos do passado no alvorecer da modernidade. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 04, p.320-326, março 2010.
Ao tratar do sentido da história na modernidade, dirá Koselleck que novas formas da experiência histórica foram acompanhadas por um conceito moderno de história. Para ele, entre os séculos XVI e XVIII, observou-se “uma temporalização da história, em cujo fim se encontra uma forma peculiar de aceleração que caracteriza a nossa modernidade” (Koselleck, 2006, p.23). Cada vez mais crescia a suspeita de que a história humana não tinha uma meta definida a atingir, embora o conhecimento do passado continuasse sendo útil para governos e governados. Constituía-se, portanto, uma consciência histórica que afastava o presente do passado, aproximando-o do futuro. Este é panorama em que os diferentes ensaios de Ideias de História – tradição e inovação de Maquiavel a Herder se inserem, analisando concepções de história no pensamento de Maquiavel, Guicciardini, Bodin, Bossuet, Vico, Voltaire, Hume, Montesquieu, Rousseau, Gibbon e Herder. A presença marcante da história, com seus usos e significados, é constante nestes clássicos do Renascimento e do Iluminismo, revelando uma transformação do conceito e da prática histórica em relação aos antigos, algo que na França ficou conhecido como a querela dos antigos e modernos, que tomou de assalto a Academia Francesa em 1687 (DeJean, 2005, 75).
Trata-se de um tipo de publicação ainda incipiente no Brasil, visto serem raras as coletâneas de história da historiografia, sobretudo em se tratando de história universal. Seu organizador, Marcos Antônio Lopes, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina, autor de obras e coletâneas consagradas como Grandes nomes da história intelectual, Para ler os clássicos do pensamento político e Fernand Braudel – tempo e história, reuniu neste livro um conjunto expressivo de renomados pesquisadores que nos brindam com a essência da obra daqueles pensadores modernos.
Marcos Lopes indica logo na apresentação que durante o Renascimento e o Iluminismo os pensadores sempre recorriam aos estudos dos antigos e ao passado como referências, procurando indicar o lugar em que se colocavam em relação à tradição e à experiência histórica percorrida. A rigor, entre os séculos XVI, XVII e XVIII a história era ferramenta preciosa em quaisquer campos de reflexão, fossem sistemas filosóficos, estudos literários, morais ou ensaios políticos. No campo efetivamente histórico, revela o organizador, a querela dos antigos e modernos marcaria uma autêntica escalada do historicismo que progressivamente solapa uma perspectiva ahistórica de tempo. Não obstante, vejo que a história guardava cada vez mais proximidade com o que depois se convencionou chamar de filosofia da história, ou seja, articulando em torno de um sentido a relação passado-presente-futuro, sentido este que poderia ser alcançado pelo entendimento humano, como atestam o pensamento de Voltaire e Rousseau, por exemplo. Esse caráter especulativo e filosófico que dá o tom da coletânea revela seu débito com a abordagem collingwoodiana.
O livro aparece antes da existência de uma síntese similar sobre a história da história na Antiguidade, ou seja, das ideias de história entre os antigos. Assim, na ausência de uma coletânea que trate de Heródoto, Tucídides, Políbio, Cícero ou Tácito, dentre outros, Ideias de História ocupa um lugar de destaque ao apresentar uma discussão aprofundada sobre algumas concepções modernas de história. No entanto, como em toda coletânea, podem ser sentidas ausências, como as de Hobbes, Mabillon, Kant, Commynes, Condorcet e Bolingbroke.
Isso não tira, absolutamente, o mérito da obra com seus estudos pontuais e sistemáticos, que informam e esclarecem a complicada trama pela qual o estudo do passado se efetuava a partir do século XVI no pensamento de alguns importantes pensadores. Trata-se de um momento em que o conceito e o próprio estudo do passado sofriam uma sensível mutação, deixando de ser entendido apenas como magistra vitae, ou como a descrição de narrativas de reis e imperadores, assumindo um status cada vez maior de ciência (Koselleck, 2006, 21s).
Das especificidades da história dos antigos limitadas aos feitos de seus povos, emergia uma preocupação de integrar as diferentes histórias em uma mesma história. Espelhando-se nos antigos, dos quais preservam inúmeros pontos de concordância, tais como o do caráter exemplar, da repetição, da importância da esfera política dentre outros; os modernos rompem com o olhar tradicional sobre a relação entre o passado, sua narrativa e o presente ao ampliar a assimilação crítica do tempo e dos clássicos greco-romanos. Embora ainda fossem modelares, não eram mais vistos como fonte exclusiva de autoridade.
Os ensaios também indicam que aqueles autores subsumiam a história e seu estudo à reflexão filosófica, pois se colocava à história uma tarefa que não tivera na agenda dos antigos: crônicas, anais e memórias careciam de um sentido universal como desejava a razão moderna em sua ânsia por crítica e erudição. O passado não perdia seu caráter pedagógico, pelo menos no todo, mas se ampliava a convicção de uma história entendida como aperfeiçoamento e progresso. Concomitantemente, o estudo do passado adquiria um caráter bem mais sistemático e rigoroso, do que então tivera, no qual o método ganhava enlevo, muito embora a história continuasse sendo um ramo atrelado ora à filosofia, ora às belas letras (Gervinus, 2010, 28), como um gênero narrativo menor.
Ao contrário dos antigos nos quais a urdidura dos eventos ou sua narrativa eram a dimensão mais importante fazendo com que o elemento cronológico superasse, muitas vezes, a importância dos julgamentos; entre os modernos a ênfase recaía sobre a crítica, de modo que a história iluminava a compreensão de determinados temas, diluindo-se a importância dos eventos e ampliando-se o valor dos temas e das fontes tratados. Outro aspecto notável é o futuro assumir uma dimensão fundamental, minando a possibilidade do presente ser experimentado como algo fixo e imutável. Novas perspectivas passaram a pautar a relação sujeito-objeto do saber e, independentemente do modo como o passado era percebido, seja para romper com generalizações, seja para encontrar regras gerais, a história continuava, entretanto, a oferecer exemplos para a vida. Patenteia-se nos autores clássicos reunidos nesta coletânea a convicção de que a história “pode conduzir ao relativo aperfeiçoamento moral e intelectual de seus contemporâneos […] cujas histórias são instrumentos recorrentes apropriados para comprovar doutrinas morais, teológicas, jurídicas ou políticas” (Koselleck, 2006, p.43).
Daí o esforço dos pesquisadores desta coletânea em compreender e localizar as idéias de história e o momento em que foram concebidas, suas tradições, embates e assimilações. Eis o sentido que alimenta o espírito da obra, pois, os colaboradores revelam que muito mais do que apropriação ou crítica, havia inovações naqueles pensadores, que ao fazerem parte do desenvolvimento de uma nova concepção de história estavam dotados de grande originalidade teórica e metodológica. Em seu conjunto, todos os textos que compõem o livro são tributários de Idéia de História publicado em 1946 por Robin G. Collingwood, que inaugurou um novo capítulo na história da historiografia com sua abordagem historicista e filosófica (1952).
Para os modernos não se tratava apenas de narrar feitos humanos notáveis, evitando-se o esquecimento, ou ainda apenas registrar eventos singulares, mas, sobretudo, de pensá-los dentro de um contexto, como um processo. Encontrar conexões, tal era o desafio, algo que já havia sido proposto por Chladenius. Este pensador germânico havia indicado ainda que, além das conexões, era também fundamental deixar claro para os leitores o ponto de vista (Sehepunkt) adotado pelo autor (Chlandenius, 1752, 36s).
No primeiro capítulo, José Luiz Ames dedica-se a dissecar o pensamento de Maquiavel e revela como o florentino adotava a história como um conhecimento inestimável para se compreender as regras gerais da ação política.
Para ele a história era o resultado das ações humanas e Roma um modelo útil para se compreendê-las e se estabelecer comparações com o presente. Mas, embora o passado fosse louvável, isso não significaria, absolutamente, que devesse ser imitável. A história deveria ser pensada sob o prisma da identidade, dos desejos e humores humanos e da diferença dos acontecimentos históricos.
Embora eventos políticos pudessem se repetir, isso não implicaria numa história imutável. Ou seja, a noção maquiaveliana de imitação, nas palavras de Ames, “está longe de ser a repetição mecânica” (p.29). Mesmo quando apelava para um modelo de tipo circular, utilizava-se de uma noção de prognóstico (Koselleck, 2006, 35).
Em seguida Sylvia Ewel Lenz analisa Guicciardini, que, se nos reportássemos ao modo como Gervinus pensa a narrativa histórica, teria feito a transição da narrativa cronológica para a memorialística. Curiosamente, o autor mantém a presença do fatalismo medieval, dos sinais, da fortuna. Muito embora tenha incorrido em pecados capitais em relação ao método, como já apontara Ranke (1824), ao deixar-se impressionar por superstições e preconceitos correntes de seu tempo, Guicciardini fez uma história do tempo presente com um zelo documental sem precedentes (p.48).
No terceiro capítulo, Marcos Antônio Lopes discute a obra de Bodin que tomava a história com uma preocupação política, para compreender as ações humanas em sua relação com as formas de governo, mas ao contrário de Maquiavel, não perdeu de vista as diferenças de escala da política antiga para a política do presente. Ele incorpora o espírito da histoire accomplie, ou seja de uma história perfeita, que busca o rigor metodológico, a crítica documental, evitando ser mera descrição de transições dinásticas ou um romance de reis. E separou “a história sacra, a história humana e a história natural” revelando que a “história humana não tem qualquer meta a atingir; ela é o campo aberto da inteligência humana” (Koselleck, 2006, 28-9).
Bossuet foi também analisado por Marcos Lopes no quarto capítulo, ele que em sua obra representou o esforço de reunir histórias particulares em uma mesma história, acreditando que o conhecimento histórico daria enorme impulso à hermenêutica bíblica além de ser um dos veículos mais apropriados para a educação dos príncipes. Providência e história seguiam uma ordem universal e Deus se encarregaria de corrigir as distorções provocadas pelos príncipes, pois como Santo Agostinho – sua grande influência – já havia sugerido, os Estados terrenos e a cidade de Deus não eram pólos opostos.
João Antônio de Paula analisa o pensamento de Vico no capítulo seguinte, cuja Ciência Nova representou uma verdadeira revolução no pensamento e uma das compreensões mais originais da história. Para Paul Hazard, Vico ilustra perfeitamente um momento decisivo da crise da consciência européia, inaugurando “uma nova maneira de pensar ao mesmo tempo inovadora, em seu conteúdo, e desconcertantemente original, em sua forma” (p.116). Karl Löwith encarou o italiano como precursor de Herder, Dilthey, Hegel, Splenger e Niebuhr, dentre outros; cujas idéias adormecidas aguardariam pelo advento do romantismo, do idealismo e do historicismo, para despertarem com força absoluta, visto colocarem a história como o base de todo conhecimento. Atribuise a Vico a elaboração da primeira filosofia da história.
No sexto capítulo Renato Moscateli toma Montesquieu, “escritor que ganhou renome de grande pensador político por ter estabelecido princípios que fundamentariam as constituições de inúmeros Estados modernos” (p.151) que em uma de suas primeiras obras Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e sua decadência, de 1734, demonstrava a importância do exame de diferentes causas e personagens, de sua interpretação e não meramente de sua narração. Sua análise revela que os eventos se reúnem numa teia de causas essenciais, dotadas de sentido, pois, para ele “não é a fortuna que domina o mundo, mas ações concretas, físicas, morais, humanas. Em O espírito das leis Montesquieu parte do jusnaturalismo e da política para, embasado no terreno da história edificar uma das mais importantes obras do pensamento ocidental moderno que não se limita à classificação ou à descrição de sistemas jurídicos ou da arquitetura das leis, mas procura localizar sua essência cunhando conceitos, tipos ideais e introduzindo uma nova perspectiva de análise que parte das virtudes políticas e morais como molas para a compreensão dos fenômenos humanos.
Voltaire é alvo do ensaio de Estevão de Rezende Martins no capítulo seguinte, paladino da tolerância, da liberdade e divulgador par excellence do racionalismo inglês e do pensamento iluminista francês. Segundo Estevão, para Voltaire, quanto mais esclarecido os homens, mais livres serão, pois, “apostava na espontaneidade da razão (do são entendimento), que haveria de encontrar sempre a boa solução” (p.185) e seguiu Locke “na exigência de fundamentar empiricamente a filosofia e a ciência, e de não aceitar qualquer conhecimento que não esteja exclusivamente baseado em observações” (p.190). No Ensaio sobre os costumes, Voltaire indica a necessidade de um novo tipo de história, que encontre o sentido do tempo e o espírito humano, que seja mais científica e crítica, evitando especulações teo-teleológicas (p.201).
No oitavo capítulo a professora Sara Albieri da USP analisa o pensamento de David Hume, autor da História da Inglaterra do período romano até a revolução de 1688, causando espécie ao publicar volumes seguindo uma inversão cronológica. “Hume julgara ter escrito uma narrativa histórica imparcial […] acima do conflito das interpretações partidárias, esperando persuadir as partes em disputa e atrair o consenso das opiniões” (p.206). Hume evidencia a máxima de Voltaire de que somente os filósofos deveriam escrever a história. Sara percebe em Hume a sensível mutação ocorrida da história narrativa, para uma história mais filosófica com maior preocupação metodológica e científica, cujo estilo foi obscurecido pela historiografia romântica posterior, salvo no destaque conferido à imaginação.
Em seguida Renato Moscateli se debruça sobre Rousseau, para o qual a história preserva o caráter de exempla, pois persegue o princípio da perfectibilidade humana perdida e que deve ser reconquistada; “há em seu pensamento histórico uma verdadeira argumentação dialética que liga o processo de aprimoramento da razão humana “a demonstração da corrupção que o acompanha passo a passo” (p.237).
No penúltimo capítulo Gibbon é alvo da análise de José Antonio Dabdab Trabulsi que revela o gênio do inglês em sua démarche histórica interpretativa, marcada pela erudição clássica, pelo interesse na diferença e pela subjetividade da narrativa. Mais que historiador, seria também um philosophe (p.264) em sua tentativa de fazer uma história natural da religião à semelhança de Hume em sua clássica História do declínio e queda do Império Romano.
Herder é o último pensador, analisado por Astor Diehl, fecha a coletânea, expressão dos desafios que, na encruzilhada do Iluminismo e do Romantismo, forjou os alicerces sob os quais se desenvolveria o historicismo alemão.
Como se vê, a Ideias de História realiza uma síntese louvável para se compreender a trajetória do conhecimento histórico e suas expressões em alguns pensadores clássicos da era moderna, descrevendo algumas representações do passado e sua compreensão, revelando a complexidade dos relatos historiográficos na modernidade e o caráter perturbador de novas leituras do mundo e das experiências do tempo. Como revela Hans-Ulrich Gumbrecht,
No interior do tempo histórico, não se pode imaginar que quaisquer fenômenos estão livres de mudança e isso leva à aceitação geral da premissa de que períodos históricos diferentes não podem ser comparados por quaisquer padrões de qualidade meta-histórica (GUMBRECHT, 1998: 15).
A partir daquele período, nenhum indivíduo, grupo ou momento histórico poderia ser visto como a repetição de fenômenos antecedentes, cada presente era experimentado como uma possibilidade de mudança pelo seu futuro, colocando a temporalidade e seu cronótopo como uma categoria estrutural de investigação histórica. Não por acaso apareceriam então as filosofias da história como fonte de modelos narrativos, procurando encontrar padrões para a experiência do passado, reveladoras da essência das ações humanas.
Referências
CHLADENIUS, Johann Martin. Allgemeine geschichtswissenchaft. (Ciência histórica geral – trad. Sara Baldus 2009). Leipzig : Friedrich Landisches Erben, 1752.
COLLINGWOOD, R. G. Ideia de la historia. México: Fondo de Cultura Economica, 1952.
DEJEAN, Joan. Antigos contra modernos: guerras culturais e construção de um fin de siècle. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
FUETER, Eduard. Histoire de l´historiographie moderne. Paris: Librairie Félix Alcan, 1914.
GERVINUS, Georg G. Fundamentos de teoria da história. Petrópolis: Vozes, 2010 (no prelo).
GUMBRECHT, Hans Ulrich. Modernização dos sentidos. São Paulo: Editora 34, 1998.
HAZARD, Paul. Crise da consciência européia (1680-1715). Lisboa: Cosmos, 1948.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos.
LÖWITH, Karl. Meaning in History. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
Julio Bentivoglio Professor Adjunto Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) juliobentivoglio@gmail.com Av. Fernando Ferrari, 514 Vitória – ES 29069-900 Brasil.
Exercícios de micro-história | Carla M. C. Almeida e Mônica R. Oliveira
Não há dúvidas de que atualmente a micro-história desfruta de grande ressonância no âmbito historiográfico brasileiro. Contudo, o sucesso desta perspectiva metodológica carrega consigo uma considerável dose de incompreensão. Para grande parte dos acadêmicos brasileiros o termo “micro-história” esteve (ou ainda está) se tornando sinônimo da figura de Carlo Ginzburg, ou da figura de Menocchio, moleiro do século XVI estudado pelo proeminente historiador italiano em seu livro O queijo e os vermes. No Brasil, muitas vezes tomada como teoria, a micro-história também é freqüentemente confundida com a história das mentalidades praticada, sobretudo, pelos franceses dos Annales.
Todas estas confusões são, em grande medida, frutos do percurso trilhado pela historiografia brasileira nos últimos trinta anos. Com a crescente ampliação do público acadêmico consumidor, durante a década de 1980 um amplo conjunto de leituras historiográficas estrangeiras foram traduzidas quase que simultaneamente para o português. Entre as principais traduções podemos citar: a historiografia produzida pelo grupo dos Annales, especialmente autores como Jacques Le Goff, Georges Duby e Michel Vovelle; os historiadores ingleses e anglo-americanos, como Edward P. Thompson, Natalie Zemon Davis e Eugene Genovese; discussões que surgiam do âmbito filosófico e sociológico francês, como Michel Foucault e Pierre Bourdieu; além dos frutos da micro-história italiana, quase que exclusivamente com Carlo Ginzburg. Portanto, a recepção desta massa de textos, idéias e sugestões de pesquisa (que não raramente caminham em direções divergentes, claro sintoma do desmoronamento dos paradigmas estruturalista e marxista) foi mediada – como talvez não pudesse deixar de ser – por leituras parciais e apressadas. Leia Mais
Cien años de propuestas y combates. La historiografía chilena del siglo XX | Julio Pinto Vallegos e María Luna Argudín
El texto que reseñamos es una interesante propuesta de difusión de las historiografías nacionales del siglo XX que coordina hace algunos años la historiadora María Luna Argudín en la UAM, unidad Azcapotzalco, y que tiene como finalidad responder a la necesidad de divulgar entre el público mexicano en general, y en particular entre los estudiantes universitarios de las áreas de historia y ciencias sociales (tanto de licenciatura como de posgrado), otras experiencias e interpretaciones históricas aparentemente ajenas al modelo elaborado en México.
El destacado historiador Julio Pinto Vallejos, asumió el reto propuesto por María Luna Argudín. En una versión preliminar fue ofrecido, en junio de 2002, como un curso que se organizó para la Maestría en Historiografía de México de la UAM, para posteriormente, en el 2006, con la introducción de algunas modificaciones, escribir dichas conferencias, brindando un balance de la historiografía elaborada en su país durante el siglo XX, texto que está dedicado íntegramente hacer un recorrido por las grandes corrientes o líneas de tensión que este quehacer ha exhibido en estos cien años. Leia Mais
Leituras críticas sobre Evaldo Cabral de Mello / Lilia M. Schwarcz
A editora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com a Fundação Perseu Abramo, lançou, em 2008, a coleção „Intelectuais do Brasil‟, para abordar o conjunto da obra de certos autores, cuja “reflexão sobre o Brasil seja considerada relevante para a compreensão do país”. Foram editados quatro livros naquele ano, apresentando as obras de Evaldo Cabral de Mello, Boris Fausto, Silviano Santiago e Leonardo Boff. Cada livro ficou sob a responsabilidade de um organizador, cuja tarefa, além de articular a apresentação da obra e do respectivo autor selecionado, era reunir um grupo de pesquisadores para efetuarem análises aprofundadas. Lilia Moritz Schwarcz foi a responsável pela organização das leituras críticas que foram feitas sobre a obra de Evaldo Cabral de Mello.
Embora a coleção não apresente o que está entendendo por „intelectual‟, supõe que são indivíduos cuja obra e atuação diante do cenário nacional e internacional contribuíram diretamente para que questões políticas e culturais fossem pensadas e repensadas, quanto ao presente (ao passado e ao futuro) das sociedades. Tal definição, mesmo que indiretamente, aparece interligada entre cada um dos quatro livros até aqui lançados pela coleção. No caso de Evaldo Cabral de Mello, tal questão se apresenta em sua atuação como historiador e diplomata, cuja relação profissional não é recente no país. Em função da presença tardia de universidades no país, a formação do ofício de historiador permaneceu, durante muito tempo, em caráter „autodidata‟. A paixão pelo ofício, alicerçava-se nos Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e seus congêneres estaduais. Sem profissionalização, a atuação „autodidata‟ dos praticantes do ofício neste período tinha que, por razões óbvias, manter-se ligados a outras profissões. O exercício da diplomacia, ao lado da prática da pesquisa histórica, foi muito comum nos séculos XIX e XX, e mesmo após a criação das primeiras universidades, a partir da década de 1920, tal tradição não desapareceu. Evaldo Cabral de Mello, nesse sentido, esta enraizado nesta tradição de pesquisa, que media história e diplomacia: “fez uma carreira em tudo singular: seguiu a diplomacia e sempre alardeou um „horror‟ às instituições, as quais, segundo seu próprio depoimento, são sempre muito „conformistas‟” (p. 11), mas não se limitou a ela. Em suas obras, a “fonte documental permite perceber como a identidade é uma criação social, opositiva e circunstancial: uma resposta política a um contexto político [mesmo considerando sua relutância sobre o uso deste conceito]” (p. 9). Por outro lado, descortina a ideia “de que a vinda da Corte já levaria a prever uma independência conservadora e liderada pela monarquia”, cujo fundamento estava alicerçado numa interpretação finalista e parcial sobre a separação política, “condicionada pela história da Corte”, e por suas ações. Ao longo do livro, que conta com cinco ensaios, uma entrevista e um balanço dos ensaios efetuado pelo autor, apresenta-se esta questão e sua contribuição, para a produção da abra do autor.
No primeiro ensaio, Stuart Schwartz, faz um balanço da produção do autor, dando destaque as suas obras: Olinda restaurada (de 1975), Rubro veio (de 1986), O nome e o sangue (de 1989), A fronda dos mazombos (de 1995), O negócio do Brasil (de 1998) e A outra independência (de 2004). Para ele, esse conjunto formaria um sexteto de uma história regional do país, em que estudou parte do nordeste e a história de Pernambuco. Essas obras estariam articuladas num projeto historiográfico ambicioso e bem sucedido.
Em certo sentido, o sexteto de Evaldo Cabral de Mello é um exemplo brasileiro do ‘retorno à narrativa’ […]. O autor adotou este meio de exposição não porque desconhecesse a teoria nas ciências sociais, ou porque rejeitasse um modo analítico. De fato, seus livros demonstram familiaridade com um amplo espectro teórico; mas ele sempre concebeu a teoria e o método como ferramentas, não como propósitos da análise histórica. Além disso, criticou o que chama de ‘orgia’ nas ciências humanas e o abuso da interdisciplinaridade entre historiadores […] sempre se manteve de certa foram um positivista, e pensa ser possível à recuperação daquilo que realmente aconteceu no passado […] também acredita que a narrativa é a forma clássica do historiador, e o método mais adequado a sua tarefa: reconstruir os eventos do passado e explicá-los aos leitores do presente sem incorrer no pecado do anacronismo […] confia que a escrita da narrativa é o melhor método a partir do qual é possível começar a entender as estruturas subjacentes aos eventos e as conexões entre acontecimentos e estruturas. Ao mesmo tempo, sua abordagem também o tornou particularmente sensível a narrativas passadas, às maneiras através das quais atores históricos no passado representaram a si próprios e a sua realidade, explicaram eventos e usaram tais narrativas para criar uma mitologia que representa sua visão do mundo (p. 30-1).
No segundo ensaio, Luiz Felipe de Alencastro, prolonga essas análises, centrando-se na questão da narrativa contida nas obras do autor. Pauta-se na analise de: O norte agrário e o Império (de 1984), além de Rubro veio, O nome e o sangue e Olinda restaurada. Procura dimensionar a importância da narrativa histórica no encadeamento do enredo de cada um dos livros, fazendo também uma avaliação crítica do uso deste procedimento expositivo de dados. Para ele, o autor versa sobre um conflito luso-holandês, unindo a “metodologia histórica atual à erudição e à tradição regionalista”, numa reflexão que conforma três séculos de história, “conectando-a aos grandes debates historiográficos e tornando-a um dos capítulos centrais da historiografia das Américas” (p. 39).
Júnia Ferreira Furtado, em seu ensaio, analisa comparativamente O nome e o sangue com Grande sertão: veredas de Guimarães Rosa. Para ela, detendo-se na questão da mitologia política, enquanto Evaldo Cabral procurou demonstrar um segredo, ao expor a genealogia de uma família, Guimarães Rosa fez o inverso, no que diz respeito aos segredos do sertão, e as suas características políticas. De acordo com ela:
Ao revelar as vicissitudes e os percalços por que passou o personagem em sua tentativa de fraudar sua história familiar, criando o segredo que se oculta nas entrelinhas do processo [como cristão-novo], a narrativa [de Evaldo Cabral] desnuda o universo não só da sociedade do açúcar do Nordeste do Brasil, como também do mundo luso-brasileiro, suas formas de sociabilidade e seus conflitos. Um mundo em transformação, onde os negócios promoviam a inversão da ordem, mas onde o sangue, o nome, a honra, a linhagem e a nobreza continuavam a ser fatores estruturantes desta sociedade (p. 80).
A preocupação de Pedro Puntoni esteve mais em demonstrar as características metodológicas e as escolhas efetuadas pelo autor em sua obra. Para ele, o traço marcante da obra está em alcançar grandes sínteses sobre os processos analisados, investindo na questão narrativa, como forma de exposição dos dados, e na interpretação de uma massa documental impressionante. Por isso, a “prosa evaldiana nos conduz […] pelos desvãos desta sociedade conflituosa”, dando a “possibilidade de não apenas compreender a história, mas também de habitá-la” (p. 105).
Pautando-se na interpretação de A outra independência, Lilia Moritz Schwarcz no quinto ensaio do livro, voltou-se para o modo como Evaldo Cabral de Mello além de contraria as interpretações sobre a independência do país, não deixa de lado demonstrar que a história não é um processo teleológico no qual „os atores sociais‟ tem plena consciência de suas decisões e de suas atitudes. Para ela, as obras do autor “têm gerado movimento e feito a historiografia nacional passar por uma clara renovação e questionamento”, por que mostrou ângulos e aspectos do passado pouco percebidos, que teoria e método são importantes, mas apenas quando estão articuladas, a análise das fontes e a exposição dos dados, e que todo acontecimento impõem uma multiplicidade de olhares, não se limitando a uma única interpretação.
Na entrevista que concedeu a Lilia Schwarcz e Heloisa Starling, juntamente com seus comentários aos ensaios, o autor volta à questão da articulação de sua obra num projeto coerente e organizado, destacando que não haveria tal projeto. E que foi concebendo cada obra, uma após a outra, e não todas ou um conjunto ao mesmo tempo. Ressalta a importância da carreira diplomática, para a consecução de suas pesquisas. E que:
A conclusão que tirei a partir de outras leituras foi a de que a narrativa proporciona a técnica mais adaptada a realizar a integração dos saberes históricos; e que o preconceito vigente contra ela nos meios acadêmicos não leva em conta que a opção em seu favor decorre essencialmente da natureza da realidade histórica. A historia ideal de um dado acontecimento histórico seria a meu ver a que, por exemplo, tratando da Revolução de 1848 na França, combinasse o Marx do ‘18 de Brumário de Napoleão Bonaparte’ e o Tocqueville das Recordações. O historiador não pode aceitar ser posto contra a parede pela escolha entre historiar eventos ou historiar estruturas. Não há porque optar por uma em detrimento da outra. A história puramente factual é confusa e monótona; a história puramente estrutural não o é menos, mesmo quando escrita por um historiador de talento. […] Os eventos têm uma estrutura (como demonstra a história comparada das revoluções), mas a estrutura também compõe-se de ações, pois, nada tendo de metafísica, é apenas o produto de uma miríade de microeventos, e é ação cristalizada dos homens ao longo do tempo (p. 198).
A leitura desta obra dá, portanto, um belo exemplo de como uma obra é produzida, e ao longo de sua produção quais os questionamentos, dificuldades e dilemas que perpassam por seu autor. Nesse sentido, a coleção „Intelectuais do Brasil‟ constitui um empreendimento editorial inovador e didático, por permitir uma apresentação minuciosa a produção de importantes „intelectuais‟ brasileiros, que contribuíram para a produção e a renovação do conhecimento histórico nas últimas décadas. No caso das leituras aqui apresentadas sobre a obra de Evaldo Cabral de Mello não é diferente, mesmo por que os autores possibilitaram um acesso à obra viável tanto para o iniciante, quanto para o pesquisador da área. Além disso, destaque-se o intenso debate entre os comentadores e o autor, que demonstra a complexidade que sempre permeia a interpretação de qualquer obra ou autor. O que apenas torna a obra ainda mais rica e viável para consulta. A lamentar apenas o pouco espaço que foi dado a discussão da formação do autor (principalmente, em sua infância e juventude), que apenas se inseriu na entrevista.
Diogo da Silva Roiz – Doutorando em História pela UFPR, bolsista do CNPq. Mestre em História pelo programa de pós-graduação da UNESP, Campus de Franca. Professor do departamento de História da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Campus de Amambai, em afastamento integral para estudos. E-mail: diogosr@yahoo.com.br.
SCHWARCZ, L. M. (org.) Leituras críticas sobre Evaldo Cabral de Mello. Belo Horizonte: Ed. UFMG; Fundação Perseu Abramo, 2008, 204p. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Historiografia e “intelectuais brasileiros”. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.15, p.122-125, jul./dez., 2009. Acessar publicação original. [IF].
Pequena história dos historiadores | Philippe Tétart
Toda sociedade tem História, mas nem toda sociedade deixa testemunhos e/ou escreve sua história. Na verdade, embora a expressão ‘história vivida’, a existência das sociedades e dos homens no tempo, seja comum a todas as civilizações conhecidas (ou não), a ‘história conhecimento’, ou mais precisamente, a interpretação daquele agir humano, refere-se apenas àquelas que tiveram a preocupação (política ou cultural) de deixar a posteridade o registro escrito de suas ações, sob a forma fragmentária de documentos (oficiais ou não), ou ainda de interpretações. Evidentemente, desde “tempos imemoriais, a questão da história dos homens e de sua sociedade se coloca” (TÉTART, 2000, p. 7). Mais ainda, para aquelas onde a cultura escrita preponderou sobre a tradição oral. No entanto, a importância de quem deixa o testemunho, sob a forma documental, ou mais caracteristicamente, por meio de uma interpretação (na figura subjetiva do historiador), segundo François Hartog em seu livro O espelho de Heródoto, só teria, de fato, se iniciado na Grécia, no século V antes de Cristo, principalmente com as Histórias de Heródoto, que buscaria “construir um saber fundado nos depoimentos escritos e orais, a fim de reconstituir a cadeia dos acontecimentos históricos e de designar suas causas naturais próximas ou distantes. Inaugura assim a tradição da história factual detalhada – particularmente das guerras” (TÉTART, 2000, p 13), conforme constatará Philippe Tétart. A própria palavra ‘história’, segundo Jacque Le Goff em seu livro História e memória, tal como aparece em todas as línguas românicas ou em inglês, viria do grego antigo historie, em dialeto jônico, que derivaria da raiz indo-européia wid-, weid-, que quer dizer ‘ver’. Daí, segundo ele, o sânscrito vettas, testemunha, e o grego histor, ‘aquele que vê’, seria também ‘aquele que sabe’. E esse é, para ele, o significado que a palavra ‘história’ tinha na obra de Heródoto, de procurar, de informar, de investigar (e, por extensão, de deixar testemunhado aquilo que ‘viu’ ou ‘ouviu’). Leia Mais
Historiadores do Brasil: capítulos de historiografia brasileira | Francisco Iglesias
Livro inédito e póstumo, publicado em 2000, um ano após o falecimento do historiador Francisco Iglésias, Historiadores do Brasil: capítulos da historiografia brasileira ainda representa um manual historiográfico a enriquecer, sobremodo, o ensino e a pesquisa de história. Não obstante às análises historiográficas produzidas nas últimas décadas, que alargaram os horizontes da pesquisa e ressignificaram trabalhos clássicos; o estudo da historiografia brasileira é um campo em aberto, que ainda carece de maior produção bibliográfica, et pour cause ávido por incursões capazes de ampliarem cada vez mais as interpretações há muito consagradas.
Longe de se constituir em um catálogo, o livro expressa, por um lado, o compromisso inequívoco do autor em entender a história do Brasil, o que sempre esteve inseparável do desafio do intelectual de transformá-la; e, por outro, a busca incessante para entender todas as dimensões da historiografia, área que o historiador Francisco Iglésias mais cultivou e refletiu ao longo de sua vida. Leia Mais
O fio e os rastros. Verdadeiro, falso, fictício – GINZBURG (VH)
GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros. Verdadeiro, falso, fictício. Tradução de Rosa Freire d’Aguiar e Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, 454 p. ROIZ, Diogo da Silva. O labirinto da realidade, os princípios da História e as regras da historiografia. Varia História. Belo Horizonte, v. 25, no. 41, Jan. /Jun. 2009.
Do labirinto de que nos fala o mito (em que Teseu recebe de Ariadne um fio que o orienta pelo labirinto, onde encontrou e matou o minotauro) aos labirintos da realidade, que nos conduz a História e a sua escrita (em função da condição sempre fragmentária dos documentos e dos relatos), as distâncias (a)parecem, até certo ponto, intransponíveis para se determinar o princípio de realidade que deu base e originou cada uma daquelas diferentes narrativas (míticas e históricas). Mas essa condição de distanciamento entre o mito e a história talvez seja apenas aparente. É o que indicou Georges Balandier, em seu livro O dédalo, ao avaliar o processo de elaboração e manutenção de um mito no tempo e interpretar as mudanças drásticas, rápidas e sutis das sociedades (em especial, as contemporâneas), que lhe foi ensejada por meio da análise do mito do labirinto, não deixando de demonstrar as relações e as trocas complexas que se estabeleceriam entre o mito e a história ao longo do tempo. Sem ser indiferente a essa questão, Carlo Ginzburg se pautou no discurso do mito do labirinto, ao apreender a rica metáfora do “fio do relato, que ajuda a nos orientarmos no labirinto da realidade” (p.7), e sua relação com os infindáveis rastros, que as sociedades do passado nos legam em formas (definidas como) documentais. Nessa relação, entre os fios do relato e os rastros do passado, que os historiadores procurariam, de acordo com o autor, contar histórias verdadeiras (ainda que estas possam manter ligações estreitas com o falso), ao construir seu objeto de pesquisa e expor seus resultados sob a forma de uma narrativa, mesmo que peculiar. Para ele, hoje as relações entre verdadeiro, falso e fictício parecem muito mais tênues do que o foram para os historiadores oitocentistas.
Por isso argumenta, entre os quinze ensaios reunidos neste livro (e que foram produzidos entre 1984 e 2005), que há poucos decênios os historiadores passaram a dar maior atenção ao caráter construtivo e dinâmico de sua escrita, componente básico de seu ofício profissional. Alguns rastros dessa história recente do ofício de historiador formam o enredo principal deste livro, que se entrelaçam com a trajetória do autor, porque “a mistura de realidade e ficção, de verdade e possibilidade, est[iveram] no cerne das elaborações artísticas deste século” (p.334) e contra “a tendência do ceticismo pós-moderno de eliminar os limites entre narrações (…) ficcionais e narrações históricas, em nome do elemento construtivo que é comum a ambas, eu propunha considerar a relação entre umas e outras como uma contenda pela representação da realidade”, que seria matizada por “um conflito feito de desafios, empréstimos recíprocos, hibridismos”. Mas para enfrentar tal desafio não era possível se enclausurar em “velhas certezas”, era sim “preciso aprender com o inimigo para combatê-lo de modo mais eficaz” (p.9). Para o autor desse O fio e os rastros, a contenda apontada acima estaria no cerne dos debates desencadeados, desde os anos de 1950, sobre o ofício de historiador, no qual verdadeiro, falso e fictício ganhariam contornos mais híbridos, ao se desfazerem as distinções até então aceitas entre elas, e que se tornaram totalmente enfadonhas para a compreensão do passado, de acordo com a interpretação ‘cética’, dita pós-moderna.
Desde que publicou Olhos de madeira, Relações de força e Nenhuma ilha é uma ilha,1 que Carlo Ginzburg vem, cada vez mais, avançando em sua crítica ao desafio cético sobre o aspecto construtivo do texto histórico, que ao ser apresentado como um discurso narrativo, a crítica pós-moderna o assemelhou ao texto literário, desfazendo, com isso, as distinções até então em voga e que calcavam no primeiro a pretensão à verdade (em função da utilização de fontes documentais, com os quais os historiadores presumiriam reconstituir o passado) e ao segundo a liberdade de criação imaginativa. Neste novo livro, o autor acrescenta os seguintes pontos: a) contar e narrar, servindo-se dos rastros do passado, para escrever histórias verdadeiras continua a ser um dos princípios do ofício dos historiadores; b) as relações entre as narrações históricas e as narrações ficcionais, ora se aproximando, ora se distanciando, é uma contenda que constitui, ao longo do tempo, uma disputa pela representação da realidade, na qual historiadores e romancistas mais se distanciaram do que aproximaram suas narrativas; c) a imposição da tese que descarta a possibilidade de as narrativas históricas apresentarem (ou falarem de) uma realidade, mas sim de quem deixou os indícios que são utilizados como fontes, desaperceberia o caráter profundo mantido nos documentos (mesmo os não autênticos) sobre “a mentalidade de quem escreveu esses textos” (p. 10); d) por isso, ler os testemunhos do passado a contrapelo, como sugeria Walter Benjamin, até para levar em consideração aquilo que não intencionavam expor quem os redigiu “significa supor que todo texto inclui elementos incontrolados” (p.11); e) e, diante das relações entre ficção e realidade, se estabeleceria um espaço representado pelo falso, “o não-autêntico – o fictício que se faz passar por verdadeiro” (p.13), que, de fato, confirmaria-se à existência de uma realidade exterior ao próprio texto; f) nesse sentido, “destrinchar o entrelaçamento de verdadeiro, falso e fictício que é a trama do nosso estar no mundo” (p.14), não deixaria de ser uma das pretensões do ofício dos historiadores (quanto ainda de outros profissionais, mesmo que o façam de formas análogas). E foi seguindo as pistas deixadas pela obra póstuma de Marc Bloch, Apologia da história ou ofício de historiador, que o autor destes ensaios procurou entrelaçar seus textos numa nova defesa da História e de sua escrita. De Lucien Febvre (1878-1956), que figura constantemente em sua obra Relações de força (que é um debate aberto contra a crítica pós-moderna ao ofício de historiador), a Marc Bloch (1886-1944), que aparece neste texto como figura chave, os elos que se estabeleceram durante a trajetória do autor se apresentam de uma forma mais direta com a historiografia francesa. Mas não só com ela, pois, em função de suas origens familiares e educacionais, o autor manterá um débito direto com Arsenio Frugoni (1914-1970), Eric Auerbach (1892-1957), Walter Benjamin (1892-1940) e Arnaldo Momigliano (1908-1987). Além de uma exposição minuciosa sobre o desenvolvimento do ofício dos historiadores e suas contendas, este livro apresenta também o entrelaçamento e os débitos de Ginzburg para com os autores arrolados acima.
Já nos comentários feitos (no apêndice deste livro) à obra O retorno de Martin Guerre, de Natalie Zemon Davis, o autor aproveita para fazer de modo sutil, e até inesperado, uma revisão crítica aos apontamentos expostos por Hayden White, a partir de seu ensaio O fardo da história (publicado em 1966), ao ofício dos historiadores. Mas ao invés de refazer simplesmente o caminho pelo qual White sugeriu os contornos da divergência entre cientistas sociais e críticos literários aos historiadores, quando estes propunham que sua narrativa estaria em um nível médio, epistemologicamente neutro, de a história que escreviam estar entre a ciência e a arte, Ginzburg propôs seu ajuste de contas, demonstrando as relações instáveis que mediariam as trocas recíprocas, nas estratégias narrativas utilizadas tanto por historiadores, quanto por romancistas (e filósofos), a partir do século XV. E ainda, como sugeriu o autor, o leitor poderá ver nestes ensaios produzidos a partir da década de 1980, a gênese do projeto intelectual que deu origem aos textos reunidos neste livro. Por isso, não será por acaso, que se encontre desenvolvida entre os ensaios a proposta de mostrar “como resumos de fatos de crônica mais ou menos extraordinários e livros de viagem a países distantes contribuíram para o nascimento do romance e – através desse intermediário decisivo – da historiografia moderna” (p.319). Um intento justificado ainda pelo fato de o século XX vislumbrar de modo exemplar “a mistura de realidade e ficção, de verdade e possibilidade”, e que esteve “no cerne das elaborações artísticas deste século” (p.334).
Por outro lado, a divergência apontada por White não era recente. Ginzburg demonstra que desde que o gênero histórico surgiu há pouco mais de dois milênios, que as divergências entre o discurso histórico, o literário e o filosófico são recorrentes. Por implicarem, cada qual a seu modo, representações da realidade, filósofos e romancistas acabaram dando pouca atenção ao trabalho preparatório da pesquisa elaborada pelos historiadores, e estes, por sua vez, dedicaram pouca atenção ao caráter construtivo de seu ofício, ao qual é demarcado por uma escrita, que é mediada por uma forma narrativa (ainda que peculiar). De acordo com ele, nas “últimas décadas, os historiadores discutiram muito sobre os ritmos da história [tendo a obra de Fernand Braudel (1902-1985) como base]; [mas] pouco ou nada, o que é significativo, sobre os ritmos da narração histórica” (p.321), com a qual se avolumaram críticas internas (dos próprios historiadores, hávidos por responderem aos céticos) e externas (vindas de críticos literários e filósofos). Por isso, a “crescente predileção dos historiadores por temas (e, em parte, por formas expositivas) antes reservados aos romancistas (…) nada mais é que um capítulo de um longo desafio no terreno do conhecimento da realidade” (p.326). Nesse sentido, Ginzburg responderá a indagação de White (e de François Hartog) se apoiando em Arnaldo Momigliano, ao dizer que:
A recusa, essencialmente relativista, de descer a esse terreno faz da categoria ‘realismo’, usada por White, uma fórmula carente de conteúdo. Uma verificação das pretensões de verdade inerente às narrações historiográficas como tais implicaria a discussão dos problemas concretos, ligados às fontes e às técnicas da pesquisa, a que os historiadores tinham se proposto em seu trabalho. Se esses elementos são desdenhados, como faz White, a historiografia se configura como puro e simples documento ideológico (p.327).
O que ressaltará Ginzburg, lembrando Momigliano, de que os historiadores trabalham com fontes, “descobertas ou a serem descobertas”, e as ideologias contribuem “para impulsionar a pesquisa, mas (…) depois deve ser mantida à distância” (p.328), para que seja mantido o princípio de exposição da realidade, que está na encruzilhada entre a busca da verdade e a criação imaginativa, a que os historiadores estariam, de certo modo, ‘enclausurados’. Esse princípio condicionaria a interligação de todos os momentos do trabalho historiográfico (“da identificação do objeto à seleção dos documentos, aos métodos de pesquisa, aos critérios de prova, à apresentação literária”), aos quais, a redução “unilateral desse entrelaçamento tão complexo à ação imune a atritos do imaginário historiográfico, proposta por White [em Meta-história, de 1973] e por Hartog [em O espelho de Heródoto, de 1980], parece redutiva e, no fim das contas, improdutiva”. Foi precisamente graças aos atritos suscitados pelo princípio de realidade “que os historiadores, de Heródoto em diante, acabaram apesar de tudo se apropriando amplamente do ‘outro’, ora em forma domesticada, ora, ao contrário, modificando de forma profunda os esquemas cognoscitivos de que haviam partido” (p.328). Em resumo, este seria o ponto que uniria os outros quinze ensaios reunidos pelo autor neste livro, e demonstrariam como ao longo do desenvolvimento do ofício de historiador ocorreriam trocas recíprocas no campo estilístico (e, em menor proporção, expositivo dos dados) utilizados pela história, pela literatura e pela filosofia. Embora haja uma interligação entre os textos, verificável facilmente pela maneira como o autor os organizou, tendo em vista uma ordem cronológica crescente de apresentação dos dados do passado e do presente, esta não é totalmente linear como se verá. Ainda assim, dois princípios expositivos seriam plenamente visíveis: a) a do desenvolvimento do método histórico e suas trocas recíprocas com a literatura e a filosofia; b) e, neste movimento complexo, estabeleceria o lugar específico de sua obra nesta contenda, e como se posicionou durante essas últimas décadas. Para ele, a “questão da prova permanece mais que nunca no cerne da pesquisa histórica, mas seu estatuto é inevitavelmente modificado no momento em que são enfrentados temas diferentes em relação ao passado, com a ajuda de uma documentação que também é diferente” (p.334).
Ao evidenciar, no primeiro ensaio, que constatamos como reais os fatos contados num livro de história, como resultado do uso de elementos contextuais e textuais, o autor voltou-se com maior atenção para os textuais, com os quais historiadores antigos e modernos se utilizaram, e por estarem ligados a certos procedimentos literários, que por convenção presumiam estabelecer um ‘efeito de verdade’, em sua narrativa tida como parte essencial de seu ofício. Na Antiguidade Clássica esse componente textual (que daria um ‘efeito de verdade’ no relato escrito), relacionava-se a estratégia então usada de descrever ‘com vividez’ os acontecimentos. Os elos que se estabeleciam neste exercício (narração histórica – descrição – vividez – verdade) constituíam a base da escrita da história na época. Contudo, enquanto neste período, para gregos e para romanos, a verdade histórica se fundava na ‘vividez’ com que os eventos eram narrados, para nós, modernos, o autor dirá que esse efeito é encontrado por meio da utilização e interpretação dos documentos. Para ele, a historiografia moderna nasceria da convergência entre duas tradições intelectuais diferentes, a história filosófica e a pesquisa sobre a Antiguidade. Segundo ele, Momigliano teria notado o início desta mudança, no relato e na prática de pesquisa, no século XVII. Mas Ginzburg a verá no século anterior, por meio da interpretação da obra do italiano Francesco Robortello (1516-1567), que teve, de acordo com o autor, a sensibilidade de descrever parte daquelas alterações. Ao estabelecer o diálogo de Robortello com seus contemporâneos e com os autores da Antiguidade, Ginzburg acredita que demonstrou as raízes de um complexo problema, no qual surgiria à historiografia moderna, ao se distanciar das evidências puramente estilísticas e retóricas, que dariam maior vividez aos acontecimentos narrados, e dar maior atenção às “citações, notas e sinais lingüístico-tipográficos que as acompanham podem ser considerados – como procedimentos destinados a comunicar um efeito de verdade – os equivalentes” (p.37) da ‘vividez’ (a enargeia) na Antiguidade. E que estava ligada a uma cultura baseada na oralidade e na gestualidade, na qual a vividez do relato comunicaria a ‘ilusão’ da presença do passado. Já as citações e as remissões ao texto estarão ligadas a uma cultura dominada pelos gráficos e centrada na escrita, e o passado seria, portanto, “acessível apenas de modo indireto, mediado” pelos documentos. Para o autor foi graças “sobretudo à história eclesiástica e antiquária, [que] a prova documental (…) impôs-se sobre a” (p.38) mera evidência narrativa alcançada pela ‘vividez’ do relato.
A maneira como o francês Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) recolheu de suas experiências de viagem e de suas leituras os ingredientes fundamentais para a elaboração de seus ensaios é, para o autor, um caso exemplar, por que: a) demonstra como nos séculos XV e XVI eram construídas as relações entre ‘brancos’ europeus e ‘índios’ americanos, e, sobre isso, como o autor d’Os ensaios (cuja primeira edição é de 1580) a refez; b) e este transitou entre a ‘vividez’ do relato e a remissão a textos, para a comprovação de seus argumentos (no terceiro ensaio).
O diálogo entre ficção e história (exposto no quarto ensaio) ganhará mais envergadura no século XVII, quando em 1647 na cidade de Paris, Jean Chapelain (1595-1674) passou a avaliá-la em seu texto Sobre a leitura de velhos romances (cuja primeira edição póstuma foi publicada em 1728), ao ter como base o romance Lancelot. A maneira como François de La Mothe Le Vayer (1588-1672), a partir de 1646, tomará partido nesta questão dará ao ensaio um tom detetivesco, principalmente, ao destacar que “uma das tarefas da história é a exposição daquilo que é falso” (p. 90). Para Ginzburg:
Nesse caso, portanto, a distância crítica com respeito à matéria tratada não é obra de Diodoro mas dos seus leitores, sendo o primeiro de todos La Mothe Le Vayer. Para ele a história se nutria não só do falso mas da história falsa – para usar mais uma vez as categorias dos gramáticos alexandrinos retomadas polemicamente por Sexto Empírico. As ficções (…) referidas, e partilhadas, por Diodoro podiam tornar-se matéria de história. Chapelain, que dava um desconto à veracidade de Lívio, entendeu a argumentação do Jugement às ficções (…) de Homero e de Lancelot: ambas poderiam tornar-se matéria de história (p.91).
Mais ainda:
A fé histórica funcionava (e funciona) de modo totalmente diferente. Ela nos permite superar a incredulidade, alimentada pelas objeções recorrentes de ceticismo, referindo-se a um passado invisível, graças a uma série de oportunas operações, sinais traçados no papel ou no pergaminho, moedas, fragmentos de estátuas erodidas pelo tempo, etc. Não só. Permite-nos, como mostrou Chapelain, construir a verdade a partir das ficções (…) a história verdadeira a partir da falsa (p.93).
A partir da análise do milanês Girolamo Benzoni (1519-1570) em A história do novo mundo (de 1565), e suas implicações perante a compreensão do xamanismo e do uso de produtos entorpecedores na Europa, Ginzburg procurou demonstrar, ao relacioná-la a História geral e natural das Índias de Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), cuja primeira edição foi publicada em 1535, e aos débitos comuns destes autores para com Pomponio Mela e Solino sobre os trácios e Máximo de Tiro sobre os cita, que estão, por sua vez, relacionados a Heródoto, não deixa de ser tão surpreendente, quando se visualiza as possíveis raízes mongólicas e orientais dos rituais xamânicos dos citas, cujos autores do século XVI os aproximaram do xamanismo americano. Com isso, o autor observa que o “episódio interpretativo que reconstruí com minúcia talvez excessiva pode ser considerado quase banal: não a exceção, mas a regra” (p.111) para a construção e compreensão de qualquer processo histórico, que é matizado por testemunhos e esquecimentos, trocas recíprocas e inovações (algumas vezes até inesperadas).
A leitura de Eric Auerbach empreendida em Mímesis (obra pioneira, cuja primeira edição foi publicada em 1946) sobre Voltaire, é refeita por Ginzburg (no sexto ensaio) para demonstrar os contextos de ambos os autores e seus respectivos textos, suas leituras e seus débitos, com vistas a indicar como o estranhamento era uma estratégia estilística que Voltaire, inspirando-se em Swift, utilizava-se para propor uma representação sobre a realidade de sua época, na qual a diversidade cultural e religiosa, começava a ser homogeneizada, em função da ação da economia e do mercado mundial. Tal questão demonstraria as metamorfoses sobre a maneira com que Voltaire compreendeu a tolerância, e a forma como Auerbach a despercebeu em sua época.
O texto de Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795) sobre a Viagem do jovem Anacársis à Grécia (de 1788) foi utilizado pelo autor (no seu sétimo ensaio) para demonstrar a inatualidade de sua estratégia narrativa, que não foi “nem um tratado sistemático de antiquariato, nem uma narrativa histórica” (p.146), mas teve uma inspiração direta nos antiquários, verdadeiros e falsos, e não nos historiadores que começavam a falar da realeza e de sua autoridade. Mesmo procurando documentar as indicações de seu texto (com mais de 20 mil notas, como lembrará Ginzburg), o trabalho de Barthélemy, em sua “híbrida mescla de autenticidade e ficção” procuraria superar os limites da historiografia existente. Mas durante seu processo de elaboração surgiria um outro texto, Declínio e queda do Império Romano, de Edward Gibbon (1737-1794), que se utilizaria da mesma cultura antiquária que inspirou Barthélemy, e a complementaria com outros elementos, como as idéias filosóficas de sua época, e que o tornariam o fundador da historiografia moderna “por ter sabido fundir antiquariato e história filosófica” (p.153). Nesse sentido, o caminho tomado por Barthélemy, que “propunha a fusão entre antiquariato e romance”, foi uma estratégia, em longo prazo, perdedora, e hoje, para o autor, inatual, mas que nem por isso deixaria de ser “um antepassado involuntário [da etnografia histórica, prática] de antropólogos ou pesquisadores, mais próximos de nós” (p.153).
Para contornar as críticas pós-modernas “de abolir a distinção entre história e ficção” (p.157) ele partiu (no oitavo ensaio) de um caso analisado em escala microscópica, para “decifrar a identificação de Julien Sorel com Israël Bertuccio à luz dessa leitura verossímil” (p.159), da obra, Marino Faliero, de George Gordon Byron (1788-1824), escrita em 1820, para chegar a conclusões análogas. O que na época Lord Byron (forma como era mais conhecido) via como a análise de ‘fatos reais’, para nós pertenceriam ao mundo da ficção literária, mas “justamente porque é importante distinguir entre realidade e ficção, devemos aprender a reconhecer quando uma se emaranha na outra” (p.169). Nesse caso, o exemplo de Marino Faliero permitiria que se observassem os contornos entre realidade e ficção, e as mudanças que se operaram nessa relação, nas primeiras décadas do século XIX, quando a historiografia moderna passará a circunscrever e circunstanciar as regras do método histórico, e a delinear as restrições e diferenças da escrita da história sobre a criação ficcional dos romances.
Ainda seguindo por esses rastros, o autor verá o desafio lançado por Henri-Marie Beyle (1783-1842), mais conhecido como Stendhal, aos historiadores em seu ‘romance’ O vermelho e o negro, que era “uma representação pontual da sociedade francesa sob a restauração” (p.178), e que será, depois, visto como uma construção (puramente) literária, não deixa de ser também um caso exemplar (quando cotejou seu processo de elaboração e a possível data de sua conclusão e publicação). Em especial, porque mostra como o ‘discurso direto livre’ foi descartado pela pesquisa histórica, por não deixar, por definição, traços documentais. Por isso, “um procedimento como o discurso direto livre, nascido para responder, no terreno da ficção, a uma série de perguntas postas pela história, pode ser considerado um desafio indireto lançado aos historiadores” e ao qual o autor acrescenta: “Um dia eles poderão aceitá-lo de uma maneira que hoje nem conseguimos imaginar” (p.188).
No rastro da interpretação de Eric Hobsbawm, em sua autobiografia Tempos interessantes (publicada em 2002), na qual indica uma transição subterrânea em processo, tal qual a que ocorreu durante o período de 1890 a 1970, entre os procedimentos da história dos eventos políticos para a história social, em função das críticas efetuadas pelos historiadores ‘modernizadores’ sobre os ‘tradicionais’ que se deu àquela mudança epistemológica, que Ginzburg se voltará para a gênese da micro-história italiana (no décimo terceiro ensaio). Por Hobsbawm o ter inserido dentro da análise pós-moderna, crítica quanto aos procedimentos da história, que este irá reconstituir o desenvolvimento da micro-história italiana, com vistas a demonstrar que mesmo inserido neste campo de estudo (e não na macro-história econômica e social, defendida por Hobsbawm) não deixou de refutar as críticas dos céticos, pós-modernos. Por isso refez o caminho trilhado pela micro-história, desde os anos de 1970, quando com Giovanni Levi passaram a discutir a questão. Ao mesmo tempo indicou a gênese do termo ‘micro-história’ no campo das ciências humanas. De George R. Stewart (que primeiro se utilizou da noção em 1959) a Luis González y González (que a usou em sua obra Uma aldeia em tumulto em 1968), perpassando pelas obras de Raymond Queneau, Primo Levi, Ítalo Calvino, Andréa Zanzotto, Richard Cobb, Emmanoel Le Roy Ladurie, François Furet e Jacques Le Goff, as reviravoltas das discussões sobre a compreensão do termo foram diversas. E a maneira pela qual a micro-história italiana se desenvolveu foi diversa e independente da maneira como ocorreram as discussões na Inglaterra e na França.
Dito isto, convém destacar que ao lado desta reconstituição da história do ofício de historiador, o autor insere um conjunto significativo de exemplos, para discutir as bases da pesquisa histórica, e responder e refutar as críticas pós-modernas à escrita da história (ao rever os conceitos de verdade, autenticidade, testemunho, provas, documento, narrativa, cientificidade e realidade). Da conversão dos judeus (cap.2) de Minorca em 417-8, que se seguiu à chegada das relíquias de santo Estêvão, descritas por Peter Brown em O culto aos santos (de 1981); as relações (apresentadas no cap.10) entre o Diálogo no inferno entre Maquiavel e Montesquieu de Maurice Joly (lançado anonimamente em Bruxelas em 1864) e os Protocolos dos sábios de Sião, de 1903, em que uma “refinada parábola política se transformou numa tosca falsificação” (p.209); aos testemunhos individuais que expressavam a única versão sobre acontecimentos traumáticos emitida pelo sobrevivente, o princípio de realidade é o centro da discussão (no cap.11); a maneira como Siegfried Kracauer, em sua obra póstuma História: as últimas coisas antes das últimas, lançada em 1995, na qual o autor estabelece uma reconstrução dinâmica e recíproca entre história e fotografia (e cinema) (no cap.12); até as discussões sobre as proximidades e diferenças entre o inquisidor e o antropólogo na coleta e organização dos testemunhos (cap.14), e as relações entre a feitiçaria e o xamanismo (cap.15), o que se verá será uma discussão que, no rastro da obra póstuma de Bloch, demonstrará, na contramão da crítica pós-moderna, que o princípio de realidade ainda constitui um campo legítimo da pesquisa histórica, e em seu processo construtivo, continua a manter uma ligação estreita entre verdade e provas.
Naturalmente, que pelo que até aqui foi dito, muitos poderão acusar Carlo Ginzburg de ser um (mero) atualizador dos antiquários dos séculos XVII e XVIII. Que seu método expositivo é impreciso, às vezes exagerado, ao apontar continuidades e descontinuidades milenares entre diferentes posturas teóricas, ou entre certos costumes, formas de agir e pensar, dos homens e das mulheres de outrora, como já indicou Perry Anderson,2 ressaltando que a “explicação que ele oferece é convencional e descuidada – pouco mais do que referências genéricas” (p.88). Ao empreender sua resposta ao desafio ‘cético’, dito ‘pós-moderno’, Carlo Ginzburg alerta para a necessidade de maior precisão do método e das pesquisas documentais, as quais favoreceriam a elaboração das ‘provas’, quando expostas em uma narrativa. Talvez seja o que indica, ao dizer que sabendo “menos, estreitando o escopo de nossa investigação, nós esperamos compreender mais”3 Contudo, seu método não passou ileso, mesmo entre os historiadores profissionais,4 o que não quer dizer que sua contribuição tenha sido irrelevante,5 tanto para a renovação dos estudos históricos, quanto para o desafio lançado pela ‘virada lingüística’, nos anos de 1960 e 1970, e que ele avança ainda mais neste livro.
1 GINZBURG, C. Olhos de madeira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. [ Links ] 2 ANDERSON, P. Investigação noturna: Carlo Ginzburg. In:. Zona de compromisso. Tradução Raul Fiker. São Paulo: Edunesp, 1996, p.67-98. [ Links ] 3 GINZBURG, C. Latitudes, escravos e a Bíblia: um experimento em micro-história. Revista Artcultura, UFU, v.9, n.15, p.86, 2007. [ Links ] 4 ANDERSON, P. Investigação noturna: Carlo Ginzburg, p.67-98. [ Links ] 5 LIMA, H. E. A micro-história italiana: escalas, indícios e singularidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. [ Links ]
Diogo da Silva Roiz– Doutorando em História da Universidade Federal do Paraná. Rua Tibagi, n. 404, Edifcio Aruanã, ap. 100, Centro, Cep. 80060-110. Curitiba/PR. diogosr@yahoo.com.br.
Crônica, memória e história: formação historiográfica dos sertões da Bahia – NEVES (RHR)
NEVES, Erivaldo Fagundes. Crônica, memória e história: formação historiográfica dos sertões da Bahia. Feira de Santana: UEFS Editora, 2016. Resenha de: MARTINS, Flavio Dantas. Revista de História Regional, v.24, n.1, p.213-221, 2019.
O livro Crônica, memória e história: formação historiográfica dos sertões da Bahia1, do professor da Universidade Estadual de Feira de Santana Erivaldo Fagundes Neves, a principal referência para pesquisa em história dos sertões da Bahia, é um livro esperado para aqueles que acompanham a produção do autor. Erivaldo Neves já havia abordado o tema de teoria e metodologia da história regional2, que complementava e desenvolvia argumentos apresentados em texto sobre corografia e historia regional.3 Crônica, memória e história abrange estes estudos e contempla as incursões do autor aos temas da escravidão4, história regional e local7 desde o período colonial, passando pelo império e república, até a produção contemporânea. Além de um exaustivo levantamento bibliográfico, o trabalho é um comentário desenvolvido para o longo percurso de textos históricos apresentados.
A obra tem um prefácio do professor Paulo Santos Silva da UNEB, uma introdução, considerações finais e se divide em três partes, i) leituras sobre a colonização dos sertões baianos, ii) as crônicas, memórias e histórias sobre os mesmos no império e primeira república e iii) as perspectivas historiográficas posteriores a 1930, todas subdivididas em seções. Crônica, memória e história se justificaria por várias razões, mas julgamos duas de vulto: a tipologia apresentada para um extensivo levantamento de textos sobre os sertões baianos que abrange cinco séculos e a história do pensamento histórico sobre um tema que se desenvolve desde crônicas e memórias até uma historiografia técnica e disciplinar produzida em programas de pós-graduação em história de universidades. A polissemia do livro revela a paciência com a qual o mesmo foi gestado: o livro é resultado de um projeto de 25 anos que se desdobrou em outros trabalhos do autor, cuja obra é referência para uma geração de historiadores dos sertões baianos que lhe seguiram e que retornaram ao livro como exemplares de novas perspectivas historiográficas.
Vamos às partes. A primeira delas recua para crônicas, registros históricos e memórias coloniais sobre os sertões baianos. Aqui a produção textual que versa sobre o tema se confunde com a escrita da história no período colonial e são comentados Gabriel Soares de Souza, frei Martinho de Nantes, André Antonio Antonil, Miguel Pereira da Costa, Joaquim Quaresma Delgado, Sebastião da Rocha Pita, Luiz dos Santos Vilhena, entre outros. Além da exegese dos trabalhos destes autores no tocante ao que escreveram sobre os sertões baianos, Erivaldo Neves embasa seus comentários na historiografia contemporânea que investiga temas correlatos.
A segunda seção aborda os trabalhos escritos no Império sobre a colonização, se detém especialmente em estudo das memórias históricas e políticas da Província da Bahia de Ignácio Accioli de Cerqueira da Silva. Para Erivaldo Neves, faltam obras abrangentes com a pretensão do trabalho de Ignácio Accioli e a já datada e importante reedição comentada de Braz do Amaral demandaria uma nova edição crítica desse texto fundamental para a história da Bahia e dos seus sertões, bem como de sua importância como empreendimento historiográfico.
A seguir, Neves trata das obras históricas sobre a colonização dos sertões produzidas na primeira república. É uma seção que inicia com a análise da obra de João Capistrano de Abreu, e Basílio de Magalhães. O autor destaca a importância do discurso histórico do bandeirante teve na historiografia sobre os sertões baianos devido a centralidade paulista na primeira república. O historiador Pedro Calmon é abordado como alguém que dialogará com o pensamento histórico paulista, sobretudo a partir dos anos 1920, no tema do bandeirantismo, entre outros de sua vasta obra. Neves também analisa a obra de Urbino Viana. É desse período, destaca o autor, que começa uma repetição de “informações sem origem conhecida” retiradas das obras de Francisco Borges de Barros12.
Na seção posterior Erivaldo Neves apresenta as leituras históricas sobre a colonização entre as décadas de 1930 e 1960, levando em conta o contexto de produção, a recepção que fazem dos trabalhos que lhes precederam, sua inovação, sobretudo conceitual e metodológica e dialogando com a bibliografia contemporânea sobre o tema. Nesse período surge um gênero novo de escrita, chamada pelo autor de memória histórico-descritiva de municípios baianos. São analisadas mais detidamente as obras de Pedro Celestino da Silva sobre Caetité, Lycurgo de Castro Santos Filho sobre a fazenda Campo Seco em Rio de Contas. Nesse período, em decorrência da profusão, Erivaldo Neves analisa com mais atenção obras que representaram inovação teórica e metodológica, caso do estudo de Santos Filho que é uma história do cotidiano de uma fazenda no sertão riquíssima em dados empíricos graças à excepcionalidade dos registros particulares que teve acesso. É desse período em que pautas como a questão Nordeste e a questão hidráulica de aproveitamento do rio São Francisco ganham importância, e o pensamento histórico regional floresce.
São testemunhos dessa época de busca por definições regionais, embora sejam produções às vezes demasiado frágeis em termos metodológicos e empíricos, alguns estudos apresentados no Congresso de História da Bahia13 ou dos trechos sobre história dos municípios nos verbetes da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros do IBGE14
No última seção da primeira parte, Erivaldo Neves trata das elaborações historiográficas sobre a colonização posteriores a 1970. Nesse período marcado pela profissionalização da historiografia, pelo aumento quantitativo da produção, pelas modificações dos enfoques temáticos que deixam de lado a prioridade sobre a nação, a região e o município, surgem novas abordagens teóricas e metodológicas e uma profícua historiografia sobre os sertões baianos do período colonial, embora ainda relativamente limitada se comparados com outros períodos. Nesse capítulo, Erivaldo Neves resenha uma profusão de dissertações e teses que revelam os enfoque plurais que as inovações da pesquisa historiográfica permitiram no tratamento do passado colonial dos sertões.
A segunda parte do livro do livro trata da produção de pensamento histórico sobre o império e a primeira república. Erivaldo Neves inicia com uma seção sobre as crônicas e memórias históricas produzidas durante o período. Aborda autores como Tranquilino Leovigildo Torres, Gonçalo de Athayde Pereira, João Paulo da Silva Carneiro, Francisco Borges de Barros e mesmo a inusitada memória de Anísio Teixeira sobre o sertão. A análise de Francisco Borges de Barros é importante porque Erivaldo Neves identifique nele a fonte para vários autores posteriores que tomaram suas metáforas como fatos – por exemplo, Antonio Guedes de Brito ter sido o regente do São Francisco – ou mesmo reproduzirem suas afirmações sem embasamento documental. O autor desenvolve uma discussão sobre os desenvolvimentos teóricos e metodológicos da ciência histórica no império e na primeira república, o desenvolvimento institucional e as influências dos autores que trabalharam nesse período sobre o sertão baiano, destacando o IHGB e o IGHB.
Na seção seguinte, Neves trabalha com as crônicas e memórias produzidas após 1930 sobre os sertões baianos do período imperial e da primeira república. Ele destaca a influência da retórica euclidiana nas construções narrativas. Aí são analisados Wilson Lins, Marieta Lobão Gumes,
Flávio Neves, Helena Lima Santos, Mozart Tanajura e Pedro Pereira e seus escritos sobre o médio São Francisco, Caetité, Brumado e Livramento. Depois, Neves trata da historiografia posterior a 1930 e destaca a importância inicial, de Caio Prado Júnior. São analisados os trabalhos de Walfrido de Moraes, Américo Chagas, Fernando Machado Leal, todos sobre a Chapada Diamantina, e destaca o estudo de Eul-Soo Pang sobre o coronelismo baiano15. A seguir, uma profusão de artigos, teses e dissertações é comentada pelo autor – a seção tem o total de 76 páginas – agrupando-as em textos sobre coronelismo e poder local, economia, ocupação, desenvolvimento de comunidades rurais e municípios, conflitos sociais, entre outros temas. A novidade é o desenvolvimento de programas de pós-graduação em história, inicialmente em Salvador, mas não só já que muitos trabalhos foram desenvolvidos em outras universidades, e posteriormente nos programas de pós-graduação nas universidades estaduais sediadas em Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus, além de cursos universitários de história em Vitória da Conquista, Alagoinhas, Itabuna, Conceição do Coité, Jacobina, Eunapólis, alguns deles com mestrados interdisciplinares que abrangem pesquisa histórica ou mestrado em história. Neves destaca a importância da interiorização do ensino universitário para a pesquisa histórica.
A terceira parte do livro trata das perspectivas historiográficas posteriores a 1930 sobre os sertões da Bahia. A primeira seção aborda as crônicas, memórias históricas sobre o período posterior a 1930 e inicia com algumas páginas sobre da questão do rio São Francisco a partir das memórias de Manoel Novaes, recuperando outros estudos sobre o rio desde o século XIX – como Orvile Derby, Teodoro Sampaio – passando pelos contemporâneos de Novaes como Geraldo Rocha e Wilson Lins. Em outra seção, Neves analisa os estudos técnicos sobre o período posterior a 1930 com destaque para pesquisadores oriundos dos Estados Unidos, como Rollie Poppino, Charles Wagley, Donald Pierson em colaboração com pesquisadores brasileiros como Thales de Azevedo, Eduardo Galvão e Luiz Antônio da Costa Pinto. Também são abordados estudos técnicos da Comissão de Planejamento Econômico da Bahia e pesquisas acadêmicas sobre o período.
As duas últimas seções abordam os fundamentos historiográficos entre o período 1930 e 1970 e as perspectivas historiográficas desde 1970, destacando a profissionalização da pesquisa histórica, o desenvolvimento de programas de pós-graduação e a diversificação e sofisticação conceitual e metodológica ocorridas no campo. Mais uma vez, Neves analisa livros, artigos, dissertações, teses e outros tipos de trabalho, especialmente as crônicas e memórias que não cessam de aparecer, mas se desenvolvem em paralelo à pesquisa acadêmica, sobre temas diversos como independência, escravidão, ocupação, modernização, família escrava, negros no pós-abolição, redes familiares, religião, cotidiano, vida material, relações de gênero, poder local, secas, mineração, identidades nos sertões baianos, entre outros temas.
Percebemos algumas questões importantes que podem ser levantadas pelo livro de Erivaldo Neves. Primeiro, a problemática do sertão, investigada não só pelos historiadores, mas também pela literatura e antropologia. Percebemos no exaustivo levantamento do autor, considerado “introdutório” pelo mesmo16 a crescente mudança que há entre o sertão pelo olhar estrangeiro, especialmente na colonização e no império, quando os produtores de textos são estranhos aos espaços objeto do discurso, e o sertão que fala de si, sobretudo no século XX, com destaque para a crescente lavra feita por historiadores oriundos dos sertões, caso do próprio Erivaldo Neves. Embora seja um dos temas fundamentais do pensamento nacional e há muita gente que ainda o aborda numa perspectiva exógena, inclusive autores que nasceram nas áreas consideradas sertanejas, a pesquisa de Erivaldo Neves parece indicar uma transição de uma identidade atribuída para uma identidade reivindicada. Quando a identificação de sertão e sertanejo é exógena, os sertanejos são simplórios, violentos, incivilizados – incivilizáveis para alguns autores -, exóticos, folclorizados e romantizados. Com a proliferação dessa identidade reivindicada, a fala de dentro do sertão aos poucos vai abandonando os estereótipos herdados dessa literatura anterior, sobretudo os euclidianos, e vai ganhando complexidade, sofisticação, contradição e conflito. O final da linha é o desaparecimento do sertão e a multiplicação dos sertões cada vez menos sertanejos e mais barranqueiros, catingueiros, brejeiros, alto-sertanejos, geraizeiros, quilombolas, serranos, chapadenses entre outros. O trabalho particular, sobre o pensamento histórico acerca dos sertões baianos, permite uma formulação de uma hipótese geral, a transição entre a identidade atribuída ao outro pelo olhar estrangeiro para uma identidade reivindicada – que reconstrói-se numa diversidade de formas a partir das atualizações dos conflitos – pelos olhares de dentro do sertão.
Essa transição ocorre, na hipótese aqui levantada a partir da análise de Crônica, memória e história de Erivaldo Fagundes Neves, pela apropriação por parte dos sujeitos internos aos sertões, inicialmente das classes médias e abastadas, posteriormente das classes subalternas, daquilo que Johann Michel chama de tecnologias discursivas de si17.
A partir de uma síntese das contribuições de Michel Foucault e Paul Ricoeur, Michel define a tecnologia discursiva de si como a capacidade de formulação de uma identidade narrativa individual ou coletiva a partir de uma configuração poética que inova ao mesmo tempo em que se utiliza do acervo cultural disponível para o autor enquanto leitor e agente do mundo. Daí a importância decrescente de Euclides da Cunha para as identidades narrativas reivindicadas que em algum momento, em alguns textos e autores, reproduzem estereótipos, mas devido a influências externas, terminam por criticá-los e expurgá-los das definições de sertão. Erivaldo Neves destaca que as primeiras elaborações do século XX eram influenciadas pela retórica euclidiana, mas ela perde relevo à medida em que as novas produções, sobretudo as acadêmica, se ancoram em conceitos, teorias e metodologias produzidas na disciplina da história e em outros campos do conhecimento, o que contribui para a complexificação e sofisticação dos sertões como objeto de estudo histórico. Com isso não pretendemos que a produção historiográfica seja apenas entendida como uma expressão identitária. Ao contrário, é a história que é demandada pela identidade narrativa de modo que aquela lhe fundamente, isso ocorre tanto no sentido de demandar um modo de escrita, quanto na própria interpretação realizada na leitura da obra. Quando poucos podiam escrever e dispunham de poder de representar os outros que não podiam ser representados, aí tínhamos uma identidade atribuída no sentido de estabelecimento de características homogêneas a grande grupo humano. Com o desenvolvimentismo da historiografia e com a democratização da escrita, as novas produções historiográficas implodiram a identidade do sertão e do sertanejo. No lugar do idêntico, estabeleceram o diverso e substituíram o local pelo universal, o singular pela pluralidade. Ao mesmo tempo, negar a existência de vínculos entre essa produção historiográfica interna dos sertões e processos de luta e resistência que passam pela reivindicação de identidades e busca por reconhecimento – não mais representadas por outros, mas capazes de se representar – seria ocultar uma das forças motrizes da demanda por novas histórias que são as transformações do presente que exigem novas narrativas.
É possível, graças à tipologia da pesquisa de Neves, perceber como mesmo os primeiros sertanejos que produzem isso que chamamos de identidade reivindicada, já no século XX, como Geraldo Rocha, Anísio Teixeira ou Wilson Lins, eram oriundos dos grupos dominantes daquilo que em outro estudo Neves chamou de “oligarquia fardada”18
Com o passar dos anos, acessam ao universo da produção escrita da história novos sujeitos, de classe média rural e urbana, mas também das classes populares. A sofisticação e diversificação da escrita sobre o passado dos sertões vem também da mudança dos sujeitos que a escrevem, agora destacando-se mulheres, mas também filhos e netos dos vaqueiros, remeiros, quilombolas, trabalhadores rurais e das pequenas cidades e vilas.
O livro também instiga uma reflexão conceitual importante. Neves define a crônica como “registro de fatos em ordem cronológica”, recurso muito utilizada no período colonial para a produção de conhecimentos sobre os sertões para fins políticos e administrativos da Coroa19
Ao contrário, memória já é um conceito mais problemático. Neves a define como “capacidade intelectual fundamentada em um conhecimento que permite sistematizar informações, através das quais se podem atualizar impressões ou saberes do passado, tanto individuais quanto coletivos”.20
A dificuldade reside em utilizar o termo que define uma faculdade mental para designar um gênero de escrita da história distinto da história ou historiografia – mais técnicas e institucionalizadas, digamos assim – e da crônica. O uso do termo memorialista, para designar um escritor que produz textos que não são nem história, nem crônica, dá uma definição mais precisa que a utilização de memória para o gênero, mas não exclui a problemática de encaixar textos individuais na tipologia. Para textos distanciados no tempo, podemos perceber principalmente um registro escrito do passado a partir de uma memória individual e/ou coletiva, sem esmero técnico ou metodológico com pretensões objetivas para além da verdade do testemunho, mas o mesmo não pode ser dito para textos produzidos mais recentemente. Com o surgimento de um campo disciplinar da história e um mercado editorial de nicho, muitos escritores que preocupam-se em registrar suas histórias municipais a partir de uma memória individual e coletiva terminam por ler de forma assistemática obras históricas e realizarem pesquisas documentais. Se esses textos não podem ser considerados historiografia devido à ausência do crivo dos pares – geralmente os memorialistas lançam obras com edição do autor – por meio de bancas, congressos ou avaliação em periódicos ou por pareceristas anônimos, não é possível dizer que estes alguns desses textos não obedecem a certa “operação historiográfica”, já que há pesquisa de documentos, confronto de testemunhos e uso de metodologias ou conceitos explicativos. Daí, talvez, tratarem-se de memórias híbridas com a história acadêmica, para além de testemunhos ou registros de memórias comunitárias compartilhadas – ainda que selecionadas às conveniências dos interesses e da visão de mundo do autor. Todavia, isso trata-se apenas de um levantamento de hipótese a partir da leitura do livro de Neves e não da identificação de uma lacuna. Apenas pesquisas mais pormenorizadas desse gênero poderiam confirmar essa afirmação. Outra dificuldade adicional é que o termo memória, utilizado para gênero de escrita, tem o problema de não distinguir um registro de testemunho pessoal ou familiar de uma pretensa história municipal.
Memória, crônica e história local de Erivaldo Fagundes Neves é uma contribuição relevante para a história da historiografia e obra que deve se tornar referência para pesquisadores dos mais diversos campos que tenham os sertões baianos – ou fronteiriços – como objeto de estudo.
Notas
2 NEVES, Erivaldo Fagundes. História regional e local: fragmentação e recomposição da história na crise da modernidade. Feira de Santana: UEFS; Salvador: Arcádia, 2002.
3 NEVES, Erivaldo Fagundes. Narrativa e interpretação: da corografia à história regional e local. In ARAÚJO, Delmar Alves de; NEVES, Erivaldo Fagundes; SENNA, Ronaldo de Salles. Bambúrrios e quimeras (olhares sobre Lençóis: narrativa de garimpos e interpretações da cultura. Feira de Santana: UEFS, 2002.
4 NEVES, Erivaldo Fagundes. Escravidão, pecuária e policultura: Alto Sertão da Bahia, século XIX. Feira de Santana: UEFS Editora, 2012 , ocupação territorial5 5 NEVES, Erivaldo Fagundes. Estrutura fundiária e dinâmica mercantil: Alto Sertão da Bahia, séculos XVIII e XIX. Salvador: EDUFBA, 2005. , caminhos coloniais6 6 NEVES, Erivaldo Fagundes; MIGUEL, Antonieta (org.). Caminhos do sertão: ocupação territorial, sistema viário e intercâmbios coloniais nos sertões da Bahia. Salvador: Arcádia, 2007.
7 NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio (um estudo de história regional e local). 2 ed. Revista e ampliada. Salvador: EDUFBA; Feira de Santana: UEFS Editora, 2008. , cultura8
8 NEVES, Erivaldo Fagundes. O Barroco: substrato cultural da colonização. Politeia: História e sociedade. Vitória da Conquista, 2007, vol. 7, n. 1. , sertão9
9 NEVES, Erivaldo Fagundes. Sertão recôndito, polissêmico e controvertido. KURRY, Lorelai Brilhante (org.). Sertões adentro: viagens nas caatingas séculos XVI a XIX. Rio de Janeiro: Andrea Jakobson, 2012 , história da família, pecuária10
10 NEVES, Erivaldo Fagundes (org.). Sertões da Bahia: formação social, desenvolvimento econômico, evolução política e diversidade cultural. Salvador: Arcádia, 2011. e historiografia11
11 NEVES, Erivaldo Fagundes. Perspectivas historiográficas baianas: esboço preliminar de elaborações recentes e tendências hodiernas de escrita da História da Bahia. In: OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos (org.); REIS, Isabel Cristina Ferreira dos (org.). História regional e local: discussões e práticas. Salvador: Quarteto, 2010.
12 NEVES, Crônica, memória e história, op. cit. p. 100.
13 IGHB – Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Anais do Primeiro Congresso de História da Bahia. Salvador: Tipografia Manú Editora Ltda, 1955. 5 volumes.
14 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Rio de Janeiro: Edição do IBGE, 1957. 36 volumes.
15 NEVES, op. cit. p. 211.
16 NEVES, op. cit. p. 15,
17 MICHEL, Johann. Sociologie du soi – essais d’herméneutique appliquée. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2012. p. 60.
18 NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio (um estudo de história regional e local). op. cit. .
19 NEVES, Crônica, memória e história, op. cit. p. 18 .
20 NEVES, Crônica, memória e história, op. cit. p. 16.
Flavio Dantas Martins – Doutorando em História pela Universidade Federal de Goiás. Professor do Centro das Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E-mail: flaviusdantas@gmail.com.
Um historiador fala de teoria e metodologia, ensaios | Ciro Flamarion Cardoso
São poucos os historiadores brasileiros que podem apresentar uma produção tão rica e diversificada quanto o professor Ciro Flamarion Cardoso. Parte de sua vida foi vivida fora do Brasil, à época da ditadura militar e, contudo a sua presença foi marcante na formação de uma geração que leu e refletiu o Métodos da História, seus escritos sobre o trabalho escravo na antiguidade e Uma Teoria da História. Em suas obras nota-se uma constante critica à pequena importância que o estudo da filosofia tem recebido na formação dos historiadores no Brasil. Essa preocupação teórica o levou a refletir, com outros autores, em Caminhos da História.
Após os eventos do final dos anos oitenta, ocorreu a debandada dos historiadores para fora dos caminhos da interpretação marxista da história. Ciro Flamarion é um dos raros que mantém a sua adesão àquele método de estudo, àquela filosofia explicativa da história. Assim, não surpreende a edição desses ensaios, produzido ao longo de doze anos, resultado de suas reflexões e perplexidades, advindas de sua prática docente.
Pouco avesso aos salameques e ao culto das novidades por serem novidades, o autor de Um Historiador fala de teoria e metodologia, continua fiel ao viés fundamental de sua obra. Ciro nos mostra como ele continua capaz de dialogar com o mundo e apresenta o marxismo como ainda capaz de dar conta da complexidade que estudos setoriais não conseguem, segundo ele, enfrentar plenamente.
Dividido em quatro partes, o livro organiza didaticamente os grandes temas que estudos históricos enfrentam atualmente. Na primeira parte, composta por dois capítulos, o Autor dedica-se a debater as novas perspectivas e compreensão do Tempo e do Espaço para a História, dedicando um capítulo para o debate sobre a construção do espaço, nesses novos tempos em que as realidades parecem estar cada vez compressas e em que os limites geográficos, definidos matemática e geometricamente no final do século XIX, mostram-se ineficazes para a compreensão das políticas atuais dos países e estados.
A segunda parte é dedicada ao acompanhamento do debate epistemológico atual, com destaque especial ao anti-realismo do pensamento histórico contemporâneo e sobre a influência negativa que o Autor entende que as teorias do conhecimento exercem na atual produção histórica no Brasil. Talvez seja a sua adesão incondicional ao marxismo que o impeça de olhar com maior simpatia a atual produção vinda dos programas de pós-graduação das universidades, talvez muito ávidas por aceitar as novidades conseqüentes das contradições européias, aceitas sem o respaldo de um estudo filosófico que seja capaz de assumir as novas tendências sem superar simples macaqueação própria do novidadeirismo.
A terceira parte é dedicada à reflexão do pensamento histórico e ao debate historiográfico contemporâneo. Embora instigante, essa parte pode ser apontada como frustrante por limitar esse debate apenas até os anos trinta. Esperava-se mais, na reflexão sobre a atual produção, essa que vem desde a segunda metade do século. Mas, talvez, com esse enorme hiato, o autor queira nos dizer que não ocorreu ainda uma real e nova interpretação da história brasileira, nem universal, além daquelas que foram apresentadas nas primeiras décadas do século XX, pouco importando que seja uma história produzida nos limites do Brasil ou além deles. Seria isso produzido pela quebra dos paradigmas, pela queda física, antes da metáfora, do muro que separavam as duas maiores experiências políticas ideológicas do século findo há quase uma década, ou a duas décadas, como quer um outro historiador marxista, Eric Hobsbawm. Interessante capítulo, desta parte, é quando nosso Autor quase se transforma em perscrutador do futuro ao discorrer sobre “que história convirá ao século 21” e reflete sobre como a crise dos paradigmas, o cultivo quase niilista da dúvida permanente e da certeza de que só a dúvida existe pode levar os historiadores a perder a perspectiva, atolando-se nos mais diversos solipsismos.
A parte quarta desse livro é dedicada a debater questões mais setorizadas tanto quanto à teoria quanto ao método histórico. No nono capítulo estão abordadas questões atuais no debate sociológico, político e histórico, referindo-se mais diretamente às questões étnicas, tão pungentes e atraentes numa globalização na qual para não se tornarem massas liquidas, voltam-se a paradigmas pré-modernos vestidos em vistosas roupagens pós-modernosas, escondendo nas colorações cintilantes, ranços de racismos que podem fazer retornar com mais tragicidade situações aparentemente vencidas em meados do século XIX. Capítulo muito interessante é o dedicado à chamada História das Religiões, uma quase ciência e uma quase teologia, ou uma teologia que não quer dizer-se como tal. Para ele muitos dos que se dizem historiadores das religiões, deixaram-se seduzir pelos mistérios que atraem os crentes, esquecendo-se dos problemas que são os verdadeiros interesses do historiador, do cientista. Ao crente basta a admiração e contemplação da verdade religiosa, ao historiador a admiração serve apenas de pretexto para iniciar a busca do entendimento de porque homens e mulheres, em determinados tempos e lugares, criaram sistemas e necessitaram afirmar que esses sistemas foram doados gratuitamente por alguma entidade não humana, mas superior aos homens e mulheres Tais adesões à pseudociência História das religiões só é possível pela negativa em abordar os problemas humanos a partir de sua materialidade.
A leitura dos Ensaios contidos em Um historiador fala de teoria e metodologia é interessante àquele que já se encontra na militância da história, seja como professor apenas, seja como professor, pesquisador e historiador. Para os que estão iniciando-se nos afazeres do historiador, essa é uma leitura obrigatória. Nela ocorrerá o encontro com um permanente estudioso da história, e um constante enamorado pelas criações dos homens que vivem as contradições das sociedades que criam e na qual vivem.
Severino Vicente da Silva – Professor adjunto, atuante no programa de pós-graduação do Departamento de História da UFPE.
CARDOSO, Ciro Flamario. Um historiador fala de teoria e metodologia, Ensaios. Bauru, SP: Edusp, 2005. Resenha de: SILVA, Severino Vicente da. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.26, n.1, p. 262-265, jan./jun. 2008. Acessar publicação original [DR]
Método Histórico – FREITAS (BC)
BIBLIOGRAFIA Comentada explora problemas de método da pesquisa histórica e divergentes concepções de crítica historiográfica, sobretudo, entre os historiadores por formação. Foram 20 os livros de Teoria da História e de Metodologia da História publicados nos últimos 10 anos. Livros autorais, como os de Jörn RÜSEN e Keith JENKINS, avaliação de teses autorais, por exemplo, de Walter BENJAMIN e Alun MUNSLOV e coletâneas individuais ou coletivas, produzidas por Jurandir MALERBA e Julio BENTIVOGLIO. O inventário reúne resenhas publicadas em periódicos de História ou veiculadas pelos domínios da Antropologia, Política, Relações Internacionais e os domínios interdisciplinares da Arquitetura e dos Estudos Feministas.
A história escrita: teoria e história da historiografia – MALERBA (VH)
MALERBA, Jurandir (org.) A história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto. 2006. Resenha de: MACHADO, Paulo Pinheiro. Varia História, Belo Horizonte, v.22, n.36, p. 572-573, jul./dez., 2006.
Do texto viemos, ao texto iremos. Sem querer simplificar o atual debate acerca das diferentes abordagens teóricas sobre a história — seja a história do acontecido ou a escrita sobre o acontecido — é difícil encontrar, em língua portuguesa, livro com um balanço equilibrado e atualizado sobre este debate. A publicação de “A história escrita”, obra de um diversificado grupo de historiadores coordenada por Jurandir Malerba chega para preencher este espaço importante para o debate e a reflexão historiográfica, sendo útil a profissionais, pesquisadores e estudantes. Além da atualidade dos temas e abordagens, os autores não deixam de fazer um abrangente balanço dos impasses, crises e contribuições de importantes historiadores do século XX. As trajetórias intelectuais de Benedetto Croce, Marc Bloch, Lucien Febvre, Le Goff, Arnaldo Momgliano e outros importantes historiadores, são analisadas em diferentes textos, o que dá uma interessante unidade ao conjunto do livro.1
Um dos pontos centrais da discussão é o balanço da contribuição do vendaval pós-estruturalista (ou pós-moderno) sobre a forma de se trabalhar a história. As intervenções dos herdeiros intelectuais de Nietzche, sem dúvida, advertiram a nova geração para as precariedades da ciência e deram sério golpe em noções de finalidade e de progresso da história. A contribuição de Hayden White adverte para a importância das formas narrativas, dos tropos e da grande dose de subjetividade presente na historiografia. No entanto, estas contribuições foram muito pouco férteis no sentido de enfrentar os problemas quotidianos dos historiadores. O debate final da obra, entre White e Ginzburg, sobre uma questão-limite, a “veracidade” do holocausto dos judeus na segunda guerra mundial, acaba por levantar importantes considerações políticas e morais das concepções mais analíticas dos textos e menos inquiridoras de “indícios” e “provas” do que pode ser considerado como “realidade”.
O ponto mais inovador da coletânea é a necessidade de avaliação, comparação e crítica historiográfica. Estamos acostumados a fazer balanços historiográficos sem critérios muito precisos do que deva ser considerado. Além de considerações aleatórias do “gostar” e do “não gostar” de determinados textos, os autores nos chamam a atenção para a avaliação da excelência de nosso ofício. Deverá o historiador, como Heródoto, ser um hábil escritor para cativar seus leitores com a beleza de sua narrativa? Ou devemos, como Tucídides, despreocuparmos com a beleza e atentarmos para a precisão e utilidade de nosso labor? A eleição de critérios para a avaliação e debate historiográfico depende de escolhas teóricas dos autores. Jurandir Malerba, recuperando Benedetto Croce, lembra que, como a crítica poética critica a “poeticidade”, na crítica historiográfica se avalia a “historicidade”, o que abre caminho para considerar a crítica historiográfica como parte integrante da pesquisa histórica. Uma boa discussão sobre termos comparativos na relação entre historiografia ocidental e oriental encontramos no texto do professor Masayuki Sato, da Universidade de Yamanashi, no Japão. Com ele aprendemos que além de considerações teórico-metodológicas este debate precisa incorporar diferenças culturais, já que a história tem especificidades como ofício em diferentes culturas, além de distintos estatutos públicos. Importante discussão neste sentido é levantada por Jörn Rüsen, da Universidade de Bielefeld, Alemanha, no entanto, seu quadro de periodização do pensamento histórico parece algo excessivamente esquemático e contraditório com a proposta original. Angelika Epple, da Universidade de Hamburgo, em texto muito inteligente, propõe um alargamento das fontes para considerar uma história e historiografia das mulheres, além dos limites acadêmicos, ou seja, abrir para admissão de narrativa histórica textos literários, onde sempre houve forte presença feminina.
Enfim, temos a disposição do público uma coletânea com diferentes aspectos das teorias, das metodologias e das fontes historiográficas que procuram criar pontes de discussão e interlocução entre diferentes tradições historiográficas nacionais.
Nota
1 Além de Jurandir Malerba, publicam nesta obra Angelika Epple, Arno Wehling, Carlo Ginzburg, Frank Ankersmit, Hayden White, Horst Walter Blanke, Jörn Rüsen, Masayuki Sato e Massimo Mastrogregori.
Paulo Pinheiro Machado – Doutor em História pela UNICAMP e professor do Departamento de História UFSC. E-mail: pmachado@mbox1.ufsc.br
[DR]
História e Teoria. Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade – REIS (VH)
REIS, José Carlos. História e Teoria. Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade. 3ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. Resenha de: DILMANN, Mauro. Varia História, Belo Horizonte, v.22, n.36, p. 567-571, jul./dez., 2006.
Nesta obra, José Carlos Reis transparece, com erudição, a importância da filosofia e de suas construções teóricas. Nas páginas finais do último artigo, ele ressalta: “Filosofia e história são atitudes complementares – toda pesquisa filosófica é inseparável da história da filosofia e da história dos homens e toda pesquisa histórica implica uma filosofia, porque o homem interroga o passado para nele encontrar respostas para as questões atuais” (p. 240). O livro é uma junção de ensaios do próprio autor, cada um com uma especificidade singular e, ao mesmo tempo, contínua, linear: todos tratam de “teoria da história”. Valendo-se de uma abordagem dos principais parâmetros contemporâneos do contexto historiográfico, Reis interroga, instiga, mostra caminhos, posicionamentos. Seu poder de síntese é invejável: diz muito em tão pouco. Para quem já estava cansado ou mesmo entediado com as discussões sobre verdade, modelos epistemológicos, historicismo, além das que envolvem concepções de tempo histórico e das oposições entre modernidade e pós-modernidade, o autor demonstra que ainda é possível um pensamento crítico e um esforço reflexivo.
No primeiro capítulo, o autor traz a “história da história”, analisando desde a metafísica até a pós-modernidade. A preocupação dos historiadores com a “humanidade universal” e o “sentido histórico” pautam sua análise. Ele quer discutir a passagem modernidade/pós-modernidade e suas possíveis repercussões na historiografia. Começa com os gregos, que não teriam construído a idéia de “humanidade universal”, tendo sido formulada com os romanos. Com o Cristianismo, a história esteve dominada pela Providência Divina e o futuro dependia da fé. A partir do século XIII ele perde sua força e surge uma outra representação da história: a “modernidade” e sua busca da racionalização.
A modernidade trouxe uma nova consciência do sentido histórico, uma nova representação da temporalidade histórica e, com ela, o mundo se fragmentou em valores distintos. O espírito capitalista (entenda-se burguês) é moderno, desencantado, secularizado, racional, tenso.
No século XVIII retorna a idéia de história universal. Pensa-se em direitos universais. Nesse momento, a modernidade através das filosofias da história recolocaria à história a questão do sentido histórico: é o desenvolvimento do processo de progresso, revolução, utopia; a idéia de história está dominada pelos conceitos de razão, consciência, sujeito, verdade e universal.
No século XIX , a história-conhecimento torna-se científica, o conhecimento histórico aspira a objetividade científica, a verdade. A eficácia da história está em servir ao Estado e às instituições da sociedade burguesa. Nietzsche seria o primeiro a romper com o conhecimento histórico científico e, a partir do século XX, aprofundariam-se as críticas, passando-se a recusar o determinismo, o reducionismo e o destino inescapável. A pós-modernidade concretizou-se no pós-1945, não acreditando na razão, pois os sentidos são multiplicados – o universal se pulveriza, fragmenta-se – e a história global é descartada. Os interesses voltam-se ao pequenos dados, aos indivíduos, o olhar em migalhas opera por fatos, biografias, múltiplas narrações: é a desaceleração da história. O estruturalismo aprofundou a revolução cultural pós-moderna, desconfiando do sujeito, da consciência, da revolução, da razão. Para Reis, estamos vivendo a pós-modernidade. O novo ambiente cultural é complexo e ambíguo: os historiadores pensam em rupturas, fragmentação, individualismos em plena globalização. O conhecimento histórico prioriza a esfera cultural, as idéias, os valores, as representações, linguagens, e a história torna-se ramo da estética, aproximando-se da arte, da literatura, do cinema, da fotografia, da música.
No segundo capítulo, Reis procura fazer um balanço das possíveis perdas e/ou dos possíveis ganhos do percurso da história do “global” às “migalhas”. Para tal, segue os pressupostos de François Dosse, o crítico francês dos Annales que destacou a descontinuidade presente nos “seguidores” dos “pais fundadores”. Para conseguir um balanço entre perdas e ganhos, Reis conceitua história global e história em migalhas. História global teria dois sentidos: “história de tudo” e “história do todo”. O primeiro sentido seria entendido por “tudo é história”, o segundo seria a intenção de apreender o “todo” de uma época. Este último sentido não teve espaço na terceira geração dos Annales. Já as migalhas, podem significar a multiplicação dos interesses e das curiosidades históricas; a fragmentação, a especialização extrema, a desarticulação dos tempos históricos. Ou, no sentido otimista, as migalhas significaram o amadurecimento do projeto inicial; a história escrita no plural, múltipla, que analisa partes da realidade global. Por fim, nosso autor faz uma enumeração riquíssima em termos de prós e contras dessa passagem do global às migalhas, colocando-se no lugar de quem avalia uma perda ou um ganho.
O terceiro capítulo, intitulado A especificidade lógica da história, levanta questões que colocariam em dúvida a possibilidade do conhecimento histórico, entre elas: “A história é um conhecimento possível?”. Salienta a importância da reflexão teórica problematizante, alertando sobre a impossibilidade de ser historiador sem tomar o conhecimento histórico como problema. A questão a ser pensada seria a existência de um conhecimento histórico reconhecível. Esse conhecimento talvez estivesse na recusa da ficção. Nessa luta contra a ficção, a história aproxima-se da ciência. Quanto a possibilidade de história científica, José Reis apresenta quatro modelos: nomológico, compreensivo, conceitual e narrativo. O modelo nomológico, centrado em Hempel, defende a unidade da ciência, as explicações causais; é um modelo neopositivista, que busca encontrar leis gerais, da mesma forma que as ciências naturais. O modelo compreensivo tem dois expoentes: Dilthey e seu método da compreensão e interpretação das ciências do espírito, e Weber com uma visão racionalista da compreensão. A sociologia compreensiva busca interpretação da conduta humana; para compreender, pode-se construir o “tipo ideal” de uma ação racional. Para Reis, Weber ainda sustenta uma visão racional da história. O modelo conceitual está baseado na história científica weberiana: ela é racionalmente conduzida, fundamentada na compreensão e em conceitos. A compreensão e subjetividade incluídas na história não abdicariam a abordagem científica da mesma, presentes através de tipos e conceitos. Paul Veyne, com influência weberiana também defendeu a história conceitual, que para ele estaria entre a ciência e a filosofia. Para o Veyne de O Inventário das diferenças, a história conceitual seria científica porque oferece uma inteligibilidade comparativa. Já o Veyne de “Como se escreve a história”, tem a história como “narrativa verdadeira”, mas não científica. François Furet, também influenciado por Weber – e Reis salienta que os Annales “parecem dever mais a Weber do que querem admitir” – percebe a história como oscilação entre arte da narração, inteligência do conceito e rigor das provas, mas não como ciência. Por fim, no modelo narrativo e atual (alguns autores sustentam que o discurso histórico sempre foi narrativa), espera-se uma relação mais estreita com o vivido, o tempo, os homens. A história-problema entrou em crise por afastar-se dos homens e negar a temporalidade. Para Veyne, a história é uma narrativa que explica enquanto narra, é compreensão, é atividade intelectual. Paul Ricoeur esclarece a estrutura de uma nova narrativa histórica, lógica e temporal, ou seja, temporalidade e a narratividade se reforçam. Ricoeur defende o primado da compreensão narrativa em relação à explicação, sendo a narrativa histórica uma representação construída pelo sujeito, que se aproxima da ficção e retorna ao vivido. A história, em última análise é a narrativa do tempo vivido.
No quarto capítulo, Reis discute as posições da verdade sobre o conhecimento histórico. Os céticos em relação à história fazem várias objeções à possibilidade da objetividade e verdade em história, entre elas estaria o fato desse conhecimento estar ligado ao presente (que sempre reinterpreta o passado), à subjetividade, à compreensão e à intuição; ainda ao fato de não produzir explicações causais, de ser conhecimento indireto do passado, de utilizar a mesma linguagem da ficção, de utilizar fontes lacunares, de ser interpretação e construção de um sujeito e ter o conhecimento pós-evento. O conhecimento objetivo seria aquele válido para todos, universal, analítico, problematizante, necessário. Para Reis não há razão para o ceticismo. Ele cita Koselleck, para quem a história precisa sustentar duas exigências: produzir enunciados verdadeiros e admitir a relatividade. Na tentativa de indicar posições para o alcance da verdade histórica, Reis busca as teses de alguns autores. Divide-os em realistas metafísicos e nominalistas. Começando pelos primeiros, tem-se que para Ranke a história produziria verdade através do método crítico. Nesse sentido o sujeito não se anula, apenas se esconde, se autocontrola. Weber não vê a possibilidade de abordar o real em si, apenas aspectos, partes. O sujeito divide-se em esferas lógicas autônomas. Duas subjetividades buscam a verdade, que é conhecimento empírico. Em Marx, o sujeito deve assumir sua subjetividade. A verdade não é universal, mas de um grupo social. O conhecimento histórico produzido é objetivo, mas parcial, relativo, pois o historiador precisa tomar partido. Para Ricoeur, a verdade é traduzida pelo sujeito de forma comunicável a partir de uma objetividade que exige a presença da subjetividade. Na mesma direção, Marrou declara ser a objetividade histórica, específica, subjetiva, através de valores éticos universais. Todos procuram critérios universais para a verdade, todos são construções totalizantes da verdade histórica. Nos nominalistas, a subjetividade é plena, o universal é impensável. Em Foucault a verdade é construção de um sujeito particular e expressa relações de poder: essas relações criam linguagens e saberes para se legitimarem. Michel de Certeau tem a história como fabricação do historiador, um discurso que emerge de uma prática e de um lugar institucional e social. Duby assume a história subjetiva, que estaria próxima da literatura e do cinema, onde a imaginação e o sonho não são proibidos. Por fim, Koselleck sustenta a verdade histórica caleidoscópica, se relaciona com a história da história, examina a historiografia anterior. O passado é selecionado, reconstruído em cada presente. Reis conclui esse capítulo ressaltando que a verdade histórica é obtida com exame exaustivo do objeto, com todas as leituras possíveis.
O quinto capítulo traz a discussão sobre o tempo histórico em Ricoeur, Koselleck e nos Annales. O historiador tem interesse no temporal, na alteridade humana, não deseja conhecer o que está fora do tempo, o que não muda, deseja sim, conhecer a mudança, logo o tempo da história seria um terceiro tempo. Para Ricoeur, o tempo histórico refere-se à vida humana e o calendário é indispensável, pois é ele que numera e em cada marca dessa numeração existiu um homem individual (social). Outro conceito é o de geração, trata-se de vida compartilhada. O tempo histórico representa permanência de gerações e seqüência de gerações. A terceira conexão são os vestígios, os arquivos, pois as gerações deixam sinais, marcas, que são buscadas pelo historiador. Koselleck critica o conceito de tempo calendário, mas não o descarta, advertindo para o conhecimento interior do mundo humano, a idade interna de uma sociedade, ou seja, a relação estabelecida entre seu passado e seu futuro. Na perspectiva dos Annales, o tempo histórico é estrutural – influência das Ciências Sociais que compreendiam o tempo como “estrutura social” – existindo a recusa da mudança, em favor do modelo, da quantidade, da permanência. A influência foi o aparecimento na história do mundo mais durável, mais estrutural (estruturas econômicas, sociais, mentais), de movimentos lentos, com desaceleração das mudanças, e é justamente o conceito de “longa duração” que permitiu maior consistência ao terceiro tempo do historiador.
O sexto e último capítulo é dedicado à contribuição de Dilthey para a história, que, aliás, é considerado como o pensador que “redescobriu a história”. Dilthey é associado ao historicismo, embora seja difícil enquadrá-lo em algum rótulo. Ele estaria entre um historicismo romântico e um epistemológico por buscar compreender o homem enquanto ser histórico, compreender a alteridade e todos os aspectos da vida de um povo; a história em Dilthey é mudança e o que permanece é compreensão, comunicação entre homens diferentes, sendo o homem “experiência vivida” e a verdade, o processo histórico.
No contexto do século XIX, Dilthey apontou o caminho da história, da vida, tendo por missão da história “apreender o mundo dos homens através do estudo das suas experiências no passado” (p. 241). Reis diz que em Dilthey filosofia e história estão unidas. Talvez esse fato tenha cativado nosso autor a ponto de despertar tanto seu interesse por Dilthey.
De fato, Reis cativa o leitor com sua narrativa, sua exposição, sua paixão pela teoria. Este livro é mais uma referência obrigatória a todos que se preocupam em pensar o papel da teoria na contemporaneidade; ele incita os historiadores ao conhecimento dos paradigmas atuais das ciências sociais. Se José Reis pretendia com este livro, “fazer circular, renovar, estimular e transmitir cultura” (p. 13), parece-nos que ele conseguiu!
Nota
1 Resenha publicada originalmente na revista eletrônica CANTAREIRAS, da Universidade Federal Fluminense.
Mauro Dilmann 1 – Mestrando em História UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS. E-mail: maurodillmann@terra.com.br
[DR]
A História de Homero a Santo Agostinho | François Hartog
Portanto, assim deve ser para mim o historiador: sem medo, incorruptível, livre, amigo da franqueza e da verdade; como diz o poeta cômico, alguém que chame os figos de figos e a gamela de gamela; alguém que não admita nem omita nada por ódio ou por amizade; que a ninguém poupe, nem respeite, nem humilhe; que seja juiz equânime, benevolente com todos até o ponto de não dar a um mais que o devido; estrangeiro nos livros, apátrida, autônomo, sem rei, não se preocupando com o que achará este ou aquele, mas dizendo o que se passou.
Esta orientação téorico-metodológica, esta introdução aos estudos históricos, embora tenha semelhança com o postulado estabelecido por Ranke no século XIX, aquele que instruía o historiador a “mostrar como algo realmente aconteceu” (wie es eigentlich gewesen 2), não pertence, no entanto, ao grande historiador alemão. Nem a W. Humboldt, ou a G. Monod, e muito menos a Langlois e Seignobos 3. Esta passagem é uma criação antiga, cuja data remonta ao ano 165 de nossa era, e foi escrita por Luciano de Samósata (119-175 d.C.), autor de numerosos tratados (diálogos, panfletos e sátiras), e da “única obra sobre a história que nos chegou da Antiguidade!”, explica François Hartog, na introdução que faz à coletânea, da qual também é o organizador e comentador, A história de Homero a Santo Agostinho 4. Leia Mais
Un siècle de leçons d’histoire. L’histoire enseignée au lycée 1870-1970 – HERRY
HERY Evelyne. Un siècle de leçons d’histoire. L’histoire enseignée au lycée 1870-1970. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 1999, 437p. Resenha de: BUGNAR, Pierre-Philippe. Le cartable de Clio – Revue romande et tessinoise sur les didactiques de l’histoire, Lausanne, n.1, p.222, 2001.
L’auteure dépiste les vieux habitus de l’histoire enseignée – cours magistral, résumé, leçon apprise et récitée, interrogation orale… –, érigés en autant de rituels indécrottables, un dépistage qui confère à l’immobilisme de la discipline une visibilité éclatante. Toute cette économie traditionnelle tranche fortement avec la noblesse et l’ambition des finalités qu’assignent les instructions officielles contemporaines à un tel enseignement. L’analyse des pratiques révèle donc une ankylose que dénonçait déjà Durkheim au début du XXe siècle ou Daumier, plus tôt encore, dans ses caricatures.
Il faut maintenant se demander si le « tour- nant critique » des années 1960, qui marque bien le terme amont de l’étude, a vraiment permis d’opérer la « libération» tant atten- due pour l’enseignement de la discipline des sciences humaines la plus engoncée peut- être dans un système suranné, produisant si peu d’apprentissages durables eu égard aux résultats escomptés (finalités sociales, disci- plinaires…) et aux moyens alloués (dotation horaire, manuels…).
Le cartable de Clio reviendra dans un pro- chain numéro sur cette recherche impor- tante pour la compréhension des habitus de l’enseignement de l’histoire au secondaire.
Pierre-Philippe Bugnard – Université de Fribourg – Sciences de l’éducation.
[IF]
Debaixo da imediata proteção de Sua Majestade Imperial: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838-1889) | Lucia Maria Paschoal Guimarães
GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Debaixo da imediata proteção de Sua Majestade Imperial: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838-1889). Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1997. Resenha de: MOREL, Marco. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, v.1, n.1, p.137-138, 1999.
A escola dos Annales (1929-1989): A Revolução Francesa da historiografia – BURKE (VH)
BURKE, Peter. A escola dos Annales (1929-1989): A Revolução Francesa da historiografia. São Paulo: Editora da UNESP, 1992. REIS, José Carlos. Annales: a renovação da história. Ouro Preto: Editora da UFOP, 1996. Resenha de: LOPES, Marcos Antonio. Varia História, Belo Horizonte, v.14, n.19, p. 209-212, nov., 1998.
Dois livros tematicamente aparentados, e que quase se confundem pelo conteúdo de seus títulos. E as semelhanças não se esgotam nisso. A concepção geral das duas obras converge numa distribuição quase idêntica das matérias em análise. O período abordado e praticamente o mesmo. Os autores tencionam traçar um quadro amplo do desenvolvimento da chamada Escola dos Annales, desde os tempos de seus heréticos pais fundadores – pela explosão inovadora de suas idéias em meio a um ambiente intelectual conservador — Lucien Febvre e Marc Bloch, até o final da década de 80.
Na verdade, esta é a intenção maior de Burke e de Reis, que acabam por estender o que seria o projeto de uma história circunscrita dos Annales. Escrever uma história dos Annales partindo somente de seus fundadores seria fazer uma “história de pernas curtas”, como diria o próprio Lucien Febvre. Ao tentarem compreender o conteúdo “revolucionário” da história proposta por Febvre e Bloch, alargam o foco da pesquisa, descendo ao leito complexo do pensamento filosófico, da sociologia e da história, da forma corno eram concebidas estas disciplinas no século 19, o que Peter Burke chama – para esta última área – de “o Antigo Regime da historiografia”. Nesse percurso, Burke e Reis estabelecem as “genealogias”, febvriana e blochiana, identificando as raízes mais profundas das filiações teóricas e metodológicas dos fundadores, para explicar de que forma foram absorvidas e de que modo atuaram as influências recebidas em meio aos primeiros “debates e combates” travados na luta pela elaboração de uma história renovada.
Outra convergência dos textos: analisam as obras mais importantes, os maiores “monumentos” erguidos pelos Annales, como Os Reis Taumaturgos de Bloch, o problema da descrença (…) de Febvre, 0 Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo (…) de Braudel, Camponeses do Languedoc de Le Roy Ladurie, entre outros. Ambos percorrem as “três gerações” dos Annales, sendo que Reis pretende avançar este quadro, levando a pensar numa “Quarta geração” surgida do tournant critique de 1988.
Entretanto, apesar de algumas semelhanças de superfície, trata-se de textos acentuadamente distantes um do outro. Com efeito, as obras de Burke e Reis são ótimos exemplos de como pesquisadores que se debruçam sobre um mesmo objeto podem obter resultados desiguais, podem chegar a respostas convergentes ou divergentes, sem que necessariamente uma delas esteja incorreta ou deva ser refutada. Abandonadas as exageradas pretensões cientificistas na história, o que conta para um bom resultado da pesquisa é o seu “questionário”, ou seja, o programa do pesquisador, o grau de complexidade de suas perguntas, o amadurecirnento intelectual de seu projeto, como, a propósito, enfatiza Reis. Não que os dois trabalhos destoem quanto a qualidade e rigor, antes pelo contrário.
A diferença está em outra parte, isto é, no calibre da discussão, no fôlego e na disposição em discutir amplamente as matérias. Se os autores seguem um roteiro semelhante, corno foi ressaltado, existem sensíveis disparidades na estratégia de seu desenvolvimento. Não há dúvida de que o livro de Burke é mais leve, de leitura mais fácil, muito mais dinâmico e povoado de personagens que fizeram e ainda fazem a história da historiografia de nosso tempo. Por outro lado, o livro do professor Reis e mais te6rico, mais “sisudo”, e bem mais compacto. Acerca desse aspecto, vale ressaltar que aquilo que Burke discute em dois ou três parágrafos, de maneira quase alusiva, Reis desenvolve em diversas páginas. Para ficar em alguns poucos exemplos, basta comparar o tratamento que recebem as influências fecundas de Max Weber, Ernile Durkheirn, Frangois Simiand e Henri Berr. Em média, sete ou oito páginas de análise profunda de cada um!
Desse modo, seria o caso de indagar: em dois livros que têm propósito comum de informar sobre urna mesma questão, de onde vem o descompasso? A resposta para isso talvez possa ser encontrada no “espirito” de cada obra, na intenção de cada autor, naquilo que se refere ao público-alvo que eles tinham em mente corno destinatário de seus textos.
Ora, o livro de Peter Burke é quase urna obra de circunstancia, no sentido de se voltar claramente para o grande mercado editorial – no que, aliás, teve bastante êxito numa área em que, apesar da presença de alguns títulos consagrados, ainda há um considerável vazio de textos dessa natureza. Poder-se-ia objetar que o livro em questão foi publicado por urna editora universitária, preocupada em destinar obras de grande valor acadêmico para um público restrito. Contudo, a Editora da Unesp há anos já está inserida no circuito comercial das grandes editoras nacionais, desempenhando, diga-se de passagem, um papel brilhante.
Já o livro de Reis e extrato de tese, escrita para atender a uma rigorosa banca examinadora europeia, visto que seu trabalho foi defendido na Universidade Católica de Louvain, sem querer dizer com isto que as bancas nacionais sejam pouco rigorosas. E sobre este aspecto, o autor não se preocupou nem um pouco em “aliviar” o seu texto das necessárias mas sempre pouco agradáveis arestas acadêmicas, em destitui-lo de suas feições de tese, em esvazia-lo de pelo menos uma parte de sua densidade doutoral, premeditando atingir um público mais amplo, muito provavelmente desamparado de suficientes dados para digerir informações transmitidas num nível tão elevado. Limitou-se em nos conceder urna versão em português, incorporando as indigestas citações e refer8ncias bibliográficas no corpo do texto. Mas, pensando melhor, esta pode ser uma opção legitima do autor, que não faz concessões a certas “profanações”, igualmente legitimas, do grande mercado editorial. Se não conhecesse a história da obra, seus percalços e peripécias, teria sérias dúvidas de que editoras comerciais aceitassem publica-la, no formato corno se encontra pela Editora Universitária da UFOP.
Nesse ponto, a obra de Burke é mais feliz. Seu texto, sem a menor pretensão de desmerecer o livro, é material paradidático – com direito até a Glossário para aqueles que passaram por Francois Dosse, H. Coutau-Bergarie, Guy Bordé e Hervé Martin, sem esquecer o livro-dicionário organizado por Jacques Le Goff, Roger Chartier e Jacque Revel. Apesar de seu desenvolvimento quase telegráfico, ou melhor, o seu tratamento bastante ligeiro dos temas enfocados, o autor atinge seu principal objetivo: dar a conhecer o “regime” historiográfico que havia antes dos Annales, o impacto e a influência da obra de Febvre e de Bloch, a recepção internacional dos Annales, até fins dos anos 80, passando pelas “gerações” intermediarias em trajetórias breves mas muito bem tecidas, com destaque para a atuação e o lugar de Fernand Braudel.
E o que nos oferece o livro de Reis? o mesmo que a obra de Burke. Mas com analises mais extensas, o que não deixa de ser um importante diferencial. Um bom exemplo disso e o quadro que o autor traça sobre a “contaminação” da história pelas ciências sociais, e com vantagens sobre Burke, pois não se limita a estabelecer influencias e filiações te6ricas: explicita metódica e pormenorizadamente cada sistema teórico, para, ato continuo, identificar os seus pontos de enraizamento junto a história. Aí está com certeza, o seu maior mérito. Além de uma erudita exposição do desenvolvimento da historiografia francesa, o livro de Reis constitui-se ainda numa competente e bem informada aula de metodologia da história, posto que orienta sobre as especificidades da pesquisa histórica, suas dificuldades e riscos.
Apesar da identidade temática, de uma certa coincidência no desenvolvimento do texto, ‘bem como pela presença dos mesmos personagens e algumas referências bibliográficas cruzadas, as duas obras têm poucos traços em comum. Trata-se de pesquisas que chegam a resultados bem diferentes, porque desde seu ponto de partida perseguiram fins muito diversos. Acentua-se a disparidade principalmente porque são textos de níveis teóricos claramente distintos, o que para o leitor interessado nessa matéria e muito favorável: terá acesso a duas visões, a duas formas personalizadas de tratamento de um só problema. Mas, fora de qualquer dúvida, ao transformarem uma área importante da historiografia contemporânea em objeto de análise, tarefa sumamente espinhosa, cada trabalho desempenha com valor a sua meta: colaborar para a ampliação do conhecimento de um terna mais que relevante. Em síntese, dois livros inteligentes sobre uma questão a um só tempo complexa e fascinante.
Marcos Antonio Lopes – Departamento de História/ UNIOESTE-Pr.
[DR]
A (des) construção do discurso histórico: a historiografia brasileira dos anos 70 | Ana Maria de Oliveira Burmester
Resenhista
Jurandir Malerba
Referências desta Resenha
BURMESTER, Ana Maria de Oliveira. A (des) construção do discurso histórico: a historiografia brasileira dos anos 70. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1997. Resenha de: MALERBA, Jurandir. Diálogos. Maringá, v.2, n.1, 221 -227, 1998. Sem acesso a publicação original [DR]
O Brasil na América: caracterização da formação brasileira – BOMFIM (RBH)
BONFIM, Manoel. O Brasil na América: caracterização da formação brasileira. (prefácio de Maria Thétis Nunes). 2 ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997. 415p. Resenha de: IOKOI, Zilda Márcia Grícoli. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.18 n. 35, 1998.
MEMÓRIA E ESQUECIMENTO: O VALOR DA REEDIÇÃO DA OBRA
Após 66 anos do lançamento da primeira edição, em 1929, a obra de Manoel Bonfim volta a ser editada, demonstrando uma retomada dos interesses sobre a formação brasileira. Exatamente quando o senso comum afirma ser anacrônica a recuperação histórica, uma vez que este é um momento em que o importante é estar inserido no mercado globalizado e assimilado na cultura de massa que unifica costumes e elimina a questão nacional, e onde alguns vão mais longe e propõem o fim da história, a reedição do livro é surpreendente.
Em primeiro lugar, gostaria de analisar as razões de Maria Thétis Nunes em propor à Topbooks sua reedição. Em seguida, passarei a recuperar a leitura deste admirável sergipano sobre o Brasil, a América e as noções de educação e desenvolvimento formuladas em um conjunto significativo de trabalhos considerados pela historiografia moderna como clássicos do pensamento político brasileiro.
No prefácio, Thétis Nunes levanta como hipótese sobre o esquecimento, o desinteresse das elites por idéias tão avançadas para o seu tempo. Este problema foiapontado também por Dante Moreira Leite na obra O Caráter Nacional Brasileiro, Antonio Candido, Nelson Verneck Sodré entre outros. A criação do primeiro laboratório de Psicologia Experimental do Brasil, a atualidade de estudos filosóficos e as críticas ao cientificismo e ao evolucionismo são argumentos que comprovam a seriedade intelectual de Bonfim. Entretanto, para a prefaciante, seu nacionalismo entendido como” identificação do indivíduo com a terra natal, que o conduziria à solidariedade, à confiança e a luta para a preservação da liberdade e da independência”1, são a chave do esquecimento.
Em 1929, o jogo político das oligarquias cafeicultoras experimentava uma profunda crise demonstrada pelas articulações entre as dissidências oligárquicas e os novos setores sociais que disputavam com maior amplitude a participação na cena política nacional. Além do mais, ao longo das primeiras décadas deste século a imigração cresceu, introduziu os europeus orientais, os japoneses e alemães, que ao lado dos imigrantes do final do século passado, procuravam um maior nível de integração no conjunto nacional. Assim, a conjuntura política do período, diferente daquela vivida pelos modernistas de 1922, não mais permitia a exclusão dos vastos contingentes de imigrantes que naquele momento eram capitães de indústria, assessores do governo e novos proprietários, especialmente os beneficiários da crise do café, após o crack da bolsa, em 1929.
Parece-me, entretanto, que o autor não estava preocupado em demonstrar o nacionalismo como algo que emergia das tradições históricas e da paulatina descoberta do sentido da brasilidade pela incorporação da diversidade dos grupos étnicos culturais aqui estabelecidos. Um dos elementos sui generis apresentado pelo autor é o da incorporação daqueles que lutaram pela preservação do território como se esta luta garantisse legitimidade e unidade aos diferentes grupos.
Outra colocação importante de Bonfim, não recuperada inteiramente pela autora do prefácio é a discussão bastante complexa que faz das noções de cultura, raça e alteridade. Para ele, nenhum dos grupos étnicos-culturais que ocuparam o Brasil puderam preservar seus valores sem que eles sofressem profundas alterações. Deste modo, a idéia subjacente é a que há uma circularidade cultural independente da aceitação ou não desta objetividade.
Assim, afirma:
(…) o Brasil, como agrupamento-povo, não poderia ser considerado simples soma de elementos étnicos, estimulados isoladamente: o português _ A, o negro _ B, o índio _ C… para chegar ao tipo apenas composto A-B-C. No povo brasileiro encontram-se essas três raças, diferentes, muito diferentes mesmo. A constatação de tais origens, em qualidades e tom de civilização, como origens dispersas, seria banalidade, repetida sem outra significação além da tecnologia, pois o que tem interesse não é a fútil resenha antropológica, e a corriqueira enumeração de caracteres etnográficos, mas a boa compreensão do modo segundo o qual aqui se encontram os elementos formadores da nação, até que logicamente se defina o efeito histórico da mesma formação. É isto o que faz valer cada uma das qualidades elementares das raças misturadas, e dá a fórmula geral da combinação nacional, resultante da mistura. (…) Ninguém admitiria hoje [que] isto é do negro, tal é do índio ou do português, sem conseguir reconhecer o que haja de novo e de próprio no gênio brasileiro2.
Dito de outro modo, não eram os portugueses tolerantes, democráticos ou mais assimilados, mas foram as condições históricas do conflito e as acomodações possíveis no cotidiano que engendraram as relações sociais. Para os cientificistas e racistas, Bonfim ironizava afirmando que o sentido da superioridade só poderia ser considerado se os superiores conquistassem raças, grupos ou lugares superiores a eles. E mais, perguntava qual o mérito em dominar um fraco? Seria possível sentir orgulho batendo ou violentando uma criança?
Para Maria Thétis, a importância da reedição do livro é recuperar um dos pioneiros da formulação de uma ideologia nacional. Peno que as razões são bem diversas.
O BRASIL NA AMÉRICA
Em primeiro lugar, vale ressaltar que Bonfim escreveu este livro em continuidade a um amplo debate que se abriu no início do século no Brasil. Na década de vinte, a oposição ao conceito de latino-americano se colocava para o autor, uma vez que essa unidade era entendida de modo preconceituoso especialmente pelos Estados Unidos, que atribuía a todo o continente o estigma de atraso, inferioridade e alienação. Muitos intelectuais de renome aceitavam essa desqualificação e procuravam constituir fórmulas para o embate entre a civilização (Europa e Estados Unidos) e a barbárie. Deste modo, figuras como Oliveira Lima, Oliveira Vianna, Domingos Sarmiento ou Riva Arguedas, desenvolveram tratados históricos ou projetos de desenvolvimento para superar os males de origem. A obra de Bonfim é escrita com o intuito de negar a homogeneidade que o conceito de América Latina apresentava e ao mesmo tempo procurar o lugar da nação nas singularidades encontradas.
De um lado, uma clara e firme posição anti-imperialista, e de outro, a busca do nacional como especificidade de um projeto incorporador, na medida em que a cultura singular de cada lugar ou região, permitia a análise por um novo contributo ao entendimento do pertencimento e da memória. Deste modo, o regresso ao passado colonial é realizado com vistas ao encontro de formas de entendimento que pudesse responder, não a uma abstração idealizada do que significava cada um dos acontecimentos e as várias dimensões do conflito, mas os resultados transformadores numa dialética de tempos desiguais e simultâneos em ação.
Assim, na primeira parte, Origens, estão tecidos cinco capítulos que procuram reconstituir a epopéia do pioneirismo ibérico, as conquistas ultramarinas, as relações entre europeus e o gentio, o sentido menos destrutivo dos contatos, as alterações nos vários modos de vida, a formação da população brasileira com os elementos centrais da mestiçagem, o cruzamento das tradições e a gênese do sentido de inferioridade atribuído ao Brasil em decorrência do negro escravo. Neste capítulo em especial, nosso autor combate Oliveira Vianna, que de modo acrítico e a-histórico repete as teorias cientificistas e racistas sem levar em consideração a realidade histórica brasileira. Na Segunda parte, O Primeiro Brasil, encontram-se os seis capítulos onde o autor desenvolve sua tese central, ou seja, a nacionalidade foi sendo formada nas lutas pela preservação dos territórios e através delas formaram-se o entendimento do Brasil e do ser brasileiro.
As lutas foram sendo incorporadas de modo muito especial por cada um dos grupos envolvidos, separando-se os elementos inassimiláveis, articulando localismos, regionalismos e mesmo o caudilhismo. Assim, aquilo que aparece como as longas durações históricas, são poderosas forças de acomodação e particularidades, tecidas e criadas na superação do modo de vida anterior de cada grupo. Estes elementos tornaram-se a tessitura da nova conformação social geradores do Estado Nacional. Deste medo, as comparações que Bonfim estabelece entre os processos que se desenvolvem nas colônias espanholas e as do Brasil são sempre linhagens de argumentação para demonstrar a formação brasileira em sua singularidade. Não há como atribuir a ele, contextualizando seu pensamento, um sentido hierarquizado ou mesmo uma centralidade fixa na conformação nacional apresentada.
Em conclusão, Bonfim afirma:
Na América, foi a colônia portuguesa a primeira a afirmar-se como nacionalidade. De formação essencialmente rural-agrícola, sabendo aproveitar as populações indígenas, essa colônia se expandiu naturalmente, por virtude própria, ao ponto de ocupar todos os territórios que se lhe abriam, até entestar com o domínio definitivo das gentes castelhanas. (…) O Estado português com que se fez a primeira defesa, logo declinou e, quanto mais viva a luta decisiva pela terra pátria, já foram os brasileiros que as fizeram3.
O interessante é notar como Bonfim modifica o conceito de nacional comum entre seus interlocutores. Mais radical que seus contemporâneos, ele atribui valor às lutas concretas em defesa da territorialidade e considera serem agregadores os elementos constitutivos dessa ação. Antecipando Mário de Andrade, constrói um entendimento sobre a cultura como movimento em movimento, e a circularidade de seus elementos, negando qualquer hierarquia e sobreposição entre uns e outros. São fruto de circunstâncias e de experiências históricas indivisíveis. Por isso, na linguagem de Mário, Macunaíma é simultaneamente o complexo da formação cultural brasileira, não apenas em termos de valores, mas também de crenças, lugares, hábitos e desejos.
Hoje, no encerramento deste século XX, quando o paradigma clássico do Estado/ Nação está totalmente superado, quando os controles supra-nacionais realizam a gestão econômico-política dos antigos governantes, reestrutura-se a necessidade do debate sobre o sentido do nacional e os elos agregadores ainda existentes. A moderna teoria4 tem enfatizado o papel das lutas no e pelo território, como elemento engendrador do pertencimento e, cada vez mais, as histórias do lugar são referências identitárias.
Um livro desta importância será estimulador do debate histórico político e solicita-se à Topbooks, que fez um cuidadoso trabalho de texto e capa, que providencie uma encadernação mais adequada, pois o simples abrir das páginas, para um leitor interessado, é suficiente para desmontar o livro que esperou mais de seis décadas para ser oferecido ao público.
Notas
1 NUNES, Thétis. Prefácio à Segunda edição, p. 15.
2 BONFIM, Manoel. op. cit., p. 36
3 Idem, p. 381.
4 Ver SANTOS, Milton. Espaço e Método. São Paulo, Nobel, 1992; BENKO, Georges. Economia, Espaço e Globalização na aurora do século XXI. São Paulo, Hucitec, 1996; ROY, Pierre. La faim dans le monde. Paris, Le Monde Éditions et Marabout, 1994; entre outros.
Zilda Márcia Grícoli Iokoi – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Universidade de São Paulo.
Memorias del Mediterráneo – BRAUDEL (PR)
BRAUDEL, Fernand. Memorias del Mediterráneo. Madrid: S.n, 1998. 381p. Resenha de: NÚÑEZ, Ana M. Panta Rei – Revista de Ciencia Y Didáctica de la Historia, Murcia, n.4, p. 1998.
Tal vez lo primero que cabe advertir sobre el libro es que no se trata de una obra escrita recientemente, sino que es un encargo al autor en 1968 como parte de una colección sobre el passado del Mediterráneo. Sin embargo, el autor de El Mediterráneo en tiempos de Felipe II, no llegó apublicar lo en su día y ahora lo encontramos recuperado por Jean Guilaine y Pierre Rouillard, quienes, debido al lapsus temporal entre autoría y edición, se han ocupado de revisarlo y anotarlo debidamente sin alterar el manuscrito. Coincide la publicación de este libro con la nueva edición completa hecha sobre manuscritos hasta ahora inéditos de la obra clásica de Marc Bloch, Apología para la historia o el oficio de historiador, escrito en 1943, quizá no sea un hecho casual la revisiónde estos dos autores.
Supone, pues, el libro que reseñamos un viaje por el Mediterráneo desde su génesis geológica hastala fundación de Constantinopla y la irrupción del cristianismo, en navegación de cabotaje p
A História no Brasil (1980-1989) | Carlos Fico e Ronald Polito
Com o segundo volume de A história no Brasil, dos Profs. Carlos Fico e Ronald Polito, da Universidade Federal de Ouro Preto, completa-se a publicação de um ousado empreendimento de pesquisa e análise historiográfica no Brasil. Dando continuidade ao trabalho fundamental de sistematização de informações e crítica, operado até então por alguns poucos mas importantes nomes como Amaral Lapa, Francisco Iglésias e Carlos Guilherme Mota, Fico e Polito fundaram sua avaliação historiográfica brasileira da década de 1980 numa ampla pesquisa sobre os mais variados meios de sua produção/circulação/ consumo, assim como num renovado conceito de historiografia.
A falta de trabalhos de balanço dessa natureza era um mal crônico de que nos ressentíamos os historiadores brasileiros. As análises de maior fôlego, datadas da década de 1970 e início dos 80, tenderam a incidir quase sempre sobre recortes temáticos ou cronológicos da história brasileira, sem pretenderem ou conseguirem proporcionar uma visão mais ampla das principais tendências da produção do conhecimento histórico no Brasil. Certamente tais limitações decorriam da falta de eficazes instrumentos de pesquisa, já acusada por historiodadores como Varnhagen, Oliveira Lima, José Honório Rodrigues, Iglésias e Lapa. Leia Mais
Geschichte sehen / Jörn Rüsen
Ver a história é o título de uma obra coletiva, organizada por Jõrn Rüsen, Wolfgang Ernst e Heinrich Theodor Grütter (Geschichte sehen. Beitràge zur Àsthetik historischer Museen. Pfaffenweiler: Centaurus, 1988, 171+XXV pp.), que debate as questões referentes à apresentação de conteúdos históricos em museus e sua função social-pedagógica. A representação mental da memória e da consciência históricas é analisada desde a perspectiva do ideário presente nas mentalidades e nas organizações sociais que se pensam e expõem, mediante critérios de escolha de temas, objetos, textos e espaços.
Encenar a história como um espetáculo, como um espelho, torna-se um problema teórico e metodológico que ultrapassa o âmbito do gosto, da afetividade, da emoção. A conjuntura da construção da identidade e da especificidade dos grupos sociais mediante a elaboração da consciência histórica toma, na decisão de fazer museus e de preservar indícios [como no conservacionismo arqueológico], uma dimensão que mescla critérios político-administrativos e posições teórico- metodológicas. O mesmo vale para as exposições temporárias, da qual é exemplo a organizada em Munique, de 22 de outubro de 1993 a 27 de março de 1994, sobre München – Hauptstadt der Bewegung (Munique —A capital do movimento), cujo catálogo (485 pp.) não é uma mera descrição de peças expostas e logradouros da cidade, mas um livro de reflexão sobre a realidade social e econômica da Alemanha e sobre a consciência alemã na primeira metade do século XX, que levou (ou tornou possível que se levasse) ao surgimento do nazismo e à consagração da capital da Baviera como a capital do “movimento”. Numa e noutra obra reflete-se de modo esclarecedor sobre as três dimensões da cultura histórica: a política, a científica e a estética, ou seja: o poder, a verdade e a beleza, indispensáveis à qualificação social de histórias que tencionam ter efeito sobre a realidade concreta dos homens.
Ver a história exprimiria, assim, a sintonia suposta (e esperada) entre o mostrado (ou escrito) e o observador (ou leitor), na medida em que as três dimensões encontrariam, na exposição e na compreensão, inteligência comum.
A preocupação com a enunciação e a exposição do pensamento histórico enquanto formador e formulador de identidade social é uma constante na segunda metade do século XX. Os historiadores de língua inglesa e alemã sempre manifestaram interesse especial pelas questões teóricas e metodológicas.
Desde os anos 1960 vem sendo intensa a dedicação a essas questões, em particular ao desenvolvimento da história social e das idéias. A renovação também da história política a que os Anna/es e seus descendentes decerto não são estranhos — reforçou essa tendência. A constituição da história como ciência social e a garantia de sua cientificidade foram objeto de textos que marcaram de forma indelével a prática da ciência histórica no espaço de língua alemã (e mesmo inglesa), como Geschichte ais Sozialwissenschaft, editada pelo historiador social alemão Hans-Ulrich Wehler, em 1973. O crescimento da reflexão teórica sobre os fundamentos da história acelerou-se nos anos 1970 com a formação de amplo grupo de trabalho reunindo filósofos, historiadores, sociólogos, literatos, antropólogos, politólogos e outros (não apenas alemães, mas também ingleses e americanos). Do trabalho desses especialistas resultou uma série de seis volumes de excepcional qualidade, sob o título geral de Theorie der Geschichte, publicado pela dtv wissenschaft, de Munique, entre 1974 e 1990, com os seguintes temas: “Objetividade e partidarismo na ciência histórica”, “Processos históricos”, “Teoria e narrativa na história”, “Formas da historiografia”, “Método histórico” e “Todo e parte”. A tônica desses trabalhos está na pluralidade de abordagens e na interdisciplinaridade, em torno do eixo sistematizador da história social. Jõrn Rüsen, um dos principais formuladores da teoria contemporânea da história, publicou — entre 1983 e 1989 — a mais completa síntese em teoria e metodologia da ciência histórica, sob o título geral de Elementos de uma teoria da história e em três partes: Fundamentos da ciência histórica, Reconstrução do passado: os princípios da pesquisa histórica e Fíistória viva: formas e funções do saber histórico (Gõttingen: Vandenhoek & Ruprecht).
Rüsen concentra-se no caráter racional e seletivo, valorativo e orientador que a elaboração do conhecimento histórico, sob o rigor do método e da pesquisa empírica controlada, possui.
O principal foro de repercussão e valorização das opções teóricas e metodológicas da ciência histórica vem sendo, desde 1962, a revista History and Theory (Wesleyan University, Middletown, Conn., EUA), que tem hoje, entre seus editores, I. Berlin, R. Koselleck, J. Rüsen, A. Danto, J. Passmore, P. Veyne, W. Dray, H. White e J. Topolski. A contribuição da revista para a libertação da ciência histórica de sua fase empirista, descritiva, foi decisiva. Inúmeros equívocos clássicos, como o da confusão entre estilo narrativo e desqualificação da história como ficção pararomanesca, puderam ser desmascarados e superados nas páginas de Hayden White, por exemplo.
Conexo com a questão teórica e com a perspectiva social- pedagógica da exposição do juízo histórico descritivo e explicativo, há um importante aspecto adicional que se destacou, nos últimos quinze anos. Também ele tem a ver com o produto historiográfico constituído e com seu efeito social na comunidade. Trata-se do caráter didático-pedagógico do saber histórico. Com o Manual da didática da história (Handbuch der Geschichtsdidaktik. Düsseldorf: Schwann, 1a edição: 1979; 3a edição: 1985), organizado por K. Bergmann, A. Kuhn, J. Rüsen e G. Schneider, busca-se ultrapassar a freqüente torre de marfim em que a história se encastela, para dar à historiografia uma dimensão a que não pode ficar alheia: a de co-autora da identidade e do processo de constituição dos grupos sociais. Assim, o Manual abre com a apresentação da história como meio ambiente mental dos homens em sociedade, passa por sua consolidação como ciência de rigor, debate longamente o papel e a função da história no ensino escolar e na preparação de seus docentes e conclui pela análise da presença da história no espaço público fora das trincheiras formais das escolas e das universidades. Esse tipo de reflexão potencializa o papel social do conhecimento histórico na perspectiva de sua relevância para a definição mesma do agente racional humano no contexto de seu mundo (de seu espaço de vida, de pensamento, de ação): pensar-se a si próprio e a seu mundo, historicamente, é constituir-se e a ele. A realidade (re)construída pelo saber histórico revela, assim, o caráter antropológico do mundo pensado, descrito e explicado. Sentir a história dessa forma, tomar-lhe o pulso, é — para um número crescente de historiadores — uma tarefa que vai além da pesquisa e da elaboração de uma monografia.
A queda do muro de Berlim e a súbita necessidade de (re)encontrar-se o sentido e a direção dos alemães em sua vertiginosa história contemporânea ofereceram ocasião para um sem-número de estudos e publicações. Muitos relevam análise política e das relações internacionais. Um, contudo, da registra o quanto essa circunstância da vida da Alemanha fez recrudescer o interesse pela história, já que o passado e o presente da sociedade alemã e de seu contexto social, político e econômico são tão carregados de episódios complexos e de repercussão mundial. Interesse an der Geschichte (Interesse pela história. Org. por Frank Niess. Frankfurt—Nova York: Campus, 1989, 144 pp.) acolhe posições de historiadores alemães de renome, que se dedicam a esmiuçar a complicada relação, para os alemães, entre consciência, explicação histórica e responsabilidade social coletiva. A “catástrofe alemã” do nazismo e da ruptura social subseqüente à “organização” da guerra fria, cuja fronteira cortava a Alemanha em duas, constituíra-se em um ponto nevrálgico da consciência histórica que, após inúmeras polêmicas, desembocou na maior delas, em 1986. Esta ficou conhecida como o Historikerstreit (a polêmica dos historiadores), cujo teor foi a superação de um tipo de ser alemão e de fazer-lhe a história que rompesse com o período 1933-1945. A “catástrofe alemã” (W.Schulze), o “aprendizado da história” (K.-E. Jeismann), a história como “objeto de exposição” (G. Korff), a mulher na história e a história das mulheres (G. Bock), o esclarecimento [no sentido do fluminismo] e a instituição do sentido (H.-U. Wehler), a continuidade e a ruptura da identidade (J. Rüsen) e outros temas candentes fizeram da história, para o dia-a-dia dos alemães, algo de interesse prático e imediato, conquanto ainda não ao ponto de tornar os livros de história tão lidos “popularmente” (não confundir com vulgarização ou pseudohistória) como na França. O componente histórico, como elo de coesão e estruturação da consciência de si, aparece, assim, como o interesse mesmo de sua constituição racional, individual e social: “Uma ciência histórica orientada por idéias da Aufklárung, formuladas em sintoma com a atualidade, pode contribuir para enunciar um saber orientador racional, fundado historicamente” (H.-U. Wehler).
Ficam referidas aqui, pois, algumas leituras que trazem contribuição renovadora e inovadora para o campo da ciência histórica e de seus desdobramentos, para bem além do espaço lingüístico alemão. Há certa dificuldade, para nosso público, em ponderá-las, justamente por se tratar de livros publicados em alemão, língua de uso pouco freqüente entre os historiadores no Brasil. Alguma coisa das contribuições desses autores tem versão inglesa (traduções integrais e, no mais das vezes, artigos publicados na History and Theory), o que pode ajudar no acesso aos textos.
Nota
1. A produção historiográfica contemporânea é tributária da revolução metodológica original e originária da escola dos Annales; como aqui não se dá notícia específica dela, remete- se, para um balanço sucinto e sob as categorias derivadas da investigação da superação do Antigo Regime, a Peter Burke: A Escola dos Annales 1929-1989. A Revolução Francesa da historiografia. São Paulo, Editora UNESP, 1991 (orig. francês: 1990).
Estevão C. de Rezende Martins – Universidade de Brasília.
RÜSEN, Jörn; WOLFGANG, Ernst; GRÜTTER, Heinrich Theodor (Org.). Geschichte sehen. Beitràge zur Àsthetik historischer Museen. Pfaffenweiler: Centaurus, 1988, 171p. Resenha de: MARTINS, Estevão C. de Rezende. Ver, sentir, fazer a história. Textos de História, Brasília, v.2, n.4, p.175-180, 1994. Acessar publicação original. [IF]