Posts com a Tag ‘História da África’
Antigas sociedades da África Negra | José Rivair Macedo
José Rivair Macedo | Imagem: UFRGS
A obra Antigas sociedades da África Negra, de José Rivair Macedo, professor do Departamento de História e do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi publicada no ano de 2021 pela Editora Contexto e já é considerada um clássico e uma leitura recomendada para todos que se interessam pelos estudos africanos, sejam estrangeiros, brasileiros, professores do ensino básico ou superior e público em geral.
Embora Rivair mencione o fato de o texto não possuir uma linguagem didática, mas uma proposta acadêmica com ampla pesquisa bibliográfica e documental, as salas de aula brasileiras, especialmente as localizadas nas periferias, com a maior parte do seu alunado afro-brasileiro, estão prontas para receber esse tipo de trabalho, obviamente quando intermediado pelo docente de educação básica. Os saberes ancestrais, as histórias dos negros na cultura brasileira, como quer o prefácio da obra – que traz inclusive uma canção de Eugênio Alencar, sambista gaúcho e conhecedor das tradições africanas (Rivair, 2021, p. 10) -, estão nesses lugares em que as comunidades afro-brasileiras habitam e aos quais a ciência costuma não olhar. Leia Mais
Afro-Clio: direitos humanos, história da África e outras artesanias | Elio Chaves Flores
Lélia Gonzalez (acima) e Elio Flores (abaixo) | Fotos: Divulgação / Brasil de Fato
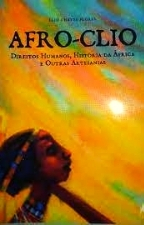 O livro Afro-Clio: direitos humanos, história da África e outras artesanias, de Elio Chaves Flores (2019), que ora se resenha é resultado do texto apresentado em formato de Memorial para requisito de aprovação no concurso público para a função de professor Titular na Universidade Federal da Paraíba, campus de João Pessoa, no ano de 2018.
O livro Afro-Clio: direitos humanos, história da África e outras artesanias, de Elio Chaves Flores (2019), que ora se resenha é resultado do texto apresentado em formato de Memorial para requisito de aprovação no concurso público para a função de professor Titular na Universidade Federal da Paraíba, campus de João Pessoa, no ano de 2018.
Flores é professor Titular do Departamento de História da UFPB, pesquisador na área de História Moderna e Contemporânea e atua nas áreas de Cultura Histórica, Ensino de História, História da África, Educação das Relações Étnico-raciais, Direitos Humanos e Saberes Históricos.
O livro está organizado em quatro capítulos: o primeiro deles intitula-se “Sair da história: direitos humanos, tempo presente”; o capítulo 2, “Mergulhar na história: viradas, ventanias”. No capítulo 3 o autor reflete sobre o “Fazer-se professor (e historiador) de História da África – Licenciaturas”; e no quarto capítulo apresenta a “A tal tese e outras tensões (ou doutoristicamente falando?)”. Aos capítulos apresentados seguem-se as “Considerações Finais: à guisa do Posfácio” e a sua produção intelectual bibliográfica. Leia Mais
Olhar sobre a história das Áfricas: religião, educação e sociedade | Thiago Henrique Sampaio e Patrícia Teixeira Santos
A obra Olhar sobre a História das Áfricas: religião, educação e sociedade aqui resenhada é resultado de reflexões desenvolvidas pelo grupo internacional de pesquisa Fontes e Pesquisas sobre as missões Cristãs na África, arquivos e acervos, cuja coordenação no Brasil se dá pelas Professoras Patrícia Teixeira Santos (UNIFESP) e Lucia Helena Oliveira Silva (UNESP) e na parte internacional, pela Professora Elvira Cunha Azevedo Mea (CITCEM Universidade do Porto).
A coletânea foi publicada em 2019 pela Editora Prismas e organizada por Thiago Henrique Sampaio (UNESP), Patrícia Teixeira Santos (UNIFESP) e Lucia Helena Oliveira Silva (UNESP), agregando 17 artigos agrupados em duas partes: a primeira intitulada Missões e missionários no continente africano, a qual trata da história das missões dentro do continente africano e a segunda Patrimônio, Acervos e Religiosidade: práticas e representações das missões, que aborda as possibilidades de pesquisas com acervos, documentos, patrimônios e instituições missionárias. Leia Mais
Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história na África – PAIVA (AN)
PAIVA, Felipe. Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história na África. Niterói: Eduff, 2017. Resenha de: MACHADO, Carolina Bezerra. A escrita da História da África: Política e Resistência Anos 90, Por to Alegre, v. 26 – e2019501 – 2019.
Em meio a constantes desafios político-ideológicos, os estudos africanos vêm se firmando como um campo de pesquisa no cenário brasileiro, o que contribui diretamente para o desenvolvimento da escrita da História da África no país. Esse movimento favorece também o rompimento dos estereótipos ainda pertinentes que geram desconhecimento, preconceitos e deturpações acerca da historicidade africana, por anos renegada ou mesmo ocidentalizada. A mudança de perspectiva está amparada em uma historiografia que busca valorizar o africano enquanto sujeito da sua história, colocando-o em primeiro plano para refletirmos sobre os eventos no continente africano, o que não significa renegar a sua relação com o outro, mas desejar compreender os processos históricos a partir do olhar de dentro. Ressalta-se ainda que essa perspectiva traz à tona a riqueza da diversidade presente no continente, que sob o olhar colonial sempre foi visto como homogêneo. Nesse sentido, o livro Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história da África de Felipe Paiva traz um debate fundamental para repensarmos a escrita historiográfica da África. Resultado de sua pesquisa de mestrado, defendida na Universidade Federal Fluminense e agora publicada pela Eduff, o livro concentra-se em um caloroso debate sobre a ideia de resistência na obra História Geral da África da Unesco. Tomado como principal fonte ao longo da sua pesquisa, o conjunto de oito volumes publicados em diferentes momentos entre a década de 1960 e 1990, de acordo com o autor, apresenta uma “polifonia conceitual”, não só pelas diferentes vozes que compõem os volumes, mas, sobretudo, pela diferença teórica que os acompanham ao abordar o termo resistência.
De acordo com Paiva, essa abordagem deveria vir acompanhada de um debate conceitual em que resistência deveria aparecer como um conceito móvel, considerando o ambiente de tensões, conflitos e disputas políticas que envolvem a história do continente. Ou seja, como conceito deve ser visto dentro de um processo passível de permanências e rupturas e retomado dentro da sua historicidade. Logo, ao escolher como referência a obra publicada no Brasil pela Unesco, deve-se considerar o contexto político-social em que cada volume foi produzido, principalmente ao darmo- -nos conta que foi um período de intensas mudanças no cenário africano a partir da independência dos países, rompendo com o jugo colonial.
Todavia, o livro também não deixa de apontar para trabalhos anteriores de intelectuais que compõem a coletânea, o objetivo é introduzir o leitor ao intenso debate historiográfico em que a HGA foi produzida. As escolhas teóricas que a acompanham já vinham sendo desenvolvidas e fundamentadas em torno de uma perspectiva que elegia o africano como o sujeito da sua história. Além disso, chama a atenção também o tratamento do autor para os autores da obra, vistos não apenas como referências historiográficas, mas como personagens históricos e testemunhas de uma época (PAIVA, 2017, p. 19). Essa posição reconhece o quanto esses intelectuais foram testemunhas de mudanças, atuando no processo de formação de suas nações e, por isso, atores diretos na legitimação de um movimento historiográfico que era também, se não, sobretudo, político-ideológico.
A escolha da obra não é fortuita, a sua produção fora marcada por um campo de luta política, que pretendia retomar a perspectiva africana como análise central. Para isso, a escolha dos autores da coletânea foi claramente um ato político, à medida que dois terços eram intelectuais africanos (LIMA, 2012, p. 281). Como afirma o historiador Joseph Ki-Zerbo, um dos grandes nomes e organizadores da obra, a História Geral da África vinha na contramão de uma perspectiva que negava a historicidade do continente. Desse modo, a obra não deve ser encarada apenas dentro do campo historiográfico, mas também a partir do campo político, em que o ato de resistir pode ser encarado como a força motriz da coleção. Por isso, acertadamente, Felipe Paiva retoma o termo resistência, presente entre os volumes, mas não claramente definido no conjunto da obra. A polifonia apareceria de imediato a partir dos diferentes usos da palavra, que, para o pesquisador, apenas ganha valor conceitual dentro de um espaço colonial e que, por outro lado, desaparece quando os conflitos são entre africanos. Até o VI volume teríamos um uso apenas vocabular da palavra, sem ser claramente definida, assim sendo apenas a partir do volume VII, quando os autores se voltam para o conceito, visto que a presença colonial passa a ser analisada em sua especificidade.
Como realçamos, a sutileza em abordar determinado conceito ao longo da HGA chama-nos a atenção para os usos políticos da obra. O debate promovido contribui para refletirmos sobre a escrita da história da África em diálogo com uma perspectiva teórica que repensa as relações coloniais a partir dos agentes internos. É nesse limiar que as contradições e complexidades ausentes em uma análise do continente, até então presa a uma perspectiva eurocentrista, passam a ser evidentes. Dito isto, o título escolhido para o livro propõe apontar para as insubmissões africanas, a partir de suas diferentes vozes ancoradas no conceito polissêmico de resistência. Todavia, notamos que Paiva aponta para a contradição existente na HGA. Pois, embora os autores retratem os movimentos de resistência a partir de um processo homogêneo, construído em oposição ao colonialismo, a sensibilidade em analisar os artigos que compõem a coleção apontam para as diferenças existentes entre os intelectuais à medida que os interesses individuais, regionais, políticos, culturais, religiosos e, até mesmo, de gênero, vão aparecendo na escrita. Nesse sentido, o uso da palavra resistência deve ser problematizado, por mais que no conjunto da obra seja possível identificarmos que a palavra tenha sido forjada contra o colonizador.
Dividido entre o prefácio de Marcelo Bittencourt, seu orientador ao longo da pesquisa, que destaca o valor da obra a partir da sua contribuição teórica; uma apresentação, que aponta para os objetivos que pretende, as hipóteses que levanta, assim como o porquê de algumas de suas escolhas teórico-metodológicas e mais três capítulos com subdivisões, o livro de Felipe Paiva vem preencher uma lacuna importante para a escrita da história do continente africano, que dentro da realidade acadêmica brasileira também se traduz em resistência.
O primeiro capítulo volta-se, sobretudo, para um debate teórico e historiográfico o qual se destaca um intelectual: Joseph Ki-Zerbo. A análise pormenorizada de suas pesquisas anteriores, estas que dialogam com a escrita da obra referencial, permite acompanhar alguns dos objetivos desenvolvidos na HGA, comprometida historiograficamente com um contexto histórico de valorização do continente africano e de afirmação dos movimentos nacionalistas e independentistas que ganhavam força naqueles anos. Nesse ínterim, podemos notar o quanto a escrita de Ki-Zerbo se encontra sensível à perspectiva pan-africanista, traduzida para o “grau de família” que Paiva chama a atenção. A ideia de “família africana”, ou mesmo da África enquanto pátria, é observada a partir dos “intercâmbios positivos que ligariam os povos africanos nos planos biológico, tecnológico, cultural, religioso e sociopolítico” (PAIVA, 2017, p. 25). Tal abordagem, de acordo com o autor, merece cuidado, pois por vezes pode negar as contradições existentes entre os intelectuais que contribuíram para a obra, conforme fora apontado acima.
Por isso, ao retomar a ideia de resistência na obra durante o período que antecedeu a presença colonial, esse é visto por Felipe Paiva apenas em sentido vocabular, sem uma definição concreta. O sentido conceitual só aparece em oposição a um outro, estrangeiro, nunca em referência aos combates internos, produzindo uma falsa ideia de harmonia entre os africanos, que a análise do conjunto da própria obra é capaz de negar, como nos mostra seu livro. Desse modo, o primeiro capítulo volta-se para os interesses teóricos e políticos da obra, enfatizando uma leitura que vê a escrita historiográfica do continente dentro de uma perspectiva de tomada de consciência do africano, em um claro processo chamado de “(re)africanização da África”. Somos, nesse sentido, a partir da leitura de Felipe Paiva, direcionados aos cuidados que devemos ter ao nos aprofundarmos sobre os debates acalorados que cercam os interesses que levaram à escrita da obra.
Quanto ao segundo capítulo, a abordagem volta-se, especificamente, para o volume VII da HGA, em que para o autor o conceito de resistência passa a ser propriamente construído e apresentado junto a preocupações epistemológicas antes ausentes. Ao abordar esse momento da coletânea, Paiva ressalta a construção de uma África como personagem, que sofre um trauma e, de maneira coesa, se constrói em roupagem de resistência contra o colonizador. É a partir dessa narrativa que resistência enquanto conceito se desenvolve e dirige-se exclusivamente em oposição ao colonialismo. Temos aí a construção de uma ideia de África pautada a partir da experiência colonial, que embora retomasse a história dos africanos a partir de um novo enfoque, ainda guardava uma visão harmônica do continente. A presença europeia seria vista como um choque que rompeu com o passado africano.
Devemos destacar, ainda nesse capítulo, as interpretações sobre o conceito de resistência pertinentes para o historiador. Para ele, podemos apontar para duas abordagens entre os autores da HGA: a tradicionalista e a marxista. A primeira refere-se a um passado pré-colonial permeado 4 de 5 por uma suposta coesão entre o passado, anterior ao colonialismo e retratado como grandioso e estático, e o presente, interessante a partir de uma concepção nacionalista, em que as lutas anticoloniais do século XIX estariam plenamente em diálogo com os movimentos independentistas que irromperam em meados do século XX. Assim, esses movimentos eram vistos dentro de uma tradição de valorização de uma África resistente e una, que por vezes se utilizou da concepção racial para formatar suas ideias. Há, em diálogo com essa perspectiva, grande ênfase nas autoridades tradicionais retratadas como defensoras de um modelo de vida ligado à tradição africana, posta em oposição à modernidade, interpretada como uma imposição colonial.
Por outro lado, mas com o mesmo objetivo de destacar a tradição de resistência dos africanos, a abordagem marxista é assim denominada a partir do “uso de noções e categorias advindas da historiografia marxista ou que lhe são próximas” (PAIVA, 2017, p. 94). Ou seja, não necessariamente esses autores se colocam como marxistas mas retratam o conceito de resistência, sobretudo, em reação ao capitalismo. Por isso, a ênfase na luta de classes, formada na esteira das relações de produção advindas com o colonialismo e impostas aos africanos.
Esses dois aportes teóricos, de acordo com Felipe Paiva, servem para repensarmos sobre um tema fundamental na ideia de resistência na África: a sua temporalidade. Ou seja, como podemos captar quando inicia o processo de resistência em África? Pois, por mais que ocorra uma continuidade entre as variadas formas de oposição africana no período colonial e as lutas independentistas, temos que considerar que elas não são um movimento homogêneo que se estruturou necessariamente para desembocar nas independências, afirmando um caráter progressivo (PAIVA, 2017, p. 114). Cabe, então, apontar para as complexidades que cercam essa relação, visto que a defesa central da pesquisa reside em considerar resistência enquanto processo, passível de permanências e rupturas.
O debate sob esse ponto de vista inicia no final do capítulo 2, a partir de uma série de análises dos autores que compõem a HGA, e levam ao capítulo 3. Voltado, sobretudo, para o VIII volume da coleção, o capítulo problematiza a ideia contida nesse volume de que a libertação nacional seria herdeira de uma tradição de resistência presente na África. Para um aprofundamento da questão, Paiva lança mão de estudos anteriores do organizador do volume, o queniano Ali Mazrui, ressaltando as diferenças construídas pelo intelectual entre protesto, interpretado como fenômeno do Estado-nação, e resistência, vista como conceito herdeiro direto desse movimento. Desenvolve-se um grande debate teórico que tem por objetivo problematizar o modo como resistência é encarada dentro de um ambiente de valorização nacionalista com grande influência do pan-africanismo.
A partir dos debates travados e construídos com argumentações que extrapolam os objetivos iniciais do livro, pois nos levam para questões como nacionalismo, pan-africanismo, colonialismo, entre outros temas pertinentes à África, ressaltada dentro de sua complexidade, a leitura de Indômita Babel é uma importante oportunidade para conhecermos um pouco mais a História da África, sobretudo, a partir da sua escrita historiográfica, cercada de tensões e desafios. O diálogo com a História Geral da África, referência primordial para os estudos africanos, enriquece e solidifica a discussão proposta por Felipe Paiva, que continua a tecer em sua trajetória acadêmica um debate político-ideológico a partir dos intelectuais africanos Kwame Nkrumah e Gamal Abdel Nasser, tema da sua pesquisa de doutorado, que vem sendo desenvolvida desde 2015 no programa de história da Universidade Federal Fluminense.
Referências
LIMA, Mônica. A África tem uma história. Afro-Ásia, Salvador, n. 46, p. 279-288, 2012. PAIVA, Felipe. Indômita Babel: resistência, colonialismo e a escrita da história na África. Niterói: Eduff, 2017.
Carolina Bezerra Machado – Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: lowbezerra@gmail.com.
África e Brasil. História e Cultura | Eduardo D’Amorim
Passados quinze anos da lei nº 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino sobre a história e a cultura afrobrasileira, a questão ainda é tida como desafiadora por muitos professores e gestores escolares. Um dos principais motivos relatados pelos profissionais das áreas de educação é a ausência de materiais que abordem a temática com a qualidade esperada, e que privilegiem com correção as múltiplas dimensões socioculturais africanas, assim como as conexões entre esse continente e o Brasil.
O livro África e Brasil. História e Cultura, de Eduardo D’Amorim, está comprometido em suprir uma importante carência do mercado editorial brasileiro. A publicação, que recebeu a primeira colocação na 59º edição do Prêmio Jabuti, categoria Didático e Paradidático (2017), tem escrita clara, apurada organização dos capítulos e trabalho gráfico e editorial de altíssima qualidade. Tais elementos contribuem para uma leitura prazerosa e muito esclarecedora sobre a temática. Sendo útil para aos mais variados tipos de leitores que desejem debruçar-se sobre o assunto, e que tenha interesse em conhecer mais sobre a importância da história da África e da contribuição dos africanos na formação da cultura e da sociedade brasileira. Leia Mais
História da África e do Brasil Afrodescendente | Ynaê Lopes dos Santos
Estudar a história da África, ou melhor, algumas histórias desse vasto continente é um dos objetivos do livro História da África e do Brasil Afrodescendente de Ynaê Lopes dos Santos. A autora optou por estruturar a obra de acordo com a clássica divisão da História (Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea). No decorrer do livro Ynaê procura mostrar como ao longo do tempo o continente africano se interagiu com sociedades de outros continentes, reafirmando a concepção de que havia uma rede de relações comerciais, culturais, religiosas entre os povos da antiguidade. Leia Mais
Ubuntu: Educação, Alteridade e Relações Étnicos-Raciais / Ariosvalber S. Oliveira
Com a aprovação da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, que tornou obrigatório nas escolas de todo o Brasil o ensino de História da África e cultura afro-brasileira como, a inclusão dos conteúdos de História e Cultura dos Povos Indígenas, além de atender a uma antiga e justa reivindicação; trouxe uma série de consequências para o Ensino de História em sua totalidade. As mudanças ocasionadas pelas respectivas leis ainda estão em processo e não influenciarão apenas educadores. Crianças, adolescentes, jovens, adultos entrarão e estão entrando em contato com o tema. O alcance das transformações pode ser grande – e muito positivo, devendo ser aceleradas ou adquirirem um ritmo mais lento, conforme a capacidade dos setores interessados em intervir no processo (LIMA, 2009, p. 149).
Contudo, vale salientar que o trabalho com História da África e Indígena como conteúdos curriculares dos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu e mesmo na educação básica não nasce no Brasil como resultado da imposição das leis mencionadas anteriormente, havendo histórias de mais longa duração que se relacionam diretamente com o cenário que hoje vislumbramos 1. Leia Mais
The Walking Qur’an: islamic education, embodied knowledge and history in West Africa / Rudolph Ware III
O crescimento dos estudos africanos no Brasil, nas últimas décadas, evidencia a necessidade de expandir os objetos de análise para além das relações históricas e culturais afro-brasileiras pautadas na escravidão. Neste processo de emancipação da História da África, um novo tema emerge na agenda dos pesquisadores brasileiros: o Islã. Abordado em publicações pontuais2, o estudo de práticas, crenças, experiências e relações sociais, culturais, econômicas e políticas muçulmanas mostra-se uma necessidade inescapável à compreensão de historicidades africanas, passadas e presentes. A demografia torna inquestionável o papel desempenhado pela África na comunidade islâmica global: a Nigéria possui uma população muçulmana maior que o Irã, maior que o dobro presente no Iraque e que o triplo da Síria; na Etiópia, há mais muçulmanos que na Arábia Saudita; no Senegal, há mais que na Jordânia e na Palestina juntas3. Um peregrino que sair de Dacar poderá cruzar o continente, de oeste a leste, até atingir as margens do Mar Vermelho, andando somente por terras muçulmanas. O Islã, portanto, não é um fenômeno externo à história da África.
Este é o tema central do trabalho de Rudolph Ware, atualmente professor na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos (EUA), cujo objetivo é evidenciar como a experiência da educação islâmica moldou aspectos da história da África Ocidental no último milênio. “The Walking Qur’na” cumpre a importante tarefa de chamar a atenção para esta realidade, muitas vezes desprezada tanto por pesquisadores de História da África quanto de História Islâmica: o Islã africano costuma ser visto como “orientalista” demais para interessar aos primeiros; “africanizado” demais para os segundos. Além disso, a mais importante contribuição do autor é oferecer-nos uma obra inaugural, na qual a educação e a produção de conhecimentos islâmicos ocupam posição de destaque.
Publicado em 2014, o livro é uma versão expandida da tese defendida por Ware em 2004, na Universidade da Pensilvânia (EUA). Nos 10 anos, ele transformou seu estudo sobre educação corânica no Senegal do século XX em importante volume amparado na longa duração, que defende a especificidade e o resguardo das tradições islâmicas na África Ocidental, desde o século XI até as transformações em curso a partir do período pós-1945. Organizado em cinco capítulos, o livro é composto por uma introdução teórica, seguida de um capítulo no qual os principais conceitos – educação, epistemologia islâmica e incorporação (embodiment) – são apresentados. Na sequência, Ware opta por uma organização cronológica para analisar os impactos da educação corânica no Senegal, evidenciando como a cronologia política dialogou com transformações sociais protagonizadas pelos muçulmanos.
Os capítulos abordam a formação de um clero islâmico (c.1000-1770); escravidão e revoluções marabúticas na Senegâmbia (1770-1890); sufismo e mudança social sob o colonialismo francês (1890-1945); reforma epistemológica ou “desincorporação” do conhecimento no Senegal pós-1945. Suas fontes são textos clássicos de tradições islâmicas concernentes à instrução religiosa, oralidades, notas de cientistas sociais do imperialismo europeu, narrativas ficcionais e documentos de arquivos senegaleses, ingleses e franceses, além de observações participantes no Senegal. O argumento fundamental da obra é que o corpo humano foi o vetor primordial dos saberes islâmicos no período clássico, nisto incluído o aprendizado esotérico como princípio ortodoxo do Islã. Daí deriva toda a narrativa: uma vez que o corpo é o Alcorão que anda, ou seja, o livro sagrado memorizado e integrante do corpo físico, toda violência sofrida pelos portadores da revelação seria encarada por seus correligionários como ataque à própria palavra de Deus.
Central na abordagem é o terceiro capítulo, no qual Ware analisa as guerras marabúticas, que marcaram a África Ocidental nos séculos XVIII e XIX. Em sua interpretação, elas corresponderam ao esforço de clérigos islâmicos para impedir a escravização dos muçulmanos. As relações raciais construídas nesse contexto seriam fundamentais à compreensão posterior do Islã praticado pelas populações negras, bem como à produção de discursos civilizadores europeus. Estes, por sua vez, clamariam pela primazia da abolição da escravidão no século XIX, apropriando-se de uma ideia produzida e desenvolvida pelos próprios marabus no final do século XVIII. Não obstante, ao analisar as relações entre Islã e escravidão, o autor produz certa essencialização de personagens africanos, como o Almaami ‘Abdul-Qadir Kan ou o cheikh Amadu Bamba, nutrida por apropriação entusiasmada de narrativas biográficas e tradições orais4. Contudo, isto não reduz o valor do trabalho realizado, uma vez que não compromete o centro da questão.
O trabalho de Ware carrega o grande mérito de evidenciar uma perspectiva epistemológica da educação islâmica com vistas à formação do indivíduo por completo – que envolve valores, comportamentos e conhecimento intelectual. Tal epistemologia, ausente na tradição racionalista ocidental e marcada por castigos físicos, memorização e exposição a situações humilhantes (como a necessidade de a criança peregrinar pelas ruas pedindo esmolas, atividade cuja justificativa é formação do caráter humilde), muitas vezes é entendida como violência, atraindo campanhas de organizações internacionais, governamentais e não governamentais, pela sua supressão. Este é o fio condutor da narrativa, com ênfase no processo de incorporação do Alcorão, performance corporal das práticas religiosas, educação do comportamento e valores, mais do que aprendizado asséptico de conhecimentos abstratos.
Ware analisa a epistemologia associada à incorporação de saberes e adesão ao poder atribuído à palavra do Alcorão, capaz de curas e proteção, cujo aprendizado é tanto intelectual como físico – a palavra deve, literalmente, ser ingerida na água que lava os quadros nos quais os estudantes escreveram suas lições. Ao afirmar que esta orientação decorre do Islã clássico, e não de um processo posterior de africanização, ele se posiciona contrário à tese que estabelece a supremacia árabe na condução e caracterização da comunidade islâmica. Tal tese, estabelecida no início do século XX a partir do colonialismo francês na África, na comparação entre o Islã no Senegal e na Argélia, atribuía caráter inferior ao Islam Noir, o Islã praticado pelos povos negros. Entretanto, ao combater tal interpretação, Ware acaba por inverter o prisma de sua análise. Trata-se, agora, de afirmar que, a despeito das transformações vivenciadas no restante da comunidade islâmica, a “África Ocidental continua a preservar a forma original de educação corânica e suas respectivas disposições corpóreas para o conhecimento”5. Tal afirmação parece estabelecer um novo essencialismo, semelhante àquele produzido pelos colonialistas, mas em direção oposta.
Decerto, sua interpretação é desafiadora e instigante, sobretudo por reequacionar o papel do Islã na África na comunidade global e trazer sua contribuição no campo dos saberes religiosos para o primeiro plano do debate. Contudo, sua premissa traz em si uma reapropriação das teses racialistas, que outrora viam o Islã na África como heterodoxo e inferior. Agora, caberia considerá-lo como indisputavelmente verdadeiro, superior àquele praticado pelos árabes (a quem muçulmanos mourides senegaleses afirmariam que Maomé teria feito grandes críticas6), tributário aos primeiros muçulmanos, visto que a religião teria chegado ao continente africano no ano de 616, antes mesmo do movimento da Hégira – migração de Meca à Medina, que marca o início do calendário muçulmano7. Eis, pois, uma perspectiva afrocêntrica que corre o sério risco de essencializar aquilo que busca historicizar8.
Ao longo do livro, papel importante é atribuído à forma de transmissão de conhecimentos: neste paradigma, uma pessoa não deve acessar um dado saber através de estudo individual, literal e amparado numa racionalidade externa ao sujeito. Antes, este procedimento é entendido pelo autor como decorrente da modernização cartesiana e da racionalidade iluminista, vistas como irreconciliáveis com a corporeidade, a mística e com a relação direta estabelecida entre mestre e discípulo na produção e divulgação de saberes muçulmanos, presentes num modelo clássico. Ware argumenta que a África foi a única região que conseguiu manter a forma clássica de educação corânica, abandonada pelo restante do mundo muçulmano em função da expansão dos valores racionalistas europeus. Portanto, atribui à Europa a gênese do que considera como traços fundamentais de movimentos como o salafismo e wahabismo: a ênfase em interpretações literais como supostamente autênticas, resistência ao Islã místico e às práticas de incorporação, vistas como expressões heterodoxas.
Assim, afirma que o Islã árabe foi corrompido pelo colonialismo europeu, uma vez que identifica os traços fundamentais de correntes como o islamismo, wahabismo e salafismo como decorrentes de um processo de desincorporação, expressão exotérica (voltada para fora do indivíduo, em oposição à esotérica, ocupada com a internalização dos saberes, seja através da memorização ou do consumo físico da palavra) e racionalizada, próprias do pensamento cartesiano e iluminista. Neste sentido, argumenta que a concepção racialista do Islam Noir foi, de forma irônica, salutar para preservar a identidade muçulmana da região. Os franceses, ao acreditarem que o Islã senegalês era inferior ao árabe e, do ponto de vista político, não oferecia riscos às pretensões coloniais, teriam limitado a circulação dos muçulmanos negros no exercício da peregrinação a Meca e estabelecido redes de censura à produção em língua árabe que chegava ao Senegal. Este processo, cujo objetivo era limitar ideias pan-islâmicas e anticoloniais na África Ocidental Francesa, teria resguardado a religiosidade islâmica na região ante a influência modernizante árabe, permitindo à religião e às formas de transmissão a manutenção de disposições corpóreas, vistas como fundamentais à prática9. O restabelecimento de comunicações entre a África Ocidental e os países de língua árabe, após 1945, teria acelerado o processo de desincorporação, iniciado com a oferta de educação colonial nas escolas francesas, e atribuído a ele novo sentido, agora estritamente religioso.
O autor considera a incorporação e a busca pela reprodução do comportamento de Maomé como características fundamentais e universais do mundo islâmico clássico, corrompidas pela modernização que se pretende ortodoxa. Operando um pensamento indutivo, Ware parte da análise das práticas decorrentes da escola de jurisprudência maliquita, largamente presente no Magrebe e na África Ocidental, e universaliza suas conclusões. Este processo permite-lhe atribuir tal modernização a uma suposta contaminação ocidental do Islã. Esta conclusão, contudo, carece de análise mais cuidadosa das relações de outras escolas de jurisprudência islâmica com a produção e exercício dos saberes religiosos. Uma vez que suas referências remetem à fiqh maliquita, pode-se perguntar se as orientações sunitas das escolas shafita, hambalita e hanafita seriam as mesmas10, além das disposições xiitas e ibaditas. De todo modo, sua explanação torna indubitável o desenvolvimento de uma nova epistemologia na África Ocidental, seja ela procedente da cultura ocidental ou de outra orientação islâmica.
“The Walking Qur’na” é um livro de grande importância aos estudos sobre o Islã na África. Elaborado a partir de grande diversidade documental, tem o mérito de conseguir realizar exatamente o que propõe: o estudo da educação islâmica ao longo de um milênio. Um grande desafio que Rudolph Ware consegue superar, trazendo novas e instigantes perspectivas ao debate da História da África diretamente atrelada ao Islã. O livro cumpre o papel de açular o leitor, levá-lo a refletir sobre categorias muitas vezes cristalizadas, fomentar curiosidades e estimular o debate sobre um tema tão fascinante quanto desprezado por grande parte da historiografia sobre a África. A inflexão epistemológica central à proposta torna-o parada obrigatória a todos os estudiosos do tema, ensinando que a história do conhecimento é fundamental ao conhecimento da História.
Thiago Henrique Mota – Doutorando em História em regime de cotutela entre UFMG e Universidade de Lisboa. Bolsista FAPEMIG. E-mail: thiago.mota@ymail.com.
WARE III, Rudolph T. The Walking Qur’an: islamic education, embodied knowledge and history in West Africa. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2014. 330p. Resenha de: MOTA, Thiago Henrique. Epistemologia islâmica como fio narrativo da História na África Ocidental. Outros Tempos, São Luís, v.13, n.22, p.232-237, 2016. Acessar publicação original. [IF].
Le rhinocéros d’or: Histoires du Moyen Âge africain – VAUVELLE-AYMAR (VH)
FAUVELLE-AYMAR, François-Xavier. Le rhinocéros d’or: Histoires du Moyen Âge africain. Paris: Alma Editeur, 2013. 317 p. WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Varia História. Belo Horizonte, v. 32, no. 58, Jan./ Abr. 2016.
Entre os estudos africanistas no Brasil, a atenção aos temas relacionados à África subsaariana no período anterior à chegada dos portugueses tem crescido de forma evidente. De um lado, decorre da preocupação em romper visões reducionistas que preconizam o início da história moderna da África à chegada dos europeus e, de outro, de um olhar mais atento às narrativas de viajantes não europeus, sobretudo os eruditos árabes que percorreram diferentes regiões da África islamizada entre os séculos VIII e XVI. Considera-se ainda a presença entre nós de especialistas no período, principalmente de Paulo de Moraes Farias que, em cursos e participação em eventos, fez aumentar a visibilidade e a exuberância de temas relativos às civilizações sahelianas, bem como a relevância de se pensar a diversificação das fontes históricas como pressuposto para o estudo da História da África. Considera-se nesse aspecto os avanços de metodologias das Ciências Humanas que empregam as fontes orais, os estudos sobre a cultura material e a importância dos dados vindos da Arqueologia essenciais para contextos nos quais os registros escritos são relativamente escassos. A obra em questão atende a cada um desses anseios, focalizando temas da História da África entre os séculos VIII e XVI projetados a partir de fontes variadas e tendo em perspectiva o ensino e a pesquisa em História da África.
Posso começar dizendo que, fora uma ou outra observação de menor importância, o livro Le Rhinocéros d’or é fascinante e original. É composto por uma reunião de trinta e quatro ensaios relativamente independentes entre si, referentes à história do continente no período conhecido, especialmente entre os especialistas francófonos, como a Idade Média africana. Os capítulos, curtos e bem estruturados, focalizam aspectos das sociedades localizadas em diversas regiões da África. Da Etiópia e da Eritréia às regiões meridionais do continente; do norte mediterrânico às cidades ribeirinhas do Níger, dos santuários da Mauritânia aos centros comerciais da costa suaíli, o autor vai “ziguezagueando” (p. 27) pelo continente e defrontando-se com a enorme diversidade de povos, culturas e personagens que sempre caracterizou a História da África em todos os seus períodos e tempos. A cada capítulo, escrito numa linguagem fluida e cativante, adequada também a leitores diletantes, seguem notas de fim com indicações mais acadêmicas sobre as trajetórias da historiografia, os percursos das fontes, e a relação dos principais estudiosos que, ao longo do tempo, analisaram o tema.
Abrangendo um período quase sempre esquecido e confundido como “tempos obscuros”, principalmente pela lacuna de documentos escritos, o elemento organizador do livro são as fontes: um documento escrito, um processo judicial ou uma correspondência; artigos das trocas comerciais (o âmbar ou moedas), objetos da cultura material, por exemplo, o rinoceronte de ouro que serve ao título; fontes cartográficas, o Atlas de Al Idrisi ou o famoso Atlas Catalão, feito no século XIV por dois judeus da Escola de Maiorca; sítios arqueológicos, afrescos, conjuntos de megalitos ou de tumbas e suas revelações; narrativas de viajantes, chineses, e árabes em profusão. E também recursos atuais como os resultados das escavações arqueológicas que permitiram a reconstituição da estratigrafia de cidades como Kilwa, na costa índica.
Da análise das fontes são extraídas informações que, no geral, colocam as sociedades africanas nos circuitos de trocas de mercadorias, de ideias e concepções religiosas das grandes correntes intercontinentais. A partir do que é revelado de imediato por cada documento/monumento, o texto se amplia conduzido por guias que levam o leitor a visitar os contextos históricos: as cidades desaparecidas engolidas pelo Saara, como Ghana I e Ghana II, a vida nas cortes, os trânsitos comerciais transsaarianos, as redes longitudinais dos mercadores judeus ou o processo de islamização das sociedades mediterrânicas, do Sahel, da costa do oceano Índico ou do mar Vermelho. Sintomaticamente a figura central do último capítulo é o capitão de navio Vasco da Gama e o périplo de navegação que, partindo de Lisboa em 1497, chegaria no ano seguinte à ilha de Moçambique. Momento em que, depois de muitas tentativas, “os portugueses acabavam de entrar no domínio das navegações mercantis regulares do oceano Índico” (tradução, p. 307).
Impossível não falar de detalhes na apresentação da obra, tamanha a diversidade e riqueza dos materiais tratados. “Peças esparsas de um puzzle” (p.17), a introdução esclarece as premissas que conduzem os estudos e a maneira de abordá-los. A proposta, além da diversidade, é a de iluminar “traços” e construir a história desse período a partir de uma visão trazida pelos fragmentos, escapando da ambição de um panorama pressupostamente global: “é que preferimos o vitral ao grande afresco narrativo que poderia trazer a ilusão de um discurso magistral” (tradução, p. 18).
François-Xavier Fauvelle-Aymar é especialista em História africana, professor da Universidade de Toulouse II Jean Jaurès, e pesquisador ligado ao laboratório TRACES – Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés (UMR 5608 CNRS), com um impressionante conjunto de produção acadêmica, entre livros e artigos. Faz parte do grupo de medievalistas franceses que segue os caminhos abertos por Raymond Mauny e Théodore Munod. O próprio Mauny é personagem do capítulo 25, em suas expedições por entre o Saara, chegando a Taghâza, no Mali, por onde andaram também René Caillé, em 1828, Ibn Battuta, em 1352, e ainda Hassan al-Wazzân, mais conhecido como Leão Africano, em 1510. Temporalidades que se cruzam na temática da exploração e das rotas do sal na África do Oeste. Sua acuidade teórica é também revelada no prefácio e nas ponderações que faz sobre a questão da memória investida nos monumentos e sobre as inferências relacionadas à noção de tesouro. Referindo-se ao pequeno objeto que dá titulo ao livro, o rinoceronte de ouro encontrado no sitio da colina de Mapungubwe, na África do Sul, afirma que quase sempre por trás do qualificativo de “tesouro” existe uma escavação mal feita e irresponsável que alijou o objeto pretensamente único e raro do contexto documental arqueológico que o cercava à época de sua descoberta. “Tesouro é aquilo que sobrou quando todo o resto desapareceu” (tradução, p.20).
Desta forma, o objetivo da apresentação que se faz aqui não é somente a de chamar a atenção à obra publicada na França em 2013, como também alertar para sua tradução, importante no nosso país em que as demandas pelos temas africanos não correspondem ainda ao volume de traduções necessárias, inclusive de textos essenciais para a pesquisa e para o ensino da matéria nas instituições escolares. Em razão do didatismo da obra e da forma inteligente pela qual foi construída, o livro pode ser utilizado tanto para o ensino médio – e com ele introduzir os jovens alunos no fascínio trazido pela História da África, como também nas disciplinas dos cursos de graduação.
Maria Cristina Cortez Wissenbach – Departamento de História, Universidade de São Paulo, Av. Professor Lineu Prestes 338, Cidade Universitária, São Paulo, SP, 05.508-000 criswis@usp.br.
Afrocentricidade / Molefe K. Assante
Livro composto de 193 páginas, incluindo o glossário, está dividido em quatro capítulos, sendo que o primeiro: Bases essenciais, o autor inicia com um prólogo ao livro original onde recapitula o contexto de criação do conceito da afrocentricidade relacionando-o a conjuntura atual e destacando a contribuição de novos elementos, a exemplo do hip-hop para uma nova releitura.
Após o prólogo, no subitem definição o autor define e fala da afrocentricidade como uma metodologia que tem por fim o deslocamento dos sujeitos africanos para o centro, contextualizando-os e colocando-os, a partir de questionamentos, em seus respectivos lugares. Na página sete, no subtópico, as questões religiosas, o autor demonstra a “eficiência” e as possibilidades interpretativas da metodologia afrocêntrica questionado o lugar que a religião islâmica para os povos africanos relacionando-a com os costumes e tradições do continente. O autor evidência as bases que contribuíram para que o islamismo se tornasse uma religião universal. Nestes questionamentos Asante demonstra como o pensador afrocêntrico deve se posicionar para descortinar os “equívocos” que a história convencional tratou de convencionar em relação às culturas da África. Leia Mais
A invenção de África: Gnose, filosofia e a ordem do conhecimento – MUDIMBE (AN)
MUDIMBE, Valentin Yves. A invenção de África: Gnose, filosofia e a ordem do conhecimento. Mangualde (Portugal), Luanda: Edições Pedago; Edições Mulemba, 2013. Resenha de: WEBER, Priscila Maria. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 40, p. 563-568, dez. 2014.
“O mito é um texto que se pode dividir em partes e revelar a experiência humana e a ordem social” (MUDIMBE, 2013, p. 180).
A obra A invenção da África: Gnose, Filosofia e a Ordem do conhecimento1, de Valentin Yves Mudimbe2, caracteriza-se por abranger uma perspectiva historicista que problematiza os conceitos e discursos do que conhecemos como uma África mitificada. As verdades veiculadas por filósofos, antropólogos, missionários religiosos e ideólogos, bem como imagens ocidentalizadas e/ou eurocêntricas, inerentes aos processos de transformações dos vários tipos de conhecimentos, são desconstruídas por Mudimbe pari passu aos padrões imperiais ou coloniais. Para tal empreitada, vale ressaltar as inúmeras referências que compõem um sólido corpus documental utilizado pelo autor em sua investigação, ou seja, estas transitam da filosofia romana ao romantismo alemão. Ou ainda, o questionar e investigar através do termo gnose, cunhado com o intuito de erguer uma arqueologia do(s) sentido(s) do Pensamento Africano.
Para o autor, o sentido, assim como os usos de um conhecimento “africanizado” e a forma como foi orquestrado, ou seja, um sistema de pensamento que emergiu estritamente de questões filosóficas, pode ser observado através dos conteúdos veiculados pelos pensadores que o forjam, ou ainda, através dos sistemas de pensamento que são rotulados como tradicionais e as possíveis relações destes com o conhecimento normativo sobre África. Logo, uma sucessão de epistemes, assim como os procedimentos e as disciplinas possibilitados por elas são responsáveis por atividades históricas que legitimam uma “evolução social” no qual o conhecimento funciona como uma forma de poder. As africanidades seriam um fait, um acontecimento e a sua (re)interpretação crítica abrange uma desmistificação que se calca na argumentação de uma história africana inventada a partir de sua exterioridade.
Essa exterioridade que veste a África de roupagens exóticas é problematizada com as inúmeras missões e alianças que arranjavam um forte compromisso com os interesses religiosos e a política imperial. No entanto, o cerne da problematização presente no texto de Mudimbe concentra-se na análise da experiência colonial, um período ainda contestado e controverso, visto que propiciou novas configurações históricas e possibilidades de novos ícones discursivos acerca das tradições e culturas africanas. Sobre a estruturação colonizadora, o autor a coloca como um sistema dicotômico, com um grande número de oposições paradigmáticas significadas. São elas: as políticas para domesticar nativos; os procedimentos de aquisição, distribuição e exploração de terras nas colônias; e a forma como organizações e os modos de produção foram geridos.
Assim, emergem hipóteses e ações complementares, como o domínio do espaço físico, a reforma das mentes nativas e a integração de histórias econômicas locais segundo uma perspectiva ocidental.
Os conceitos de tradicional versus moderno, oral versus escrito e impresso, ou os sistemas de comunidades agrárias e consuetudinárias versus civilização urbana e industrializada, economias de subsistências versus economias altamente produtivas, podem ser citados para que exemplifiquemos o modo como o discurso colonizador pregava um salto de uma extremidade considerada subdesenvolvida para outra, considerada desenvolvida. Queremos com isso dizer que houve um lugar epistemológico de invenção de uma África. O colonialismo torna-se um projeto e pode ser pensado como uma duplicação dos discursos ocidentais sobre verdades humanas.
Para que seja possível obter a história de discursos africanos, é importante observar que alterações no interior dos símbolos dominantes não modificaram substancialmente o sentido de conversão da África, mas apenas as políticas para sua expressão ideológica e etnocêntrica. É como se houvesse uma negritude, uma personalidade negra inerente à “civilização africana” que possui símbolos próprios, como a experiência da escravidão e da colonização como sinais dos sofrimentos dos escolhidos por Deus.3 Contudo, à medida que compreendemos o percurso dos discursos e rompemos epistemologicamente com posições essencializadas, podemos questionar, como sugere Mudimbe, quem fala nestes discursos? A partir de que contexto e em que sentido são questões pertinentes? Talvez consigamos responder essas questões com uma reescrita das relações entre etnografia africana e as políticas de conversão.
Desse modo, o texto de A invenção da África traz com pertinência o refletir sobre alguns autores como E. W. Blyden,4 que rejeitava opiniões racistas ou conclusões “científicas” como os estudos de frenologia populares nos oitocentos. Frequentemente cognominado como fundador do nacionalismo africano e do pan-africanismo, Blyden em alguma medida comporta esse papel, visto que descreveu o peso e os inconvenientes das dependências e explorações, apresentando “teses” para a libertação e ressaltando a importância da indigenização do cristianismo e apoio ao Islã. Para Mudimbe, essas propostas políticas, apesar de algum romantismo e inconsistências, fazem parte dos primeiros movimentos esboçados por um homem negro, que aprofundava vantagens de uma estrutura política independente e moderna para o continente.
A obra segue com reflexões que esboçam embates a respeito da legitimação da filosofia africana enquanto um sistema de conhecimento, visto que algumas críticas expõem esse pensée como incapaz de produzir algo que sensatamente seja considerado como filosofia.
A história do conhecimento na África é por vezes desfigurada e dispersa em virtude da sua composição, ou seja, o acessar de documentações para sua constituição por vezes não apenas oferece as respostas, mas as ditam. Além disso, o próprio conjunto do que se considera por conhecimento advém de modelos gregos e romanos, que mesmo ricos paradoxalmente são como todo e qualquer modelo, incompletos. Muitos dos discursos que testemunham o conhecimento sobre a África ainda são aqueles que colocam estas sociedades enquanto incompetentes e não produtoras de seus próprios textos, pois estes não necessariamente se ocupam de uma lógica do escrito (DIAGNE, 2014).
A gnose africana testemunha o valor de um conhecimento que é africano em virtude dos seus promotores, mas que se estende a um território epistemológico ocidental. O que a gnose confirma é uma questão dramática, mas comum, que reflete a sua própria existência ou, como uma questão pode permanecer pertinente? É interessante lembrar que o conhecimento dito africano, na sua variedade e multiplicidade, comporta modalidades africanas expressas em línguas não africanas, ou ainda categorias filosóficas e antropológicas usadas por especialistas europeus veiculadas em línguas africanas. Isso quer dizer que as formas protagonizadas pela antropologia ou pelo estruturalismo marxista onde havia uma lógica original do pensamento trans-histórico inexistem.
As ciências, ou a filosofia, história e antropologia são discursos de conhecimento, logo, discursos de poder e possuem o “[…] projeto de conduzir a consciência do homem à sua condição real, de restituí-la aos conteúdos e formas que lhe conferiram a existência e que nos iludiram nela” (FOUCAULT, 1973, p. 364). Sucintamente, a obra de Mudimbe comporta a análise de algumas teorias e problematizações, como a escrita africana na literatura e na política, propositora de novos horizontes que salientam a alteridade do sujeito e a importância do lugar arqueológico. Ou ainda podemos salientar a negritude, a personalidade negra, e os movimentos pan-africanistas como conhecidas estratégias que postulam lugares.
Contribuições de escolas antropológicas, o nascimento da etnofilosofia, a preocupação com a hermenêutica, ou o repensar do primitivo e da teologia cristã, dividem as ortodoxias que podem ser visibilizadas, por exemplo, com a discussão sobre a Filosofia Bantu, de Tempels ou ainda com as revelações de Marcel Griaule acerca da cosmologia Dogon. A antropologia que descreve “organizações primitivas”, e também programas de controle advindos das estratégias colonialistas, produziu um conhecimento que demandava aprofundamento nas sincronias dessas dinâmicas. Com isso, é plausível considerarmos que os discursos históricos que interpretam uma África mítica são apenas um momento, porém significativo, de uma fase que se caracteriza por uma reinvenção do passado africano, uma necessidade que advém desde a década de 1920.
Notas
1 Editada recentemente no ano de 2013 pelas edições Pedago em parceria com as Edições Mulemba, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, o volume é uma tradução do original em inglês publicado em 1988 pela Indiana University Press.
2 Nascido em Jadotville no ano de 1941, antigo Congo Belga e atualmente República Democrática do Congo, Valentim Yves Mudimbe posicionou seus interesses de pesquisa no campo da fenomenologia e do estruturalismo, com foco nas práticas de linguagens cotidianas. O autor doutorou-se em filosofia pela Catholic University of Louvain em 1970, tornando-se um notável pensador, seja através de suas obras que problematizam o que se conhece como história e cultura africana, ou ainda pela oportunidade de trabalhar em instituições de Paris-Nanterre, Zaire, Stanford, e ainda no Havard College. Mudimbe ocupou cargos como a coordenação do Board of African Philosophy (EUA) e do International African Institute na University of London (Inglaterra), e atualmente é professor da Duke University (EUA). Disponível em: <https://literature.duke.edu/people?Gurl=& Uil=1464&subpage=profile>. Acesso em: 16 jun. 2014 3 “A negritude é o entusiasmo de ser, viver e participar de uma harmonia natural, social e espiritual. Também implica assumir algumas posições políticas básicas: que o colonialismo desprezou os africanos e que, portanto, o fim do colonialismo devia promover a auto-realização dos africanos. (MUDIMBE, 2013, p. 123). “A negritude destaca-se como resultado de múltiplas influências: a Bíblia, livros de antropólogos e escolas intelectuais francesas (simbolismos, romantismo, surrealismo, etc.) legados literários e modelos literários (Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé, Valéry, Claudel, St. John Perse, Apolinaire, etc.). Hauser apresenta várias provas das fontes ocidentais da negritude e duvida seriamente da sua autenticidade africana. HAUSER, M. Essai sur la poétique de la négritude. Lille: Université de Lille III, 1982, p. 533.” (MUDIMBE, 2013, p. 116) 4 Para informações mais precisas sobre Edward Wilmot Blyden, sugere-se A Virtual Museum of the Life and Work of Blyden. Disponível em: <http://www.columbia.edu/~hcb8/EWB_Museum/Dedication.html>. Acesso em: 30 jun. 2014.
Referências
DIAGNE, Mamoussé. Lógica do Escrito, lógica do Oral: conflicto no centro do arquivo. In: HOUNTONDJI, Paulin J. (Org.). O antigo e o moderno: a produção do saber na África contemporânea. Mangualde; Luanda: Edições Pedago; Edições Mulemba, 2014.
FOUCAULT, Michel. Les Mots et les Choses. Paris: Gallimard, 1973.
HAUSER, Michel. Essai sur la poétique de la négritude. Lille: Université de Lille III, 1982.
MUDIMBE, Valentin Yves. A invenção da África: Gnose, filosofia e a ordem do conhecimento. Mangualde, Luanda: Edições Pedago; Edições Mulemba, 2013.
Priscila Maria Weber – Doutoranda em História PUCRS – Bolsista CAPES. E-mail: priscilamariaweber @yahoo.com.br.
Cross-cultural exchange in the Atlantic world: Angola e Brazil during the Era of the Slave Trade – FERREIRA (VH)
FERREIRA, Roquinaldo. Cross-cultural exchange in the Atlantic world: Angola e Brazil during the Era of the Slave Trade. Nova York: Cambridge University Press, 2012, 282 p. CORRÊA, Carolina Perpétuo. Varia História, Belo Horizonte, v. 30, no. 52, Jan./ Abr. 2014.
No início do século XIX, uma mulher negra livre chamada Francisca da Silva foi escravizada em Benguela depois de ser acusada de ter se utilizado de feitiçaria para assassinar Diniz Vieira de Lima, comerciante de escravos que, apesar de ser natural daquela cidade, falecera no Rio de Janeiro. Assim se inicia o livro de Roquinaldo Ferreira, que integra a prestigiosa série African Studies, publicada, desde 1968, pela Cambridge University Press.
Biografias de pessoas comuns, como Francisca da Silva, elaboradas a partir de documentos oficiais da época, associadas à análise de memórias e relatos de viagem, formam a base da obra, fruto de uma abordagem micro-histórica. Aliando profundo domínio dos estudos históricos recentes sobre o tema, lúcida reflexão metodológica e extensa pesquisa documental realizada em arquivos angolanos, brasileiros e portugueses, o historiador brasileiro radicado nos Estados Unidos tece um rico panorama do mundo atlântico nos séculos XVIII e XIX. O maior desafio metodológico, a feitura de generalizações a partir de exemplos reveladores – estudos de caso de indivíduos cujas vidas foram registradas para a posteridade justamente por serem, de algum modo, atípicas – é solucionado por meio da descrição densa e da atenção ao contexto. O historiador, atento, procura conectar sempre os eventos que se desenrolam no nível micro com o processo maior do qual fazem parte.
Além disso, a adoção de um recorte espacial inspirado na História Atlântica, constructo analítico segundo o qual os acontecimentos da era moderna são organizados a partir do entendimento da Bacia Atlântica como um lugar onde ocorriam intercâmbios demográficos, econômicos, sociais e culturais entre os continentes por ela banhados, permite dar ênfase a aspectos dinâmicos que transcendem as fronteiras administrativas ou nacionais.1 Essa combinação de redução da escala de análise e ampliação do recorte geográfico traz contribuições importantes tanto para a História do Brasil quanto para a História da África Centro-Ocidental.
Apesar do impacto do comércio de escravos para o Brasil, a historiografia pátria guardou silêncio quase absoluto até a década de 1990 sobre as relações entre as duas regiões. A África foi frequentemente encarada como um continente primitivo, homogêneo, estático no tempo e destituído de história, e os africanos, associados automaticamente aos escravos. Por essa razão, o trabalho de Ferreira aparece àqueles familiarizados com a produção historiográfica nacional sobre a escravidão e o tráfico de escravos como a peça faltante para que o quebra-cabeça adquira seu pleno sentido. Vem, portanto, ao revelar a face africana do negócio negreiro, somar novos conhecimentos aos importantes trabalhos que pensam o tráfico do ponto de vista do Brasil, como os de Manolo Florentino e Jaime Rodrigues.
Entretanto, só teremos uma percepção adequada do alcance da obra, se a analisarmos sua contribuição para a História da África Centro-Ocidental. Em 2004, Boilley e Thioub2 argumentavam que, durante o século XX, a escrita da história da África, influenciada, por um lado, pelos combates anticoloniais e, por outro, por modelos eurocêntricos, tendeu a considerar que, depois do contato com o ocidente, a África e os africanos se tornaram vítimas de um sistema que, rompendo com o curso normal da história, constitui a causa principal, senão exclusiva, do lugar subalterno que o continente ocupa nos negócios contemporâneos do mundo. Pensando em como a produção acadêmica sobre o comércio de cativos poderia superar essas limitações, os autores sugeriam que era preciso compreender as implicações dos africanos nos processos históricos, analisando a arquitetura social, bem como os sistemas locais de produção, de troca, de dominação e de exploração da força de trabalho. A chave seria explorar as dinâmicas internas sem silenciar quanto aos interesses e ao envolvimento de atores autóctones no negócio negreiro.
Ferreira desempenha tal tarefa com maestria, mergulhando na sociedade centro-africana durante o período do comércio de escravos. Filia-se, assim, a uma tradição historiográfica inaugurada na década de 1970 por estudiosos como Jill Dias, Beatrix Heintze, Isabel Castro Henriques e Joseph Miller, que procura superar o caráter etnocêntrico das análises sobre as regiões africanas engajadas no comércio atlântico e abordar a política, a economia e a sociedade locais em sua historicidade e em sua complexidade.
Esses autores pioneiros, muitas vezes mesclando métodos e abordagens próprios da história, da antropologia e da etnografia, abriram novas possibilidades para o estudo da África Centro-Ocidental, desenvolvendo trabalhos com fontes inéditas encontradas em arquivos angolanos e portugueses. Ademais, elaboraram sofisticadas reflexões teóricas sobre o lugar da África na História Mundial, o papel do historiador ao se relacionar com fontes de natureza diversa (tradição oral, achados arqueológicos, documentos escritos) e os métodos para lidar com os filtros por meio dos quais estrangeiros (os autores da documentação consultada e os próprios pesquisadores) apreenderam a realidade africana. Inovaram ao abordar temas que, durante o período colonial, eram tabus difíceis de serem rompidos, como a fragilidade da dominação portuguesa na região e a participação dos africanos no comércio de escravos, atribuindo a eles um protagonismo em sua história que lhes foi frequentemente negado.
Na contemporaneidade, uma nova geração de historiadores veio se juntar a esses pesquisadores já consagrados, desvendando novos aspectos da sociedade centro-africana no contexto do comércio atlântico. Um bom exemplo é Mariana Cândido3 que empreendeu um estudo sobre Benguela entre 1780 e 1850, argumentando que o tráfico negreiro ajudou a fundar ali uma sociedade crioula, na qual pessoas oriundas de culturas diversas acabaram forjando uma identidade comum.
Em sua dissertação de mestrado, Ferreira já havia se ocupado de Angola, mas investigando os impactos econômicos da proibição do tráfico negreiro para o Brasil entre 1830 e 1860. Em Cross Cultural Exchange in the Atlantic World, o historiador recua no tempo, analisando aquela sociedade durante o auge do comércio atlântico, tecendo para Angola uma análise em muitos sentidos equivalente a que Law e Mann dedicaram à Costa dos Escravos.4 Como esses autores, chega a conclusões abrangentes a partir de histórias individuais, enfatizando as conexões culturais e sociais transatlânticas.
A primeira seção se inicia com a narrativa de uma expedição comandada pelo ex-capitão de navios negreiros Francisco Roque Souto, em 1739, ao Reino de Holo, cujo intento era proporcionar à administração portuguesa contatos comerciais diretos com essa região fornecedora de escravos. A análise do episódio possibilita o exame da intensificação do comércio itinerante no interior de Angola, no contexto do aumento da demanda por cativos no Brasil no século XVIII, decorrência das descobertas de ouro na região das Minas. Tal comércio, conduzido nos sertões africanos por intermediários conhecidos como pumbeiros e sertanejos, consistia na troca de mercadorias importadas por escravos, que eram então conduzidos até os portos de embarque no litoral.
São os impactos do incremento dessa atividade comercial nas estruturas sociais e econômicas de Angola que o autor se propõe a desvendar, e o faz narrando vários casos retirados das fontes, como o de três africanos que tinham chegado a Benguela em 1789, fugidos após todos os outros 25 carregadores da caravana na qual trabalhavam terem sido embebedados e posteriormente escravizados pelo sertanejo Jerônimo Corrêa Dias. Partindo desses estudos de caso, o autor analisa o aumento de formas de escravização não militar, decorrentes de endividamento ou de acusações de feitiçaria, o desvirtuamento de formas de dependência temporária tradicionais e a ampliação progressiva da esfera de atuação dos Tribunais de Mucanos, cortes competentes para conhecer casos de escravização injusta, oriundas das práticas legais Mbundu.
A segunda seção é dedicada ao panorama cultural, religioso e político de Angola durante o período estudado. O historiador explora a demografia e a economia de Luanda, expondo uma sociedade dinâmica, na qual eram fluidas as fronteiras entre escravidão e liberdade e frequentes as oportunidades de convivência entre indivíduos de condições sociais e origens diversas. Nesse mundo cosmopolita, no qual a administração portuguesa tinha dificuldades de se impor, europeus e outros forasteiros acabavam aculturados pelos locais, conforme atestam a prevalência do quimbundo sobre o idioma português.
Especial atenção é dada à religião e à cultura africanas, exploradas a partir da fascinante história de Mariana Fernandes, uma mulher negra livre acusada de feitiçaria e presa em Luanda em 1726. O estudo do processo movido contra Mariana pela Inquisição revela uma mulher dotada de grande autonomia, poder e influência, decorrentes de sua atuação como ganga, autoridade religiosa de Angola. Da leitura emerge a força da religiosidade africana, que perpassava todas as camadas sociais, unindo indivíduos oriundos de realidades muito diversas.
O autor analisa, a seguir, a vida social de Luanda e de Benguela tomando como ponto de partida a história do escravo Manoel da Salvador, que, criança, fora enviado ao Rio de Janeiro, retornando, já adulto, a Luanda, onde, em 1771, é acusado de assaltar a casa de um taberneiro. Para rebater a acusação, Salvador alega que a elevada soma de dinheiro encontrada em sua posse não era produto do roubo, mas fruto da venda de mercadorias enviadas a ele pelo irmão, que continuava a residir no Brasil. Embora boa parte da versão de Salvador pareça ter sido uma mentira, o crédito dado às suas alegações, em um primeiro momento, pelas autoridades, ajuda
a revelar a grande mobilidade geográfica no mundo Atlântico. O estudo de dezenas de outros casos mostra que pessoas livres e escravas atravessavam o oceano em razão de punições por crimes e comportamentos inadequados, mas também para aprender uma profissão, buscar instrução, conduzir negócios e visitar parentes.
Os laços culturais, políticos e comerciais que uniam essas regiões africanas ao Brasil eram tão robustos, que, em 1824, prósperos comerciantes de Benguela, liderados por um homem negro nascido no Rio de Janeiro, de nome Francisco Ferreira Gomes, iniciaram um movimento rebelde que pretendia romper os laços com Portugal e anexar a província ao Brasil recém-independente. A tentativa de secessão, longe de ser uma empreitada fantasiosa, era coerente com a conjuntura da época, sendo mesmo esperada pelas autoridades portuguesas.
Ao enfatizar a organicidade entre as possessões portuguesas, o autor evidencia a esterilidade dos embates em torno dos conceitos “crioulo” e “crioulização”, rótulos estáticos que, segundo ele, dificilmente são capazes de abarcar toda a complexidade dessas mutáveis sociedades, nas quais os indivíduos manipulavam as diferentes esferas culturais, religiosas e jurídicas existentes de acordo com suas necessidades momentâneas.
A obra, inspirador exercício de erudição e imaginação histórica, adiciona mais uma peça ao intrincado quebra-cabeças do Atlântico Português, dando rara ênfase à dimensão humana das sociedades africanas setecentistas e oitocentistas, contribuindo, como sugere Miller, para que “a história atlântica se apoie solidamente em três pernas”,5 e que os africanos, como os outros, assumam o seu lugar como “atores inteligíveis” na trama do passado.
1 RUSSEL-WOOD, A. J. R. Sulcando os mares: um historiador do império português enfrenta a “Atlantic History”. História, São Paulo, v.28, n.1, p.17-70, 2009. [ Links ]
2 BOILLEY, Pierre; THIOUB, Ibrahima. Pour une histoire africaine de la complexité. In AWENENGO, Séverine; BARTHÉLÉMY, Pascale; TSHIMANGA, Charles (eds.). Écrire l’histoire de l’Afrique autrement?. Paris: L’Harmattan, 2004, p.23-45.
3 CÂNDIDO, Marina P. Enslaving frontier: slavery, trade and identity in Benguela, 1780-1850. Toronto: York University, 2006 (História, Tese de Doutorado). [ Links ]
4 LAW, Robin; MANN, Kristin. West Africa in the atlantic community: the case of the Slave Coast. The William and Mary Quarterly,Third Series, v. 56, n.2, p.307-334, apr. 1999. [ Links ]
5 MILLER, Joseph. History and Africa/Africa and History. The American Historical Review, v.104, n.1, p.1-32, feb. 1999. [ Links ]
Carolina Perpétuo Corrêa – Instituto de História Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro (RJ), Brasil, e-mail: cpcorrea2@hotmail.com.
A África Contemporânea: do colonialismo aos dias atuais | Pio Penna Filho
Ainda são escassas na academia brasileira as obras cujo foco é aÁfrica, e o mesmo vale para análisedas relações entre Brasil e o outro lado do Atlântico Sul. No entanto, há modificações interessantes neste cenário. O transcurso 2010-2012 proveu uma safra de qualidade sobre àquela região,com publicações de nomes já tradicionais na área, como Pio Penna Filho (2010), José Flávio Sombra Saraiva (2012) e Paulo Vizentini (2010a; 2010b; 2010c).A tarefa a qual se propõe Pio Penna Filho, Professor de História das Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB),em seu A África Contemporânea: do colonialismo aos dias atuais, consiste em preencher a lacuna que permanece no campo dos estudos da África Contemporânea e das relações Brasil-África no período.Com o trabalho, o autor busca explorar os elementos presentes em uma África pós-Colonial1 , avançando sobre a agenda de pesquisa, que tradicionalmente se debruça sobre a África pré-Colonial e/ou Colonial.
Esquematicamente, o livro está estruturado em duas partes. A primeira tem como objetivo analisar, em perspectiva histórica, a evolução do continente africano nos dois últimos séculos, de modo a reconstruir as bases nas quais se alicerçou o sistema colonial europeu ao final do século XIX para depois percorrer o século XX, marcado pela descolonização às portas do pós-Guerra Fria, adentrando a primeira década do novo milênio com suas alterações subjacentes no sistema internacional que possibilitaram uma inserção africana propriamente dita. Leia Mais
História da África: uma introdução – LOPES; ARNAUT (RHR)
LOPES, Ana Mónica; ARNAUT, Luís. História da África: uma introdução. Belo Horizonte: Crisálida, 2005. Resenha de: SILVA, José Alexandre da. Revista de História Regional, v.16, n.1, p. 304-310, Verão, 2011.
Desde 2003, quando o Presidente Lula sancionou a lei nº 10.639, vários títulos dedicados à história afro-brasileira e africana têm surgido no mercado editorial brasileiro. O conteúdo da referida lei torna obrigatório o ensino de História Africana e Afro-brasileira nas escolas públicas e particulares de nosso país. Nesse sentido, ela cria uma demanda de materiais que sirvam de subsídio para professores da Educação Básica, alunos de graduação e a quem mais interessar. Uma das formas em que o mercado editorial vem respondendo a essa necessidade é trazendo a público livros de caráter introdutório.1 Uma dessas obras é História da África: uma introdução.
De autoria de Ana Mónica Lopes, africana nascida em Lubango, doutora em História das Culturas, e Luís Arnaut, professor de História da África na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Este livro de dimensões modestas visa introduzir o leitor ao conhecimento acerca da história da África. Não obstante, cumpre seu papel construindo um panorama do continente amparado em pesquisadores brasileiros e africanos e, seu principal mérito, traz as principais concepções historiográficas acerca do continente africano.
A conquista dos movimentos negros que representa essa lei, a nosso ver, passa por alguns dilemas. Embora algumas unidades da federação organizadas com suas Secretarias de Educação, oficialmente possuam um discurso no sentido de efetivar a lei, é outra história afirmar que ela seja de fato levada até seu objetivo final, a sala de aula. Quando se fala de história africana, logo nossas lembranças escolares nos remetem à história da escravidão, com as imagens de negros em ambiente de trabalho ou sendo açoitados. Pensando na história da África, o conteúdo escolar mais recorrente é o das navegações do século XVI, quando portugueses e holandeses contornam o continente. Essa visão repousa na representação do dominador, civilizado e possuidor de um aparato tecnológico mais sofisticado, o europeu. Em contrapartida, temos a representação do africano submisso, colonizado e destituído de objetos que remetam à ideia de tecnologia. Assim, a visão mais difundida da África continente torna-se um obstáculo.
Ao longo do tempo, esses elementos presentes nos materiais escolares e nas salas de aulas, se cristalizaram em nosso imaginário. Romper com a narrativa do negro vitimizado vindo de um lugar desconhecido pode ser um passo essencial para que os afrodescendentes se assumam como tal. Entretanto, também é importante lembrar que construir uma narrativa na qual os africanos e os afro-brasileiros figurem de forma digna não significa fomentar ódio racial ou um país cindido entre brancos e negros.2 Nosso país é composto por várias etnias, e que cada uma tenha sua história não implica em animosidade entre as mesmas.
Já na introdução da obra, os autores justificam a necessidade de seu livro apresentando a questão de como os professores ensinarão a seus alunos algo que não aprenderam nos bancos da universidade, considerando que nos cursos de licenciatura o continente aparece como secundário e marginal em relação a alguns processos históricos. No primeiro capítulo, são abordadas as várias construções acerca da ideia de África, em fontes como os textos de Heródoto, Plínio e a cartografia medieval, desde o período da Antiguidade, passando pela Idade Média e Moderna. No geral, prevalece a noção de “território de monstros”, continente associado ao “Bestiário” e região de “clima inóspito”.
O segundo capítulo questiona o termo África que, utilizado de forma genérica, como identidade estabelecida pelo europeu, para todos os habitantes do continente não permite uma matização de suas diferenças físicas, culturais e sociais, tendo sido utilizado como sinônimo de atraso. Os autores pontuam que os habitantes da África devem ser pensados como membros de civilizações e culturas que realizaram migrações, trocas culturais com outras civilizações e com padrões de sociabilidade que tornam inadequadas sua caracterização pela ótica ocidental. Há que se destacar a importância da reflexão empreendida pelos autores sobre os conceitos de raça, etnia e formação humana.
No capítulo 3, intitulado “Religiões”, Lopes e Arnaut traçam um perfil do continente africano no que tange a essa questão. A introdução das religiões monoteístas, como o cristianismo e o islamismo, é analisada de forma atenta pelos autores, os quais destacam que esta última se encontra na melhor posição para se tornar a religião do continente, devido ao seu ritmo de crescimento. No que se refere às religiões nativas, consideramos importante citar:
“[…] tentam responder às mesmas indagações que as demais religiões. Apresentam um deus superior que criou o universo e, em algumas, verificamos a presença de entidades menores […] Outro elemento importante é a ligação com os ancestrais […].” 3
O quarto capítulo trabalha a questão de como as diferentes tradições intelectuais se posicionaram diante do continente africano. A concepção hegeliana de negação de história para a África prevaleceu favorecida pela noção, superada, de se considerar o que é histórico vinculado ao surgimento da escrita. Nos dias de hoje, acredita-se que a humanidade está vinculada ao princípio da ereção corporal que possibilitou pensar outros registros, iconográficos e artísticos, como fontes de pesquisa. Os autores também mencionam a importância de alguns centros de pesquisa, que mesmo estando atrelados ao colonialismo europeu, deram uma contribuição importante para aspectos da história e geografia africana, assim como a realização do projeto História Geral da África coordenado pela na década de 1960.
O quinto capítulo versa sobre as organizações políticas. Nele, os autores trabalham com categorias de império e reinos e classificam a organização política dos povos africanos em três fases distintas até o período da colonização.
Uma se estende até o século VI da era cristã, marcada pela constituição de grandes culturas na faixa mediterrânea e na extensão do Nilo. Uma segunda até o século XV, marcada pela presença islâmica. A terceira fase vai até 1880 e é caracterizada pela presença europeia no continente.
O capítulo 6 é referente ao fenômeno que chamamos também de neocolonialismo. Até o final do século XIX, o contato dos europeus com o continente africano estava mais restrito ao litoral. Com as independências das nações latino- -americanas, voltaram sua atenção para continente que até então funcionava principalmente como repositório de escravos, partilhando-o entre si. As explicações mais comuns para esse fenômeno são realizadas a partir da perspectiva europeia, com a concentração de capital e formação de monopólios nos países colonizadores.
O livro aqui analisado traz uma perspectiva diferente, amparada na teoria da dimensão africana. Segundo essa, uma expansão do capital privado desencadeou uma ocupação militar no continente africano frente à ação de resistência dos habitantes nativos à colonização. Os europeus de fato tiveram motivos de ordem econômica para essa expansão, mas os povos do continente africano também estavam passando por transformações antes da presença europeia, de modo que a resistência dessas populações ao domínio comercial desencadeou o domínio militar. Essa resistência é categorizada pelos autores em: primária, primária retardada e intermediária. Em suas palavras: A resistência primária foi uma reação direta à ameaça representada pelos invasores europeus. Os reis buscavam através dos diversos meios disponíveis, tanto militares quanto diplomáticos, conter a invasão, ou pelo menos impedir que resultasse na extinção dos reinos. Após os europeus já terem estabelecido sua presença e sua autoridade no território africano, desenvolveu-se a resistência primária retardada.
Apesar da diferença da presença ou não do europeu, as duas resistências são chamadas de primária, na medida em que traduzem um confronto entre povos distintos […] A resistência intermediária revela uma acomodação entre as antigas estruturas africanas e as novas estruturas coloniais. A partir da década de 1920, assistimos a uma acomodação e a um ajustamento à nova situação na qual os africanos e os europeus participam, de forma assimétrica, é verdade, da mesma configuração social.4 O domínio colonial é tema do capítulo 7. Lopes e Arnaut explicam o êxito do domínio militar dos europeus com cinco razões: superioridade militar e logística; maior estabilidade; maiores recursos materiais e financeiros; maior conhecimento do continente; e o avanço da medicina tropical. As primeiras e principais preocupações dos europeus foram no sentido de coagir mão de obra para abastecer os portos com produtos nativos e expropriação da propriedade da terra em favor dos colonos.
A violência, o extermínio biológico e cultural são apenas algumas das facetas da colonização europeia na África. Lopes e Arnaut destacam outros elementos que necessitam ser considerados ao se analisar esse processo histórico. A colonização europeia trouxe transformações significativas para os africanos tais como: a urbanização, propagação da educação formal e formação de uma nova identidade. Esse último elemento foi fundamental no processo de luta pela independência dos países africanos. Essas independências são tema do capítulo 8, no qual os autores problematizam a forma como a temática é apontada nos livros didáticos. O termo independência é apresentado como forma de pensar o processo de fim de domínio de nações europeias sobre o continente africano, em contraposição ao termo descolonização.
Essa última designação, também utilizada por professores de História em sala de aula, elimina vestígios da luta africana nesse processo e fortalece uma visão etnocêntrica do processo histórico em questão.
Também destacamos a importância de um item ao final livro que apresenta uma lista de filmes cuja temática é África. Os comentários que acompanham cada filme podem bem auxiliar professores numa eventual escolha para trabalhar com seus alunos. Nesse mesmo item, também pode ser encontrada uma cronologia detalhada das independências africanas, trazendo dados como ano, data, chefe de governo, principais partidos e fatos ligados ao evento. Na sequência, encontra-se uma considerável lista de sugestões bibliográficas agrupadas em torno de grandes temas que podem servir como roteiro de um estudo mais aprofundado. Também observamos a presença de alguns erros gráficos que esperamos sejam corrigidos em edições posteriores.
A obra ora resenhada cumpre bem seu papel de introduzir ao conhecimento de história da África. Pode ser bastante útil tanto a professores do Ensino Fundamental e Médio, bem como a acadêmicos das Ciências Humanas e ao público em geral. Trata-se de um trabalho introdutório que oferece ao leitor um panorama historiográfico, e não meramente informativo, do tema abordado, a África, o que pode ser destacado como ponto forte da obra. Outro elemento que merece atenção diz respeito à forma como os autores abordam o impacto da colonização europeia no continente não de forma maniqueísta, colonizador versus colonizado, mas como elementos que integram um processo histórico que cotidianamente desafia os africanos na busca de novos rumos para o seu continente.
Notas
1 Sobre algumas dessas obras traçamos algumas reflexões: SILVA, José Alexandre. África e Brasil Africano para a sala de aula. Históriae-História. In: http://www. historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=resenhas&id=21; _____ Ancestrais: uma introdução à História da África Atlântica. Revista África e Africanidades. Ano I – n. 4 – Fev. 2009. In: http://www.africaeafricanidades.com/documentos/ Ancestrais_uma_introducao_a_historia_da_Africa.pdf
2 Este argumento é defendido por alguns autores, entre os quais destacamos: MAGNOLI, Demétrio. Uma Gota de Sangue. São Paulo: Contexto, 2009. Ver: SILVA, José Alexandre. Históriae-História. In: http://www.historiaehistoria. com.br/materia.cfm?tb=resenhas&id=60
3 LOPES, Ana Mónica; ARNAUT, Luís. História da África: uma introdução. Belo Horizonte: Crisálida, 2005, p. 30-31.
4 LOPES, Ana Mónica; ARNAUT, Luís. História da África: uma introdução. Belo Horizonte: Crisálida, 2005, p. 64.
José Alexandre da Silva – Professor de História da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, e mestrando em educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). E-mail: sjosealexandre@ymail.com.



