Posts com a Tag ‘Guerra’
Independência e morte: política e guerra na emancipação do Brasil (1821-1823) | Hélio Franchini Neto
Hélio Franchini Neto | Imagem: Ateliê Editorial
Em meio às reflexões levantadas pelo bicentenário da Independência, é momento de voltarmos aos clássicos produzidos pela historiografia acerca do tema e, sobretudo, promover o diálogo destes com as interpretações mais recentes que reconstituem o processo de Independência por meio diferentes abordagens. Dentre as novas propostas de análise elaboradas nos últimos anos, cabe destacar Independência e morte: política e guerra na emancipação do Brasil, 1821-1823, fruto da tese de doutorado em História elaborada por Helio Franchini Neto. Diplomata de carreira, o autor nos contempla com uma abordagem historiográfica que pretende inserir o componente militar no contexto da produção acadêmica que privilegia a reavaliação do processo de Independência do Brasil desde os conflitos ocorridos a partir de 1822.
A obra resenhada em questão conta com prefácio de Francisco Doratioto e é dividida em oito capítulos, acrescidos de conclusão, apêndice e bibliografia. Dentre muitos objetivos, é necessário salientar que o livro busca alertar o leitor, desde sua introdução, acerca de dois grandes aspectos. O primeiro deles versa sobre a necessidade de se romper com o mito de um processo de Independência feito de forma pacífica, destacando as dificuldades de se consolidar o projeto de Estado-nação após a emancipação. As bases para tal resistência nos levam a um segundo aspecto que o autor persegue ao longo de toda sua pesquisa: a importância dos contextos políticos regionais no processo de emancipação. A participação das diferentes regiões do território brasileiro nos conflitos é ponto primordial para o autor, ao caracterizar os diversos interesses que estavam em jogo durante o período no qual as localidades precisaram, então, optar pela adesão a um dos polos políticos que disputavam a centralidade do poder: Lisboa e Rio de Janeiro.
A pesquisa empírica desenvolvida pelo autor merece destaque. Com o intuito de recuperar os registros das batalhas ocorridas entre 1822 e 1823, Franchini Neto lança mão de um amplo conjunto de fontes, composto, entre outros acervos, por documentos presentes no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, além da documentação dos arquivos das Forças Armadas brasileiras, da Biblioteca Nacional, bem como o acervo do Arquivo Nacional. Além dessas fontes, cabe salientar que, buscando revelar os indícios de um processo de emancipação permeado pela instabilidade, a obra fornece ao leitor um levantamento primoroso sobre os conflitos e a mobilização militar do período por meio da imprensa e dos arquivos diplomáticos do Brasil, da França e da Áustria, por exemplo. O arcabouço de fontes foi também enriquecido com as correspondências diplomáticas referentes ao Reino Unido e aos Estados Unidos.
Vale ainda ressaltar que o trabalho com a documentação primária abarca também as regionalidades, trazendo à tona documentos importantes para a compreensão das realidades locais, contribuindo, assim, com as interpretações historiográficas que primam pela participação das províncias no processo político da Independência.
Ao longo do texto, o leitor tem acesso a um importante diálogo com pesquisas consolidadas que, no decurso dos anos, nortearam a historiografia sobre a problemática da Independência. Nas mais de seiscentas páginas da obra, evidencia-se o debate enriquecedor com autores primordiais para a compreensão do contexto, como José Murilo de Carvalho, Lucia Bastos, Marcello Basile, João Paulo Pimenta, Evaldo Cabral de Mello, István Jancsó, Hendrik Kraay, entre muitos outros estudiosos da área que igualmente merecem destaque. É em meio a essa ampla rede de historiadores que Franchini Neto se coloca a contribuir com a vasta produção acadêmica já existente na área, visando, sobretudo, ampliar as reflexões sobre a potencialidade do papel da guerra na manutenção da unidade territorial e política em um cenário repleto de conflitos.
No primeiro capítulo, intitulado “O Brasil de 1822”, o autor destaca o contexto histórico que precede o processo da Independência, e ressalta a ideia de uma pluralidade de projetos políticos para o Brasil naquele cenário, bem como as dificuldades de uma administração centralizada, apesar da vinda da corte em 1808 (Franchini Neto, 2019, p. 31). Um ponto importante do capítulo é trazer à tona a multiplicidade de vivências em todo o reino, fato que impactou a forma como as diferentes localidades lidavam com Lisboa. Para o autor, tal indicativo se faz essencial para compreender até mesmo as reações distintas das regiões após a proclamação. Em meio a tal reflexão, Franchini Neto aponta ainda a presença de certa heterogeneidade acerca dos debates sobre variados projetos políticos e sobre o futuro do reino naquele período (p. 47). Ao fim do capítulo, destaca-se que a diferença da experiência histórica em âmbito regional fez emergir também perspectivas díspares entre o norte e o sul do país com relação à disputa que se colocaria logo em seguida entre Rio de Janeiro e Lisboa.
Em “A Constituinte luso-brasileira”, segundo capítulo da obra, torna-se possível compreender os limites e as contradições do vintismo por meio das reflexões do autor, que exaltam, detalhadamente, as formas múltiplas pelas quais o movimento fora sentido e recebido no plano interno e internacional. Para essa última análise, é importante destacar o debate que se vislumbra no texto a partir do diálogo entre alguns importantes documentos da época, como os registrados na obra de Varnhagen, junto a diversos documentos diplomáticos, que ressaltam as divergências que permearam o movimento vintista. Tais fontes levantadas pelo autor nos apresentam, desse modo, uma narrativa que traduz os bastidores do vintismo pelos olhares de representantes diplomáticos e suas preocupações com a instabilidade política entre Brasil e Portugal. Entre os documentos investigados, as correspondências e ofícios obtidos em arquivos britânicos e americanos nos indicam nuances até então não problematizadas sobre este contexto (Franchini Neto, 2019, p. 66).
As divergências em torno da recepção do movimento no reino, explicitadas por Franchini Neto, se consolidam a partir da relação direta com o modo pelo qual as localidades interagiam com Lisboa e com o Rio de Janeiro. É nesse ponto da investigação que a Bahia emerge como pano de fundo e cenário profícuo para grandes discussões e conflitos, em meio ao processo de emancipação que iria se desenrolar nos meses posteriores. A Bahia, nesse sentido, consolida, nas premissas do autor, a ideia de heterogeneidade no seio das elites regionais, indicativo levantado frequentemente na obra. A mesma variação de comportamento também é visualizada no momento em que Franchini Neto discute o posicionamento dos deputados brasileiros nas cortes. Em meio a essa elite política, nesse sentido, evidenciavam-se dois grupos: os vintistas e os unitários. O pesquisador ressalta ainda que, dessa forma, pode-se compreender que, no processo de convocação das cortes e suas discussões, emergiam ali dois estados buscando legitimação política e a conquista das diferentes regiões do Brasil. As lideranças políticas ligadas a estes centros irão, sobretudo, requerer das províncias sua adesão e lealdade a um dos polos da disputa, o que o autor determina como a consolidação de uma “típica situação de guerra”, que permeou todo o processo de emancipação (Franchini Neto, 2019, p. 91).
Em suma, o segundo capítulo da obra indica que, a partir da dicotomia “regeneração” versus “recolonização”, tem-se então um acirrado conflito político e bélico que dará base à Independência do Brasil. Ademais, o processo de adesão, longe de ter sido fato consolidado desde o primeiro momento, se exibe como um “movimento pendular” diante de interesses e decisões políticas do Rio ou de Lisboa. Como assinala o autor, a adesão das províncias não teria sido, assim, um movimento homogêneo e automático, posto que muitas resistiam até mesmo às duas propostas vigentes, ou ainda não optavam por algum dos lados dessa disputa. Para o autor, o posicionamento diante dos dois projetos (Lisboa e Rio) muitas vezes evidenciou-se como uma demanda vinda de fora das províncias, revelando pressões externas, e não como uma opção advinda internamente.
Durante o segundo capítulo, o autor elabora de forma minuciosa as possíveis causas desses conflitos e seu real significado em meio ao movimento de restauração em Portugal que seria, na verdade, a quebra da estrutura de governo que estava centralizada no Rio de Janeiro e a recolocação de Lisboa como o único centro de poder (Franchini Neto, 2019, p. 92). Objetivando enfatizar as dificuldades de um projeto aglutinador por parte de d. Pedro, o autor também discorre sobre o processo de negociação do príncipe com as elites regionais no contexto interno e, ao mesmo tempo, com a esfera internacional, quando destaca, por exemplo, a posição do Reino Unido, da Prússia e da Áustria diante da causa brasileira na disputa pela proeminência política empreendida por Lisboa e Rio. Para além disso, é levantado outro ponto de importante reflexão na tentativa de extrapolar o debate historiográfico que se baseia no contraponto entre as teses do “nacionalismo de adoção” e do “sacrifício por interesses políticos” por parte do d. Pedro. À primeira interpretação, Franchini Neto atribui a construção do ideário de uma Independência pacífica. Contudo, apoiando-se, entre outros documentos, em ofícios militares diplomáticos e correspondências, o autor mobiliza uma perspectiva historiográfica que atesta o posicionamento e as decisões do príncipe regente diretamente ligadas aos conflitos com as cortes (p. 108).
É então no terceiro capítulo, “Uma rebelião armada”, que o autor se propõe a detalhar o contexto do Fico, ressaltando o clima de violência que marcou o período após esta data decisiva. Assim, o Fico, segundo Franchini Neto, seria não somente uma mera proclamação, mas também um ato político do qual resultou um conflito armado e mobilizações militares importantes em diferentes regiões do país (Franchini Neto, 2019, p. 143). O contexto violento e conflituoso de 1822 é reconstruído por meio de fontes importantes como as informações subsidiadas por correspondências oficiais escritas pelo coronel Malet, diplomata francês que transmitiu nuances do cenário conturbado que se montou no Rio de Janeiro. Além disso, o autor se baseia na análise dos impressos e das atas da Assembleia Constituinte para destacar os conflitos e a mobilização militar daquela quadra.
Ao estudar o processo de emancipação e a disputa entre Rio e Lisboa, a obra evidencia a necessidade do príncipe em angariar esforços para sua causa. Franchini Neto, ao indicar as localidades que se tornaram base para a resistência de d. Pedro, as chamadas “províncias coligadas”, acentua que, até mesmo onde ele parecia dispor de algum apoio político, demandou-se também um longo processo de negociação em torno das elites regionais em prol da manutenção de tal adesão à causa brasileira. Assim, em localidades como São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, que afirmaram, naquele contexto, seu apoio à causa brasileira, notou-se certa oscilação nesse posicionamento em prol de d. Pedro. Tal fato, acentua o autor, demandou esforços intensos por parte do príncipe. Todavia, o capítulo demonstra que a base política de d. Pedro era, assim, pouco sólida, sobretudo pela existência de divergências internas nas províncias.
Ao caracterizar todo o processo político que levou à emancipação, o pesquisador aponta elementos que consolidaram o agravamento da situação política em 1822, levando à Independência do Brasil e ao estabelecimento do imperador. No entanto, mesmo após o rompimento, o Brasil ainda permanecia dividido, nas palavras do autor, caracterizando-se por “uma identidade ainda em construção”, o que levou a uma guerra que atingiu, sobretudo, as regionalidades (Franchini Neto, 2019, p. 216). O conflito movimentou as questões internas nas províncias, a partir também das demandas políticas regionais.
Nas demais províncias do reino do Brasil, situações conflitivas apareceram, dando conta da agitação política em que se encontrava o território português. Não existiu apenas uma tendência nesses territórios, ao contrário do que a historiografia tradicional aponta e qualifica como exemplo de uma brasilidade preexistente. (Franchini Neto, 2019, p. 189)
Desse modo, ao levantar documentos provenientes das juntas governativas, como diários, cartas e ofícios advindos de diversas localidades do reino, e a partir de indícios publicados no Diário do Governo de Lisboa, o autor demonstra uma série de desdobramentos políticos que ocorreram em diferentes províncias, que auxiliam na reconstrução dos cenários provinciais em torno da disputa entre Rio de Janeiro e Lisboa, mesmo após a efetiva emancipação.
Nesse contexto, torna-se árdua a tarefa de unir o povo em uma mesma identidade, apoiando uma só causa. Assim, é no quarto capítulo, denominado “A mobilização militar”, que autor redesenha a magnitude da mobilização militar que atuou no processo de consolidação da Independência, a partir de fontes que elucidam as operações da Marinha, assim como diversos dados contidos em escritos da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). O levantamento é rico em detalhes ao traduzir a estrutura do aparato militar que atuou em território brasileiro e, ao mesmo tempo, aponta a organização militar proveniente do outro lado do Atlântico, em meio ao contexto conflituoso que se estabeleceu após a emancipação. Nessa parte do texto, Franchini Neto nos contempla com tabelas e registros bastante completos que evidenciam o contingente de armamento vigente naquela ocasião (Franchini Neto, 2019, p. 245). É neste ponto do capítulo que o autor acentua uma discussão bastante oportuna acerca do conceito de “guerra” e do motivo de sua não utilização por parte do Rio de Janeiro e de Lisboa durante aquele período. A ausência de uso do vocábulo, no entanto, não exclui a existência de um conflito armado significativo durante o processo de Independência.
O capítulo “Guerra no centro estratégico: Bahia”, quinto da obra, nos permite dimensionar a importância dessa região durante os conflitos militares que emergem no processo de emancipação política e nos meses que se seguiram. A Bahia e, sobretudo, a figura de general Madeira, configuram-se como peças fundamentais na narrativa do autor para apresentar minuciosamente ao leitor como teria ocorrido o enfrentamento entre Lisboa e Rio de Janeiro. A partir da análise dessa região, Helio Franchini Neto consolida sua tese, que leva em conta o cenário de guerra que emerge no processo de emancipação. A obra exibe um levantamento baseado na releitura da historiografia sobre a Bahia e ancora-se em fontes como o jornal A Idade d’Ouro, além de ofícios dirigidos às cortes e panfletos manuscritos. Com posição estratégica entre as demais regiões do território e importância também no âmbito econômico, a Bahia se tornou o centro do conflito armado. Nessa perspectiva, ao elaborar o clima bélico durante o processo de adesão aos dois polos políticos, o autor faz questão de enfatizar a linha de pensamento que persegue por todo o texto: a importância das dissidências regionais diante do apoio à causa da Independência. Assim, naquela região as posições também não eram unânimes em favor de Lisboa ou do Rio. Panfletos do período corroboram a ideia de três grupos políticos distintos consolidando o contexto político que serviria de palco para o conflito armado (Franchini Neto, 2019, p. 290).
No sexto capítulo Franchini Neto apresenta “O teatro de operações Norte”, conduzindo o leitor a compreender que as operações militares nessa região nos comprovam o quanto a emancipação dependeu dos conflitos militares e das negociações regionais. Interessante destacar que, ao abordar as províncias separadamente no cenário de conflito armado, o autor deixa claro que os contextos regionais não se construíram de forma isolada, pois apresentavam relação direta com os acontecimentos do Rio de Janeiro e da Bahia, por exemplo. Desse modo, é notória a iniciativa da obra em dar voz às realidades regionais, incorporando- -as a um contexto conflituoso que atravessava todo o território.
Assim, ao elaborar sua análise sobre o longo processo que levou à incorporação de províncias como Piauí, Maranhão e Pará ao projeto político brasileiro de d. Pedro, o autor traz percepções bastante esclarecedoras, como a problematização acerca do fato de que incorporar uma região à causa brasileira não significou angariar sua total fidelidade dentro do conflito (Franchini Neto, 2019, p. 491). Além disso, na maioria das vezes, como cita o pesquisador, o posicionamento regional nasceu da necessidade de se adaptar às mudanças impostas na dinâmica política. Em algumas regiões, mesmo sem o vínculo com Lisboa, agora quebrado a partir dos conflitos armados, também era difícil constituir um vínculo sólido com o Rio de Janeiro (p. 519).
O sétimo capítulo tem como foco a Cisplatina e o processo de adesão à Independência do Brasil em meio a conflitos já existentes naquela região. Lisboa e Rio mantinham certo diálogo com a localidade, disputando apoio político. A manutenção da Cisplatina, como acentua o autor, seria fundamental para a consolidação do projeto político concebido por José Bonifácio para o império brasileiro. Diante do impasse, mais uma vez a solução tendia a ser o conflito militar. A composição do cenário de guerra naquela região, sobretudo por parte das forças militares portuguesas, que reagiram a partir da obrigação de se posicionar diante da política pendular do Rio e de Lisboa, foi amplamente discutida pelo autor por meio de ofícios e correspondências diplomáticas. Já no oitavo capítulo, centrado, sobretudo, em 1823, são demonstrados os percalços que envolveram todo o momento pós-guerra e o longo processo de reconhecimento da Independência do Brasil, entre perdas, ganhos e arranjos. A investigação de Franchini Neto elucida de que forma terminam esses conflitos em todo o território e reconstitui as principais negociações que envolveram a emancipação do Brasil, dando ênfase aos documentos diplomáticos e à atuação inglesa no processo de reconhecimento. Os combates, como acentua o autor, terminam em 1823. Todavia, é necessário enfatizar a existência de conflitos políticos posteriores que emanam do Rio de Janeiro, bem como a incidência de revoltas, sobretudo regionais, relacionadas ao apoio à Lisboa. A obra evidencia que Maranhão e Pará são exemplos da duração dessas contendas, que permanecerão vivas até meados de 1825, no momento de reconhecimento da Independência.
Seguindo para sua conclusão, o autor resgata questões importantes que permeiam toda a interpretação histórica que se contrapõe a uma ideia de emancipação pacífica. Para Franchini Neto, é necessário que todo o percurso conflituoso caracterizado na obra não seja visto simplesmente como o processo de Independência do Brasil, mas sim como um trajeto histórico que, entre tantos resultados possíveis, culminou, então, na emancipação. A obra acentua o cenário marcado pela instabilidade política e pela ausência de identidade nacional em meio ao caminho que levou à emancipação. Desse modo, Franchini Neto conjectura que a Independência fora então o resultado da disputa entre os dois polos, Rio e Lisboa, que conflitaram na tentativa de angariar alguns eixos principais: a Bahia, o Norte e a Cisplatina. Foram nesses cenários em que d. Pedro precisou ampliar sua adesão política, sobretudo diante das elites regionais, objetivando o reconhecimento de seu projeto político (Franchini Neto, 2019, p. 568).
Apoiando-se em autores cruciais que dão base ao debate sobre a historiografia da Independência, temática que apresenta vasta produção acadêmica, sua perspectiva historiográfica pretende inserir o componente militar no centro das discussões e aponta reavaliações históricas pertinentes sobre o período. Por meio de minucioso trabalho empírico, contemplando um amplo arcabouço de documentos, além de variados acervos, a obra recupera e traz à luz os registros das batalhas motivadas pela disputa entre Rio de Janeiro e Lisboa, destacando as dinâmicas regionais, e, ainda, acentuando a participação popular, ao enfatizar as dificuldades de adesão encontradas por d. Pedro.
Assim, na esteira dos estudos que emergem no momento do bicentenário da Independência do Brasil, a obra certamente contribui para a composição das interpretações historiográficas que buscam reavaliar o contexto da emancipação e seus desdobramentos. O livro de Helio Franchini Neto se destaca, entre outras características, por dialogar com interpretações consolidadas dentro da temática e, ao mesmo tempo, por conseguir, com êxito, inserir a mobilização militar que ocorreu entre 1822 e 1823 como elemento fundamental na construção do Estado-nação e na unidade territorial brasileira.
Referência
FRANCHINI NETO, Hélio. Independência e morte: política e guerra na emancipação do Brasil (1821- 1823). 1. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 2019.
Resenhista
Karulliny Silverol Siqueira – Doutora em História Social pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Professora do Programa de Pós-Graduação em História e do Departamento de Arquivologia da Ufes, Brasil. E-mail: karulliny@yahoo.com.br
Referências desta Resenha
FRANCHINI NETO, Hélio. Independência e morte: política e guerra na emancipação do Brasil (1821-1823). Rio de Janeiro: Topbooks, 2019. Resenha de: SIQUEIRA, Karulliny Silverol. Entre conflitos e negociações: a Independência do Brasil sob a ótica do enfrentamento militar. Acervo. Rio de Janeiro, v. 35, n. 3, p. 1-9, set./dez. 2022. Acessar publicação original [DR]
The First World Empire: Portugal/ War and Military Revolution | Heler Carvalhal, André Murteira e Roger Lee de Jesus
Croquis do sítio e ordem de batalha de Alcântara diante de Lisboa, por mar e terra. Detalhe de capa de “The First World Empire: Portugal, War and Military Revolution” | Imagem: Wikipedia
Antifascismo/guerra e Resistenze in Maremma | Stefano Campagna, Adolfo Turbanti
Con questo volume l’Istituto storico grossetano per la Resistenza e l’Età contemporanea (ISGREC)1, a quasi trent’anni dalla sua fondazione, realizza un «obiettivo che era insito nella sua stessa natura»2, proponendo alla cittadinanza e agli specialisti del settore un lavoro storiografico sulla Resistenza in provincia di Grosseto. Come anticipato dal titolo, i dieci mesi di occupazione tedesca rappresentano solo una parte nell’economia del volume, che affronta i nodi storiografici legati alla guerra ed alla Resistenza alla luce di una lettura di lungo periodo, attenta alle tradizioni politiche della provincia ed alla sussistenza di fragili reti antifasciste durante il regime. Tale impostazione si sposa con una scelta metodologica in linea con l’evoluzione dell’interpretazione storica sulla Resistenza. Leia Mais
Ejército de Línea y poder central. Guerra/política militar y construcción estatal en la Argentina/1860 – 1880 | Lucas Codesido
La publicación de este libro en 2021 tuvo algo de acontecimiento en el submundo de la literatura militar decimonónica en Argentina. No existe bibliografía abundante sobre el Ejército de Línea en la segunda mitad del siglo XIX, y en particular en el periodo en el que el autor se detiene. Aunque un conjunto de investigadores venimos estudiando dicho referente, los marcos temporales apenas llegan a la década de 1880 y salvo excepciones, no vamos río arriba, hacia las décadas de 1870, 1860 o 1850. Leia Mais
A guerra do retorno: como resolver o problema dos refugiados e estabelecer a par entre palestinos e israelenses | Adi Schwartz e Einat Wilf
Adi Schwartz e Einat Wilf | Foto: [Miriam Alster] (2018)
O livro, publicado em setembro de 2021, traz dois autores israelenses que se propõem a debater a questão dos refugiados palestinos e a estabelecer uma alternativa para a paz entre ambos os grupos. Segundo informações no site da editora de publicação do livro, Adi Schwartz é jornalista e escritor, estudou na Universidade de Tel Aviv e concentra seus estudos no conflito árabe-israelense e na história de Israel II. Já Einat Wilf é PhD em Ciência política pela Universidade de Cambridge e foi membro do Parlamento israelense, tendo escrito outros livros que tratam da sociedade israelense III.
A Guerra do retorno é mais uma publicação sobre um tema que há muito vem sendo debatido nos meios intelectuais, políticos e acadêmicos, pois nos quase setenta anos que se passaram desde o primeiro conflito árabe-israelense diversos artigos e publicações foram escritos. No entanto ainda há muito a ser dito IV. Dividido em cinco capítulos, os autores traçam um panorama que engloba o início da guerra até os dias atuais, focando especificamente na questão dos refugiados: sua origem, o debate acerca do seu direito de retorno, o tratamento dos países árabes e a construção da imagem do palestino enquanto refugiado nos meios internacionais. Leia Mais
The War on Sugar: forced labor, commodity production and the origins of the Haitian peasantry, 1791-1843 | Johnhanry Gonzalez
Battle of San Domingo, also known as the Battle for Palm Tree Hill | Pintura de January Suchodolski
Pesquisas sobre a Revolução Haitiana se desenvolveram em ritmo surpreendente na academia nas últimas décadas, diversificando a discussão com variadas perspectivas de análise que muito contribuíram para o amadurecimento deste campo de estudo. Interpretações políticas, econômicas e sociais da antiga colônia de Saint-Domingue se somaram à avaliação dos impactos da revolução escrava em diversos espaços do mundo atlântico. É dentro deste movimento de renovação que se insere a obra de Johnhenry Gonzalez, Maroon Nation: A History of Revolutionary Haiti, adaptação de sua tese de doutorado3.
Publicado em 2019 pela editora da Universidade de Yale, o livro se propõe, antes de tudo, como uma introdução à história inicial do Haiti no século XIX. Preocupado em compreender as persistentes crises de subdesenvolvimento e dependência que atingem este país há décadas, Gonzalez volta à era revolucionária para analisar a emergência do campesinato haitiano, cerne da organização econômica e social do Haiti contemporâneo. Recorrendo a relatos de viajantes, relatórios de países estrangeiros, documentos militares, judiciais e políticos encontrados no Haiti, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, o autor concebe dois caminhos de análise relacionados e centrais para a originalidade da obra: a interpretação alargada da Revolução Haitiana e a tese da nação maroon. Leia Mais
Jinga de Angola: a rainha Guerreira da África | Linda M. Heywood
Cercada por mitos e controvérsias, a história da Rainha Jinga já inspirou livros, canções, filmes e movimentos sociais. No Brasil, trabalhos como de Selma Pantoja (2000) e de Mariana Bracks Fonseca (2018) ilustram a importância da rainha Jinga no contexto africano as representações dela ao longo do tempo. Atualmente, o livro “Jinga de Angola: a rainha guerreira da África”, escrito por Linda M. Heywood, é o mais recente e um dos mais completos estudos sobre a história da rainha africana que enfrentou disputas internas e externas para reconstruir o reino do Ndongo entre os séculos XVI e XVII.
A autora tem uma carreira consagrada ao estudo das sociedades na África Centro Ocidental (grosso modo atual Angola), tendo publicado monografias e organizado livros sobre o tema. Seus trabalhos versam sobre assuntos relacionados à política, cultura, poder e diáspora no contexto africano. Entre nós, a produção de Heywood é tímida, resumindo-se ao livro de organização “Diáspora Negra no Brasil” (2008), da editora Contexto, versão do livro Central Africans and Cultural Transformations in American Diaspora, mas composta apenas com artigos relacionados ao Brasil. Leia Mais
¡Valencianos en guerra! 1808-1814. Unidades didácticas | Juan Ramón Moreno-Vera
El pasado 9 de junio de 2021 se inauguraba en el Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA) la exposición ¡Valencianos en guerra! 1808-1814 dedicada a recuperar y divulgar los testimonios de memoria de la Guerra de la Independencia española en el territorio de la actual Comunidad Valenciana. Leia Mais
La Spagnola in Italia 1918-1919 / Eugenia Tognotti
Eugenia Tognotti / Foto: La Stampa /
 Misure di distanziamento sociale, sospensione delle riunioni pubbliche, divieto di assembramento, limitazione all’uso dei mezzi di trasporto, chiusura di scuole, chiese e teatri: il lockdown di un secolo fa. La storia delle pandemie ci riporta, con il libro di Eugenia Tognotti, al biennio 1918-’19, nel pieno della terribile Spagnola; in effetti, gli echi di una malattia che sembrava sfuggire a ogni possibilità di intervento umano non sono poi così differenti da quelli riportati dai media oggi. La difficoltà diagnostica legata alla scarsa specificità del quadro sintomatico, simile a quello di altre malattie influenzali, ma ben più letale, l’elevato potenziale contagioso, la concomitanza con la guerra fecero rapidamente delinearsi il quadro di una tragedia collettiva.
Misure di distanziamento sociale, sospensione delle riunioni pubbliche, divieto di assembramento, limitazione all’uso dei mezzi di trasporto, chiusura di scuole, chiese e teatri: il lockdown di un secolo fa. La storia delle pandemie ci riporta, con il libro di Eugenia Tognotti, al biennio 1918-’19, nel pieno della terribile Spagnola; in effetti, gli echi di una malattia che sembrava sfuggire a ogni possibilità di intervento umano non sono poi così differenti da quelli riportati dai media oggi. La difficoltà diagnostica legata alla scarsa specificità del quadro sintomatico, simile a quello di altre malattie influenzali, ma ben più letale, l’elevato potenziale contagioso, la concomitanza con la guerra fecero rapidamente delinearsi il quadro di una tragedia collettiva.
“… Fame, peste, guerra. In tutta Italia vi è una grande epidemia chiamata febbre spagnola che anche capitò a Monterosso, non vi potete immaginare quanta gioventù muore, se dura ancora non restiamo nessuno […]. Si muore come l’animali senza il conforto di parenti e amici”. Il tono tragico di questa come di altre lettere, inviate da cittadini italiani a congiunti e amici residenti all’estero e richiamate nel volume, non lascia dubbi sulla gravità della situazione venutasi a creare a seguito della diffusione della Spagnola. Tuttavia, la documentazione ufficiale di quegli anni non fornisce un riscontro corrispondente, né permette di rilevare le reali dimensioni del problema; anzi, ci restituisce l’immagine di un dramma che si delinea a tinte flebili, almeno nella prima fase. E se anche oggi non è raro trovare memoria orale della terribile malattia, meno presente e più sfumata è la versione dei canali divulgativi ufficiali, apparati ministeriali, trattati scientifici, organi di informazione; tanto che molti interrogativi ancora rimangono in attesa di una risposta. Sui giornali dell’epoca le tracce della prima ondata dell’epidemia sono ineffabili, la tragedia che si consuma ha ancora tratti deboli e contorni sfocati. Quasi nulla riesce a trapelare della reale diffusione, delle incertezze del mondo accademico e scientifico, delle disfunzioni del sistema sanitario.
Come mai tale silenzio? Evidentemente, c’erano buoni motivi perché la realtà fosse taciuta o sottostimata. Nell’Italia lacerata dal primo conflitto mondiale, la morsa della censura dello Stato che proibiva la pubblicazione di informazioni militari si strinse, nel momento più drammatico della guerra, anche attorno alla Spagnola, la guerra sanitaria: fornire al nemico austro-ungarico informazioni sulla gravità della situazione reale era considerato contrario agli interessi nazionali, soprattutto nel momento in cui si stava preparando l’offensiva decisiva. Le direttive governative erano ferree per quanto riguarda il controllo dell’informazione: prevedevano addirittura il sequestro per le testate che avessero pubblicato articoli esplicativi. In realtà, ben prima dell’arrivo della Spagnola i giornali si erano esercitati a tacere ogni notizia che potesse avere un effetto demoralizzante sulla popolazione, aggredita già da diverse malattie epidemiche, come il colera, il tifo e il vaiolo.
Dopo il negazionismo del primo periodo – tutt’al più trafiletti tranquillizzanti, brevi note dai tratti ironici sulle pagine locali – finalizzato al consenso e al sostegno al mondo economico e produttivo necessario per la gestione della contingenza bellica, si rileva l’evidente difficoltà delle agenzie governative nel controllo e nell’orientamento della stampa; il diritto del cittadino all’informazione rimase, comunque, fortemente limitato, anche se risultò impossibile nascondere totalmente la realtà quando l’epidemia raggiunse l’acme.
Il saggio di Eugenia Tognotti, pubblicato nel 2002 e aggiornato nell’edizione del 2015, fornisce nuove conoscenze sulla pandemia influenzale del 1918. L’autrice ricorre a una molteplicità di fonti per ricostruire gli aspetti epidemiologici e socio-sanitari, ripercorrendo la cronologia di quegli anni: carteggi amministrativi, provvedimenti delle Autorità sanitarie, relazioni ministeriali. Ma sono presenti e riccamente documentati, grazie alla ricerca effettuata sui quotidiani dell’epoca e negli archivi di scrittura popolare, anche altri tratti che possono efficacemente contribuire alla costruzione del quadro storico del periodo, come le relazioni sociali, i comportamenti dei soggetti, le credenze e le idee ricorrenti: l’impatto che il dilagare della malattia esercitò sull’immaginario e che trovano, in modo sorprendente, una forma di continuità nelle crisi epidemiche, dai tempi lontani alla contemporaneità.
Chi non ricorda la mesta colonna dei carri militari diretti al cimitero di Bergamo, recentemente proposta dai media? Allo stesso modo, le immagini delle salme trasportate con mezzi speciali, delle inumazioni senza la presenza delle famiglie, dei depositi di feretri presso il cimitero monumentale e la stazione tranviaria di Porta Romana di Milano ebbero, negli anni 1918-’19, un enorme impatto sociale. “Non più preti, non più croci, non più campane” riferiva desolata una donna foggiana al genero. Le principali componenti dei rituali funebri, le cerimonie per elaborare il lutto, la condivisione del dolore nell’ambito familiare, l’intreccio fra la dimensione privata e quella pubblica erano cancellati dalla morte per Spagnola. Le fonti epistolari esprimono lo sconvolgimento del vissuto, lo smarrimento e l’angoscia di fronte ai divieti. “E’ una malattia brutta e schifosa che non ti portano nemmeno in Chiesa”, scriveva un abitante di Bedonia in una lettera diretta a New York. Ancora più della morte, sembrava incutere paura la desacralizzazione del corpo, il suo essere considerato un fardello pericoloso di cui disfarsi prima possibile.
Sono stati “i prigionieri dell’isola dell’Asinara a portare il tifo, il colera e altre malattie contagiose. Le autorità non erano riuscite a isolarle come avrebbero dovuto”; quindi, “i venditori ambulanti che bazzicavano di nascosto gli appartamenti” li introducono nelle case. Le parole del prefetto di Alghero nell’anno 1915 ci ricordano che, anche prima che si manifestasse la Spagnola, un’epidemia assume i tratti del dispositivo di emarginazione. Accade oggi, succedeva in un passato ben più lontano, avvenne anche in quel difficile biennio. La necessità dell’igiene e della disinfezione diventava un’ossessione e, almeno in alcuni strati della società, nascondeva la fobia del contatto con quelle parti sociali – quasi sempre gli abitanti dei quartieri popolari delle città – che si sottraevano all’imperativo delle norme igieniche e che venivano, quindi, considerate a rischio. Si trattava dei soggetti socialmente fragili, che occupavano misere case e angusti tuguri, in vie marginali e cosparse di rifiuti. Se non era più possibile, in pieno XX secolo, l’allontanamento coatto delle masse minacciose dei derelitti fuori del contesto urbano, rimaneva, però, lo stigma contro i portatori di germi, pericolosi vettori della Spagnola, incapaci di adeguarsi alle norme igieniche dominanti.
In realtà, scrive la Tognotti, l’aggressione epidemica del 1918 costituisce un’eccezione a una costante sociale: non operò distinzioni di classe. Tuttavia, la prospettiva storica ci restituisce una novità sul piano demografico e sociale: particolarmente bersagliate dalla malattia, con una mortalità superiore a quella degli uomini, erano le donne. L’epidemia non si era incaricata di porre rimedio all’ineguaglianza di fronte ad una morte di genere, quella in guerra, che mieteva solo vittime maschili; altrove dovevano essere ricercate le ragioni di un fenomeno che colpiva la comunità ma che, all’epoca, non furono subito chiare: l’epidemia infierì in modo particolare sulle giovani donne e sulle ragazze che si erano appropriate quasi in esclusiva del compito di assistenza e di cura dei malati, nelle famiglie e fuori. Una rilevante presenza femminile si stagliava con forza sullo scenario pubblico e si concretizzava nella partecipazione alle riunioni operative, nella distribuzione dei generi alimentari, nel confezionamento dei dispositivi di protezione civile. Le donne, inoltre, supplivano la componente lavorativa maschile impiegata nella guerra, assicurando una funzione insostituibile nelle attività produttive: erano perciò particolarmente esposte al rischio del contagio.
La Spagnola, nelle tre ondate con le quali infierì su buona parte della popolazione mondiale, mieté quasi 20 milioni di vittime; una tragedia che si aggiunse a quella della guerra, nel cui contesto – le linee dei diversi fronti, nella loro condizione di debilitazione e di malnutrizione – trovò l’ambiente giusto per prosperare. Una tragedia, tuttavia, che, come si è detto, ha lasciato scarse tracce di sé nella storiografia; per questo ha un particolare valore il libro della Tognotti. La sua documentatissima ricerca può risultare utile innanzitutto alla storia della medicina, come fa notare Gilberto Corbellini nella presentazione del volume; può rendere consapevole il futuro medico che a monte delle conoscenze e delle pratiche correnti esiste un bagaglio straordinario di esperienze, fatto sia di successi sia di errori, e che egli stesso deve essere pronto a cambiare per apprendere le nuove spiegazioni a fronte dei progressi continui del sapere e delle connessioni fra le discipline mediche. L’autrice mette in evidenza il fatto che molti interrogativi sulla patogenesi, sulle caratteristiche epidemiologiche, sui modelli di mortalità specifica per età restano ancora senza risposta, mentre la comunità scientifica pone la sua attenzione all’emergere di virus influenzali percepiti come minacce capaci di sconvolgere il mondo globale e di renderlo ancora più vulnerabile sul piano economico e sociale. La comparazione con l’attualità proposta implicitamente dal volume contribuisce a formare un clima di consapevolezza culturale in relazione alle conquiste della scienza medica, ma anche alle correlazioni che vengono a istituirsi tra medicina e vivere sociale.
Il volume della Tognotti guarda al passato e centra l’attenzione sul nostro Paese, senza dimenticare le istanze che, necessariamente, una pandemia pone sul piano mondiale. E questo è senz’altro uno dei suoi elementi di forza anche sul piano formativo, allorché si voglia ricostruire eventi trascorsi per facilitare la comprensione di ciò che può accadere in caso di riproposizione del fenomeno. Si tratta di un progetto educativo ambizioso – fa notare ancora Corbellini -, che mira a reintegrare il valore culturale ed etico-sociale della medicina attraverso il recupero della dimensione storica del sapere medico. In effetti, le dinamiche delle pandemie influenzali sembrano essere esempi emblematici di come un interesse storico, articolato a più livelli, dalle ricerche paleomicrobiologiche alle reazioni socio-culturali, possa avere ricadute sul presente.
La ricerca della Tognotti contribuisce a colmare le zone d’ombra conseguenti alla rimozione della memoria, di cui molti manuali sono esempi. Fornisce una magistrale dimostrazione di come si elabora e diffonde sapere storiografico, dal momento che le origini e le caratteristiche della crisi pandemica forse più grave dell’umanità vengono ricostruite attraverso un’approfondita ricerca d’archivio, un attento esame della letteratura medica e un’estesa ricognizione dei mezzi d’informazione; il risultato è di sicuro interesse e fruibilità da parte del mondo della scuola. Mettendo in luce il rapporto tra guerra e malattie infettive, il libro mostra come i conflitti siano luoghi dell’esistenza che travalicano ogni linea di confine per intaccare le esistenze di tutti.
Le pandemie sono eventi che si ripetono nel tempo e ricorrono spesso con le stesse modalità, anche se mai in maniera del tutto uguale: il libro fornisce utili strumenti di analisi interpretativa e permette una riflessione approfondita e a tutto tondo su un argomento di grande attualità e di interesse globale.
Enrica Dondero
TOGNOTTI, Eugenia. La Spagnola in Italia. Storia dell’influenza che fece temere la fine del mondo (1918-19). Milano: FrancoAngeli, 2015. Resenha de: DONDERO, Enrica. Il Bollettino di Clio, n.14, p.157-160, dic., 2020. Acessar publicação original
Logistics of the First Crusade. Acquiring Supplies Amid Chaos – BELL (FR)
BELL, Gregory D. Logistics of the First Crusade. Acquiring Supplies Amid Chaos. Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2019. 226p. Resenha de: BALARD, Michel. Francia-Recensio, Paris, v.4, 2020.
La première croisade a fait l’objet d’une pléthore d’études. Était-il indispensable d’en publier une nouvelle? Oui, sans doute, car le thème choisi par l’auteur a trop longtemps été délaissé: comment une troupe disparate de plusieurs dizaines de milliers de combattants et de non-combattants a-t-elle pu s’approvisionner pendant un voyage de plus de 25 mois, à plusieurs milliers de kilomètres de son point de départ, et réussir à s’emparer de Jérusalem, alors que la faim et la soif la tenaillaient pendant de longues semaines et que tout au long de son parcours la maladie, la mort, la désertion amoindrissaient le nombre des croisés en état de combattre? Pour l’auteur, leur succès repose sur une logistique réfléchie et flexible: loin d’être désorganisés, avides et violents, les chefs de la croisade ont su prévoir les modes d’approvisionnement en marche et pendant les sièges de Nicée, d’Antioche et de Jérusalem.
Pour le démontrer, l’auteur organise son propos en dix chapitres qui suivent les principales étapes de la croisade. Il s’appuie sur une large palette de chroniqueurs, sur quelques lettres écrites par les croisés et sur les chartes et cartulaires faisant mémoire des financements obtenus par les participants, avant le départ de l’expédition. Le fait que le pape Urbain II ait promu celle-ci comme un pèlerinage vers Jérusalem aurait été fondamental pour calmer les ardeurs guerrières lors de la traversée des Balkans et même de l’Anatolie. Plutôt que de se livrer au pillage systématique pour trouver des approvisionnements, les chefs de la croisade auraient cherché à acheter leurs subsistances sur les marchés locaux, en ayant pris soin d’en avertir les responsables à l’avance. Pour ce faire, ils auraient emporté d’importantes sommes d’argent et aidé en cours de route les plus pauvres des croisés, dépourvus de moyens.
Cette méthode nécessite d’intenses préparations logistiques, dès que fut connu l’appel du pape à Clermont. Monastères et églises accordent des prêts aux participants ou leur achètent des biens fonciers, les juifs sont victimes d’extorsions d’argent, particulièrement dans les villes rhénanes, les villes portuaires sont invitées à préparer des flottes d’appui à l’expédition. Puis vient le départ, d’abord de la croisade populaire dont la violence et l’anarchie sont dues à l’absence d’un chef prééminent, puis des cinq troupes dirigées par des princes soucieux de négocier des transactions pacifiques et ne recourant au pillage qu’en dernier recours. Leurs relations avec Alexis Ier Comnène auraient mérité une étude plus précise, en ce qui concerne le serment exigé par le basileus ou les dons d’argent et d’aide que celui-ci offrait.
Le volume des approvisionnements nécessaires dépend bien sûr du nombre de croisés. À la suite des historiennes et historiens qui l’ont précédé, l’auteur discute les chiffres cités par les chroniqueurs, en acceptant non sans hésitation que l’armée ait compté près de 100 000 hommes lors du siège de Nicée, un maximum dans l’histoire de la croisade. L’aide byzantine décide alors de la victoire. La traversée de l’Anatolie, en terre ennemie, accroît les problèmes de subsistances: le ravitaillement, le fourrage et l’eau manquent et il faut recourir à des pillages systématiques, qui ne cessent qu’à l’arrivée des croisés dans des régions peuplées majoritairement d’Arméniens. L’armée se divise alors: Baudouin et Tancrède partent à la conquête des villes littorales de Cilicie, puis d’Édesse pour le premier, tandis que l’armée principale gagne difficilement Antioche et qu’une flotte anglaise ou byzantine (?) approche de Port Saint-Syméon, à quelques lieues d’Antioche. L’auteur penche pour une synchronisation entre forces terrestres et navales, sans vraiment le prouver.
La perspective d’un long siège pose à nouveau de redoutables problèmes d’approvisionnement. En comptant 60 000 hommes dans l’armée assiégeante et un bon millier de chevaux, l’auteur estime les besoins journaliers à 110 tonnes de grain pour les hommes, à plus de 10 pour les chevaux. Où les trouver? Les flottes nordiques, byzantines et génoises peuvent se fournir en Chypre et aborder à Port Saint-Syméon, mais le manque de charrettes et les attaques musulmanes empêchent la distribution des provisions. La disette s’installe dès la fin de l’année 1097, et ce n’est qu’après avoir construit au printemps 1098 trois fortifications pour empêcher les sorties des assiégés que les croisés peuvent enfin recourir aux ressources locales. Ils s’emparent d’Antioche au début juin, mais l’arrivée de l’armée de Kerbogha, atabeg de Mossoul, les enferme dans la ville et les condamne pendant 26 jours à une famine intense, jusqu’à ce qu’une sortie heureuse les délivre des assiégeants.
De juillet 1098 à mai 1099, les croisés restent sur place à Antioche, dans l’attente d’une aide navale les aidant à progresser vers le sud. Après quelques mois d’approvisionnements, de nouveau, dès l’hiver, la faim les tenaille. Ils effectuent quelques expéditions: conquêtes d’Albara, d’Arqa et de Ma’arrat-an-Numan où ont lieu des scènes de cannibalisme longuement analysées par Michel Rouche dans un article que l’auteur ignore.
Sous la pression des pauvres, les chefs décident au printemps de marcher rapidement vers Jérusalem, en suivant la route côtière, jalonnée de villes qui leur livrent des subsistances pour éviter d’être pillées. Le 7 juin 1099, l’armée arrive devant Jérusalem et doit agir vite sous une chaleur accablante, par manque d’eau et de provisions. Un premier assaut échoue. Une flottille génoise, arrivée à Jaffa, apporte subsistances et matériel de siège qui permettent la prise de la ville sainte le 15 juillet 1099.
Le récit, on le voit, ne s’écarte guère des nombreuses histoires de la première croisade disponibles à ce jour, sauf pour insister sur les difficultés de ravitaillement de l’armée croisée et sur les méthodes employées pour y faire face. Dire que les chefs auraient eu un plan d’action coordonné entre l’avance des troupes et l’arrivée des flottes de secours n’est guère démontré par les textes, et l’insistance de l’auteur sur la discipline et l’ordre imposés par les chefs pour contrôler la fourniture des approvisionnements me paraît bien optimiste, face à une pénurie empreinte de violences que les chroniqueurs évoquent constamment.
L’ouvrage de Gregory Bell n’est pas exempt de maintes imperfections: »Nance« pour Nantes (p. 9), »Turkic« pour Turkish (p. 84 et 90), »Meragone« pour Maragone (p. 152), »Mans et Puy« pour »Le Mans et Le Puy« (p. 159). Les cartes sont trop petites et peu lisibles, celle d’Antioche est mal orientée et contredit les directions indiquées par le texte (p. 126–128). Surtout la quasi-ignorance de toute bibliographie qui ne soit pas anglo-saxonne frappe le lecteur: six ouvrages en français cités, mais aucune mention des actes des deux colloques de Clermont en 1095, ni du livre de Guy Lobrichon; aucun ouvrage allemand, sauf l’étude de Carl Erdmann qui date de 1935, mais ici dans sa traduction anglaise (1977); de même Cardini et Musarra, spécialistes italiens des croisades, sont totalement ignorés. L’histoire des croisades serait-elle désormais une chasse gardée des Anglo-Saxons?
Michel Balard – Paris.
[IF]Amazonia 1900-1940. El conflito, la guerra y la invención de la frontera | Carlos Gilberto Zárate Botía
O tema das fronteiras amazônicas, seja em sua concepção de linhas demarcatórias de territórios nacionais, seja como zonas de múltiplas interações envolvendo diferentes sujeitos, impõe desafios significativos à pesquisa histórica. Primeiramente, trata-se de um espaço que, a despeito de sua vastidão geográfica, nem sempre recebeu a devida atenção no conjunto das historiografias sul-americanas. Em segundo lugar, a investigação sobre as fronteiras amazônicas requer o cruzamento de fontes procedentes de arquivos espalhados nos países da Pan-Amazônia (e, por vezes, em outros continentes) e o cotejamento de bibliografias de diferentes nacionalidades, que frequentemente apresentam linhas de interpretação francamente antagônicas.
O livro Amazonia 1900-1940, do historiador e cientista social colombiano Carlos Gilberto Zárate Botía, representa justamente uma contribuição que supera esses desafios ao revisitar o tema dos conflitos peruano-colombianos na definição dos limites amazônicos entre os dois países. O autor é professor da Universidad Nacional de Colombia– Sede Amazônica (Letícia), com destacada atuação no Grupo de Estudios Transfronterizos, vinculado ao Instituto Amazónico de Investiagaciones (IMANI). Carlos Zárate é um dos mais importantes cientistas sociais que se dedicam ao estudo das fronteiras amazônicas e, em sua vasta obra, o enfoque interdisciplinar sobre o tema se destaca. Leia Mais
Bispos guerreiros: violência e fé antes das cruzadas – RUST (PL)
Leandro Duarte Rust é um medievalista em ascensão no Brasil. Professor da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) é dono de uma crescente bibliografia, iniciada com a publicação de Colunas de São Pedro: a política papal na idade média central (Annablume, 2011), seguida por A reforma papal (1050-1150): trajetórias e críticas de uma história (EdUFMT, 2013) e Mitos papais: política e imaginação na história (Vozes, 2015). Basta olhar para os títulos de suas obras para compreender porque Rust vem se consagrando como um historiador do papado.
Entretanto, seu quarto livro, Bispos guerreiros: violência e fé antes das cruzadas, recém-publicado pela editora Vozes, vai além. Seguindo a história de Cádalo, entronizado como o “antipapa” Honório II, o autor realiza uma profunda análise sobre as relações entre a violência e o sagrado na Península Itálica nos séculos X e XI. Leia Mais
Cidades sitiadas: o novo urbanismo militar GRAHAM (RTF)
GRAHAM, Stephen. Cidades sitiadas: o novo urbanismo militar. São Paulo: Boitempo, 2016. Resenha de: PIRES, João Augusto. Engenharias da guerra cotidiana. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 11, n. 1, jan.-jul., 2018.
Vou ao mercado e sou interpelado pela balconista que solicita meu C.P.F (Cadastro de Pessoas Física). Os números ditados me mapeiam. Fornecem os dados necessários para que o mercado me localize no espaço global. Atento a esse risco, desligo o GPS do meu smartfone e saio a caminhar entre a multidão da cidade. Andando pela área central de Campinas/SP, iludido pelo anonimato na multidão, percebo olhos mecânicos acompanhando os meus e demais passos apressados. Distante da massa, no enclausuro quase sempre solitário do âmbito doméstico, agoniado com o sentimento de medo do outro, pago, conforme o combinado, um miliciano que circula nos quarteirões do bairro em que moro. Cansado do estado de vigília, procuro nas escuras salas de cinema o lançamento do mês. Mais uma vez um filme hollywoodiano, agora chamado “Os vingadores”.
As imagens lançadas nessa micro-história talvez não sejam nenhum exagero. O medo, (de)compostos com os mecanismos de vigilância, povoam, em diferentes proporções, a vida cotidiana de todos. Portanto, a compreensão das relações sociais e dos dispositivos simbólicos e materiais que montam essa realidade pressupõem algo além de seis segundos de atenção. As complexas dinâmicas e faces assumidas pelo capitalismo na contemporaneidade exigem, como antes, obras de fôlego capazes de revelar as conexões do nosso sistema mundial integrado. Eis o que promove a coleção “Estado de Sítio”, editada pela Boitempo e sob coordenação do filósofo Paulo Arantes.
A parceria entre a editora e o consagrado pensador nos brinda com excelentes trabalhos, nacionais e internacionais, os quais inspiram a reflexão – a la izquierda – sobre questões pulsantes no social. Participam do conjunto, por exemplo, Cinismo e falência da crítica, escrito por Vladimir Safatle o qual se preocupa com a racionalidade cínica em nossa vida social. Rituais de sofrimento, de Silvia Viana, que se interessa pelos reality shows e a ritualização do sofrimento do outro, como também soma ao seleto grupo de escritos que pensam o atual estado de sítio o trabalho de Paulo Virilio, Guerra e cinema, que discute a relação intrínseca entre a sétima arte e os conflitos bélicos.
Dentre essas e tantas outras produções, Cidades Sitiadas: o novo urbanismo militar, assinado pelo professor da Universidade de Newcastle, Stephen Graham, contribui com a proposta lançada pelo grupo editorial e nos possibilita a reflexão sobre a convivência das tecnologias de guerra no espaço urbano. Operando com um arcabouço teórico capaz de esmiuçar a infinidade de vestígios e estilhaços da guerra urbana, Graham, nos deixa ver as operações discursivas, o investimento financeiro e os impactos culturais proporcionados pelo desejo bélico na sociedade contemporânea.
Com a ideia foucaultiana de “efeito bumerangue” em mãos, o autor consegue lançar críticas sobre as estratégias e armas desenvolvidas para os conflitos bélicos no Oriente Médio que retornam as cidades dos centros capitalistas do Norte reforçando uma sensibilidade beligerante, a qual se antecipa com seus carros fortes, arquiteturas e treinamentos virtuais para o combate eminente. Nesse mesmo sentido, Graham recupera os relatórios das agências de investimento e pesquisa em armas nos Estados Unidos e Israel apresentando a promíscua relação entre a iniciativa privada, o pentágono e o corpo militar do exercito norte-americano. Munido dessas informações, analisa a maneira pela qual as engenharias de guerra usadas em operações militares fora do espaço estadunidense e afins, remontam a urbe militarizada no interior destes mesmos países que promovem a guerra ao terror.
Uma quantidade significativa de documentos coletados pelo autor preenchem as páginas do livro e nos deixa ver as pulsões sensíveis que dinamizam o flanco bélico na contemporaneidade. Temos, como assinala Mike Dives, a possibilidade de compreender, a cada capítulo do livro, a “geografia urbana vista da perspectiva de um drone a 8 mil metros de altura. Um relato assombroso e fundamental a partir da zona de conflito global”. Graham, não perde de vista os games, as propagandas de agências de segurança privada, as entrevistas e reportagens assinadas pelo alto escalão militar, as conferências e relatórios técnicos do exército norte-americano, os livros, os mapas, as pesquisas quantitativas, os filmes e as tecnologias de guerra que, em conjunto, orquestram nossos conflitos cotidianos. O autor trama sua narrativa dividindo o livro em dez extensos capítulos de modo que os três primeiros se concentrem no aprofundamento da ideia do “novo urbanismo militar” – sua constituição histórica e as bases matérias que o conformam – e os demais em estudos de casos, os quais permitem uma análise pormenorizada das implicações culturais, políticas e econômicas da atual urbanização bélica.
De início percebemos já no primeiro capítulo que no decorrer do século XX “a guerra volta à cidades”, pois, como anuncia o autor, tendo um pouco mais da metade da população mundial vivendo no espaço urbano “a permeação da violência política organizada dentro e pelas cidades e pelos sistemas citadinos é complicada pelo fato de que muitas mudanças urbanas “planejadas”, mesmo em tempos de relativa paz, envolvem em si mesmas níveis bélicos de violência, desestabilização, ruptura, expulsão forçada e aniquilação de locais” (GRAHAM, 2016, p. 69). Assim, a medida que as relações sociais passam a se ambientar, cada vez mais, no interior das populosas e extensas metrópoles urbanas vemos nascer estratégias de organização imediatamente belicista. As subjetividades do ser citadino forjam-se no processo de um conflito eminente, por isso o desejo direcionado à segurança, as armas e as tecnologias de vigilância. Nesse ínterim, agências de pesquisa, o exército militar, empresas de segurança privada, universidades e o Estado tornam-se agentes protagonistas nesse contexto, haja vista que, conforme demonstra Graham, são essas instituições as principais operadoras da guerra urbana. Ao final do primeiro capítulo notamos as engenharias bélicas que servem tanto para as sofisticadas tropas combatentes no Oriente Médio quanto para as forças militares nas grandes metrópoles.
Em sequência, Graham se atêm a ordem do discurso que cria “mundos maniqueístas” dividindo o bom cidadão civilizado do ocidente e o mau bárbaro do oriente. Nesse segundo capítulo vemos as narrativas projetadas sobre o outro, as quais se sustentam em estereótipos e estigmas desumanizantes. Esse discurso, anota o autor, “de ‘almas perdidas’ em ‘cidades perdidas’ promove um ‘outro’ essencializado demonizado” (IBID., p.103), por isso passível de apreensão ou mesmo de morte. Notase que este alguém, antes distante, pertencente a etnias, facções ou Estados nacionais longínquos, no mundo global em que imperam, paulatinamente, as regiões metropolitanas cosmopolitas, vive agora na esquina ao lado. Deste modo, formam-se geografias, reais e imaginadas, com um sentimento de ódio, dissolvido entre às pulsões xenófobas, racistas e homofóbicas. O espaço urbano, “invadido” pelo diverso e diferente, quando insuflado pelos discursos raivosos, passa a uma progressiva negação por determinada ala conservadora da população estadunidense – muitos deles eleitores do partido republicano e entusiasta das políticas do ex-presidente George W. Bush.
Acredita, segundo relato extraído por Graham da Naval War College Review, que “esse ambiente urbano em expansão se tornou hoje uma vasta coleção de prédios deteriorados, uma imensa placa de Petri de doenças antigas e novas, um território onde a lei há tempo foi substituída pela quase anarquia, em que a única segurança possível é a obtida pela força bruta.” (IBID., p.113). As cidades, do extremo oriente e das capitais monetárias do Norte, tornam-se, nesse início de século XXI, ícone do confronto ao terror, dessa forma as “zonas selvagens” que contaminam o urbano estão passíveis de serem sítidas, quando não controladas e vigiadas pelos agentes da ordem.
Após apresentar os dados e as investidas bélicas no urbano no decorrer do século XX e início do XXI e atentar-se, no segundo movimento do texto, às tramas discursivas que sustentam as operações militares nesse espaço, no terceiro capítulo, Graham dedica-se a sua tese do “novo urbanismo militar”. As páginas que compõem essa parte são centrais para o desdobramento do restante do livro, haja vista que o autor empenha em demonstrar as bases do atual imaginário urbano e a maneira pela qual ele está circunscrito a um culto bélico, em distintas dinâmicas e proporções, na sociedade contemporânea. Aqui vemos Graham estreitar as relações teóricas entre Foucault, Deleuze, Agamben e Davis para construir o argumento dos sete elementos constitutivos, que inter-relacionados, configuram essa nova realidade militar do espaço urbano.
Prefigura dentre os dispositivos simbólicos desse ambiente a contraposição do rural, ligado ao nacionalismo e o bem-estar autêntico para o militarismo patriótico, contra o urbano promíscuo e degradante, onde também há a presença do outro selvagem. Esse sentimento, relacionado a uma prática de controle comercial e militar, compõem com as tecnologias de informação as quais interagem construindo uma subjetividade “cidadão-consumidor-soldado”. Conforme anota Graham, “poucas pessoas levam em consideração como os poderes militares e imperiais permeiam todos os usos do GPS” (IBID., p. 128), pois nesse estado de sítio, importa identificar, rastrear, mapear e manter corpos e circulações sob controle. Nesse sentido, a mídia cumpre importante tarefa nessa composição, tendo em vista que a espetacularização da guerra fica a cargo das grandes corporações da imprensa as quais ratificam os discursos bélicos. Isso, por sua vez, implica no surto de segurança o qual favorece a rápida expansão de corporações militares privadas – “Os gastos internacionais com segurança interna hoje ultrapassam ramos estabelecidos, como a indústria cinematográfica e a indústria musical, em receita anual” anuncia a edição de dezembro de 2007 do Economic Times da Índia” (IBID., p.139). Esse elemento converte finanças para a segurança privada e de espaços privilegiados do urbano – condomínios, edifícios, shoppings e etc. –, mas também cria um ramo de negócio no qual investe na infraestrutura hipermilitarizada de pontos de fluxo e conexão do mercado global – portos, aeroportos, bolsa de valores, arenas de esporte e etc. As fronteiras das “cidades mundiais” estão sob a mira da alta tecnologia, pois “as arquiteturas da globalização se fundem perfeitamente nas arquiteturas de controle e guerra” (IBID., p.143). Por último, Graham destaca a combinação do nacionalismo ressurgente pós 11 de setembro e o uso permissivo da força militar, no mesmo instante e proporção, em determinadas áreas das cidades norte-americanas e do Oriente Médio. Portanto, a “disjunção entre soldados rurais e guerras urbanas, a indiferenciação de tecnologias de controle civis e militares, o tratamento de ataques contra cidades como eventos de mídia, o surto de segurança, a militarização do movimento [entre as zonas de mercado], as contradições entre culturas nacional e urbana de medo e comunidade, e as economias políticas dos novos espaços estatais de violências” (IBID., p.155), interagem e orquestram as experiências do novo urbanismo militar.
Nos capítulos dedicados a estudos específicos, Graham retoma as ideias trabalhadas nas primeiras partes do livro e lança mão, no quarto ponto em especial, do conceito das “fronteiras onipresentes” para demonstrar a organização de sistemas digitais de segurança conectados em escala global, capaz de cartografar, separar e controlar mercadorias e pessoas. Vemos o trabalho de “mineração de dados” pessoais usados para a criação de fronteiras seguras garantidas por bases biométricas. No capítulo seguinte o desconforto se atenua, pois Graham nos deixa diante dos “sonhos de um robô da guerra” cultivado pelas agências de inteligência, governo e exército norte-americano. A cada subitem lemos as operações militares organizadas para o progresso das tecnologias de guerra. O autor assinala os desejos que impulsionam as criações de armas biológicas, soldados robôs, equipamentos inteligentes e computadores de guerra para o controle e eliminação do outro. No sexto capítulo, “Arquipélago de parque temático”, Graham volta a atenção as construções urbanas e os games usados para treinamento militar. Acompanhamos o investimento na constituição de pequenos núcleos urbanos estruturados para a simulação de cidades árabes, os quais, muita das vezes, estão servidos de civis figurantes ou de simuladores gráficos interativos. Nesse entremeio, o autor demonstra a relação entre a indústria de jogos eletrônicos e as forças militares estadunidense, uma troca intensa de estímulos haja vista que essas empresas aprimoram, em termos psíquicos, a experiência de guerra – “de fato, 40% daqueles que se alistam no Exército já tinham jogado America’s Army.” (IBID., p.282). Em “lições de urbicídios” e “desligando cidades”, sétimo e oitavo capítulo respectivamente, Graham demonstra a estratégia de eliminação de espaços urbanos operados, principalmente no Oriente Médio, na Faixa de Gaza e Cisjordânia em especial, pelos exércitos estadunidense e israelense. Nos deparamos com as altas cifras investidas na destruição ou na inoperação do espaço urbano. O penúltimo capítulo ganha a cena os modelos automobilísticos de Veículos Utilitários Esportivos (SUV, sigla em inglês) que retroalimentam o imaginário de guerra no espaço urbano.
Graham, revela como esses carros estão intrinsecamente ligados ao pensamento bélico que se evidencia na sua forma estética e força mecânica. A indústria petroleira e as marcas de automóveis também operam na mesma lógica da guerra, mesmo porque ter um SUV significar participar, ou de alguma maneira financiar, o confronto. Por fim, após uma assombrosa submersão nos interstícios da política bélica, no último capítulo, caminhamos entre as “Contrageografias” que tentam denunciar e desmontar o jogo comandado pela cultura de guerra nas cidades contemporâneas. Assim, Graham revela as estratégias assumidas por grupos ativistas e coletivos organizados para subversão no estado de sítio. Entusiasmado com as ocupações públicas, o autor se arrisca em formas de contra-ataque as instituições e símbolos do poder bélico.
As análises desenvolvidas pelo autor se constituem, principalmente, a partir da experiência estadunidense, em determinados momentos inglesa e israelense, e quase sempre dos conflitos orquestrados pelo governo norte-americano no Oriente Médio, com ênfase no Iraque, Afeganistão e Palestina. Vezes ou outra, Graham se arrisca em fazer paralelos com outros países de regiões mais pobres. Apesar de indicar, logo na introdução, o percurso metodológico, as mediações teóricas e os objetivos do trabalho, os quais, diga-se de passagem, contribuem para aqueles(as) que queiram pensar os conflitos urbanos na contemporaneidade, o enfoque dados nos capítulos me obrigou a reler e a somar informações – mesmo que o autor e tradutor cuidasse de alguns pontos necessários – sobre a conjuntura política dos Estados Unidos, bem como os pormenores dos conflitos na região do meio Oriente. Os impasses com a contextualização se formava devido a composição do livro feita por textos acadêmicos, alguns publicados em periódicos, outros expostos em palestras e comunicações, direcionados a um público minimamente habituado com a temática. Informações complementares ou lacunares durante a leitura, foram feitas por minha conta, isso se deve porque o lançamento em inglês, datado de 2010, foi arranjado para a massificação das ideias de Graham entre os anglófonos que convivem com os alardes dos noticiários de guerra, os conflitos urbanos e as experiências de alto controle e segurança em seus respectivos países. Detalhes que possibilitam uma melhor visualização das políticas de segurança pública no EUA, as leis antiterror, as relações entre o Estado norte-americano e a indústria bélica, são alguns aspectos que, para aqueles que estão na região sul da América, talvez sejam indispensáveis para o entendimento dos pormenores das ideias lançadas pelo autor.
Além dessa consideração, acrescento que apesar da potente abordagem, colocando diferentes áreas das ciências humanas em dialogo, ele deixa algumas lacunas em suas análises. Penso em especial na contribuição historiográfica para o saber urbanístico, o qual confrontaria, em certa medida, a noção de “novo urbanismo militar”, haja vista que a ideia de militarização do espaço urbano prescreve a tempos remotos.
Apesar de citar brevemente, no primeiro capítulo, importantes referências da História que observam as cidades no período dos impérios coloniais, o autor não leva a adiante os estudos sobre as restruturações urbanas e as influências dos saberes médicos e militares no desenho das cidades modernas. Uma devida atenção a esta bibliografia lhe acrescentaria argumentos para pensar o vínculo histórico intrínseco entre formas de controle, em grande medida militarizados, e o espaço urbano. Os itens defendidos, no terceiro capítulo principalmente, como princípios do novo urbanismo formulam-se a partir de um contingente histórico o qual mereceria maior atenção.
Termino de ler o livro, ligo o computador para me distrair nas infovias e me (as)salta os olhos na primeira tela a oferta do mês – “livros com 25% de desconto, só aqui na livraria X”. Nas horas seguintes é anunciado em meu celular a feira de livros que ocorrerá na próxima semana com uma estante de publicações da Boitempo. Logo após enviar, via e-mail, para um amigo a resenha que preparei sobre o livro de Graham, o Youtube me apresenta um cardápio de palestras, entrevistas e conversas com o autor. Fui, novamente, rastreado.
João Augusto Neves Pires1 – Endereço profissional: Rua Ariovaldo Silveira Franco, 237 – Mirante, Mogi Mirim – SP, 13801-005 E-mail prof.joaoneves@gmail.com .
L’età del transito e del conflitto. Bambini e adolescenti tra guerre e dopoguerra. 1939-2015 – BACCHI (BC)
BACCHI, Maria; ROVERI, Nella. L’età del transito e del conflitto. Bambini e adolescenti tra guerre e dopoguerra. 1939-2015. Bologna: Il Mulino, 2016. 592p. Resenha de: CITTERIO, Silvana. Il Bollettino di Clio, n.9, p.66-69, feb., 2018.
Il volume: le sue parti e i suoi significati In un ponderoso volume di ben 592 pagine, le curatrici Maria Bacchi e Nella Roveri tengono insieme vicende che hanno come comun denominatore l’esperienza di bambini, bambine, adolescenti in guerra, in fuga dalle stesse e nei vari “dopoguerra”. Dette vicende si collocano nel tempo lungo dalla Seconda guerra mondiale ai giorni nostri e in un contesto globale.
Marcello Flores, nel saggio introduttivo Cartografie del Novecento: luoghi e forme del conflitto, ricostruisce la cornice spazio-temporale del “secolo breve” e ne indica i segni distintivi e contraddittori. Se, infatti, per un verso è il periodo in cui si conclamano i diritti delle persone, nasce l’opinione pubblica e si afferma il valore della libertà e della democrazia, (Flores cita per esempio la campagna di Conan Doyle e Mark Twain contro il dominio personale e feroce di Leopoldo II nel Congo), per l’altro è e sarà ricordato come un secolo di totalitarismi, razzismi e stermini. Flores ricorda: in Africa la distruzione degli Herero in Namibia da parte dell’esercito tedesco, i campi di concentramento inglesi per i boeri e, più recentemente, il Rwanda e il Congo; in Asia la Cambogia di Pol Pot; In America Guatemala e Argentina. In Europa, dopo la Shoah, ex Jugoslavia e Cecenia.
Dopo l’introduzione di Marcello Flores, il volume si articola in tre parti. La prima, Infanzie e guerre del Novecento, raccoglie l’esperienza di solidarietà e salvataggio dei ragazzi di Villa Emma a Nonantola, la testimonianza di intellettuali approdate in Italia dopo la Shoah (Edith Bruck) e dopo il conflitto serbo-bosniaco (Anja Galičić e Elvira Muičić) e la vicenda di Keiji Nakasawa che, sopravvissuto alla bomba di Hiroshima, racconterà la sua storia in un fumetto manga.
La seconda, All’inizio del terzo millennio, tratta dei ‘minori non accompagnati’ in fuga dai loro paesi e in transito o in arrivo in Italia, all’inizio del XXI secolo.
Nella terza, Memorie dell’infanzia in guerra, vengono riesaminate le esperienze dei bambini in guerra narrate nella prima parte e si aggiungono altri racconti, per esempio la vicenda della colonia di Izieu e della sua eroina e testimone, Sabine Zlatin.
Nello spazio temporale coperto dal volume (1939 – 2015), l’esperienza dei ragazzi di Villa Emma a Nonantola (fra il luglio 1942 e l’ottobre 1943) si colloca come esempio positivo di gruppo, che seppe attivare dinamiche di salvezza e di crescita. Nel 2004, la nascita della Fondazione Villa Emma a Nonantola si inserisce come buona pratica di ricostruzione storica e di conservazione dei luoghi della memoria.
Figure e ruoli femminili nel Novecento attraversato dalle guerre Mentre le storie attuali dei minori non accompagnati sono essenzialmente storie al maschile, le vicende della Shoah e quelle relative alla sanguinosa deflagrazione dell’ex Jugoslavia sono popolate da figure femminili. Le donne, si sa, sono “vittime storicamente designate”, ma chi sopravvive assume spesso il ruolo di testimone consapevole. Vediamo di seguito quali storie “al femminile” hanno rilievo nel volume.
Dalle pagine dedicate all’ex-Jugoslavia nell’ultimo decennio del Novecento, possiamo ricavare le testimonianze, analoghe ma differenti, di due scrittrici, Anja Galičić e Elvira Mujčić, preadolescenti al tempo del loro esodo in Italia durante la guerra di Bosnia.
Entrambe provengono da famiglie di intellettuali, musulmane ma profondamente laiche; entrambe trovano rifugio in Italia e vi si laureano con una tesi analoga sul ruolo dei media nella guerra dell’ex Jugoslavia; entrambe useranno l’italiano come lingua della loro produzione letteraria. Tuttavia, mentre Anja arriva 13enne in Italia dalla nativa Sarajevo con l’intera famiglia nell’aprile 1992 e si stabilisce a Gressoney, Elvira vi arriverà nel 1993 a 14 anni, dopo essersi separata dal padre e dallo zio che perderanno la vita e il corpo nel genocidio di Srebrenica, e dopo aver trascorso un anno presso un campo profughi della Caritas in Croazia.
Da queste esperienze emerge, come dato rilevante del vissuto delle bambine e dei bambini in tale contesto, quanto ci ricorda Maria Bacchi “La guerra angoscia i bambini prima e li perseguita dopo, quando gli adulti pensano che i più piccoli non ne siano toccati o ne siano finalmente fuori. Il suo svolgimento li espone a rischi terribili che, sappiamo, genera traumi, ma crea anche, paradossalmente, una sospensione della normalità che offre imprevisti spazi di libertà e di avventura”.1 Dello stesso tono la diretta testimonianza di Elvira Mujčić: “Uno degli aspetti più allucinanti di una guerra è la noia. […] Mentre gli altri bambini in giro per il mondo raccoglievano le figurine, noi raccoglievamo i pezzi di granata e facevamo le nostre collezioni, con tanto di scambi.”2 Si tratta di bambini e bambine che non possono proprio credere all’evidenza della guerra nella multiculturale Sarajevo e nella Bosnia tutta. A conforto si cita anche la testimonianza di Sasa Stanisic, giovane scrittore bosniaco in lingua tedesca.3 Del resto, il nodo della inesplicabilità dell’esplosione nazionalista nell’ex Jugoslavia è il rovello delle vittime (la stessa Mujčić lo tratta nel suo romanzo E se Fuad avesse avuto la dinamite) ed è un tema su cui si va facendo via via maggior chiarezza: con la pubblicizzazione di documenti secretati paiono delinearsi incapacità, incuria e connivenza dell’Occidente.
Un’altra storia d’infanzia in guerra è quella di Edith Bruck. Lo scenario qui è quello della Seconda guerra mondiale. Edith viene deportata a 12 anni dal suo villaggio ungherese nei lager nazisti a cui sopravvive per arrivare, dopo varie peregrinazioni, in Italia, dove comincia, con la sua autobiografia in italiano –Chi ti ama così- un’intensa attività di scrittrice e testimone. Bruck si riconosce nell’ebraismo laico (per lei archetipo di tutte le diversità) e assume la responsabilità di denunciare a quanti non sanno e non conoscono l’orrore indicibile dell’Olocausto. “Dire terrore, orrore, paura, dolore, sofferenza, fame, freddo non esprime quel freddo, quella fame, quel terrore. Anche adesso ho fame e freddo, ma non c’è confronto.”4 Signora Auschwitz verrà rinominata la Bruck da una studentessa che ne ascoltava la testimonianza. E Signora Auschwitz diventerà poi il titolo di una sua opera.
Infine Izieu. La memoria e il luogo di Pierre Jérome Biscarat ricostruisce l’episodio della colonia di Izieu, da cui il 6 aprile 1944 vennero arrestati dalla Gestapo, per ordine di Klaus Barbie, 44 bambini ebrei e 7 educatori. Imprigionati a Lione vennero successivamente internati ad Auschwitz. Sola sopravvissuta Lea Feldblum, un’educatrice di 26 anni. Tra il maggio 1943 e l’aprile 1944 la direzione della colonia era stata affidata a una coppia di ebrei francesi: Sabine e Miron Zlatin. Sabine si salverà perché quel 6 aprile 1944 si trovava a Montpellier e si prodigherà per avere giustizia, salvando la memoria e la storia di Izieu, fino a ottenere l’estradizione dalla Bolivia di Klaus Barbie che, processato nel 1987, sarà condannato all’ergastolo per crimini contro l’umanità.
Nel 1994 il Presidente Mitterand inaugurerà il Museo memoriale dei bambini di Izieu che è oggi accessibile alle scuole e svolge un’importante funzione pedagogica per salvare la memoria e ricostruire la storia della vicenda nell’ambito della Shoah e della Seconda guerra mondiale.
Quali analogie ritroviamo fra le storie di Anja e Elvira, le due adolescenti in fuga dalla guerra di Bosnia che eleggono l’Italia a loro luogo d’asilo, e le vicende di Edith, sopravvissuta al campo di sterminio, o di Sabine che per caso lo evitò? Sicuramente le accomuna una formazione laica, acquisita in ambito familiare – è il caso dichiarato di Anja e Elvira, intellettuali e musulmane – o conquistata successivamente, come Edith Bruck, che si riconosce in un “ebraismo laico”, o Sabine Zatlin, ebrea naturalizzata francese. In secondo luogo la volontà e la necessità di testimoniare sia con i modi della finzione letteraria (Bruck, Mujčić, Galičić) sia attraverso incontri con i giovani (Bruck). Infine l’esigenza profonda di avere giustizia a cui dedicò la sua vita Sabine Zatlin, ricostruendo la memoria di un luogo e la storia di chi altrimenti sarebbe stato cancellato.
Riflessioni e spunti didattici tra storia, memoria, narrazione Il testo offre contributi interessanti per una ricostruzione storiografica che accosta, in una riflessione non convenzionale, le storie della Shoah e il conflitto di fine Novecento nell’ex-Jugoslavia.
Il saggio di Maria Bacchi Elementi essenziali per una cronologia delle guerre jugoslave inquadra sinteticamente la complessità della vicenda. Lo sguardo di lungo periodo coglie, nella battaglia di Kosovo Polije del 1389, uno degli snodi in cui “la storia viene usata come un coltello per smembrare una nazione.”5 Infatti, in tale battaglia, divenuta simbolo della nazione serba, i serbi furono sconfitti dai turchi dell’Impero ottomano. Allo stesso modo, nel conflitto che insanguina i Balcani negli Anni ’90, Seconda guerra mondiale e Resistenza vengono richiamate in modo distorto: “Dove erano i vostri padri, mentre i nostri combattevano i nazisti?” (Detto dai paramilitari serbi ai bosniaci mentre li torturavano). Con tali modalità si sanciva la negazione del principio di Unità e Fraternità su cui si era costruita la Repubblica Jugoslava di Tito fino alla nuova Costituzione del 1974, che, a giudizio di Bacchi, è sintomo e, insieme, fattore di disgregazione.
Il testo di Nella Roveri La memoria e i luoghi. Nonantola, Izieu, Sarajevo. Quadri della memoria Note di lettura6 richiama i concetti fondamentali di memoria individuale e collettiva e il loro ruolo nella ricostruzione storica, avvicinando le vicende della Shoah – Nonantola e Izieu – a quelle del conflitto di Bosnia (Sarajevo). Con l’istituzione dei giorni della memoria e del ricordo, in Italia e in Europa si rende ufficiale la memoria collettiva del gruppo di appartenenza (sia esso l’intera nazione o la comunità religiosa e politica) e se ne rischia, al contempo, la mitizzazione e/o la banalizzazione con pratiche di “uso pubblico della storia”. In proposito Biscarat pone la questione della significatività e dell’efficacia dei “viaggi della memoria”, in particolare ad Auschwitz, in inverno e con studenti fra i 13 e i 15 anni.7 Occorre invece una ricostruzione storiografica che renda ragione dei fatti, onde evitare per le guerre e gli stermini di fine Novecento i silenzi e le negazioni imposti dopo la Seconda guerra mondiale, quando la verità dei vincitori è diventata la storia ufficiale.8 Giulia Levi nella sua intervista del 2011 a Mirsad Tokača, direttore del Centro di Ricerca e Documentazione di Sarajevo – finanziato da enti internazionali e sponsor privati – ne mette in luce la metodologia di ricerca scientifica. Il Centro opera per una ricostruzione storica capace, incrociando fonti d’archivio plurime e di diverso tipo con le testimonianze dei sopravvissuti, sia di informare con dati certi, pur se non definitivi, sia di restituire nome, volto e dignità a ogni vittima. Il lavoro del Centro ha portato alla pubblicazione nel 2013 del volume The Bosnian Book of Death, in cui viene attestato il numero di 97.207 vittime accertato a quella data. Numero che si colloca tra le cifre minime (25/30.000) e massime (300/400.000) utilizzate per una ricostruzione strumentale e di parte dei fatti.
Un altro aspetto interessante del volume dal punto di vista didattico è il rapporto fra Storia e storie personali, in particolare le storie di cui Elvira, Edith e Keiji sono stati protagonisti e vogliono essere testimoni.
Elvira Mujčić e Edith Bruck utilizzano i modi della finzione letteraria e identificano nel romanzo e nella lingua italiana (non materna e, quindi, in grado di offrire più significati e una nuova identità) la forma più adatta a veicolare la propria vicenda, perché è nella trasposizione letteraria e attraverso una lingua acquisita che la propria storia più si avvicina alla verità.
Invece Keiji Nakasawa usa la forza narrativa del manga per raccontare “la sua esperienza di bambino che rimane solo con la madre in un inferno di fuoco, mostri e morte.”9 Il contesto storico e socio-culturale del Giappone nell’estate del 1945 e nel primo dopoguerra è ben descritto nel contributo di Rocco Raspanti, Un sussidiario del dolore. La storia di Gen di Hiroshima.10 Il contributo è completato da alcune strisce del fumetto manga, con traduzione italiana in calce. Strisce, a mio avviso, molto efficaci per una presentazione del tema “Hiroshima e bomba atomica” anche con gli allievi della Scuola Primaria.
In tutti e tre i casi la volontà di narrare si intreccia con il desiderio di collocare la propria storia nella Storia ed è molto evidente l’intento di consegnare alla Storia, con la S maiuscola, dati che le siano utili.
[Notas]1 Cfr. M. Bacchi, Racconti di guerra, di fuga, di esilio.Note di lettura, pag. 187.
2 Cfr. Elvira Mujčić, Scrivere la memoria, p. 227.
3 Cfr. M. Bacchi, cit. pag. 187.
4 Cfr. N. Roveri, L’evento, il silenzio, il racconto.Note di lettura, pag. 254.
5 Cfr. M. Bacchi, cit. pag. 186.
6 Cfr. N. Roveri, pp. 473 – 485.
7 Cfr. P.J. Biscarat, Izieu. La memoria e il luogo, pp. 507-532.
8 Cfr. in N. Roveri, cit., pag. 480; Cfr. Giulia Levi, Intervista a Mirsad Tokača pag. 557 e seg.
9 Cfr. N. Roveri L’evento, il silenzio e il racconto. Note di lettura, pag. 258.
10 Cfr. pp. 287- 322.
Silvana Citterio
[IF]Crer e destruir: os intelectuais na máquina de guerra da SS nazista – INGRÃO (RTA)
INGRAO, Christian. Crer e destruir: os intelectuais na máquina de guerra da SS nazista. Rio de Janeiro: Zahar, 2015. Resenha de: BECHER, Franciele. Por uma antropologia das emoções do nazismo. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.9, n.21, p.482‐487, maio/ago., 2017.
A proposta de fazer uma “história das emoções” do nazismo pode parecer, em um primeiro momento, desconfortável. E isso ocorre, sobretudo, porque a representação mais recorrente do nacional‐socialismo sempre liga os seus atores a ações brutais, cegas e fanáticas. A imagem cristalizada do nazismo enquanto um caso de violência definitiva muitas vezes leva os historiadores a definirem categorias conceituais imprecisas ou genéricas, já adaptadas ao discurso que normalmente é utilizado no estudo dos regimes autoritários.
O livro de Christian Ingrao, historiador francês ligado ao Centre national de la recherche scientifique (CNRS) e antigo diretor do Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP), procura traçar os itinerários profissionais e militantes de cerca de 80 intelectuais e acadêmicos que fizeram suas carreiras em órgãos de repressão ligados à Ordem Negra, a SS, ao Serviço de Segurança (SD), ou ao Gabinete Central de Segurança do Reich (RSHA).
Em comum, todos os sujeitos analisados têm a participação nas missões de repressão, combate e ocupação do Leste europeu, seja nas campanhas da Polônia ou da União Soviética, ao longo da Segunda Guerra Mundial. Muitos deles estiveram implicados diretamente nas matanças efetuadas pelas forças‐tarefa dos Einsatzgruppen, e nas medidas implantadas na organização do genocídio de milhões de judeus e outras vítimas eslavas.
Através dos pressupostos teóricos da antropologia social das emoções e da história cultural, e utilizando uma vasta gama de fontes e arquivos, que inclui narrativas de vida dos akademiker, suas trajetórias profissionais, documentações dos órgãos dos quais faziam parte e seus depoimentos nos julgamentos do pós‐guerra, o autor consegue traçar um panorama competente sobre as representações de mundo desses intelectuais.
Fugindo de uma análise funcionalista das instituições e de sua incidência sobre os comportamentos, Ingrao tece o esboço sobre a forma como esses sujeitos conseguiram aliar seu rigor científico às exigências da militância nazista, criando grades de leitura do mundo e discursos de legitimação que deram suporte aos massacres e ao genocídio.
Fruto da tese de doutorado do autor, escrita entre 1997 e 2001, na Universidade de Amiens (« Les intellectuels du service de renseignement de la S.S, 1900‐1945 »), o livro toma como ponto de partida a apreensão do nazismo enquanto um sistema de crenças que combina práticas e discursos frutos de políticas públicas e institucionais, mas que também são percorridos por uma gama de emoções que vão da angústia à utopia, passando pelo ódio, crueldade e desespero, e que não podem ser apreendidas dentro dos paradigmas clássicos da política e da sociologia. Ingrao procura compreender em que medida as experiências vividas por esses intelectuais foram capazes de modelar seu sistema de representações, criando eixos de consentimento que os levariam, no futuro, a legitimar a violência extrema.
Partindo da herança de historiadores da Primeira Guerra Mundial, sobretudo do seu orientador de tese, Stéphane Audoin‐Rouzeau, que trabalhou com as experiências infantis ligadas ao conflito, o autor procura apreender a militância nazista desses intelectuais como uma reação à experiência matricial de 1914‐1918, cuja coerência entre discursos e práticas se encarnou em suas trajetórias e carreiras. Em suma, procura compreender como esses homens fizeram para crer e, por consequência, destruir. Sujeito de pesquisa inquietante, sobretudo porque confronta o fato de que setores da alta excelência acadêmica alemã atuaram diretamente em um dos mais atrozes regimes autoritários, servindo‐se, inclusive, das Ciências Humanas e, em particular, da História, como legitimadoras desses processos.
O livro é organizado em três partes: na primeira delas, Ingrao traz três capítulos sobre a experiência matricial da Primeira Guerra Mundial, e de como toda a cultura do “mundo de inimigos” e da crença no papel defensivo da Alemanha no conflito, mesmo que silenciada pelos akademiker, influenciou suas trajetórias e seus imaginários. Além disso, estabelece um panorama das instituições e dos saberes acadêmicos e militantes construídos pelos futuros oficiais entre os anos 1920 e 1930, quando turbulentas disputas políticas influenciaram nos seus sentimentos de angústia, e interferiram em suas escolhas e ambições científicas e, claro, nos seus engajamentos políticos dos anos seguintes.
Formando‐se como advogados, economistas, geógrafos, historiadores ou linguistas no pós‐guerra, muitos deles com formações universitárias multidisciplinares com alto desempenho acadêmico, esses jovens, vindos em sua maior parte das classes médias alemãs, encontraram na SS um organismo elitista que se distanciava das “hordas” do partido de massa, ou da atuação pragmática das tropas de assalto (SA). Através de diversos ritmos e itinerários de militância, entraram no jogo dos mecanismos institucionais da burocracia nazista, contribuindo para sua justificação científica e ideológica e, ao mesmo tempo, reforçando suas próprias leituras de mundo, profundamente marcadas por suas experiências de vida.
A segunda parte do livro, consagrada à internalização das crenças, à adesão ao nazismo e ao engajamento intelectual e ideológico dos jovens acadêmicos, analisa as fundamentações do dogma nacional‐socialista em sua profunda inspiração de refundação da Alemanha no aspecto sociobiológico e racial. Estudando a grade da leitura sociológica dos discursos dos intelectuais SS, Ingrao demonstra como a ideologia racial incidiu na própria reformulação da história alemã, transformando‐a em uma série de lutas, confrontos e combates identitários, todos marcados pelo selo da etnicidade.
Problematiza como a História e outras disciplinas se tornaram ciências combatentes de legitimação das crenças nazistas, justificando a guerra que estava por vir como um último combate pela salvação providencial do Império Alemão.
Ingrao foge constantemente da armadilha fácil de usar conceitos genéricos e imprecisos como o do “oportunismo” da ascensão hierárquica dentro da estrutura do Reich. Demonstra, no caso dos intelectuais SS, que havia inclusive uma tentativa institucional de frear esses interesses para proteger o ativismo e a militância. O processo de politização dos saberes dos akademiker aconteceu paralelamente à sua própria construção, e foi fortalecido com a criação de instituições como o SD e o RSHA, quando puderam aliar seu rigor científico às exigências da militância, imprimindo suas marcas nos serviços em que atuaram e participando de forma determinante na organização da repressão.
Por fim, na terceira parte da obra, Ingrao volta seus olhos à experiência de guerra no Leste europeu, onde as crenças e o fervor nazista foram empregados na legitimação da violência extrema e do genocídio. Os últimos cinco capítulos dão conta do imaginário construído em torno do novo “mundo de inimigos” eslavos, analisando a ritualística da violência, e as estratégias empregadas para colocar em prática os massacres. Além disso, finaliza avaliando as posturas dos intelectuais SS frente à derrota iminente, assim como suas estratégias de negação e reelaboração da memória nos julgamentos do pós‐guerra.
Para os nazistas, o “Leste” simbolizava uma tábula rasa na qual a germanidade poderia se modelar, ocupando o espaço de povos vistos como bárbaros e inferiores.
Dentro da retórica do “sangue e solo”, a experiência de guerra inaugurada com a invasão da Polônia em 1939, e intensificada com o ataque à União Soviética em 1941, se transformou em uma luta total contra o inimigo “judeu‐bolchevique”. O “imaginário de cruzada”, uma mescla entre fervor, utopia e guerra, forneceu a moldura justificativa para a violência que os soldados deveriam empregar, dentro de um discurso ansiogênico que instilava os comportamentos coletivos à matança.
Nesse contexto, a prática genocida se tornou uma condição da germanização, o fim último da utopia milenarista do nazismo. Representado como uma ação defensiva (pois era legítimo se defender dos agentes de destruição da germanidade, argumento semelhante ao usado pelas elites alemãs para justificar o conflito de 1914.), e visto sob a ótica da deploração (matar é um trabalho asqueroso, mas necessário), o genocídio ocorreu em meio a um investimento afetivo real dos intelectuais SS. A leitura nazista dos acontecimentos, elaborada, interiorizada e difundida pelos akademiker, constituiu então o cerne do mecanismo de radicalização e de consentimento aos massacres.
Por trás dos imperativos de produtividade e exaustividade que foram usados para colocar em prática os assassinatos em massa, estavam preocupações com um imaginário asséptico que pouparia psicologicamente os atores do massacre, limitando o seu efeito desestruturante e traumático. O estabelecimento de hierarquias na matança, e o próprio gestual da violência, refletiam o sistema cultural em que essas práticas foram forjadas.
Angústia, deploração, repulsa, ódio e gozo se confundiram nos discursos e atitudes dos que atuaram no Leste, experiência que funcionava como um “rito iniciático” para que os oficiais provassem seu grau de interiorização da crença nazista. Porém, apesar da dimensão traumática exteriorizada nos comportamentos de vários oficiais, nunca houve ruptura com o consentimento à matança, e isso se deu em função do acompanhamento do discursivo legitimador, da sistematização dos gestos e dos processos de adaptação empregados.
Face à derrota iminente, os intelectuais SS apresentaram diversas estratégias de escape, em uma distorção crescente entre os comportamentos e a realidade do front, mesmo que possam ser detectados indícios da escalada de suas angústias. Após 1945, boa parte dos akademiker passou por tribunais e comissões de “desnazificação”, em que procuraram realizar uma gestão da memória de guerra e da sua militância, usando diferentes estratégias de negação dos seus crimes ao longo dos julgamentos. A própria tese da “obediência incondicional” dentro da hierarquia nazista, utilizada pelos historiadores durante muito tempo para analisar os comportamentos dos atores do genocídio, é decodificada enquanto um desses artifícios de despistamento utilizados intencionalmente pelos intelectuais julgados.
Publicado originalmente em 2010, pela Arthème Fayard, sob o título Croire et détruire. Les intellectuels dans la machine de guerre SS, a obra de Christian Ingrao demonstra que a interiorização do sistema de crenças nazista era muito mais um caso de fervor do que de cálculo político e militante. Mesmo que o livro não seja de fácil leitura (em função, sobretudo, da temática delicada, mas também em razão de certos aspectos da tradução brasileira), o autor guia habilmente o leitor pela intrincada burocracia dos órgãos nazistas, tecendo uma narrativa que foge de armadilhas conceituais psicologizantes ou abstratas. Apoiado por uma extensa bibliografia sobre o assunto em várias línguas, e por indicações de fontes impressas e de fundos arquivísticos, sua obra traz possibilidades teóricas de problematizar os diferentes níveis de instrumentalização dos saberes, o papel dos intelectuais, da educação e, particularmente, da ciência histórica na legitimação da violência e dos regimes políticos autoritários.
Franciele Becher – Mestra em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Brasil. Franciele.becher@gmail.com.
[IF]
Fé, Guerra e Escravidão: Uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898) | Patrícia Santos
Em sua obra, Patricia Teixeira Santos abre caminhos para uma abordagem comparativa da história do Sudão ao analisar as relações entre cristãos e muçulmanos na região que compreende as atuais regiões do Sudão e do Sudão do Sul, focando nos alcances que os contatos entre diferentes grupos – que serão discutidos mais adiante – possibilitaram ou dificultaram. Para tanto, utiliza como fontes cartas e relatos de missionários católicos durante o período em que foram prisioneiros do governo da Mahdiyya. Santos contribui, com seu trabalho sobre fins do século XIX, para as perspectivas de análise das atuais discrepâncias e conflitos da região, objeto de interesse deste trabalho.
Santos escolhe o período da Mahdiyya (compreendido entre 1881 e 1898) como recorte temporal, porque o vê como um complexo cruzamento de universos histórico-culturais e como um momento de articulação de diferentes realidades políticas. Como sugere o título de sua obra, os caminhos pelos quais a discussão do governo do mahdi perpassa, são: fé, guerra e escravidão, aspectos estes considerados importantes para analisar a história do Sudão e a relevância desses três temas para suas questões políticas atuais. A autora coloca o mahdismo no caso sudanês como um movimento messiânico social e político, centrado na construção de uma ordem política e social baseada no poder carismático do seu líder (o mahdi). É importante observar o período deste Estado mahdista como significativo devido à sua continuidade na constituição do Estado nacional sudanês, pela permanência de formas de governabilidade, de redefinição de identidades e de redistribuição de poder e prestígio.
A região que hoje pertence ao Sudão e ao Sudão do Sul possui inúmeras “camadas” em sua história, tornando-se de uma enorme complexidade. Portanto, entendemos que para melhor compreendê-la hoje, é preciso compreender também as diversas formas que assumiu e assume. Assim, dos processos de migração árabe para a região, que tiveram maior intensidade durante o século XIV, percebemos o início de uma intensa interação entre as culturas e religiões muçulmanas e as sociedades cristãs sudanesas (Ibrahim, 2010, pp. 77-98), que viriam a refletir imensamente nas questões políticas futuras. Já nas primeiras décadas do século XIX, guerras locais e instabilidade política deram abertura para a incursão de Muhammad Ali, então vice-rei do Egito, que objetivava anexar o Sudão aos seus territórios. Patricia Teixeira Santos sugere, em seu primeiro capítulo, que Muhammad Ali teria se aproximado – em diferentes aspectos, como religião, economia e formas de poder – da França e de outras potências europeias, na tentativa de atingir uma autonomia inédita do Egito em relação aos impérios europeus. (2013: 34). Para Eve Powell (apud Santos, 2013: 36), esse momento de dominação egípcia tentou rearranjar o Sudão e dar à região uma nova cara, vendo o Sudão como uma colônia dentro de um projeto mais amplo de ações imperiais tentadas pelo Egito, que seriam suprimidas mais adiante. Com isso, o Sudão sofreu o primeiro período daquilo que se aproxima de uma forma de dominação colonial, com a imposição de um governo “turco-egípcio forte e de autoridade soberana e incontestada, pelo direito de conquista”, chamado de Turkiyya, compreendido entre 1821 e o início da década de 1880 (Mamdani, 2009).
Segundo Ibrahim, a intervenção turca modificou a sociedade sudanesa tradicional, suscitando descontentamento, mas por si só não conseguiu reverter ou reorganizar suas estruturas. Para este autor, seria somente com o mahdi que os sudaneses poderiam se rebelar em massa, dando lugar a um Sudão independente, que logo enfrentaria o imperialismo britânico. Ainda segundo Ibrahim, no sul, ataques de captura de escravos, pilhagens e rapinas prosseguiram de qualquer forma, tornando o que era uma estrutura de domínio socioeconômico em “uma estrutura de domínio racial que deu lugar a uma ideologia de resistência racial entre os africanos do Sudão Meridional” (2010: 433-444).
A partir do exposto por Ibrahim, é possível voltar ao texto de Santos a fim de estabelecer algumas conexões e distanciamentos a respeito do período inicial da Mahdiyya no Sudão. A autora lembra a distinção através da categoria de raça durante o domínio dos povos sudaneses pelos egípcios (estes se referiam àqueles como abd, que significa escravo/negro, ou núbio), iniciando um processo de diferenciação que segregava, produzindo um discurso de superioridade em relação ao “outro” construído (2013: 39). As distinções raciais, segundo a autora, eram feitas com base na cor da pele, no comportamento sexual e nas atitudes religiosas. Esse processo de submissão, marcado pela diferenciação racial, criou também a submissão em relação ao trabalho, onde as populações não muçulmanas eram coagidas ao trabalho na lavoura de exportação, gerando nas populações e lideranças locais um forte sentimento de descontentamento e revolta, como apontou também Ibrahim.
É nesse contexto que se estabelece, em 1881, o mahdi no Sudão. Santos lembra a busca de alianças do mahdi com os povos não muçulmanos em torno de um inimigo comum, que seria o domínio otomano-egípcio. No mesmo sentido de Ibrahim, Santos afirma que a estruturação do movimento mahdista, capitaneado por Muhammad Ahmad, criou um espaço de interação entre os povos sudaneses, fazendo convergir diferentes conflitos que, acompanhado da fragilidade do domínio otomano-egípcio, resultou em ações integradoras entre as diferentes populações. Desta forma, percebe-se que os grupos étnicos [2] são fundamentais para os processos destacados. Os relatos dos missionários, assim como os dados etnográficos de Evans-Pritchard citados por Santos, que viam os “nativos” ora como “belicosos e não confiáveis”, ora como “atrevidos e guerreiros” (Santos: 77), apontam para a ideia que a autora lança no início do texto, a de que a empresa colonial não tinha certeza dos rumos para os quais seguia, assim como para a noção de que o domínio colonial não era inexorável [3]. Santos aponta para a importância dessas populações locais nos processos de resistência e de luta, como por exemplo o papel dos nuer nas reações contra as razias otomano-egípcias, a proximidade maior dos povos dinkas com os missionários católicos, as redes de solidariedade que se estabelecia entre esses últimos contra outros povos, entre outras (Santos: 82-99).
Santos relembra os estudos de D. H. Johnson para afirmar a necessidade de se redimensionar o papel dos líderes religiosos sudaneses, a fim de analisar como conseguiram possibilitar a inserção e sobrevivência dos grupos nas três principais experiências políticas, religiosas e econômicas de controle sobre as populações, quais sejam: o domínio otomano, a Mahdiyya e o condomínio anglo-egípcio (2013: 84). É interessante pensar esses diálogos como uma forma de fugir à ideia generalizante de fundamentalismo, dando espaço às especificidades da região [4]. Santos afirma que as identidades étnicas e as relações de poder e de ocupação da terra ganharam diversas significações diante dos processos de interação, acomodação, sujeição e dos enquadramentos que foram realizados para a sobrevivência em contextos de grande interferência política como os aqui elencados. Assim, a escravidão pode ser vista como um elemento de convergência entre esses povos, a exemplo disso, a união dos dinka e shilluk contra os baggara, traficantes de escravos nômades (Santos, 2013: 87-88).
Ainda nesse sentido, o que se observa hoje ao se estudar as estruturas políticas sudanesas pode ter como uma das primeiras manifestações, de acordo com a autora, as zeribas [5] , que estabeleceram ou reforçaram fronteiras entre diferentes povos do sul do Sudão, concorrendo amplamente com as missões cristãs, que buscavam agrupar os grupos étnicos, principalmente os dinka, em torno do projeto civilizatório católico, que acabou por se desfazer devido à maior adesão desses povos à Madiyya, pelo forte caráter de pregação que o mahdi conseguiu estabelecer entre os povos não muçulmanos (Santos, 2013: 88) [6].
As divergências entre grupos religiosos, analisadas por grande parte da historiografia acerca da história do Sudão, também são analisadas por Patrícia Teixeira Santos. Parte dos grupos nuer e nuba recusavam o islamismo, uma vez que os baggara eram muçulmanos. De tal maneira, inicia-se o processo de consolidação de uma oposição, reforçada pelo missionarismo em sua prática cotidiana e em seus relatos, que é a de “povos negros” versus “povos islamizados”, levada adiante pelo domínio colonial anglo-egípcio (período entre 1898 e a independência do Sudão, ocorrida no início de 1956) e estendida até os dias de hoje [7]. De acordo com Mamdani, os processos de violência no Sudão atual, a exemplo do genocídio desenrolado durante os conflitos, têm como ponto de origem esse legado colonial de divisão em “tribos”. Outro motivo apontado pela autora, no decorrer do último capítulo, para o reforço dessa oposição pautada em conceitos de raça é o fato de que, durante o condomínio anglo-egípcio, oficiais de origem otomana, egípcia e do norte do Sudão ganharam postos comerciais e de “repressão ao tráfico” na província de Cordofan, ao mesmo tempo em que apoiavam o comércio escravista, gerando um aparato que potencializava o comércio de escravos. Além disso, lembra a campanha de combate à escravidão realizada por militares e agentes consulares europeus, que culpabilizava a figura do traficante “árabe muçulmano” como responsável por todas as questões relacionadas ao tráfico e à dominação dos povos africanos, ignorando a aparição, nas fontes, de personagens europeus – representantes oficiais ou não-oficiais da administração colonial – ligados ao tráfico.
Patrícia Teixeira Santos reforça, em sua conclusão, que dentro do contexto de transformações pelo qual passou o Sudão no período da Mahdiyya, sufis e cristãos europeus católicos conseguiram encontrar seu lugar em meio às disputas e interseções entre religião e economia no sul do Sudão. Essas interações se criavam de forma bastante porosa, permitindo movimentações e buscas de diferentes possibilidades, principalmente na negociação com o domínio otomano-egípcio (2013: 297). De qualquer maneira, a autora considera importante analisar o período do mahdi como um momento que conseguiu congregar e estabelecer uma série de relações entre diferentes grupos, como traficantes, povos nômades, ordens sufis e grandes comerciantes do Sudão, levando à constituição de um Estado que produziu ele mesmo essas diferentes categorias de sujeitos, que influenciavam na dinâmica da sociedade sudanesa. Isso possibilitou a integração de diversos elementos da experiência religiosa na política, ou seja, na criação de um estado islâmico, que levou à produção de “novas concepções a respeito de fronteiras, do sagrado e da assimilação e reelaboração de experiências políticas e culturais europeias”. Essas questões apontam, de acordo com Santos, para a singularidade do mahdi e à longevidade desse Estado (2013: 299). Cabe ressaltar, a fim de conclusão, a importância que as discussões provocadas pelo estudo de Patrícia Teixeira Santos podem adquirir para além das análises dos conflitos sudaneses e sul sudaneses, podendo ser utilizado para novos trabalhos quem pensem vieses mais globais, que engendram discussões envolvendo tradição e modernidade, ou o fundamentalismo atual, por exemplo. Estes temas aparecem, vez ou outra, com maior intensidade, principalmente quando retratados a partir de perspectivas engessadas, construídas fora do eixo sul-mundo, tornando necessárias novas análises, para as quais Patrícia Santos nos serve de exemplo.
Notas
2. Santos se refere às populações de origem dinka, nuer, shilluk, niam niam, nuba e bari (2013: 77), cuja discussão não cabe na proposta deste trabalho. Para aprofundar os estudos sobre grupos étnicos, suas definições e a forma como se explicam suas fronteiras, ver Barth. BARTH, F. Os grupos étnicos e suas fronteiras. In: O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2000, pp. 25-67.
3. Para uma leitura sobre as intenções coloniais e suas políticas criadas nas colônias, ver COOPER, F. Repertorios imperiales y mitos del colonialismo moderno. In: Imperios: una nueva visión de la Historia universal. Barcelona, Crítica, 2011, pp. 391-446.
4. Mahmood Mamdani também se insere nessa discussão ao afirmar o erro das divisões coloniais, que categorizavam as populações sudanesas em grupos baseados na questão religiosa e de terra.
5. As zeribas eram fortificações utilizadas inicialmente para o estoque do marfim sudanês que seria levado para o Egito. Porém, com o aumento do tráfico de escravos, passaram a servir de local de pouso para os escravos, e com o rendimento desse negócio, os traficantes passaram a submeter as populações próximas aos impostos e ao trabalho nas zeribas (Santos, 2013: 87-88).
6. A autora destaca a relativa emergência das zeribas, as disputas regionais por mercado e poder e a deserção de soldados das tropas otomano-egípcias como fundamentais para uma maior adesão ao mahdi, que conseguiu criar uma nova forma de organização social, a fim de suplantar os laços entre otomanos, egípcios e outros povos do Sudão.
7. Com o acesso às fontes missionárias, no final do século XIX, destaca-se o uso de “categorias como “bárbaro”, “ansar”, “negro”, “árabe”, “branco”, criando novas e singulares enunciações que marcaram o processo genealógico do racismo que as práticas normatizadoras da administração anglo-egípcia incorporaram e reforçaram a fim de construir uma ordem, através da gestão de uma hierarquia de distinções raciais baseadas em pressupostos biológicos, religiosos e “civilizacionais” (Santos, 2013: 303). A Igreja, cumprindo seu papel como mediadora desses processos, cria, dentro do espaço da educação, a possibilidade de hierarquizar as diferentes populações do Sudão nas categorias supracitadas – às populações negras “não árabes” foram delegados os trabalhos manuais e agrícolas, e aos muçulmanos e cristãos do norte a integração na administração colonial, inserindo essa forma de controle na lógica do domínio colonial (Santos, 2013: passim). A partir disso, pode-se pensar como essas categorias, estáticas e em grande parte pautadas em definições racistas, são utilizadas até hoje, para definir e “entender” as diferentes formas de relações políticas e sociais no Sudão e no Sudão do Sul. Na obra citada anteriormente, Mamdani (2009: 06) cita o processo que chama de “racialização” realizado pela empresa colonial no Sudão, ao qual se pode responsabilizar o quadro da violência atual, que colocava a oposição entre “árabes de pele clara violentando negros africanos”, resultando na criação de oposições entre o que o autor chama de “identidades tribais”.
Referência
BARTH, F. Os grupos étnicos e suas fronteiras. In: O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2000.
COOPER, F. Repertorios imperiales y mitos del colonialismo moderno. In: Imperios: una nueva visión de la Historia universal. Barcelona, Crítica, 2011.
IBRAHIM, H. Iniciativas e resistência africanas no nordeste da África. In: BOAHEN, A (org.). História Geral da África, vol. VII. São Paulo: Editora Ática, 2010.
MAMDANI, M. Saviours and Survivors: Darfur, Politics and the War on Terror. Cidade do Cabo: HSRC Press, 2009.
Suellen Carolyne Precinotto – Atualmente mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da UFPR. Graduanda na UFPR quando a resenha foi aceita.
SANTOS, Patrícia. Fé, Guerra e Escravidão: Uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898). São Paulo: Fap-Unifesp, 2013. Resenha de: PRECINOTTO, Suellen Carolyne. Cadernos de Clio. Curitiba, v.8, n.1, p.115-123, 2017. Acessar publicação original [DR]
IZECKSOHN, V. Slavery and War in the Americas (Topoi)
IZECKSOHN, Vitor. Slavery and War in the Americas: Race, Citizenship, and State-Building in the United States and Brazil. Charlottesville: University of Virginia Press, 2014. Resenha de: BEATTIE, Peter M. Guerra, mobilização e escravidão no Brasil e nos Estados Unidos. Topoi v.18 n.34 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2017.
Talvez o maior elogio que possa ser feito a um livro seja: “Por que ninguém fez um estudo desta natureza antes?” Entendo que Slavery and War in the Americas cabe nesta categoria de livro; mas o potencial do objeto de pesquisa de Vitor Izecksohn já fora previsto uma geração antes, pelo historiador James M. McPherson, em Battle Cry of Freedom: the Civil Era (Nova York: Ballentine Books, 1988). Como Izecksohn mesmo observa (p. 4), McPherson, baseado na literatura secundária, comentou que ao lado do povo paraguaio, que perdeu cerca de 50% de sua população adulta durante a Guerra da Tríplice Aliança (segundo algumas estimativas), os esforços da Confederação do Sul dos Estados Unidos pareciam fracos, pois os rebeldes só perderam 5% da sua população antes de se render. Dito isso, é possível afirmar que a resposta do historiador brasileiro ao chamado de McPherson é original, pois ele escolheu um ponto de comparação diferente e, a meu ver, mais interessante ainda. Em vez de examinar os exércitos da Confederação e do Paraguai, ele enfoca as dificuldades que os exércitos vitoriosos, da União dos Estados Unidos e do império brasileiro, enfrentaram para mobilizar soldados para o front. No final das contas, foram esses dois exércitos que tomaram parte na consolidação de suas nações, apesar da força de tradições e ideologias que favoreciam o poder local – especialmente quando se tratava dos sistemas de defesa. Em ambos os casos, as autoridades dos governos centrais tiveram que negociar com as autoridades locais para extrair soldados, ações que provaram ser insuficientes para as demandas dos conflitos. Os dois governos centrais chegaram ao ponto em que se tornara necessário mobilizar escravos libertos como soldados, a fim de fornecer o volume de tropas necessário para o sucesso. Os líderes nacionais, dessa maneira, consideravam a integridade territorial como um princípio fundamental, e, por isso, decidiram lutar por uma vitória total sobre seus adversários. Enfim, o livro resenhado fornece a mais extensa comparação entre a Guerra Civil Americana (1860-1865) e a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) produzida até agora, e por isso merece a atenção não só de especialistas, mas de pesquisadores interessados na história comparativa em escala mundial.
Por que, até agora, ninguém aceitou o desafio de McPherson? A resposta é simples: as dificuldades que trabalhos de história comparativa implicam para o historiador, principalmente quando se insiste na utilização de fontes primárias, são enormes. Aliás, outra característica original do livro de Izecksohn é seu ineditismo, já que se baseia em sistemática pesquisa arquivística, ocorrida em ambos os lados do Equador. O resultado, portanto, é um dos mais instigantes trabalhos de história comparativa produzido nos últimos anos, talvez desde o livro de Charles Degler, Neither Black Nor White: Slavery and Race Relations in Brazil and the United States (Madison: University of Wisconsin Press, 1971), que, como o trabalho de McPherson, foi baseado em fontes secundárias.
As complicações e o tempo demandado pela pesquisa empírica além do Equador não são os únicos obstáculos que um historiador comparativo enfrenta para realizar um projeto como Slavery and War in the Americas. A historiografia da Guerra da Tríplice Aliança abrange quatro países e está em plena fase de expansão, enquanto os trabalhos sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos são numerosos e o campo não demonstra sinais de decréscimo. Dominar a literatura em si já é um grande desafio, que Izecksohn passou anos digerindo. Por esses esforços, o autor merece reconhecimento, e esperançosamente, o trabalho inspirará outros jovens pesquisadores nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países, a seguir seus passos.
Um dos principais pontos do livro de Izecksohn é a maneira como ele insere a história da mobilização de soldados nos contextos históricos do desenvolvimento das guerras e das políticas nos Estados Unidos e no Brasil. Em ambos os casos, havia bastante apoio popular inicial para as guerras e muitos cidadãos se voluntariaram para seguirem para os fronts. Ou seja, o patriotismo romântico associado à ideia do cidadão-soldado inspirou muitos homens a pagarem o seu tributo do sangue sem coerção. Contudo, o otimismo gerado pelos chamados às batalhas duraria pouco tempo, e quando ficou claro que as guerras não terminariam rapidamente, fator somado às notícias das baixas, doenças e condições onerosas que a soldadesca enfrentava, a popularidade das mobilizações caiu grandemente e o número de voluntários diminuiu de modo considerável. A partir de então, tanto o governo do Brasil como o da União contemplaram maneiras coercitivas para completar suas fileiras de praças e oficiais.
Na União, foi implantado um sistema de conscrição por sorteio, mas nem por isso se proibiu a substituição dos designados por outros ou o pagamento de isenção pecuniária. No Brasil, por sua vez, o governo imperial exigiu cotas das províncias, proporcionalmente às suas populações, chamando membros da Guarda Nacional, normalmente protegidos do recrutamento, para servirem ao Exército. Em ambos os casos, os sistemas de recrutamento não forneceram os números de recrutas necessários, e, por isso, decidiu-se pela mobilização de escravos e ex-escravos.
Izecksohn narra exemplos específicos de conflitos entre cidadãos e autoridades locais e centrais em várias comunidades, desde a região da Nova Inglaterra até o Meio-Oeste americano. Uma das características de seu texto, aliás, é a maneira admirável como o autor costura exemplos específicos, que envolvem indivíduos humildes e poderosos, sem perder a capacidade de síntese concisa requerida para contextualizar esses episódios.
Um exemplo é o caso do advogado William A. Pors, de Port Washington, Wisconsin, nomeado por seu governador para servir de comissário do sorteio militar em um dos distritos da cidade, em 1862. Ali, um grupo de homens e mulheres marchou, naquele ano, até o fórum, para, finalmente, desembrulhar uma bandeira, exclamando: “No Draft!” Aquelas pessoas também ameaçaram Pors: “Se ele for ao fórum, será um homem morto.” Pors, por sua vez, tentou acalmar o espírito dos manifestantes, pedindo a eles que se dispersassem, sem sucesso. Quando o grupo viu a caixa do sorteio militar, eles atacaram os condutores dela e a destruíram. Depois disso, espancaram William Pors, que conseguiu escapar e entrar na agência dos correios, onde encontrou proteção de outras autoridades. Esses atos de resistência ao sorteio, ocorridos por todos os estados do norte, em pequenas cidades como Port Washington, e em outras maiores, como Nova York, enfraqueceram a habilidade de mobilizar recrutas utilizando o novo sistema, uma proposta que supostamente teria dado mais autoridade ao governo central.
Tratando do Brasil, Izecksohn também incluiu exemplos interessantes. Um deles é o do jovem escravo Carlos, cujo mau comportamento levou seu dono a vendê-lo como recruta para o exército imperial. Mesmo assim, apesar da alta demanda, os inspetores das forças armadas o rejeitaram por seu mau estado de saúde. Ao perceber que seu senhor o venderia como escravo destinado às lides do campo, Carlos se evadiu, sendo capturado mais tarde no Rio de Janeiro. Ativando seus procuradores na corte, mais uma vez o senhor de Carlos ofereceu seu escravo como recruta, tarefa para a qual finalmente foi aceito – e, então, seu dono recebeu US$ 640.00, lucrando US$ 180.00 na operação (p. 128-129). Aqui, Izecksohn sucintamente ilustra como as ações de um escravo, seu senhor e as autoridades do governo negociaram o recrutamento militar, a alforria e a política de venda de escravos neste período singular. Entretanto, como o próprio autor enfatiza, o recrutamento de cativos ou homens livres para a Guerra da Tríplice Aliança exigiu a cooperação das lideranças e dos potentados locais. Senhores que não queriam vender seus escravos não foram obrigados a fazê-lo; chefes políticos protegeram efetivamente seus clientes (homens livres) de bandos de recrutadores, especialmente nos anos centrais da mobilização.
Como o título da obra indica, a escravidão é um tema privilegiado no livro. Dois dos cinco capítulos enfocam essa comparação, que constitui uma das contribuições mais interessantes do volume. Dessa forma, Izecksohn argumenta, de uma maneira distinta dos historiadores da Guerra Civil nos Estados Unidos até agora, que foi o fracasso das tentativas de implementar a conscrição que levou o governo da União a formar regimentos segregados, compostos por homens de cor, para lutar. Até o momento da formalização dessa medida, a ideia de ser cidadão-soldado havia sido considerada um privilégio dos brancos. Mas o elevado número de baixas e o ressentimento que a conscrição criou entre a população branca da União fez com que a mobilização de homens de cor parecesse mais aceitável à maioria nortista.
Diferentemente do Brasil, todavia, o exército da União manteve a segregação racial dos regimentos, regra seguida até a Guerra da Coreia (1950-1953). A envergadura desta mudança não deve ser negligenciada: ela foi fundamental para assegurar tanto a vitória da União quanto a abolição da escravidão. Mesmo que os direitos à cidadania para homens de cor tenham sido sufocados depois da Reconstrução (1865-1877), o serviço militar desses contingentes virou uma contradição e um fator-chave que por fim abriu espaço para as lutas políticas em prol de direitos civis e integração no século XX.
Quanto à Guerra da Tríplica Aliança, Vitor Izecksohn ainda demonstra que foram as ações do maior aliado brasileiro, a Argentina, que levaram o governo imperial a recrutar cativos para lutar contra o Paraguai. A instabilidade política da república argentina levou seu presidente, Bartolomé Mitre, a deixar o comando das forças aliadas e voltar à capital, Buenos Aires. Junto de Mitre foram seus soldados, e o Brasil teve que extrair ainda mais recrutas para sustentar a guerra. Uma carta do ministro da Guerra ao presidente da Província do Rio Grande do Sul, em 1867, demonstrou a conexão direta entre a retirada das forças argentinas e a necessidade de mobilizar escravos (p. 147).
Diferentemente dos Estados Unidos, onde movimentos sociais a favor da abolição e a opinião pública pressionavam o governo de Lincoln em favor do uso de escravos como soldados, no Brasil a decisão de mobilizá-los foi feita a portas fechadas, como uma necessidade de segurança nacional. No caso brasileiro, portanto, tal fato não era ligado a campanhas abolicionistas, onde a experiência militar seria um laboratório de cidadania para os homens de cor.
O autor de Slavery and War in the Americas utiliza estudos de caso para refletir sobre interpretações mais amplas que abrangem os resultados dessas duas guerras. Por exemplo, ele argumenta que o Brasil conseguiu vencer a Guerra da Tríplice Aliança sem grandes modificações econômicas e sociais, como novos (e onerosos) impostos, ou um surto de industrialização, ou ainda a abolição da escravidão. De maneira contrastante, o governo e a economia da União parecem muito mais próximos de um caso de guerra total, que estimulou a industrialização, destruiu escravidão como uma maneira de derrotar o inimigo e aumentou o poder do governo central. Assim, a Guerra Civil dos Estados Unidos abriu espaço para realizar políticas que os estados do norte favoreciam por décadas: tarifas para bens industriais importadas, imposto de renda, decisões econômicas mais centralizadas para desenvolver a infraestrutura de transportes e indústrias etc. Nesse sentido, para Izecksohn, a comparação oferece a oportunidade de criticar interpretações que dão pouca ênfase a Guerra Civil como um exemplo de guerra total (p. 175-176).
Este livro, portanto, oferece muito a leitores não especialistas, assim como aos especialistas, historiadores militares ou não. A prosa é clara e sucinta, e a leitura é prazerosa. Espero que a obra atraia muitos leitores e que não tenhamos que esperar mais uma geração para que trabalhos de semelhante ambição e alcance sejam levados a cabo.
Peter M. Beattie – Michigan State University – East Lansing, MI, Estados Unidos.
A Guerra da Restauração no Baixo Alentejo – (1640-1668) | Emília Savado Borges
Mestre em História Moderna e pós-graduada em História Regional e Local pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Emília Salvado Borges desenvolve, fundamentalmente, investigação sobre a história da região Alentejana, no período correspondente ao Antigo Regime. Nascida na Vila de Cuba, em Portugal (Alentejo), dedicou boa parte dos seus esforços investigativos às histórias que envolviam a sua municipalidade e o seu entorno. Neste livro, a autora procura desvendar uma realidade pouco explorada por uma historiografia muito extensa e de debates acalorados, produzida principalmente pelos historiadores portugueses.
A produção acerca da Restauração é extremamente ampla e prolixa. Segundo Torgal, em artigo publicado poucos anos após a Revolução dos Cravos, a Restauração foi a grande vítima em Portugal, pois se prestava muito mais a justificar as ideologias que vicejavam em terras lusas do que a apresentar ao leitor um trabalho assentado em bases plenamente verificáveis [1]. Se isso prejudicou a objetividade, certamente não afetou a quantidade de textos produzidos, pois tanto durante o movimento, como séculos após, muito se publicou a respeito dos acontecimentos que colocaram a dinastia Brigantina à frente do governo lusitano.
Essa situação começou a mudar quando nos anos 1990, a historiografia sobre a Restauração se alargou consideravelmente, graças à contribuição de uma geração de historiadores tributários, em boa parte, dos trabalhos de António Manuel Hespanha [2], Fernando Bouzas Alvares [3], Rafael Valladares [4], entre outros. Estes trouxeram à baila uma série de questões, até então, pouco abordada por esta historiografia. Temas relativos à governança, à diplomacia, à cultura, entre outros, passaram a estar no foco das lentes desses pesquisadores.
O estado atual das investigações sobre a Restauração permite identificar, primeiro o desaparecimento das grandes sínteses sobre o movimento, e em segundo, a tendência de abordagens de questões relativas aos impressos, à religião, à guerra em seus diversos palcos e à diplomacia. E é nesse sentido que podemos inscrever este trabalho de Emília Salvado Borges, que revela nas suas primeiras páginas a forte influência dos estudos de Antônio Manuel Hespanha, principalmente no que tange à obra “As vésperas do Leviatan”.[5]
Esses novos objetos permitiram uma variação temática maior que vem sendo explorada em suas mais variadas vertentes. Essa mudança de foco revelou novas questões e este livro é fruto disso. Com uma descrição geográfica muito precisa, que tenta trazer o leitor para a região do Baixo Alentejo, Emília Salvado apresenta a fronteira hispano-portuguesa com todas as suas cores. Nessa obra, o leitor, mesmo que tenha tido pouco ou nenhum contato com o tema Restauração, consegue perceber que a região foi marcada por tensões permanentes. Tendo sido por este caminho que, em 1580, Felipe II mandou o Duque de Alba iniciar a ocupação de Portugal.
Profundas inimizades, ódios, rancores, saques, cercos, entre outros, são retratados em profusão, sempre muito bem documentados e ancorados nas fontes. Aliás, vale destacar que a pesquisa realizada pela autora, nos diversos arquivos distritais da região, é um dos grandes diferenciais do trabalho. Pois, além dos tradicionais arquivos portugueses, sai dos grandes centros decisórios de Portugal buscando nas periferias novas fontes de estudo, inserindo novos interlocutores nesse cenário, até então desconhecidos dos estudos tradicionais.
Sempre bem distante dos centros políticos, tanto de um lado como de outro da fronteira, mas sempre muito próximo dos efeitos que cabem em uma guerra, foi ali que as decisões de Lisboa e Madri tiveram o seu efeito prático. Consequências que conduziram ao despovoamento e à ruína do homem comum que sofreu com a guerra tanto na hora em que era convocado para defender a Coroa, quanto nos momentos em que ocorreriam ataques das hostes inimigas, são os assuntos abordados ao longo do livro.
Parte muito significativa do trabalho de Emília Borges tem sua base comprobatória, além das fontes impressas, em registros manuscritos. Esse cabedal muito rico e multifacetado de textos reflete as realidades vivenciadas naquela região, demonstrando a incidência dos “pequenos” fatos no cotidiano das pequenas povoações. Precedido de um detalhado índice e uma breve introdução, a autora divide seu extenso trabalho em três partes, onde cada parte possui seções e subseções muito bem definidas ao longo de 550 páginas. Ao fim, a obra ainda conta com três anexos em que o leitor, ao longo do texto, é constantemente convidado à consulta.
A primeira parte é distribuída em quatro seções e estas em muitas subseções. Sob o título de Cenário e actores, a autora aborda temas como A terra, que curiosamente não possui nenhuma subseção, Os homens, que em sua primeira subseção estuda as diversas tipologias dos integrantes do Exército Restauracionista. Continuando os estudos sobre os homens de guerra e os alentejanos a próxima subseção gira em torno de como eram pesadas as pressões sofridas pelas povoações locais quando estas tinham que ceder seus paisanos às levas e alistamentos no Baixo Alentejo.
A invocação de privilégios é frequente, tanto nos clamores contra as levas como na resistência dos homens ao recrutamento. O quadro geográfico do Baixo Alentejo, com suas extensas planícies forçam a ação da guerra, sendo um lugar propício ao ataque e à defesa. Os atores são obrigados a protagonizar combates bélicos mesmo contra a sua vontade. Esta realidade conduz à terceira seção dos estudos do Exército alentejano, o qual a autora qualifica como sendo um Exército de papel, diferenciando entre os que andam ausentes daqueles que protagonizaram a deserção e os que andam vadios e calaceiros na Corte. Por fim, centra a sua atenção no estudo das opções estratégicas do Exército de D. João IV, e sua forma peculiar de guerra ofensiva que privilegia as entradas e a pilhagem sobre o território inimigo.
A quarta seção enumera diversos incidentes em que se exemplificam estas entradas em território inimigo. Centrando os estudos nos protagonistas, no caso, as tropas de ambos os lados, seu enfoque se coloca dentro de quatro marcos temporais (1641-1646; 1647-1656; 1657-1666 e 1661-1668). Assim, aparecem situações de elevada violência como é o caso do O arrasamento de Barrancos (1641); O assalto Português a Valencia de Mombuey (1641) e etc.
Contributo dos Povos, a segunda parte de seu livro, se subdivide em três seções e variadas subseções. Em Despesas com a defesa, a autora se dedica a estudar aspectos diversos, como por exemplo, o peso dos impostos nas comarcas alentejanas, a complexa problemática ligada aos alojamentos dos soldados nas povoações e as despesas com as obras de fortificação nas comarcas de Campo de Ourique e Beja. Seguindo, em Carros, carretas e cavalgaduras para a guerra, Salvado aprofunda a questão da exigência de se ter eficientes meios de locomoção como forma de defesa e ataque. Finaliza essa parte com a sessão que aborda o abastecimento do exército.
No que tange ao terceiro trecho da obra, o destaque é direcionado para a Conflitualidade, decadência e morte. Tratando da pressão militar: prepotência e conflitualidade, diferencia o confronto entre o poder militar e o poder civil no espaço dos conselhos, assim como traça as difíceis relações entre os povos e os militares. A prepotência dos poderosos, não é deixada de lado, e nesse sentido, apresenta diversas e interessantes provas de uma situação de guerra que se registra e se padece em ambos os lados da Fronteira. Em O fim da prosperidade, destaca os assuntos demográficos, concluindo com um interessante aprofundamento das atitudes e comportamentos das pessoas comuns, paisanos e soldados perante a guerra.
Reafirmamos a ideia de que esta é uma obra que aborda de forma muito completa a problemática da Guerra da Restauração sob uma ótica muito peculiar. Como destaca Salvado Borges, grande parte dos trabalhos e publicações anteriores sobre este período de guerra peninsular ou está centrado exclusivamente na ótica militar, contendo uma análise de forte conteúdo estratégico ou se limita a destacar suas implicações políticas com particulares visões sobre as decisões tomadas ao nível central do Estado.
A autora, ao atrelar a diversidade de orientações, relacionando de forma causal as informações políticas, sociais e econômicas com outras de alcance mais local, consegue prender a atenção do leitor desvendando novas e instigantes situações desse cativante tema. No entanto, ao utilizar um marco espacial bem definido e delimitado com os métodos e teorias comuns da História, realiza além de um texto direcionado a todo e qualquer tipo de leitor, um excelente trabalho historiográfico.
Notas
1. TORGAL, Luís Manuel Soares dos Reis. A Restauração. Revista de História das Ideias, Coimbra, n. 1, p. 23-40, 1977. p. 23.
2. HESPANHA, António Manuel de. As vésperas do Leviathan: instituições e poder político Portugal século XVII. Coimbra: Almedina, 1994.
3. ALVAREZ, Fernando Bouza. Papeles y opinión: políticas de publicación en el Siglo de Oro. Madrid: Editorial CSIC, 2008.
4. VALLADARES, Rafael. A independência de Portugal, Guerra e Restauração (1640-1680). Lisboa: A esfera dos livros, 2006.
5. A proximidade com a obra de Hespanha está na abordagem geográfica, descrevendo a paisagem com detalhes muito precisos que tentam transportar o leitor para o ambiente estudado.
Luiz Felipe Vieira Ferrão – Mestre em História Política pelo Programa de Pós-Graduação em História Política da UERJ e possui especialização em Relações Internacionais pela Universidade Cândido Mendes. Atualmente é Doutorando em História Social do Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ, onde é orientado pelo Prof.º Dr. Carlos Ziller Camenietzki. O foco de seu trabalho tem como pano de fundo a Restauração Portuguesa. E-mail: felipevf3@gmail.com
BORGES, Emília Salvado. A Guerra da Restauração no Baixo Alentejo – (1640-1668). Lisboa: Edições Colibri, 2015. Resenha de: FERRÃO, Luiz Felipe Vieira. A guerra vista de longe: o Baixo Alentejo e a Restauração. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, n.16, p. 238-241, jan./jun. 2017. Acessar publicação original [DR]
Entre el humo y la niebla: guerra y cultura en América Latina – MARTÍNEZ-PINZÓN; URIARTE (A-RAA)
MARTÍNEZ-PINZÓN, Felipe; URIARTE, Javier (Editores). Entre el humo y la niebla: guerra y cultura en América Latina. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2016. Resenha de: JARAMILLO, Camilo. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.27, jan./abr. 2017.
“En el principio fue la guerra y todo en América Latina tiene la marca de esa experiencia bélica fundacional, el big-bang que habría hecho posible la independencia, naciones, realidades políticas, [y] soberanías” (p. 88). Esta certera oración, escrita por Álvaro Kaempfer en la colección de ensayos que este texto reseña, es la idea estructural del reciente libro editado por Felipe Martínez-Pinzón y Javier Uriarte, Entre el humo y la niebla: guerra y cultura en América Latina. Aunque informado por discusiones políticas e históricas, Entre el humo y la niebla busca reflexionar, sobre todo, y como su título lo dice, acerca del campo de las representaciones culturales y las maneras en las que estas han pensado y teorizado la guerra y, de paso, reforzado o desestabilizado lo que se entiende por ella. Al enfocarse en la literatura, la fotografía u otras formas de prácticas culturales, el libro llena un vacío en la producción académica latinoamericana, a la vez que extiende el diálogo con otras publicaciones de algunos de los autores también incluidos en la colección de ensayos, como los de Julieta Vitullo, Martín Kohan y Sebastián Díaz-Duhalde1. Uno de los hallazgos fundamentales del libro está en trascender la idea de la guerra como acto político e histórico y preguntar, como lo hacen los editores, “de qué hablamos cuando hablamos de guerra” (p. 24). Así, pensada a partir de sus representaciones culturales, la guerra se revela como una maquinaria cultural que moviliza las maneras en las que se entienden y construyen los espacios: la guerra, nos convence este libro, es un acto de espacialización. Estas representaciones permiten entender la guerra como una maquinaria y “epistemología estatal” (p. 11), y pensar las continuidades y similitudes entre los actos de hacer la guerra y constituir el Estado. Pero, sobre todo, y este es uno de los puntos neurálgicos del libro, se revela la guerra como laboratorio de representación y de ficción que lleva a los límites al lenguaje, a la forma y a sus significados: nos presenta la guerra como una “tecnología discursiva” (p. 5). Al hacer todo esto, Entre el humo y la niebla señala un corpus de representaciones culturales sobre la guerra y consolida un inicio para pensar el tema como eje de la cultura del continente.
El punto de partida es, más que la definición, la discusión de la indefinición del concepto de guerra y la delimitación de lo que se entiende por ella. Los editores parten de la idea de esta como “práctica militar y discursiva que da forma a la existencia/inexistencia del Estado-Nación moderno” (p. 12) y proponen “pensar la guerra como manera de entender las dinámicas de poder que constituyen el Estado, y que espacializan la geografía imaginada de las naciones y las regiones que componen América Latina” (p. 26). Este posicionamiento sobre lo que se entiende por guerra se amplía y complica a lo largo de los catorce ensayos mediante una reflexión sobre la cercanía de la guerra con la idea de la revolución (ver, por ejemplo, los ensayos de Juan Pablo Dabove y Wladimir Márquez-Jiménez incluidos en el libro), y se problematiza con reflexiones sobre esa nueva forma de hacer guerra como “condición permanente” (p. 10) entre Estados y sujetos en conflicto continuo, como es el ejemplo que expone el ensayo de João Camillo Penna sobre las favelas de Río de Janeiro. A través del recorrido de los ensayos presentes en la edición queda en evidencia la variedad de formas en las que la guerra se ha manifestado en Latinoamérica y, de ahí, su dificultad para teorizarla. A propósito de esto, Entre el humo y la niebla, aunque no la contesta, prepara el terreno para una pregunta por la transformación radical de la idea de guerra en los Estados neoliberales contemporáneos (y la transformación de la idea de Estado como tal) atravesados, en el caso particular de Colombia y México, por la guerra contra el narcotráfico.
Frente a la relación entre la guerra y el Estado, los editores se preguntan “si hacer estado es hacer la guerra” (p. 23) y señalan el acto bélico como una de las maneras más emblemáticas de visibilidad y praxis de este. Pensando en las maneras en las que se visibiliza y teoriza la guerra, cabe resaltar el ensayo de Álvaro Kaempfer, “El crimen de la guerra, de J. B. Alberdi: ‘Sólo en defensa de la vida se puede quitar la vida'”, que ofrece un análisis de cómo esta, constituida como excepción, termina, sin embargo, volviéndose la “matriz política, económica, social y cultural” del continente (p. 86). El ensayo, a través de un análisis del discurso político de Alberdi, identifica uno de los posibles precedentes para pensar la guerra desde y para Latinoamérica. Extendiendo la reflexión sobre el estado de excepción como categoría constitutiva del poder del Estado, aparece y reaparece a lo largo de los ensayos la teorización de la guerra alrededor de las teorías de biopolítica y excepcionalidad de Giorgio Agamben, resaltadas a partir de estudios sobre la animalidad y sobre criaturas umbrales que señalan los límites entre el ser social y el ser animal (ver, por ejemplo, los ensayos de Gabriel Giorgi y Fermín A. Rodríguez). Las reflexiones de Entre el humo y la niebla invitan a pensar la guerra como mecanismo para constituir, garantizar, manipular y abusar el pacto social entre el Estado y el ciudadano, y revelar así su contradictoria operación desde la normatividad y la prevalencia de sus, sólo en apariencia, momentos de excepción. La literatura se presenta entonces, ante esto, como índice de denuncia y reflexión sobre esta contradicción.
La guerra es también una cuestión de espacio: “Guerrear es […] reconocer, mirar, distinguir, ubicarse en el espacio, en ocasiones para apropiarlo, en otras para destruirlo, a veces para ‘liberarlo’, o para volverlo mapeable, legible” (p. 14). No en vano, la geografía es un conocimiento que resulta del ejercicio de “guerrear”, verbo que “crea el mismo espacio que quiere conquistar” (p. 15). En relación con esto, Martín Kohan analiza en su ensayo que la guerra -el texto sobre la guerra- se convierte, sobre todo, en una experiencia en y sobre el espacio; la guerra se transforma en un asunto inaudito de percepción, distancia, movilidad, visibilidad e invisibilidad, en donde la expresión de pronto encima articula la acción como experiencia y entendimiento del espacio y la (im)posibilidad de ver o no en él. En la lectura que hace Kohan de La guerra al malón (1907) y de Conquista a la Pampa (1935, póstumo) del comandante Manuel Prado, la guerra no es una experiencia bélica sino un factor que determina la representación de la Pampa y la negociación con esta. Por otra parte, en “La potencia bélica del clima: representaciones de la Amazonía en la Guerra con Perú (1932-1934)”, Felipe Martínez-Pinzón piensa la guerra como una práctica que se ejerce contra el espacio mismo. Así, la guerra aparece como mecanismo de integración de la selva al imaginario y a la economía de la nación, y como recuperación de un espacio-tiempo que amenaza con corroerlo todo. Guerrear es así, también, ordenar y rescatar. Del ensayo de Martínez-Pinzón hay que resaltar la inclusión y el análisis de una mirada poco frecuente en la literatura, aquella que se da desde el avión. También como maquinaria de guerra, el avión posibilita otra manera de relacionarse y dominar el espacio. Contrario al de pronto encima que analiza Kohen, el avión es una manera de hacer, de ver y de espaciar la guerra desde la distancia, una distancia que ayuda a obnubilar y desaparecer la ética que se pone en juego en la guerra. (Para más sobre la relación entre guerra y espacio, ver el ensayo de Kari Soriano Salkjelsvik incluido en el libro).
La guerra es también maquinaria de tiempo: aparece, por ejemplo, en la emergencia de las ruinas tras la guerra de Canudos, que analiza Javier Uriarte; en las fotografías que son índice de muerte, en el ensayo de Sebastián J. Díaz-Duhalde, o en el tiempo corroedor de la selva que se contrasta con el tiempo productivo de la nación, y hasta en el de pronto encima que trabaja Kohen. Pero si bien Entre el humo y la niebla deja claro que la guerra es cuestión de espacio, deja abiertas preguntas sobre la guerra como un mecanismo que impone, produce u oculta ciertas temporalidades. Cabría preguntarse, entonces, por cuál es la temporalidad de la guerra y por el tipo de temporalidades que impone. En el discurso de la nación, la guerra hace parte de la puntuación de la Historia, y, junto con sus formas de ejercitar poder y de crear espacios y geografías, impone una narrativa de tiempo en aquello que Benjamin llama “a homogeneous, empty time” (2014, 261). Visto así, la guerra produce y participa de una cierta idea (hegeliana) del tiempo como Historia, de la cual habría que generar una distancia crítica. Por otra parte, el trauma de la guerra se recuerda, no sólo en la conmemoración del museo, como lo analiza M. Consuelo Figueroa G. en su ensayo sobre la celebración de guerras en Chile, sino como memoria traumática que se personaliza, se revive, se recuenta, se negocia, y en su proceso se fragmenta en la temporalidad del yo.
Pero más allá de la reflexión sobre el Estado, el espacio o el tiempo, el epicentro del libro está en lo que, imitando las palabras de los editores, la guerra le hace al lenguaje. Uno de los más sólidos aportes del libro radica en la propuesta de la guerra como mecanismo de reflexión sobre la representación y como laboratorio de producción literaria. Como explican los editores, la guerra, “a la vez que produce lenguaje y es producida por el lenguaje, lo trastoca, lo cambia, transformando a quienes nombra o deja de nombrar” (p. 25). En otras palabras, la guerra nos acerca al límite del lenguaje y de la representación, a “su indecibilidad e inestabilidad” (p. 25). Es por eso que la guerra, como tal, casi no está. Está su antes, su después, su espera o su mientras tanto, pero no la guerra en su bulla y su acción. De ahí, entonces, que la guerra sea aquello que está entre el humo y la niebla, en esas zonas difusas que la guerra quiere aclarar, y entre esos humos que deja la batalla: “el Estado concibe la guerra como una disipación de zonas de niebla que distorsionan su mirada al permanecer impenetradas por ella” (p. 8). Pero a su vez, “el humo […] es también la huella, el trauma, el conjunto de los discursos que acompañan y suceden al conflicto” (p. 9).
A los límites del lenguaje y de lo indecible nos lleva el ensayo de Javier Uriarte sobre Os sertões (1902) de Euclides da Cunha, incluido en Entre el humo y la niebla. En su lectura sobre los acontecimientos de Canudos, en Brasil (1897), la guerra emerge como una lucha con el lenguaje y la imposibilidad de este de decir, de dar cuenta de. Dice el autor:
Creo que el logro más importante de Os sertões no radica en las férreas certezas del narrador, sino en el derrumbe de las mismas. Se trata de la textualización de una incomprensión: es el dejar de reconocerse o el reconocerse como otro, como incapaz de entender del todo, el desnudar la guerra como imposibilidad de la mirada. Al mismo tiempo que hace presente este límite y reconoce la insuficiencia de la mirada del narrador, Os sertões presenta la lucha de este último con su propia capacidad de decir. Es en gran medida un libro sobre el propio lenguaje llevado a sus límites máximos, en lucha consigo mismo. (p. 139)
En la narrativa cultural de Brasil, la guerra de Canudos marca un antes y un después. El texto de da Cunha desestabiliza y redefine la manera en la que la nación se piensa en el siglo XX. Es, se puede decir, el temprano antecedente sine qua non del modernismo brasilero y la redefinición de su identidad poscolonial moderna. Al identificar la guerra como un momento en el que el lenguaje entra en crisis, Uriarte apunta, aunque no lo diga, a la guerra como el momento en el que se forja la reinvención del lenguaje del Brasil moderno. Esto, más que organizar la historiografía literaria de Brasil, alerta sobre el poder de la guerra de desmantelar y reinventar un lenguaje para el Estado, la nación y su identidad. En otras palabras, la guerra es laboratorio de la nación y de su lenguaje. Esto también lo extiende el ensayo de Roberto Vechi incluido en el libro.
A los límites del lenguaje y de la voz también nos lleva el ensayo de Gabriel Giorgi, “La rebelión de los animales: cultura y biopolítica”. En su lectura de la voz animal -la voz y su sentido distinguen y conceden el reconocimiento político del cuerpo-, Giorgi nos lleva a un análisis del lenguaje en la guerra por partida doble. Por un lado, su enfoque vuelve al animal y a su voz para complicar las fronteras de la inscripción política y de la soberanía, y por otro, reflexiona sobre la cualidad del lenguaje en la guerra y los límites de su decibilidad. En otras palabras, nos lleva a pensar en el aullido de guerra y su in/constancia como lenguaje de la batalla y en la batalla. Dice Giorgi que:
[…] en los textos de las rebeliones animales, ese espacio de incertidumbre en torno a lo oral es una zona poblada de ruidos, aullidos, gruñidos, que marca el límite no ya entre el lenguaje y no lenguaje, sino el umbral de la virtualidad del sentido; del sentido como inmanencia, como pura potencialidad. La pregunta ahí no es ¿quién habla? o ¿quién tiene derecho a hablar? sino, más bien, ¿qué es hablar? o ¿qué constituye un enunciado? (p. 210)La guerra, pues, se presenta como momento de rearticulación de la voz, el lenguaje, y rearticulación de las políticas que determinan su legibilidad y sentido.
Me interesa resaltar el ensayo de Sebastián J. Díaz-Duhalde, “‘Cámara bélica’: escritura e imágenes fotográficas en las crónicas del Coronel Palleja sobre el Paraguay”. Este ensayo introduce la cultura visual como parte fundamental del corpus de representaciones culturales sobre la guerra. Como rastro de la muerte, la fotografía visibiliza la guerra sólo cuando esta ya no está; aparece, como dice el autor del ensayo, “como un resto” (p. 64). Es decir, aunque la hace visible, al registrar eso que ya no está presente, la ubica de nuevo en el humo y en una ambigua categoría temporal. Por otra parte, el ensayo de Díaz-Duhalde extiende la reflexión sobre los límites de la representación al proponer que en los escritos del coronel Pallejas, la fotografía entra a renovar y transformar el discurso narrativo, generando un “nuevo sistema representacional” (p. 74) en el que el lenguaje “echa mano de procedimientos fotográficos para ‘hacer visible’ la guerra” (p. 69); de nuevo, la guerra como laboratorio de una literatura que busca salirse de sus convenciones. En relación con la cultura visual y el campo de los estudios interdisciplinares, habría que notar la ausencia en el libro de estudios sobre la guerra en el cine. Películas como La hamaca paraguaya de Paz Encina (2008), sobre la guerra del Chaco; La sirga de William Vega (2013), sobre el conflicto armado colombiano, o incluso Tropa de élite de José Padilha (2007), sobre las favelas de Río de Janeiro, son algunos ejemplos de producciones fílmicas que en los últimos diez años han pensado la guerra, la violencia y la nación en formas similares a las que los ensayos de Entre el humo y la niebla elaboran críticas del tema. Queda la pregunta abierta: ¿cómo ha aparecido la guerra en el cine latinoamericano?
Los aciertos de Entre el humo y la niebla son muchos. El libro está informado por, y a la vez extiende, debates contemporáneos relacionados con la soberanía del Estado y sus límites, la biopolítica, los estudios animales y, en general, sus reflexiones sobre el rol de la literatura y los estudios literarios para darles continuación o interrupción a los aconteceres políticos del continente. La capacidad de la literatura como herramienta que obliga a generar una distancia crítica frente a la guerra, y de paso, también, frente a los discursos nacionalistas se ve con claridad en el ensayo de Julieta Vitullo sobre la guerra de las Malvinas (de 1982) incluido en Entre el humo y la niebla: “La guerra contenida: Malvinas en la literatura argentina más reciente”. Vitullo afirma, por ejemplo, que “la ficción se impuso como interrupción de los discursos sociales y mediáticos sobre la guerra, constituyéndose como saber específico, con estatuto y reglas propias” (p. 272). El libro, editado por Felipe Martínez-Pinzón y Javier Uriarte, identifica un corpus de producciones corporales y consolida un campo de estudio amplio, sólido y relevante. El libro expone y desarrolla aquello que indica Vitullo: las representaciones culturales se constituyen como un saber específico que nos obliga a generar una distancia crítica respecto al fenómeno de la guerra y sus consecuencias. El libro es, pues, un punto de partida clave para el campo de estudios que inaugura.
Notas
1Me refiero a los libros Islas imaginadas: la guerra de las Malvinas en la literatura y el cine argentinos (2012) de Julieta Vitullo, El país de la guerra (2015) de Martín Kohan y La última guerra: cultura visual de la guerra contra el Paraguay (2015) de Sebastián Díaz-Duhalde
Referencias
Benjamin, Walter. 2014. “Theses on the Philosophy of History”. En Illuminations: Essays and Reflections, 253-267. Nueva York: Schocken Books. [ Links ]
Díaz Duhalde-Sebastián. 2015. La Última Guerra. Cultura Visual de la Guerra contra Paraguay. Buenos Aires y Barcelona: Sans Soleil Ediciones. [ Links ]
Kohan,-Martín. 2014. El país de la guerra. Buenos Aires: Eterna Cadencia. [ Links ]
Martínez Pinzón -Felipe y Javier Uriarte, eds. 2016. Entre el humo y la niebla: guerra y cultura en América Latina. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. [ Links ]
Vitullo-Julieta. 2012. Islas imaginadasLa Guerra de Malvinas en la literatura y el cine argentinos. Buenos Aires: Corregidor [ Links ]
Camilo Jaramillo – Profesor de Spanish and Latin American Literature, Universidad de Wyoming. Entre sus últimas publicaciones están: “Green Hells: Monstrous Vegetations in 20th-Century Representations of Amazonia”. En Plant Horror: Approaches to the Monstrous Vegetal in Fiction and Film, editado por Angela Tenga y Dawn Keetley, 91-109. Palgrave Macmillan, 2017. camilojaramilloc@gmail.com
[IF]War, states, and contention: A comparative historical study – TARROW (CSS)
Sidney Tarrow. Foto: WRVO /
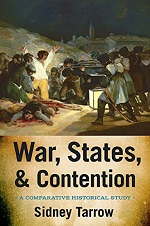 TARROW, S. War, states, and contention: A comparative historical study. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015. Resenha de: MUSHTAQ, Sabah. Canadian Social Studies, v.48, n.2, p., 2016.
TARROW, S. War, states, and contention: A comparative historical study. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015. Resenha de: MUSHTAQ, Sabah. Canadian Social Studies, v.48, n.2, p., 2016.
Sidney Tarrow is Maxwell Upson Emeritus Professor of Government and Visiting Professor of Law at Cornell University. He is the writer of numerous books, including The Language of Contention: Revolutions in Words, 1688–2012 and Strangers at the Gates: Movements and States in Contentious Politics. His book, War, States and Contention. A Comparative Historical Study, is a splendid and ground-breaking contribution to the comprehension of how war and states converge with contentious political issues.
Through a double accentuation on the structural foundations of war and dispute, from one perspective, and actor mobilization and repertories of contentious political issues from the other perspective, Sidney Tarrow addresses issues that lie at the heart of contemporary investigation on the restructuring of the state and on the obscuring of territories between internal and external politics. Beginning from the famous contention progressed by Charles Tilly that “states make war, war also makes states,” the book adds contentious politics to the equation. This adjunction provides further understandings of the relationship between states and war; contentious politics clarifies why and how states participate in wars, and the impacts of war on states. But the book additionally reveals insight into a second, less known equation of Tilly’s, which builds up a relationship between war and natives’ rights. Tarrow talks about how war prompts the employment of emergency measures that lessen rights, regardless of whether they are reinstated later. In other words, when a state rolls out war this involves changes in: the nature of internal contentious politics, the state’s reactions to conflict, and in state organization.
Tarrow examines these issues through a comparative historical study that uncovers how current structural changes in states, fighting, and types of contentious politics alter what we might see in the time of Western state-building. Drawing on these mechanisms connected to the formation and union of Western European states, Tarrow acknowledges two pivotal upturns. On the one hand, it puts contention between war and the state, considering both opposition from within national boundaries and from outside. Through this, he also studies the various forms through which domestic and international conflict stand in relation to each other. On the other hand, Tarrow updates these issues to the present in the analysis of the U.S. state and the War on Terror. He reveals how structural changes linked to globalisation and internationalisation alter the relationships between states, warfare, and forms of contention.
The author’s argument is built around a triptych—war, state, and contention—and bridges the gap between social movement studies, comparative historical sociology studies, and international relations. The relevance of this approach relies not only on placing three usually separate strands of literature in dialogue with one another, but also on the major results that the book offers. Powerful hypotheses for further research are provided. The present discussion engages with the book’s arguments on three intertwined topics, which constitute some of its major results: the relation between war and citizens’ rights; the transformation of the territoriality of war, states and contention; and the relation between war and the state. The inclusion of contention between war and rights reveals itself to be crucial for clarifying the relationship between the two. This is needed given that the issue seems not entirely solved by the historical sociology of the state, and is almost left unaddressed by research on contemporary wars and social movements. In this respect, one of the most striking results of the book is to reveal at what point the modern state is characterised by periods of restriction of citizens’ rights in wartime. In Tilly’s argument about war, states and rights, the relation between the three elements has a positive effect on rights. Because he looks at contentious politics, Tarrow demonstrates that the shrinkage of rights in times of war is a recurrent and understudied feature of the state as a specific political system. The advent of this “emergency script” is unveiled through a detailed historical account.
Chapters about U.S. politics after 9/11 shed light on a major transformation related to the use of legal instruments to modify the limits of the legally accepted boundaries of states’ interventions on bodies and limitations of individual liberties. The “rule by law” argument provides key understandings of how liberal democracies combine their foundational creeds with increasingly illiberal policies. Instead of despotic emergency rule, what is observed is a creeper process. Formally and procedurally, the U.S. state did not roll back liberal constitutionalism; however, in its content, the latter has been partially reshaped by the transformation of legally accepted boundaries on crucial issues such as the right to a fair trial or to individual integrity. In addition, both the increasing duration of wars and the undefined boundaries between times of war and peace have created a new hybrid status that seems to facilitate the perpetuation of these measures. By showing how the U.S. state deals with composite and long wars, and analyzing the interplay between contention, war, and states’ activities, Tarrow provides a critical contribution for the study of the blurred boundaries between domestic and international politics. The study of how international movements engage with states and vice versa sheds light on a major restructuring of the spatial dimension of power, while Tarrow also points out recurrent mechanisms of diffusion from policies for war to civilian policies.
In his book, Tarrow provides a stimulating perspective on the restructuring of state territoriality and its effects. In doing so, he echoes the questions raised by scholars who start from the idea that territoriality—bounded political authority—is a fundamental principle of modern political systems, and are interested in current processes of unbundling territoriality.
Sidney Tarrow’s investigation gives valuable insight in to the notion new territorialities in politics, and could engage more straightforwardly with these writers and with his own particular past contributions on these issues. Indeed, Tarrow has two fundamental arguments to make in this regard. This first is that he draws on the state-building literature, he indicates how the territorial restructuring of both war and contention influences the state, whose organization is as a matter of first importance territorial. Along these lines, Tarrow puts war back into the examination of state territorial restructuring. While most research sheds light on economics as a main thrust, contentious politics and composite wars additionally involve new types of state intervention and institutional arrangements. The second argument of Tarrow is that the unbundling of political power and rights are mutually related. The historical backdrop of the state and rights is a matter of territorial infiltration, confinement within boundaries, and the definition of the criteria that consider the privileges of political and social rights. A third set of comments highlights war and the transformation of the state in terms of power and bureaucracy. The preparation for war and the state of war opens up new opportunities for state authority in terms of the repression of opponents, as well as for the strengthening of both tax and repressive apparatus.
Tarrow’s main consequence for the U.S. state in relation to these issues is fascinating.
Indeed, there is an expansion of the structure of government; for example, the scope of the FBI and the Pentagon, as well as the multiplication of new agencies and joint-government organisations. Both the scope and the size of the U.S. state have expanded, despite a strong anti-state tradition. In the War on Terror, the contradiction between the expansion of the national security state and the anti-state movement has been somewhat resolved through increased outsourcing to private firms for the delivery of military and intelligence services.
This form of “government though contracts” allows for the preservation of existing budgets in the security sector, while increasing side-expenditure which is more difficult to track and control. The quick and poorly coordinated multiplication of contracts has created a much more intrusive U.S. state, but also a state more vulnerable to penetration from civil society and to regulatory capturing from firms. The writer conceptualizes this transformation of state power through Michael Mann’s distinction: there is in this manner a double extension of both the hierarchical and the infrastructural force of the U.S. state in connection to the War on Terror. This point, which is significant to the argument, is to a great degree stimulating.
Sabah Mushtaq – History Department. Quaid-i- azam University Islamabad, Pakistan sabahshah82@gmail.com.
[IF]Frontiers of possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas – HERZOG (RTF)
HERZOG, T. Frontiers of possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2015. Resenha de: LOPES, Jonathan Felix. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 9, n. 1, jan.-jun., 2016.
A autora deste livro, Tamar Herzog, é professora da Universidade de Harvard desde 2013 onde leciona nas cadeiras de América Latina, História espanhola e portuguesa, além de ser afiliada à Escola de Direito da mesma universidade. Foi, também, professora na Universidade de Stanford e desde a década de 1980 tem actuado em actividades académicas em outras Universidades norte-americanas, além de Israel e Espanha.
Graduada em direito e mestra em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Hebraica de Jerusalém, doutora em História pela Escola de (em francês) Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, com a tese (nome e data). Desde trabalharam resultaram duas obras publicas no ano seguinte La administración como un fenónemo social: la justicia penal de la ciudad de Quito (1650-1750)1 e Los ministros de la Audiencia de Quito 1650-1750, 2 sendo a primeira posteriormente traduzida para o francês e reeditada em língua inglesa.
Tamar Herzog possuiu uma sólida produção académica nos campos de sua formação, procurando analisar articuladamente as relações entre a lei e o cotidiano de realidades específicas. A partir de meados da década de 1990, se dedica a estudos que buscam associar dinâmicas locais ao contexto imperial no qual se inserem. As obras Mediación, archivos y ejercicio: los escribanos de Quito (siglo XVII-XVIII)3 e Ritos de control, prácticas de negociación: Pesquisas, visitas y residencias y las relaciones entre Quito y Madrid (1650-1750),4 consolidaram-na no campo de estudos de História do Atlântico.
Com foco no início da modernidade e no império espanhol, publicou uma série de artigos que envolvem desde as relações jurídicas ao estatuto social dos indivíduos. Em Frontiers of possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas, publicado em 2015 pela Harvard University Press, Tamar Herzog expande o horizonte de análise para o chamado Mundo Ibérico, isto é, os impérios de Portugal e Espanha. Com foco nas dinâmicas de fronteiras, o texto está envolto no eixo entre diplomacia, guerra e direito, tendo por base uma ampla gama documental. O livro está dividido em duas partes, que, no seu conjunto, representa uma inovação diante das análises historiagráficas mais tradicionais ao tomar como ponto de partida a análise da área colonial. Já na introdução estabelece uma série de críticas a parte da historiografia Colonial e do Atlântico.
Diante desse quadro, justifica tal inversão ao estabelecer que começar pela América pode clarificar particularidades dessa área e revelar o quanto as relações nela estabelecidas podem ter atuado sobre as metrópoles coloniais, construindo imagens reflectidas de ambos os lados do Oceano.
A primeira parte, intitulada “Defining Imperial Spaces: How South America Became a Contested Territory”, está dividida em dois capítulos, nos quais a autora busca contextualizar as relações diplomáticas entre os dois impérios no que diz respeito ao espaço sul-americano. Herzog argumenta sobre a aplicação de diferentes concepções de soberania, evoluindo entre modelos abstractos de delimitação – como os eixos latitudinal e longitudinal das bulas Inter coetera e de Tordesilhas – estabelecidos entre 1493 e 1494 e modelos com base na posse do território, tal qual priorizado no Tratado de Madrid, em 1750, até a combinação entre perspectivas, de que será exemplo o Tratado de Santo Idelfonso, firmado em 1777. Demonstra, também, a escalada territorial no estabelecimento formal de soberania das duas Coroas Ibéricas, desde a bacia do Prata, área chamada pela autora de Heartland da América do Sul, até o eixo ocidental do território brasileiro. Ressalta ainda que as sucessivas negociações diplomáticas foram incapazes de sanar as questões de delimitação entre as duas Coroas, configurando-se, na prática, numa série de conflitos territoriais e ideológicos, diante do complexo emaranhado de atores e interesses.
Esta ideia conduz Tamar Herzog a concentrar-se na organização do território, avaliando, com estreita base documental, as relações entre colonos europeus e populações autóctones. Argumenta a autora que a conversão de nativos constituiu um aspecto competitivo fundamental entre portugueses e espanhóis. Tal competição é explicada pela lógica social, ao se associar a conversão à transformação dos indígenas em vassalos de uma ou outra Coroa, permitindo, no campo geoestratégico, firmar alianças e estabelecer soberania sobre o território. Nesse contexto, acirravam-se as disputas entre ordens religiosas pelo direito de conversão. Em termos formais isso garantia às populações nativas aliadas o acesso a direitos junto à Coroa, como a manutenção das terras ancestrais e a protecção contra grupos rivais.
O aspecto mais inovador da obra, todavia, consiste em uma série de hipóteses sobre os interesses e estratégias dos indígenas ao estabelecer acordos com os colonizadores, contrariando assim a visão tradicional que tende a estabelecer a dicotomia entre passividade e resistência das populações autóctones no processo colonial. Reconhece ainda que os termos dos acordos nem sempre eram claros aos indígenas e, por vezes, as condições de negociação os desfavoreciam, pois consistiam na escolha entre conversão ou aniquilação. O uso da violência aparece nesse quadro de modo mais complexo, regulado pela noção de “guerra justa”, o que forjou uma complexa narrativa histórica que expunha o colonizador como vítima e não como agressor, presente em diversos registros feitos por europeus quando na América. Essa dinâmica revela que o recurso a violência consistia mais em uma estratégia para conseguir obediência do que de extermínio, distinguindo os nativos em duas categorias: aliados e inimigos.
Utilizando um olhar analítico estrangeiro, a autora busca inspiração na literatura anglo-americana do período colonial e revela uma estratégia de domínio territorial subjacente, a qual consistia em estabelecer uma relação direta entre uso e o direito à terra.
Na prática, isso garantia exclusivamente aos colonizadores europeus a reorganização do regime de terras e alavancou uma competição entre os agentes do território, que guiou à uma lógica de ocupação com base na máxima “better safe than sorry” (é melhor prevenir do que remediar).
A segunda parte, “Defining European Spaces: The Making of Spain and Portugal in Iberia”, está dividida em dois capítulos. O primeiro deles tem o curioso título de “Fighting a Hydra: 1290-1955”. A autora faz uma interessante associação entre o mitológico ser de nove cabeças enfrentado por Hércules e as diversas frentes de disputa territorial entre Portugal e Espanha no espaço da Península Ibérica durante o longo período em causa. Afirmando que os conflitos entre as duas Coroas forjaram uma espécie de hidra, Herzog ressalta a particularidade de cada caso, no que diz respeito as estratégias, atores e interesses. É neste contexto que nos descreve a área de fronteira como sendo caótica e descontrolada, e estabelece a esse propósito um paralelo com o sertão sul-americano.
No derradeiro capítulo, “Moving Islands in a Sea of Land: 1518-1864”, Herzog concretiza uma análise pormenorizada de duas áreas fronteiriças: Verdoejo, área meridional ao Rio do Minho, hoje pertencente ao concelho de Valença, Portugal, e a área montanhosa de Madalena/Lindoso, hoje concelho de Ponte da Barca, também em Portugal. Sucessivamente, são analisados em detalhe os aspectos relativos ao início do conflito, às partes envolvidas e respectivas reinvindicações.
Nas conclusões a essa obra, Tamar Herzog retoma algumas características centrais de cada capítulo e ressalta a importância dos aspectos territoriais na agenda das Coroas. É destacado o facto do Arquivo Nacional de Portugal se ter consagrado como Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em memória aos cadastros de propriedades – tombos. Herzog retoma uma vez mais o seu objecto de estudo, retractando a dificuldade de enquadrá-lo conceitualmente. A esse propósito, a autora sugere que devido a inadequação entre os termos limite (border) e fronteira (frontier), talvez fosse mais adequado empregar o termo território.
Aqui vale ressaltar a importância de uma compreensão conceitual advinda de outro campo, isto é, da Geografia, para compreensão de questões histórico-espaciais e, também, da geopolítica quando transcendem à relação entre impérios, países e grupos nativos. A diferenciação entre fronteira e limite já foi por muitas vezes tratada por geopolíticos desde o estudo pioneiro de Kristoff.5 Além disso, o estudo de Herzog, mais do que trabalhar com a categoria de território, ao nosso ver, poderia se enquadrar na dinâmica de territorialização e aos processos adjacentes de desterritorialização e reterritorialização, capitulados por Deleuze e Guattari6 e articulados para análise geográfica por Rogério Haesbaert.7 O carácter interdisciplinar do livro, sobretudo ao conjugar História e Direito, mereceria, assim, uma aproximação maior com a Geografia Histórica. Tal abordagem contribuiria para o melhor entendimento conceitual, notadamente às noções de soberania e de apropriação territorial, as quais já foram tratadas para o caso lusobrasileiro pelos geógrafos Maurício de Almeida Abreu8 e António Carlos Robert Moraes, 9 assim como em trabalhos mais pontuais, como, por exemplo, o da historiadora Iris Kantor.10 Mais do uma crítica, a ressalva aqui levantada busca ressaltar o carácter original e metódico da abordagem da autora e que, como tal, aponta novos caminhos para compreensão dos processos jurídicos e espaciais no longo curso da História. De modo que este trabalho constitui um contributo muito importante para reavaliarmos as narrativas e o lugar das populações nativas na formação do território americano.
1 HERZOG, Tamar. La administración como un fenómeno social : la justicia penal de la ciudad de Quito (1650-1750). Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1995.
2 HERZOG, Tamar. Los ministros de la Audiencia de Quito (1650-1750). Quito: Ediciones Libri Mundi, 1995.
3 HERZOG, Tamar. Mediación, archivos y ejercicio: los escribanos de Quito (siglo XVII). Frankfurt/ Main: Vittorio Klostermann, 1996.
4 HERZOG, Tamar. Ritos de control, prácticas de negociación: pesquisas, visitas y residencias y las relaciones entre Quito y Madrid (1650-1750). Madrid: Fundación Histórica Tavera, 2000.
5 KRISTOFF, L. K. D. The nature of frontiers and boundaries. Annals of the Association of American Geographers, Washington DC, v. 49, n. 3, p. 269–282, 1959.
6 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.
7 HAERSBAERT, Rogério. O Mito da Desterritorialização: do “Fim dos Territórios” à multiterritorilidade. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.
8 ABREU, M. de A. A apropriação do território no Brasil colonial. In: FRIDMAN, F.; HAESBAERT, R. (orgs). Escritos sobre espaço e história. Rio de Janeiro: Garamond, 2014.
9 MORAES, A. C. R. de. Bases da formação territorial do Brasil : O território colonial brasileiro no “longo” século XVI. São Paulo: Annablume, 2011.
10 KANTOR, Iris. Soberania e territorialidade colonial: Academia Real de História Portuguesa e a América Portuguesa (1720). Temas setecentistas: governos e populações no Império português, Curitiba. Jornadas Setecentistas. Curitiba, v. 1. p. 233-239, 2007. Disponível em: http://www.humanas.ufpr.br/portal/cedope/files/2011/12/Soberania-e-territorialidade-colonial- %C3%8Dris-Kantor.pdf. Acesso em: 29 fev. 2016.
Jonathan Felix Ribeiro Lopes – Mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ). Doutorando em Geografia na Universidade de Lisboa. Investigador associado no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-ULisboa). Correspondência: Rua Gonzaga Bastos, 209, bloco B, ap. 104, Vila Isabel. Rio de Janeiro – RJ – Brasil. CEP: 20541-000 E-mail : jonhgeocs@gmail.com.
Enciclopédia de Guerras e Revoluções do Século XX – TEIXEIRA DA SILVA et al (DSSC)
TEIXEIRA DA SILVA, Francisco Carlos; MEDEIROS, Sabrina; VIANNA, Alexander Martins (Orgs). Enciclopédia de Guerras e Revoluções do Século XX, 3 voll. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2014-2015, 496 + 304 + 672 pp. Resenha de: CHAVES, Daniel. Diacronie Studi di Storia Contemporanea, v. 28, n. 4, 2016.
Inizialmente pubblicata nel 2004, sebbene in un unico e imponente volume, l’Enciclopédia de Guerras e Revoluções do Século XX veniva proposta all’alba del XXI secolo come un lavoro nel solco di una tradizione permeata da opere di riferimento utilizzate da diverse generazioni per avvicinarsi al campo della conoscenza, nelle scienze umane così come nel campo della tradizione brasiliana. In un simile contesto, non ci si basa perciò solo su una tradizione fondata su dizionari ed enciclopedie, ma è possibile dire che questa esperienza abbia conosciuto un rinnovamento attraverso il carattere peculiare, autonomo, plurale e autoriale che quest’opera possedeva.
È tuttavia necessario citare opere fondative che l’hanno preceduta come il Dicionário de Ciências Sociais1 o il Dicionário do pensamento social do século XX2 (curato da William Outhwaite e Tom Bottomore, con la consulenza di Ernest Gellner, Alan Touraine e Robert Nisbet, oltre all’essenziale contributo brasiliano di Wanderley Guilherme dos Santos e Renato Lessa), che hanno contribuito alla formazione di generazioni di studenti, ricercatori e professionisti. Queste opere, votate ad un interesse tecnico nei confronti degli scritti collettanei in grado di compendiare una conoscenza qualificata e ampia sui vari temi, riunivano voci e informazioni in modo strutturato e con una localizzazione precisa – grazie ad una definizione sintetica –, in tempi antecedenti alla vastità nebulosa del World Wide Web.
Al di là della concezione dei dizionari – la cui progettazione concettuale rigorosa prevede un giudizioso ricorso alla concisione in merito a ciò che viene affermato nelle sue voci o definizioni –, l’enciclopedia come progetto olistico di conoscenza è notoriamente più ampia e ricerca una maggior profondità analitica. L’enciclopedia come summa e riassunto del sapere, risale genealogicamente alle origini della nostra contemporaneità, in quelle colonne che vennero posate con il progetto illuminista europeo di D’Alembert e Diderot (Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751-1766) o degli scozzesi Colin Macfarquhar e Andrew Bell (British Encyclopaedia, 1768-1771). In un periodo caratterizzato da una costante dialettica politica come il XIX secolo, la letteratura basata su una critica beffarda sviluppata dai detrattori dei Lumi metteva in scacco l’eccesso di descrizione concesso a concetti – per quanto innovatori – come quello economico del laissez-faire o delle allora contemporanee teorie politiche rivoluzionarie. Ancora oggi l’impresa enciclopedica è una missione audace.
La realizzazione di un’opera come questa è orientata intorno a concetti tanto vitali quanto lo possono essere l’idea di guerra o la forza trascendentale delle rivoluzioni, per giungere ad un approccio al tema che sia tecnicamente in grado di guidare gli sguardi concentrati sulle problematiche centrali care allo storico fedele alla tradizione, interessato ad osservare gli assi portanti, le questioni più rilevanti, le logiche sistemiche che si creano intorno a un’analisi categorizzante e tassonomica. Nella quarta di copertina gli organizzatori esplicitano la loro scelta affermando che «si tratta di opere complete, che presentano idee, movimenti, fatti e personaggi che hanno modellato l’inizio del secolo, tanto nel campo della politica e dell’economia, quanto nel campo delle arti e delle scienze». Non è pensabile affermare che ci sia stata una tematica durante il corso del XX secolo in grado di generare maggiore preoccupazione nelle menti – sia del popolo, sia delle élites – che i rischi e le opportunità delle rivoluzioni; allo stesso modo è difficile negare che le guerre siano state una costante durante l’intero secolo. La scelta – strategicamente posizionata tra la logica volta ad evidenziare gli elementi caratterizzanti di quei tempi e il riconoscimento della polisemia acquisita da tali termini per via della loro volgarizzazione – mostra la tenacia e l’eclettismo necessari per un lavoro di tale portata.
Il marchio concettuale di “rivoluzione” è impiegato nel suo significato originale, quello di mutamento e destrutturazione sociale o politica. Tuttavia, con l’evoluzione e l’uso costante, tale concetto finirà per abbracciare vari campi che trascendono la sua sola genesi politologica. Deve essere citata anche, a fronte di un simile eclettismo, la scelta di un linguaggio comprensibile e basato sull’utilità didattica dei riferimenti bibliografici per ulteriori approfondimenti. Ciò che sorprende, a distanza di dieci anni dalla prima edizione, sono l’audacia e la foggia di un’opera che non solo presenta la vivacità necessaria per rinnovarsi, ma che si sviluppa in tre volumi, proponendo in modo chiaro un approccio in segmenti periodizzanti per la comprensioni del “lungo” XX secolo. La riedizione dell’enciclopedia in quanto tale, in un’edizione più ampia e ambiziosa, indica la sorprendente vivacità delle opere di erudizione e della minuziosa analisi tecnica in sé, in tempi in cui l’informazione è accessibile, a portata di mano.
Il primo volume affronta in modo logico il primo momento della débâcle della belle époque, sottolineando i concetti e i termini fondamentali degli anni contraddittori del capitalismo liberale, degli imperialismi trionfanti e di una società peculiare – preconizzando, in un’epoca di autoregolazione, il termine della longeva capacità di esercizio critico di fronte al proprio tempo. Osservando il periodo compreso tra il 1901 e il 1919, emerge la preoccupazione per il preludio e lo schiudersi di un conflitto che avrebbe lasciato come eredità la fine dell’egemonia europea sul pianeta, per il clima di incertezza apportato dalla Grande guerra e dalle sue rovine, che inevitabilmente contraddistingue questo primo tomo.
Il secondo volume, incentrato sul periodo che va dal 1919 al 1945, discute uno dei periodi maggiormente indagati dalla storiografia contemporanea: l’epoca delle infruttuose trattative di pace, i “folli” anni Venti e la loro svolta radicale con la crisi del ’29, l’ascesa degli autoritarismi fascisti, le tragedie dell’olocausto e delle bombe atomiche, in quel contesto di insicurezza che avrebbe dato vita alle condizioni grazie alle quali lo scenario della Seconda guerra mondiale si sarebbe sviluppato in maniera inequivocabile, ponendo le condizioni per un nuovo ordine mondiale post-europeo dopo secoli di incontrastata egemonia. Gli anni che seguirono, tuttavia, non avrebbero mitigato la caratteristica che li avrebbe marcati: un terrore sviluppato per effetto delle minacce di violenza generalizzata come elemento fondamentale attraverso il quale comprendere le origini del nostro tempo.
Infine, con un maggior respiro, giustificato in funzione della maggior complessità degli studi storici, la fine dell’epoca dei grandi conflitti mondiali e i controversi tempi della Guerra fredda (1945-1991), oltre al già citato nuovo ordine mondiale, vengono trattati nel più voluminoso dei tre tomi. L’emergere di condizioni nuove e rivoluzionarie per l’ascesa della bipolarità sia sull’asse Nord-Sud sia su quello Ovest-Est, e successivamente temperate da quella rottura rappresentata dalla posizione terzomondista o non allineata, è considerata strutturale per la comprensione della guerra e della rivoluzione come elementi persistenti nella contemporaneità, anche attraverso nuovi campi come gli studi comportamentali, le epistemologie o il ruolo così intrigante e sensibile delle rivoluzione tecnologiche, che avrebbe sbilanciato le relazioni nel difficile e incerto avvio del XXI secolo.
La rilevazione di quella che è la forgia analitica dello storico, del politologo, del sociologo o dell’antropologo, dello specialista di studi internazionali e del giurista, ci distingue e ci rende in maniera costruttiva sempre di più lettori critici e globalmente attenti ai concetti, ai temi e ai problemi più rilevanti del corso dell’umanità relativamente a quel periodo storico. Il ruolo di sforzi onesti come questa Enciclopédia, nei suoi tre aggiornati volumi, è quello di espandere il carattere olistico di una simile discussione su temi di carattere storico, ma anche sul ruolo stesso del pensatore contemporaneo come costruttore di un interesse globale, antiutilitarista e unitario, che possa essere un lettore del tempo con una torcia in mano per aiutare ad orientarsi all’interno del dibattito pubblico. In tal senso, questa opera densa e fitta ci invita ad un’intensa passeggiata nella totalità come ad una questione propria delle Scienze umane, che non può essere affrontata da qualche viandante improvvisato e solitario, ma solamente attraverso il congiunto di una raccolta di idee.
Notas
1 Dicionário de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, FGV, 1986.
2 OUTHWAITE, William, BOTTOMORE, Tom, Dicionário do pensamento social do século XX, Rio de Janeiro, Ed. Jorge Zahar, 1996.
Daniel Chaves – È professore associato di Storia Contemporanea presso l’Universidade Federal do Amapá (Unifap). Dottore in Storia comparata nel corso di laurea specialistica in Storia Comparata (UFRJ), è docente del Programa del corso di laurea specialistica Mestrado em Desenvolvimento Regional (PPGMDR) e ricercatore senior dell’Observatório de Fronteiras do Platô das Guianas (OBFRON) e del Círculo de Pesquisas do Tempo Presente (CPTP), entrambi afferenti all’Unifap.
Resource Wars: the new landscape of global conflict | Michael Klare
Publicado em 2001, o livro “Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict”, alvo desta resenha, foi escrito por Michael T. Klare, atualmente professor de Estudos de Segurança e Paz Mundial na Hampshire College (Amherst, Massachusetts, EUA). Além disso, o autor é diretor de cinco programas na mesma universidade sobre segurança e paz, bem como tem diversas obras publicadas relacionadas à mudança da natureza da guerra, tais como: “Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America’s Growing Dependency on Imported Petroleum (American Empire Project)” e “The Race for What’s Left: The Global Scramble for the World’s Last Resources”. Todos sem tradução para o português.
Ao longo de 290 páginas, subdivididas em nove capítulos e apêndices, o autor nos remete as mudanças estratégias dos Estados no que se refere a políticas de segurança e controle de recursos naturais estratégicos. De mudanças dos parâmetros da segurança global a exemplos de cenários de conflitos que atravessam todos os continentes, o leitor é levado a analisar como, especialmente a partir do início do século XX, os Estados começaram a focar e conflitar por possessões estratégicas, cada qual com as suas peculiaridades e necessidades. Leia Mais
Sobre campos de Batallas. Arqueología de conflictos bélicos en América Latina – LANDA; LARA (RAHAL)
LANDA, Carlos; LARA, Odlanyer Hernández de. Sobre campos de Batallas. Arqueología de conflictos bélicos en América Latina. Buenos Aires: Aspha Ediciones, 2014. Resenha de: TAPIA, Alicia Haydée. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana , Buenos Aires, v.2, n.8, p.83-90, 2015.
A partir de la edición de este libro, Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara se propusieron reunir siete trabajos de investigación en arqueológica histórica en los que se analizan las expresiones materiales de los conflictos bélicos. Si bien esta orientación temática en las investigaciones arqueológicas cuenta con antecedentes previos, tales como el famoso caso del campo de batalla de Little Big Horn (1876) o de la guerra civil norteamericana (Quesada Sanz 2008; Scott 2009), este es un libro particularmente original por cuanto solo agrupa casos latinoamericanos. No obstante, destaco que no se trata del mero agrupamiento de 7 artículos, vinculados solo por una temática común o con ciertas diferencias y semejanzas arqueológicas. Por el contrario, al completar su lectura el lector podrá reconocer una estructura de sentido subyacente, que atraviesa a todos los casos de estudio y les otorga un valor especial, no solo porque permite resignificar la memoria colectiva sino también aportar nuevos referentes para construir la identidad histórica. Los diferentes tipos de conflictos bélicos han tenido consecuencias que de una u otra manera se pueden vincular en la actualidad con diversas manifestaciones sociales, políticas, económicas, e ideológicas. En tal sentido, se considera que este tipo de publicaciones no solo contribuye a la difusión del quehacer científico de la arqueología, sino también al conocimiento del patrimonio cultural y a la resignificación de la memoria histórica de los sucesos bélicos acaecidos en algunos países de América Latina, que como Argentina, México, Cuba y Uruguay están representados en el libro. El alcance latinoamericano de la obra es en parte el resultado del estado alcanzado en las investigaciones arqueológicas de los campos de batalla de cada país, que ha permitido trascender los ámbitos locales y generar vínculos entre los diferentes investigadores. A su vez, el estudio arqueológico de estas cuestiones * Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires y está estrechamente vinculado con tareas de transferencia directa de los conocimientos arqueológicos a las comunidades locales y a la elaboración de acciones conjuntas para el uso de los campos de batalla como espacios de memoria y de valorización del patrimonio cultural e histórico (De Cunzo y Ernstein 2006, Holtorf y Williams 2006).
Resulta de interés señalar la carga de sentido que se ha buscado connotar en el título seleccionado. No siempre resulta fácil definir el título de un libro, mucho más aún cuando al mismo tiempo que se intenta representar el pensamiento académico al que se adscribe, los autores también buscan interesar al público en general sobre las cuestiones precisas que aborda. Muchas veces la elección realizada demuestra que es el resultado de discusiones conceptuales y de investigaciones teóricas previas; tal es este caso que denota el haber optado, en segundo término, por Arqueología de conflictos bélicos y no por Arqueología de la guerra o Arqueología de la violencia (Gilchrist 2003). En la Introducción se discute el uso alternativo que algunos autores hacen de estos términos, indicando que si bien designan enfoques disciplinares relacionados de alguna u otra manera, cada terminología se aplica a casos diferentes. La inclusión de conflictos bélicos que acontecieron en América Latina, refuerza la dimensión teórica disciplinar que se intenta abarcar. Ha sido muy acertado incluir el prólogo del arqueólogo escocés Tony Pollard y la presentación de Mariano Ramos respectivamente. Ambos son muy enriquecedores por cuanto introducen al lector en la problemática de los trabajos, sus alcances y limitaciones y detallan los objetivos más generales, especialmente teóricos y metodológicos. Seguramente sorprenderá al lector saber que Tony Pollard ha incursionado en el estudio de campos de batalla de distintos lugares del mundo, que son el resultado de diferentes situaciones conflictivas como la guerra de los zulúes con los británicos en 1879. En los últimos años intentó realizar el estudio arqueológico casi inexplorado de la Guerra de la Triple Alianza de 1864-1870 (acontecimiento histórico que aún hoy día nos conmueve y que ha sido objeto de muy escasas interpretaciones históricas revisionistas). Recientemente también ha iniciado el estudio de la Guerra de Malvinas de 1982 (de la cual podemos cuestionar algunas de sus premisas de investigación). La particularidad de los casos de estudio de Tony Pollard así como la investigación del combate de la Vuelta de Obligado que ha venido desarrollando Mariano Ramos, constituyen miradas nuevas sobre los hechos del pasado, que permiten revisar las explicaciones oficiales, descorrer el velo de los temas históricos tabúes a escala local o planetaria, como suelen ser las guerras civiles o entre diferentes países (Ramos et al. 2011).
Los casos de estudio que se presentan incluyen abordajes teóricos y procedimientos metodológicos propios de la Arqueología histórica actual. Se destaca la aplicación de las premisas de la Arqueología del paisaje, apoyadas en la utilización de técnicas y programas computacionales del Sistema de Información Geográfica, de los análisis tafonómicos y arqueométricos, así como también de estudios arqueométricos, geofísicos, con georadar y con equipos detectores de metal. Metodológicamente adquiere relevancia la constante interrelación que se realiza entre los datos arqueológicos obtenidos y los diferentes tipos de fuentes documentales, escritas y gráficas. Al respecto, si bien se trata de una investigación que aún se encuentra en una fase inicial, resulta de interés el trabajo Campos de batalla en México, que Angélica María Medrano Enríquez desarrolla en el capítulo 1. En especial la investigadora reivindica el estudio de los espacios de conflicto bélico donde en el siglo XVI se enfrentaron los nativos mexicanos y los conquistadores españoles, este tipo de estudios puede aportar información nueva que no se menciona en las crónicas hispánicas. Tal es el caso de los hallazgos recuperados en el sitio donde habría tenido lugar la llamada Guerra del Mixtón producida entre 1541 y 1542, los cuales revelan aspectos muy poco conocidos de la intervención bélica de los grupos indígenas aliados de los españoles. En cuanto a los intereses patrimoniales ella señala que la principal inversión económica en su país se destina a preservar los sitios con arquitectura monumental maya; no obstante, por su significación reclama la necesidad de valorar y preservar los campos de batalla hispano indígena. Casi todos los autores de los artículos que se presentan coinciden en destacar el carácter pionero que ha tenido en la Argentina la investigación que Mariano Ramos y su equipo han efectuado en Vuelta de Obligado. Si bien se han publicado trabajos anteriores sobre este sitio, en este caso en particular que se presenta en el capítulo 2, resultan de interés las reflexiones planteadas sobre el cambio de estrategias de investigación y de objetivos de estudio a lo largo del tiempo, después de 14 años de investigaciones intensivas en el lugar. Los autores expresan con claridad los fundamentos que hacen significativo el estudio arqueológico de esta batalla, no solo porque ha permitido generar la valoración del registro material y ha aportado nuevos conocimientos sino también por la resignificación histórica del espacio que se ha logrado difundir. En la actualidad en el espacio funciona un centro de interpretación donde se exhiben materiales arqueológicos de la batalla y se realizan diferentes acciones de transferencia a la comunidad. Landa 2015: 83-90(Reseña) 86 En el capítulo 3 se desarrolla el estudio de la batalla de Cepeda que ha emprendido Juan Leoni y coautores. En esta investigación -al igual que en los trabajos de Ramos, Landa y otros- resulta notable el proceso metodológico que los investigadores aplican al relacionar los restos materiales recuperados en un sector del espacio con los relatos de la batalla. Queda claro que no existe una relación estrecha entre la mayor abundancia de fuentes escritas y la mayor posibilidad de visualizar el registro arqueológico en el terreno. Dado que en esos relatos los investigadores no encuentran referencias geográficas precisas ni tampoco materiales arqueológicos que permitan identificar la posición de los combatientes, se plantean cuatro escenarios hipotéticos de la batalla de Cepeda. Si bien las argumentaciones quedan sujetas a revisión para el futuro, el lector podrá adentrase en la forma que opera la construcción del conocimiento científico en Arqueología histórica, donde la constante interrelación entre los datos materiales y la documentación escrita permite definir las diferentes posibilidades a verificar. Landa y los restantes once coautores abordan en el capítulo 4 el estudio del campo de batalla de La Verde. Para ello combinan el estudio exhaustivo de las fuentes escritas con los presupuestos de la Arqueología del paisaje y las técnicas del Sistema de Información Geográfica, en una ida y vuelta constante durante el proceso de investigación. De esta manera logran visualizar las diferentes alternativas posibles de la ubicación que ocuparon las baterías y las tropas en el lugar de los hechos, borrados de la memoria histórica y del terreno por las acciones sucesivas del trabajo agrícola ganadero. Asimismo, el hallazgo de proyectiles y de vainas les ha permitido determinar un probable núcleo espacial donde habría transcurrido la batalla; un lugar desde donde se disparaban proyectiles y también se recibían de parte de los contrincantes. El artículo se complementa con el análisis arqueométrico de los materiales -que permiten fundamentar las inferencias realizadas- y con la intervención de una dibujante, que se propone historietizar la antigua batalla como parte de los propósitos de su difusión y puesta en valor. El estudio arqueológico de este singular conflicto bélico busca descorrer el velo de un combate poco conocido y deja abierto un debate histórico para quien quiera oír que oiga (como recuerda Mariano Ramos en la presentación, citando a la canción de Lito Nebbia), acerca de la forma en que se dirimieron las ideas mitristas y el modelo de estado-nación argentino, gestado tras la balas y la posición de las tropas antagónicas enfrentadas en La Verde.
En los capítulos 5 y 6 se desarrollan dos estudios realizados en Cuba. En el primero de ellos, Roberto Álvarez Pereira analiza el sistema defensivo que entre 1871 y 1898 se construyó desde Júcaro a Morón, con el objetivo de establecer una división fronteriza en la isla. El análisis detallado del contexto sociohistórico previo a esos años, revela los diferentes acontecimientos que intervinieron en la construcción social del paisaje, previa a la instalación del sistema defensivo. Los datos del corpus documental se integraron a la información geográfica apoyada en un relevante compendio de planos antiguos e imágenes satelitales. A partir de diferentes abordajes metodológicos se elaboró una estrategia de prospección apoyada en la fotointerpretación y también en entrevistas a pobladores locales. Los resultados obtenidos permiten considerar la importancia de avanzar con la investigación de estos espacios fronterizos internos, que fueron establecidos por los españoles y son escasamente tenidos en cuenta en la historiografía colonial cubana. El segundo trabajo cubano realizado por Odlander Hernández de Lara y cuatro coautores, se concentra en el estudio de la batalla que tuvo lugar en la Bahía de Matanzas en 1898 entre los españoles y los norteamericanos. En este caso se cuenta con una abundante producción historiográfica del conflicto bélico, donde no solo se describen los pormenores políticos y económicos sino también las características constructivas de las baterías defensivas hispánicas y sus cambios a través del tiempo. Al respecto, los autores analizan exhaustivamente las diversas fuentes documentales, incluyendo noticias periodísticas y relatos de personas que vivenciaron el bombardeo iniciado por los estadounidenses. Un caso singular y muy emotivo es la narración que Lola María realizó en sus Memorias. Los estudios arqueológicos previos han podido recuperar proyectiles y piezas de artillería de ambos bandos. En cuanto a las investigaciones arqueológicas de las fortificaciones ubicadas en la bahía de Matanzas, se detallan los trabajos realizados y los hallazgos materiales recuperados a lo largo del tiempo en dos baterías y en exploraciones subacuáticas. Como bien destacan los autores, el estudio arqueológico de los conflictos bélicos aún es incipiente en Cuba pero ha comenzado a demostrar sus aportes al conocimiento de la historia de la isla; no solo por la nueva información sobre las batallas sino también sobre el contexto histórico que desencadenó los conflictos y las consecuencias que trajeron a las poblaciones locales. Finalmente en el capítulo 7, Jaime Mujica Sallés y Lúcio Menezes Ferreira, no analizan casos específicos de campos de batalla en el Uruguay sino las condiciones de preservación arqueológica que en general se deberían tener en cuenta cuando se investigan dichos casos. En primer lugar, respecto de los espacios donde se produjo el conflicto, indican la Landa 2015: 83-90(Reseña) 88 necesidad de planificar las estrategias de patrimonialización y puesta en uso social a partir del cruzamiento de diferentes variables; desde las características del suelo hasta la accesibilidad a los campos de batalla. En segundo lugar, definen las diferentes actividades y el protocolo de conservación que debe tenerse en cuenta para preservar los materiales recuperados en este tipo de sitios, tanto durante las actividades de campo como en el gabinete. En síntesis, tanto para los especialistas como para el público en general, este libro puede resultar de particular interés no solo por la problemática de estudio original que aborda, sino también por la narración amena sobre el quehacer científico que llevan a cabo los arqueólogos latinoamericanos. A través de la forma en que se presentan las diferentes evidencias materiales de cada caso y las argumentaciones explicativas, se revela como opera el razonamiento del científico durante el proceso de investigación.
Referências
De Cunzo, L. y J. Ernstein 2006. Landscapes, ideologiey and experience in historical archaeology. En The Cambridge Companion to Historical Archaeology, D. Hicks y M. Beaudry (eds); pp. 255-270. Cambridge University Press.UK.
Gilchrist, R. 2003. Introduction: towards a social archaeology of warfare. World Archaeology 35 (1): 1-6.
Holtorf, C. y H. Williams 2006 2006. Landscapes and memories. En The Cambridge Companion to Historical Archaeology, D. Hicks y M. Beaudry (eds); pp. 235-254. Cambridge University Press.UK.
Quesada Sanz, F. 2008. La arqueología de los campos de batalla. Notas para el estado de la cuestión y una guía de investigación. Saldivie 8: 21-35.
Ramos, M., F. Bognanni, M. Lanza, V. Helfer, C. González Toralbo, R. Senesi, O.
Hernández de Lara, C. Pinochet y G. Clavijo 2011. Arqueología histórica de la Batalla de Vuelta de Obligado, Provincia de Buenos Aires, Argentina. En Arqueología histórica en América Latina. Perspectiva desde Argentina y Cuba, M. Ramos y O. Hernández de Lara (eds); pp. 13-32, PROHARHEP, Universidad Nacional de Luján. Luján.
Scott, D. 2009. Studying the Archaeology of War: a model base don the investigation of frontier military sites in the American Trans-Mississippi West, En International Handbook of Historical Archaeology, T. Majewski y D. Gaimster (eds); pp.299-317. New York.
[IF]
Barcelona 1714. Jacques Rigaud: crònica de tinta i pólvora – HERNÀNDEZ; RIART (I-DCSGH)
HERNÀNDEZ, F.X.; RIART, F. Barcelona 1714. Jacques Rigaud: crònica de tinta i pólvora. Barcelona: Librooks, 2014. Resenha de: H. PONGILUPP, Mar. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.78, oct., 2014.
El libro que presentamos se centra en los seis grabados que dibujó el artista provenzal Jacques Rigaud en 1732 para dar a conocer cómo se asediaba y asaltaba una ciudad según las técnicas y pautas militares determinadas por el célebre ingeniero francés Sébastien Le Prestre de Vauban. Rigaud se inspiró en uno de los episodios más cruentos de la Guerra de Sucesión española: el asedio de Barcelona, que era el último gran cerco que había conocido la Europa del xviii. Dado que la expugnación de la ciudad fue meticulosamente cartografiada por los ingenieros franceses, pudo disponer de unas fuentes fiables y precisas para desarrollar su proyecto.
Sin embargo, su objetivo no era mostrar el asalto concreto de Barcelona, sino exponer, de manera didáctica, qué pasos debían seguirse para expugnar y rendir una plaza. Este hecho explica por qué los grabados no son del todo fieles a la Barcelona de 1714, pues contienen errores en lo que respecta a su representación histórica. Rigaud dedicó su obra al joven marqués de Montmirail, que, a pesar de su juventud, ejercía como coronel de la guardia suiza del rey de Francia, y se esforzó en plasmar detalladamente la tecnología y los pormenores de los asedios con la intención de que Montmirail pudiera entender qué era lo que debía hacerse para atacar una ciudad fortificada.
Hernàndez y Riart retoman el espíritu pedagógico de Rigaud y nos ofrecen una relectura de los grabados que permite comprender la poliorcética -el arte de atacar y defender una plaza fuerte- del siglo xviii en clave educativa. Uno a uno, los seis grabados son diseccionados por los autores, que, a partir de recuadros y dibujos ampliados, describen qué es lo que está sucediendo, cuáles son los personajes y qué objetivos persiguen las diversas acciones militares. El resultado es un impresionante documento didáctico que, a través del análisis de una fuente casi primaria, nos aproxima a las aplicaciones bélicas de la ingeniería del siglo xviii. Así, Hernàndez y Riart se sirven de los dibujos de Rigaud para ilustrar las distintas fases y dinámicas del asedio: la excavación de las trincheras, los preparativos de los bombardeos, los contraataques, la apertura de las brechas, los problemas del asalto y las medidas de represión.
Pero Rigaud, un grabador extraordinario, también estaba interesado en reflejar los más pequeños detalles de la vida cotidiana alrededor del cerco, de modo que, en sus iconografías, las figuras humanas, que aparecen realizando las más diversas ocupaciones, cobran un especial protagonismo. En este sentido, los autores resaltan cómo Rigaud presenta a los soldados (los vivos y los muertos) y de qué manera evoca la miseria de los hospitales de campaña, la frialdad de los oficiales, el cansancio de los soldados o el terror de los civiles caídos. Como valor añadido cabe destacar que el conjunto de los grabados constituye una fuente de primer orden para documentar las fortificaciones y el asedio que sufrió Barcelona durante el periodo de 1713-1714. De modo que tanto los grabados como los comentarios conforman una herramienta pedagógica de gran utilidad para implementar múltiples actividades en el aula.
Mar H. Pongiluppi
[IF]Arqueología de la frontera. Los vestigios de una sociedad de las pampas argentinas – ROCHIETTI et al (RAHAL)
ROCHIETTI, Ana María; OLMEDO, Ernesto; RIVERO, Flavio. Arqueología de la frontera. Los vestigios de una sociedad de las pampas argentinas. Buenos Aires: Editorial Aspha, 2013. Resenha de: LANDA, Carlos. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana, Buenos Aires, v.1, n.8, p.85-88, 2014.
Este libro, cuya autoría corresponde a Ana María Rochietti, Ernesto Olmedo y Flavio Ribero, tiene como finalidad el abordaje de la “Frontera del Sur” desde una perspectiva que integra las miradas de la Arqueología histórica y la Etnohistoria. Los autores poseen una amplia trayectoria en esta temática, siendo miembros de un equipo de investigación afín inscripto en la Universidad Nacional de Rio Cuarto. La obra se encuentra conformada por una introducción, cuatro capítulos y un final o epílogo. Si bien sus autores no lo explicitan directamente en el libro, puede deducirse de algunos breves comentarios intercalados, que el mismo posee carácter de síntesis en torno a la vasta producción por ellos desarrollada. También evidencia esta condición el glosario ubicado al final del libro en donde se definen -por capítulos- diversos términos esgrimidos. Su lectura apunta a un público variado, su lenguaje es accesible y evita abundar en la jerga específica de las disciplinas implicadas, tornándolo ameno tanto para especialistas como para legos.
Ya desde su introducción se destacan el rol del conflicto y la guerra fronteriza -escenario de confrontación entre indígenas e hispano-criollos- como configurativa de la formación social colonial y republicana. Se resalta el rol de las investigaciones arqueológicas dado que el estudio de la cultura material permite entender al espacio fronterizo del sur como producto de procesos colonialistas específicos, por ende los autores refieren a una Arqueología de Frontera como significante a la hora de estudiar su materialidad y entenderla como expresión de su propia vida social. El primer capítulo denominado “Arqueología del país fronterizo” se erige, a modo de ejemplo, sobre el relato manifestado en Viaje a caballo por las Provincias Argentinas [1853] del comerciante inglés William Mac Cann. Los autores consideran la descripción hecha por el viajero británico como “(…) un testigo narrativo entretenido y objetivo que nos muestra como era aquel país” (2013:17) y la utilizan para dar cuenta no solo del contexto histórico político sino de la cotidianidad de los diversos grupos sociales -estancieros, gauchos, parcialidades indígenas- que la habitaron sino también las múltiples prácticas en las que se vio inmersa su materialidad (vivienda, tejidos, adornos, higiene, caza y consumo de fauna, entre otros). Más allá de la supuesta mirada objetiva y carente de prejuicios eurocéntricos de Mac Cann, el uso de esta fuente es acertado a la hora de pintar para el lector el panorama complejo de la frontera. El concepto de frontera, tan discutido en las ciencias sociales (Antropología, Historia, Arqueología, Geografía, etc.) al menos desde la tesis clásica de Fredrik Turner (1893), es abordado por los autores sin mayor densidad teórica -entendible dado el objetivo de divulgación de esta producción. La Frontera del Sur es considerada sucintamente como “condición”, “proceso” y “espacio”, un ámbito constituido en una praxis social. Se aborda historiográficamente sus génesis, sus políticas (externas e internas), su constante estado de potencial conflicto así como su final, los bienes consumidos por sus habitantes; siempre destacando su condición entendida como de producto del colonialismo.
La Arqueología histórica como campo de conocimiento -cuya definición y constitución también ha sido objeto de debate- es caracterizada en términos generales como “(…) una disciplina que intenta una visión totalizadora sobre la naturaleza e historia de la cultura material (…)” en donde se integra información provista por fuentes documentales (otro ámbito de discusión en torno a su uso). Destacan el rol de esta sub-disciplina en el estudio de las clases subalternas dominadas en Latinoamérica. Un planteo de Arqueología de la Frontera debe dar cuenta de ellos: indios y criollos pobres así como de los latifundistas, políticos y oficiales castrenses dominadores. Por ende se permiten distinguir entre tres tipos de “arqueologías”: de fuertes y fortines, de los parajes y de las tolderías. En relación a esta última, en este apartado, los autores enfatizan en la dificultad que presenta la delimitación de territorio indígena basándose solo en fuentes documentales, resaltando los diversos sesgos de las mismas. Destacan así la labor arqueológica de Alicia Tapia en torno a sus estudios de los cacicazgos ranqueles, que según ellos constituyen una verdadera Arqueología del territorio indio. El segundo capítulo: “La vida militar en la frontera”, se centra en la línea de asentamientos militares así como en la vida de la oficialidad y soldadesca que allí habitaba. En una primera instancia se realiza una distinción tipológica entre estos asentamientos dividiéndolos, de acuerdo a diversas características, en: fuertes, fortines, campamentos y postas. Dicha división, basada en documentación histórica, es útil no solo para otorgar funcionalidad a los sitios estudiados arqueológicamente sino para poder establecer comparaciones en torno a la materialidad tanto intra como intersitio. Por otra parte, se llevó a cabo una revisión en torno a las diversas formas de reclutamiento mediante las cuales las fuerzas armadas conformaba su tropa (casi todas ellas de forma coercitiva), a las precarias condiciones en que estaba sometida y las múltiples deserciones, sublevaciones y motines acaecidos. Los autores, teniendo en cuenta los sesgos de las fuentes escritas por oficiales, postulan a la frontera como un ámbito de creciente militarización y a sus fortificaciones como una forma de castigo para los sectores sociales subalternos. Dada la sólida producción en torno al mundo castrense de la frontera de Río Cuarto, resulta llamativo que no se haya citado la producción de Facundo Gómez Romero quien en sus estudios sobre la Frontera del Sur (específicamente su sector bonaerense) desde un enfoque basado en la teoría de Foucault ha desarrollado numerosos trabajos arqueológicos vinculados con el castigo y el desarrollo de micro-poderes, entendiendo a los fortines como panópticos imperfectos, donde el que vigila desde el mangrullo, no es un superior, sino un par imbuido momentáneamente de poder (Gómez Romero 2002, 2005 y 2007).
El tercer capítulo llamado “Arqueología de los fuertes y fortines” se centra específicamente en la extensa línea de fortificaciones militares así como sus avances y retrocesos a lo largo de más de un siglo. Se describen los rasgos arquitectónicos de fuertes y fortines (dependencias y foseados), su armamento, características de los asentamientos aledaños (pueblos que fueron constituyéndose y tolderías de indios amigos). También se exponen y comentan los, según los autores, escasos trabajos arqueológicos realzados en asentamientos militares de frontera. En ellos dan cuenta de la metodología empleada y sus resultados, con gran cantidad de imágenes y fotografías de materiales que permiten dimensionar el importante aporte de la Arqueología histórica al estudio de la Frontera del Sur. Podría agregarse a esta exhaustiva lista los trabajos llevados a cabo por Alicia Tapia en el “Fortín La Perra” -Depto. De Loventué, La Pampa-, un puesto de control de los territorios anexados durante las últimas campañas militares al denominado desierto (ca 1883) y la producción de Facundo Gómez Romero en el sitio Fortín Otamendi (1858-1869) (Tapia 1999; Gómez Romero y 2007).
Por último, el cuarto capítulo, titulado “arqueología de los asentamientos civiles” destaca la significancia de los muy escasos estudios arqueológicos de asentamientos civiles establecidos en la Frontera del Sur (específicamente en el sector de Rio Cuarto). Se describen las actividades productivas de las estancias de la época y se caracterizan los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la Estancia de Chaján (asentada sobre Landa 2014: 85-88 (Reseña) 88 territorio indígena) y la Posta el Pantanillo (un asentamiento rural con capilla) y se estimó el potencial arqueológico de la Posta de Achiras. Arqueología de la Frontera…, constituye un aporte esclarecedor y enriquecedor, tanto para especialistas en los estudios de frontera, como para aquellas personas interesadas en estos vastos y complejos universos. Como los propios autores afirman “Este libro ofrece una historia basada en la arqueología como prueba testimonial de los acontecimientos del pasado” (2013:14). Esta mirada integradora permite vislumbrar un mundo fronterizo alejado de la estática que implica la liminalidad, un mundo que es atravesado por un dinamismo heterogéneo, efervescente y creativo. Su valiosa contribución radica en que instala en la memoria a la frontera -espacio, historia y materialidad- que como sostienen los autores, casi nadie recuerda, pero en ella se gestó la Argentina moderna”.
Referências
Gómez Romero, F. 2002. Philoshophy and Historical Archaeology: Foucault and a singular technology of power development at the nineteenth century, Argentina. Journal of Social Archaeology. Vol. 2 Nº3: 402-429 2005. Fortines del desierto como enclaves de poder en las pampas Argentinas. América Latina Historia y Sociedad. Laura Mamelli (Ed.). Universidad Autónoma de Barcelona, España. 2007. Se presume culpable. De los Cuatro Vientos. Buenos Aires.
Tapia A. 1999. Fortín La Perra. Entretelones de la dominación y la supervivencia militar en lapampa central. XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Universidad Nacional Córdoba. Córdoba.
Carlos Landa – Es Licenciado en Ciencias Antropológicas (FFyL, UBA); Magister en Investigación en Ciencias Sociales (FCSoc, UBA) y Doctor en Arquelogía (FFyL, UBA). Es investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Se desempeñó en diversos proyectos de investigación radicados en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Excavó asentamientos militares de frontera, campos de batalla y sitios rurales de las provincias de La Pampa y de Buenos Aires (Argentina). Publicó numerosos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales.
[IF]
Guerra aérea e literatura | Winfried Georg Maximilian Sebald
O escritor judeu alemão Winfried Georg Maximilian Sebald, mais conhecido no Brasil como W.G. Sebald, aborda neste livro duas questões extremamente polêmicas, que se entrelaçam: a ausência do tema dos bombardeios das cidades alemãs na literatura alemã do pós-guerra e a brutalidade e o horror desses ataques (cuja consequência foi a dificuldade dos escritores em lidar com a história recente de seu próprio país).
O livro é composto por dois textos, antecedidos de uma breve introdução. Primeiro, temos as conferências que “não estão publicadas exatamente na forma em que foram proferidas na Universidade de Zurique no final do outono de 1997” (2011, p. 7). Na sequência, temos a um artigo sobre o escritor Alfred Andersch, por meio do qual ele pretende demonstrar como a literatura alemã foi influenciada de forma perniciosa pela atitude dos escritores que optaram por continuar no país. Eles teriam considerado como mais importante “a redefinição da ideia que tinham de si próprios depois de 1945” (Ibid., p. 8) e não “a apresentação das relações reais que os envolviam” (Idem), o que os levou a ignorar a História e, consequentemente, a tragédia que viveram. Leia Mais
War/ Religion, and Empire: The Transformation of International Orders | Andrews Phillips
The issue of international orders is a specially pressing one in the field of International Relations. Orders change with times, either being transformed by circumstances and/or being outrightly abandoned and substituted with another such form. Notwithstanding, these shifts bring in their wake very important consequences and can even change completely the way peoples, nations, polities and states view themselves in relation to each other and in raletion with the world.
No matter how one sees international orders, which are understood by Phillips as an ensemble of constitutional norms and institutions through which co-operation is fostered and conflict undermined and contained between different polities, it is difficult to play down their importance to International Relations, as a discipline, and as a practice. That is precisely the theme adressed by Phillips in his book. The author adresses three bascic questions in this work: 1) what are international orders?; 2) what elements contribute to and can be held accountable for their transformation?; 3) and how can they be maintained even when faced by violent shocks challenges? Drawing on two basic empirical cases, Christendom and Sino-centric East Asian order, he contends that, despite their idiosyncrasies, both cases share some common characteristics. Based on theses common elements the builds his conception of order which is, to some extent, a synthesis exercise between the constructivist and realist traditions of IR. Leia Mais
é, guerra e escravidão: uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898) | Patrício Teixeira Santos
A obra Fé, Guerra e Escravidão: uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898), recém editada pela Editora FAP-UNIFESP, trata de um tema atual, instigante e ainda pouco explorado pela academia brasileira, seja pela dificuldade do acesso às fontes, seja pelo tardio interesse pelos estudos periféricos, como podem ser considerados os estudos africanos e asiáticos.
Este é um duplo desafio que a autora aceita magistralmente: vai em busca das fontes e traz a público e para a academia a premência da dedicação aos estudos ainda pouco abordados, o que significa também dizer da necessidade de criar um campo conceitual e teórico específico, que não seja uma mera transposição dos estudos realizados na Europa ou nos EUA, para tratar do continente africano.
O tema é instigante e atualíssimo, se considerarmos todas as veiculações da mídia acerca dos acontecimentos da chamada Primavera Árabe e seus desdobramentos e explicações que passam pela simplicidade de rótulos: fanatismo, intolerância, ignorância, fundamentalismo ou, simplesmente, islamismo. Há ainda um aspecto contundente desta história recente: a criação, em 2011, do 195° país do mundo: o Sudão do Sul, de maioria cristã, desmembrado do Sudão, de maioria muçulmana.
Notadamente, o ponto de partida da obra são as relações entre cristãos e muçulmanos no Sudão no período compreendido entre 1881 e 1898, correspondendo à experiência da instauração de um Estado Islâmico em decorrência do movimento mahdista, liderado por Mohammad Ahmad Abdulahi.
Partindo de sua pesquisa de doutorado, a autora revisitou sua obra com a realização de pesquisa de pós-doutoramento que a levou a recolher documentos, pesquisar em diferentes acervos e bibliotecas e ainda refletir com colegas de universidades internacionais para chegar ao formato final de sua pesquisa, que ora se publica em formato de livro.
A originalidade está não só na escolha do tema como na seleção das fontes e suas interpretações, abrindo caminho para a construção e consolidação do campo de estudos de História da África no Brasil, indo além das questões, não menos importantes, dos temas diaspóricos ou relacionados à história do Brasil.
As fontes são ricas e variadas: relatos e cartas de missionários, depoimentos e discursos das fontes missionárias, manuscritos, periódicos e outras publicações missionárias, fonte oral, além da documentação produzida por militares e comerciantes europeus, documentação produzida pelos muçulmanos no Sudão e importantes obras bibliográficas de referência e de cunho geral.
Tais documentos permitem tratar das formas de pensar, do juízo de valores, das percepções e das formas de convivência com o outro, ou dito de outra forma, de como ver o outro. É tratar ainda das representações recíprocas de cristãos e muçulmanos, não apenas a partir da história destas relações, mas como esta história foi construída, elaborada e apropriada. E, logicamente, há uma discussão historiografia sobre as formas de escrita desta história.
Ainda que o tema central seja o surgimento da Mahdiyya e do Estado Mahdista liderado por Mohammad Ahmad Abdulahi, há uma pluralidade de temas interrelacionados, interligados, intricados e que, pelas mãos da autora, dialogam, no melhor exemplo do que se espera da disciplina histórica. Trata-se da História do Sudão no século XIX, mas também da história do Império Turco-Otomano e de sua crise ensejada pela disputa com a Áustria e a França (esta vista como a protetora dos cristãos do Oriente); da história do colonialismo europeu dos séculos XIX e XX, marcado pelas disputas francesa e inglesa, mas também do “subimperialismo” egípcio na tentativa de dominação do território sudanês; da história da Igreja e de seu papel na corroboração do projeto imperialista europeu, seja nas tentativas de evangelização da África, seja na forma de encontrar seu novo papel no momento da formação e consolidação dos laicos Estados nacionais; da disputa pela expansão da fé pelas missões católicas em concorrência com os cristãos orientais (coptas e ortodoxos) e com os protestantes ingleses; da expansão islâmica pela vertente do sufismo e do mahdismo; das interpretações da história sobre a história do Sudão, do sufismo e do mahdismo, num contexto de fé, guerra e escravidão.
O objetivo da obra é analisar as visões construídas sobre o mahdi e o Estado Islâmico criado no Sudão, a partir das interações dos missionários com essa experiência histórica. A partir daí, discute-se o papel da religião na formação da nação sudanesa, como reação ao poderio colonial anglo-egípcio, cujo caminho escolhido será o do messianismo e do poder estatal. É neste contexto que se insere o papel do catolicismo e das ações missionárias como “mediador espiritual do laico projeto colonial britânico e do novo estado religioso”. Trata-se então de compreender os valores civilizacionais cristãos na implementação do Estado sudanês.
A obra está estruturada em quatro capítulos, cada um deles subdivididos na exploração de temas que, num crescendo, vão descortinando a complexidade e pluralidade desta história: imperialismo e subimperialismo; sufismo, misticismo, mahdismo e messianismo; cristianismo, ação missionária e colonização; a trajetória do mahdi e o processo de criação do Estado Islâmico, assim como de seu significado histórico e religioso e as interpretações historiográficas sobre esse significado. Entre os temas abordados e analisados, alguns aspectos instigantes podem orientar a leitura, que ora apresentadas não estão por ordem de importância nem seguem à risca a construção feita pela autora.
O primeiro aspecto trata do papel das missões católicas europeias no Sudão, não voltadas apenas às ações proselitistas, mas como necessidade e garantia da própria sobrevivência institucional da Igreja fora da Europa, em decorrência da separação da Igreja e do Estado e dos processos de laicização. Dessa forma, África e Ásia serão campos de disputa para a expansão da fé católica, sendo necessária a conquista de almas, para isso concorrendo não só com os muçulmanos, mas com outras formas cismáticas de cristianismo (o oriental, como os ortodoxos e os coptas, e o protestante), como também para a perpetuação institucional e ideológica da Igreja Católica. Nesse sentido, o discurso do branco-europeu-civilizador foi incorporado também pela Igreja num processo interativo entre missão-colonização, cujo papel se traduziu na ação civilizatória católica entre povos não-brancos e pela propagação do “fim da maldição de Cam” com a redenção de todos os povos, africanos inclusive, pelo sangue de Cristo.
Para a efetivação desse projeto era necessário desqualificar o outro, construindo uma visão do muçulmano na lógica do estereótipo do oriental: indolentes, maliciosos, perversos, imersos na preguiça oriental, invejosos, competitivos, violadores das liberdades, do direito e do progresso, traficantes, brigões, ladrões, fracos, supersticiosos, entre outras adjetivações que corroboram a construção da imagem do outro na Europa branca-civilizada. A ridicularização, a violência, a fraqueza e a ignorância também eram modos de desqualificar o outro. Era necessário ainda desqualificar o islã, o profeta e seus crentes: “Maomé não era outra coisa senão um profeta do diabo, o seu livro um acúmulo de erros, e os amuletos uma vã superstição” (p. 153). Sobre as mulheres também pesava a degradação pela barbárie, pela sedução da magia e do encantamento, pela superstição e pela religião, como na seguinte passagem: “Perguntei se porventura aquela mulher era louca, e me respondeu que era muçulmana” (p. 153).
Assim, o campo de ação missionária deveria ser justamente onde esses males pudessem ser combatidos por meio da conversão à fé católica, unindo projeto evangelizador com projeto civilizador no Sudão: os resgatados da escravidão, as mulheres e as crianças. A conversão missionária se daria pela salvação dos escravizados, longe do jugo de seus senhores; das mulheres, libertas da escravidão, do concubinato, da prostituição; das crianças abandonadas como resultado do “abuso e da não consciência do homem branco”. Estes seres degradados poderiam ser regenerados pela ação missionária, por meio do controle do corpo e da sexualidade como formadores de virtudes, seja pelo casamento católico, seja pela inserção na vida monástica e, sobretudo, seriam agentes propagadores da fé e moral católica como forma de expressar sua gratidão, docilidade e submissão.
Nesse sentido, a ação do mahdi e sua construção de um Estado Nacional Sudanês baseado na fé islâmica só poderia ser compreendida como desvario, farsa, delírio, messianismo de um líder inconformado com “a presença europeia, avesso às inovações modernas e às contribuições científicas e religiosas do Ocidente” (p. 164)
Ainda que possa parecer paradoxal, do ponto de vista religioso há uma convergência entre os objetivos da missões católicas e do Estado mahdista no tocante à obra civilizatória sobre as “populações negras africanas” e “não árabes” empreendida pelo mahdi, que iam ao encontro da moralidade cristã no que se refere à disciplinarização dos corpos, controle da sexualidade, amor ao trabalho, combate ao adultério e ao roubo, com uma eficiência pedagógica e disciplinadora, baseadas na punição e nos castigos físicos.
Da mesma forma, o Estado mahdista se utilizou do mesmo expediente da conversão dos missionários católicos por meio da combinação da sedução e da coerção, do amplo conhecimento da fé católica, de aventar a possibilidade de participação no Estado, mas também por meio da força física, da conversão forçada, da imposição dos casamentos, da disciplinarização dos corpos, entremeando sensações e experiências de repulsa e admiração. A inserção na moralidade islâmica dos povos subjugados e dos missionários católicos por meio da conversão forçada ou não ajuda a compreender como se deu o processo de construção de linhagens fundadoras do Estado mahdista, como aponta a autora.
O êxito da mahdiyya foi decorrente uma conjunção de fatores ligados à mística sufi, da inserção e incorporação de povos não árabes em seus domínios, da apropriação de expedientes e vocabulários das práticas missionárias cristãs, da manutenção do tráfico de escravos, bem como da apropriação de estruturas militares e administrativas otomanas-egípcias e inglesas, num processo de incorporação de diversos elementos previamente existentes na criação do novo Estado singular e que conseguiu sobreviver até 1898, mesmo depois da morte do mahdi.
Nesse sentido, e ironicamente, é possível concluir que nas relações dos missionários católicos com o Estado mahdista o que a autora observa é que “a experiência mahdista, sobretudo a dos primeiros religiosos, abalou certezas sobre o que se conhecia no campo intelectual europeu a respeito da ‘limitações do oriental” (p. 178), sua ignorância e ingenuidade, e numa perspectiva historiográfica mais recente de avaliar o Estado Mahdista como “a primeira experiência sudanesa de Estado independente” (p. 175).
Samira Adel Osman – Professora no Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP – Guarulhos/Brasil). E-mail: samira.osman@unifesp.br
SANTOS, Patrício Teixeira. Fé, guerra e escravidão: uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898). São Paulo: FAP/UNIFESP, 2013. Resenha de: OSMAN, Samira Adel. Cristãos e Muçulmanos no Sudão: a experiência da Mahdiyya muito além da intolerância e do fanatismo religioso. Almanack, Guarulhos, n.7, p. 169-172, jan./jun., 2014.
Homens e armas: recrutamento militar no Brasil Século XIX – COMISSOLI; MUGGE (HU)
COMISSOLI, A.; MUGGE, M.H. Homens e armas: recrutamento militar no Brasil Século XIX. São Leopoldo: Oikos Editora, 2011. 253 p. Resenha de IZECKSOHN, Vitor. Guerra, fronteira e ordenamento social no Brasil oitocentista. História Unisinos 16(3):422-425, Setembro/Dezembro 2012.
Esta coletânea de nove artigos produzidos em sua maior parte por jovens pesquisadores, oferece uma amostra consistente sobre o estado atual das discussões acerca do recrutamento militar no Brasil. Predomina neste livro o interesse pelo recrutamento militar no período imperial, com ênfase no estudo da influência do clientelismo tanto nos laços de camaradagem quanto na execução das normas disciplinares. São pesquisas sólidas, ancoradas em levantamentos detalhados de material de arquivo. Há pouco espaço para diletantismo, o que torna a leitura por vezes árida, mas esse é um obstáculo pequeno que o leitor deverá ultrapassar levando em conta a riqueza dos temas aqui tratados.
A História Militar se incorporou de formas variadas à agenda historiográfica brasileira, mas os dilemas imperiais seguem distinguindo-se em volume entre os trabalhos apresentados. Trata-se de uma viagem a um mundo regido por relações de proteção e compromisso, decorrentes da dificuldade do governo imperial para exercer um poder direto sobre seus súditos. Percebem-se, entretanto, mudanças de enfoque: o recrutamento é visto cada vez mais pelo prisma de uma negociação entre vários atores, especialmente em tempos de paz. Esta visão contrasta com a ênfase tradicional nos processos coercitivos, que dominou o campo nas últimas décadas do século XX. O Estado aqui não mais surge como a instituição todo-poderosa, capaz de isolar os soldados dos seus ambientes de origem. Pelo contrário, a tônica das narrativas destaca tanto as dificuldades para imposição de regras quanto os problemas colocados para o cumprimento de objetivos previamente estabelecidos. O governo central surge em toda a sua fragilidade e dependência face aos interesses locais, sem cuja interação era difícil obter a obediência necessária à execução das metas.
O livro apresenta um renovado interesse pela Guarda Nacional, com quatro artigos dedicados à mesma. A Guarda tem o destaque que merece uma instituição central à manutenção da ordem entre o período das Regências e o final da Guerra do Paraguai.
José Iran Ribeiro e Luís Augusto Farinatti estudam a transição das milícias para a Guarda Nacional a partir do município fronteiriço de Alegrete/RS. Trata-se de trabalho pioneiro a partir de dados preciosos envolvendo a forma como uma transformação nacional processou-se numa localidade periférica. Os autores comprovam que na transição do sistema miliciano para a Guarda, houve aumento do controle local, com favorecimento “dos estratos mais importantes da sociedade, ainda que muitos não fossem ricos” (p. 97). Para os autores, os principais conflitos envolviam as disputas entre facções locais. O estudo aborda uma situação de fronteira, mas o peso dos conflitos pessoais e da operação das facções demonstra que, ao menos no sul do Brasil, o problema principal não era a arregimentação forças, mas a disponibilidade das autoridades locais para cooperarem umas com as outras. Será interessante ver se pesquisas subsequentes confirmarão essas conclusões para outras províncias.
Leonardo Canciani e Miquéias H. Mugge comparam os comandos das Guardas Nacionais das províncias de Buenos Aires e do Rio Grande do Sul. Essas províncias constituíam regiões fronteiriças nas quais os guardas serviam como elementos de mobilização para os respectivos exércitos. No caso rio-grandense a Guarda se manteve vinculada ao ministério da Justiça, enquanto em Buenos Aires ela era subordinada ao exército. Essa situação resultou em diferenças em termos de filiação e prestação de serviços, mas essas eram diluídas em tempos de guerra, quando a disputa pelas isenções tendia a aproximar as duas situações provinciais. Distinções geográficas também influem no inventário de diferenças proporcionado pelos autores, já que o Rio Grande era uma região periférica, ainda que estratégica; enquanto Buenos Aires era uma província essencial ao esforço centralizador. Por fim, o artigo demonstra como o poderio militar dos comandantes os converteu em destacados líderes políticos de suas respectivas regiões-província, uma clara associação entre a liderança militar e o processo de formação de elites regionais (no caso buenairense, nacionais), presente nos dois espaços.
Aline Goldoni também analisa o papel dos comandos da guarda, mas numa região distante das fronteiras internacionais. O Rio de Janeiro era a província mais rica do Império. De sua densidade demográfica o governo Imperial esperava uma contribuição substancial ao esforço de guerra. Mas a designação de guardas durante a Guerra contra o Paraguai foi obstaculizada por seus próprios comandantes. Através do levantamento dos comandos, Goldoni demonstra a maciça filiação desses condestáveis locais ao partido Conservador. Também impressionam os longos períodos durante os quais esses comandantes chefiaram suas respectivas guarnições, em contraste com a brevidade dos mandatos dos presidentes de província. Sua longevidade, associada ao poder político e econômico de que dispunham, os transformavam em obstáculos formidáveis à designação em tempo de guerra.
A Guarda, no Rio de Janeiro, se tornaria um entrave aos esforços centralizadores do Estado, num claro contraste com a situação rio-grandense. O modelo proposto pela autora pode e deve ser testado em outras regiões, na busca de uma compreensão mais abrangente das variáveis que facilitavam ou dificultavam a mobilização da Guarda em tempos de guerra.
A Guarda durante a Guerra do Paraguai também constitui o objeto do artigo de Flávio Henrique Dias Saldanha. Fortemente baseado na análise conceitual de Fabio Faria Mendes, este artigo discute os problemas envolvidos na designação dos guardas, com certa concentração no caso mineiro. Ficamos, entretanto, sem conhecer as causas da baixíssima cooperação da província mais populosa do país, ainda que o autor nos apresente um quadro bastante detalhado do conjunto de problemas envolvendo a transferência de membros da Guarda para o exército de linha. Essa operação foi o calcanhar de Aquiles da mobilização militar, já que comandantes e comandados relutavam em passar à tutela de oficiais profissionais, situação que os subordinaria ao exército profissional (ou de linha, como então se dizia). Relutavam, ainda mais, em serem transferidos para regiões distantes dos seus lugares de origem. A Guarda acabava funcionando como um guarda-chuva contra o recrutamento para o exército, atuando como mecanismo de classificação social e, simultaneamente, reforçando os laços de dependência entre clientes e patrões. A mobilização para o grande conflito platino ameaçou a posição da Guarda como santuário contra o recrutamento, criando fortes tensões entre os interesses locais e as demandas do governo imperial. A descrição deste conflito é minuciosa.
As relações raciais nas forças armadas são o tema de três artigos desta coletânea. Vania Maria Losada Moreira estuda o recrutamento de indígenas. O emprego de índios nas forças combatentes precedeu o período da Independência. Tal como demonstrado anteriormente por Kalina Vanderlei e João Fragoso a utilização de índios flecheiros apoiando expedições militares constituiu pratica comum à tradição militar luso-brasileira. Losada Moreira demonstra, entretanto, que a utilização desses grupos tanto nas linhas de frente, como nos trabalhos de arsenais e fábricas instituiu importante canal de extração para o Estado imperial, independentemente de terem ou não sido os índios considerados cidadãos. A proximidade entre alguns grupos indígenas e colonos luso-brasileiros em regiões de povoamento escasso possibilitou uma inserção mais constante dos primeiros nas forças armadas, questão ainda pouco estudada pela historiografia. A autora apresenta vários insights animadores para as possibilidades de pesquisa neste campo específico. Ressalte-se que a descrição da questão indígena não incorre numa narrativa racialista, infelizmente tão comum neste tipo de análise.
Daniela Vallandro de Carvalho estuda o recrutamento de escravos durante a Guerra Farroupilha. Partindo da análise de casos particulares, a autora nos apresenta, com riqueza de detalhes, trajetórias pessoais que realçam os dilemas proporcionados pela atuação militar daqueles cativos no movimento militar que dividiu o Rio Grande do Sul. A busca pela liberdade através da adesão ao exército revoltoso por vezes não foi voluntária. Relações de lealdade com seus senhores ou mesmo o desejo de permanecerem perto dos familiares frequentemente chocaram-se com a requisição forçada de soldados por parte dos Farroupilhas.
Outros viram no serviço militar o abrigo da farda e a esperança de uma liberdade no longo prazo, aderindo, com poucas reservas, ao chamado das armas. De qualquer forma, o status de combatente já criava uma diferenciação em relação ao grupo que permaneceu ligado às lidas do trabalho, fosse este campeiro ou doméstico. Trata-se de pesquisa que se enquadra na tradição recente de estudos sobre o recrutamento cativo em tempos belicosos. Modalidade mais desenvolvida nas tradições historiográficas norte-americana e caribenha, recebe aqui uma análise que a enquadra na tradição platina e nos estudos historiográficos pautados pela micro-história.
Álvaro Nascimento descreve as confl ituosas relações entre oficiais brancos e marinheiros negros na Marinha de Guerra. Uma das instituições mais aristocráticas do Império, a Armada entrou no período republicano mantendo vários dos preconceitos que pautavam as relações disciplinares. Esses preconceitos eram fortemente orientados por questões raciais. A modernização da esquadra esbarraria na manutenção de castigos corporais, cuja aplicação constituía ultraje permanente aos marinheiros, fossem eles recrutados compulsoriamente, fossem ainda egressos das escolas de aprendizes. Os castigos físicos embutiam forte carga simbólica relacionada ao período escravista, cujo ocaso era ainda bastante recente.
Nascimento nos introduz ainda a grande diversidade das tripulações navais, cuja descrição é acrescida de uma discussão sobre a importância do trabalho compulsório no setor público. A utilização do trabalho forçado de prisioneiros, de vadios, de ex-escravos rebeldes e de pessoas não enquadradas nas ocupações permanentes contribuiu com parcela significativa da força de trabalho estatal, questão que remete para a importância desses grupos para a execução das obras públicas assim como para o funcionamento de estaleiros e arsenais. Que tipo de patrão foi o Estado? Os trabalhos de Adriano Comissoli e Marcos Vinícios Luft tratam de temas correlatos, relacionados a duas perguntas básicas e centrais à natureza deste livro: Quais circunstâncias mantiveram unidos indivíduos ligados às forças combatentes? Quais justificativas para pedidos de isenção do serviço militar em tempo de guerra tenderam a obter mais sucesso? Adriano Comissoli demonstra como, no Rio Grande do Sul, durante as décadas iniciais do século XIX, a guerra era um assunto de família, envolvendo relações de parentesco que proporcionavam um tipo de disciplina baseado em lealdades consanguíneas. Essas circunstâncias, somadas à penúria estatal, explicam por que as milícias permaneceram muito mais efetivas que o exército de linha naquela quadra. O destaque conferido à organização miliciana teria refl exos para o desenvolvimento da tradição militar rio-grandense nas décadas subsequentes, engrossando o cabedal militar como fonte de prestígio e poder político das lideranças provinciais.
Marcos Vinícios Luft faz um levantamento das justificavas para dispensa durante a Guerra Cisplatina (1825-1828). Trata-se de um dos conflitos internacionais menos pesquisados a despeito da sua importância para o ocaso do primeiro reinado. Seus impactos sobre a sociedade do Rio Grande do Sul desempenhariam papel de relevo na formulação da política externa imperial ao longo das décadas seguintes.
Luft apresenta os reflexos da mobilização militar sobre a população, enfatizando como a mobilização incidiu tanto nas atividades econômicas como sobre a organização das estruturas familiares. Segundo o autor, mesmo as normas para dispensa, contidas na lei, poderiam ser eventualmente desrespeitadas quando a escassez de soldados ou alguma intriga política assim o requeresse. Essa situação aumentava a sensação de insegurança levando as famílias a buscar proteção junto a alguma liderança que garantisse o cumprimento da lei. Também contavam a insistência de parentes quando estava em jogo o recrutamento de um membro essencial ao trabalho familiar. Da leitura do artigo fica a impressão de que a Guerra Cisplatina teria desorganizado a sociedade rio-grandense, pista que espero ver elucidada em trabalhos subsequentes do autor.
O Rio Grande do Sul exerceu um papel peculiar como “nervo militar do Império”. Não é coincidência, portanto, que cinco artigos versem sobre a antiga província de São Pedro. Mas os trabalhos presentes neste livro não se restringem a esse recorte geográfico, concentrando-se em temas e questões que afetaram o desenvolvimento das atividades militares em todo o território. O livro tem apelo forte para os historiadores interessados nas questões militares, nos problemas de fronteira e na questão da obediência. Além dessas contribuições, as pesquisas em destaque abrem janelas para o estudo das relações entre agentes públicos e privados durante o longo século XIX. Muitas das perguntas formuladas nos artigos aqui apresentados se prestam a respostas mais longas, por levantarem problemas essenciais aos novos estudos sobre recrutamento, obediência e ordenamento social no Brasil oitocentista.
Vitor Izecksohn – Professor do Programa de Pós- Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Graduação em História Social Largo de São Francisco de Paula, 1, sala 205 20051-070, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: vizecksohn@gmail.com.
Gente de guerra e fronteira: estudos de história militar do Rio Grande do Sul | Paul César Possamai
Como afirma Vitor Izecksohn na apresentação da coletânea organizada por Paulo César Possamai, a guerra e as forças armadas tiveram um papel de destaque na região meridional do Brasil, onde a luta armada, a partir das últimas décadas do século XVII, foi o resultado da colisão de projetos expansionistas das potências coloniais ibéricas, e, a partir do século XIX, do confronto de distintos projetos de Estado-Nação. Os doze capítulos da coletânea apresentam, em sua maioria, abordagens vinculadas à Nova História Militar, salientando a inserção das forças armadas na sociedade sul-rio-grandense, as relações familiares, o recrutamento, as tensões e o cotidiano dos soldados das tropas regulares e auxiliares. O título – Gente de guerra e fronteira – explicita essa mudança de foco em relação às obras tradicionais de história militar, sendo as grandes batalhas e os heróis substituídos por protagonistas anônimos que vivenciam a guerra nessa região de fronteira.
Em A guarnição da Colônia do Sacramento, Paulo César Possamai aborda as condições de vida e estratégias de sobrevivência dos homens mobilizados para a defesa lusa deste posto comercial à margem esquerda do Rio da Prata, objeto de disputa entre as coroas ibéricas entre 1680 e 1777. Apesar do povoamento com casais, o efetivo militar desse posto avançado da fronteira dependeu do recrutamento forçado, o que implicou em um contingente de degredados, condenados, indesejados, “doentes e aleijados” [p.17]; homens considerados despreparados e pouco afeitos à vida militar. Possamai analisa as formas de sobrevivência e resistência desses soldados. Soldos baixos e invariavelmente atrasados, instalações precárias, castigos corporais, alimentação e vestuário insuficientes faziam parte do cotidiano desses homens, empregados não apenas na defesa, mas também em obras diversas. A deserção era meio para escapar às dívidas com comerciantes locais e forma de resistência, a qual encontrava, muitas vezes, apoio e estímulo nas autoridades inimigas.
Outra via de resistência às adversidades da vida militar foi abordada por Francisco das Neves Alves em Uma revolta militar e social no alvorecer do Rio Grande do Sul. O autor analisa a revolta do Regimento de Dragões ocorrida em janeiro de 1742 no Presídio Jesus Maria José, ponto inicial de povoamento português no que viria a ser o Rio Grande do Sul. Com o apoio da escassa população e reafirmando a autoridade e o amor a S.M, os rebeldes representaram ao Comandante do presídio suas queixas. Essas não diferiam daquelas que motivam as deserções na Colônia do Sacramento, mas a essas se somavam aquelas relativas à rigidez da disciplina e aos severos castigos físicos a que eram submetidos os infratores. O arrefecimento da revolta não implicou na pacificação como demonstrou o relato de dois náufragos ingleses. Apesar da tensão e talvez pela proximidade das forças espanholas nessa fronteira indefinida, a ordem e os trabalhos cotidianos foram mantidos dentro da normalidade, mas a deserção e a possível adesão às tropas inimigas eram ameaças sempre consideradas pelas autoridades. Daí, a pacificação a partir da concessão do perdão, da reposição das provisões, do pagamento de soldos e de concessões no relaxamento da disciplina, sem que houvesse a punição dos revoltosos. Deste modo, a fronteira que obrigava à manutenção de uma rígida disciplina, também impunha a condescendência da Coroa em relação às demandas e ao comportamento de seus soldados.
A negociação de lealdades e posições, atendendo a interesses muitas vezes conjunturais, foi discutida por Tau Golin em A destruição do espaço missioneiro. O autor analisa a Guerra Guaranítica (1753-1756), evidenciando que a destruição do projeto de “sociedade alternativa” [p.65], construído pela Companhia de Jesus na região platina, foi resultado da união das potências coloniais ibéricas. Segundo Golin, as determinações do Tratado de Madri (1750) e a ação da expedição demarcadora de limites motivaram cisões internas nas lideranças missioneiras e alteraram as correlações de poder entre padres, caciques e cabildos. A resistência dos povos das missões da margem oriental do Rio Uruguai que deveriam ser trasladados à margem oposta também gerou condições para que Gomes Freire de Andrada expandisse o domínio português, procrastinasse a troca de territórios e transformasse um número expressivo de indígenas em vassalos do rei de Portugal. A Guerra Guaranítica contribuiu assim para o fracasso do Tratado de Madri, levando a sua anulação, mas também acelerou o processo de desestruturação do projeto missioneiro jesuítico na América.
Uma das estratégias lusas para expandir e garantir o domínio sobre o território em disputa era a construção e manutenção de guardas militares. Esse tema é explorado por Fernando Camargo em Guardas militares ibéricas na fronteira platina. Esses postos avançados, guarnecidos por um número pequeno de soldados e oficiais, demarcavam o avanço da soberania portuguesa (ou espanhola), principalmente após a instituição do princípio do uti possidetis pelo Tratado de Madri (1750).Também tinham por objetivo o combate ao contrabando e o controle sobre o movimento de pessoas pela fronteira. A partir do Tratado de Amizade, Garantia e Comércio de 1778, o sistema de guardas foi fator de policiamento e de equilíbrio entre as possessões portuguesa e espanhola. Mas a relativa paz que se seguiu a esse tratado e o reduzido efetivo dessas guardas contribuíram para a lenta degradação desse sistema. Segundo o autor, as guardas militares envolvem uma série de questões cujo estudo demanda o trabalho interdisciplinar como caminho para a compreensão da geopolítica dessa região.
No quinto capítulo intitulado Cabedais militares: os recursos sociais dos potentados da fronteira meridional (1801-1845), Luís Augusto Farinatti estuda o papel da vida militar na formação da “elite guerreira” na fronteira meridional do Brasil. Evidenciando que nem todo estancieiro era um “potentado militar”, o autor demonstra que era estratégia das famílias sul-rio-grandenses, através de casamentos, batizados, créditos, etc., integrar em suas relações pessoas de prestígio e que exerciam diferentes atividades, inclusive o militar, cujo “cabedal” era muito valorizado. Esse “cabedal” envolvia um “conjunto de recursos, juntamente com o prestígio” [p.89] construído por um comandante militar a partir de seu desempenho nas lutas da fronteira e que expressava sua capacidade de mobilizar, armar e liderar homens e de garantir o êxito nas batalhas. Era esse o substrato de sua relativa autonomia de ação, capacitando-o a negociar com subalternos, com aliados e com as autoridades régias/imperiais. Se as relações baseadas nas reciprocidades horizontais e verticais eram a base do poder e da autonomia desses potentados militares, eram também mecanismo de fortalecimento de poderes e, assim, de reprodução e consolidação “de uma hierarquia social desigual” [p.90]. Ou seja, as guerras no sul não eram fator de igualdade e oportunidade de enriquecimento e de ascensão social para todos, mas eram, antes de tudo, estratégias que viabilizavam a conservação da desigualdade. Segundo o autor, ao longo da segunda metade do século XIX, o poder desses homens construído nas guerras sofreu um processo lento de transformação, marcado pela progressiva consolidação do Estado brasileiro, com a paulatina constituição dos poderes civis nas cidades da fronteira e com a profissionalização do Exército.
Em A Revolução Farroupilha, José Plinio Guimarães Fachel afirma o caráter republicano desse movimento que opôs parte da elite sul-rio-grandense ao Império entre os anos de 1835-1845. Através da análise da evolução militar do conflito e dos principais líderes farrapos, o autor salienta os limites impostos às ações e posições defendidas por esses homens que, como membros da oligarquia provincial, eram um grupo heterogêneo e caraterizado pela fragmentação política e por posições controversas. Dentre essas, o autor destaca a questão do escravismo na República Rio-Grandense, cuja manutenção não era ponto pacífico, mas que impôs limites à capacidade farrapa de arregimentar homens e, ao mesmo tempo, ampliou os espaços de resistência dos escravos através da incorporação nas tropas, das fugas e dos quilombos.
Em Tudo isso é indiada coronilha (…) não é como essa cuscada lá da Corte”: O serviço militar na cavalaria e a afirmação da identidade rio-grandense durante a Guerra dos Farrapos, José Iran Ribeiro analisa o papel da cavalaria como elemento de distinção identitária entre os habitantes da Província do Rio Grande de São Pedro e aqueles provenientes de outros lugares do Brasil para servir nas forças legalistas no decorrer da Revolução Farroupilha. Observa que esse fator de distinção persistiu no tempo, apesar da reorganização do Exército Nacional a partir dos anos de 1820, a qual visava criar um corpo uniforme, enquanto grupamento profissional, superando as identidades regionais. Mas, no Rio Grande do Sul, a valorização do serviço na cavalaria teve origem nos conflitos na região platina, onde a topografia criou as condições para que essa arma se tornasse a principal, pois a “guerra gaúcha” impunha o movimento rápido e constante dos contingentes militares [p.118]. Assim, o autor constata que, dentre os batalhões de infantaria nas guerras do sul, predominavam os soldados provenientes de outras províncias brasileiras, já que os soldados sul-rio-grandenses buscavam principalmente o serviço na cavalaria. Fatos que tinham reflexos na composição da Guarda Nacional, com o predomínio dos regimentos de cavalaria. Por fim, o autor conclui que a instabilidade na região e a relevância da cavalaria como principal arma foram fatores para a permanência de oficiais militares rio-grandenses na província, contribuindo para fortalecer sua influência local e sua autonomia de ação frente ao poder central.
O contexto da Guerra do Paraguai mereceu um espaço destacado nessa coletânea, a começar pelo artigo de André Fertig: A Guarda Nacional do Rio Grande do Sul nas guerras do Prata: 1850-1873. Nesse texto, o autor aborda a Guarda Nacional sul-rio-grandense, a qual exerceu um papel estratégico na segunda metade do século XIX, já que era atribuição desses corpos, em regiões de fronteira, o auxílio do Exército regular nos conflitos externos. A eclosão da Guerra do Paraguai levou à formação de vários corpos provisórios que congregavam guardas nacionais e aumentou o ritmo dos destacamentos, com a incorporação de um volume expressivo de guardas nacionais aos Corpos de Voluntários. Terminado o conflito, a partir da década de 1870, teve início a lenta desmobilização e desorganização dessa milícia, passando progressivamente a predominar, também no Rio Grande do Sul, seu caráter honorífico em relação ao militar.
Em A Guarda Nacional sul-rio-grandense e a aplicação da Lei de Terras: expressão de uma política de negociação, Cristiano Luís Chistillino explora a relação entre a expressiva participação da Guarda Nacional sul-rio-grandense nos conflitos platinos da segunda metade do século XIX e a aplicação da Lei de Terras (1850), especialmente nas regiões de fronteira aberta do Planalto e das Missões na Província de São Pedro. Segundo o autor, a singularidade política dessa província que havia ameaçado por dez anos a unidade do Império e o controle da Guarda Nacional permitiram que a elite rio-grandense consolidasse seus laços com o governo central brasileiro; laços esses alicerçados em relações clientelísticas e no controle da terra. Assim, os processos de legitimação de terras teriam sido utilizados como instrumentos de cooptação da elite militar à política da Coroa.
Já Paulo Roberto Staudt Moreira, em Voluntários e negros da Pátria: o recrutamento de escravos e libertos na Guerra do Paraguai, estuda outro segmento da sociedade rio-grandense e sua forma de inserção no conflito: os homens de cor, libertos ou escravos, engajados às forças armadas. A Guerra do Paraguai estabeleceu novos parâmetros à formação das tropas de primeira e segunda linha ao permitir a crescente inserção de homens de cor, escravos ou livres, entre suas forças e ao utilizar novas formas de engajamento, para além do recrutamento forçado: a compra de escravos pelo governo imperial, a indenização de proprietários que cediam seus escravos para a guerra e a aceitação de substitutos. Para os escravos, a “liberdade fardada” [p.182] era esconderijo para os fugitivos, via para obtenção legal da liberdade e estratégia de melhoria de vida. No entanto, aqueles que sobreviveram ao conflito, desmobilizados ou desertores, passaram a enfrentar a repressão imposta pelas autoridades provinciais.
As diferentes visões acerca desse conflito foram abordadas por Mario Maestri em A guerra contra o Paraguai. História e historiografia: da instauração à restauração historiográfica [1871-2002]. O autor parte dos trabalhos que no final do século XIX analisavam a Guerra do Paraguai através da apologia do Estado, das classes dominantes representadas pelos “heróis” nacionais, chegando àqueles que, a partir da década de 1970 introduziram uma versão revisionista a estas interpretações. O revisionismo, chegado tardiamente no Brasil, foi marcado pelas obras de vários autores, com destaque para Julio Chivavenato. No entanto, o real objetivo do texto de Maestri parece ser apresentar sua apurada crítica à obra de Francisco Doratioto, com ênfase no livro “Maldita Guerra: nova história da Guerra do Paraguai” publicado em 2002. Segundo o autor, nessa obra, Doratioto, desconsidera os avanços da historiografia revisionista, promove a “homogeneização das nações em luta” [p.226], atribuindo a responsabilidade exclusiva da guerra à personalidade de Solano Lopez e faz um “elogio apologético” [p.227] de diversas autoridades da Tríplice Aliança. Ou seja, segundo Maestri, “Maldita Guerra” pode ser considerada uma “ampla restauração da velha historiografia nacional-patriótica” [p.228], exemplo da “historiografia restauradora” brasileira.
A questão da identidade dos militares “gaúchos” é retomada por Jacqueline Ahlert em Teatralmente Heróicos: a participação dos gaúchos na Guerra dos Canudos. Estes gaúchos, integrantes das tropas federais participantes da quarta expedição contra Canudos (1897), aparecem entre as fotografias que compõem a coleção de Flávio de Barros. Em fotos posadas que visavam retratar uma determinada visão sobre a guerra, os soldados provenientes do Rio Grande do Sul distinguem-se pela indumentária: bombachas, lenços, chapéus de abas largas e botas. No entanto, outros aspectos, além da indumentária e da “pose altiva” [p.240], marcaram a participação desses homens, como a banalização da degola como forma de dizimar os prisioneiros, prática disseminada no Rio Grane do Sul no decorrer da Revolução Federalista (1893-95). Concluindo, segundo a autora, essas fotografias “ilustram a ideia da guerra como ato cultural” [p.249], retratando homens que se consideravam identificados com a vida militar e com a guerra.
Observa-se assim, que o livro Gente de guerra e fronteira é uma das primeiras coletâneas que traz alguns dos recentes estudos sobre a nova história militar do Rio Grande do Sul. Desde sua publicação em 2010, outros livros e artigos tem trazido ao público pesquisas que exploram antigos temas da historiografia rio-grandense com novas e promissoras abordagens.
Marcia Eckert Miranda – Professora no Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH/UNIFESP – Guarulhos/Brasil). E-mail: mmiranda@unifesp.br
POSSAMAI, Paulo César (Org.). Gente de guerra e fronteira: estudos de história militar do Rio Grande do Sul. Pelotas: Ed. da UFPel, 2010. Resenha de: MIRANDA, Marcia Eckert. Fronteira feita por homens, cavalos e armas. Almanack, Guarulhos, n.4, p.159-163, jul./dez., 2012.
Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción nacional / Eduardo T. Medrano
“Guerra y Democracia” do historiador peruano Eduardo Toche Medrano, foi escrito após a conclusão dos trabalhos da Comissão da Verdade e Reconciliação (CVR) que investigou os crimes cometidos durante os vinte anos de combate às guerrilhas no Peru (1980-2000). A inquietação que moveu sua pesquisa foi compreender como se constituiu a relação entre as Forças Armadas e a sociedade civil peruana, que culminou na morte de milhares de camponeses indígenas que vivam em regiões onde atuavam grupos guerrilheiros.
Assim como o Brasil, o Peru contém uma população heterogênea, e há uma grande distância entre esta população e as instituições governamentais, incluindo as militares, o que, durante períodos de regimes autoritários, foi um dos fatores que influenciou o comportamento dos militares diante da população civil. Esta obra de Toche Medrano nos interessa especialmente por mostrar como foi construída dentro das instituições militares certa leitura da sociedade onde as figuras do “índio” e do “camponês” foram paulatinamente aproximadas a do “subversivo”, “terrorista” e finalmente do “narcoterrorista”.
O livro é dividido em três partes: “os inícios (a formação de critérios institucionais)”, “a sistematização da experiência” e a “ação no vazio (o esgotamento da doutrina militar peruana)”. Em cada uma das partes o autor, através de rica documentação, mostrou como as forças armadas se tornou o setor mais especializado e organizado do Estado e como se relacionou com outros setores da máquina estatal e da sociedade.
Na primeira parte, Toche Medrano valeu-se principalmente da Revista Militar Peruana, para mostrar que logo após o fim da ocupação do território peruano pelos militares chilenos (Guerra do Pacífico 1879-83), havia uma forte desconfiança entre elites civis e militares: culpavam-se mutuamente pela derrota e consequente perda de territórios para o vizinho do sul. Contudo, os dois grupos concordavam em responsabilizar pela derrota a falta de sentimento nacionalista dos indígenas, que eram a maioria da população, e não se engajaram contra os chilenos.
Deste modo, entre o final do século XIX e primeira metade do XX o discurso indigenista foi o grande mote nos meios intelectuais peruanos, fosse para criticar ou apoiar a ação do Estado oligárquico. Como a constituição de 1895 atribuiu às forças armadas o papel de: “defender o Estado das agressões externas, assegurar a integridade das fronteiras, a ordem interna e o cumprimento da Constituição” (TOCHE MEDRANO: 2008:37) os militares eram, nos rincões do país, muitas vezes a única manifestação da existência do Estado em meio a uma população indígena que em muitos casos sequer falava espanhol, o que fez com que se identificassem como a própria presença da “civilização”.
Toche Medrano mostra através da análise dos textos publicados pelos militares um amálgama entre o indigenismo e o positivismo que resultou na forma paternalista e autoritária como os militares, principalmente o exército, concebiam seu papel perante a população: deveriam educá-los, torná-los cidadãos, apesar de seus “vícios” típicos da “raça”. A função civilizatória das forças armadas era exercida através do cumprimento do serviço militar obrigatório, onde os recrutas além de marchar e cantar o hino nacional eram alfabetizados, além de aprenderem noções de trabalhos manuais. A ideia era que o recruta se tornasse um disseminador dos valores aprendidos no quartel entre sua comunidade.
Um dos objetivos do serviço militar obrigatório era promover a integração da população dentro dos valores que os militares acreditavam ser nacionais, porém, segundo o autor, o resultado foi que as condições de implementação acabaram reforçando preconceitos e dificultaram a almejada integração da população na “civilização”. Um exemplo interessante são as qualidades que os militares destacaram nos recrutas indígenas: “sua resistência a fadiga, sua adaptabilidade às condições rigorosas, o desprezo pela morte e sua docilidade ante às ordens” (TOCHE MEDRANO: 2008:68). O autor destacou também o movimento inverso: o governo estabeleceu entre 1943 e 1974 a instrução militar obrigatória nas escolas, demonstrando que uma parcela dirigente sociedade civil entendia que reforçar o nacionalismo era sinônimo de militarismo, pois as forças armadas eram portadoras por excelência do espírito da Nação.
Um segundo personagem importante cuja construção encerra primeira parte da obra é o “subversivo”. O surgimento do “personagem” está intimamente relacionado ao contexto internacional dos anos 1920–1930: o fortalecimento do movimento comunista internacional pós Revolução Russa. Especificamente no Peru, o Partido Comunista tinha pouca expressão, pois a maior parte dos trabalhadores estava na zona rural, portanto fora do apelo discursivo dirigido ao proletariado. O movimento que canalizou as reivindicações e a insatisfação da população com a exploração econômica e a falta de canais de participação política foi o indigenista foi o grande mote nos meios intelectuais peruanos, fosse para criticar ou apoiar a ação do Estado oligárquico. Como a constituição de 1895 atribuiu às forças armadas o papel de: “defender o Estado das agressões externas, assegurar a integridade das fronteiras, a ordem interna e o cumprimento da Constituição” (TOCHE MEDRANO: 2008:37) os militares eram, nos rincões do país, muitas vezes a única manifestação da existência do Estado em meio a uma população indígena que em muitos casos sequer falava espanhol, o que fez com que se identificassem como a própria presença da “civilização”.
Toche Medrano mostra através da análise dos textos publicados pelos militares um amálgama entre o indigenismo e o positivismo que resultou na forma paternalista e autoritária como os militares, principalmente o exército, concebiam seu papel perante a população: deveriam educá-los, torná-los cidadãos, apesar de seus “vícios” típicos da “raça”. A função civilizatória das forças armadas era exercida através do cumprimento do serviço militar obrigatório, onde os recrutas além de marchar e cantar o hino nacional eram alfabetizados, além de aprenderem noções de trabalhos manuais. A ideia era que o recruta se tornasse um disseminador dos valores aprendidos no quartel entre sua comunidade.
Um dos objetivos do serviço militar obrigatório era promover a integração da população dentro dos valores que os militares acreditavam ser nacionais, porém, segundo o autor, o resultado foi que as condições de implementação acabaram reforçando preconceitos e dificultaram a almejada integração da população na “civilização”. Um exemplo interessante são as qualidades que os militares destacaram nos recrutas indígenas: “sua resistência a fadiga, sua adaptabilidade às condições rigorosas, o desprezo pela morte e sua docilidade ante às ordens” (TOCHE MEDRANO: 2008:68). O autor destacou também o movimento inverso: o governo estabeleceu entre 1943 e 1974 a instrução militar obrigatória nas escolas, demonstrando que uma parcela dirigente sociedade civil entendia que reforçar o nacionalismo era sinônimo de militarismo, pois as forças armadas eram portadoras por excelência do espírito da Nação.
Um segundo personagem importante cuja construção encerra primeira parte da obra é o “subversivo”. O surgimento do “personagem” está intimamente relacionado ao contexto internacional dos anos 1920–1930: o fortalecimento do movimento comunista internacional pós Revolução Russa. Especificamente no Peru, o Partido Comunista tinha pouca expressão, pois a maior parte dos trabalhadores estava na zona rural, portanto fora do apelo discursivo dirigido ao proletariado. O movimento que canalizou as reivindicações e a insatisfação da população com a exploração econômica e a falta de canais de participação política foi o época, foi fundada a Escola Superior de Guerra (ESG), não nos moldes franceses, mas estadunidenses, curiosamente, desta instituição saíram quadros que nos anos 1970 se radicalizaram na proposta de que cabia ao Estado planejar a economia e desenvolver o país. O autor mostra que tais institutos foram fundamentais para a elaboração de um planejamento de desenvolvimento nacional, no entanto os critica porque na doutrina que elaboraram não reservaram espaço para a atuação política independente da sociedade civil.
Cabe aqui nos questionarmos se cabia às forças armadas, como defende o autor, delimitar em sua doutrina o espaço para a participação política dos civis, ou se, cabia a esta conquistar seu espaço. O fato dos militares ignorarem esta “concessão de espaço”, e do autor criticá-los por isso evidencia a fragmentação e a exclusão da sociedade civil peruana pela fraqueza da classe média, desprovida de um projeto político para o país, dirigido por uma oligarquia que impedia qualquer tipo de reforma e pelo alijamento da grande população indígena de qualquer participação.
Esta doutrina de segurança pautada pelo desenvolvimento foi experimentada logo no início dos anos 1960 durante o primeiro enfrentamento entre militares e as guerrilhas surgidas no Valle de la Convención, Cusco. Alí, ao exercerem a repressão contra a população se convenceram que o abandono desta pelo governo era a causa da guerrilha. Gradualmente, os militares entraram no jogo político, primeiro apoiando o candidato a presidência em 1963 Fernando Belaúnde, que defendia reformas. Logo, em 1968, em meio a uma forte crise, liderados pelo Gal. .Velasco Alvarado os militares tomaram as rédeas do país: nacionalizaram empresas estrangeiras, fizeram a reforma agrária, criaram estatais e tomaram outras medidas que visavam a industrialização e a criação de um mercado interno no Peru.
O governo reformista do Gal. Velasco foi apoiado por parte daqueles que militaram em movimentos de esquerda pelas suas propostas desenvolvimentistas e por sua política externa independente em plena Guerra Fria. Apesar de ter criado um órgão para canalizar a participação popular SINAMOS (Sistema Nacional de Mobilização Social), não conseguiu lidar com as manifestações de insatisfação, pois, apesar de suas medidas, o governo militar não conteve o aumento do custo de vida e, as importações requeridas pela indústria levou à falta de divisas e a uma grave crise. O projeto de desenvolvimento nacional militar aplicado entre 1968 e 1975 apesar de ter melhorado sensivelmente a distribuição de renda, foi insuficiente tamanho o era o abismo social, além disso não conseguiu integrar agricultura e indústria para o abastecimento interno.
A última parte do livro, “ação no vazio (o esgotamento da doutrina militar peruana)”, aborda desde a volta dos civis ao poder em 1980 até o final do regime fujimorista em 2000. Foi neste período em que, especialmente as regiões de Ayacucho e Junin, sofreram os efeitos perversos da guerra contra as guerrilhas especialmente o Sendero Luminoso. Nesta parte da obra o autor apoiou-se principalmente no relatório da Comissão de Verdade e Reconciliação e na imprensa.
Segundo Toche Medrano, ao mesmo tempo que se esgotaram as possibilidades do desenvolvimentismo militar, as teses neoliberais difundidas a partir do Consenso de Washington foram respaldadas pelas elites, confluíram de forma que a a violência foi a única resposta do Estado para os protestos sociais contra o desmonte do aparato de intervenção estatal e distribuição de renda montado durante o regime militar e contra a guerrilha. Assim guerrilha e oposição ao neoliberalismo foram tratados como se fossem um só fenômeno. Como agravante, um novo ator entrou em cena: os narcotraficantes interessados na tradicional produção cocaleira andina.
Toche Medrano mostra que os militares somente pacificaram o país quando separaram guerrilha, população camponesa e narcotraficantes: para combater os primeiros tiveram que superar a desconfiança dos segundos, e incorporar camponeses como recrutas em suas regiões de origem, organizá-los e armá-los, originando os comitês de autodefesa. Por esta atitude independente foram acusados pelos estadunidenses de apoiar as guerrilhas. Quanto ao narcotráfico, um dos motivos da queda do regime fujimorista foram denúncias de corrupção contra altas esferas militares que recebiam dinheiro para facilitar suas ações, comprovadas pela existência de bases militares próximas a pistas clandestinas de narcotraficantes.
O autor referiu-se à ausência de punição a muitos crimes denunciados pela Comissão da Verdade e Reconciliação, como os massacres de camponeses, e atos de corrupção, especialmente o envolvimento entre militares e narcotraficantes; tal impunidade foi explicada devido ao corporativismo das Forças Armadas. Toche Medrano conclui apontando a necessidade urgente na promoção de mudanças na relação de todo aparato estatal, com a população civil, porque muitos dos problemas sociais que levaram à explosão de violência continuam insolúveis como o acesso à justiça e a cidadania.
A pesquisa de Eduardo Toche Medrano contribui para elucidar uma relação complexa entre umas das instituições que fundam o conceito de Estado e seus habitantes, que no caso dos rincões do Peru e das barriadas (favelas) da capital, estão muitas desprovidos de qualquer garantia de cidadania. A Comissão da Verdade e Reconciliação que em nosso vizinho do noroeste investigou os crimes cometidos por agentes do Estado e por guerrilheiros contra a população civil, não resultou em punição para os primeiros, unicamente para segundos, apesar do parecer responsabilizar o Estado pelo clima de violência, deve-se salientar que, a apuração dos fatos consiste num primeiro passo, nada desprezível, rumo ao fortalecimento de instituições democráticas. Aqui no Brasil, o historiador José Murilo de Carvalho lançou em 2005 a coletânea de artigos que tocam, de alguma forma, as relações entre militares e civis, Forças Armadas e política no Brasil (Jorge Zahar, 2005) contudo ainda não são muitos aqueles que se aventuram pela história militar numa abordagem cronológica relativamente ampla (aproximadamente dois séculos) e levantando questões tão importantes.
Referências
CARVALHO, José Murilo de. Forças Armadas e Política no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.
Êça Pereira da Silva –Doutoranda do Programa de História Social, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Minha pesquisa consiste numa comparação entre as doutrinas militares brasileira e peruana nos anos 1950 e conta com o apoio CNPq. E-mail: ecapereira@usp.br.
TOCHE MEDRANO, Eduardo. Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción nacional. Lima: DESCO/ CLACSO, 2008. Resenha de: SILVA, Êça Pereira da. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.20, p.177-182, jan./jul., 2012. Acessar publicação original. [IF].
Guerras e Escritas: a correspondência de Simón Bolívar (1799-1830) – FREDRIGO (H-Unesp)
FREDRIGO, Fabiana de Souza. Guerras e Escritas: a correspondência de Simón Bolívar (1799-1830). São Paulo: Ed. UNESP, 2010, 290 p. Resenha de: DULCI, Tereza Maria Spyer. História [Unesp] v.31 no.1 Franca Jan./June 2012.
Simón Bolívar tem lugar cativo na memória política e social da América Latina, inclusive como mito inspirador de diferentes bandeiras político-ideológicas. Por sua vez, as versões históricas em torno das independências hispano-americanas foram construídas a partir dos próprios escritos do “Libertador”, que criou uma identidade de “herói sem fronteiras”.
Em seu livro Guerras e Escritas: a correspondência de Simón Bolívar (1799-1830), publicado pela Editora Unesp, a historiadora Fabiana de Souza Fredrigo, professora do Departamento de História da Universidade Federal de Goiás, investiga o culto a esse mito. Seu trabalho, que mescla história, memória, literatura e biografia, deu-se a partir da análise das cartas de Bolívar (2.815), buscando identificar os vínculos construídos entre a memória individual, a memória coletiva e a historiografia em torno das independências e de Simón Bolívar.
Sua análise é bastante original, já que utiliza as missivas para buscar a subjetividade de Bolívar e dos diferentes atores históricos que aparecem nas cartas. A historiadora procura apresentar o mundo do general a partir do contexto depreendido das correspondências, sem seguir a cronologia tradicional, pois seu objetivo central é investigar os temas mais relevantes do epistolário, debruçando-se sobre o que se tornou importante para Bolívar no contexto em que vivia.
O que lhe interessa não é compreender por que Bolívar foi escolhido ícone das independências latino-americanas, mas, sim, como ele produziu esta escolha ao criar seu próprio mito. Para a autora, “Simón Bolívar torna-se o Libertador, primeiro, por suas ações e suas palavras, tão valiosas como a espada; segundo, pelo efeito inebriante que o ideal de liberdade produz em meio à memória coletiva” (p. 64).
O livro é composto por três capítulos, ao longo dos quais a historiadora desenvolve a tese de que, ao escrever cartas, o general procurava construir um projeto de memória de si e dos outros (do indivíduo e do seu grupo/do remetente e do destinatário). Bolívar acreditava que suas memórias atingiriam e mobilizariam as gerações futuras, “tinha projetos urgentes em um presente concreto, mas sempre apontava para o futuro, guardião da sua imagem” (p. 47-48).
Para o missivista e seus contemporâneos, a consagração da memória era percebida como sinônimo de posteridade. A autora, ao fazer uma releitura do epistolário, afirma que o culto ao general teve o próprio Bolívar como seu principal arquiteto, já que seu projeto de memória foi construído a partir de uma cuidadosa escolha dos temas, de como escrever sobre eles e da constância das suas cartas. Segundo Fredrigo, em suas correspondências “Bolívar atuou como historiador, quando selecionou, registrou e arquivou os ‘fatos'” (p. 271).
No primeiro capítulo, “As cartas, a história e a memória”, a historiadora desenvolve suas reflexões a partir do cotejo das biografias de Bolívar com as missivas, buscando reconstruir as dimensões históricas do personagem. Ao identificar duas principais fases na vida do general – a das guerras de independência contra a Espanha, permeada de otimismo, e a das guerras civis entre as lideranças que tinham diferentes projetos para a América (o unitarismo de Bolívar versus o federalismo de Santander), carregada de ressentimento e pessimismo – a autora nos propicia um interessante panorama do autoexame feito pelo general em suas cartas, escritas com o objetivo de convencer o interlocutor e edificar o personagem.
Também nesse capítulo, a historiadora se preocupa em discorrer sobre as correspondências (que detêm status de fonte privilegiada) e discutir as relações entre história, memória e epistolário. Ao abordar as particularidades da fonte e analisar como estas foram apropriadas pela historiografia, Fredrigo analisa, com uma grande riqueza de detalhes, não apenas o contexto e a criação do mito, mas também seu estilo de escrita, as especificidades do discurso e a construção narrativa.
A autora traça igualmente um interessante panorama das apropriações do mito bolivariano na Venezuela, onde foi e continua sendo usado para representar a coesão nacional, seja pela elite do século XIX, seja durante a ditadura de Juan Vicente Gomes (1908-1935), ou a partir da revolução chavista e da República Bolivariana. Fredrigo leva o leitor a perceber que a historiografia bolivariana é repleta de anacronismos e que as palavras de Bolívar foram interpretadas por grande parte da historiografia como verdade histórica absoluta, sem crítica às fontes. Além disso, as biografias do general usam os mesmos marcos cronológicos e são geralmente estudos apologéticos. Para a historiadora, tanto as biografias quanto a historiografia, construídas desde sua morte, estabeleceram uma correlação entre a vida de Bolívar e o destino da própria América, como se Bolívar e América Latina formassem “uma só alma” (p. 68).
O segundo capítulo, “Guerra, honra e glória: atos e valores do mundo de Simón Bolívar”, trata da constituição de uma memória particular dentro da memória coletiva, pois as cartas interpretavam o passado e tinham um projeto de futuro. Para a autora, Bolívar, consciente de que produzia memória, buscava atingir seus contemporâneos e as gerações futuras. Por sua análise, vemos que o general e seus pares, a elite criolla, formavam uma “comunidade afetiva” e tinham valores comuns, baseados na “guerra, honra e glória”, valores que eram expressos e cultivados nas cartas, enquanto o povo era excluído dessa comunidade, mesmo que isso contrariasse a simbologia republicana.
Ao tratar dos diferentes atores históricos que aparecem nas missivas, a historiadora apresenta uma valiosa contribuição ao campo das identidades nacionais, demonstrando que estas tiveram de ser construídas no pós-independência para criar uma mesma comunidade de afiliação, “unindo os descendentes dos conquistadores aos descendentes dos conquistados” (p. 122), a partir de uma identidade focada em um projeto estatal republicano, federalista e oligárquico.
Para Fredrigo, Bolívar acreditava que era necessário construir uma narrativa que reforçasse o vínculo entre os criollos e os cidadãos comuns, baseada na humanidade das tropas e nas dificuldades dos campos de batalha. “A guerra, a honra, e a glória”, valores que teriam criado a coesão intraelite, não tiveram o mesmo efeito no povo, por isso Bolívar teria construído lugares de memória simultâneos, para os generais criollos e para os soldados, ao estabelecer uma imagem de si mesmo que reunia, ao mesmo tempo, as figuras de líder e de soldado.
Já o terceiro capítulo, “Construindo a memória da indispensabilidade: o discurso em torno da renúncia e do ressentimento”, se detém na análise da principal estratégia utilizada por Bolívar nas missivas para edificar seu mito, qual seja, a criação de uma “memória da indispensabilidade”. Essa memória foi articulada a partir de um discurso polifônico, fundamentado na evocação da “renúncia” e do “ressentimento”, elaborado pelo general para refutar as acusações de autoritarismo e apego ao poder e para fortalecer a ideia de homem público dedicado incondicionalmente ao povo e à pátria. Para a autora: “É a partir da fusão entre a necessidade de legitimidade, determinada pelo jogo político do presente, e o desejo de memória, delimitado pela perspectiva do futuro, que o missivista constrói e solidifica a memória da indispensabilidade” (p. 190).
Esse capítulo é, certamente, o ponto alto do livro. Nele, ao analisar o epistolário em diálogo com a literatura e a biografia, a historiadora trata do romance de Gabriel García Márquez (GARCÍA MARQUEZ, 1989) e da biografia de Salvador Madriaga (MADRIAGA, 1953). Em ambos os casos, Fredrigo estuda o culto bolivariano e a apropriação que os dois autores fizeram da “memória da indispensabilidade” forjada por Bolívar. A ficção literária e a biografia, embora de formas distintas, acabaram por reiterar a imagem que o general criou de si mesmo para a posteridade.
Assim, a leitura deste livro constitui, sem dúvida, uma rara oportunidade de acompanhar a historiografia bolivariana e a construção deste mito, o cotidiano das tropas e das guerras de independência na América do Sul, bem como os embates entre a elite criolla e o povo.
Referências
GARCÍA MARQUEZ, Gabriel. O general em seu labirinto. Rio de Janeiro: Record, 1989. [ Links ]
MADRIAGA, Salvador. Bolívar: fracaso y esperanza. México: Editorial Hermes, 1953. Tomos I e II. [ Links ]
Tereza Maria Spyer Dulci – Doutoranda pelo Departamento de História da FFLCH/USP – Av. Prof. Lineu Preste, 338 – Bairro: Cidade Universitária. São Paulo – SP. CEP: 05508-000. E-mail: terezaspyer@hotmail.com.
Times of Terror: Discourse/ Temporality and the War on Terror | Lee Jarvis
Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 foram alvo de intenso debate ao longo dos últimos anos. Diversos foram os analistas que, por meio dos mais distintos vieses teóricos e metodológicos, procuraram avaliar o que aconteceu, o que mudou e o que se manteve inalterado no sistema internacional. Todavia, retomando a profícua distinção proposta por Lynn-Doty (1993) entre perguntas do tipo por que (why-questions) – interessadas em investigar porque determinadas ações e/ou decisões foram tomadas – e perguntas do tipo como (how-questions), cuja meta é entender como sentidos são produzidos e dados aos mais diversos sujeitos sociais, podemos argumentar com certa segurança que este ultimo tipo de pesquisa associado à Guerra ao Terror se desenvolveu apenas mais recentemente na área de Relações Internacionais. O livro ora resenhado é uma valiosa tentativa nessa segunda linha. Leia Mais
Howto Run the World: Charting a Course to the next Renaissance | Parag Khanna
In his new book, Parag Khanna, Director of the Global Governance Initiative at the New America Foundation and author of “The Second World”, seeks to answer how we can deal with global challenges in a more effective way in the years to come. In merely 214 pages, Khanna covers a vast array of challenges – from climate change, nuclear proliferation, poverty, human rights to the Middle East Conflict to the disputes in Kashmir, Iran and Afghanistan. As a natural consequence, some of his analyses seem a bit rushed (for example, his thoughts on nuclear proliferation are limited to just a few pages). Yet Khanna’s aim is not to engage in profound historical analysis; rather, the book can be understood as a smart brainstorming session on how to tackle the world’s most urgent problems. Academics will frown at his approach as Khanna’s assertions are not based on empirical research, yet he is certainly courageous for approaching big issues in a sweeping way.
Similar to Khanna’s previous book, How to Run the World is well-written, and a lot of his ideas are interesting and seem worth further consideration. For example, Khanna argues that aside from combating Somali pirates, more needs to be done to reduce illegal fishing in the region, which has led to the problem in the first place. In addition, instead of imposing futile sanctions against Iran, he advocated “flooding” the country with “contacts through commerce, media, and diplomatic channels that would force greater transparency on all its activities.” The author is also right to point out that private sector actors will undoubtedly play a key role in global governance, although his prediction that large corporations will soon issue their own passports for employees, with pre-negiotiated visa-free access to countries, seems exaggerated. Leia Mais
Nzinga Mbandi: mulher, guerra e escravidão | Selma Pantoja
Escrito pela historiadora Selma Pantoja, o livro Nzinga Mbandi: mulher, guerra e escravidão, aborda alguns elementos da história de Angola durante o século XVII. Com o prefácio de Alberto Costa e Silva, a obra mostra o mito da rainha Nzinga que ascendeu ao poder rompendo as normas estabelecidas pelas linhagens tradicionais, que não admitiam uma mulher no poder. Além de também, dentre outras questões, Selma Pantoja traz as especificidades da escravidão dentro do continente africano.
As peculiaridades da história da África Negra trouxeram desafios para a historiografia. Sobre as fontes escritas percebe-se uma visão estereotipada dos africanos e suas sociedades, são relatos feitos por viajantes europeus carregados de superioridade. Com uma população ágrafa temos a tradição dos testemunhos orais que necessitam de uma técnica especial.
A obra traz um extenso relato sobre as características do povo Mbundu, bem como as especificidades da escravidão africana que tanto difere da praticada nas Américas. Deixa claro que ela é muito mais antiga do que se pensa, que era imanente naquele continente, mas de nenhuma forma benévola. E permeando toda a obra está a presença de Nzinha Mbandi que bravamente lutou contra o domínio português no Ndongo.
Sobre a escravidão africana vale ressaltar algumas características relativas à ela como o sistema de parentesco, os direitos pessoais, o escravo como propriedade, e este como sendo um dos tipos de dependência.
A autora também destaca a importância da mulher na sociedade africana, onde ela é o principal trabalhador agrícola e está diretamente ligada a produção e reprodução.
Selma Pantoja diz não ser adequado identificar a escravidão a partir do atributo propriedade, pois justifica que seus direitos são negociáveis, que tanto pessoas livres como escravos poderiam se negociados como propriedade.
Nota-se como característica marcante dos escravos africanos a ausência de parentesco, a não-integração com a linhagem ou etnia local. Para tanto era necessário que este indivíduo fosse retirado de local de origem, enfatizando sua procedência estrangeira. A guerra, o seqüestro, as razias eram as formas mais comuns de escravização e ao contrário que se imagina, aqui, o escravo não trabalhava somente em atividades produtivas, poderia este desempenhar cargos políticos e sociais.
E como o escravo está presente na estrutura econômica de uma sociedade africana? A autora mostra que, quando esta mesma sociedade depende do escravo, temos uma sociedade escravista. Porém a simples presença da escravidão e do escravo não necessariamente a define desta maneira.
Selma Pantoja dedica um capítulo de seu livro mostrando a organização e características da sociedade na África Central Ocidental. Primeiramente os povos de língua bantu onde há apenas uma breve amostra de características dessa sociedade, tais como prática da agricultura e da metalurgia, que possuíam um regime de descendência matrilinear, patrilinear e até de descendência dupla.
Após a autora enfatiza os povos coletores, existentes na África Central Ocidental, chamado de bosquímanos. Estes foram grupos nômades e tiveram sua população absorvida pelos povos de língua bantu, que resultou em um violento impacto no modo de vida dos povos caçadores.
Importante ressaltar que com a relevância da introdução do ferro na agricultura, facilitando na abertura de clareiras, que foi ideal para o cultivo de banana, tão importante na dieta bantu, fez com que o ferreiro tivesse muito prestigio dentro da sociedade, tornando-se o mais importante artesão da aldeia. Uma unidade política organizada em confederação de linhagem é mostrada como exemplo dentro da complexidade do sistema político da região, os Mbundu.
Uma característica marcante desta população eram os laços de parentesco além de muitos dependentes. Como no caso da mulher, que vivendo em uma sociedade polígama, tinha seu trabalho apropriado pelo homem.
A região do litoral da África Central criou estados que se apoiavam na autonomia de linhagem. Eles baseavam-se em uma relação social ou de parentesco consanguíneo, neste ultimo podendo ser matrilinear ou patrilinear. No caso dos Mbundu são predominantemente matrilineares, porém patriarcal, ou seja, segue-se a linhagem materna, mas sempre representado pelo homem.
Há um trecho onde podemos tornar a imagem de Angola mais real, com os aspectos geográficos da região. No que diz respeito às demarcações do domínio dos povos, estas eram feitas pelos rios e mares. O mar litorâneo era de domínio dos reis africanos, já o alto mar pertence aos europeus. O clima angolano é descrito como sendo intertropical, com o índice pluviométrico aumentando quando se afasta do litoral, já ao sul o clima é árido devido ao deserto.
Agora a autora adentra na história do Congo e do estado do Ndongo, onde viviam os Mbundu.
O Congo era divido entre cidades e a população das aldeias, sendo os títulos pertencentes aos habitantes das cidades. Quanto à religião houve um processo de cristianização que se operou somente à elite congolesa.
O governo central era mantido pela cobrança de impostos, estes eram pagos com tecidos, marfim ou cativos.
Uma expedição vinda de Portugal vinda de Portugal, em 1482, estabeleceu contato com o Congo, com interesses comerciais, os lusos introduziram na costa africana o comércio de manufaturas. No início esta relação luso-bakongo era amistosa, até a cristianização ter sido posta de lado pelo interesse no comércio de escravos.
O escravo era utilizado como pagamento no estudo dos africanos em Portugal. Sua venda rendia também impostos para o Manikongo, chefe do Congo. Em 1512 este comércio tornou-se monopólio real.
Durante o século XVII o Congo foi invadido pelo grupo dos yagas, que foi na verdade um golpe para os chefes locais, os Manikongos e comerciantes portugueses, estes guerreiros lutaram ao lado dos Mbundu. Foi então que resultou na hegemonia do Ndongo na região.
Os Mbundu era inicialmente organizado em forma de aldeia constituído por grupos de filiação. Os membros destes grupos tinham o controle das terras para o seu cultivo.
Sobre o soberano, era chamado de Ngola, este passava por um ritual relacionado à posse de objetos considerados sagrados.
Toda a população, aparentemente, estava submetido ao Ngola, mas havia diferença na forma de submissão, dentre as mais comuns formas de dependência estavam os prisioneiros de guerra, escravos por dívidas ou por punição de algum crime, estes não estavam inseridos em nenhum sistema de parentesco. Eram os cativos e as mulheres que se dedicavam à produção agrícola.
E é neste contexto que surge a figura de Nzinga Mbandi, e foi durante seu governo que o Ndongo sofreu sua fase mais tensa, a luta contra os lusos no comércio de escravos e o ataque dos Mbangalas. Nzinga destaca-se por conseguir equilibrar-se neste período de crise no governo.
Nota-se que o mito da rainha Nzinga também serve para autora enfatizar por várias vezes a importância da mulher na sociedade africana, tanto no poder como o principal produtor agrícola.
Voltando ao assunto do contato Portugal-África, foi em 1540 que os lusos tiveram contato com os soberanos Mbundu, e foram estes que buscaram contato com os europeus. O Ngola pediu aos portugueses que enviassem ao Ndongo padres e comerciantes. Mas quando o capitão Novais, enviado pelo reino português, chegou a região e o novo Ngola não quis recebê-lo e após alguns meses de espera o capitão avançou para o interior. O Ngola não apenas se recusou a ser convertido ao cristianismo, como prendeu Novais juntamente com o padre Gouveia.
Para incrementar o comércio de escravos os portugueses combateram contra os Mbundu ao longo do século XVII, e esta tarefa foi difícil pois os portugueses encontraram a resistência de Nzinga Mbandi.
Os portugueses usavam diversos pretextos para iniciar uma campanha militar com intuito de capturar mais escravos. Mas sem o apoio dos africanos os portugueses não poderiam ter acesso às rotas de comércio. A resistência de Nzinga vai dificultar todo comércio de escravos por todo século XVII.
Com a morte de Ngola Mbandi em 1617, houve uma disputa pelo poder entre Kia Mbandi e Nzinga. Ela fugiu para Matamba, onde não poderia mais reivindicar o título, já que para as linhagens tradicionais não aceitavam uma mulher no poder.
Seu irmão teve um governo marcado por inúmeras guerras, devastando o Ndongo. O governador empreendeu uma campanha militar contra o Ndongo e acabou que com sua capital destruída.
Para que a paz fosse restabelecida precisou de alguém com habilidade de negociação, Nzinga, uma mulher com capacidades não só diplomáticas como de guerra como demonstrou dentro de seus quilombos.
O Ngola Mbandi entra em contato com sua irmã Nzinga, que desempenha as negociações entre Ndongo e Portugal na negociação de paz entre os dois estados. Durante a década de 20 os portugueses conseguiram estabelecer aliança no Ndongo. O Ngola Mbandi falece e Nzinga detentora das insígnias reais apodera-se do poder.
Os dois últimos capítulos são onde Nzinga Mbandi está mais presente na obra de Selma Pantoja.
Nzinga adotou os costumes dos Mbangalas, e não aceitou a proposta dos portugueses para que o Ndongo tornassem seus tributários. Ela pediu em carta à Portugal, que enviassem padres ao Ndongo e em troca devolveria os escravos que haviam fugido dos portugueses e refugiaram-se no quilombo.
Porém os portugueses expulsaram Nzinga e colocaram um chefe submisso aos interesses lusos, Aire Kiluanji, que abriu as rotas comerciais do Ndongo. Os chefes Mbundu não reconheciam o Ngola, por ele não pertencer à linhagem. O que permeava esta resistência era o sentimento anti-português da região.
Após um assalto à ilha de Kwanza empreendido pelo governador, Nzinga foge para Matamba e ela passa a adotar os costumes e as formas militares dos Mbangalas.
O confronto militar do Ndongo com os portugueses resultou na demolição das bases do estado, além da propagação da varíola que despovoou aldeias inteiras.
É sempre recorrente falar em escravos que eram acolhidos pela Nzinga e este fato servia de argumentação para justificar a guerra contra a rainha Mbundu. Nzinga era soberana no Matamba, rompeu com as regras estabelecidas, sendo uma mulher no poder usando de força militar para consegui-lo.
Em 1641, Nzinga apóia a ocupação de Luanda pelos holandeses, o qual deseja seu apoio político. Nzinga usou a presença dos holandeses para expulsar de vez os portugueses e reaver o Ndongo. Os portugueses foram reduzidos à posição de intermediários ao comércio de escravos. Em 1648 os holandeses unidos a Nzinga avançaram contra os portugueses.
Os maiores rivais dos portugueses passaram a ser Matamba e o Congo. Foi durante o governo de Vidal de Negreiros que ocorreu o golpe fatal ao Congo deixando-o enfraquecido, mas este continuaria existindo até o século XIX.
Sobre Matamba, foi assinado um acordo de paz com os portugueses, para tal os lusos teriam que libertar a irmã de Nzinga e ela comprometia-se em entregar alguns escravos. A rainha Nzinga se e converteu ao cristianismo e aceitou a presença dos missionários na região. Neste momento era impossível lutar mais contra os portugueses, pois não havia possibilidade de reorganizar um exercito no Ndongo, já despovoado.
Foi durante o século XIX que a África tornou-se mais vulnerável as invasões européias, pois antes a malária era uma espécie de barreira natural, e neste século foi descoberto o quinino, que ajudou os portugueses a driblar esta barreira.
Nzinga faleceu em 1663, ela foi temida por não só ter sobrevivido a varíola como por ter adotado os ritos Mbangalas.
As conseqüências da disputa pelo comércio de escravos foram grandes, como a redução da população local, o aumento do numero de cativos, a redução da população local e a escravização de pessoas livres.
O Ndongo foi o principal fornecedor de escravos para Luanda, em um momento em que tive uma relação estreita com o comercio atlântica durante o século XVII.
Segundo Cavazzi, na região do Ndongo existiam três tipos de escravos: os quísicos, que eram filhos de outros escravos; os prisioneiros de guerra, que poderiam ser usados em sacrifício; e os escravos de fogo, que viviam em perpetuo serviço até a morte de seu proprietário.
Aos escravos eram negados direitos e privilégios, diferenciados dos demais membros da sociedade devido à ausência de parentesco. Tanto os escravos como as mulheres estavam subordinados aos mais velhos da linhagem.
Foi por meio do apoio destes escravos que Nzinga Mbandi conseguiu subir ao poder no Ndongo e tornar-se um mito não só no continente africano, mas para todos os afrodescendentes.
Nota
Resenha apresentada à Disciplina de História da África, ministrada pela Professora Dra. Fabiane Popinigis na Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC.
Mariana Ouriques – Graduanda do curso de História – UFSC.
PANTOJA, Selma. Nzinga Mbandi: mulher, guerra e escravidão. Brasília: Editora Thesaurus, 2000. Resenha de: OURIQUES, Mariana. O universo negro-africano e suas peculiaridades: a escravidão, o tráfico e o mito da Rainha Nzinga. Cadernos de Clio. Curitiba, v.1, p.116-120, 2010. Acessar publicação original [DR]
As guerras dos índios Kaingang. A História épica dos índios Kaingang no Paraná (1769-1924) – MOTA (RHR)
MOTA, Lúcio Tadeu. As guerras dos índios Kaingang. A História épica dos índios Kaingang no Paraná (1769-1924). 2ed revisada e ampliada. Maringá: EDUEM, 2009. 301 p. Resenha de: NOELLI, Francisco Silva. Revista de História Regional, v.15, n.2, p.280-282, 2010.
A segunda edição revisada e ampliada deste livro é muito bem-vinda. Sua trajetória começou em 1992, quando foi apresentado e defendido como dissertação de mestrado. Em 1994, foi modificado e preparado para edição, sendo um dos primeiros títulos publicados pela EDUEM, Editora da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Após dezesseis anos, é possível dizer que se tornou uma obra de referência de história indígena no Brasil, sobretudo dos Kaingang e da Região Sul do país. Foi o ponto de partida para um amplo projeto de história regional, tendo o Paraná como espaço principal e uma série de temas desenvolvidos posteriormente por Lúcio Tadeu Mota, como a tese de doutorado O aço, a cruz e a terra: índios e brancos no Paraná provincial (1853-1889), defendida em 1998; e os livros: As colônias indígenas no Paraná Provincial (2000) e Os Kaingang do vale do rio Ivaí-PR: História e relações interculturais (2008), co-autoria com Éder Novak; e vários livros e artigos sobre a história dos Kaingang e outros povos indígenas, sem contar as publicações dos seus alunos e parceiros de pesquisa.
Foram duas prolíficas décadas e um exemplo bem sucedido de interiorização da pesquisa, com a participação de Mota na criação do Programa Interdisciplinar de Estudos de Populações da Universidade Estadual de Maringá, em 1997.
Além de analisar um período de 163 anos, As guerras dos índios Kaingang estabelece as linhas gerais para uma história dos Kaingang, sobre suas relações interculturais e alguns dos seus principais líderes. Também mostra possibilidades na ampliação de temas mais comuns da historiografia paranaense, sobretudo na atualização teórica e metodológica de caráter multidisciplinar. Um aspecto decisivo da abordagem desenvolvida é a crítica à historiografia hegemônica produzida no Paraná até o início dos anos 1990, que defendia teses anacrônicas sobre um “vazio demográfico” anterior à presença européia. Sua crítica foi construída a partir de uma farta documentação obtida em fontes publicadas e inéditas, desmistificando uma construção “arquitetada e divulgada” pelos intelectuais paranaenses.
O principal mérito do livro está no levantamento de dados e na sua articulação, a partir de uma perspectiva póscolonial, dedicada a transformar os Kaingang em sujeitos capazes de defender sua autodeterminação nos diversos embates e contatos com os “brancos”. Mota conseguiu alterar um padrão historiográfico que se pautou por omitir, sabotar e diminuir o papel das sociedades indígenas na formação das sociedades paranaenses desde o período colonial até as primeiras décadas da República.
A parte 1 analisa as principais idéias de historiadores, geógrafos e sociólogos, debatendo as noções de vazio demográfico, terra de ninguém e terras devolutas. O autor analisa o impacto dessas perspectivas nos livros didáticos e na obras que cantaram a apologia à colonização regional, a partir do século 19.
A parte 2 trata das populações indígenas no Paraná, descrevendo suas principais características e delimitando seus territórios. Constitui uma das descrições mais completas dos territórios Kaingang, sendo aperfeiçoada e ampliada nas pesquisas posteriores do autor. Resume os principais elementos das várias estratégias Estatais estabelecidas para o tratamento político e fundiário dos Kaingang, que foram da guerra à diplomacia, mas ao fi m e ao cabo, acabaram por submeter os direitos e a autodeterminação indígena aos interesses dos agentes do Estado, ao confinamento em verdadeiros campos de concentração e ao descaso com os direitos mais básicos da cidadania. Além disso, foram acrescentados mais dados de arqueologia, ampliando e atualizando o texto em relação à primeira edição.
A parte 3 apresenta detalhes sobre os Kaingang, centrando- se em aspectos mais tradicionais da etnografia, sobretudo dos equipamentos e táticas usados para resistir aos enfrentamentos bélicos com as forças coloniais. Mostra as principais guerras e a resistência às tentativas de desterritorialização e confinamento, tentadas pelos diversos representantes do poder público desde 1769 até o período republicano.
Também apresenta as estratégias não militares de resistência e uma lista de caciques, descrevendo suas ações em relação aos “brancos”.
É um livro importante que merece ser lido e debatido, pois apresenta vários temas que devem ser mais pesquisados e desenvolvidos sobre a formação da sociedade e do território do Paraná. É possível declarar que, em termos de ruptura com as perspectivas coloniais da historiografia paranaense, este trabalho é um divisor de águas e a abertura para o caminho da história indígena. Há vinte anos Lúcio Tadeu Mota trouxe uma novidade científica e política. Novidade, por que refletia o papel efetivo dos Kaingang na história paranaense, com uma abordagem ainda hoje pouco usual no estado. Política, por que considerou os Kaingang como sujeitos reais do passado e do presente do Paraná, dignos de serem vistos e tratados como cidadãos.
Francisco Silva Noelli – Arqueólogo e Historiador. Prof. aposentado do Departamento de Fundamentos da Educação. Pesquisador do Programa Interdisciplinar de Estudos de Populações, Universidade Estadual de Maringá.
Norse warfare: unconventional battle strategies of the ancient viking | Martina Sprague
Os escandinavos são alguns dos mais famosos guerreiros do medievo. Suas ações de pirataria e feitos militares são popularizadas pelo imaginário e cultura de massa até nossos dias, ao mesmo tempo em que constituem temáticas de investigações pelos acadêmicos contemporâneos, sempre buscando compreender o impacto nórdico no continente europeu: “Os vikings estavam entre os povos mais belicosos e resistentes que jamais assaltaram a civilização” (Keegan 2006: 372).[1] A maior parte dos pesquisadores vêm buscando explicações para o sucesso das empreitadas nórdicas, geralmente dentro de dois referenciais, um interno – que procura as motivações dentro dos próprios valores sociais e culturais da Escandinávia, e outro externo, relacionado principalmente com os fatores econômicos, políticos e sociais da Europa cristã.[2]
Em sua recente obra, Norse warfare, a historiadora Martina Sprague [3] estrutura a maior parte de suas problemáticas de investigação dentro do referencial internalista. Deste modo, o livro pode ser dividido em três partes distintas: a que engloba os capítulos 1 ao 4, referente às características gerais da sociedade escandinava e do estilo de vida dos vikings; uma segunda abrangendo a tecnologia náutica, equipamentos militares e técnicas de batalha (capítulos 5 a 7) e a terceira, exemplificando o tema com guerreiros famosos (capítulos 8 a 15).
O primeiro capítulo (Raids on the Christian world) trata do impacto causado pelas incursões de pirataria e pilhagem dos nórdicos pela Europa nos séculos VIII e IX d.C. A autora reconstrói as incursões por meio de diversas fontes não escandinavas (como os Anais de São Bertin, As crônicas anglo-saxãs, cartas de Alcuino, a Gesta Normannorum, entre outras), mas procurando sempre contrastá-las com fontes escandinavas (especialmente as sagas), buscando assim uma reflexão histórica que consiga atingir as motivações sociais e culturais destas atividades – não ficando apenas nos estereótipos e imagens degradantes fornecidos pelos povos atingidos. Inclusive, a imagem dos raids vikings como desorganizados – muito comum nas fontes nãoescandinavas – é contestada pela autora: os ataques surpresas realizados por pequenos grupos criavam uma idéia de caos a povos acostumados com a presença de exércitos regulares, seja para manutenção da ordem quanto em ações militares. O modus operandi típicos destes grupos atacantes (entrar, assaltar, enriquecer e sair) é competentemente comparado por Sprague aos soldados de forças especiais dos tempos contemporâneos, onde o ataque de pequenas unidades com objetivos específicos e bem determinados, o uso de táticas, maneabilidade, flexibilidade, rapidez, surpresa e boa comunicação fazia toda a diferença: deixou boa parte das forças militares européias sem ação, alterou o panorama político e intranquilizou boa parte das populações européias da Alta Idade Média.
Os capítulos 2 (Live hard, Die with honor) e 3 (Going a-Viking) aprofundam o entendimento do papel do guerreiro na cultura nórdica, especialmente como os ideais de força, lealdade e coragem encontravam respaldo na religiosidade, na política e nas leis. A experiência de “sair como um viking”[4] não somente concedia oportunidade aos jovens para obterem uma melhor formação e experiência militar, mas também um melhor status na sociedade. No caso dos adultos, tanto o enriquecimento quanto as motivações religiosas eram impulsionadoras destas participações. A figura do líder demonstra essa ideologia: o guerreiro mais forte, de maior coragem e com mais sucesso nas batalhas era o indicado ao papel de comando, sempre coadunado com os modelos heróicos da tradição oral e religiosa.
A autora também concede um pequeno vislumbre na questão dos mais polêmicos guerreiros da Escandinávia Viking, os berserkers (no nórdico antigo – plural: berserkir; sing.: berserkr). Estes constituíam um grupo militar de elite, associado diretamente às crenças odínicas (da qual seriam inspirados no momento de fúria alucinada) e utilizados em operações terrestres no front da formação (para um primeiro ataque e choque) e em batalhas náuticas para proteger o navio real.[5] A autora preocupa-se em tentar explicar o estado alterado de consciência destes guerreiros pela teoria mais tradicional, surgida durante a década de 1950, a de que estes utilizariam bebidas e substâncias alucinógenas (como o fly acaris e a Amanita muscaria), mas não elenca os experimentos mais recentes que a questionam totalmente, comprovando a limitação da capacidade de batalha pelos efeitos colaterais provocados no guerreiro. A historiadora conclui o tema, afirmando que os berserkers eram muito admirados e temidos, mas o seu emprego militar foi limitado no período viking, devido à exigência de lealdade e confiança para os padrões sociais verificados no período, algo questionável, visto que a representação destes personagens nas sagas é variável e algumas vezes pode ter sido influenciada pelo referencial do período cristão em sua elaboração textual. De qualquer maneira, algumas fontes (como a Egil saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana 8) apresentam os berserkers como soldados de extrema confiança do rei, realizando operações especiais a seu mando. A relação entre a percepção social e o registro histórico-literário é algo ainda passível de várias abordagens para o futuro (as formas de representação literária dos berserkers não dependeriam originalmente de sua percepção para os camponeses da Escandinávia viking, que os temiam, e a aristocracia, que contratava seus serviços e os enaltecia?)
Os capítulos 4 (Building the ship) e 5 (Seamanship and navigation) aprofundam a questão do grande referencial tecnológico dos escandinavos em relação aos métodos europeus do período, o navio de guerra, “um recurso contra o qual nenhum reino europeu tinha antídoto” (Keegan 2006: 371). O sucesso das empreitadas dos vikings não se explica somente pela sua superioridade tecnológica, mas também pelo grande conhecimento de navegação, orientação e sobrevivência pelo litoral (navegação de cabotagem) e alto mar, especialmente pelo Atlântico Norte. O navio adapta-se perfeitamente ao tipo de guerra anti-convencional praticada pelos soldados – naves robustas, espaçosas e flexíveis, importantes tanto para uma aproximação num curto espaço de tempo, como também imprescindíveis para uma rápida e segura saída de regiões pouco favoráveis em termos geográficos ou militares. Um pequeno detalhe omitido pela autora é referente à fabricação das velas (como também das roupas para alto-mar): elas não somente eram revestidas de alcatrão e gordura animal, mas originalmente feitas de um tipo de lã impermeável, obtidas de carneiros das altas montanhas.
O capítulo seguinte (weapons and armor) detalha a questão do armamento nórdico: os escudos de madeira e sua utilização como principal defesa corporal; as espadas com a média de dois quilos, simples e funcionais; lanças e dardos, utilizados a distância ou corpo a corpo; o machado de batalha e seu efeito devastador para a psicologia do inimigo; arcos e flechas como retardadores do avanço das tropas opositoras. As cotas de malha e os capacetes eram pouco utilizados, geralmente pelos aristocratas e pessoas mais ricas. Para Sprague, os equipamentos de batalha eram muito pouco diferentes dos outros povos europeus do período e o que explicaria o sucesso dos vikings seria muito mais a sua capacidade de comando, estratégia e liderança nos ataques.
Sem dúvida, o capítulo mais importante é o sétimo (Military organization and battlefield tactis), demonstrando que a formação do guerreiro nórdico provinha essencialmente de uma sociedade baseada na honra, bravura e no preparo para a guerra, muito mais do que um treinamento organizado, extensivo e disciplinado. A estratégia básica para qualquer tipo de operação militar era o conhecimento prévio do local a ser atingido (seja por informações de comerciantes, espiões ou mercenários), antecipando- se ao inimigo e preparando-se previamente para a batalha. No caso das pilhagens, tanto a inexistência de defesa permanente quanto os conflitos internos das regiões a serem atacadas (como Irlanda, Inglaterra e França) colaboraram para o triunfo escandinavo.
A população, geralmente camponeses, era responsável pela manutenção dos navios e da provisão do exército. Com o avanço das conquistas, da colonização nórdica e da centralização monárquica em várias regiões, a necessidade de armadas profissionais – incluindo oficiais, guarnições fortificadas e equipamentos mais padronizados – tornou-se freqüente. Alguns guerreiros e seus oficiais chegaram a viver periodicamente em guarnições separadas das cidades.
A descrição do cenário de batalha é aprofundada pela autora em diversos momentos, como, e.g., a situação do líder – considerado o homem mais forte e corajoso– que comanda o front da formação junto ao seu melhor subordinado e protegido por uma formação circular de escudos, sendo o primeiro homem a confrontar o inimigo. Quanto mais intrépido e audaz fosse o chefe, mais eficiente seria seu exército. Nos confrontos internos da Escandinávia, a probabilidade de confusão e acidente pelo fogo inimigo ou amigo era muito comum, como na famosa batalha de Stiklestad (Stiklarstaðir) na Noruega em 1030.
Outra preocupação da autora é com a descrição dos métodos de batalha naval, muito pouco explorados pelo cinema e literatura, consistindo desde a preparação das embarcações até em como podiam ser movimentadas umas com relação às outras, além do tipo de armamento utilizado (arcos e flechas, dardos, projéteis).
O capítulo oitavo descreve os mais renomados guerreiros profissionais da Escandinávia medieval, os jomsvikings, que serviam basicamente na fortaleza de Jomsborg, no Báltico. Realizavam duros testes de admissão e viviam sob um estrito código de ética e comportamento, sendo extremamente fiéis a seus companheiros e sem nenhum medo da morte. Participaram de uma das mais sangrentas batalhas dos vikings, a de Hjörungavágr (entre noruegueses e dinamarqueses, século X).
Outro renomado grupo militar nórdico, os varegues, são analisados no capítulo seguinte. Após a instalação dos suecos na área eslava oriental, formaram-se várias cidades e centros comerciais, que constituíram a base para os futuros ataques escandinavos à cidade de Bizâncio, na época a mais importante do medievo euroasiático. Logo, o sucesso dos vikings os colocou a serviço mercenário de outros povos, como foi o caso da guarda do próprio imperador de Bizâncio. Neste caso, o serviço estrangeiro constituía um meio de se obter prosperidade e fama para o referencial interno da Escandinávia, como foi o caso do rei norueguês Harald Hardrada. A principal função da guarda vareguiana era o de escolta, guarnição e policiamento da cidade.
Outros casos históricos e legendários analisados por Sprague são os de Ragnar Lodbrok e seus filhos (campanhas na Inglaterra anglo-saxônica); Rollo (pirataria e posteriormente colonização feudal na França); Erik Segersäll (o vitorioso), triunfante na batalha de Fýrisvellir (980, Suécia); Olaf Trygvason, o cristianizador da Noruega; Canuto (Knut), o Grande, construtor do maior império viking, unificando temporariamente a Inglaterra, Dinamarca e Noruega; Harald Hardrada, o último líder viking.
O livro de Sprague, enquanto manual sistematizador, não tem a competência e o detalhamento da obra de Paddy Griffith (The Viking Art ofWwar), mas certamente é uma ótima leitura recomendada aos iniciantes nas investigações sobre a história, cultura e literatura da Escandinávia Medieval.[6] Seu grande mérito é demonstrar que os vikings não foram mais cruéis do que os outros povos de sua época, nem que “a brutalidade é exclusiva dos não cristãos” (Sprague 2007: 309), diz a autora, citando as ações de Carlos Magno no processo de evangelização forçada dos saxões. Apesar da reputação dos nórdicos como uma cultura violenta, sua herança cultural ainda fascina o homem moderno por sua audácia, dinamismo e mobilidade.
AGRADECIMENTO
Ao Prof. Dr. Álvaro Alfredo Bragança Júnior (UFRJ) pelos comentários e sugestões ao presente texto.
Notas
1. O historiador John Keegan possui uma visão extremamente tradicional sobre os nórdicos, impregnado do referencial britânico e francês sobre os povos ditos “bárbaros”, contrapostos aos civilizados: “(…) os vikings e magiares pagãos ainda viviam no mundo primitivo de deuses vingativos ou distantes ao qual pertenciam os povos teutônicos e da estepe antes de ouvirem a palavra de Cristo ou Maomé (…) cristãos, tal como o inglês São Bonifácio, apóstolo dos germânicos, também morreram como mártires no esforço de implantar o evangelho entre povos selvagens (…) Com efeito, uma Europa pós-romana sem a Igreja romana teria sido um lugar bárbaro” (Keegan 2006: 373, 374). A percepção sobre os antigos germanos vem sofrendo modificações, advindas da tradição acadêmica alemã, como podemos perceber na recente obra do historiador francês Jérôme Baschet: “ Bárbaro (…) a conotação negativa adquirida por este termo torna difícil empregá-lo hoje sem reproduzir um julgamento de valor que faz de Roma o padrão da civilização e de seus adversários os agentes da decadência, do atraso e da incultura (…) Interrogar-se sobre as noções de barbárie e de civilização e pôr em dúvida a possibilidade de julgar as sociedades humanas em função de tal oposição: é também isso que nos convida a história da Idade Média” (Baschet 2006: 49, 26). Também historiadores britânicos vêm questionando o antigo modelo de perceber as culturas não-romanas: “O declínio do Império romano não deve ser considerado a derrota da ‘cultura’ pelo ‘barbarismo’, mas sim um choque de culturas. Os Ostrogodos, Visigodos, Vândalos e outros grupos tinham suas próprias culturas (valores, tradições, práticas, representações e assim por diante). Por mais paradoxal que possa parecer a expressão, houve uma ‘civilização dos bárbaros’” (Burke 2000: 246). O referencial de Keegan sobre uma suposta superioridade religiosa do cristianismo em relação ao paganismo nórdico também é questionável: “nenhuma religião ou crença conduz à barbárie ou é uma proteção contra ela (…) O discurso do civilizador tem sempre esta estrutura: ‘Vamos levar a civilização (ou a verdadeira religião) aos povos bárbaros. Nossa superioridade nos autoriza a tratá-los como inferiores. Eles nos devem gratidão, já que contribuímos para arrancá-los de sua barbárie – ou da ignorância, ou do paganismo’. De modo geral, a noção de civilização serve tanto para valorizar a si mesmo como para justificar a sujeição de outros povos (ou sociedades)” (Wolf 2004: 28). O próprio ato do pesquisador em emitir juízos de valor sobre o passado tem uma longa tradição de questionamentos: “A função do historiador é compreender, não julgar o passado. Logo, o único referencial possível para se ver a Idade Média é a própria Idade Média” (Franco Júnior 1986: 20). Algumas vezes, referenciais sobre as religiosidades do passado remetem às próprias convicções pessoais dos acadêmicos, como no caso de John Keegan: “ (…) o ângulo de abordagem de religiões que já desapareceram costuma ser bastante diferente do que se aplica às religiões cuja vigência continua no presente (…) se vincula às repercussões das militâncias e vivências religiosas presentes hoje em dia” (Cardoso 2005: 209).
2. Para uma visão sistemática e crítica da arte da guerra entre os vikings, o melhor autor é Griffith 1995, que possui detalhados gráficos, tabelas, ilustrações, esquemas e uma competente descrição das fontes mais importantes para o estudo da temática, ao final da obra. Outros estudos complementares para a história militar escandinava são: Whittock 1997; Siddorn 2003; Short 2009.
3. Martina Sprague nasceu em Estocolmo e é mestre em História Militar pela Universidade de Norwich, Estados Unidos. É também autora do livro Sweden: an illustrated history.
4. O termo víkingr refere-se no contexto centro-medieval (fontes a partir do século XI) a toda pessoa que saía além mar para atividades de navegação, comércio, mas especialmente aos atos relacionados à pilhagem ou pirataria e atividades militares. A concepção original parece estar relacionada aos habitantes do fiorde de Vik (Hall 2007: 8).
5. Para um referencial genérico da temática dos berserkers, consultar Langer 2007b: 44-47. Uma excelente sistematização do tema com farta bibliografia é disponível em Ward 2004. Sobre a questão da inexistência histórica da conexão entre o deus Odin e os berserkers e a polêmica das fontes literárias medievais, verificar Liberman 2004: 97-101. Aqui questionamos o autor: sua idéia de que somente a Heimskringla associa este deus aos berserkers (portanto, o escritor Snorri Sturluson teria se apropriado de forma fantasiosa do folclore de seu tempo) e que os guerreiros alucinados não tem nenhuma relação com cultos religiosos é limitada. Existem fontes materiais para comprovar isso: a plaqueta de Torslunda; o fragmento de Gutenstein; capacetes pré-vikings e saxões com gravuras de guerreiros portando máscara de lobo e urso e em posição de dança. O imperador bizantino Constantino VII no Livro das cerimônias descreveu o que ele denominou de “dança gótica”, realizada pela guarda vareguiana com máscaras e peles (Barry 2003: 3). Como a série de fontes imagéticas sobre os berserkers está conectada aos simbolismos do deus Odin (muitas possuem dois pássaros, representações de Hugin e Munin), confirma-se o relato de Snorri como sendo originalmente de tradição pagã e não uma criação do período cristão. Outro erro de Liberman é procurar vestígios dos berserkers diretamente na mitologia: realmente os einherjar e a caça selvagem não têm nenhuma relação direta com os berserkers. Contudo, uma coisa são as narrativas mitológicas e outra os cultos: enquanto os einherjar, as valquírias e o valhala são temas imaginários, os berserkers são personagens históricos e enquadrados dentro da religiosidade, dos cultos e crenças da Era Viking. Por este motivo foram excluídos pelas leis islandesas de 1123 – pela associação aos ritos odínicos, e não simplesmente por serem enquadrados como fora da lei ou bandidos sociais, como quer Liberman 2004: 101. A respeito das transformações mítico-religiosas e dos estados alterados de consciência dos berserkers, verificar: Grundy 1998: 103-120. Para um excelente estudo comparativo das atividades dos berserkers entre os antigos germanos e na Escandinávia da Era Viking: Birro & Fiorio 2008. Porém, apresentamos algumas correções a esta última pesquisa. Reiterando Benjamin Blaney, o artigo afirma que a figura 2, plaqueta de Torslunda, com a imagem de um guerreiro com duas lanças – seria uma representação do deus Odin (Birro & Fiorio 2008: 60, 61).Trata-se de um equívoco interpretativo. Na maioria das fotografias e reconstituições ilustrativas deste objeto, a figura em questão não é caolha, mas possui dois olhos com o mesmo tamanho e forma. Todas as representações antigomedievais que permitem uma identificação objetiva de que são figuras desta deidade – pingentes, esculturas em madeira de igrejas norueguesas, etc, possuem um dos olhos fechados (para um panorama, ver Boyer 2004: 5-12). Somente algumas que não possuem este detalhe são consideradas como Odin pelos especialistas – como a estela gotlandesa de Ardre VIII – um resultado obtido pela análise de toda a cena/conjunto: pelo fato do deus montar o cavalo de oito patas, Sleipnir (se bem que existe a possibilidade de ser um morto em batalha, montado no dito cavalo, bebendo hidromel que recebera de uma Valquíria ao lado…); ou de figuras sendo devoradas por um lobo (como esculturas em igrejas e o relevo na cruz de Gosforth). Para estes temas, consultar Langer 2006, 2007a. Outro fato que desacredita esta interpretação de Blaney, e conseqüentemente também Birro & Fiorio, é o contexto da cena da plaqueta de Torslunda. Além de duas lanças, a figura porta uma espada – algo inusitado em se tratando de imagens de Odin, tanto para o período pré-viking quanto viking (a espada não é um dos objetos/atributos do deus caolho). Além disso, a figura está nitidamente em caracterização de dança, o que confirma algumas fontes bizantinas para o culto odínico dos berserkes. O capacete da dita figura não apresenta “duas serpentes gêmeas”, como afirma o artigo (Birro & Fiorio 2008: 61), e sim contém a figura de dois corvos na extremidade de um par de chifres. Isso é confirmado pela presença de outros objetos semelhantes encontrados em Starayja Ladoga e relevos em capacetes anglo-saxões e pré-vikings. Também em diversas imagens do período de migrações da antiguidade germânica foram representados guerreiros com lança e acompanhados por dois pássaros. A serpente não tem ligação direta com os cultos odínicos e a maior parte dos especialistas em mitologia-religiosidade viking (Régis Boyer, Rudolf Simek) e cultura material (Richard Hall 2007: 219, James Graham-Campbell), entre outros, identificam as duas figuras da plaqueta de Torlunsda como sendo dois guerreiros “dançando” para Odin. O artigo também relaciona uma interessante problemática investigativa: “A imagem dos combatentes acometidos pelo berserkgangr sofreu transformações à medida que o cristianismo penetrou na Escandinávia, pois os berserks passaram a despontar na literatura, ora como heróis, ora como vilões – um exemplo é a luta entre Egill e Ljótr; o oponente do herói era um berserk perverso e viciado em batalhas que desposou forçosamente a filha de um camarada de Egill” (Birro & Fiorio 2008: 65) Dependendo da fonte analisada, os berserkers podem ter conotação positiva, e em outros momentos negativa. Todavia, não poderia ser simplesmente a reprodução ou conservação de uma tradição oral escandinava dos tempos vikings, onde os guerreiros possuíam certa temeridade entre os camponeses e mais prestígio entre os aristocratas? Tal questão necessita de maiores aprofundamentos críticos.
6. A obra possui um excelente glossário terminológico, notas detalhadas e um eficiente índice remissivo. A bibliografia é genérica e não contém todos os títulos consultados: para isso é necessária uma revisão às notas dos capítulos. As fotografias são em preto em branco e não possuem muita qualidade de resolução.
Referências
BARRY, Stacy. Berserker: a ferocius viking warrior. Lambda Alpha Journal 33, 2003. Disponível em http://soar.wichita.edu/dspace/bitstream/10057/868/1/LAJv.33%2Cp2- 9.pdf Acessado em 05 de janeiro de 2009.
BASCHET, Jérôme. A civilização feudal: do ano mil à colonização da América. São Paulo: Globo, 2006.
BIRRO, Renan Marques & FIORIO, Jardel Modenesi. Os cynocephalus e os úlfheðnar: a representação do guerreiro canídeo na Historia Langobardorum (séc. VIII) e na Egils saga (c. 1230). Mirabilia 8, 2008. Disponível em: www.revistamirabilia.com Acessado em 05 de janeiro de 2009.
BOYER, Régis. Ódinn: guia iconográfico. Brathair 4 (1) 2004. Disponível em: www.brathair.com Acessado em 05 de janeiro de 2009.
BURKE, Peter. Variedades de História Cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
CARDOSO, Ciro Flamarion. Um historiador fala de teoria e metodologia. Bauru: Edusc, 2005.
FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Idade Média: nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 1986.
GRIFFITH, Paddy. The Viking Art of War. London: Greenhill Books, 1995.
GRUNDY, Stephan. Shapeshifting and berserkergang. Disputatio 3, 1998. Disponível em: http://books.google.com/books?hl=ptBR&lr=&id=nn0zubJW264C&oi=fnd&pg=PA104&dq=berserkir&ots=- iDPcBdRe4&sig=uoeTI7rn6CpsmHIKjyxKg6lxk30 Acessado em 05 de janeiro de 2009.
HALL, Richard. Exploring the World of the Vikings. London: Thames and Hudson, 2007.
KEEGAN, John. Uma história da guerra. São Paulo: Cia das Letras, 2006.
LANGER, Johnni. The origins of the imaginary viking. Viking Heritage 4, 2002. Disponível em: http://www.abrem.org.br/viking.pdf Acessado em 05 de janeiro de 2009.
_______. Técnicas de guerra dos vikings. Valholl, 2005. Disponível em: http://www.ljosalfaheim.org/valholl/costumes_tecnicas-batalha.htm Acessado em 05 de janeiro de 2009.
_______. As estelas de Gotland e as fontes iconográficas da mitologia Viking. Brathair 6 (1) 2006. Disponível em: www.brathair.com Acessado em 05 de janeiro de 2009.
_______. O mito do dragão na Escandinávia: parte dois – as Eddas e o sistema ragnarokiano. Brathair 7(1) 2007a. Disponível em: www.brathair.com Acessado em 05 de janeiro de 2009.
_______. Fúria e sangue: os berserkers. Desvendando a História 3 (16), 2007b. Disponível em: Templo do conhecimento: http://www.templodoconhecimento.com/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=227 Acessado em 05 de janeiro de 2009.
LIBERMAN, Anatoly. Berserkir: a double legend. Brathair 4(2) 2004. Disponível em: http://www.brathair.com/revista/numeros/04.02.2004/berserkir.pdf Acessado em 05 de janeiro de 2009.
SHORT, William R. Viking weapons and combat techniques. London: Westholme Publishing, 2009.
SIDDORN, J. Kim. Viking weapons and warfare. London: Tempus Publishing, 2003.
WARD, Christie. Berserkergang, 2004. Disponível em: http://www.vikinganswerlady.com/berserke.shtml Acessado em 05 de janeiro de 2009.
WHITTOCK, Martyn. Wars of the Vikings. London: Heinemann Educational Books, 1997.
WOLF, Francis. Quem é bárbaro? In: NOVAES, Adauto (org.). Civilização e barbárie. São Paulo: Cia das Letras, 2004.
Johnni Langer – Departamento de História UFMA. E-mail: johnnilanger@yahoo.com.br
SPRAGUE, Martina. Norse warfare: unconventional battle strategies of the ancient vikings. New York: Hippocrene Books, 2007. Resenha de: LANGER, Johnni. Guerra ao modo viking. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.8, n.2, p. 85-93, 2008. Acessar publicação original [DR]
Ancient Warfare | Harry Sidebottom
O estudo da guerra tem passado por grandes modificações, nos últimos anos. Na esteira da explosão das identidades e do reconhecimento da diversidade, sob influxo, também, do pós-modernismo, a guerra passou a ser revista. Manifestação de cultura, ela tem sido vista como parte constitutiva da dinâmica social. O estudo da Antigüidade tampouco deixou de ser afetado por tais questionamentos epistemológicos. Sidebottom procura, com esse livro, introduzir o leitor à pletora de discussões em curso, e o faz com imenso êxito. O autor, professor de estudos clássicos em Oxford, demonstra que mesmo temas na aparência tradicionais e eruditos podem ter alta relevância, tanto historiográfica como social e política.
Começa por enfatizar a relevância do tema para os nossos dias, com destaque para a invenção do conceito de “modo ocidental de guerrear”: o desejo de luta aberta, em batalha decisiva, visando à aniquilação do inimigo. Luta conduzida por um exército bem-equipado, sustentado pela infantaria. A batalha deve ser ganha pela coragem, introduzida pelo treinamento e disciplina. Para isso, seriam necessárias a liberdade política e a propriedade, naquilo que se chama “militarismo cívico”. Inventada pelos gregos, teria sido recebida pelos romanos e renascido na modernidade. A invasão do Iraque, apoiada pelo idealizador da tal teoria, assessor de Rumsfeld, Victor Davis Hanson, historiador militar da Grécia antiga, seria o corolário dessa teoria. Seus livros, traduzidos em muitas línguas, entre elas o português, são best-sellers. Mais do que isso, foi um dos grandes responsáveis pelas decisões que levaram às guerras que presenciamos, neste início de século. Leia Mais
O Homem, o Estado e a Guerra: uma análise teórica | Kenneth N. Waltz
Um dos desafios que põe à prova acadêmicos de Relações Internacionais desde o término da II Guerra Mundial é a elaboração de teorias que combinem alcance explicativo, coerência e parcimônia. Kenneth Waltz, um dos mais destacados pensadores de Relações Internacionais ainda vivo, é lembrado por ter tentado superar esse desafio – especialmente com Theory of International Politics. Com essa obra, Waltz tentou formular uma teoria sistêmica das Relações Internacionais, ficando reconhecido por ser fundador da corrente de pensamento que se convencionou chamar neo-realismo. Prova do valor de seu trabalho é o fato de o Professor Emérito da Universidade de Califórnia, Berkeley, ter sido agraciado com o prêmio James Madison – concedido pela American Political Science Association – por sua contribuição à ciência política.
O Homem, o Estado e a Guerra, cuja primeira edição data de 1959, é a publicação da dissertação de doutorado, Man, the State and the State System in Theories of the Causes of War, defendida em 1954 na Universidade de Columbia. Segundo o próprio Waltz, esse livro não apresentou uma teoria das Relações Internacionais, mas assentou as fundações para que uma fosse elaborada. A intenção não foi construir modelos a partir dos quais fosse possível a dedução de políticas em prol da paz, mas a de fazer um exame dos pressupostos em que modelos existentes estão baseados. Partiu-se do princípio de que, para se explicar como alcançar a paz, deve-se compreender as causas da guerra. Essas causas são explicadas em três níveis de análise. Leia Mais
A política entre as nações: a luta pela guerra e pela paz | Hans J. Morgenthau
A Coleção Clássicos Ipri vem conduzindo, desde 2001, a publicação de títulos internacionais inéditos ou esgotados da literatura especializada da área de relações internacionais no Brasil. Os volumes, que vêm acompanhados de prefácios redigidos por especialistas da área no Brasil, chegam ao mercado editorial em boa hora. A explosão de cursos de graduação na área, além do aumento da preocupação da própria sociedade com a chamada “agenda internacional” do país tem exigido uma compreensão muito mais sofisticada do sistema internacional e de seus impactos no plano doméstico.
A obra de Hans J. Morgenthau é a “jóia da coroa” da coleção, já que o volume é um divisor de águas na reflexão sobre a natureza e evolução da política internacional. Com efeito, a originalidade da obra está no seu objetivo de “descobrir e compreender as forças que determinam as relações políticas entre as nações” de forma sistemática, balizada por um arcabouço teórico que pretende ter um grande alcance explicativo da realidade internacional. Leia Mais
Far Eastern Tour: The Canadian Infantry in Korea 1950-1953 – WATSON (CSS)
WATSON, Brent Bryon. Far Eastern Tour: The Canadian Infantry in Korea 1950-1953. Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2002. 256p. Resenha de: LeVOS, Ernest. Canadian Social Studies, v.38, n.3, p., 2004.
There are certain elements in this book that one finds hard to fault where the author is concerned. It is well researched and well documented with thirty-seven pages of notes; a few notes have additional explanations. Secondary and primary sources are well integrated and the author effectively analyses and explains the diverse experiences of the 25th Canadian Regiment (the Royal Canadian Regiment, the Princess Patricia’s Light Infantry and the Royal 22e Regiment) in the Korean War that was a sideshow for Canada (p. 96). A significant question that arises from this work is whether the Canadian government and military have learned any lessons from the Korean War. The contributions of the 25th Regiment have been overlooked and their participation in Korea was more than police action or a peacekeeping mission: it was a war.
What did members of this distinguished regiment face? The soldiers were inadequately trained for patrol operations, and were badly in need of Canadian kit and clothing(p. 38). The problems the soldiers faced with the 9mm Sten gun conjure up bad memories of Col. Sam Hughes and the Ross Rifle fiasco during World War I. The soldiers had an inadequate knowledge of all things Korean, from foods, smells, the lack of respect for life, and even language. Consequently, it was natural, like Jacques Cartier of old, to describe the newfound country as God-forsaken. Furthermore, as journalist Pierre Berton has pointed out, soldiers and military administrators were culturally insensitive.
The author also focuses on the nature of group dynamics (p. 68). The 25th Regiment worked alongside the Korean Service Corp (KSC), an esteemed battlefield ally, and the Korean Augmentation Troops, Commonwealth (KATCOM) who were viewed as interlopers at best, and dangerous battlefield liabilities at worst(p. 68). But there were other dangers, such as having to fight a highly capable Chinese enemy that fought and outgunned the Canadian patrols (p. 80). For the most part, Canadian soldiers were unable to conduct successful patrols. They faced a dismal battlefield performance, but despite casualties in the battle of Hill 355, battle exhaustion and self inflicted wounds, Canadian casualties in Korea were extremely light [when] compared with the carnage in the two world wars (p. 108). However, Watson does emphasize the fact that clearly, the fighting in Korea was far more lethal than the euphemism ‘police action’ suggests (p. 111). The injured, unfortunately, received appalling medical treatment. For many, the injuries sustained were very traumatic and deadly.
There were other dangerous challenges the soldiers faced. Diseases such as dysentery and malaria were a serious threat to the soldiers and the 25th Brigade found itself confronting a VD epidemic unparalleled in Canadian military history (p. 133). The author makes a humble admission at this point when he writes that it is difficult for the historian writing nearly five decades after the fact to express in print the fear induced in front line troops by the ever-present threat of contracting hemorrhagic fever (p. 131).
While the first eight chapters will spark rage and sympathy among readers, chapter 9, Forgotten People, was the chapter that caught my attention: the soldiers in the firing line lived like tramps without even the most basic comforts (p. 142). The rations were unappetizing and drinking water was unsafe. There were rats and snakes to contend with, and climatic conditions in the winter and the summer posed a formidable challenge to weapons maintenance (p. 150). Writing paper was a scarce commodity and there was inadequate and unsatisfactory entertainment.
While the Canadian soldiers faced numerous hardships, deprivations and an unhappy experience in Korea, it was the little things such as a turkey dinner for Christmas that made all the difference to lowly combat soldiers (p. 156). What eventually sustained the morale of the soldiers, and in many instances, turned out to be disastrous and fatal, was the love of rum and coke as the last chapter is entitled. Alcohol, a feature of military life, took its toll.
It is unfortunate that a regiment that made significant contributions under adverse conditions would not be greeted with a parade upon their return home, nor receive the concern of their government. It was a government that was more Eurocentric in its policies, with an army that was seriously overextended during the Korean War era (p. 179). Were any lessons learned from the Korean War experience? Perhaps not, if the larger picture is considered and if an individual reads chapter three (From the Great War to the Afghan War: Canada as Soldier) of Andrew Cohen’s book While Canada Slept: How We Lost Our Place in the World.
Far Eastern Tour is more than a catalogue of pathetic situations encountered by the 25th Canadian Regiment in Korea. It solicits a greater respect and recognition for the Canadian soldiers who fought in the Korean War. While it is possible to criticize the government’s policy makers and military administrators for their insensitivities, I came away from this well-written book with a greater respect for the contributions made by the Canadian Armed Forces.
This book will cater to a small audience such as high school students and university students interested in military history and in those distinguished soldiers who fought for Canada and are still living. There was a typo error on p. 39 (the word should have been mud). That aside, it would be beneficial to readers to view some photographs even wartime illustrations and posters and a map or two could have been included identifying such locations as Hill 355, Kap’yong, and the Jamestown line. For two good maps and sixteen pages of photographs, a reader should consult Ted Barris’ book Deadlock In Korea: Canadians At War, 1950-1953.
References
Barris, T. (1999). Deadlock in Korea: Canadians at war, 1950-1953. Toronto: Macmillan Canada.
Cohen, A. (2003). While Canada slept: How we lost our place in the world. Toronto: McClelland Stewart.
Ernest LeVos – Grant MacEwan College. Edmonton, Alberta.
[IF]
As Relações entre o Brasil e o Paraguai (1889-1930): do afastamento pragmático à reaproximação cautelosa | Francisco M. Doratioto || José Martí e Domingo Sarmento: duas idéias de construção da hispano-América | Dinair A. Silva || Segurança Coletiva e Segurança Nacional: a Colômbia entre 1950-1982 | César Miguel Torres Del Rio || Entre Mitos/ Utopia e Razão: os olhares franceses sobre o Brasil (século XVI a XVIII) | Carmen L. P. Almeida || A Parceria Bloqueada: as relações entre França e Brasil/ 1945-2000 | Antônio C. M. Lessa || Políticas Semelhantes em Momentos Diferentes: exame e comparação entre a Política Externa Independente (1961-1964) e o Pragmatismo Responsável (1974-1979) | Luiz F. Ligiéro || Dimensões Culturais nas Relações Sindicais entre o Brasil e a Itália (1968-1995) | Adriano Sandri || Opinião Pública e Política Exterior nos governos Jânio Quadros e João Goulart (1961-1964) | Tânia M. P. G. Manzur || O Parlamento e a Política Externa Brasileira (1961- 1967) | Antônio J. Barbosa || Los Palestinos: historia de una guerra sin fin y de una paz ilusoria en el cercano oriente | Cristina R. Sivolella || Do Pragmatismo Consciente à Parceria Estratégica: as relações Brasil-África do Sul (1918-2000) | Pio Penna Filho || Entre América e Europa: a política externa brasileira na década de 1920 | Eugênio V. Garcia
As relações internacionais, enquanto objeto de estudo, vêm se desenvolvendo de maneira satisfatória nos últimos anos no Brasil. Parte desse avanço é devido ao surgimento de cursos de pós-graduação na área, que colocam o estudo das relações internacionais, de modo geral, e a inserção externa do Brasil, em particular, no centro das preocupações de pesquisa. O primeiro programa de pós-graduação em História das Relações Internacionais na América do Sul foi criado na Universidade de Brasília, em 1976. Em torno desse Programa formou-se uma tradição brasiliense de estudo de relações internacionais. Ao longo de mais de vinte anos de atuação, o Programa produziu cerca de sessenta dissertações de mestrado e, com a implantação do doutorado em 1994, doze teses.
Uma particularidade das teses de doutorado do Programa é a diversidade temática. A ampliação dessa linha de pesquisa permitiu a modernização da História das Relações Internacionais. Assim, junto com os estudos que privilegiam as relações bilaterais do Brasil, inseriram-se novos temas e objetos de investigação. Com efeito, há estudos que aprofundam a análise das parcerias estratégicas, a opinião pública, a imagem, a segurança internacional, o pensamento político, as relações internacionais do Brasil e as relações internacionais contemporâneas. Tais estudos evidenciam a diversificação de olhares sobre a inserção internacional do Brasil. Leia Mais







