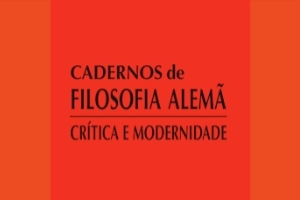Posts com a Tag ‘Filosofia’
No Enxame: perspectivas do digital | Byung-Chul Han
Manuel Castells, em sua clássica obra Sociedade em Rede, afirmou que no final do segundo milênio da era cristão, “uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação, começou a remodelar a base material da sociedade em ritmo acelerado” (2000, p. 39). O sociólogo não pode prever que, mais do que modificar e “remodelar a base material”, iriamos ser arrastados para estes meios tecnológicos, em uma velocidade que ultrapassou o limite do material, chegando ao imaterial. Dessa forma, vivemos hoje um momento de dúvida, crise, instabilidade, sem sabermos para onde vamos.
Devido a este cenário, a obra de Han se apresenta como necessária aos estudos das humanidades, e, também, diretamente à historiografia. Afinal, muito destas transformações afetam diretamente o trabalho do/a historiador/a. Leia Mais
Deleuze e Guattari: uma filosofia para o século XXI | Antonio Negri
Antonio Negri | Foto: Christian Werner e Alexandra Weltz
 Textos de Antonio Negri, marcados por intensos diálogos com o trabalho de Gilles Deleuze e Félix Guattari, bem como entrevista concedida pelo próprio Negri a Jeferson Viel, caracterizam este livro como uma notável radiografia histórica da incessante transformação do pensamento filosófico.
Textos de Antonio Negri, marcados por intensos diálogos com o trabalho de Gilles Deleuze e Félix Guattari, bem como entrevista concedida pelo próprio Negri a Jeferson Viel, caracterizam este livro como uma notável radiografia histórica da incessante transformação do pensamento filosófico.
A partir do “Prefácio”, e mais especificamente, no decorrer da apreciação do Capítulo “Gilles-felix”, constata-se, com interessantes nuanças de sensibilidade, que, além de inspiração e parceria profissional, Negri encontrou em Deleuze e Guattari um fundamental suporte de natureza pessoal. A dinâmica da convivência dessa distinta tríade de filósofos, expõe laços de amizade fortalecidos essencialmente, a partir do apoio dispendido a Negri (de modo singular por Deleuze) durante seu exílio na França, em consequência de perseguições políticas sofridas em solo italiano. Certamente, louváveis peculiaridades da carreira de Negri, a exemplo de seu estilo de escrita, foram forjadas a partir da lealdade apreendida no que ele próprio retrata: “a arte de escrever a quatro mãos”. Tal habilidade foi por ele inauguralmente experimentada durante a concepção do livro As verdades nômades, em conjunto com Félix Guattari. Negri conta, com provável saudosismo, que a época compartilhada com seus companheiros guardava dias de infindáveis discussões sobre política, direito, modelos sociais disfuncionais e a latente necessidade de alterar ideais solidificados de há muito. O respeito mútuo existente entre amigos tão generosos uns com os outros, torna evidente que ambos não hesitariam em contribuir mutuamente, com suas épicas jornadas, nos rumos inquietantes daquela que lhes é uma obsessão: a filosofia. Leia Mais
O Império do sentido: a humanização das Ciências Humanas | François Dosse
Há algum tempo a discussão acerca da atuação social dos pesquisadores de várias áreas do saber, mas principalmente das Ciências Humanas, tornou-se um tema vigente na França e também tem ganhado perspectiva no Brasil. Ao que tudo indica, o cenário se encontra polarizado entre os filósofos midiáticos e a comunidade atomizada dos pesquisadores em Ciências Humanas, estes, cada vez mais fechados em sua tecnicidade e incapazes de produzir para o grande público de maneira convidativa a participar do debate. Evidentemente, é necessário pontuar que o fazer científico ocorre de maneira distinta na França e no Brasil, e exportar o modelo do debate sem uma reflexão pode ocasionar erros. Mas é nesse sentido que a obra de François Dosse, O Império do sentido, se mostra atual por fornecer uma base para repensar o vínculo social dos pesquisadores na Cidade moderna. Reflexão essa que no Brasil ainda se encontra por fazer, ao menos com tamanha profundidade tal qual fez François Dosse em seu livro. Logo, a escolha por traduzir a obra em 2003 e reeditar a obra no recente ano de 2018 foi mais do que acertada. Mas se na primeira aparição a obra em terras tupiniquins se deu com o tom informativo, sua segunda traz o tom de aviso pois evidencia um cenário que pouco mudou em 15 anos, dentro de um período em que a discussão se tornou mais latente do que nunca e a atuação desses pesquisadores passou a ser uma demanda social. Leia Mais
Filosofia para mortais: pensar bem para viver bem | Daniel Gomes de Carvalho
Um professor de História escreve um livro de Filosofia. A afirmação pode lembrar uma daquelas anedotas que começam com “Um fulano e um sicrano entram num bar”. Contudo, a questão aqui levantada é, mais do que pilhéria, uma reflexão primordial a diversas ciências humanas: aquela que se refere à interdisciplinaridade. É neste campo que nosso objetivo central nesta ligeira exposição de Filosofia para mortais está inserido. Podemos resumi-lo na seguinte pergunta: Por que ler um livro de Filosofia escrito por um professor de História? Os caminhos de resposta escolhidos apontam para a correlação entre os pensamentos histórico e filosófico, sendo igualmente válidos para não historiadores (as) e não filósofos (as).
De antemão, nos desculpamos com o autor e futuro público leitor que, ao contraporem as considerações que aqui expomos com a obra original, logo perceberão que outras muitas ponderações possíveis foram deixadas de lado, por conta da necessidade de enfoque exigido por uma resenha. Aqui falaremos de algumas correlações entre o pensamento filosófico e o pensamento histórico, com destaque à questão da mortalidade, uma das ideias centrais trabalhadas no livro de Daniel Carvalho. Neste ponto, devemos também alertar que indicar pontos da referida conexão não elimina os diferentes lugares ocupados e metodologias exercidas por cada uma das referidas áreas do conhecimento como disciplinas. Leia Mais
Resistir a Abadon | Severino E. Ngoenha
Severino Elias Ngoenha é doutor em filosofia pela Universidade Gregoriana em Roma e professor nas universidades Pedagógica de Moçambique e de Lausanne, Suíça. As suas reflexões têm girado em torno de questões ligadas à política e à sociedade Moçambicana e à Filosofia Africana, mas em “Resistir a Abadon” Ngoenha sai dessa esfera de estudo que caracteriza as obras “Das Independências às Liberdades” e “O Retorno do Bom Selvagem” e a projecta no âmbito alargado da filosofia e das relações internacionais tendo como premissas o pensamento do sociólogo alemão Ulrich Beck.
Abadon é descrito no livro como o anjo apocalíptico que está sentado no trono celestial e que capitania a armada de cavalos terrificantes e aparelhados para a guerra. É personificado, adquirindo as características de um sujeito e pode-se falar dele tal como se fala do mercado em economia. O autor descreve Abadon como uma atmosfera disposicional para fazer a guerra e esta é considerada a marca das sociedades actuais, tendo reconhecido o seu papel na criação das sociedades e até mesmo na invenção do Estado moderno. Leia Mais
Oltre il giardino: filosofía di paesaggio | Massimo Venturi Ferriolo
En la obra Oltre il giardino: filosofía di paesaggio (“Más allá del jardín: filosofía del paisaje” –traducción propia–), el filósofo italiano Massimo Venturi Ferriolo se propone, con un estilo ensayístico, abordar al jardín como útero de la vida, propuesta que retomará un mito y metáfora vivos en Occidente. Él parte del argumento de que la filosofía del jardín se nos presenta como un “antídoto a los venenos de nuestro tiempo” (p. 5), en referencia a los modelos económicos liberales y neoliberales, a la vez que a los modelos obsesionados con la idea de desarrollo. Leia Mais
Love, order, and progress: the science, philosophy, and politics of Auguste Comte. BOURDEAU et. al. (HCS-M)
 BOURDEAU, Michel; PICKERING, Mary; SCHMAUS, Warren E. Love, order, and progress: the science, philosophy, and politics of Auguste Comte. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2018. 416p. Resenha de: SANDOVAL, Tonatiuh Useche. Una visión sinóptica de Auguste Comte en inglés. História Ciência Saúde-Manguinhos v.27 n.1 Rio de Janeiro Jan./Mar. 2020.
BOURDEAU, Michel; PICKERING, Mary; SCHMAUS, Warren E. Love, order, and progress: the science, philosophy, and politics of Auguste Comte. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2018. 416p. Resenha de: SANDOVAL, Tonatiuh Useche. Una visión sinóptica de Auguste Comte en inglés. História Ciência Saúde-Manguinhos v.27 n.1 Rio de Janeiro Jan./Mar. 2020.
En el Capítulo 86 de Rayuela de Julio Cortázar (2008) se puede leer: “Quizá haya un lugar en el hombre desde donde pueda percibirse la realidad entera. Esta hipótesis parece delirante. Auguste Comte declaraba que jamás se conocería la composición química de una estrella. Al año siguiente, Bunsen inventaba el espectroscopio”. Nada se aleja tanto de la estructura fragmentada de la novela de Cortázar como la obra sistemática del fundador de la religión de la humanidad. El presente volumen reúne nueve artículos en inglés que, descartando una comprensión fragmentaria de la obra de Comte, tanto de sus aciertos como de sus insuficiencias, resaltan que sus vertientes científica, filosófica y política son solidarias. Leia Mais
Filosofia e Direito – Direito e Filosofia / Ronaldo Poletti
No ano passado, foi lançado por Ronaldo Poletti, presidente do nosso Instituto Histórico e Geográfico, o livro com o título acima indicado e que classifico de excelente.
Conhecido, lido e admirado nos meios jurídico e universitário, não só do Brasil, mas, também, em outros países, o Professor Doutor Ronaldo Poletti não é noviço nem iniciante na arte de bem escrever, com precisão, fôlego e talento sobre assuntos que têm, como fundo, o Direito, sob vários aspectos, mas sempre visto sob o prisma de pregação da Verdade.
Efetivamente, ele tornou-se conhecido no meio jurídico pela qualidade de sua dezena de livros (alguns com mais de uma edição) e de, pelo menos, três dezenas de artigos e palestras sobre aspectos do Direito, não só proferidas no Brasil como também no exterior.
O seu abrangente e perfeito Filosofia e Direito – Direito e Filosofia, tenho certeza, está destinado a ser utilizado como fonte de informação e de aprimoramento para obtenção da melhor e mais completa formação intelectual filosófico-jurídica de professores e estudantes de Direito ou de Filosofia, ou, simplesmente, para alargamento e embasamento da cultura dita humanística.
E, claro, esse é um livro, também, utilíssimo para os observadores e os estudiosos de mente isenta que analisam os sistemas políticos quanto a suas tendências para fins realmente democráticos ou que, tão somente, visam a disseminar e cultuar o pseudopopulismo, com o objetivo de conseguir o real domínio da sociedade ou de vastos grupos e classes de pessoas.
Observa-se, pelas matérias que compõem o índice deste livro, que o autor concatenou a visão geral do direito e da filosofia, digamos não em ordem cronológica a partir dos helenos, mas pela ordem dos aspectos mais importantes que possam haver influenciado as tendências do Direito e do seu ensino nas universidades.
Ao longo do desenvolvimento, o leitor encontrará descrições e análises minuciosas dos antigos sistemas filosóficos, como o socrático, o platônico, o aristotélico, passando pelo estoicismo e pelo epicurismo, seguidos pelo surgimento e pela expansão do cristianismo, com os sábios Paulo de Tarso, Agostinho, Tomás de Aquino e muitos outros mais.
Depois, vêm o renascimento, as declarações dos direitos do homem – algumas seguidas e observadas, outras teóricas e vãs – a Declaração da Revolução de 1789 foi, teoricamente, aplicada à própria França, mas não a suas colônias.
Baseadas teoricamente em frase de Paulo de Tarso (quem trabalha come, quem não trabalha não come), e no lema somos todos iguais, o leninismo-marxismo implantou o socialismo comunista na União Soviética (que se estendeu para seus países satélites) e, depois, foram implantados o conceito de nação e raça sobre os valores individuais, chamado fascismo, na Itália, bem como o nacional-socialismo na Alemanha – em todos os três exemplos citados, o poder era igualmente enfaixado e exercido por governos autocráticos e ditatoriais, todos classificáveis como de “esquerda”.
Ao final, para fechar com chave de ouro, o autor apresenta dois Apêndices que dizem respeito exclusivo ao Brasil atual: I – Filosofia do Direito no Brasil; e
II – Pseudoalternatividade Jurídica.
Nos acima mencionados Apêndices, o Professor Doutor Ronaldo Poletti apresenta tanto algumas tendências corretas do ensino do Direito quanto algumas apreensões com o rumo que se quer dar ao mesmo Direito, verbi gratia, ausência do estudo do Direito Romano, avanço do sociologismo e do chamado Common Law, o direito alternativo e o direito achado na rua e, pasme o leitor, a adoção da denominação “operadores do direito”.
Ressalto um aspecto que me parece importante em qualquer livro ou publicação: a correta forma do uso que o autor faz da nossa querida língua, sem qualquer intenção de querer mostrar-se sofisticado no linguajar ou mais culto que o leitor e, ainda mais, felizmente, a ausência do estranhíssimo dialeto juridiquês.
Os apreciadores de literatura de cunho jurídico ou filosófico, bem como de ciências humanas, têm, a seu dispor, mais uma obra de verdadeiro mestre.
Obras de Ronaldo Poletti
O Poder Legislativo. Legislativo e Executivo. Brasília: Fundações Petrônio Portela e Milton Campos, 1981; 2ª. ed. 1983.
O Decreto-lei na Constituição. Palermo e São Paulo: Renzo Mazzone Editor, 1986.
Pareceres da Consultoria Geral da República, agosto de 1984 a março de 1985.
Controle da Constitucionalidade das Leis. Rio de Janeiro: Forense, 1985; 2ª. ed., 1988; 3ª. tiragem, 1995; 4ª. e 5ª. tiragens, 1998.
Da Constituição à Constituinte. Rio de Janeiro: Forense, 1986.
A Constituição de 1934. Brasília: Senado Federal e Ministério da Ciência e Tecnologia / Centro de Estudos Estratégicos, 1999.
Constituição Anotada. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
Conceito Jurídico de Império. Brasília: Consulex, 2009.
Introdução ao Direito. São Paulo: Saraiva, 1991; 2ª ed. 1994; 3ª ed. 1996; 4ª ed. 2010.
Elementos de Direito Romano. Público e Privado. Brasília: Brasília Jurídica, 1996; 2ª. ed. Brasília: Editora Consulex, 2014.
Filosofia e Direito – Direito e Filosofia. Brasília: Zakarewicz Editora, 2019.
Tarcízio Dinoá Medeiros – Acadêmico, ocupante da Cadeira 6 [IHGDF], patroneada por José Bonifácio de Andrada e Silva.
POLETTI, Ronaldo. Filosofia e Direito – Direito e Filosofia. Brasília: Zakarewicz Editora, 2019. Resenha de: MEDEIROS, Tarcízio Dinoá. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, Brasília, n.10, p.263-266, 2020. Acessar publicação original. [IF].
Objetos trágicos, objetos estéticos – SCHILLER (AF)
Objetos trágicos, objetos estéticos – SCHILLER (AF)
SCHILLER, F. Objetos trágicos, objetos estéticos. Organização e tradução de Vladimir Vieira. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2018. Resenha de: BELLAS, João Pedro. Artefilosofia, Ouro Preto, n. 27, dez., 2019.
A incursão de Friedrich Schiller pela filosofia deu-se em um curto período de tempo, ficando restrita à década de 1790. Os textos de cunho filosófico do autor são relativos, majoritariamente, à estética e foram publicados em dois periódicos organizados pelo próprio Schiller: “Neue Thalia” e “Die Horen”, este editado ao lado de Goethe. O interesse por questões de natureza filosófica surgiu em um momento de crise poética vivenciado pelo dramaturgo após a composição do drama “ Don Carlos”, e o seu interesse pelo campo da estética, especificamente, é decorrente do desejo de alcançar maior clareza acerca dos princípios fundamentais de sua arte.
Embora constituam um corpo bastante denso e de mérito filosófico quase que indiscutível, tais escritos de Schiller foram praticamente ignorados pelos especialistas da área a partir do século XX. Esse desinteresse, de um ponto de vista mais geral, pode ser resultado da ausência de uma abordagem sistemática de temas clássicos da filosofia, como a questão do conhecimento, por exemplo. Surpreende, contudo, que mesmo no campo da estética ainda sejam escassos os estudos de mais fôlego acerca da obra filosófica do autor.
No Brasil, especificamente, até pouco tempo atrás muito da produção teórica do autor não se encontrava disponível em boas edições em língua portuguesa. Nesse sentido, o volume “Objetos trágicos, objetos estéticos”, organizado por Vladimir Vieira e publicado pela editora Autêntica, oferece uma contribuição importante para o debate estético brasileiro ao trazer quatro dos ensaios de Schiller em uma tradução bastante criteriosa e cuidadosa. O volume complementa o livro “Do sublime ao trágico”, organizado por Pedro Süssekind e editado pela mesma editora em 2011, na medida em que os te mas discutidos nos dois ensaios reunidos nessa obra, especialmente o conceito do sublime, são desenvolvidos também nos textos que compõem “Objetos trágicos, objetos estéticos”.
Os quatro ensaios que integram o volume foram publicados entre os anos de 1792 e 1793 nos quatro volumes da “Neue Thalia” e evidenciam, em maior ou menor grau, uma influência da filosofia crítica de Kant, sobretudo da obra “Crítica da faculdade do juízo”, sobre o pensamento de Schiller. Não se trata, contudo, de uma mera assimilação passiva do pensamento do filósofo de Königsberg. Como observa Vladimir Vieira (p. 141) no artigo que serve de posfácio a “Objetos trágicos”, Schiller procura refletir, a partir do sistema transcendental kantiano, sobre a sua vivência enquanto artista e sobre a própria experiência estética proporcionada pela arte. Nesse sentido, os ensaios schillerianos consistem em uma das primeiras e mais relevantes respostas às questões postuladas por Kant, em especial na terceira Crítica, 1 mesmo que a tradição filosófica subsequente não tenha-lhes concedido a devida atenção.
Os dois primeiros ensaios reunidos em “Objetos trágicos”, “Sobre o fundamento do deleite com objetos trágicos” e “Sobre a arte trágica”, como os títulos indicam, abordam questões mais diretamente relacionadas à tragédia. Ambos foram publicados no primeiro volume da “Neue Thalia”, em 1792, e as considerações presentes em cada um dos textos complementam umas às outras.
O primeiro ensaio explora as relações entre a estética e a ética, um tema recorrente em sua produção de cunho filosófico, e busca fundamentar a ideia de que a arte tem como fim menos a instrução moral e uma adequação às regras do decoro do que a produção de deleite. Schiller argumenta que, diferentemente do prazer mediato possibilitado pelo entendimento e pelo assenso da razão, que requerem, respectivamente, esforço e sacrifícios, somente o deleite proporcionado pela arte pode ser realizado de forma imediata. O postulado do autor vai, portanto, de encontro à proposta de determinada corrente moderna da estética, ligada especialmente ao Neoclassicismo, que busca subordinar a arte, e o deleite que ela é capaz de produzir, à instrução moral.
O deleite estético, como é compreendido pelo dramaturgo, mantém uma relação dupla com a moral, promovendo-a e sendo dela dependente. Porém, para que seja capaz de promovê-la, a arte não pode ser privada daquilo que a torna mais poderosa, sua liberdade: “Só cumprindo o seu mais alto efeito estético é que a arte terá uma influência benfazeja sobre a eticidade; mas só exercendo a sua total liberdade é que ela pode cumprir o seu mais alto efeito estético” (p. 20).
Entendendo que a fonte de todo o deleite é a conformidade a fins, Schiller reflete principalmente sobre o deleite livre, que seria decorrente de representações por parte das faculdades do ânimo. Estas poderiam ser divididas em seis classes, conforme as faculdades responsáveis pela representação: o entendimento ocupar-se-ia do verdadeiro e do perfeito, enquanto a razão teria como objeto o bom ; quando atuam em conjunto com a imaginação, essas faculdades ocupar-se-iam, no primeiro caso, do belo, e, no segundo caso, do sublime e do comovente. Essa classificação serviria, ainda, para organizar, mesmo que não perfeitamente, as artes: as que satisfaz em o entendimento e a imaginação seriam as belas artes (artes do gosto ou do entendimento); já aquelas que satisfazem a razão e a imaginação seriam as artes comoventes (artes do sentimento ou do coração).
Por se tratar de um texto voltado a uma investigação acerca dos fundamentos do prazer proporcionado pela arte trágica, Schiller aborda com mais detalhe as artes do sentimento, explorando principalmente os conceitos de sublime e comovente. Ambos não parecem possuir nenhuma diferença essencial, e têm em comum o fato de que são produzidos através de um desprazer, ou seja, eles “nos fazem sentir […] uma conformidade a fins que pressupõe uma contrariedade a fins” (p. 24). Na segunda metade do ensaio, o pensador passa a se ocupar exclusivamente da comoção, e investiga de que maneira seria possível determinar se uma representação comovente produz, no sujeito, mais prazer do que desprazer e quais seriam os meios que o poeta deveria utilizar para criar esse tipo de representação.
“Sobre a arte trágica” apresenta-se como um complemento de “Sobre o fundamento…” na medida em que tem como objetivo determinar a priori as regras e fundamentos da tragédia a partir do princípio da conformidade a fins. Nesse sentido, o ponto de partida do ensaio é uma tentativa de chegar a uma compreensão mais profunda do modo como podemos auferir prazer com o sofrimento. Para tanto, Schiller introduz a distinção entre afeto originário e afeto compartilhado, sendo o primeiro experimentado diretamente pelo sujeito e o segundo o que se observa vivenciado por outrem.
Essa distinção, na verdade, remete à ideia, recorrente no debate clássico sobre o sublime, de que, para que seja possível sentir prazer a partir de um objeto que se apresenta como um perigo, é necessário que a ameaça não seja direta, isto é, que estejamos em uma posição de segurança em relação ao objeto. Schiller, entretanto, apresenta uma visão bastante peculiar em relação à sua época ao conceder que, em determinados casos, também seria possível auferir prazer a partir de um afeto originário, ou seja, a partir de um desprazer que se dá de modo imediato. Não fosse assim, não poderíamos explicar, por exemplo, o apelo de jogos de azar e de outras situações semelhantes nas quais nos colocamos em um risco direto.
Schiller esclarece que as sensações de prazer ou desprazer resultam de uma relação, que pode ser positiva ou negativa, do objeto em questão com nossa sensibilidade ou nossa faculdade ética, a razão. Enquanto os afetos relacionados à razão seriam determinados de maneira necessária e incondicional, aqueles que se relacionam com nossa faculdade sensível poderiam ser controlados e sobrepujados por nossa razão. Assim, por meio de um aprimoramento moral, seríamos capazes de superar os afetos sensíveis, e experimentar prazer a partir do sofrimento, até mesmo quando se trata de um afeto originário.
Na sequência do ensaio, o autor desenvolve a ideia de que o maior deleite que se pode experimentar se dá a partir de uma representação em que a liberdade de nossa faculdade racional seja afirmada frente aos impulsos sensíveis. Essa ideia é fundamentada principalmente pela noção de atividade: o deleite seria decorrente de uma representação por meio da qual as capacidades da razão seriam postas em ação. É precisamente por despertar a atividade de nossa faculdade ética que a representação do conflito entre a razão e nossos impulsos sensíveis pode ser considerada conforme a fins.
Por fim, após as discussões de natureza mais filosófica sobre os fundamentos do prazer a partir do sofrimento, Schiller volta-se para os objetivos iniciais de estabelecer as regras da tragédia a partir do princípio da conformidade a fins. Elas são reunidas na definição proposta pelo dramaturgo: a tragédia seria uma “imitação poética de uma série concatenada de eventos (de uma ação completa) que nos mostra seres humanos em estado de sofrimento e que tem por propósito incitar a nossa compaixão” (p. 61).
O terceiro texto reunido no volume compreende a parte final de um ensaio mais amplo, intitulado “Do sublime (para uma exposição ulterior de algumas ideias kantianas)” e publicado em 1793 nos volumes 3 e 4 da “Neue Thalia”. Somente essa parte foi preservada por Schiller quando da organização de seus “Escritos menores em prosa” – a parte suprimida integra o livro “Do sublime ao trágico”, mencionado anteriormente.
Ao contrário dos dois textos que lhe antecedem, “Sobre o patético” manifesta uma influência mais profunda da filosofia de Kant. Em linhas gerais, Schiller retoma as suas considerações sobre a tragédia e busca repensá-las a partir do arcabouço teórico da terceira Crítica. Nesse sentido, o dramaturgo buscará reformular a sua definição de tragédia, entendo-a como a representação de um conflito entre nossa faculdade suprassensível da razão e a sensibilidade, na qual a primeira supera a segunda. A partir dessa ideia geral, Schiller reduz a dois os seus princípios constitutivos: ela deve (i) apresentar uma natureza que sofre, e (ii) também a resistência moral a esse sofrimento. Essas duas leis funcionariam para alcançar o fim da tragédia, a saber, a produção do pathos.
Esses princípios estabelecem que a mera representação do sofrimento não é suficiente para a produção do pathos. Isso só ocorre na medida em que ela for capaz de evidenciar para nós a nossa natureza suprassensível. Por isso, Schiller exclui do âmbito da tragédia os afetos que se relacionam apenas com a natureza sensível do sujeito. Assim, não dizem respeito à arte trágica os afetos lânguidos, que apenas agradam a sensibilidade, e aqueles que a perturbam por serem demasiadamente intensos. “O patético”, afirma Schiller, “só é estético na medida em que é sublime” (p. 77).
O pensador argumenta que nos tornamos conscientes de nossa natureza suprassensível apenas a partir da representação da resistência ao próprio sofrimento, e não de suas causas. Em outras palavras, a resistência apresentada deve ser moral e não física. Se, por um lado, as ideias da razão não podem, por definição, ser apresentadas de maneira direta na sensibilidade, isso pode se dar indiretamente. Essas são as situações que seriam capazes de produzir pathos.
Reconhecendo dois tipos de fenômenos, um determinado pela natureza e outro controlado pela vontade, Schiller argumenta que a representação do sofrimento coloca esses dois domínios em conflito. Nesse sentido, duas seriam as condições necessárias para a produção do pathos: (i) a dor deve apresentar-se em todas as regiões do corpo que são dependentes da natureza; (ii) a ausência de sofrimento naquelas que são determinadas por nossa própria vontade. O pathos, portanto, decorre da participação de nossas faculdades sensíveis e racionais; sem o sofrimento, não há representação estética, sem a resistência moral, ela não se torna patética, inviabilizando uma experiência do sublime.
As reflexões desenvolvidas ao final de “Sobre o patético” extrapolam o domínio do quadro conceitual estabelecido por Kant. Aqui, Schiller propõe uma classificação do sublime de acordo com a manifestação da autonomia moral perante o sofrimento: se a dor possui uma origem sensível, nossa eticidade é afirmada negativamente, tratando-se do “sublime do controle”; se a sua causa é moral, a moralidade é afirmada positivamente e temos o “sublime da ação” (p. 90). O segundo compreende, ainda, dois casos, a saber, um a situação em que o sofrimento é escolhido em função de um dever, configurando uma ação da vontade, ou uma situação em que o sofrimento purga uma ação imoral, sendo, aqui, um efeito da afirmação do dever moral como um poder.
Essa distinção serve de funda mento para a diferenciação entre duas formas de julgar: uma moral e outra estética. A primeira consiste em atestar que um sujeito agiu conforme deveria, a segunda em avaliar que ele possuía a capacidade para tal. Enquanto o juízo estético proporciona entusiasmo por explicitar uma capacidade superior aos impulsos da sensibilidade, o moral nos humilha, por mostrar que, por sermos seres sensíveis, não somos determinados exclusivamente pelos imperativos da razão. Essa diferenciação, por sua vez, permite justificar o fim último da arte, que seria a produção de deleite, e porque o recurso à moral deve estar subordinado a ele. Assim, a conclusão desse ensaio retoma a ideia, apresentada em “Sobre o fundamento do deleite com objetos trágicos”, de que o pathos trágico não deve ser sacrificado em função da instrução moral.
O último artigo do livro, “Observações dispersas sobre diversos objetos estéticos”, publicado em 1793 no quarto e último volume da “Neue Thalia”, complementa as reflexões contidas no ensaio “Do sublime”, mencionado anteriormente. Em “Do sublime”, Schiller admite a distinção estabelecida por Kant entre os casos matemático e dinâmico do sublime, porém direciona o seu foco apenas ao segundo. Suas considerações sobre o sublime matemático são desenvolvidas em “Observações dispersas…”.
O título do ensaio poderia levar a crer que se trata de uma compilação de ideias distintas que não possuem muita relação entre si. Trata-se, contudo, de um escrito bastante sistemático e pouco preocupado em ilustrar as ideias discutidas por meio de exemplos artísticos. Assim como Kant, Schiller entende que a experiência do sublime tem origem a partir da contemplação de um objeto que ultrapassa a nossa capacidade de apreensão (no caso matemático) ou de resistência (no caso dinâmico), desde que ele não proporcione “uma repressão de cada uma dessas duas faculdades” (p. 113).
Explorando o primeiro caso, o autor sustenta que, para ser qualificado como sublime, o objeto não pode ser uma grandeza mensurável, mas deve ser uma grandeza absoluta. Na primeira circunstância, teríamos uma avaliação matemática, na segunda, uma avaliação estética. Schiller tem como ponto de partida a ideia kantiana de que a apresentação de um objeto na imaginação envolve duas operações distintas: a apreensão dos dados sensíveis e a sua síntese em uma unidade. Enquanto a primeira operação pode avançar indefinidamente, a segunda possui um limite. O objeto absolutamente grande, por sua disposição no espaço-tempo, traz à consciência esse limite.
O fracasso da síntese gera desprazer, mas, logo em seguida, temos um sentimento de prazer que é decorrente do reconhecimento de que possuímos uma capacidade de pensar uma ideia que não pode ser apresentada na sensibilidade: o infinito. Assim, se, por um lado, experimentamos um sentimento de impotência por não conseguirmos sintetizar o objeto contemplado, por outro, experimentamos nossa força, na medida em que somos capazes de pensar o infinito. O sublime caracteriza justamente o movimento do ânimo que traz à tona a percepção de que somos, sobretudo, seres suprassensíveis, capazes de pensar uma ideia que não se apresenta na sensibilidade.
Ao final do ensaio, Schiller considera em que grau a altura e o comprimento colaboram para o sentimento do sublime. Ao sustentar que a altura afeta o sujeito em um grau mais elevado por acrescentar o terror à experiência, o pensador adota uma posição que atesta a possibilidade da confluência dos casos matemático e dinâmico do sublime.
Os quatro ensaios presentes em “Objetos trágicos, objetos estéticos”, reforçam o quão densos são os textos filosóficos de Schiller e dão testemunho de sua relevância para a estética, ainda que a tradição filosófica ocidental nos tenha levado a crer no contrário. O volume, portanto, traz consigo a oportunidade de potencializar pesquisas que possam vir a restaurar a relevância das ideias de Schiller frente à tradição filosófica, e acrescenta muito aos estudos desenvolvidos no Brasil ao introduzir ideias e conceitos que em muito contribuem para a compreensão do fenômeno estético.
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de financiamento 001.
Nota
1 A expressão “terceira Crítica” é comumente empregada pelos comentadores para referir à “ Crítica da faculdade do juízo ”, uma vez que a obra é a terceira das críticas publicadas por Kant, precedida pela “ Crítica da razão pura ” e pela “ Crítica da razão prática ”. Ela será utilizada daqui em diante em todas as ocasiões em que nos referimos à “ Crítica da faculdade do juízo ”.
João Pedro Bellas-Doutorando em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Possui mestrado em Teoria da Literatura e Literatura Brasileira e graduação em Filosofia pela mesma universidade. E-mail: joaolbellas@gmail.com
Filosofar: Da Curiosidade Comum ao Raciocínio Lógico – WILLIAMSON (RFMC)
WILLIAMSON, Timothy. Filosofar: Da Curiosidade Comum ao Raciocínio Lógico. Lisboa: Gradiva, 2019. Resenha de: PACHECO, Gionatan Carlos. Revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, Brasília, v.7, p. 339-341, n.3, dez. 2019.
Uma Nova Introdução à Filosofia
Em Filosofar: Da Curiosidade Comum ao Raciocínio Lógico, Timothy Williamson oferece uma introdução à filosofia acadêmica. É um livro com notável potencial didático. Por exemplo, Williamson começa com um exemplo de como Jean-Pierre Rives, uma lenda do rugby, aplicava em seu arsenal tático as Regras para Direção do Espírito: “ter uma ideia clara e distinta daquilo que se procura alcançar. Então há que decompor cada jogada complexa nos seus componentes mais simples, torná-los intuitivos, e reconstituir tudo a partir daí” (p. 11). O livro se inicia então apontando que a filosofia pode apresentar as aplicações mais inesperadas.
Na introdução o autor aborda rapidamente uma grande gama de assuntos, passa do exemplo citado acima, que evoca Descartes, para a dúvida hiperbólica, da dúvida hiperbólica para a ciência natural, desta para a política internacional. Mas a ideia principal desta introdução, que fará eco no restante da obra, é a relação entre os primórdios da filosofia e os primórdios da ciência. O autor nos lembra que Newton e Galileu reclamavam o título de filósofos naturais, de modo que a ciência é como que uma filha da filosofia. No entanto, alguns desdobramentos no pensamento contemporâneo tendem a mostrar a ciência como uma matricida em potencial.
O segundo capítulo é sobre o senso comum. O senso comum é um ponto de partida. Uma anedota contada por Williamson é muito ilustrativa acerca deste ponto. Digamos que estamos tentando chegar em algum lugar, estamos em uma praça, perguntamos a um sujeito onde fica o tal lugar que queremos ir, e ele nos responde: daqui desta praça é difícil chegar lá. O senso comum é a nossa praça, não importa o quão deslocado ele é, é dele que partimos, não temos opção. Essa “metafísica dos selvagens” – Williamson nos lembra dessas palavras de Russel – obteve notáveis defensores entre os filósofos e possui inclusive um potencial refutatório. Como exemplo, o autor afirma que o senso comum refutou teses como, por exemplo, a da irrealidade do tempo de McTaggart (p. 21). O senso comum, em um certo aspecto, funcionaria como um “freio” da filosofia.
É em grande parte sobre refutações e debates que gira em torno o capítulo três. Willianson nos dá um panorama de um clima potencialmente beligerante nos eventos acadêmico da área de filosofia, seus prós e seus contras. Os apresentadores se “defendem” das ofensivas dos arguidores e o júri seria encarnado na comunidade dos filósofos em geral. Como sói acontecer, o autor aponta que muitas disputas acabam por concordarem em conteúdo e divergir em nas palavras. Com efeito, este fenômeno é o tema do quarto capítulo. Aquim Williamson apresenta uma espécie de paradoxo da clareza, pois, de certa forma, ela não pode aspirar “um padrão mítico de indubitabilidade” , visto que para esclarecermos uma palavra, lançamos mão de outras palavras e, além disso, estariam os presos em questões como a possibilidade de se conceitualizar o conceito de “conceito”.
Este Filosofar também pode ser considerado uma introdução à metodologia filosófica. Assim, os capítulos seguintes apresentam uma série de ferramentas filosóficas. O capítulo cinco discorre acerca de experiência mentais. Aqui ele nos apresenta uma experiência mental do autor budista do século VII, Dharmottara (740-800), onde este antecipou os epistemologicamente revolucionários exemplos de Gettier, e, entre outros exemplos, como do experimento mental acerca do aborto de Judith Jarvis Thomson, o experimento mental dos zumbis de Chalmers e, além disso, nas ciências naturais, os experimentos mentais das esferas de Galileu e a hipotética “cavalgada” sob um raio de luz de Einstein. O livro de Williamson é extremamente imagético, repleto de exemplos e tabelas. Os exemplos exemplos citados, por si só, constituem ferramentas metodológicas do pensar filosófico e reforçam o caráter pedagógico do livro. Além disso, ao passo que apresenta esta série de experimentos mentais, alguns conceitos, mesmo sem ser nomeados são apresentados, como a modalidade e os contrafactuais.
A filosofia é colocada lado a lado com a ciência natural durante toda obra. Assim, muitos tópicos são compartilhados, como as questões dos vieses cognitivos, do sobreajuste em teorias, da dedução e dos princípios lógicos. Williamson discorre sobre a história da filosofia, de uma forma quase amarga, com aqueles acadêmicos que estudam “um filósofo”, claramente defendendo seu “estilo Oxford de filosofar”, isto é, tratar de problemas filosóficos e não de filósofos. “A questão controversa é saber se os filósofos precisam ou não de muito mais conhecimento da história menos recente do seu assunto do que precisam os matemáticos e cientistas naturais nas suas áreas” (p. 114). Williamson irá conceder importância, sim, mas uma importância do que ele chamade“genealogiaintelectual” (p. 115). Assim, para ele há teorias filosóficas que mesmo sendo falsas, possuem sua importância. Em termos gerais, segundo o autor, a história da filosofia estaria para a filosofia atual, como a história da arquitetura está para quem está atualmente visitando uma obra arquitetônica.
Enfim, Filosofar: Da Curiosidade Comum ao Raciocínio Lógico é certamente um fruto do pensamento filosófico contemporâneo de nossa época que poderá ter muita influência na geração futura de pesquisadores. Isto pois, ele se destina a um público amplo, em especial estudantes de graduação em filosofia, mas, ainda assim, por possuir um caráter de divulgação filosófica, pode destinar-se a comunidade em geral. É um livro com viés oxfordiano, o que pode causar desconforto para certos leitores, no entanto, é um livro com uma visão tanto ampla, quanto coerente sobre a atividade filosófica.
Gionatan Carlos Pacheco – Mestre e Bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Maria (UFSM). Atualmente realiza doutorado em filosofia na UFSM. E-mail: gionatan23@gmail.com
Sambo, logo penso: afroperspectivas filosóficas para pensar o samba – SILVA (V-RIF)
SILVA, Wallace Lopes (Org.). Sambo, logo penso: afroperspectivas filosóficas para pensar o samba. Rio de Janeiro: Hexis/Fundação Biblioteca Nacional, 2015. Resenha de: SÁVIO, Nilton José Sales. É possível pensar o samba por meio da filosofia? Voluntas – Revista Internacional de Filosofia, Santa Maria, v.10, set, p.261-264, 2019.
E se pensássemos o samba por meio da filosofia? Uma análise possível? Bom, talvez estranharíamos um pouco, na medida em que parece não ser algo da alçada do pensamento filosófico como o conhecemos. Ora, provavelmente nunca diríamos algo desse gênero, se no lugar do samba estivesse a música erudita, por quê? Existiria um limite do que podemos ou não pensar filosoficamente? Alguns até argumentarão que seria possível, pouco provável, mas possível, estudar o samba, desde que fosse por meio da estética. E se quiséssemos mais? Ir mais longe? Pensar a ética pelo/no samba? Com certeza, isso não seria possível se ficássemos restritos a formação que a academia nos proporciona, aos sistemas que nos apresentam. Devemos nos questionar sobre esses sistemas: por que o grupo de autores não poderia ser expandido? Por que os temas não são ampliados? Por que temos dificuldade em encontrar uma filosofia legitimamente brasileira?
A obra organizada por Silva é precisamente uma resposta a esse modo de se fazer filosofia, que propõe considerar inclusive a forma como são construídos os sistemas, como as regras são dadas e de onde elas vêm. Ao longo dos seus onze capítulos, compostos por artigos de diversos autores, a filosofia afroperspectivista é apresentada, de forma dinâmica, séria e muito original, mesmo incômoda. Um projeto de alta magnitude como este é incômodo, não tem saída, por quê? Porque propõe repensar a forma como fazemos filosofia, indo até as origens: a filosofia é mesmo grega? A história é recomposta, o universal torna-se pluriverso, “o reconhecimento de várias possibilidades, de muitas perspectivas”1, não somente europeus, soma-se africanos, indígenas e povos ameríndios.
Por consequência, olhar o mundo por meio do afroperspectivismo, nos permite falar do samba, porque reivindica que todo o jogo seja revisto: o europeu dominava as regras, o árbitro, o campo e toda a torcida estava ao seu favor. Desse modo, continuaríamos blasfemando se cogitássemos uma filosofia brasileira, se olhássemos nossas particularidades e quiséssemos refletir sobre elas, não haveria espaço: o Brasil também é negro e indígena. Quando esquecemos isso nunca seremos originais, o jogo naquele universo é deles, entramos em campo derrotados, sem direito a questionarmos as instâncias superiores. Não obstante, e se buscássemos encontrar quem somos? Não com a intenção de que eles nos aprovassem – o que não mudaria o quadro, seria o mesmo jogo, as mesmas regras. Segundo esta compreensão, aparentemente acredita-se que a filosofia tradicional é excluída, pelo contrário, o pluriverso não a despreza, ele busca evidenciar a multiplicidade de perspectivas, de atores, de lugares de fala, isso inclui o pensamento europeu. Como demonstração é interessante observar as referências dos capítulos da obra: Nietzsche, Deleuze, Guattari, Lacan, dentre outros. A diferença é que nessa roda também são convidados: Molefi Asanti, Théophile Obenga, Mogobe Ramose, Maulana Karenga, dentre muitos outros. A partir desse panorama, seria enganoso crer que é procurada a supremacia desta filosofia, o mesmo quadro, apenas com regras novas, outro árbitro, campo e torcida. Não existe a intenção de centralização cultural, o próprio uso de uma bibliografia que inclui autores tradicionais serve como início da defesa.
Fatalmente, em torno dessa construção indenitária realizada pelo afroperspectivismo, as suspeitas são enormes, dado a dimensão dos preconceitos, as acusações serão variadas: falta de rigor e critérios, racismo às avessas, pseudofilosofia etc. Seria improfícuo responder a essas acusações, quando partem, na maioria das vezes, de um senso comum transvestido de ciência, critica-se antes de estudar, é um criticismo a priori. Por outro lado, muito proveitoso seria a dedicação à leitura da obra, pois o “rigor e critério” passam pela análise do contraditório, algo bem esquecido pelos “críticos a priori”: se embasam em informações gerais, no “ouvir falar”, sem sequer darem ao trabalho da leitura, do conhecimento da proposta, de seu estudo. O próprio receio – ou a acusação – acima referido, do estabelecimento de uma supremacia afroperspectivista, seria facilmente distanciado com a simples leitura.
Um dos primeiros aspectos que saltam aos olhos analisando a obra, consiste no enraizamento dos temas às vidas dos pesquisadores e pesquisadoras, sem que isso seja fator preponderante para suposta falta de “rigor e critério”. Todos e todas têm suas experiências com o samba, seja porque são frequentadores assíduos dos espaços onde ele é feito, seja ainda por uma vinculação afetiva. Ao contrário de ser um problema, indubitavelmente é uma virtude do trabalho.
Os onze capítulos da obra, em nossa concepção, podem ser divididos em dois grupos: I) fundamentos afroperspectivistas e do samba (capítulos de 1 a 4): nessa primeira parte os assuntos são mais extensos, abordam aspectos mais pluriversais da temática, procuram falar de origens, expondo ainda os fundamentos conceituais de toda a obra, a afroperspectividade; II) Rostos e vozes do samba (capítulos de 5 a 11): esta parte é mais restrita, na medida em que trata, em cada capítulo, de um/uma grande sambista, no qual procura-se aplicar, em análises muito originais, os conceitos e fundamentos expostos na primeira parte.
O primeiro capítulo intitulado Praças negras: territórios, rizomas e multiplicidade nas margens da Pequena África de Tia Ciata (Wallace Lopes Silva e Renato Noguera) considera o enraizamento do samba no sentido espacial (Pequena África e outras localidades), bem como seus limites originários, a saber, as relações entre o espaço, as pessoas e o samba; Sambando para não sambar, afroperspectivas filosóficas sobre musicidade do samba e a origem da filosofia é de Renato Noguera é um verdadeiro manifesto da afroperspectividade, expondo suas origens, suas múltiplas possibilidades e princípios fundadores; em Arqueologia do samba enquanto arqueologia do poder, Filipi Gradim, com referencial nietzschiano, pensa a distinção entre começo e princípio em face do advento do samba, com o escopo de entender “de onde vem o samba? Ou melhor: o que é o samba desde que o samba é o que é?”2, posteriormente analisa variáveis que compunham as manifestações na casa de Tia Ciata; no último capítulo da primeira parte, Roda de Samba “Mandala” que (en)canta o samba: um território de anunciação, Sylvia Helena de Carvalho Arcuri propõe que olhemos as rodas de samba em seu potencial espacial, simbólico e criativo, não somente no que diz respeito à arte, contudo, no plano geral da cultura, e além, no próprio pensamento: filosofar na roda de samba, com ela e sobre ela.
A segunda parte do livro é um convite para que possamos vivenciar o samba, conhecer sua poesia e seus poetas, ou ainda, seus filósofos: Noel Rosa, Wilson Batista, Dona Ivone Lara, Bezerra da Silva, Leci Brandão, Jovelina, Zeca Padodinho e Almir Guineto. O trabalho realizado pelos autores, não é simples análise das letras, é isto e muito mais. Os sambistas são mostrados por seu discurso, poética e pensamento, sem que tenhamos somente uma análise estética, em muitos momentos emerge a ética e a própria metafísica. Noel Rosa e Wilson Batista: Intensidade e cartografia na embriaguez de um andar vadio e delirante de Felipe Ribeiro Siqueira e Wallace Lopes, nos apresenta a ressignificação da figura do malandro e do próprio conceito de vagabundo; Marcelo de Mello Rangel no capítulo Dona Ivone reencanta o tempo no sonho, no amor e no samba, analisa o conceito de tempo na poética de Dona Ivone Lara, no qual permite o estabelecimento de um espaço ético que fornece ferramentas para enfrentarmos os problemas concretos da existência; Felipe Ribeiro Siqueira em Bezerra da Silva, a máquina de guerra do samba, critica o lugar subalterno da imaginação em relação à razão, abrindo caminho para pensar a obra de Bezerra da Silva, com determinante presença da política; A força de Leci Brandão de Marcelo José Derzi Moraes aduz a força da criação da sambista, que passa por um pensamento estético-político, sendo intérprete dos marginalizados e minorias; Eduardo Barbosa no seu trabalho intitulado Jovelina: pérola do espírito partideiro, realiza singela e cuidadosa homenagem à Jovelina Perola Negra; Felipe Ribeiro Cerqueira no capítulo Zeca Pagodinho e o tempo rubato, com muitos relações conceituais com o capítulo sobre Bezerra da Silva – também de sua autoria –, desenvolve o problema do tempo, segundo a poética de Zeca Pagodinho; Almir Guineto: o moralismo do samba diante dos impasses do gozo, trata do moralismo interpretado por Almir Guineto, a partir de uma análise lacaniana realizada pelo autor Guilherme Celestino.
O cuidadoso leitor e crítico poderá ter percebido que ao longo do texto, não é realizada críticas diretas nem ao afroperspectivismo, tampouco aos trabalhos contidos na obra, seria simples omissão de nossa parte? Não, ao contrário, decidimos que não as apresentaríamos, com a finalidade de que elas não tivessem mais atenção do que o convite ao estudo da obra. Afinal, para aqueles que dão de ombros para os temas aqui abordados, que estão confortáveis na forma como a filosofia é feita em geral, qualquer crítica serviria de pretexto para que ignorassem a obra, ou mesmo, argumentassem ardilosamente quanto a suposta desnecessidade de seu estudo. Nosso principal objetivo consistiu em divulgar o trabalho, fruto de inumeráveis esforços, que apresenta um caminho original para que pensemos velhos temas da filosofia tradicional. A obra também pode ser vista como excelente material para a formação de professores, visto que propõe um caminho para abordagens da disciplina na sala de aula, em ambientes no qual a “filosofia universal” pouco atinge ou não ressoa, principalmente em realidades socioeconômicas de vulnerabilidade e de risco. Os temas que esta filosofia desenvolve estão próximos dos jovens, falam diretamente do que eles vivenciam cotidianamente. Isso não nos levaria a uma proposta exclusivista de estudo da filosofia – amplamente praticada desde sempre nesses espaços, com ampla conveniência dos formadores, sem nenhum incômodo geralporém, abriria espaço mesmo para os próprios pensadores tradicionais, sem querer que o afroperspectivismo se torna apenas uma “isca”, que acabe por levar novamente aos universais.
Notas
1 SILVA, Sambo, logo penso: afroperspectivas filosóficas para pensar o samba, p. 16.
2 Ibidem, p.57.
Nilton José Sales Sávio – Mestrando em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos. Bolsista CNPq. E-mail: niltonsavio@hotmail.com
[DR]A arte de contar histórias – BENJAMIN (AF)
BENJAMIN, Walter. A arte de contar histórias. Org. Patrícia Lavelle. Trad. George Otte, Marcelo Backes e Patrícia Lavelle. São Paulo: Hedra, 2018. Resenha de: CHIARA, Jessica Di. O filósofo e o contista Walter Benjamin. Artefilosofia, Ouro Preto, n.26, jul., 2019.
Há pelo menos 50 anos o público universitário brasileiro vem entrando em contato com os textos filosóficos, os escritos críticos e ensaísticos de Walter Benjamin e as disputas interpretativas que se geraram em torno do pensamento do autor. Lido e assimilado e m diversas áreas do conhecimento, sobretudo nos cursos de filosofia, comunicação, letras, educação, história e sociologia, transcorridas mais de cinco décadas desde as primeiras abordagens, podemos dizer que já é bem sedimentada e ampla a tradição de comentadores da obra de Benjamin no Brasil.1 Contudo, mesmo em um solo fértil e produtivo, diante de uma obra estamos sempre diante de um mistério: mesmo se a lemos tantas e tantas vezes. É por esse motivo que a nova edição de reunião de escritos de Benjamin organizada por Patrícia Lavelle, “A arte de contar histórias”, contribui para a fertilidade do solo dos estudos benjaminianos por aqui. O livro inaugura a Coleção Walter Benjamin da editora Hedra, cuja intenção é somar-se às iniciativas já existentes e que s e destacam pela efetiva contribuição para o desenvolvimento da recepção da obra de Benjamin em português. Além de propor uma nova tradução anotada do ensaio clássico sobre o contador de histórias “ Der Erzähler ” (que no Brasil é amplamente conhecido pela tradução de Sérgio Paulo Rouanet como “O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”), 2 o livro reúne e nos apresenta a pouco conhecida produção ficcional de Benjamin, trazendo para o público leitor brasileiro o conjunto de seus contos, alguns inéditos em português, e algumas peças radiofônicas, além de textos híbridos.
A nova tradução do ensaio, realizada por Patrícia Lavelle e Georg Otte, é atenta às alterações e diferenças entre as versões alemã e francesa. Como a nota dos editores contextualiza e informa, a versão alemã foi escrita entre março e julho de 1936 para a revista “Orient und Ok zident”, na qual foi publicada em outubro do mesmo ano, e é provável que entre 1936 e 1939 Benjamin tenha trabalhado numa versão francesa para o mesmo ensaio, que não chegou a ser publicada, pois a revista a que se destinava o texto em francês (Europe) par ou de circular antes disso. A versão francesa seria então publicada apenas postumamente, em 1952, no “Mercure de France”.3 A escolha em traduzir “ Der Erzähler ” por “O contador de histórias” acompanha aspectos sobretudo da recepção francófona (com conteur), mas também da anglófona (com storyteller).4 Contudo, parece decisivo para a escolha da presente tradução, além da pertinência etimológica,5 o amparo biográfico: a partir do trecho de um bilhete escrito pelo próprio Benjamin em francês, em dezembro de 1939, e destinado ao filósofo alemão exilado como ele em Paris, Paul Ludwig Landsberg, que tinha consigo já a versão alemã. No bilhete, Benjamin diz, ao enviar uma cópia da versão em francês, o seguinte: “Voilà ‘le narrateur’ (mais il faudrait bien plutôt traduire: Le conteur)”. 6 Ou seja: “Eis ‘o narrador’ (mais seria preciso de preferência traduzir: O contador de histórias)”. 7 Se o próprio ensaísta em seu trabalho de tradução do alemão para o francês atesta que a palavra “ conteur ” expressa melhor ou com mais precisão aquilo que o substantivo alemão “ Erzähler ” significa no contexto do ensaio, a tradução para o português, uma língua neolatina assim como a francesa, dá crédito à intuição benjaminiana. De todo modo, não deixa de ser inusitada a relação entre o título traduzido (“ le narrateur ”) e o bilhete com a sugestão de tradução (“le conteur”), ambos assinados por Walter Benjamin, que parece ter duvidado de si mesmo após o trabalho da tradução. Mas o livro “A arte de contar histórias” não se restringe a apresentar uma nova tradução do clássico ensaio sobre o papel da arte tradicional de contar histórias, e Marcelo Backes soma-se a Lavelle e Otte no trabalho de tradução dos textos ficcionais. Este é dividido em quatro partes, que são acompanhadas de uma nota de apresentação da coleção escrita pelos editores Amon Pinho e Francisco Pinheiro Machado e de um posfácio assinado por Lavelle. A primeira parte, intitulada “Ensaio”, abriga a nova tradução do ensaio sobre o contador de histórias. Já a segunda parte, “Contos”, traz ao todo dezesseis contos escritos por Benjamin ao longo das décadas de 1920 e 1930 (com prevalência da produção na última década), em sua maioria inéditos em língua portuguesa. Na terceira parte, intitulada “O contador de histórias no rádio”, temos acesso a quatro peças radiofônicas escritas pelo autor e filósofo alemão que foram transmitidas durante a década de 1930, com exceção da peça “No minuto exato”, que teria sido publicada no Frankfurter Zeitung, em 6 de dezembro de 1934, sob o pseudônimo de Detlef Holz. A quarta e última parte do livro, de nome “Conto e crítica”, abriga quatro textos híbridos publicados em jornais. Uma tal divisão do livro poderia indicar um viés de leitura que parte da teoria sobre a arte de contar histórias para a sua aplicação em contos e peças, sugerindo para quem leia os textos ficcionais encontrar neles traços dos conceitos e reflexões que são apresentadas no ensaio de abertura. Ler assim o livro ora organizado e os escritos de Benjamin seria, melhor dizendo, não lê-lo, pois desconsidera a novidade que a leitura dos textos ficcionais benjaminianos solicita. Ao contrário, é possível ler essa proposta de organização como um caminho que vai da filosofia à literatura, de maneira a, por fim, trazer textos onde essa divisão mesmo já não faz sentido.
De tom marcadamente nostálgico e bastante crítico a ainda jovem modernidade técnica, o ensaio sobre o contador de histórias apresenta a figura arcaica, o que vale dizer aqui pré-moderna, do contador de histórias como a imagem que caracteriza um tipo de arte que carrega em sua própria forma a memória de uma organização social comunitária, em que a transmissão de experiências se organizava mediada pelo trabalho artesanal, era apreendida e transmitida a partir de um mestre e compartilhada por uma comunidade. Ou seja, a arte de contar histórias carregaria consigo, em sua forma oral (e encarnada nas figuras do ancião, do mestre ou do viajante estrangeiro), a lembrança e a potência de uma organização social pouco mediada pela técnica moderna, índice para Benjamin nesse ensaio de uma modernidade bárbara, que fragmentou, sobretudo no século XX, não só o trabalho e o processo produtivo com máquinas e linhas de produção, mas os próprios indivíduos em sua subjetividade e vida social nas grandes cidades e na experiência da Primeira Grande Guerra Mundial. Vale dizer que Benjamin também associa o declínio ou desaparecimento do contador de histórias ao surgimento de uma nova forma de arte, a do romance como gênero narrativo, que tem em “Dom Quixote” se u marco, mas que irá se desenvolver sobretudo a partir do século XVIII. A invenção da imprensa produz ainda, depois do romance, a informação, que desassocia a narrativa e dispensa o contador porque explica tudo. O contador de histórias seria aquele capaz de encontrar na riqueza da experiência transmissível a matéria de sua arte e preservar da experiência sempre algum mistério que não é totalmente dito. Contudo, Lavelle ressalta, apesar do tom nostálgico pelo diagnóstico decaído do teor da experiência media da pela técnica Benjamin, “ao evocar [com a figura do contador de histórias] o arcaísmo da narrativa que se inscreve na tradição oral […] tem o projeto de construir uma nova forma, profundamente moderna”. 8 Para a filósofa e tradutora, Benjamin não tematiza a narração tradicional apenas teoricamente (como o público brasileiro até agora tinha acesso pelos ensaios e textos críticos sobre o tema), mas também através de uma produção ficcional de contos e peças radiofônicas nos quais “as estratégias tradicionais da arte de contar histórias são mobilizadas, discutidas e ironizadas”.9 Tais procedimentos são bastante explícitos, por exemplo, em contos como “A sebe de cactos” e “O segundo eu”, em que certo efeito de choque causado pela evocação nostálgica do contado r de histórias e sua arte acontece concomitantemente à denúncia dessa mesma nostalgia através do recurso à ironia do contista moderno no modo como este se utiliza das formas narrativas tradicionais, às quais claramente está interditada a ele uma adesão substancial.10 Em “A sebe dos cactos”, por exemplo, vemos o desenrolar de uma história contada vinte anos depois de ocorrida: a do primeiro estrangeiro que chegou à ilha de Ibiza, o irlandês O’Brien. O estrangeiro, um homem experiente e viajado, antes de chegara Ibiza vivera alguns anos de sua juventude na África, e é a partir dessa experiência em outro continente e de suas consequências que o conto se desenvolve. Circulava entre os habitantes de Ibiza a história de que O’Brien havia perdido para um amigo sua única e valiosa propriedade: uma coleção de máscaras negras que havia adquirido com nativos em seus anos pelo continente africano. O amigo usurpador teria morrido em um incêndio de navio, levando consigo para sempre a tal coleção. A história era famosa entre todos os moradores da ilha, porém ninguém sabia ao certo suas fontes. Certo dia, O’Brien convidou o narrador para uma refeição e, depois de concluída a refeição, o estrangeiro decidiu-se por mostrar algo ao narrador: sua coleção de máscaras negras, exatamente a mesma que havia naufragado, segundo era sabido por todos, com o amigo desleal. O narrador nos descreve assim a cena de encontro com as máscaras:
Mas eis que ali estavam penduradas, vinte ou trinta peças, no quarto vazio, sobre parede s brancas. Eram máscaras de expressões grotescas, que revelavam sobretudo uma severidade levada ao cômico, uma recusa completamente inexorável de tudo que era desmedido. Os lábios superiores abertos, as estrias abobadadas que haviam se tornado a fenda das pálpebras e sobrancelhas pareciam expressar algo como asco infinito contra aquele que se aproximava, até mesmo contra tudo o que se aproxima, enquanto os cimos empilhados dos adorno na testa e os reforços das mechas de cabelos entrançadas se destacavam como macas que anunciavam os direitos de um poder estranho sobre aquelas feições. Para qualquer dessas máscaras que se olhasse, em lugar nenhum sua boca parecia destinada, como quer que fosse, a emitir sons; os lábios grossos e entreabertos, ou então bem cerrados, eram cancelas instaladas antes ou depois da vida, como os lábios dos embriões ou dos mortos. 11
Após a descrição, O’Brien conta ao narrador como reencontrou cada uma daquelas peças. As janelas de sua casa davam para uma sebe de cactos enorme e bastante velha e, nu m dia de lua cheia, ao tentar dormir, sua cabeça foi tomada por lembranças e pela luz da lua, o que fez com que visse, como uma aparição, penduradas na sebe de cactos, as imagens das máscaras que havia perdido. Como que tomado pelo sono e pela visão, passo u dias inteiros esculpindo as máscaras que via, e assim produziu todas aquelas que estavam na sala e que o narrador podia ver também. Ou seja, o estrangeiro havia rememorado as máscaras e, a partir de seu trabalho, reproduzido artesanalmente cada uma delas em madeira. Depois disso nunca mais o narrador do conto e o estrangeiro se viram, pois logo em seguida O’Brien morreu. Anos mais tarde, diferente da visão que fizera O’Brien esculpir uma a uma as máscaras perdidas, o que faz o narrador do conto rememorar uma tal história é ter se deparado, certo dia, com três máscaras negras numa vitrine de um comerciante de arte em Paris. O conto termina assim: “Posso”, disse eu, voltando-me para o diretor da casa, “parabenizá-lo de coração por essa aquisição incrivelmente bela?” “Vejo com prazer”, foi a resposta, “que o senhor sabe honrar a qualidade! Vejo também que o senhor é um conhecedor! As máscaras que o senhor com razão admira não são mais do que uma pequena amostra da grande coleção cuja exposição estamos preparando no momento!” “E eu poderia pensar, meu senhor, que essas máscaras certamente inspirariam nossos jovens artistas a fazer suas próprias tentativas interessantes.” “É o que eu espero, inclusive!… Aliás, se o senhor se interessar mais de perto pelo assunto, posso fazer com que cheguem até o senhor, do meu escritório, os pareceres de nossos maiores conhecedores de Haia e de Londres. O senhor haverá de ver que se trata de objetos de centenas de anos. De dois deles eu diria até que de milhares de anos.” “Ler esses pareceres de fato me interessaria muito! Eu poderia perguntar a quem pertence essa coleção?” “Ela pertence ao espólio de um irlandês. O’Brien. O senhor com certeza jamais ouviu seu nome. Ele viveu e morreu nas Ilhas Baleares.” 12 Aquele que escreve agora o conto é alguém que anda pelas ruas e galerias de uma grande cidade, a Paris do começo do século XX, e que tem a capacidade de, mesmo em meio à atenção difusa e distraída que a percepção nas grandes cidades produz, consegue transformar o choque de um encontro furtivo na rememoração de uma experiência.
O filósofo italiano Giorgio Agamben pensa, no ensaio “O que é o contemporâneo?”, que uma tal questão pode ser caracterizada por aquilo ou aquele que “mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro”, 13 e que vê esse escuro do seu tempo “como algo que lhe concerne e não cessa de interpretá-lo”.14Pensando o contemporâneo como intempestividade – retomando assim a proposta nietzschiana presente nas Considerações Intempestivas –, a exigência de “atualidade” em relação ao presente é pensada não nos termos de uma sincronicidade, mas sim de uma desencontro com este. “Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões”. 15 Essa não-coincidência entre tempo e pertencimento não significa que o homem contemporâneo, nos termos agambenianos, seja um nostálgico. Pelo contrário, um homem pode não concordar com os rumos de seu tempo e saber que lhe pertence irrevogavelmente, sendo o caráter contemporâneo pensado aqui como uma singular relação com o próprio tempo. Esse parece ser o caso dos escritos teóricos e ficcionais de Benjamin presentes no livro “A arte de contar histórias”. Seus contos, como podemos ler na cena que encerra “A sebe de cactos”, abordam ao mesmo tempo em que parecem promover uma relação entre o arcaico e o moderno que talvez seja da ordem de “um compromisso secreto”, como nos diz Agamben, “e não tanto porque as formas mais arcaicas parecem exercitar sobre o presente um fascínio particular quanto porque a chave do moderno está escondida no imemorial e no pré-histórico”. 16 A reelaboração dos objetos rituais africanos na pintura cubista de Pablo Picasso, marcada então pelo que veio a se chamar primitivismo, encontra afinidades com a fragmentação dos corpos mutilados pelas máquinas de guerra, frutos da civilização técnica. As vanguardas da primeira metade do século XX irão produzir, assim, uma nova forma de arte que circula em galerias mundialmente, e que pode ter sido exposta pela primeira vez em alguma galeria parisiense como aquela que o narrador de “A sebe de cactos” passeia. Aprendemos também com o contista Walter Benjamin a pensar não a partir de dicotomias, mas sim por imagens dialéticas: a modernidade técnica e sua relação tensa com a tradição como aquilo que pode condenar e salvar o destino dos homens e das civilizações.
Notas
1 Sobre a recepção de Benjamin no Brasil Cf., por exemplo, PRESSLER, Günter Karl. Benjamin, Brasil. A recepção de Walter Benjamin, de 1960 a 2005. Um estudo sobre a formação da intelectualidade brasileira. São Paulo: AnnaBlume, 2006.
2 BENJAMIN, W. “O narrador. Considerações sobre a obra de Nicolai Leskov”. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras escolhidas, vol. 1).
3 Cf. a nota editorial presente em BENJAMIN, Walter. A arte de contar histórias. São Paulo: Hedra, 2018, p. 19.
4 Cf. PINHO, A.; Pinho MACHADO, F. P. “Sobre a Coleção Walter Benjamin” In: BENJAMIN, Walter. A arte de contar histórias. São Paulo: Hedra, 2018, p. 13.
5 O verbo zählen em alemão significa “contar”, no sentido de “fazer conta”, “enumerar”, e há uma gama de termos ligados ao verbo que engendram um campo semântico próprio ao universo contabilístico. Em relação ao mesmo campo semântico do verbo zählen deriva o verbo erzhälen, que também significa contar, contudo, por meio de palavras, no sentido de relatar um enredo ou uma história. De onde, por fim o sentido de “Erzähler” como contador de histórias.
6 Conforme indicação da nota dos editores “Sobre a Coleção Walter Benjamin”, Cf. BENJAMIN, Walter. Gesammelte Briefe, vol. VI. Edição de Christoph Gödde e Henri Lonitz. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2000, p. 367.
7 Cf. PINHO, A.; MACHADO, F. P. Op. cit., p. 13
8 LAVELLE, Patrícia. “O crítico e o conta dor de histórias” In: BENJAMIN, Walter. Op. cit., p. 267.
9 Id.
10 Ver LUNAY, M a r c. “ P r e f a c e ”. I n: B E NJA M I N, Walter. N’oublie pas le meilleur et autres histoires et récits. Apud LAVELLE, Patrícia. Op. cit., p. 267.
11 BENJAMIN, Walter. “A sebe dos cactos”. In: A arte de contar histórias. Op. cit., pp. 85-86.
12 Ibid, pp. 89-90.
13 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Trad. Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009, p. 62.
14 Ibid., p. 64.
15 Ibid., pp. 58-59.
16 Ibid., p. 70.
Referências
AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Trad. Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009, p. 57.
BENJAMIN, Walter. A arte de contar histórias. Org. Patrícia Lavelle. Trad. George Otte, Marcelo Backes e Patrícia Lavelle. São Paulo: Hedra, 2018.
__________. Gesammelte Briefe, vol. VI. Edição de Christoph Gö dde e Henri Lonitz. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2000.
__________. N’oublie pas le meilleur et autres histoires et récits. Trad. Marc de Launay. Paris: L’Herne, 2012.
PRESSLER, Günter Karl. Benjamin, Brasil. A recepção de Walter Benjamin, de 1960 a 2005. Um estudo sobre a formação da intelectualidade brasileira. São Paulo: AnnaBlume, 2006.
Jessica Di Chiara-Possui Graduação (2015) e Mestrado (2018) em Filosofia pela Universidade Federal Fluminense e atualmente é doutoranda em Filosofia pela PUC-Rio. É autora de artigos publicados em livros e revistas acadêmicas, estudando a relação entre pensamento e forma sobretudo a partir da filosofia de Theodor W. Adorno. Também atua como curadora no coletivo A MESA, que promove exposições em galeria própria no Morro da Conceição, Rio de Janeiro. Integrante do grupo de pesquisa Arte, Autonomia e Política, da PUC-Rio. E-mail: jessica.dichiara@gmail.com
A aventura – AGAMBEN (SO)
AGAMBEN, Giorgio. A aventura. Tradução de Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 2018. Resenha de: PROVINCIATTO, Luís Gabriel. Sofia, Vitória, v.8, n.2, p.232-236, jul./dez., 2019.
A tradução das obras de Giorgio Agamben (1942) para o idioma português é significativa para o avanço dos estudos acerca do pensamento desse filósofo contemporâneo que se põe a discutir temas de filosofia, religião, política, direito, economia, cultura. A diversidade temática, característica que perpassa as obras de Agamben, implica possíveis diferentes matizes através das quais se pode aproximar e abordar suas obras: elas não são um domínio exclusivo da filosofia, sendo discutidas também pelas ciências sociais e pelos braços que delas derivam, pela ciência da religião e pela teologia, pela ciência política e pelo direito. Isso é possível porque o conteúdo trazido por Agamben está vinculado à interpretação dos problemas contemporâneos, que, por sua vez, exigem distintas abordagens para que sejam compreendidos em sua integralidade. A aventura ( L’avventura ), obra originalmente publicada na Itália em 2015, não foge a essa caracterização geral.
Trazendo como tema central a aventura, a obra está organizada em cinco capítulos, seguidos de um posfácio, próprio da tradução brasileira, assinado por Davi Pessoa. Aventurar-se : esse é o título do posfácio, que, de acordo com nossa perspectiva, deveria ser a primeira parte da obra a ser lida por dois motivos. Primeiro, ele situa o leitor quanto à arqueologia, método muito caro a Agamben e utilizado pelo autor em uma perspectiva particular. A adequada compreensão da metodologia de investigação implica uma leitura menos propensa a equívocos interpretativos e, além disso, mostra que o método arqueológico não é utilizado na investigação do passado pelo passado, pois para o filósofo importa fazer confluir passado e presente. Conforme indica Pessoa, é preciso “saber viver o embate entre presente e passado para desativar as amarras do chronos , produzindo uma transformação por dentro da temporalidade linear através do uso errático do anacronismo” (PESSOA, 2018, p. 70). Segundo, o posfácio mostra que A aventura não é uma obra sobre um tema aleatório: justifica-se a realização de uma arqueologia da aventura no contexto das investigações de Agamben já publicadas. Esse é outro mérito do posfácio: trazer, mesmo que brevemente, outras obras de Agamben para mostrar a relevância de uma abordagem sobre o tema da aventura. Aí são citadas Signatura rerum: sobre o método (Boitempo, 2019), Ideia da prosa (Autêntica, 2012) e Infância e história: destruição da experiência e origem da história (Ed. UFMG, 2012). O posfácio ainda faz notar que ao tema da aventura está implícito o da história e o da linguagem, logo, o do surgimento do homem enquanto ser falante e histórico. Ao tema da aventura, então, está vinculado o da antropogênese, que, por sua vez, interessa a cada humano particularmente, pois diz respeito à sua condição de vivente. O posfácio, assim, traz e faz uma adequada introdução à obra no contexto que lhe é próprio.
Demônio : esse é o título do primeiro capítulo. Conforme indica a nota de tradução, o termo original utilizado por Agamben é demone , que, em italiano, guarda uma relação com o termo grego daímon . Note-se, então: a relação aqui pretendida é com a tradição grega e com o significado de daímon , que denota o caráter divino (transcendente) de um chamamento, tal qual acontece com Sócrates, por exemplo. Mantendo essa relação com um aspecto divino/transcendente, Agamben inicia sua obra fazendo menção às Saturnais de Macróbio e para o fato de que nelas se narra um banquete onde uma das personagens atribui aos egípcios a crença de que o nascimento de cada homem é presidido por quatro divindades: Daimon (Demônio), Tyche (Sorte), Eros (Amor) e Ananche (Necessidade). Cada homem, em vida, deve pagar o seu tributo a cada uma dessas divindades e “o modo como cada um se mantém em relação com essas potências define a sua ética” (AGAMBEN, 2018, p. 12). É a essas divindades que Goethe, em Palavras originárias ( Urworte ) (1817), tenta pagar seu débito, acrescentando-lhes uma quinta: Elpis (Esperança). A leitura aí realizada por Agamben mostra que Goethe paga seu tributo somente a uma divindade, Daimon . O poeta tem consciência de sua fuga frente à responsabilidade de pagar tributo a cada uma das divindades e, por isso, acrescenta uma quinta, Elpis , que, de acordo com Agamben, nada mais é do que um disfarce de Daimon . Assim, Goethe mantém-se fiel a uma única divindade e espera dela a salvação. O capítulo se conclui com uma citação a um aforismo de Hipócrates no qual se encontram cinco palavras-chave: vida ( bios ), arte ( techne ), ocasião ( kairos ), experiência ( peira ) e juízo ( krisis ). De acordo com Agamben, essas cinco palavras guardam uma “secreta correspondência” com as divindades de Macróbio e Goethe. Aí está em “jogo a breve aventura da vida humana” (AGAMBEN, 2018, p. 23).
Aventure (em francês): esse é o título do segundo capítulo. Aqui Agamben recorre à literatura trovadoresca para falar da aventura, o que torna A aventura próxima de uma das primeiras publicações de Agamben, Estâncias: a palavra e o fantasma na cultura ocidental (Ed. UFMG, 2007). Tal proximidade se nota, sobretudo, pela lida com obras de poetas trovadores, revelando, assim, sua importância para o pensamento de Agamben como um todo. É nesse capítulo que se inicia propriamente uma arqueologia da aventura. Trata-se, porém, não de uma arqueologia cronológica, mas kairológica, pois o que interessa ao autor é ir em direção à origem da palavra na condição de evento. Para tanto, importa compreender duas identificações realizadas ao longo do capítulo. A primeira é entre cavaleiro e poeta: a procura daquele por aventura é a mesma deste. O poeta, assim, narra-se no poema. Dessa maneira, não é possível pensar a aventura sem pensar na implicação de um “eu”. Não se trata, porém, de tomar a aventura como um objeto contraposto ao sujeito: não há antecedência de um ou outro aqui, tampouco a identificação do “eu” com um “sujeito”. A partir dessa primeira identificação, Agamben afirma: “a aventura é para o cavaleiro [logo, para o poeta] tanto encontro com o mundo quanto encontro consigo mesmo e, por isso, fonte ao mesmo tempo de desejo e de espanto” (AGAMBEN, 2018, p. 29). A segunda identificação é entre evento e narração: o que se escreve é a narrativa, mas esta coincide com a aventura histórica, de tal modo que “aventura e palavra, vida e linguagem se confundem” (AGAMBEN, 2018, p. 32).
É com o exemplo de um poema de Maria de França que Agamben prossegue a arqueologia kairológica da aventura. O que aí surge em palavra é aventura e, ao mesmo tempo, verdade: verdade não no sentido apofântico da lógica, isto é, como coincidência entre evento e narrativa, mas verdade como advir. Assim, “aventura e verdade são indiscerníveis, porque a verdade advém e a aventura não é senão o advir da verdade” (AGAMBEN, 2018, p. 34). Outro exemplo por ele utilizado é o da identificação da aventura com uma mulher, Frau Âventiure : aqui a intenção de Agamben é fazer notar que a aventura não é algo que preexiste à história narrada. A aventura é a narrativa e está viva nela e através dela, sendo, por isso, o próprio evento da palavra. Se há uma identificação notável entre evento e narrativa, então a aventura não pode ser somente um termo poetológico, mas deve também possuir um significado ontológico: “se o ser é a dimensão que se abre para os homens no evento antropogênico da linguagem, se o ser é sempre algo que ‘se diz’, então a aventura tem certamente a ver com uma determinada experiência do ser” (AGAMBEN, 2018, p. 38). O final do segundo capítulo aponta para uma interlocução com o filósofo alemão Martin Heidegger que será levada a cabo no quarto capítulo.
O terceiro capítulo — Eros — inicia-se com uma advertência: antes de tentar definir essa experiência do ser, deve-se “limpar o terreno das concepções modernas da aventura, que correm o risco de obstruir o acesso ao significado originário do termo” (AGAMBEN, 2018, p. 39). Essa advertência servirá de guia para os apontamentos críticos que Agamben irá fazer a respeito da concepção de aventura de Hegel, Georg Simmel e Oskar Becker, tidas por ele como concepções modernas, nas quais se encontra “a ideia de que ela [a aventura] seja algo estranho — e, portanto, excêntrico e extravagante — com relação à vida ordinária” (AGAMBEN, 2018, p. 41). O capítulo se encerra com uma crítica a Dante Alighieri: para este autor do medievo a vida do homem não é algo como uma aventura. Isso, de acordo com Agamben, significa uma traição consciente do sentido próprio do termo no período medieval, ou seja, ao não utilizar a aventura para narrar as experiências vividas pelos cavaleiros, Dante está afirmando que a vida não é tal qual a aventura. É a isso que Agamben se contrapõe, mostrando, assim, que a sua concepção é mais próxima dos poemas dos trovadores, onde há identificação de vida e aventura, do que dos modernos, onde a aventura é algo excêntrico.
O quarto capítulo — Evento — é onde Agamben apresenta a sua ideia do que seja aventura. Deve-se notar aqui a importância do segundo capítulo para que o quarto seja bem compreendido: estando mais próxima da concepção de aventura das trovas medievais, a ideia de aventura agambeniana não se identifica com elas, porém. Os apontamentos críticos do terceiro capítulo servem de baliza para a posição assumida por Agamben: nem medieval, nem moderna, mas em diálogo com ambas. Para compreender a sua posição é preciso estar atento a dois pontos característicos desse capítulo. Primeiro: a aventura sempre se dirige a um quem , que, por sua vez, não preexiste à aventura como um sujeito. Para Agamben, a aventura é o que se subjetiviza. Disso decorre a afirmação de que “eu”, “tu”, “aqui” e “agora” são categorias de locução e não categorias lexicais, isto é, são categorias que não podem assumir/possuir uma definição prévia definitiva. O evento, assim, é sempre evento de linguagem e a aventura se torna indissociável da palavra que a anuncia. Há, de fato, uma proximidade entre evento, aventura e linguagem. Por isso, a aventura/evento não exige uma decisão/escolha, logo, nela não há um problema de liberdade. É só assim que o vivente pode se apropriar do evento, ou melhor, ser apropriado por ele. Essa é uma tese que Agamben busca em Heidegger, seu principal interlocutor nesse momento da obra: o homem não possui a linguagem, mas a linguagem o possui. O homem serve-lhe de morada. A interlocução com Heidegger é o segundo ponto característico desse capítulo. Afirmando a ocorrência simultânea de apropriação de ser e homem que acontece no evento/aventura, Agamben coloca em questão o tornar-se humano do homem vivente: “o vivente se torna humano no instante e na medida em que o ser lhe advém” (AGAMBEN, 2018, p. 57). O evento/aventura é antropogênico e ontogênico, pois nele coincide o tornar-se falante do homem com o advento do ser à palavra e da palavra ao ser. Há aí uma analogia entre aventura e Ereignis , termo chave do pensamento tardio de Heidegger. Agamben, na verdade, chega a sugerir que a tradução mais adequada de Ereignis é aventura, deflagrando, com isso, seu aspecto ontológico.
A aventura tem a ver, então, com um vivente tornar-se humano, isto é, falante, o que guarda relação direta com duas obras de Agamben, a saber, O aberto: o homem e o animal (Civilização Brasileira, 2017), na qual o que está em jogo é como o homem se diferencia do animal, e Ideia da prosa (Autêntica, 2012), na qual o tema central é a linguagem e a sua indissociabilidade do pensamento. Descobre-se, desse modo, o que está em causa em A aventura : o evento antropogênico, que, em si, “não tem história e é, como tal, inapreensível” (AGAMBEN, 2018, p. 60). Esse é o principal resultado da arqueologia kairológica: como não pode ser definido definitivamente, o evento antropogênico (e ontogênico) é sem história .
Elpis : esse é o título do quinto capítulo. Aqui o autor volta a falar do significado de Demônio e, com isso, regressa ao ponto inicial da obra, fechando-a tal qual um círculo. Já não fala mais de Goethe, mas o exemplo lá utilizado pode ser aqui percebido nas entrelinhas. Por isso, interessa entender a importância do manter-se fiel ao demônio: “o demônio é a nova criatura que as nossas obras e a nossa forma de vida colocam no lugar do indivíduo que acreditávamos ser segundo nossos documentos de identidade” (AGAMBEN, 2018, p. 62). Daí a importância de Goethe: a vida poética é aquela que se encontra como tal e, com isso, rompe com uma pseudo-identidade. “Isso significa que ao demônio pertence constitutivamente o momento da despedida — que, no momento em que o encontramos, devemos nos separar de nós mesmos” (AGAMBEN, 2018, p. 62). No limite, o exemplo inicial de Goethe orienta toda a reflexão de Agamben. O demônio não é um deus, mas semideus, isto é, sempre possibilidade, potência, e nunca atualidade do divino. A potência que regenera, ou seja, liga-rompendo, é Eros , amor, à qual está ligada a esperança, Elpis , trazida por Goethe como a quinta divindade, mas que, na verdade, se mostra como uma outra face do Demônio .
Desse modo, em A aventura, o que está em causa para Agamben não é a mera arqueologia de um termo, abordando-o desde uma perspectiva que faz implicar filosofia e literatura. Ao realizar uma arqueologia da aventura, Agamben traz à tona uma nuance específica do evento antropogênico e ontogênico do tornar-se humano: o fato dele ser sem história . Desde nossa perspectiva, esse é o ponto culminante do texto e, justamente por isso, tem-se, a partir dele, uma chave de leitura muito interessante fornecida pelo próprio Agamben contra concepções historicistas que se acercam de sua obra. Por fim, recomenda-se a leitura de A aventura , pois somente assim o leitor ficará a par da complexidade e da qualidade da discussão aí trazida por Agamben.
Luís Gabriel Provinciatto – Doutorando em Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Brasil. E-mail: lgprovinciatto@hotmail.com
[DR]
Women in Sciences: Historiography of Science and History of Science – on the Work of Women in Sciences and Philosophy | Transversal | 2019
Women’s participation in the advancement of science and the discussions of philosophical issues have a long history. In fact, their participation in the production of knowledge is as old as mankind itself, or in order to avoid the generic use of “man” and to use gender-neutral language, it would better to say that it is as old as humanity itself.
In 1690, Gilles Ménage published the first-ever history of women philosophers, Historia mulierum philosopharum (History of women philosophers), which provides an account of 65 female philosophers from the past 2,500 years. The Paris intellectual, Ménage, advocated for the appointment of women to the Académie française, arguing that their contribution had greatly enriched science and philosophy. Nearly 100 years later, in 1775, Christian August Wichmann wrote the German encyclopedia entitled Geschichte berühmter Frauenzimmer (History of famous women). Leia Mais
Debates feministas. Um intercâmbio filosófico – BENHABIB et al (REF)
BENHABIB, Seyla; BUTLER, Judith; CORNELL, Drucilla; FRASER, Nancy. Debates feministas. Um intercâmbio filosófico. Trad. de Fernanda Veríssimo, São Paulo: Editora Unesp, 2018. Resenha de: SANTOS, Patrícia da Silva. Feminismo, filosofia e teoria social: mulheres em debate. Revista Estududos Feministas, Florianópolis, v.27, n.3 2019.
O discurso filosófico e teórico nas sociedades ocidentais estabeleceu-se, por muito tempo, como território predominantemente masculino. O debate acerca da boa vida e as concepções em torno de suas instituições subjacentes à filosofia e à teoria social eram, até há pouco, protagonizados por homens que se apresentavam como as vozes “neutras” e “objetivas” de nossas formulações teóricas. O que acontece quando quatro feministas se reúnem para debater suas questões em profundo diálogo com algumas das mais relevantes tendências teóricas contemporâneas – como a teoria crítica, o pós-estruturalismo e a psicanálise? É claro que não se poderia exigir dessa empreitada a homogeneidade e o consenso próprios da suposta “universalidade” com que se disfarçou a moderna racionalidade ocidental.
Debates feministas, publicado originalmente no início dos anos 1990 e só agora disponível em edição brasileira, não é somente um livro sobre teoria feminista (uma das lições implícitas é justamente a impossibilidade de se pensar tal concepção no singular). É um testemunho de que o abalo geral provocado pelo pensamento contemporâneo em concepções basilares como identidade, normas e cultura exige que sejam autorizados sujeitos de discurso até então silenciados para que a filosofia e a teoria social se dispam da falsa neutralidade e incorporem os ruídos do não-idêntico, da subversão e da diferença. Em seus debates, Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell e Nancy Fraser buscam apontar o lugar dos discursos feministas nessa tarefa de reelaboração do pensamento filosófico e teórico – as quatro pensadoras já apareciam, juntamente a outras, em volume publicado no Brasil há um bom tempo (Seyla BENHABIB; Drucilla CORNELL, 1987). Leia Mais
Deleuze hermético: filosofía y prueba espiritual – RAMEY (C)
RAMEY, J. Deleuze hermético: filosofía y prueba espiritual. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2016. Resenha de: MOSQUERA, Óscar Emerson Zuñiga. Conjectura, Caxias do Sul, v. 24, p. 202-207 2019.
A obra de Joshua Ramey – Deleuze hermético: filosofía y prueba espiritual – publicada em 2016 pela editora Las Cuarenta traz uma relevante contribuição aos estudos de filosofia da educação no Brasil. O livro é para professores e pesquisadores interessados em se aprofundar tanto nos estudos espirituais como na obra de Deleuze, toda vez que as referências espirituais do “filósofo da diferença” foram tratadas como algo acidental no conjunto de suas obras. Em relação ao autor, Joshua Ramey é Doutor em Filosofia pela Villanova University, e suas pesquisas se centram na Filosofia contemporânea, incluindo tópicos como: teoria social crítica, economia política e teologia política. Além do livro que aqui apresentamos, recentemente, publicou Politics of divination: neoliberal endgame and the religion of contingency (2016), além de vários artigos sobre filósofos contemporâneos.
Sem dúvida, Ramey consegue estruturar uma leitura séria e rigorosa da obra deleuziana. Trata-se de uma abordagem heterodoxa em relação aos estudos e usos da obra de Deleuze, especialmente no Brasil, tal como se evidencia em recente coleção sobre o autor intitulada Deleuze, desconstrução e alteridade (CORREIA; HADDOCK-LOBO; SILVA, 2017) ou em obras de destacado valor para estudos deleuzianos no País vinculados à educação (GALLO, 2011), nos quais termos como espiritualidade, hermetismo e Ramey não são mencionados. Igualmente, essa leitura subversiva de Deleuze não está presente no campo dos estudos espirituais, conforme trabalhos importantes nessa temática foram revisitados em Röhr (2013). Isso posto, a leitura hermética do corpus deleuziano possibilita uma convincente interconexão entre aspectos como natureza, política, ontologia e ética. Leia Mais
Filosofia do cuidado – MORTARI (C)
MORTARI, Luigina. Filosofia do cuidado. Tradução de Dilson Daldoce Junior. São Paulo: Paulus, 2018. Resenha de: PROVINCIATTO, Gabriel Luís. Conjectura, Caxias do Sul, v. 24, p. 196-201, 2019.
Filosofia do cuidado é o segundo título da coleção Mundo da vida, inaugurada com a obra: Edmund Husserl: pensar Deus, crer em Deus (2016), da filósofa italiana Angela Ales Bello. A obra aqui apresentada caracteriza-se, sobretudo, pela abordagem de um tema específico, já exposto no título: o cuidado. Luigina Mortari, na verdade, já dedicou outras obras a essa temática, entre elas: A prática de cuidar (La pratica dell’aver cura) (2006), Cuidar de si mesmo (Aver cura di sé) (2009), Cuidar da vida da mente (Aver cura della vita della mente) (2013) e, mais recentemente, Filosofia do cuidado (Filosofia della cura) (2015). O principal ponto da obra (agora traduzida ao português) é o enfoque ético dado pela autora à dimensão filosófica do cuidado. A dimensão ética, porém, não é colocada de chofre como algo simplesmente dado ou como um pressuposto necessário a um mínimo entendimento da obra. Uma das intenções de Mortari é justificar por que o cuidado tem uma estreita ligação com a ética e, para tanto, propõe-se a construir um caminho ao longo da obra.
A estrutura da obra ajuda a compreender três aspectos cruciais: o ponto de partida teórico, a metodologia utilizada e os resultados alcançados. Há quatro capítulos: “Razões ontológicas do cuidado”, “A essência de um bom cuidado”, “O núcleo ético do cuidado” e “O concretizar-se da essência do cuidado”. O primeiro esclarece o ponto de partida teórico: aí a autora já sinaliza à relação entre ontologia e ética, bem como à importância da abordagem fenomenológica desse tema. Nesse sentido, uma ontologia do cuidado é devidamente justificada a partir de Ser e tempo (1927), de Martin Heidegger (1889-1976), à qual se somam outros dois pensadores fundamentais à continuidade do texto: Edith Stein (1891-1942) e Emmanuel Lévinas (1906-1995). O segundo capítulo, por sua vez, dá conta da questão metodológica, justificando o uso da fenomenologia como guia da pesquisa; novamente a autora se aproxima de Heidegger e traz também algumas contribuições de Husserl. Não se trata, porém, de uma mescla entre concepções distintas do que seja a fenomenologia, mas de mostrar sua relevância como método. A correlação eminente entre os dois primeiros capítulos vem à tona no terceiro: nele, de fato, a autora mostra como se desdobra essa relação entre ontologia e ética, como a fenomenologia está presente na adequada abordagem prática do cuidado e como a dimensão do cuidado é eticamente relevante ao estar em estreita sintonia com o paradigma filosófico da busca ideal do bem e de sua concretização. O quarto capítulo, muito próximo dos resultados apresentados no terceiro, mostra algumas diretrizes fundamentais à realização cotidiana do cuidado, tendo como perspectiva o paradigma ético do bem. Lá ainda são retomadas as perspectivas iniciais às quais se somam as concretizações possíveis de uma ética do cuidado. Leia Mais
Amantes rivales. Sobre la filosofía. Diálogo pseudo – platónico – GARDELLA; VECCHIO (RA)
GARDELLA, M.; VECCHIO, A. (Coords.). Amantes rivales. Sobre la filosofía. Diálogo pseudo – platónico. Buenos Aires: Teseo, 2017. Resenha de: NEMBROT, Milena Azul Lozano. Revista Archai, Brasília, n.26, p. 1-10, 2019
Desde los griegos, y probablemente a causa de ellos, hay ciertos problemas fundamentales que nunca se agotan: desde qué es la filosofía y cuál es su función, quién debe ser el encargado de gobernar y bajo qué criterios debe elegirse, hasta cómo hacer frente a los impulsos del amor. Todos estos variados temas hacen aparición en el pequeño diálogo “pseudo platónico” aquí traducido como Amantes rivales. El hecho de retomar esta obra mayormente dejada de lado por la crítica por considerarla inauténtica -, tal como muestra la presente traducción comentada, provee material valioso para el debate de la filosofía en general, y especialmente dentro del marco de los estudios socráticos, ya que es un pr eciado testimonio del género del diálogo socrático como medio fructífero para la transmisión de la filosofía.
El presente libro es un trabajo colectivo, realizado por un equipo de traductores y traductoras: Lucas Donegana, Alejandro M. Gutierrez y Lucas L. Valle, y Mariana Gardella y Ariel Vecchio, como coordinadores generales del proyecto. Este se ha realizado en el marco de Interpres, Programa de práctica y estudio de la traducción dependiente de la Universidad Nacional de San Martín (San Martín, Buenos A ires, Argentina). La pluralidad de voces se observa en los apartados del estudio preliminar, escritos por los distintos integrantes, así como en la elaboración de las notas al pie todo esto bien especificado en la “Advertencia”-. Es importante destacar la labor en conjunto de esta obra, ya que, en consonancia con la elección de traducir un diálogo “apócrifo”de Platón, es una actitud innovadora, que desdibuja la noción moderna de autor y coloca el foco no en la personalidad individual, sino en los problema s filosóficos tratados. Esto no solo plantea un método de trabajo novedoso, sino una nueva manera de pensar y de hacer filosofía, más cercana posiblemente a la forma en que la concebían los antiguos.
El libro consta de una introducción con nueve apartados, a cargo de los distintos integrantes del equipo, y luego la traducción del diálogo, dividida en secciones temáticas que organizan la narración, complementada con notas al pie de página que proveen aclaraciones de ciertos términos griegos, así como de pers onajes y conceptos.
Los primeros tres apartados de la introducción forman una unidad temática y están a cargo de Mariana Gardella, quien expone el lugar del diálogo en la obra platónica, las distintas interpretaciones sobre el tema y la postura que adoptan los autores de este libro frente a estas problemáticas. En el primero, “Sobre el corpus de diálogos dudosos y apócrifos”, la autora hace un repaso por el corpus platonicum y sus principales ediciones, y por las obras cuya autoría ha sido puesta en cuestió n. Pero lo que principalmente se cuestiona aquí es el uso de adjetivos como “dudoso”y “apócrifo”, relevando argumentos expuestos por especialistas como Thesleff (1989), Annas (1985) y Brisson (2014). Respecto de la autoría del diálogo, la presente obra se alinea con la propuesta de este último que considera que los diálogos apócrifos de Platón constituyen un valioso corpus de diálogos socráticos, que permiten forjar una nueva mirada sobre el personaje de Sócrates. Por tanto, no deben ser desestimados ya qu e posibilitan la reconstrucción de distintas versiones de su pensamiento.
Continuando esta propuesta de trabajo, el siguiente apartado, “Los diálogos dudosos y apócrifos y los diálogos socráticos”, especifica sobre el género del diálogo socrático y su cont exto de aparición como respuesta de los discípulos de Sócrates frente a la muerte de su maestro y las acusaciones contra él. A partir de este análisis, se muestra que lo interesante no es probar si ciertos diálogos como este han sido escritos por Platón o no, sino más bien “destacar que constituyen una valiosa prueba que permite mostrar la importancia del género del diálogo socrático como vehículo para la expresión de ideas filosóficas”(p. 29).
Luego, en “Amantes rivales: título, autoría y datación”, en pr imer lugar, Gardella justifica la elección del título. Frente a Amantes (erastai), título transmitido por la totalidad de los manuscritos, los autores prefirieron Amantes rivales (anterastai), anotado en el margen del manuscrito Bodleianus MS. E. D. Clarke 39 y citado por Diógenes Laercio, la fuente más antigua. Aquí se alejan de las otras traducciones al español. 1 También se explica la elección del subtítulo, Sobre la filosofía, que refleja a la perfección el tema tratado, “la pregunta por la definición de la filosofía y su relación con otras técnicas”(p. 31), mientras que el título se refiere a las relaciones entre los personajes, tema desarrollado en el siguiente apartado. En segundo lugar, frente a la debilidad de los argumentos en contra de la autenticidad del diálogo, pero también frente a la falta de razones para defenderla, los autores adoptan una posición escéptica: puede haber sido un diálogo de Platón, de algún discípu lo de la Academia, o de algún intelectual inmerso en las discusiones filosóficas del siglo IV a. C. De esta manera, es colocado en primer plano el contenido filosófico del diálogo, que no muestra el retrato de una personalidad individual, sino de una época. Vemos aquí la herencia de una corriente desarrollada recientemente en Argentina, a partir del método “Zonas de Tensión Dialógica”creado por Claudia Mársico (2010), y continuado por otros como la misma Gardella, que propone analizar la riqueza de ciertas áreas problemáticas de una época y las discusiones que allí se generan, para tener una mirada más completa de los problemas filosóficos.
El siguiente capítulo se encuentra a cargo de Lucas L. Valle y se titula “Escenario y personajes”. El autor analiza aq uí la locación y el contexto dramático de la obra, comparándolos con otros diálogos platónicos (Lisis y Cármides) y con referencias externas al círculo socrático como Aristófanes. Para una mejor comprensión de la dramaturgia de la obra, donde lo central es la relación agonística entre dos amantes para conquistar a su amado, el autor realiza unas observaciones generales sobre las relaciones homoeróticas entre los varones griegos, los conceptos de erastes (amante) y eromenos (amado) y los roles que jugaban de ntro de la relación, así como su importancia para la sociedad griega. En pocas páginas, Valle realiza un completo relevamiento de las interpretaciones actuales sobre el tema de la homosexualidad u homoerotismo en la Grecia Antigua, desde las visiones más c anónicas de Dover (1989 [1978]) hasta las críticas que se le han hecho en este último siglo. También se examinan aquí las profesiones que encarnan los personajes de los dos amantes, la gimnasia y música, fundamentales en la educación griega.
A continuación, Lucas Dodegana en “Rasgos estilísticos”destaca la importancia del estilo y de la lengua utilizados en la obra para la comprensión de su contenido. A la manera del Banquete platónico, nos encontramos frente a un diálogo de estilo indirecto o narrado, en donde Sócrates relata a un interlocutor desconocido por el lector las conversaciones que tuvo con el músico y el gimnasta, lo cual enfatiza los rasgos de oralidad, y la variedad y complejidad de las construcciones gramaticales. Detalladamente el autor subraya ciertas características del uso de la lengua griega utilizada, y su relación con los conceptos dramáticos y filosóficos que allí se tratan. Como el título elegido lo indica, el hilo conductor del diálogo es la rivalidad, eris, que se refleja tanto en l a relación entre los amantes como en su contenido, que es clasificado cuidadosamente en pares conceptuales en oposición.
Ariel Vecchio se encarga de la “Organización del diálogo”(sexto apartado), que los autores han dividido para una mejor comprensión de la lectura, en un Prólogo (132a c); una Sección central (132d 136e), a su vez fraccionada en las tres conversaciones de Sócrates con el músico, con el gimnasta y nuevamente con el músico -; y finalmente el Epílogo (138d 139a). A continuación, Vecchio reali za un “Resumen y análisis de los problemas centrales”de la obra, utilizando el contenido conceptual y también la dramaturgia para el análisis del desarrollo del diálogo. El autor muestra cómo desde el comienzo los detalles dramáticos y la terminología del prólogo anticipan el tema central del diálogo, la definición de la filosofía. Debidamente destaca que este debate no es solo teórico, sino que también tiene una fuerte influencia en la esfera práctica, proyección característica del llamado “intelectualism o socrático”. Por ello es que la filosofía no es referida por Sócrates como una disciplina, sino como la actividad y el ejercicio concreto del filosofar. A partir de aquí se relata clara y detalladamente el desarrollo narrativo y las problemáticas tratadas en las distintas conversaciones de Sócrates con el músico y el gimnasta, en donde se proponen dos definiciones de la filosofía que Sócrates refutará a partir de su método característico basado en preguntas y respuestas.
Aunque el próximo apartado se ocupa rá específicamente de la relación con la filosofía de Platón, aquí también encontramos interesantes referencias a problemas típicamente platónicos y socráticos tratados en el diálogo. Sobre todo en la parte final, en donde, a partir de la última definición de la filosofía que propone el músico, se procede a un tratamiento de la justicia (dikaiosyne) y la moderación (sophros yne), virtudes aquí igualadas. Se desarrollan temas propios de la figura de Sócrates como la unidad de las virtudes y la relación entre el conocimiento de los otros y el autoconocimiento. El autor clarifica y explica estos conceptos a partir de la noción de sophrosyne de los griegos, tomando como base la interpretación de Annas autora utilizada como referencia en varias ocasiones en el li bro -. Según esta visión, Amantes rivales apoyaría una interpretación intersubjetiva de la soprhosyne, entendida como conocimiento de sí, en el sentido específico de la comprensión del lugar que debe cumplir uno en la sociedad. Esto hace que el conocimiento de sí y el de los otros estén profundamente unidos. 2 Por último, Vecchio propone que, a pesar de que parece un diálogo aporético, puede deducirse del final una definición de la filosofía superadora de las que había dado el músico: el filósofo debe ser cap az de comprender el punto de vista de los especialistas pero no de manera inferior -, ya que debe decidir rectamente respecto de la administración de la casa y de los asuntos de la ciudad. Para ello el filósofo no debe poseer conocimientos varios, sino el conocimiento de la justicia y la moderación, que son la misma virtud.
Los últimos apartados se encuentran nuevamente a cargo de Mariana Gardella. Al comienzo de “Relación con temas y problemas socráticos y platónicos”la autora se ocupa del vínculo de la p roblemática del diálogo con la actualidad y la vigencia de los temas tratados. Desde esta perspectiva, sostiene que este diálogo podría insertarse en los debates sobre la utilidad de la filosofía, tanto dentro de Argentina como en el mundo. Por ello es des tacable que, aunque muchas obras platónicas se han ocupado de este tema, ninguna lo ha hecho de forma tan directa como Amantes rivales. Para comprender lo que conllevaba esta discusión en su contexto, Gardella repone el sentido general y técnico del verbo philosophein en la época, y las transformaciones que suponía su definición. En tal sentido, la presente obra es muy relevante en el contexto en el que el uso técnico de “filosofía”se estaba gestando y debatiendo. A continuación, se trata el problema de la naturaleza de la tekhne, tema recurrente en Platón, que suele trazar una analogía entre la técnica y la virtud. Por último, es desarrollado el problema de la definición de las virtudes y la relación entre ellas, tema no solo típicamente platónico sino tam bién socrático. La autora hace referencia a las filosofías de Antístenes y Euclides de Megara, así como a otros diálogos platónicos como Protágoras, Cármides y Alcibíades mayor. De forma similar a como hizo Vecchio antes, Gardella explica la identificación entre las virtudes que aparece en el diálogo, señalando que la bicondicionalidad que existe entre ellas significa que si se posee una se poseen las otras, ya que todas son en el fondo el conocimiento de lo bueno aplicado a diversos ámbitos de la praxis.
Por último, “Sobre el texto griego y la traducción”comienza especificando el objetivo de este libro: brindar una traducción al castellano de este diálogo, complementada con la introducción y las notas, para facilitar la comprensión y estimular nuevas inter pretaciones. Aquí se especifican también el método utilizado el procedimiento inductivo de Mascialino y Juliá (2002; 2005) -, las ediciones del texto griego tomadas como referencia, las variantes elegidas e incluso la forma en que se han transliterado las palabras griegas. Todas estas detalladas aclaraciones son relevantes para los especialistas, pero también son muy útiles y provechosas para quienes se adentran por primera vez en estos temas.
Luego nos encontramos con la traducción, dividida en las seccio nes ya mencionadas que organizan la lectura. El estilo es ágil y se puede observar, tal como pretendían los autores (p. 63), la cadencia y el espíritu de la lengua griega, sin forzar las estructuras del castellano. Las notas también ayudan considerablement e a la lectura y comprensión del contexto dramático y de los problemas filosóficos tratados. Un caso interesante es el de la compleja palabra griega sophrosyne y el verbo sophronein, aquí traducidos como “moderación”y “ser moderado”, acompañados de una no ta al pie refiriendo a la Introducción, donde este tema es tratado extensamente. Aquí se diferencian de la versión de Zaragoza y Gómez Cardó (Gredos), que eligen “sabiduría”y “ser sabio”, lo cual resalta el componente intelectual de este concepto.3 En cam bio, en consonancia con el tratamiento de la Introducción y la interpretación allí defendida, la presente traducción resalta el aspecto ético de esta noción y el estrecho vínculo, propio de la filosofía socrática, entre conocimiento teorético y práctico.
En conclusión, nos hallamos frente a un libro atrayente y novedoso. Es destacable todos los contenidos y la profundidad que se pueden encontrar en esta pequeña obra de tan solo cien páginas. Esto se puede decir tanto del diálogo socrático, breve pero poten te, como de la Introducción. Sus apartados son precisos y al mismo tiempo abarcadores, ya que en pocas páginas condensan distintas visiones de los especialistas y la versión que adoptan los autores de este libro respecto de cada tema. A su vez, esto se exp resa en un lenguaje accesible para el público general, sin dejar de lado la precisión propia de los estudios específicos de la filosofía antigua.
Así como en el diálogo la narración de pronto da un vuelco y coloca en el centro de la escena lo que estaba en los márgenes (p. 50), y los protagonistas ya no son los muchachos amados debatiendo sobre astronomía, sino los amantes rivales examinando con Sócrates la naturaleza de la filosofía, así los autores de este libro sacan de la marginalidad este interesante diálogo, para ponerlo en discusión con las obras platónicas, el círculo socrático, y con las problemáticas de su época y la nuestra.
Notas
1 Zaragoza y Gomez Cardó (1992), en la clásica edición de Gredos, optan por el título Los rivales. En Argentina, recientemente Ezequiel Ludueña (2015) ha traducido este diálogo, con nombre Amantes, como anexo de su traducción al Banquete de la editorial Colihue.
2 Este tipo de interpretación del pensamiento griego es muy relevante, ya que supondría un a concepción del sujeto y su relación con los otros alternativa al sujeto moderno occidental. Esto podría permitir concebir una ética alternativa, tal como se ha propuesto desde la filosofía contemporánea en autores como Foucault (2013)
3 Ludueña (2015) traduce “sensatez”y “ser sensato”, más cercano a la interpretación del libro aquí reseñado.
ReferênciaS
ANNAS, J. (1985). Self-knowledge in Early Plato. In: O’MEARA, D. (ed.). Platonic Investigations. Washington, The Catholic University of American Press, p. 111-138.
BRISSON, L. (2014). Écrits attribués à Platon. Paris, Flammarion.
DOVER, K. (1989). Greek Homosexuality. Cambridge, Harvard University Press. (1ed. 1978).
FOUCAULT, M. (2013). La inquietud por la verdad: Escritos sobre la sexualidad y el sujeto. Buenos Aires, Siglo XXI. (1ed. 1994).
LUDUEÑA, E. (2015). Platón. Banquete. Introducción, traducción y notas. Buenos Aires, Colihue.
MÁRSICO, C. (2010). Zonas de tensión dialógica: Perspectivas para la enseñanza d e la filosofía griega. Buenos Aires, Libros del Zorzal.
MASCIALINO, L. (2002). Guía para el aprendizaje del griego clásico. Vol. 1. Buenos Aires, UNSAM Edita.
MASCIALINO, L.; JULIÁ, V. (2005). Guía para el aprendizaje del griego clásico. Vol. 2. Buenos Aires, UNSAM Edita.
THESLEFF, H. (1989). Platonic Chronology. Phronesis 34, n. 1, p. 1-26.
ZARAGOZA, J.; GÓMEZ CARDÓ, P. (1992). Platón. Diálogos. Vol. 7: Dudosos, apócrifos y cartas. Madrid, Gredos.
Milena Azul Lozano Nembrot – Universidad de Buenos Aires – Buenos Aires – Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Buenos Aires – Argentina.https://orcid.org/0000-0001-6237-919X. E-mail: miluloz@hotmail.com
Ensaios no feminino – NUNES DA COSTA (EL)
NUNES DA COSTA, Marta. Ensaios no feminino. São Paulo: LiberArs, 2018. Resenha de: HEUSER, Ester Maria Dreher. Eleuthería, Campo Grande, v. 3, n. 4, p. 105 – 112, jun./nov., 2018.
Em seu Ensaios no feminino, Marta Nunes da Costa ensaia sobre uma ausência na Filosofia e busca compreendê-la: a ausência das mulheres. Nessa busca, Nunes da Costa se encontra com categorias específicas, as mesmas que os movimentos feministas encontram em outros espaços culturais e sociais, naquilo que se refere às mulheres. Trata-se das categorias de invisibilidade; patriarcado; violência e desigualdade. Dá a ver que a Filosofia não é um campo assim tão distinto dos demais, como se gostaria de supor, afinal trata-se de um espaço de suposto uso da razão esclarecida. São ensaios que repensam e reconstroem criticamente nossa herança filosófica, social e política e que questionam: por que, apesar de os movimentos feministas que alcançaram reconhecimento pela dignidade das mulheres, as mulheres filósofas ainda estão nas margens da discussão filosófica dominante? Impulsionada pela teoria crítica, Nunes da Costa (2018, p. 17) traz elementos problemáticos e contraditórios presentes na nossa condição atual, para ela, “não é possível olhar para a história da filosofia e escolher ignorar a ausência das mulheres”, pois não só o que aparece e é dito são importantes, também, ou mais que isso, o invisível e o não dito merecem atenção.
Ausência é um sinal, diz ela (2018, p. 7): sinal de luta e de relações de poder. Não é que nós mulheres não estejamos presentes na Filosofia, sim, estamos ali, mas às margens. Como não estaríamos se a filosofia é a atividade de reflexão e busca de sentido que constitui experiência fundamental da existência humana? Existência esta que é partilhada por homens e mulheres que também questionam pelo sentido de si mesmas (cf. 2018, p. 11), tanto ou mais que os homens – afinal, são elas que mais leem1, que mais frequentam consultórios médicos2, os bancos escolares3 e também as igrejas4. Ainda assim, estamos ausentes porque rodeamos, perifericamente, aquilo que é central na Filosofia; são os homens, sobretudo, que conferem visibilidade à atividade filosófica, porque detém o poder também nessa instituição.
CULTURA PATRIARCAL
Para a autora, ocuparmos apenas as suas bordas indica que a Filosofia repete a ordem vigente da sociedade, a qual é orientada pela (quase) naturalizada lógica patriarcal e capitalista. O que “conduz a uma reprodução do valor masculino que só se faz à custa da violência contra o seu outro, a mulher” (2018, p. 26) e ecoa o “discurso do capital que parece assentar sobre um princípio sexualmente neutro” (2018, p. 27) elaborado por uma “visão androcêntrica que se impõe como neutra e não tem necessidade de se enunciar” com vistas à sua legitimidade, uma vez que é hegemônica. Segundo a autora (2018, p. 28), essa visão androcêntrica e hegemônica precisa ser contestada. Contestação que Nunes da Costa (2018, p. 31ss) faz também por meio da apresentação de números e dados acerca da legislação, brasileira em especial, que refletem a cultura patriarcal, “essa lógica de dominação em que o homem teve até muito recentemente total domínio sobre a mulher”. Isto do ponto de vista cultural e legal, pois só com a Constituição de 1988 que a mulher passou a ter “igualdade de funções” no âmbito familiar. A autora, no ensaio “Patriarcado, violência, injustiça – sobre as (im)possibilidades da democracia(?)”, informa que até a década de 70, no Brasil, se debatia se “o marido poderia ser sujeito ativo do crime de estupro, já que era dever da mulher cumprir com as suas funções e manter relações sexuais”, e que até 2009, “o estupro era tipificado como crime de ação privada contra os costumes” e não contra a mulher que sofreu o estupro. Há menos de uma década “o estupro passou a ser um crime contra a dignidade e liberdade sexual” (2018, p. 32 [os grifos são nossos]). Portanto, somente 25 anos depois da “abertura democrática” é que o direito à igualdade foi reconhecido no Brasil, este valor que “diz respeito ao fundamento da própria democracia: a dignidade da pessoa humana” (2018, p. 33). Se trata, porém, não de uma igualdade completa, pois aindahoje, em 2018, não temos o direito legal sobre o nosso próprio corpo, uma vez que as leis brasileiras ainda restringem os casos de aborto. Muitas mulheres, por lei, ainda não são “sujeito de sua própria vida e narrativa” (2018, p. 64) – algo que, na Rússia foi garantido durante a revolução de 1917. Mais de um século separa a condição das mulheres russas de nós, brasileiras, em termos de direitos (ao menos das mulheres da Revolução Russa). Apesar deste caso, o mais alarmante ainda, entretanto, é que “a violência continuada contra as mulheres” e as “relações desiguais de poder entre homens e mulheres” não são “privilégios” brasileiros. A autora expõe dados de países nórdicos, como a Dinamarca e a Suécia, que, apesar de se apresentarem em números inferiores, “não estão imunes à lógica da dominação da qual o Brasil se torna exemplar” (2018, p. 35).
O patriarcado, e as decorrentes desigualdade, injustiça e violência que fomentam a cultura do estupro, é real e geral, não se trata de exclusividade nem privilégio brasileiro. Embora mais gritante em algumas sociedades do que noutras, os efeitos do patriarcado, concebido “como sistema social de dominação via categoria de gênero” (2018, p. 26), está presente não só nos escandalosos números dos registros policiais feitos a partir dos boletins de ocorrências, os quais denunciam que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, mas também na “linguagem quotidiana, músicas e ditos populares […] manifestações artísticas e culturais” (2018, p. 31). Para a autora, os países que partilham da “grelha conceitual” do Ocidente têm em comum a violência contra a mulher naturalizada e culturalmente aceita. Caso contrário, não teríamos, por exemplo, listas sem fim de letras de músicas que trabalham “a ideia fundamental de que mulheres querem ser violentadas, que pedem esta violência, que a violência faz parte do ‘jogo’ do relacionamento, do sexo, do prazer ou do amor” (2018, p. 40). Letras e músicas que, inclusive, recebem prêmios! Entretanto, a autora compreende que enquanto a representação da mulher não for positiva, enquanto as produções culturais perpetuarem o status quo que parte do olhar do homem sobre a mulher, ao qual a mulher se esforça para corresponder, a luta por emancipação, “no sentido de superação da dominação ou opressão”, não terá êxito. Sim, Marta Nunes da Costa não interpreta simplificadamente que se trata da modificação de apenas um lado; por se tratar de uma cultura, reconhece que muitas mulheres “promovem uma cultura de degradação da sua própria imagem, contestam a sua autonomia e os seus direitos objetivando-se deliberadamente” (2018, p. 40). Para a autora, a cultura patriarcal será desconstruída se o meio for “usado para desconstruir e reconstruir efetivamente as identidades de gênero e as ideologias culturais que tentam cooptar esses esforços, integrando-os novamente na lógica globalizante e totalizadora do sistema e da ideologia dominante e patriarcal” (2018, p. 41).
Para que a modificação aconteça, nos homens e nas mulheres, Nunes da Costa afirma a necessidade de uma “revolução realmente revolucionária”, a “revolução no feminino” que implica a “reinvenção de um feminismo radical” (2018, p. 59) capaz de confrontar abertamente a lógica patriarcal e expor a ilegitimidade das práticas culturais, tradicionais, consideradas normais e até naturais, sustentadas pelo neoliberalismo capitalista. Para a autora, de mãos dadas com Arendt, a revolução no feminino “é a mudança radical que cria um novo início” sem “compromisso com a ordem existente” (2018, p. 62; p. 65). Porisso também, essa reinvenção de um feminismo radical é questão e dever das mulheres e dos homens, porque implica a conquista da liberdade também deles, pois “onde existe dominação não há liberdade”, nem para quem se considera livre e que domina, nem para quem é dominado, uma vez que a experiência da liberdade é interditada “para quem não tem um igual” (2018, p. 61). Este feminismo radical compreende que “os iguais que se reconhecem e têm relações de reciprocidade constroem um mundo que é deles, de inclusão, de diálogo, de partilha, um mundo feito por nós e não por ‘eus’, como prega o capitalismo neoliberal” (p. 2018, p. 57).
ATOS POLÍTICOS
Os cinco ensaios que compõem o livro ensaiam, sobretudo, atos políticos. Ao explicitarem também a ausência das mulheres na Filosofia, os ensaios indicam o que a presença delas pode significar em um sistema de pensamento masculino, feito por homens e para os homens: ato de rebeldia e de subversão desse sistema. Esses atos, por serem políticos, se ocupam daquilo que é indispensável para a realização da política por excelência, a democracia. Para Nunes da Costa, a democracia só pode se efetivar em condições de dignidade da pessoa humana – o que supõe a igualdade de condições entre gêneros – e de pluralismo – que implica um espaço de diferenças, de dissenso e de lutas “por objetivação de sentido às práticas desenvolvidas, definição de narrativas dominantes, de lentes conceituais” (2018, p. 42). Ou seja, enquanto, dentro e fora da Filosofia, mulheres e homens não estiverem em condições de igualdade de fato, enquanto as relações de dominação não estiverem banidas, não haverá liberdade, nem democracia, portanto, pois “a democracia exige sempre uma pluralidade de agentes que se encontram e se reconhecem entre iguais” (2018, p. 9) com vistas a construírem uma “sociedade bem ordenada, regulada pela igualdade, liberdade e sim, fraternidade, aquela virtude quase esquecida” (2018, p. 30).
Nunes da Costa defende que, para que a pluralidade de agentes que atuam juntos deixe de ser sonho, é necessário que inventemos um NÓS, porque ele ainda não existe; uma vez que quando dizemos nós, em verdade, nos referimos a um conjunto de eus que funda o “novo homem democrático” o qual tende ao individualismo, ao isolamento e à solidão “enquanto prática quotidiana” promotora de um despotismo de novo tipo promovido por “ninguéns” (2018, p. 82). A fim de inventar esse NÓS, contudo, distintamente das perspectivas defensoras da dissociação entre moral e política, a autora propõe a refundação de uma ordem política que dá lugar à uma moral, também refundada, que tem em seu horizonte as questões “para onde queremos ir? Que tipo de seres nos queremos tornar? Ninguéns, anônimos e desprovidos de humanidade ou, pelo contrário, pessoas?” (2018, p. 87).
A saída para essa refundação da política e da moral, pensa Nunes da Costa, está na reinvenção de um povo que se produz pela experiência humana de associação, mas não de “unificação” (2018, p. 55), com vistas a um propósito comum que acaba, inevitavelmente, por inventar um NÓS. Considera ela que, ao nos associarmos politicamente, salvaguardamos a experiência de liberdade coletiva, o que dará sentido ao mundo comum democrático sustentado por uma “grelha moral” construída por um NÓS que define o certo e o errado num contexto privado e público. Para ela, é só este NÓS, que cria e vive em um mundo comum feito “pelos humanos e que nos torna humanos” (2018, p. 60), que poderá interiorizar a vida como valor em si, como fim último da moralidade. Um NÓS que não elimina o confronto, mas afirma um confronto não aniquilador do outro, ao contrário, que reconhece “uma igualdade que transcende as diferenças’” e constrói um “espaço comum que permite a liberdade” de agir com o outro que é livre e igual (2018, p. 54). Enquanto não formos um NÓS, enquanto não pensarmos “o desafio da existência humana em conjunto”, seremos nada mais do que “observadores quietos e imperturbáveis” que assistem ao total colapso “de valores que permitem a construção e a sustentação de um projeto humano democrático viável” (2018, p. 81).
Nunes da Costa propõe a invenção deste NÓS pensando no Brasil, este país que ela escolheu para viver, educar seus filhos e filha e ajudar a fazê-lo por meio da docência pesquisa com estudantes e professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul –UFMT (e agora também na UNIOESTE). Ela considera o Brasil “um excelente laboratório para pensar o desafio da democracia […] um desafio que é moral (porque ainda precisamos responder à questão ‘o que é certo e errado?’) e político (porque ainda precisamos imaginar soluções que estanquem a sangria e a morte)”. Não é à sangria das investigações da Operação Lava jato5 que Nunes da Costa se refere, isto porque, para ela, o colapso de valores “não está retratado, apenas, nos governantes corruptos e mal-intencionados. Este colapso está entre nós, em todo o lado”. O colapso ao qual a autora se refere “aponta para a superficialidade da existência humana” e denuncia “a normalização de um modo de vida […] alienado” (2018, p. 81). Estamos alienados do mundo porque nele não encontramos lugar, tal como Arendt dizia. E não encontraremos lugar enquanto os ninguéns, aqueles que não se veem como responsáveis, porque não se reconhecem como seres morais, logo como pessoa, existirem e dominarem.
Como já antecipamos, para Nunes da Costa, a despeito de sua instabilidade frequente, a democracia é a única via para a construção desse NÓS e o banimento dos ninguéns. Isto porque, para ela (2018, p. 75), apesar de quererem nos fazer acreditar que a democracia deve ser considerada uma utopia a ser abandonada, porque impossível – e o Brasil é palco de tentativas quase quotidianas de desacreditar a democracia, seja ela como sistema político, social ou até como modo de vida – ela é a escolha humana que inclui homens e mulheres, em condições de liberdade, enquanto responsabilidade, e de igualdade, enquanto dignidade.
Dentre as várias conceptualizações de democracia, Nunes da Costa a concebe no sentido determinado por John Dewey: “como modo de vida” (2018, p. 26, 52 e 76 [grifos da autora]), vida que, aliás, “nasce sempre de uma mulher”, não esqueçamos disso (2018, p. 22); mas modo de vida que só pode ser construído pela pluralidade, inclusive de gêneros. Uma vez concebida como modo de vida, a democracia é pensada como uma estrutura básica de sociedade que engloba todas as instituições, costumes, práticas, imaginário coletivo; um projeto de constante transformação que orienta, dá direções sem impor nenhuma; apresenta papeis possíveis a desempenhar; não diz o que deve ser, mas o que pode ser; produz caminhos, ao invés de defini-los. Neste sentido, a democracia não define necessidades, mas produz possibilidades porque ela mesma não é, “na realidade, não existe algo como ‘a democracia’”, o que há somos nós humanos, mortais, que temos “um poder extraordinário de viver ou não democraticamente” (2018, p. 76).
Assim, o ato fundador da democracia é a “escolha humana”. A escolha pela democracia como modo de vida orientado por “relações democráticas” (2018, p. 53) é “o ato da determinação do possível, da construção do possível sobre o necessário” (2018, p. 79). É apenas com ela que a liberdade e o valor da dignidade humana, posto no centro do projeto democrático pela autora, na acepção kantiana daquilo que “não tem preço” (2018, p. 47), podem se materializar. Não se trata, entretanto, de uma relação causal, no sentido de que a democracia se realiza primeiro para então a liberdade e a dignidade ganharem existência. Do modo que pensa a autora, uma é impossível sem a outra. Nunes da Costa compreende que “a liberdade é a ideia que suporta a construção da moral e que atribui sentido ao mundo físico [… e que] inventa o possível” (2018, p. 47). Portanto, se a democracia é o “ato de determinação do possível”, para que ela ganhe efetividade, a liberdade, que é inalienável e confere dignidade àquilo que não pode ser trocado por nada – a pessoa –, lhe é imprescindível. Não haverá, portanto, democracia sem liberdade, dignidade e igualdade, pois há uma relação essencial entre elas. Para a autora, “a dignidade constrói o horizonte de igualdade entre membros de uma comunidade racional, e nesse horizonte eles são livres” (2018, p. 55). Considerando o entrelaçamento desses conceitos, é possível afirmar que enquanto não formos tratados e nem tratarmos os outros como fins em si mesmos, numa relação de igualdade, não será possível agir livremente e resistir àquilo que fere a dignidade e impede de imaginarmos e criarmos alternativas para a afirmação da vida ativa de cada uma e cada um de NÓS em um mundo comum que juntos construímos, assim como a democracia continuará sendo um sonho. Nos parece, contudo, que a autora, ainda que ao longo do livro, na maior parte das vezes, sugira a horizontalidade e a relação necessária entre esses conceitos para a efetivação da democracia, no que se refere à reivindicação primeira da luta feminista, nessa sua proposta de reinvenção de um feminismo radical, se trata de lutar, antes de tudo, por liberdade (2018, p. 70). Mais precisamente, para ela, lutar pela “experiência da liberdade, que é sempre uma experiência que nasce do encontro dos ‘eus’ transformando-os em ‘nós’, tem potencial unificador das vontades individuais” que constroem “um mundo comum” (2018, p. 73). Além do mais, nos parece que Nunes da Costa sugere que a bandeira número um desse feminismo radical seja a liberdade também porque, como pensa Arendt, somente quem é livre, para resistir e propor o novo, pode ocupar “o espaço das aparências que é o espaço político por excelência” (2018, p. 72). Em síntese, se somos iguais unicamente quando aparecemos e só podemos aparecer se sairmos do espaço privado que nos foi destinado há séculos, só conquistaremos a igualdade se tivermos a liberdade de atuarmos na aparência da esfera pública e democrática. Pensado assim, arendtianamente, a primazia da luta pela liberdade sobre a bandeira da igualdade ganha sentido e necessidade. Nas palavras da autora:
Feminismo é a ação política conduzida por mulheres que buscam, pela sua ação, transformar a condição da qual partem. Por isso, feminismo deve passar necessariamente pela crítica social, pois visa a (re)construção do mundo de acordo com um ideal de emancipação, onde liberdade e igualdade se encontram (2018, p. 23).
É o que faz com que o sloganimpresso em camisetas e pichado em muros urbanos “lugar de mulher é onde ela quiser” deixe de ser “clichê feminista” para ganhar sentido e força de novidade. O que só pode se realizar via escolha democrática.
Mas por que escolher a democracia e não outra alternativa para viver, pergunta Marta Nunes da Costa (2018, p. 79-80). Ela e nós escolhemos a democracia porque “não queremos ser átomos, instrumentos singulares nas mãos de uma vontade que não é e nunca será a nossa”; porque consideramos a nossa existência imprescindível, mas não aceitamos viver apenas para sobreviver. Isto porque, não queremos e nem merecemos viver para morrer; porque não se trata de pensar “a sobrevivência do ser humano só como indivíduo e espécie, mas também como ser Humano […] ser que cria o seu mundo e é inteiramente responsável por ele” (2018, p. 59 [grifos da autora]). Assim, para a autora, escolher a democracia implica, ao mesmo tempo em que se faz escolhas políticas, fazer uma escolha moral pela humanidade, isto que não tem propriedade física nem se encarna nos indivíduos, mas é o “que nos torna humanos” (2018, p. 47 [grifos da autora]). Eis a defesa da indissociabilidade entre política e moral e a tese que parece atravessar todo o livro, de modo sutil e quase circular: Feminismo hoje é Humanismo que só se torna viável em Democracia, a qual não pode se realizar se não tiver como fim a escolha pela humanidade constituída por um NÓS composto de mulheres e homens diferentes, que coexistem em condições de igualdade, uma vez que são livres. Nos arriscamos a apresentar uma fórmula circular de igualdade absoluta entre: FEMINISMO = HUMANISMO = DEMOCRACIA, uma vez que a autora afirma que:
a luta feminista é antes de mais humanista, e democrática de espírito, pois reclama acima de tudo uma transformação nas práticas orientadas pela busca de equilíbrio entre diferentes, i.e., entre não-iguais de fato, mas que se projetam como iguais pelo compromisso que têm com a construção de um mundo comum (2018, p. 30).
Todas e todos estão convidados para esta luta que é nossa!
Notas
1 “Por que as mulheres, brasileiras ou francesas, leem mais que os homens?”. Disponível em: <https://blog-saraiva-com-br.cdn.ampproject.org/v/s/blog.saraiva.com.br/por-que-as-mulheres-brasileirasou-francesas-leem-mais-que-oshomens/amp/?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEYASgB#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.co m.br&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi= 1&aoh=15259491313941&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2Famp%2Fs%2Fblog.sa raiva.com.br%2Fpor-que-as-mulheres-brasileiras-ou-francesas-leem-mais-que-os homens%2Famp%2F&history=1&storage=1&cid=1&cap=swipe%2CnavigateTo%2Ccid%2Cfragment% 2CreplaceUrl>. Acesso em 16 Maio 2018.
2 “Mulheres vão mais ao médico que homens, mostra IBGE”. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2015/06/02/interna_nacional,653986/mulheres-vao-maisao-medico-que-homens-mostra-ibge.shtml>. Acesso em 16 Maio 2018.
3 “Mulheres estudam mais que homens, segundo IBGE”. Disponível em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/noticia.php?it=14482>. Acesso em 16 Maio 2018.
4 “Mulheres são mais religiosas do que os homens, exceto no judaísmo e no islamismo”. Disponível em: https://www.semprefamilia.com.br/mulheres-sao-mais-religiosas-do-que-os-homens-exceto-no-judaismoe-no-islamismo/. Acesso em 16 Maio 2018.
5 Sobre isso ver: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774018-em-dialogos-gravados-juca-falaem-pacto-para-deter-avanco-da-lava-jato.shtml. Acesso em 08 Maio 2018.
Ester Maria Dreher Heuser – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).
[DR]
Frege und die kontinentalen Ursprünge der analytischen Philosophie – GOTTRIED; SCHLOTTER (M)
GOTTFRIED, Gabriel; SCHLOTTER, Sven. Frege und die kontinentalen Ursprünge der analytischen Philosophie. Münster: Mentis, 2017. 251p. Resenha de: PORTA, Mario. Manuscrito, Campinas, v.41 n.1 Jan./Mar. 2018.
1. INTRODUCTION
The purpose of Frege und die kontinentalen Ursprünge der analytischen Philosophie (Frege and the continental sources of Analytic philosophy) by Gottfried Gabriel and Sven Schlotter is to fill an interpretative gap in the clarification of Frege’s ties with his time (p. 1). Performing this task is not merely of historical interest, but is an indispensable element for an adequate systematic understanding of Frege’s thought (p. 10). Ignorance of the context is the basis of the standard view, instilled by Dummett, which views Frege as a philosopher of language. In this sense, the principal result of Gabriel and Schlotter’s investigation is to change this image of Frege by showing that his interest was principally epistemological, and that from there, his thought consequently necessarily developed into logic and philosophy of language. It is, then, a matter of demonstrating Frege’s ties with his philosophical-historical setting and of doing so, not in some generic way, but by documenting the unequivocally made assertions by means of concrete quotations.
Gabriel and Schlotter’s work, however, extends beyond the limits of a reinterpretation of Frege’s ideas on a historical-philosophical basis to present itself as a paradigm of a new way of considering the relationship between Analytic and Continental philosophy which, instead of emphasizing an absolute break between the two, stresses the continuity of the former with respect to the latter and, in so doing, the continental roots of Analytic philosophy (p. 10, p. 13). In this sense, their book about Frege must be seen as part of a far-reaching movement which extended to Wittgenstein and Carnap.
A. Exposition1
2. The continental roots of Fregean logic
Gabriel and Schlotter underscore the connections between Fregean logic and traditional logic, demonstrating that there has been a steady evolution in Germany since Kant’s time (p. 10) and punctiliously laying bare the sources of certain fundamental Fregean ideas (p. 66ff.).
One of the main questions about logic which has arisen since Kant’s time due to Hegel’s having expounded on it is whether this discipline is merely formal, or whether it is material (and, possibly, metaphysical) in nature. Regarding this question, a controversy referred to as “the logical question” (“die logische Frage”), in which a good number of XIXth century German logicians took part, arose between Trendelenburg and Herbart. This controversy would prove decisive for the Fregean idea of logic, which displays evidence of strong Trendelenburgian inspiration and leans toward a material conception of logic (even if Frege did not on account of this subscribe to the thesis of the partial or total identity of logic and metaphysics). Logic was not, then, for Frege, merely “formal,” but had its own content, dealing with specific objects. Without this, there would be no possibility of “logicism” (p. 95).
Other relevant areas in which Fregean conceptions take up, or are inspired by, ideas present in the German logicians of the XIXth century, are:
- a. the idea of a Begriffschrift (which had originated Leibniz’ work and came to Frege via Trendelenburg; pp. 29ff.);
- b. aspects of the intensional conception of the concept as function and, especially, an organic model of the formation of concepts and of logic itself as a whole (Trendelenburg; p. 34);
- c. the relationship between logic and arithmetic (Lotze; pp. 37f.);
- d. the existential interpretation of the forms of Aristotelian judgment, which derived from criticism of the square of opposition of traditional immediate inferences (Herbart, Sigwart; pp. 58ff., 61);
- e. the discussion of the Kantian classification of judgments, including the problem of its completeness, of the adequacy of its subdivisions and the homogeneity of the criteria of classification (p. 7). The result would be a new arrangement of the forms of judgment based on a clear distinction between the act of judging and the content judged (Herbart). Placing the quality before the other forms leads to the thesis that the distinction between affirmation and negation is the only one essential for the judgment as such, given that all the others are linked to the content (Herbart, Brentano, Bergmann, Windelband). Frege continued along these lines but reduced affirmation and negation to a single act, recognition (Anerkennung), referring the latter to the content. All the other forms of judgment are interpreted by Frege as forms of content, not of act;
- f. the first steps taken towards questioning the properly logical nature of the subject-predicate structure (Lotze, Sigwart) which, nevertheless, would consequently be developed by Frege alone (p. 77f.);
- g. the reference of particular judgments to existential judgments and the linking of the latter to numerical attributions (Herbart; p. 64);
- h. the epistemological interpretation of the modalities of judgments (pp. 80, 89).
3. Philosophy of language
Frege took up the tradition of philosophy of language which already existed in Germany and dated back to Herder (pp. 130ff.), the points of contact with Lotze’s and Liebmann’s ideas, which coincide in places, including in the terminology used, being of particular relevance (p. 137).
If Gabriel and Schlotter’s main line of interpretation consists of bringing out the centrality of the theses relative to philosophy of language, showing its dependence on epistemological questions, then this is manifested paradigmatically in two points:
- i. Frege recognized the existence of thinking that could not be reduced to language and emphasized the need of categorial clarification in philosophy, which imply a fight against language taking place within language itself (p. 130);
- j. Frege’s most important contribution to the philosophy of language, namely, the distinction between sense and reference, is nothing but a semantic reformulation of an epistemic thesis, whose origins are found in the tradition of Leibnizian perspectivism which came to Frege via Lotze (p. 145). Already in Lotze as well, the distinction between sense and reference is linked to the finding that, while being formally synthetic, arithmetical statements possess identical content. What for Lotze was a point of departure turned into Frege’s ultimate objective, in other words, the grounding of the cognitive value of such statements (p. 141). But not only in Lotze, but also in Sigwart, do Gabriel and Schlotter detect preparatory stages of Frege’s distinction between sense and reference based on considerations about the different forms of cognitive access to the same object or on the cognitive value of identity judgments as recognition of what is the same in what is different (p. 143).
4. Theory of knowledge
4.1 The concept of truth as value
The concept of value in the Fregean term “truth-value,” generally interpreted as being analogous to the mathematical concept of the value of a function, must be understood in a fully axiological sense (p. 160). Frege himself referred to the relation existing between truth as value and ethical and esthetic values.
Frege’s treatment of the subject of truth coincides in obvious ways with the ideas of the members of the Baden school, something which is not only expressed in a negative way in the criticism of the correspondence theory of truth, but also in a positive way in the value-theoretical conception of truth inherited from Lotze in which the notion of recognition (Anerkennung) plays a fundamental role). Truth, Windelband told us, is what is recognized in judgments, and judgments what the truth recognizes (p.159). Having said that, the concept of recognition (Anerkennung), refers linguistically to a normative idea of value: values are objects of recognition. As in Windelband, Frege’s theory of recognition of truth in judgments (Anerkennungstheorie) involves two phases, the separation between assertive force and the judgeable propositional content, on the one hand, and, on the other hand, an affirmation of this content which must be understood in a value-theoretical sense as the attribution of a truth-value (p. 165).
4.2. The transcendental-pragmatic grounding of our acceptance of logical laws. The epistemological status of logical laws.
Frege accepted different modes of justification, proof or logic demonstration (Beweis) and grounding (Begründung), the former being a matter for logic, the latter for theory of knowledge. The main point of this distinction is that Frege accepted modes of justification which are not strictly speaking logical. Without them, we could not, strictly speaking, talk of a grounding of the logicist thesis in Frege.
At first, it may have seemed that in Frege the basic logical laws, which obviously cannot be deduced without circularity, or are not justifiable in any way, or can only refer back to their own self-evidence (something which is at odds with his thesis of the relativity of the axioms). There is, however, another way of justifying basic logical laws, which certainly does not account for their inherent necessity, but rather of our need to recognize them as such (pp. 116-117). This mode of justification, which Gabriel and Schlotter call “transcendental-pragmatic”, is clearly parallel to that developed by Windelband (pp. 106-107). Indeed, Frege and Windelband coincide both in their assumptions (distinction between proof and grounding) and in what is proved (our recognition), and in the (essentially “teleological”) mode of proof (pp. 106-107).
With the distinction between proof and grounding, the analytic-synthetic and a priori – a posteriori distinctions and, on the basis of this, the differences between geometry and arithmetic enter in. It is interesting how Gabriel and Schlotter show how Frege’s position draws near that of Liebmann when it comes to geometry (p. 96).
4.3. Transcendental Platonism
While Frege and neo-Kantianism share what we might call a transcendental-pragmatic grounding of logical laws, both also share, and as something encompassing it, a basic epistemological position which Gabriel and Schlotter call “transcendental Platonism.” Transcendental Platonism stands in contrast to ontological Platonism (which asserts the being-in-themselves of transcendental objects or entities in another realm different from the empirical realm) in order to – taking up again Lotze’s interpretation of the Platonic theory of Ideas, according to which they do not exist, but are valid – apply the notion of validity (Geltung) to the determination to the transcendental mode of existence (p. 195).
With respect to Windelband, but in theory valid in a generic way for neo-Kantianism as a whole, Gabriel and Schlotter cite texts in support of their thesis asserting that the transcendental principles which present themselves to us as duties (Sollen) are based on validity-in-itself (p. 303).2 The validity-in-itself of a proposition is the basis of our taking it as true (Fürwahrhalten) not, on the contrary, our taking it as true the basis of its validity (p. 306).
However, while in order to prove that Windelband’s Platonism is not ontological but transcendental, Gabriel and Schlotter appeal to those texts in which the founder of the Baden School, in one way or another, refer to Lotze’s thesis that values do not exist, but are valid, in order to prove the same thesis with respect to Frege, they appeal to texts in which Frege referred to the objectivity of numbers, not to a being-in-itself independent of knowledge, but to reason (Vernunft) as a faculty of knowledge (Erkenntnisvermögen) (p. 172) and/or to the “existence of intersubjective cognitive units” (p. 165).
5. Frege’s interest in metaphysics
Gabriel and Schlotter assert that Frege’s logicist project is fundamentally metaphysically motivated (pp. 167, 172). However, the term ‘metaphysical’ already has two meanings in Kant, namely, as a synonym for a priori knowledge of reason and as a synonym for a priori knowledge of transcendental objects. This gives Gabriel and Schlotter’s thesis two possible meanings, since the difficulties in grounding it in each one of them are clearly different. With respect to the first meaning, it is clear that, to the extent that Frege admits informative analytic knowledge or the possibility of a priori access to non-empirical objects, for him, mathematics arrives at a type of knowledge that Kant considered impossible in metaphysics (pp. 174-175. Cfe. Frege: GA, § 89). With respect to the second meaning, however, there is really nothing obvious about Gabriel and Schlotter’s thesis. Precisely for that reason, it is of interest to pay particular attention to their argumentation, which turns on demonstrating, on the one hand, that Frege explicitly placed his logicist program within the framework of opposing worldviews and, on the other hand, that he observed that deciding between them essentially had to go by way of treating the problem of infinity in mathematics, being radically at odds Cantor in the matter (p. 189. Cfe. Frege: NS, p. 272).
It is important to note that the 1915 text in question shows that the metaphysical needs, that initially tried to be satisfied by the logicist program of numbers as objects of reason, was now oriented in another direction, but remained. One of the basic motivations behind the grounding of arithmetic in geometry was in the fact that infinity could be recognized in the strict sense.
6. CONSIDERATION OF THE FINAL STAGE OF FREGE’S THOUGHT
Gabriel and Schlotter’s consideration of Frege’s interest in metaphysics is an example of their tendency to call attention to the existence in Frege’s thought of permanent convictions which survive the failure of his logicist program and later assume a new form. As a second element along these lines, it is worth mentioning Frege’s opposition to formalism and his conviction that numbers are objects, which is also at the basis of his project to ground arithmetic in geometry. The turn to geometry seeks, then, to secure the idea of numbers as objects no less that the thesis of infinity does.
Along the same lines, Gabriel and Schlotter’s observation points to the fact that in the final stage of Frege’s thought, his ties with neo-Kantianism grew stronger, his actual interaction with it being documentable, on the one hand, as well as a significant reception by neo-Kantians, on the other. Meriting special attention among such interactions is the relationship of Frege’s term and concept of “third realm” (drittes Reich) with its neo-Kantian context, with Simmel and Münch and Hirzel especially (p. 187), as well as the documented disagreement with Bauch as the background for Frege’s essay “Negation.”
B. CRITICAL DISCUSSION
In disagreement to what is usually the case among many Analytic philosophers, I recognize the value of Gabriel and Schlotter’s perspective and the relevance of their endeavor. I believe it necessary, however, to make some points with respect to what they have achieved in the hoping in the final analysis but to contribute to it.
Even though Gabriel and Schlotter have made a substantial contribution to reconstructing the context of Frege’s thought and his actual interactions (furthering investigation into the subject significantly beyond Hans Sluga’s work), this perspective is far from having been exhausted, for they not only leave out of consideration some authors expressly cited by Frege himself (such as, for ex., Grassman and Fischer), but by focusing one-sidedly on Frege’s relationship to the neo-Kantianism of Baden, they almost totally overlook Frege’s relationship with Brentano’s school (Stumpf, Marty, Kerry, Husserl) which, however, constitutes another basic element for reconstructing Frege’s philosophical horizon overall, since it is no less a matter of that other major school of the time.
The reference to a certain one-sidedness in the choice of the sources considered warns us about something else, namely that, although Gabriel and Schlotter have shown important and interesting areas of contact between Frege and neo-Kantianism, they do not take into consideration at the same time and with equal emphasis the differences between the two, something which, if actually done would certainly provide a more nuanced view. From this perspective, the following aspects seem to me to be relevant:
- Certainly the rejection of any ontological or ontologizing interpretation is present both in Lotze’s Platonism and in that of the neo-Kantians. However, the mere ontological Platonism – transcendental Platonism alternative does not account here for the possible variants and conceals decisive differences. This situation ends up being extremely compromising when it comes to Frege. Even though he may not have been an ontological Platonist that does not mean that he was then a transcendental Platonist.
- Regarding Fregean abstract objects, both extensional and intensional, Gabriel and Schlotter time and again find that there is an ontologizing tendency in Frege which is foreign to the neo-Kantians. But, is not this precisely the sign that Fregean Platonism is not transcendental?
- The same question can ultimately be considered from another point of view. How is one to reconcile Frege’s metaphysical motivations in the two senses mentioned with a consistently neo-Kantian standpoint? For a neo-Kantian there can neither be abstract objects, nor a priori knowledge of abstract objects, yet the transcendental method requires that the only knowledge a priori possible be knowledge of the conditions of possibility of empirical knowledge.
- But, it will be said: Have not Gabriel and Schlotter proved the existence of a transcendental-pragmatic grounding of logic as much in Frege as in neo-Kantianism? I do not want to deny this, but rather call attention to the fact that Windelband’s logic is transcendental logic too, while that of Frege is only general logic (even when certainly non-formal). More concretely, while the transcendental grounding in Windelband is paradigmatically oriented toward the principle of causality, in Frege it is oriented toward the principle of identity.
- Elaborating therefore on the differences between Frege and the neo-Kantians indicated, one finds that, far from totally ignoring them, Gabriel and Schlotter in a certain way take them into consideration and, in such cases, tend to favor neo-Kantianism, so that ultimately they end up offering us not a neo-Kantian Frege strictly speaking, but actually a Frege improved, corrected through the lenses of neo-Kantianism.
- Presented with such a situation, it seems to me opportune to call attention to the possibility of a different perspective, which does not understand Frege in terms of neo-Kantianism but, in a certain sense and in, so to speak, a schematic way, neo-Kantianism through Frege. An impartial interpretation of the relationship between Frege and neo-Kantianism must ultimately account for the fact that Analytic philosophy developed out of the former and not out of the latter and that, overall, it brought the emergence of a paradigm that also contributed to the decline of neo-Kantianism. The decisive difference between Frege and neo-Kantianism seems to me to be rooted in the fact that the reflection of the latter exclusively takes its orientation from the concept of validity (Geltung), while the former introduces the fundamental distinction between sense and truth-value, which is completely absent in the neo-Kantian scheme of things. With this, the problem of objectivity splits into two clearly different questions, that about the objectivity of the truth-value and that about the objectivity of sense (being that each one of them is, in turn, subject to a noetic variant and noematic variant). One sign of the pertinence of what has been said is the characteristic difference between the two of them in the fight against psychologism which, while being almost exclusively epistemological (and, in general, axiological), in the neo-Kantians, is also essentially semantic in Frege (and later in Husserl). The very material brought up by Gabriel and Schlotter concerning Bauch as Frege’s interlocutor in “Negation” confirms this idea. They rightly find that there are two fundamental areas of disagreement between Bauch and Frege: the existence or not of false thoughts and the status of negation. Fine, I submit that these two differences are not unconnected and refer to an even more fundamental one, namely, the presence in Frege’s thought and the absence in Bauch’s of a clear distinction between sense and truth-value. Precisely because of this, Bauch is obliged to say that, being worthless, false thoughts have no existence in-themselves, but solely exist in the subject thinking them3. This difference between Frege and Bauch, is a difference that can already be traced back to Windelband, for whom, even when values-in-themselves certainly exist, nothing suggests that he also admitted an existence in-itself of anything similar to a Fregean thought (Gedanke)4. In Windelband, truth-bearers seem to be simply connections of representations (Vorstellungsverbindungen) (NN, p. 74).
- We already observe that there is an important difference in the way in which Gabriel and Schlotter prove that Frege’s basic epistemological position can be characterized as transcendental Platonism. For a neo-Kantian like Windelband, the concept of validity (Geltung) is an ultimate concept not definable subsequently and possesses a supra-objective character and a supra-subjective character in equal measure since it is the basis of the subject-object distinction itself. Gabriel and Schlotter, however, assimilate validity in Frege to reason (Vernunft) and reason, in turn, to intersubjectivity. With this, they seem to have been remaining faithful, more so than is desirable or necessary, to an interpretation along the lines of Sluga’s, which is conducted within the distinction between transcendental idealism and Platonic idealism and which, on the one hand, links transcendental idealism to validity, on the other, however, continues to think that the notion of a “transcendental subject” is in some way essential to such idealism. This, however, which can rightly be maintained with respect to variants of transcendental idealism from Kant to Husserl, via Fichte, does not rightly hold for neo-Kantianism.
To conclude, let me say that, in spite of some possible improvements of the kind I have noted, Gabriel and Schlotter’s investigation unquestionably constitutes an indispensable frame of reference for the subjects it treats, and any subsequent study of them must take it into account and will only be of real value if argued on the basis of it.
References
FREGE, GOTTLOB. Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl. Hamburg: Meiner, 1988. (GA) [ Links ]
______ Nachgelassene Schriften. Unter Mitwirkung von Gottfried Gabriel und Walburg Rödding, ed. by Hans Hermes, Friedrich Kambartel and Friedrich Kaulbach. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1969. (NS) [ Links ]
LOTZE, HERMANN. Grundzüge der Religionsphilosophie. 2nd ed. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1889. (GRel) [ Links ]
WINDELBAND, WILHELM. Die Prinzipien der Logik. In: Windelband, Wilhelm and Ruge, A. (eds.) Encyclopädie der philsophischen Wissenschaften. Tübingen 1912. Vol. 1. pp. 1-60 (PL) [ Links ]
______ Normen und Naturgesetze. In Windelband, Wilhelm. Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte. Vol. 2. Tübingen, 1884. 9th ed. 1924. II, pp. 59-98 (NN) [ Links ]
Notas
1In my exposition, I have slightly changed the order of Gabriel and Schlotter’s text dealing with the philosophy of language as a continuation of logic and before to theory of knowledge. In it, Chapters 1 and 2 deal with logic, whereas Chapters 3, 5, 6 deal with theory of knowledge and inserted in between the two is Chapter 4, which deals with philosophy of language. Chapter 8, finally, deals with the final stage of Frege’s thought.
2Indeed, Frege made a similar distinction in differentiating between the two meanings of the term ‘law.’
3“Der falsche Satz 3 + 2 = 6 hat gewiss eine Wirklichkeit jedesmal, wenn er von einem denkenden Subjekt gedacht oder ausgesprochen wird. Aber unabhängig von seinem wirklichen gedacht oder ausgesprochen werden hat er keinen Bestand, wie ihn die Gleichung 3 + 2 = 5 durch ihre Geltung hat.” Bauch: Wahrheit und Richtigkeit, p. 47 (emphasis added).
4The case of Rickert from 1907 on merits special consideration, not having to overlook his discussion with Lask, influenced by Husserl.
Mario Porta – Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Department of Philosophy, São Paulo, SP, Brazil, mariopor@pucsp.br
A filosofia e o cuidado da vida – BUZZI (C)
BUZZI, Arcângelo R. A filosofia e o cuidado da vida. Petrópolis: Vozes, 2014. Resenha de: PROVINCIATTO, Luís Gabriel. Conjectura, Caxias do Sul, v. 22, n. 1, p. 181-186, jan/abr, 2017.
A linguagem utilizada na obra não pretende esgotar o significado do que seja esse tal cuidado da vida, já anunciado no título, mas antes fazer notar a relevância de tal tema para a elaboração da própria tarefa fundamental do pensamento – pensar a vida –, também expressa no título sob o nome de filosofia. Nesse sentido, Buzzi não conceitua propriamente nem o que seja cuidado e nem o que seja filosofia, mas convida o leitor a traçar um caminho no qual ambos os termos estão conjugados. O modo de utilizar a linguagem, então, é fundamental, pois se trata de indicar sem determinar.
Além disso, a maneira simples com que são colocadas as palavras e as citações permite uma intimidade com a obra, realizando, de fato, a proposta de viabilizar um caminho. Engana-se, porém, o leitor que acreditar que na obra há uma linguagem simplista: a simplicidade da obra está em sua essencial preocupação com o fundamental de cada questão levantada, sendo o autor, dessa forma, objetivo e preciso em suas assertivas. Além do mais, o próprio autor se utiliza de grandes expoentes do pensamento, mostrando-os como vias possíveis para pensar os vários desdobramentos do cuidado da vida. Não há equívoco em afirmar: a obra serve tanto para aqueles que já são iniciados nessa dinâmica própria do filosofar quanto para introduzir, nessa tarefa, tantos outros que dela se aproximarem. Por isso, pode-se dizer que o autor é capaz de continuar um caminho, pois escreve àqueles que já estão inseridos na própria filosofia, bem como é capaz de convidar a esse caminho, viabilizando-o pela linguagem simples, fundamental e, acima de tudo, por permitir ao próprio leitor a tarefa de pensar. Leia Mais
Platão e as temporalidades: a questão metodológica – BENOIT (EL)
BENOIT, Hector. Platão e as temporalidades: a questão metodológica. São Paulo: Annablume, 2015. Resenha de: ANTUNES, Jadir. Eleuthería, Campo Grande, v. 1, n. 1, p. 91-97, dez. 2016/mai. 2017.
livro Platão e as temporalidades: a questão metodológica (São Paulo -SP: Annablume, 2015) de Hector Benoit é um livro extremamente claro e didático nos argumentos a favor de uma compreensão de Platão, e de todas as grandes filosofias, a partir de sua lexis imanente, i.é, a partir da narrativa dramática imanente ao texto, a partir do sentido temporal interno e arquitetônico do texto, desconsiderando todas as determinações externas e, por isso, superficiais, como a datação cronológica e a estilometria, na elaboração de determinada grande obra filosófica.
Hector Benoit é extremamente claro e preciso em mostrar os vários níveis e temporalidades do discurso filosófico de Platão, desde seus momentos mais simbólicos e alegóricos até seus níveis mais abstratos e propriamente conceituais, mostrando a ausência de sentido nas leituras dominantes e tradicionais que pretendem encontrar, e revelar, em Platão, a existência de uma teoria ou doutrina pronta, fechada, dogmática, e purificada de toda referência não propriamente conceitual contida no interior dos diálogos. O livro de Hector Benoit não ensina apenas a ler metodológica e corretamente Platão, mas a todos os grandes filósofos. Por isso, seu método parece ter uma aplicação universal –ao menos para as grandes filosofias.
O livro é uma crítica radical ao modo dominante de se fazer filosofia, ou, mais precisamente, ao modo dominante de se entender as grandes filosofias. O modo dominante de se fazer filosofia e se compreender os grandes filósofos tem sido o analítico, em seus vários matizes, tem sido o método de divisão de um texto em suas menores partes, de análise deste texto fatiado e fragmentado em seus menores detalhes, sem, contudo, relacionar estes fragmentos com o conjunto e o sentido interno da obra, da história de vida do autor e dos grandes conflitos filosóficos e históricos enfrentados por ele.
Os métodos historiográficos, biográficos, estilométricos, e todos os demais métodos externos empregados no entendimento de uma grande filosofia, são a condenação ao esquecimento e à confusão de toda grande obra filosófica e o livro de Hector Benoit deixa isto muito bem claro em relação à grandiosa obra de Platão. Ainda que a prática de se estudar um texto possa querer levar em consideração todos os seus aspectos empíricos, é preciso encontrar nesta leitura a ordem imanente, dramática e conceitual, é preciso encontrar a ordem própria ao discurso filosófico do autor que considere esta obra como a obra de uma vida.
O livro de Hector Benoit nos ensina não apenas a estudar corretamente um texto filosófico, mas a entender corretamente o que seria a filosofia. Seria a filosofia, uma ciência, uma episteme, ou uma arte? Seria a filosofia, uma obra destituída de esforço, de paciência, de tempo, sem relação alguma com a experiência de vida, com a experiência política, com a experiência em geral de seu autor? Seria ela, uma obra produzida exclusivamente pelo intelecto do filósofo, pela genialidade e pureza de sua alma racional, seria a filosofia, por isso, uma obra sem qualquer relação com o universo simbólico das representações de uma época e de seus leitores, sem qualquer relação com a experiência e a vida prática destes mesmos leitores e autores?
O livro de Hector Benoit nos ensina que a filosofia estaria, por este aspecto, muito mais próxima da arte do que da episteme. Neste aspecto, Aristóteles não pareceria ter algo de platonista, porque para ele a filosofia não pareceria possuir qualquer relação com a arte e a experiência de vida de seu autor. A questão fundamental exposta por Hector Benoit parece ser exatamente a crítica ao modo aristotélico de se fazer filosofia, ao modo de se estudar um autor através de recortes despedaçados de sua obra convenientes à construção de sua própria obra.
O modo socrático de exposição, o dialógico poético, parece ser sempre mais complicado politicamente do que a prosa corrida de Aristóteles. Galileu Galilei que o diga. Dizem que a causa da desgraça de Galileu não teria sido tanto as suas concepções heliocêntricas sobre o universo, mas, sim, porque o Papa fora convencido por seus assessores de que o personagem Simplícius, personagem ridicularizado por Galileu como defensor do sistema ptolomaico, representaria no Diálogo sobre os dois mundos a posição do Papa e da Igreja. Por este motivo, Galileu teria sido condenado à prisão. Numa narrativa de tipo aristotélico não há, geralmente, personagens da vida real, não há condenação destes personagens, não há a vida atrapalhando o pensamento. Por isso, a narrativa lógica e linear aristotélica parece ser sempre menos perigosa e ofensiva politicamente que os diálogos vivos e dramáticos platônicos.
De acordo com o livro de Hector Benoit, a filosofia estaria mais próxima da arte do que da episteme, porque uma obra filosófica é construída da mesma maneira que se constrói uma obra de arte, como a obra de um artesão-operário. O importante na análise desta obra não consiste tanto em compreender cada uma de suas peças isoladamente, mas, sim, o conjunto e o sentido interno e vivo desta obra. Numa obra de arte, as diferentes peças do conjunto não precisam necessariamente ser fabricadas na ordem da montagem, do funcionamento e da importância desta peça para o conjunto. Cada peça pode ser fabricada, até certo ponto, de maneira totalmente independente das outras peças. A peça principal, por exemplo, pode ser fabricada por último em relação a todas as outras peças.
O importante no estudo de uma obra de arte, por isso, não é compreender a ordem de fabricação destas peças no tempo, a ordem cronológica desta obra, mas, sim, a posição e o papel de cada peça fabricada no conjunto da obra construída. Já imaginastes montarmos um carro na ordem da fabricação de suas peças no tempo, segundo a ordem do tempo em que cada peça individual foi fabricada? Evidentemente, não teríamos um carro ao final do processo, mas apenas um agregado linear de peças sem sentido algum.
A leitura e interpretação de Hector Benoit sobre os diálogos de Platão possuem como premissa fundamental as mesmas premissas e fundamentos da ordem encontrada nas obras feitas pela mão humana. Não há sentido algum, segundo sua interpretação, querer estudar os diversos diálogos de Platão segundo a ordem cronológica de sua feitura. Não há sentido racional algum querer dispor esta ordem segundo a ordem de sua produção temporal externa, segundo o momento em que esta obra foi redigida empiricamente. Uma disposição dos diálogos platônicos segundo esta ordem alógica corresponderia à disposição, e montagem, de nosso carro segundo a ordem do tempo de fabricação de suas peças.
O entendimento correto da obra platônica, segundo Hector Benoit, é o entendimento que compreende esta obra como uma obra dotada de beleza plástica e poética, como uma obra que só revela seu sentido e direção se seguirmos o sentido e a direção contidos e apontados pelo próprio Platão no interior dos próprios diálogos, no interior de sua sequencia dramática e poética. O racional, o poético/poiético, consiste, por isso, em compreender estes diálogos segundo sua ordem dramática interna, segundo sua construção conceitual interna, segundo o desenrolar temporal interno à própria trama dramática dos diálogos, e não à suas tramas e tramoias cronológicas externas.
O livro de Hector Benoit, por isso, transmite esta importante lição metodológica: de compreendermos, até certo ponto, uma obra filosófica como a obra de arte de um artesão, de um artesão do pensamento. Digo até certo ponto porque o artesão comum realiza uma obra que desde o princípio já se encontra pronta e acabada no pensamento, somente mais tarde, com a prática, esta obra ganha realidade como coisa feita, enquanto que o filósofo, por sua vez, não possui, desde o começo de sua trajetória filosófica, uma ideia clara e pronta do que quer fazer, de onde quer chegar e quais caminhos irá percorrer. Esta ideia vai sendo iluminada e ganhando sentido na mesma medida em que a obra vai sendo realizada. Por isso, são normais as frequentes idas e vindas do filósofo, as frequentes revisões, correções, reedições e aperfeiçoamento de sua obra. Fato que também geralmente ocorre com os produtos da mão humana. O lançamento, a primeira edição da obra é, por isso, geralmente, inferior à obra lançada nos anos seguintes.
Neste sentido, argumenta Hector Benoit, o que seriam os personagens de Platão, senão diferentes operários-artesãos, diferentes artesãos do pensamento, diferentes artesãos que, em conjunto e de maneira mais ou menos combinada, trabalham em vista de uma obra comum, a obra de uma vida, da vida dos que começaram e morreram durante sua construção, e da vida das novas gerações que surgirão para continuá-la. Quem seria Platão nesta história senão um mero coordenador, um mero condutor e dirigente, um mero engenheiro do pensamento e, como tal, um artesão, um operário qualificado, o operário-chefe de uma obra coletiva.
Como na construção dos grandes templos anônimos da cidade, que não levam o nome do engenheiro chefe, de seu arquiteto, onde cada operário parcial trabalha em vista de uma obra coletiva que ultrapassa o tempo de suas próprias vidas, não seria a obra de Platão semelhante ao Parthenon e todas as obras coletivas da cidade? Não seria, assim, a obra de Platão equivalente à obra de Phidias, uma obra da cidade, de seus operários, de seus arquitetos, uma obra sem autoria definida, uma obra que conta com o esforço, o trabalho e a participação de todos os personagens da cidade, de todos os seus artesãos, cada um com sua ocupação específica, onde alguns participam como soldados, outros como sacerdotisas, adivinhos, jovens, anciãos, anfitriões, sofistas, políticos, filósofos de profissão, visitantes estrangeiros e assim por diante?
O livro metodológico de Hector Benoit é muito útil e instrutivo para todos os estudiosos da filosofia que desejam acordar da sonolência metafísica moderna. A metafísica e a analítica, a pretensão de encontrar a essência e a verdade em um pedaço estilhaçado da realidade, a metafísica em todos os seus múltiplos modos, como o racionalismo, o positivismo e o sociologismo, domina por inteiro nossa filosofia. As diversas “filosofias”, as filosofias da linguagem, do conhecimento, da ciência, da política, da arte, da ética e assim por diante, não passam de formas mascaradas de metafísica, de formas analíticas de se compreender a filosofia e a tarefa do filósofo. Estas diversas “filosofias” não são mais do que epistemes, não são mais do que formas aristotélicas modernizadas de se fazer e se compreender a filosofia.
O livro de Hector Benoit nos leva a pensar que todos estes métodos modernos de se fazer filosofia estariam inteiramente impregnados pelos princípios práticos da época moderna: a negação do trabalho como a forma própria e fundamental da vida humana coletiva, a visão meramente negativa do trabalho, do trabalho como roubo do tempo destinado ao prazer e ao ócio. O hedonismo que domina nossa prática filosófica moderna é inteiramente incompatível com o esforço que vem do trabalho e da arte, com o esforço da leitura lenta, sistemática e total de uma obra filosófica, com o esforço do labor exercido pelo pensamento, por isso, para este hedonismo, é necessário abreviar todo esforço em vista do prazer, é preciso construir atalhos que evitem o desperdício de tempo e esforço do leitor, é preciso construir filosofias fragmentadas, fáceis, superficiais, passageiras, ao gosto do mercado editorial e do senso comum burguês.
A crítica de Hector Benoit a Goldschmidt e ao método estruturalista de interpretação de um grande autor e de uma grande filosofia parece clara em associar este método ao método do estilhaçamento e da confusão, próprio das práticas filosóficas modernas. Pelo caminho de Goldschmidt parece ter seguido toda a história da filosofia. Para o cristianismo era necessário batizar e cristianizar todos os grandes filósofos, especialmente Platão e Aristóteles, era necessário negar o paganismo filosófico antigo e construir uma filosofia que justificasse as crenças religiosas cristãs. Para o mundo moderno trata-se não mais de construir uma filosofia, não mais de criticar a filosofia, mas de destruir a filosofia, de transformá-la em coisa fácil de ser feita, em coisa feita pelas mãos e cérebro de um único gênio, de transformá-la num ramo da ciência e, como tal, num ramo da indústria do entretenimento, da fantasia e da ideologia.
Se para Hector Benoit, o modo filosófico de se fazer filosofia em Platão deve ser compreendido a partir da compreensão do modo de se fazer as grandes obras coletivas da mão humana, para o mundo moderno, pelo contrário, trata-se de radicalizar a visão aristotélica de filosofia, de separá-la do trabalho, da arte e da vida em geral. Para o mundo moderno, como para Aristóteles, o trabalho é uma coisa negativa, é desperdício de tempo e de vida, é roubo do tempo destinado ao ócio e ao prazer, por isso deve ser erradicado da vida humana e destinado apenas a escravos, a homens inferiores, sem logos e sem episteme.
Por essa visão poiética de Platão, de Platão como um operário do pensamento, operário do logos que é ação de pensar e ação de fazer, a interpretação de Hector Benoit é um alento e sopro de vida sobre nossas almas cansadas desta monotonia e lenga-lenga filosófica moderna, desta filosofia que padece lentamente a cada dia nas teias da lógica e da linguagem, desta filosofia que tem se tornado um agregado mecânico de peças mortas, de peças fatiadas e sem organicidade, de peças isoladas e sem conexão com a totalidade da vida, desta filosofia que já não possui qualquer negatividade e impulso vital criativo.
O livro de Hector Benoit é mais do que um livro de interpretação de Platão, o livro é uma crítica radical deste modo moderno de se fazer filosofia e uma luz para nossas almas românticas e poéticas, presas às cadeias da tradição positivista e da metafísica em todos os seus modos de existência. A filosofia, para ser filosofia, não pode permanecer presa às cadeias da lógica e dos métodos quantitativos e segmentados da ciência. Para ser filosofia, ela tem que ser poesia, tem que ser arte e existir como obra que existe na totalidade da vida e em vista desta mesma vida.
O livro de Hector Benoit é uma crítica destruidora a toda a tradição filosófica que acredita ser o logos uma coisa, uma propriedade, uma substância que pode ser tomada e revelada isoladamente ao gênio individual de cada autor. O logos, como nos diz Hector Benoit lembrando Heráclito, não é substância, não é coisa nem propriedade. O logos é koinonia, é o-que-é-em-comum, é o que se manifesta no ser-em-comum, como nas grandes obras coletivas feitas pelas mãos e cérebros humanos. Nada de grandioso pode ser feito isoladamente – é o que nos ensina o logos heraclitiano e o Platão revelado por Benoit: nem mesmo uma obra filosófica. Os filósofos não constroem nada sozinhos, os filósofos são somente aqueles que sabem que tudo-é-ser-em-comum e querem, com seu intelecto e esforço, juntar-se ao ser-em-comum de sua época. O filósofo não trabalha nem constrói sua obra isolado em seu gabinete de estudos. Para ser filósofo e fazer filosofia é preciso sair para o mundo e misturar-se com ele: como Sócrates em seus diálogos mundanos e Platão em suas aventuras políticas pelo Mediterrâneo. Nesta construção coletiva são necessários não apenas cérebro e intelecto, são também, e fundamentalmente, necessários braços e energia física humana para fazer do Parthenon da Filosofia uma realidade tal qual foi no passado o Parthenon de Phidias.
O livro de Hector Benoit é uma obra revolucionária que merece, mais do que nunca, ser lido e discutido por todos os amantes das grandes filosofias, destas filosofias que têm como meta a reconstrução completa e impiedosa da realidade segundo o que-é-em-comum. O livro deve ser lido por todos aqueles que se compreendem como operários de uma obra e de um mundo em construção, que se compreendem como membros menores de uma grande obra coletiva que transcende a vida e a vaidade de toda existência idiotizada pela propriedade privada, pelo empilhamento de dinheiro, pela desmedida da ganância e pela metafísica. Nesta obra e projeto coletivo, cada personagem participa de acordo com suas próprias forças e capacidades, alguns com o cérebro, outros com os braços e outros com a poesia e o sonho romântico dos grandes filósofos do passado –como parece ser o caso de Hector Benoit.
Jadir Antunes – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).
[DR]
The Platonic Art of Philosophy – BOYS-STONES et al (RA)
BOYS -STONES, G.; EL MURR, D; AND GILL, C. (Eds.). The Platonic Art of Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. PITTELOUD, Luca. Revista Archai, Brasília, n.17, p. 351-360, maio, 2016.
Cet ouvrage est composé d’une collection d’articles rédigés en hommage à Christopher Rowe et inspirés par les travaux et exégèses de ce dernier à propos de la philosophie de Platon. Les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage sont de traditions et d’approches très va- riées et la mise en relation des articles permet un dia- logue inédit entre les différents points de vue. Chacune des contributions se destine à dialoguer avec une des problématiques abordées dans l’œuvre de Christopher Rowe: l’unité philosophique et littéraire de l’œuvre de Platon, la fonction du mythe, l’héritage socratique de Platon, la position platonicienne concernant la vérité et l’être.
Une question centrale discutée dans cet ouvrage est celle du socratisme de Platon. Christopher Rowe dé- fend l’idée que l’objectif de Platon n’est pas de dépeindre le Socrate historique mais de proposer une philosophie socratique: Platon, d’après Rowe, n’a jamais cherché à s’éloigner du personnage de Socrate afin de développer sa propre philosophie (à ce titre une lecture dévelop- pementaliste des dialogues doit être rejetée) mais, au contraire, propose une philosophie réellement socra- tique. Christopher Rowe considère dans ses écrits la question de l’intégration des thèses socratiques (éthi- ques, psychologiques et épistémologiques) dans les dialogues de Platon. Les contributeurs à cet ouvrage sont amenés à réagir et à situer leurs propres interprétations par rapport aux idées défendues par Rowe.
A ce titre, M. Dixsaut défend une vision multidi- mensionnelle et nuancée de la lecture des œuvres de Platon qui, puisque ce dernier a choisi d’écrire des dia- logues, refuse de donner une exposition linéaire de sa philosophie en tant que système. M. A. Fierro exami- ne, afin de justifier l’idée selon laquelle le contexte est primordial dans la lecture d’un dialogue, comment, dans le Phèdre, cohabitent deux visions opposées du corps: la méfiance que de ce dernier peut inspirer comme source de distraction cohabite, dans le même dialogue, avec une vision plus positive où le corps peut être considéré comme un auxiliaire à l’activité philosophique. N. Notomi cherche à montrer com- ment le Phédon ne propose pas une rupture avec la philosophie de Socrate mais, au contraire, développe le message original de l’éthique socratique. D. Sedley argumente que les tensions souvent relevées dans la théorie psychologique de la République (la vision tri- partite des livres 4, 8 et 9 comme s’opposant à celle des livres 5 -7 où serait mis en avant l’intellectualisme socratique) possède en réalité un unité réelle dans le contexte de la vie vertueuse du philosophe, vie défi- nie en tant qu’activité contemplative. T. Johansen se propose d’associer la notion de progression éthique de l’allégorie de la caverne à une vision cosmologi- que plus large telle que présentée dans le Timée afin de résoudre la tension qui existe entre la question de la dimension politique et éthique de cette allégorie et son fondement cosmologique et philosophique basé sur les conclusions des analogies de la ligne et du so- leil. M. M. Mc Cabe interroge l’unité de l’Euthydème dans le cadre de la discussion épistémologique qui émerge dans la rencontre entre Socrate et les sophis- tes. M. Narcy envisage comment le Théétète dépeint un Socrate maitrisant la technique éristique dans son opposition avec Protagoras. toujours à propos du Théétète, U. Ziliolo s’intéresse à la relation entre le Cy- rénaïsme et la position qui identifie la connaissance à la perception. T. Penner met en perceptive la théorie de l’incorrigibilité des perceptions telle que défen- due par Protagoras dans le Théétète avec la notion de « proposition » telle qu’elle est définie dans la séman- tique moderne. Pour Penner, Platon se montre plus intéressé aux « real -world entities » que cela est le cas dans ces théories sémantiques modernes. D. O’Brien rejette l’idée commune, en logique moderne, que l’être ne serait pas un prédicat en montrant que, dans le Sophiste, pour Platon, le non -être, non pas défini en tant que ce qui n’est d’aucune façon, mais décrit comme ce qui est différent possède une réalité propre: l’être peut lui être prédiqué au sens où le non -être (ce qui est autre) est. Finalement, l’ouvrage se termine par trois contributions concernant les dimensions politique et historique de l’œuvre de Platon: S. Broadie étudie la notion de véracité de récit de l’Atlantide, M. Tulli pose la question de l’intérêt et du respect de Platon pour l’histoire à propos de la transmission du récit de Critias et enfin, M. Schofield invoque l’importance de l’amitié dans le cadre de la théorie politique des Lois.
L’ouvrage, au travers des contributions de D. Sedley, C. Gill et D. El Murr, propose également un traitement intéressant d’une discussion centrale dans l’œuvre de Christopher Rowe: l’intellectualisme socratique et les tensions qu’une telle théorie semble entraîner, notam- ment quant à la question de l’unité de l’âme. Ce dernier a défendu l’idée que Platon n’a jamais abandonné l’intellectualisme socratique au profit d’une vision tripartite de l’âme. en ce sens, Sedley affirme que la théorie de la tripartition représente un mode de discours, peutêtre trompeur, mais sans doute inévitable, à propos de la vie incarnée humaine lors de laquelle la plupart des mortels fonctionnent comme s’ils étaient sous l’influence de forces irrationnelles, alors qu’en réalité ces forces ne font pas partie de leur vraie na- ture. Ainsi, ce qui définit réellement le philosophe ne sera pas, comme le note Sedley, le contrôle raisonné des passions irrationnelles, mais l’accès à un niveau de cognition dans lequel les motivations corporelles disparaissent petit à petit et, dans cet état cognitif, le corps et ses passions ne recéleront plus qu’une in- fluence motivationnelle minimale. Autrement dit, la vraie nature de l’âme est unitaire (intellectuelle), elle n’est décrite comme ayant des parties que du point de vue de la condition humaine qui se considère comme divisée par les passions corporelles, mais, de fait, cette division n’ est pas réelle. C. Gill conclue sa contribu- tion sur cette problématique en affirmant que, sans doute, Platon cherche à défendre une vision unifiée de sa psychologie dans laquelle les théories socratique et platonicienne de l’âme se trouveraient, dans la République, intégrées au sein d’un argument cohérent sans que cela impliquerait une quelconque contradiction.
La question de l’intellectualisme socratique est évi- demment liée au statut du Bien tel qu’il est décrit dans la République. D. El Murr cherche à montrer que les critiques qui ont fait de ce Bien métaphysique, une entité tant abstraite qu’elle ne serait pas pratiquement réalisable (prakton) reposent sur une mauvaise com- préhension du statut de ce Bien: en effet ce dernier, en tant que principe ontologique suprême, confère l’être (ousia) aux entités qui possèdent la réalité et la stabi- lité suffisante pour être accessibles à l’intellect. Autre- ment dit, le Bien qui est responsable de la distinction entre le sensible et l’intelligible. or cette objectivité suprême du Bien implique également une valeur éthi- que et politique. La République cherche à distinguer entre ce qui est réellement juste et ce qui n’ est juste qu’en apparence. Cette distinction ne peut être garan- tie que par l’existence du Bien qui est toujours l’ultime objet du désir. Je peux désirer l’apparence de la justice car je pense que cette dernière est bonne pour moi, mais je ne peux pas désirer l’apparence du bien. Au contraire je désire toujours ce qui est mon propre bien. Autrement dit, je peux désirer quelque chose de façon superficielle, car je pense que cette chose m’ est profitable, mais je ne peux nullement désirer ce profit en apparence. Cette thèse qui fonde l’intellectualisme socratique ne peut être justifiée que s’il existe une réalité d’une valeur ontologique éminente qui puisse être l’objet du désir humain. or cette réalité est le Bien. C’est au final cette prééminence du Bien qui garantit la distinction entre a) le sensible et l’intelligible et b) ce qui est réellement X et ce qui n’ est X qu’en appa- rence, de sorte que le Bien de la République possède une forte valeur pratique. Platon ainsi ne semble pas faire de la Forme du Bien une entité déconnectée de la vie morale.
Luca Pitteloud – Universidade Federal do ABC (Brasil). E-mail: luca.pitteloud@gmail.com
O circuito dos afetos – SAFATLE (AF)
SAFATLE, Vladimir. O circuito dos afetos. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016). Resenha de: FILHO, Sílvio Rosa. Do corpo latente do texto. Um pressentimento de manifesto 1. Artefilosofia, Ouro Preto, n.20, 2016.
Eu gostaria de propor minha leitura d’ O circuito dos afetos, assinalando que se trata de uma proposta elaborada em circunstâncias adversas, porque contemporâneas, e supondo que o modo de ler tenha-se dado a partir de um ângulo de abordagem específico, peculiar o bastante para trazer consigo implicações, ao menos, na releitura do livro. Hoje estou menos interessado em situar Vladimir Safatle na divisão social do trabalho intelectual no Brasil, visto ora como polemista ora como colunista, ou publicista ou ensaísta ou compositor ou professor ou historiador d a filosofia. O autor que me interessa está em contraste com aquele que vai aparecendo logo na quarta capa do livro, o proponente da filosofia necessária para uma teoria política da transformação, ambas solidárias de transformações sociais efetivas. Encampa das a ambição filosófica e a ousadia política, tampouco me interessa hoje o jogo técnico de contrapartidas, muito engenhoso ao seu modo, por exemplo, entre Hobbes e Espinosa, Hegel e Adorno, Freud e Lacan, Foucault e Canguilhem, entre tantos outros.
Eu me voltaria então, principalmente, para os lados que flertam com alguns pontos de fuga do livro, aqueles que talvez permitam enxergar O circuito dos afetos não como publicação que constitui algum bloco de teor normativo, mas antes – esta é a minha proposta – como livro que estaria a instituir o próprio corpo latente de um texto. Se esta leitura faz sentido, é porque ali se funda algo assim como um circuito “híbrido”. Digamos que, junto ao circuito impresso do livro, o próprio corpo latente do texto se abre para as contingências de um corpo outro. Mas então, simplesmente, um corpo a corpo? Ou ainda: passagem iminente do corpo latente do texto ao corpo outro enquanto corpo manifesto? Esta é a minha primeira, em certo sentido, a minha única questão, mas ficando b em entendido que “outro”, aqui entre aspas, antes de tudo não é uma propriedade, não é um atributo nem um predicado desses corpos.
Quero crer que a rigor há uma certa compatibilidade entre a questão e o problema central do livro. Este último, expresso à queima roupa, é o seguinte: que afetos criam novos sujeitos? Não haveria incompatibilidade, mas exigência de certos descentramentos, pois, se a natureza da experiência política propriamente dita significa “desbloqueio do novo” (como em Paulo Arantes, por exemplo, desde A ordem do tempo), e, no caso, vale como abertura para alteridades impensadas (como em Michel Foucault) e para alteridades incomensuráveis (como em Jacques Lacan), então não será com os mesmos corpos que haveremos de construir realidades políticas tão transformadoras quanto mais impensadas e incomensuráveis. A certa altura do texto impresso, trecho passível de acender a imaginação do leitor nos começos do século XXI, diz Vladimir: “mais do que novas ideias, precisamos de outro corpo, pois não haverá nova política com os mesmos sentimentos de sempre”.
Deixo de lado quem nessas frases só tiver ouvidos para ouvir algum tipo de anti-intelectualismo, caso de regressão que não vou comentar. Mas há quem tenha ouvidos para captar nessas frases, menos os ecos de Beckett, e mais, as ressonâncias de Artaud. Não digo que não; afinal, neste último caso, o teatro e o seu duplo não precisam ficar reservados ao campo do silêncio; o debate sobre o livro, com efeito, não é de hoje. De todo modo eu diria que a reverberação das formas argumentativas dá a ver uma geopolítica dos afetos e dá a ouvir um diálogo do corpo latente do texto com os corpos – individuais e coletivos – pois são os corpos que leem. E, depois de tudo, os corpos é que haverão de se entende r, mudando o patamar dos consensos ou reconfigurando a plataforma do dissenso com-sentido. Daí um desdobramento neoespinosano que, coetâneo à questão inicial, põe em jogo o problema da intercorporeidade e poderia ser reformulado como segue: o que pode o corpo que lê no limite tenso de um tempo presente que se desnaturaliza, tempo presente do corpo que cria ou inventa ou institui as suas próprias possibilidades de ampliação?
De modo um pouco mais específico, não havendo política sem afetos, o circuito já instituído é literalmente um circuito fechado, apenas constituinte, não ainda instituinte. No entanto é possível imaginar que nem todo ambiente institucional é ambiente institucionalmente consolidado, ainda mais nos tempos que correm, com gestões aceleradas de desinstitucionalização, catástases, catástrofes e assim por diante. Ademais, a mobilização conceitual da contingência, no texto impresso, vem contrariar impossibilidades presumidas na contemporaneidade. Remanescendo um ímpeto para 203 contrariar inclinações estruturais ao famigerado fatalismo brasileiro, mais a recusa do luto pontilhado ao infinito por corpos tantos e melancolizados, depois da leitura d’ O circuito dos afetos, o impossível está posto em suspeita. Nesse passo pode servir de contraexemplo um trio de figuras do “absoluto”, nem tanto em Hegel quanto em Derrida, ou seja, figuras do absolutamente impossível nos dias que correm: a figura da hospitalidade em ato (incomensurável com o cosmopolitismo); a figura do dom em ato (incomensurável com a reciprocidade); a figura do perdão em ato (incomensurável com a justiça).
Mas a ser assim, em ambiências institucionais incipientes, pergunta-se: a intercorporeidade política não haveria de irromper como circuito instituinte ? Quando se explicita a finitude de uma instituição específica, longe de nos lamentarmos pela perda ou pela falta que ela parece fazer ou alardear, vale a constatação: não é toda e qualquer institucionalidade que efetivamente desmorona, problema de formação do discernimento, portanto, no campo aparentemente adverso dos indiscerníveis. Resumindo a minha segunda questão: por aproximação do corpo manifesto, sem perder de vista o propósito da política transformadora, o circuito dos afetos latente estaria proibi do de se apresentar afinal como circuito instituinte dos afetos ?
Ainda por aproximações, acompanhando esses halos expansivos a partir do circuito latente, há toda uma série de negatividades revisitadas no circuito impresso: nem o medo nem sua irmã gêmea, a esperança; nem uma confirmação dos predicados do sujeito, nem as heteronomias que sujeitam; nem assinatura de contrato ficto nem pactuação com a recta ratio. À primeira vista, mas à segunda vista também, o leitor parece estar às voltas com um corpo destituído, esfoliado no estranhamento, totalmente desamparado. Nonada. Nonada, entretanto, com um olho posto n’ O futuro de uma ilusão e com o outro num não sei quê de Félix Guatary. Pois que, nesse novo regime de visibilidades proposto, não dá no mesmo manter Freud de pernas pro ar, confinar-se na dispersão das diferenças apenas abstratas ou perseverar na luta por universalidades não abstratas. E visto que, ao horizonte de expectativas decrescentes, vem contrapor-se um horizonte antipredicativo de reconhecimento, o que parece insinuar-se é a promessa de um corpo coletivo “restituído”. À terceira vista, contudo, um campo outro de visibilidades se deixa entrever. A questão agora passou a ser: o que pode o corpo desamparado na relação com o corpo latente do texto político? O que pode o corpo em desamparo na relação com o corpo manifesto do texto político? À margem do texto, cheguei a notar que muitas vezes Vladimir procede como se estivesse glosando em prosa – e com um grão de sal – alguns versos de Manuel Bandeira e sua “Arte de Amar”, quando o poeta diz mais ou menos assim:
As almas são incomunicáveis.
Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.
Porque os corpos se entendem, mas as almas não.
À terceira vista, portanto, porque o corpo turbulento requer um tempo próprio a ponto de radicar sua existência fora do tempo do Capital, não o livro, mas a coisa mesma; porque a vida apresenta uma mobilidade tão soberana quanto insubmissa a ponto de encontrar a sua própria maneira de resolver problemas ontológicos; porque, em suma, novas formas de ser e de vivermos juntos estão na força de acontecimentos que começam novamente a se fazer sentir – é a contingência que unifica o que se mostra como possível e o que se manifesta como realmente efetivo. Assim – nessa política que fará jus ao conceito de política da suspensão se efetivamente ela tomar corpo; nessa política da síntese não normativa que já não temera dizer o seu nome como política de esquerda e sempre se quis transformadora – a cena se produz pelo reconhecimento da contingência.
Na medida em que a exposição do desamparado irrompe à contraluz de uma desindividuação irredutivelmente singular, na medida em que supõe um aumento na potência de agir no fundo do mais fundo desamparo, a visada ético-política desse circuito de afetos parece ao menos tão exigente quanto as perversões acadêmicas que outrora insistiam no avesso da dialética. Está claro, porém: colocando perversões acadêmicas à parte. À parte, igualmente, a realização do fantasma sádico que Vladimir já estudou na figura de Justine, tomada então como vítima por excelência, analisada sob o prisma dessa angústia de gozar com aquilo mesmo que lhe causa horror (ver Um limite tenso, ensaio intitulado “O ato para além da lei”).
*
Para terminar, vou me permitir o acréscimo de uma pequena nota sentimental no rodapé de uma conversa que se vai fazendo de vida inteira, tentativa de resumir a leitura proposta e apontar para o que vem por aí, implicado, suponho, na sua própria síntese. A nota sentimental talvez explique, embora não justifique, as camadas e camadas de 205 latência necessariamente cifrada numa fala de vinte minutos. Camadas, por exemplo, como as contidas em aulas anotadas de Merleau-Ponty (Institution, passivité), antes das camadas póstumas de Claude Lefort, sem com isso querer complicar mais do que o necessário a já considerável complexidade safatleana; mas querendo, de algum modo, intervir no andamento de um projeto que nunca se poderá reduzir a um corpo só.
É que as minhas conversas com Vladimir remontam a um tempo em que muitos dos que se acham aqui, hoje, estavam nascendo ou por nascer. É igualmente esse o c aso da moça a quem o livro é dedicado; dedicatória, aliás, onde se diz: “Para Valentina, que saberá viver sem medo”. Em 1997, quando Vladimir apresentou sua dissertação de mestrado, eu era uma das duas pessoas que assistiram à defesa de “O amor pela superfície: Jacques Lacan e o aparecimento do sujeito descentrado”. Nos anos seguintes, entre 1998 e 2000, lemos juntos com Ruy Fausto algumas obras de Freud e de Lacan, num grupo de estudos composto por nós três e às vezes na companhia de Jean-Pierre Marcos, em Paris; apresentamos alternadamente alguns seminários no curso de pós-graduação de Paris-VIII, sobre Adorno e a Dialética negativa ; principalmente, passamos noites em claro discutindo as charneiras entre a Fenomenologia do espírito e a Ciência da lógica, o papel do “prefácio” na primeira, o alcance da “realidade efetiva” e a instabilidade das essências, nesta última. Hoje o que os franceses chamavam de nuit blanche, tornou-se Nuit Debout. A noite em claro, nestes dias intermináveis, tornou-se noite em pé.
Por isso mesmo, a minha fala não poderia ser mais do que a miniatura de uma conversa – sempre recomeçada, às vezes silenciada pela força das coisas – há vinte anos.
O que pode o corpo latente do texto? A inverter-se a passagem dos conteúdos (de manifesto s a latentes), do pesadelo acordado a uma rêverie em que se passeia nas cadências de Sigmund Freud, resume-se: corpo manifesto ? Numa palavra: corpo instituinte ? Resumindo à mínima, por fim, a pequena variação sobre o tema: a intercorporeidade – esses corpo s aquém do medo da morte violenta, abandonados de toda esperança, desamparados, desindividualizados, e, contudo, vivos, essa intersubjetividade com indivíduos findos parece implicar um circuito outro do sujeito político que, ingressando num campo em disputa, eu tenderia a designar com um ou dois neologismos: como interobjetividade instituinte, como transobjetividade manifesta. E para além dos nomes (parce que je ne voudrais ici disputer ni sur les mots ni sur les choses: intersubjetividade com indivíduos findos, interobjetividade instituinte, transobjetividade manifesta), o que importa perguntar-se é o seguinte: esses corpos políticos não implicam uma entidade literária inteiramente outra, nova, um corpo de um texto político manifesto?
Se assim for, eu m e atrevo a dizer que o próximo livro de Vladimir Safatle não será algo voltado para ilusões históricas e socialmente necessárias da intercorporeidade dos afetos. Será, afinal, um manifesto.
Nota
1 Este texto foi apresentado originalmente no dia 20/06/2016, em Debate com o autor, evento organizado pelo Departamento de Filosofia da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UNIFESP, sobre o livro de Vladimir Safatle, O Circuito dos afetos (Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016).
Sílvio Rosa Filho-Professor de filosofia na Universidade Federal de São Paulo, autor de Eclipse da moral: Kant, Hegel e o nascimento do cinismo contemporâneo (Barcarolla/Discurso Editorial-USP, 2009) e de Hegel na sala de aula (Fundação Joaquim Nabuco/Unesco, 2009).
Manifesto Del nuovo realismo – FERRARIS (ARF)
FERRARIS, Maurizio. Manifesto Del nuovo realismo. Romabari: Editori Laterza, 2012. Resenha de: RIBEIRO, Renato Railo. Aufklärung – Revista de Filosofia, João Pessoa, v.2, N.1, p. 209-218, Abril de 2015.
O presente texto é uma resenha expositiva da obra Manual del Nuovo Realismo, escrita pelo filósofo italiano Maurizio Ferraris e publicada originalmente em italiano pela editora Laterza, em 2012(ISBN: 9788842098928). O Manual já foi traduzido para o espanhol, francês, alemão e inglês, sem possuir ainda tradução paraportuguês1.
Ferraris formou-se, sob orientação de Gianni Vattimo, pela Università degli Studi di Torinoe atualmente leciona nesta mesma universidade, além de ser também professor visitante de universidades europeias e estadunidenses. É editorialista do jornal diário La Repubblica e reconhecido internacionalmente por seus trabalhos desenvolvidos no campo da hermenêutica. Eis algumas de suas obras: Aspetti dell’ermeneutica del Novecento (1986); Storia dell’ermeneutica (1988); Il gusto del segreto (1997, escrita com Jacques Derrida); L’ermeneutica (1998); Introduzione a Derrida (2003). Desde os anos de 1990, porém, o filósofo vem gradualmente se afastando dessa linha de pensamento e adotando o realismo como fio condutor de sua filosofia.
No Manual del Nuovo Realismo o filósofo italiano pretende alcançar dois objetivos: (1) expor, segundo sua visão, as razões pelas quais a filosofia contemporânea teria se inclinado ao realismo; (2) expor sua concepção de realismo. A obra em questão é dividida em quatro capítulos2, sem contar o Prólogo. Neste último, o autor expõe seus pressupostos e a justificativa para a elaboração da obra, enquanto que no primeiro capítulo (“Realytismo”: o ataque pós-moderno à realidade) desenvolve sua argumentação visando alcançar o objetivo (1). Por fim, com os demais capítulos (capítulo 2:Realismo: coisas que existem desde o início do mundo; capítulo 3:Reconstrução: porque acrítica parte da realidade; capítulo 4:Emancipação: a vida não examinada não tem valor), o filósofo visa atingir o objetivo (2).
Começando pelo Prólogo, deste pode-se depreender que Ferraris parte do pressuposto de que, se por um lado, ao longo do século XX, o pêndulo do pensamento teria se orientado ao antirrealismo (diz o autor, em suas várias versões: “hermenêutica, pós-modernismo, ‘reviravoltalinguística’”3), por outro lado, com a virada do século, teria passado apender para o realismo (segundo o autor, em seus muitos aspectos: “ontologia, ciências cognitivas, estética como teoria da percepção”4).
De modo a incluir sua filosofia nesse movimento em direção ao realismo, Ferraris aponta as causas que o conduziram a essa mudança, identificando-as com os efeitos decorrentes daquilo que denomina “dois dogmas dopósmodernismo”5: (a) o de que toda a realidade é socialmente construída e infinitamente manipulável; (b) o de que a verdade é uma noção inútil, sendo a solidariedade mais importante do que a objetividade. Os efeitos ocasionados por esses “dois dogmas”, de acordo com Ferraris, teriam sido: (i) o fortalecimento do populismo em política; (ii) a alienação da filosofia em relação à realidade cotidiana;(iii) a noção de que toda desconstrução (filosófica, política, social) tem valor por si própria.
Assim, a justificativa dada por Ferraris para a escrita do Manifesto– bem como para sua mudança de pensamento, que o motivara elaborar a presente obra – é pautada por seu julgamento acerca da necessidade de se negar os “dois dogmas”, de modo a se evitar tais efeitos. O realismo, assim, é visto por ele como alternativa às diferentes ramificações pós-modernas da filosofia contemporânea e seus “dogmas”.
Porém, de acordo com suas palavras, adotar essa alternativa não significa querer ostentar um monopólio filosófico do real – como se poderia crer, em função da longa história que o termo “realismo” temem filosofia – mas sim
“sustentar que a água não é socialmente construída, que a sacrossanta vocação desconstrutiva que está no coração de toda filosofia digna deste nome deve medir-se pela realidade, caso contrário configura-se como jogo fútil, quetodadesconstruçãosemreconstruçãoéirresponsabilidade”6.
Assim, segundo o autor, caberia à filosofia examinar quais são os aspectos da realidade socialmente construídos e quais não são, de modo a salientar o que pode e o que não pode ser tomado como verdadeiro e extrair daí implicações de natureza cognitiva, ética e política. Neste ponto, o filósofo italiano sentira necessidade de sublinhar o contexto ao qual sua posição se insere, aqui expresso por suas próprias palavras:
Aquilo que chamo de “novo realismo” é de fato antes de tudo o reconhecimento de uma reviravolta. A experiência histórica dos populismos midiáticos, das guerras pós11de setembro e da recente crise econômica conduziu a uma forte descrença naqueles que, para mim, são os dois dogmas do pós-modernismo: o de que toda a realidade é socialmente construída e infinitamente manipulável, e ode que a verdade é uma noção inútil porque a solidariedade é mais importante do que a objetividade. As necessidades reais, as vidas e mortes reais, que não aceitam ser reduzidas a interpretações, têm feito valer seus direitos, confirmando a ideia de que o realismo (assim como o seu contrário) possui implicações não simplesmente cognitivas, mas éticas e políticas7.
No primeiro capítulo, Ferraris sugere que o pós-modernismo teria entrado em filosofia a partir da publicação da obra do filósofo francês Jean François Lyotard, A condição pós-moderna, publicada em1979 e pela qual teriam se difundido a ideia de “fim das ideologias” e a noção de que as “grandes narrativas” (Iluminismo, Idealismo, Marxismo) teriam deixado de “mover as consciências e de justificar o saber e a pesquisa científica”8. Sem desconsiderar as várias manifestações pós-modernistas e seus vários aspectos, desenvolvido sem diversas áreas do conhecimento e das artes, Ferraris aponta o que para ele seria o mínimo denominador comum a todas essas, a saber, o fim da ideia de progresso. No caso específico da filosofia, para a qual noção de verdade é central, insiste Ferraris que “(…) a descrença pós-moderna no progresso comportava a adoção da ideia – que encontra a sua expressão paradigmática em Nietzsche – segundo a qual a verdade pode ser um mal e a ilusão um bem”9, ideia esta que segundo o autor poderia ser resumida na proposição nietzscheana “não existem fatos, só interpretações”.
Maurizio Ferraris frisa não querer atacar diretamente o pós-modernista, pois este é “(…) muitas vezes animado por admiráveis aspirações emancipativas (…)”10. O problema, diz, é o populista, que“(…) tem se beneficiado com a potente, ainda que em boa parte involuntária, ajuda ideológica do pósmodernista”11. Isto porque, em sua visão, com o pós-modernismo (e, como decorrência deste, primado das interpretações sobre os fatos e a superação da noção de objetividade), “(…) não se viu a libertação dos vínculos de uma realidade monolítica, compacta, peremptória (…)”12, tal como seus mentores profetizaram, mas sim o êxito do populismo, “(…) um sistema com o qual (desde que se tenha o seu controle) se pode pretender fazer crer em qualquer coisa”13– o que teria transformado o mundo em um reality.
O filósofo italiano, então, sugere a necessidade de se examinar de perto a concretização (e adulteração) das teses pós-modernistas (os“dois dogmas”) e aquelas que aponta como suas três principais características: aironização, segundo a qual “(…) aferrar-se a teorias é indício de dogmatismo, e que, portanto, deve-se manter um distanciamento irônico em relação às próprias afirmações”14–distanciamento em geral expresso pelo uso de aspas; a dessublimação,“(…) a ideia de que o desejo constitui em quanto tal uma forma de emancipação, já que a razão e o intelecto são formas de domínio”15; a desobjetivação, a ideia de que “(…) não existem fatos, só interpretações, e o seu corolário de que a solidariedade amigável deve prevalecer sobre a objetividade indiferente e violenta”16– o que legitimaria, para Ferraris, a máxima “a razão do mais forte é sempre a melhor”.
Sobre aironização, diz Ferraris que o uso das aspas teria permitido aos teóricos a adoção de uma postura irônica diante de suas próprias proposições e o decreto de que qualquer um que as tentasse suprimir estaria exercendo um ato de inaceitável violência ou ingenuidade, pois trataria como real aquilo que, na melhor das hipóteses, era “real”. De acordo com o autor, essa postura teria impedido o progresso em filosofia, “(…) transformando-a em uma doutrina programaticamente parasitária que remetera à ciência qualquer pretensão de verdade e de realidade (…)”17. Para Ferraris, a origem disso estaria no radicalismo de Nietzsche em sua posição contra a filosofia sistemática, ou mesmo, ainda, naquilo que o filósofo italiano chama de “revolução ptolomaica”18de Kant, por entender que com este último o homem teria passado a ser o centro do universo como mero fabricante de mundos por intermédio de conceitos. Assim, “o pós-modernismo não foi um devaneio filosófico, mas sim o êxito de uma reviravolta cultural que coincide em boa parte com a modernidade, ou seja, a prevalência dos esquemas conceituais sobre o mundo externo”19, o que explicaria o uso de aspas, já que não se estaria ocupado com o mundo mas tão somente com fenômenos mediatos. Neste cenário, à filosofia caberia, na melhor das hipóteses, diz Ferraris, aceitar-se como tipo de conversação ou gênero de escritura – atividade anti-iluminista que, com a cumplicidade da ironia e das aspas, ocasionara, entre outros problemas, “o equívoco de pensadores de direita se tornarem ideólogos da esquerda”20 (quando então cita e comenta Heidegger como caso paradigmático).
De acordo com Ferraris, a dialética que se manifesta na ironização seria a do desejo como elemento que por si próprio constituiria a emancipação humana. Em sua visão, a noção de revolução dos desejos teria se iniciado com Nietzsche e sua revolução dionisíaca, quando o homem trágico, antítese do homem racional representado por Sócrates, fora antes de tudo um homem de desejos. Só que, com o populismo, diz, tal noção teria encontrado verdadeira expressão a partir do desenvolvimento “(…) de uma política ao mesmo tempo dos desejos e reacionária”21– comentando para tal as investigações de Adorno e Horkheimer sobre o mecanismo da dessublimação repressiva, segundo o qual “o soberano concede ao povo liberdade sexual e em contrapartida mantém consigo não só a liberdade sexual mas também as outras”22. Neste cenário, o desejo, no início elemento emancipativo, passaria então a ser elemento de controle social. Afora isso, o anti-intelectualismo se faria presente, já que o enlaçamento entre corpo e desejo favoreceria o antissocratismo (i. e., a atividade racional). E assim, diz Ferraris, a legitimidade de uma categoria fundamental do Iluminismo seria atacada, a da opinião pública, que passaria, citando Habermas, “(…) de espaço de discussão a espaço de manipulação das opiniões por parte dos detentores dasmassmedia”23, momento em que se manifestaria repressão à discordância, cuja perfeição seria alcançada com a incorporação, por parte da coletividade, do hábito de desenhar qualquer atividade crítica.
Sobre adesobjetivação, Ferraris diz ser esta a noção de que a objetividade, a realidade e a verdade seriam maléficas, e a ignorância, benéfica. Essa ideia, segundo sua visão, teria se difundido no pós-modernismo por três reflexões de grande peso cultural: a noção nietzschiana de verdade como metáfora; o recurso ao mito levado acabo por Nietzsche e Heidegger; e a noção presente em parte da filosofia analítica segundo a qual não existiria acesso ao mundo sem a mediação de esquemas conceituais e representações – sobre a qual Ferraris investiga tomando como case studya afirmação de Paul K.Feyerabend segundo a qual não existiria método privilegiado para a ciência, pois as teorias científicas seriam visões de mundo em larga parte incomensuráveis (o que, por consequência, faria com que não fosse tão óbvio assim que Galileu tivesse tido razão em relação àqueles que o condenaram). Neste sentido, a desobjetivação formulada com intenções emancipativas se transformaria em deslegitimação do saber humano e no reenvio da humanidade a um fundamento transcendente (no sentido místico religioso).
A consequência da ação conjunta de ironização, dessublimação e desobjetivação é, para Ferraris, o realytismo, estado em que “vem revogada qualquer autoridade ao real, e em seu lugar se prepara magnificamente uma quase realidade com fortes elementos fabulares(…)”24. Por outras palavras, orealytismo para Ferraris seria o pós-modernismo concretizado pelo populista, cenário em que o real, ao invés de ser investigado com vistas à construção de novos mundos possíveis, seria posto ao nível da fábula (ou equiparado a um realityshow), sendo esta ação considerada como única libertação possível. Diz o autor, então, que dessa forma não haveria mais nada a se construir – e a realidade nada mais seria do que mero sonho.
Para Ferraris, fora contra esse estado de coisas que desde a virada do século viria se desenvolvendo o realismo, tentativa de restituir legitimidade, em filosofia, em política e na vida cotidiana, a uma noção que no pós-modernismo fora considerada ingenuidade filosófica e manifestação de conservadorismo político, a saber: a de realidade. O filósofo italiano oferece, então, a partir deste ponto, sua concepção de realismo, desenvolvendo-a entre os capítulos 2 e 4, baseada em três conceitos: Ontologia, Crítica e Iluminismo.
Por Ontologia Ferraris pretende significar simplesmente que “o mundo tem as suas leis, leis estas que se fazem respeitar (…)”25. Por outras palavras, segundo sua visão existiriam coisas que resistem e permanecem independentemente de esquemas conceituais capazes de avaliálas. Ferraris denomina sua posição de “teoria da incorrigibilidade”26, de modo a reforçar, como faz ao longo do capítulo2, o caráter saliente do real, i. e., a existência de um mundo externo aos esquemas conceituais, e a ideia de que certas coisas diante de nós não poderiam ser corrigidas ou transformadas27. Desta forma, com ontologia e incorrigibilidade Ferraris pretende confrontar o que chama de falácia do ser- saber28, i. e., noção segundo a qual só se poderia dizer como existente aquilo que se pudesse conhecer – o que, para o filósofo italiano, nada mais seria do que expressão da confusão entre epistemologia e ontologia.
Por Crítica Ferraris diz significar a possibilidade inerente ao realismo de criticar e transformar a realidade – como oposição àquilo que, no capítulo 3, chama de falácia do averiguar-aceitar29, segundo a qual a averiguação da realidade necessariamente implicaria na aceitação de existência de um estado de coisas imutáveis. Neste sentido, diz Ferraris que sua Crítica deveria ser entendida tanto no sentido kantiano de julgar o que é e o que não é real, como no sentido marxista de transformar o que não é justo, contrapondo-se assim ao pós-modernismo que, segundo ele, se contentaria em sustentar que tudo é socialmente construído (como forma de se proteger do atrito com o real ausentando-se deste conflito). Logo, se por um lado seria possível afirmar que existem elementos com características alheias a todo e qualquer esquema conceitual capaz de descrevê-las, por outro se poderia afirmar que somente com a reflexão crítica a falsificação pode ser evitada. Com noção de Crítica Ferraris sustenta que “(…) a incorrigibilidade como caráter ontológico resulta central na medida em que não indica uma ordem normativa (…) mas simplesmente uma linha de resistência contra a falsificação e a negação”30. Portanto, o ponto não seria apenas desvalorizar a cética noção de descontinuidade entre fatos e interpretações, mas sim procurar entender o que é e o que não é humanamente construído – algo implícito na seguinte questão: quais os limites dos esquemas conceituais?
Por fim, com a noção de Iluminismo– a qual permite Ferraris citar as expressões consagradas por Kant (“ousar saber” e “sair doestado de minoridade”) como opostas àquilo que chama de falácia dosaberpoder31(noção segundo a qual, tal como explicitada no capítulo4, em toda forma de saber se esconderia um poder negativo, ou seja, o saber serviria não como emancipação, mas como instrumento de dominação) – o filósofo italiano diz não duvidar que a ciência é, muitas vezes, animada “pela vontade de potência”, mas defende que não se deveria, em função disso, duvidar de todos os seus resultados32. Ou seja, o autor concorda que motivações de poder influenciam em muitos casos as conclusões de práticas filosóficas e científicas, mas poder e saber seriam, segundo sua concepção, noções distintas, não equivalentes. Identicamente, não seriam noções equivalentes as de verdade e de dogmatismo, pois salienta que “(…) realidade e verdade sempre foram a tutela dos fracos contra a prepotência dos fortes”33.Segundo o filósofo não faria sentido, assim, abandonar a noção de verdade em nome da noção de solidariedade (tal como desenvolvida por Rorty), uma vez que “(…) o regime nazista é o exemplo macroscópico de uma sociedade fortemente solidária”34. Logo, para Ferraris seria irresponsável desconstruir sem construir algo em seu lugar, e, portanto, ao invés de se duvidar da capacidade humana de conhecer, seria melhor aceitar que só o conhecimento, e não sua deslegitimação, pode emancipar os homens.
Por fim, Maurizio Ferraris oferece uma interpretação particular de que três filósofos tradicionalmente associados ao pós-modernismo (Foucault, Derrida e Lyotard) teriam manifestado a exigência de retorno aos ideais iluministas. Além disso, declara o filósofo italiano:
Julgo fundamental acreditar naquilo que era importante e vivo no pósmodernismo, i. e., a reivindicação de emancipação, que tem início no ideal de Sócrates sobre os valores morais do saber e se assenta no discurso de Kant sobre o Iluminismo – talvez a mais caluniada entre as categorias do pensamento e que merece uma nova leitura na cena intelectual contemporânea diante das consequências da falácia do saberpoder35.
Com isso, o autor pretende reforçar sua crença no conhecimento humano como único meio a se evitar, contra o populismo, a alternativa de “(…) seguir o caminho do milagre, do mistério e da autoridade”36, associando tal crença ao realismo a que vem se propondo desenvolver.
Notas
1 Em espanhol: Manifiesto del nuevo realismo. Trad. José Blanco Jiménez.Santiago de Chile: Ariadna, 2012;Manifiesto del nuevo realismo. Trad.e intr. F. José Martín. Madrid: Biblioteca Nueva, 2013; em francês: Manifeste du nouveau réalisme. Trad. Marie Flusin e AlessandraRobert. Paris: Hermann, 2014; em alemão: Manifest der neuen Realismus. Trad. Malte Osterloh. Frankfurt am Main: Klosternann,2014; em inglês:Manifesto of New Realism. Trad. Sarah De Sanctis.New York: SUNY Press, 2014.
2 Cap. 1:Realitysmo. L’ attacco postmoder no alla realtà; Cap. 2:Realismo.Cose che esistono dall’ inizio del mondo; Cap. 3:Riconstr uzione.Perché la critica incomincia dalla realtà; Cap. 4:Emancipazione. Lavita non esaminata non ha valore.
3 “(…) ermeneutica, postmodernismo,‘ svolta linguistica’ (…)” (2012: ix).
4 “(…) ontologia, scienze cognitive, estetica come teor ia della percezione (…)”(Idem).
5 “(…) i due dogmi del postmoder no (…)” (Ibidem, xi).
6 “(…) sostenere che l’ acqua non è socialmente costr uita; che la sacrosantavocazione decostr uttiva che sta al cuore di ogni filosofia degna diquesto nome deve misur ar si con la realtà, altr imenti è un gioco futile; eche ogni decostr uzione senza r icostr uzione è ir responsabilità”(Ibidem).
7 “Quello che chiamo“ nuovo realismo” è infatti anzitutto la presa d’ atto diuna svolta. L’ esper ienza stor ica dei populismi mediatici, delle guer repost 11 settembre e della recente crisi economica ha por tatounapesantissima smentita di quelli che a mio avviso sono i due dogmi delpostmoder no: che tutta la realtà sia socialmente costruita e infinitamente manipolabile, e che la ver ità sia una nozioneinutileperché la solidar ietà è più impor tante della oggettività. Le necessitàreali, le vite e le mor ti reali, che non soppor tano di essere ridotte ainter pretazione, hanno fatto valere i loro dir itti, confermando l’ ideache il realismo (così come il suo contrario) possieda delle implicazionenon semplicemente conoscitive, ma etiche e politiche” (Ibidem).
8 “(…) che par lava [ a obra de Lyotard] della fine delle ideologie, cioè diquelli che Lyotard chiamava i‘ grandi racconti’ : Iluminismo,Idealismo, Marxismo. Questi r acconti er ano logor i, non ci si credevapiù, avevano cessato di smuovere le coscienze e di giustificare il saperee la r icerca scientifica” (Ibidem, 3).
9 “(…) la sfiducia postmoder na nel progresso compor tava l’ adozionedell’ idea, che trova la sua espressione par adigmática in Nietzsche,secondo cui la ver ità può essere un male e l’ illusione un bene” (Ibidem,4).
10 “(…) il più delle volte animato da ammirevoli aspir azioni emancipative(…)” (Ibidem, 6).
11 “(…) ha beneficiato di un potente anche se in buona par te involontar iofiancheggiamento ideologico da par te del postmoder no” (Ibidem).
12 “(…) non si è vista la liber azione daí vincoli di una realtà troppomonolitica, compatta, perentor ia (…)” (Ibidem, 5).
13 “(…) un sistema nel quale (purché se ne abbia il potere) si può pretenderedi far credere qualsiasi cosa” (Ibidem, 6).
14 “(…) prendere sul ser io le teor ie sia indice di una for ma di dogmatismo, esi debba mantenere nei confronti delle propr ie affer mazioni un distaccoironico” (Ibidem, 7).
15 “(…) l’ idea che il desider io costituisca in quanto tale una for ma diemancipazione, poiché la r agione e l’ intelletto sono for me di dominio”(Ibidem).
16 “(…) non ci sono fatti, solo inter pretazioni, e il suo corollar io per cui lasolidar ietà amichevole deve prevalere sull’ oggettività indifferente eviolenta” (Ibidem).
17 “(…) transfor mandola in uma dottrina programaticamente par assitar ia,che rimeteva alla scienza ogni pretesa di ver ità e di realtà (…)”(Ibidem, 9).
18 “Rivoluzione tolemaica” (Ibidem, 10).
19 “(…) il postmoder no non è stato uma spazzatur a filosofica.È stata l’ esitodi una svolta cultur ale che coincide in buona par te con la moder nità,ossia il prevalere degli schemi concettuali sul mondo esterno” (Ibidem,11).
20 “(…) È in questo clima anti illuministico che (…) si attua l’ equivoco dipensator i di destr a che diventano ideologi della sinistr a (…). Il caso diHeidegger (…) è da questo punto di vista par adigmatico” (Ibidem, 1314).
21 “(…) la cronaca dei populismi ha insegnato come sia possibile sviluppareuna politica contempor aneamente desider ante e reazionar ia” (Ibidem,16).
22 “Il sovr ano concede al popolo liber tà sessuale, e in cambio tiene per sénon solo la liber tà sessuale che ha concesso a tutti gli altr i, ma anchetutte le altre liber tà assunte come pr ivilegio esclusivo” (Ibidem, 17).
23 “(…) da spazio di discussione a spazio di manipolazione delle opinioni dapar te dei detentor i dei massa media” (Ibidem, 19).
24 “Viene revocata qualsiasi autor ità al reale, e al suo posto siimbandisceuna quasi realtà con for ti elementi favolistici (…)” (Ibidem, 24).
25 “(…) il mondo ha le sue leggi, e le fa r ispettare (…)” (Ibidem, 29).
26 “Inemendabilità” (Ibidem, 48).
27 “(…) il fatto che ciò che cista di fronte non può essere cor retto otr asfor mato attraver so il mero ricor so a schemi concettuali,diver samente da quanto avviene nell’ ipotesi del costr uzionismo”(Ibidem).
28 Fallacia dell’ essere sapere.
29 Fallacia dell’ accer tare accettare.
30 “(…) l’ inemendabilità come car attere ontologico fondamentale r isultacentr ale, propr io nella misur a in cui non indica un ordine nor mativo(…) ma semplicemente una linea di resistenza nei confronti dellefalsificazioni e delle negazione” (Ibidem, 66).
31Fallacia del sapere potere.
32 “Indubbiamente il sapere può essere animato da volontà di potenza (…). Da questo, per ò, non segue che si debba dubitare dei r isultati delsapere (…)” (Ibidem, 88).
33 “(…) realtà e ver ità siano sempre state la tutela dei debolicontro leprepotenze dei for ti” (Ibidem, 96).
34 “(…) in gener ale il regime nazista è l’ esempio macroscopico di una societàfor temente solidale al propr io inter no (…)” (Ibidem, 94).
35 “Credo che sia meglio tener fede a ciò che er a impor tante e vivonelpostmoder no, e cioè appunto la richiesta di emancipazione,che prendel’ avvio dall’ ideale di Socrate sul valore mor ale del sapere e si precisanel discor so di Kant sull’ Illuminismo–for se la più calunniata tr a lecategor ie del pensiero, e che mer ita una nuova voce nella scenaintellettuale contempor anea di fronte alle conseguenze della fallaciadel sapere potere” (Ibidem, 112).
36 “(…) prendere la via del mir acolo, del mistero e dell’ autor ità” (Ibidem,112).
Renato Railo Ribeiro – Bolsista de Mestrado (CAPES) do Programa de PósGraduação em Língua, Literatura e Cultura Italianas, Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (DLM/ FFLCH/USP). Bacharel em Filosofia pela Universidade São Judas Tadeu (USJT) e em Biblioteconomia pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/ USP). E-mail: m@ilto: renatorailo@yahoo.it
[DR]A alma e as formas – LUKÁCS (AF)
LUKÁCS, Georg. A alma e as formas. Introdução de Judith Butler; tradução, notas e posfácio de Rainer Patriota. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. Resenha de: PIMENTA, Olímpio. Artefilosofia, Ouro Preto, n.19, 2015.
Há quase três décadas, então estudante de graduação em Filosofia, recebi as lições que viriam a constituir o escasso acervo de meus conhecimentos sobre a obra do pensador húngaro G. Lukács. Na ocasião, na esteira da avaliação do próprio autor, sublinhava-se que seu desenvolvimento filosófico tinha um caráter inequivocamente evolutivo, com o que a formulação sistemática da “ontologia do ser social”, núcleo de sua produção tardia, seria também o resultado mais importante de todo o percurso. Era uma abordagem que favorecia pouco os trabalhos de crítica literária dos primeiros tempos, e os ensaios reunidos no livro de 1911 ficaram, assim, envoltos em sombra.
Se, em algum a medida, este caso representa uma situação mais ampla, pode-se perceber a relevância do aparecimento entre nós do livro de estréia de Lukács, em edição amparada por estudos críticos muito elucidativos de Judith Butler e do próprio responsável pela tradução e pelas notas ao texto, Rainer Patriota. Pois, em que pese a apreciação desfavorável aludida acima, parece-nos que os escritos em foco, embora desiguais quanto a alcance e mérito intrínseco, formam um conjunto bastante coeso, versando sobre um extenso repertório de temas literários e filosóficos, organicamente articulados à meditação sobre nossa condição existencial.
O princípio organizador da reflexão é idealista, estabelecido logo no âmbito dos dois exercícios iniciais “Sobre a forma e a essência do ensaio” e “Platonismo, poesia e as formas”. Concebida como busca por elevação acima d o tumulto sem sentido da vida comum, a jornada da alma só se realiza ria de modo pleno mediante a configuração integrada do que ali aparece disperso e fragmentário. As estruturas complexas que emergem em sua atividade, propostas como articulação necessária entre fins e meios, intenção e execução, conteúdo e aparência, interioridade e exterioridade, são as formas a que se almeja. Seria um programa de trabalho razoavelmente convencional, capaz até de produzir resultados triviais, não fosse a disposição experimental de quem o conduz. Pois uma das razões do interesse destas primícias lukácsianas é a ausência de dogmas entre seus elementos constitutivos, sinal de uma atitude investigativa honesta, dominada pela curiosidade.
Segundo tal inspiração, um grande atrativo dos ensaios em foco é o estabelecimento, em seu desenrolar, de conexões múltiplas entre os móveis de sua atenção, capazes de evidenciar o copertencimento entre estratos distintos da realidade, mas também entre fenômenos que à primeira vista nada teriam a ver uns com os outros. As formas, ou se se quiser, as ideias, quase sempre entretêm boas relações com a vida — a exceção mais ostensiva estando na angustiada visão das coisas presente nos dois últimos textos, “Metafísica da tragédia” e “Da pobreza de espírito” –, porque são pensadas não apenas como essência incondicional da totalidade, mas também como algo cuja realização no mundo só ocorre a partir do vivente que experimenta. Empresta-se, assim, um caráter muito dinâmico à já referida demanda por sentido. Em função disso, os nexos entre o material de que se parte e a composição a que se chega não são rígidos nem unívocos, como se fossem resultado da sujeição do múltiplo da vivência a regras universais, mas mostram-se compatíveis com a variedade efetiva, tanto dos problemas humanos e das questões artísticas ventilados, quanto das possibilidades de um equacionamento formal que os unifique. Uma tal abertura de espírito é o que torna viável a aproximação entre, por exemplo, Platão e Montaigne, reivindicados como expoentes máximos do ensaísmo a que se pretende filiar o próprio livro.
Todavia, como se sabe, boas intenções costumam não ser o suficiente. Aos olhos deste leitor noviço, o que assegura força aos ensaios é o sucesso n a aplicação de sua estratégia global. Firmada a tarefa de acompanhar o trânsito da alma entre e vida e as formas, optou o autor pelo exame de uma série de obras em que os diversos aspectos da relação entre esses dois pólos puderam ser acompanhados segundo um extenso leque de especificidades. Portanto, por mais heterogêneos que sejam os casos estudados, cabe tomar o que temos em mãos como um conjunto de variações sobre um mesmo tema de fundo. Porque multifacetado, tal tema admite associações muito diversas, conforme os propósitos e o colorido próprios de cada objeto visado. Porém, não obstante a peculiaridade das partes, a feição final do todo é bem proporcionada, justamente porque o plano que a ordena cumpre à risca o que promete. Correndo algum risco de impertinência, imaginamos acertar ao entender o notável resultado dos esforços aqui empreendidos por Lukács como efeito da compreensão da s forma s como perspectiva s, de preferência a estruturas essencialmente invariáveis. Os momentos em que isto fica mais nítido estão nos ensaios sobre Kierkegaard, Sterne, Storm e Novalis, respectivamente “Quando a forma se estilhaça ao colidir com a vida”, “Riqueza, caos e forma”, “Burguesia e l’art pour l’art ” e “Sobre a filosofia romântica da vida”.
O tratamento d ado ao filósofo escandinavo prima pela percepção nuançada do alcance de um gesto de separação que decidiu em definitivo o rumo posterior de sua vida e de sua produção intelectual. Apesar de realçar a tensão entre est as duas esferas, o ensaio termina provando a consistência paradoxal vigente na relação entre elas: somente a renúncia a uma vida afetivamente significativa tornou Kierkegaard apto a cumprir seu destino, assegurando-lhe de uma vez por todas aquilo que teria sido perdido pouco a pouco a cada dia. Junto a o escritor irlandês, em contrapartida, admite-se, ao termo de um diálogo muito movimentado, o triunfo da riqueza vital da forma aberta sobre a exigência do sacrifício da vida à forma acabada. Aliás, em nenhum outro ponto do livro a combinação entre vida e forma mostra resultados tão animadores, frutos de uma reciprocidade que marca um dos extremos no espectro de possíveis encaminhamentos para seu tema central.
Também em relação a Novalis, encontramo-nos em presença de uma coerência insuspeitada, mas cujo balanço em termos da forma presta-se à demonstração de uma ruína. Um distanciamento cordial d o romantismo garante a Lukács um ponto de vista independente a respeito d a questão alemã. Até onde pude ver, ele trata aqui de ambos os assuntos livre de qualquer partidarismo, com o que suas análises ganham em pertinência e agudeza, ensinando sobre o que expõem sem querer doutrinar. Assim, embora a palma seja atribuída ao classicismo goetheano, entende-se em que medida a alma romântica viveu sua peripécia com dignidade, tendo na figura em foco sua mais alta expressão.
Por que o que em uns é contínuo, enquanto em outros resta contraditório, apenas os caminhos sutis do ensaio sobre a lírica de Theodor Storm nos permitem constatar a integridade que reúne nele poesia e existência burguesa. A solução do aparente dilema deriva de observações a propósito do sentimento de comunidade que marca a autêntica atitude ética diante da vida. É pela prevalência de injunções desta natureza que o poeta teria alcança do seu melhor. Não importando se este se restringe à modéstia da maestria artesanal, interessa sublinhar mais uma vez a ocorrência de uma coexistência bem lograda entre os dois pólos da equação lukácsiana, que figura, neste passo, exatamente no meio do espectro de possibilidades mencionado há pouco.
Sob esse mesmo horizonte geral, ao deslocarmos nosso olhar para su as regiões mais conflagradas, localizamos os ensaios sobre Stefan George, Richard Beer-Hoffmann, Charles-Louis Philippe e Paul Ernst, cujos títulos respectivos são “A nova solidão e sua lírica”, “Nostalgia e forma”, “O instante a as formas” e o já citado “Metafísica da tragédia”. Para o leitor que, como eu, se fia em traduções, talvez esteja aí a parte menos acessível do livro, dada a carência de documentos que permitiriam uma confrontação dos achados lukácsianos com suas fontes originais. Tomadas em bloco, são leituras que enfatizam a miséria da modernidade no que concerne à chance de realização de for mas artísticas substanciais, considerando-se a degradação dos laços que dariam à existência coletiva um sentido comum. Em especial, o último escrito traz uma conclusão bastante pessimista quanto às chances de reunião entre a vida vivida e as formas. Segundo tal conclusão, apenas o mundo fechado e perfeito das formas definitivas pode ria fornecer aos homens um referencial perene para a justificação de sua efêmera passagem pelo mundo da vida.
Assinalando o limite em que os dois pólos da problemática em estudo estão mais dissociados um do outro, essa metafísica da tragédia é seguida por sua consequência mais rigorosa, a defesa de uma atitude existencial próxima à singularidade dos santos dostoievskianos, chamada pelo russo de idiotia. Sem discutir se esta atitude revela uma adesão amorosa incondicional ao mundo ou sua exata antípoda, uma recusa odiosa incondicional ao mundo, notamos que somente um a perspectiva mística autoriza esta versão extrema do assunto, em que as formas são radicalmente separadas da realidade imanente. Quem sabe se esconde, nesta vasta oscilação entre as páginas calorosas sobre Sterne e as declarações niilistas do protagonista masculino do diálogo sobre a pobreza de espírito, uma cifra para o entendimento do percurso ulterior do pensador, em que a generosa inclinação a favor da realização histórica do socialismo contrasta com a aceitação irrestrita de formas absolutas de opressão?
Mas não vale concluir a exposição dessas impressões sem antes mencionar duas razões pelas quais est a edição de “A alma e as formas” parece-nos exemplar. Por um lado, o senso de oportunidade que preside a distribuição das notas ao texto lhes assegura o devido caráter informativo. Porém, a par do uso consciencioso deste expediente, o que mais se destaca na tarefa levada a excelente termo pelo tradutor é a qualidade literária da prosa, provando com folga que o prazer do texto não é, entre nós, uma graça perdida.
Rainer Patriota – Professor Titular do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto (DEFIL/IFAC/UFOP.
Olímpio Pimenta – Professor Titular do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto (DEFIL/IFAC/UFOP).
Egocentricidade e mística: um estudo antropológico – TUGENDHAT (C)
TUGENDHAT, Ernst. Egocentricidade e mística: um estudo antropológico. Trad. de Adriano Naves de Brito e Valerio Rohden. São Paulo: WMF M. Fontes, 2013. Resenha de: CESCO, Marcelo Lucas. Conjectura, Caxias do Sul, v. 19, n. 2, p. 204-208, maio/ago, 2014.
Ernest Tugendhat nasceu em 1930, em Brünn. Atualmente, vive em Tübingen. É professor emérito de Filosofia nas Universidades de Berlin e Tübingen. Sua obra, traduzida para o português, é composta por uma grande variedade de livros e artigos, entre eles se destacam Propedêutica lógico-semântica (1996), Lições introdutórias à filosofia da linguagem (2006) e Lições de ética (1997). Vem somar-se a estas obras traduzidas Egocentricidade e mística: um estudo antropológico, texto que será apresentado nesta resenha.
No referido texto, Tugendhat faz uma análise filosóficoantropológica, buscando, se não primeiramente responder, suscitar outras perspectivas de possíveis respostas para perguntas como: O que significa dizer “eu”? Por que os seres humanos buscam a paz de espírito? O que diferencia o homem dos outros animais? Como é que se dá a relação do homem com a vida e com a morte? Qual a diferença entre religião e mística? Este livro é dividido em duas grandes partes, a saber: na primeira, com o título de “Relacionar-se consigo mesmo”, o autor se foca mais em questões antropológicas, especificamente tentando responder o que ele entende por egocentricidade. Na segunda parte, sob o título “Tomar distância de si mesmo”, Tugendhat tem o foco voltado para as questões do que e como ele compreende a mística. Leia Mais
A Imaginação Crítica, Hume no século das Luzes – PIMENTA (C-FA)
PIMENTA, Pedro Paulo. A Imaginação Crítica, Hume no século das Luzes. Rio de Janeiro: Azougue/Pensamento Brasileiro, 2013. Resenha de LIMONGI, Maria Isabel. Hume Pintor. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, v.19, n.1 Jan./Jun., 2014.
O livro A imaginação crítica, Hume no século das Luzes, de Pedro Paulo Pimenta, reúne uma série de ensaios, alguns inéditos, outros anterior mente publicados em coletânea, revista acadêmica ou jornal, acrescidos da tradução de trechos da correspondência de Hume e da resenha dos Poemas de Ossian, antes publicada na coletânea O Iluminismo Escocês.1 Trata-se, segundo os termos do autor, de apresentar “ aspectos menos conhecidos ” da obra de Hume, o que Hume pensou sobre certos “ tópicos ”, como “ a linguagem e suas relações com o pensamento e vida em sociedade; o lugar da filosofia entre as artes e as ciências; o papel das artes na formação das maneiras e do caráter dos homens; a possibilidade de conciliar, na prática das ciências, instrução e prazer ” (apresentação, p. 7). Mas o livro parece ter uma unidade ainda maior do que esta que aqui se propõe e que está em tratar desses tópicos com o foco na importância que Hume concedeu às questões de estilo e aos modos de expressão, aos diferentes gêneros de discurso e seus diversos efeitos sobre os homens.
Assim, o primeiro ensaio, A força das palavras, serve de introdução ao conjunto de ensaios ao reconstituir o conteúdo do ensaio Da Eloquência, de 1741, onde Hume se dedica a resgatar a arte da eloquência do descrédito e a refletir sobre as razões do seu declínio entre os modernos, em particular os ingleses. O ensaio oferece um excelente quadro da questão da eloquência, comparando as apreciações de Hume com a de seus contemporâneos e referindo-as aos clássicos que lhe serviram de exemplo.
Em boa parte dos ensaios é a questão dos gêneros de discurso e suas especificidades o que está em questão. É assim, como já diz seu título, no ensaio O Diálogo como gênero filosófico, em que se trata de explorar o uso que Hume faz do diálogo, um uso que, como mostra Pimenta, vai muito além de tomá-lo como um modo de expressão afeito a uma certa postura cética, mas que, na esteira da “ poética do diálogo como gênero filosófico ” de Shaftesbury (p. 57), vê nele uma forma de exercício moral, uma maneira de trabalhar as paixões, temperando seus excessos e submetendo-as ao entendimento, pela adoção do distanciamento crítico a que ele conduz. Assim, se Hume faz uso do gênero para tratar da questão da religião natural, não é apenas como um modo de evitar uma posição definitiva sobre o assunto, mas como uma forma de equilibrar os ânimos religiosos e conter o entusiasmo. Esse efeito torna importante ao filósofo o cultivo do gênero, em grande estilo.
No ensaio sobre a eloquência, trata-se ainda de evidenciar a preocupação de Hume com o modo adequado de se expressar em filosofia, isto é, com as particularidades da filosofia enquanto gênero discursivo, enquanto um “ saber que delicadamente se equilibra entre dois mundos, o da palavra escrita (erudição) e o da oralidade (conversação), e [que] tem, assim, uma eloquência própria ” (p. 37). A mesma preocupação se vê ainda nas observações de Hume, reconstruídas no ensaio Da maneira ao estilo, em condenação ao estilo pesado e abstruso do Tratado da Natureza Humana, preterido em favor das Investigações sobre o entendimento humano e sobre o princípio da moral, nas quais os mesmos conteúdos são retomados e expostos em estilo conciso e simples, mais apto a agradar ao público e por isso também ao autor. A busca de Hume por um estilo filosófico próprio é ainda tema no ensaio Rousseau e D’Alembert, ou o filósofo no espelho.
É da história enquanto gênero discursivo o que trata o ensaio A arte do retrato histórico, em que se aponta para a importância de Tácito para Gibbon, Blair e Hume, como um modelo na arte da composição de quadros históricos, um modelo ao qual, segundo Pimenta, Hume teria recorrido fartamente na História da Inglaterra. Aqui, mais uma vez, o foco parece ser a atenção dada por Hume e seus contemporâneos britânicos ao estilo e modos de expressão pertinentes ao gênero histórico.
É também a questão do gênero pastoral o fio condutor do ensaio A Ilusão Pastoral, onde se comenta a resenha de Adam Smith do Discurso sobre a Origem da Desigualdade de Rousseau, particularmente suas considerações acerca do modo como Rousseau se serve desse gênero em sua descrição da condição natural do homem. O comentário resgata também as posições de Hume sobre o gênero, e, com esse pano de fundo, trata das diferenças entre Rousseau e Smith quanto ao modo de pensar a função e os métodos da história natural, ela também visada enquanto um gênero discursivo.
O gênero da pintura é assunto no ensaio Da maneira ao estilo, pela referência à metáfora do anatomista e do pintor a que Hume recorre para tratar das diferenças entre os gêneros filosóficos. Ele está em questão também no ensaio A lógica do tableau, que explora os aspectos pictóricos ou plásticos da percepção em relação com as questões compositivas inerentes ao gênero da pintura, tratadas ainda em A arte do retrato histórico, onde se mostra como esta arte aproxima, justamente, os gêneros da história e da pintura. A atenção dada por Hume aos aspectos compositivos dos discursos faz do retrato pictórico e de sua força expressiva o horizonte de suas reflexões sobre o estilo e modos de expressão, tal como reconstituídas por Pedro Paulo Pimenta. O livro recolhe e documenta fartamente, com erudição e cuidado, o que Hume pensou sobre o tema.
Em relação com o Hume preocupado com as questões de estilo e com as particularidades compositivas dos gêneros discursivos o Hume crítico -, o conjunto de ensaios traz à cena ainda, em segundo plano, outros Humes, particularmente o Hume historiador e o filósofo moral, dado que a crítica tem dimensões morais e históricas que não escapam às análises de Pimenta, sobretudo a segunda. Trata-se então de abordar o que Hume pensou acerca, não mais da forma, mas dos conteúdos da História e da Moral, para além das particularidades do gênero discursivo a que pertencem, mas como elementos de sustentação do trabalho crítico.
Assim, o ensaio sobre a eloquência mostra como as considerações sobre o declínio dessa arte entre os modernos conduz Hume a explorar as diferenças nas maneiras e costumes entre antigos e modernos e a apreciar a arte da eloquência no interior de um quadro histórico. É justamente em razão das diferenças entre as maneiras e os caracteres das épocas que Hume contesta, numa resenha crítica cuja tradução compõe o volume, a autenticidade dos poemas de Ossian, publicados em 1760 como a suposta tradução de poemas celtas do século III a.c., o que ensejou, como relata Pimenta, uma intensa polêmica em torno de sua autenticidade, da qual o texto traduzido é uma peça. É o problema da história da civilização e o de seu sentido, tão visitado e discutido ao longo do século XVIII, ligado à compreensão histórica das diferenças entre as maneiras e caracteres dos povos e à identificação das circunstâncias históricas que as condicionam, que se abre então.
Este problema é tema também no ensaio Refinamento e Civilização, ou como se colocar à altura do seu tempo, em que Pedro Paulo Pimenta reconstrói, tomando como ponto de partida um artigo de E. Benveniste, acerca da história da palavra “civilização”, incorporada ao vocabulário das línguas modernas em meados do século XVIII, toda a discussão em torno do significado do termo e do sentido da história da civilização, se o de progresso ou de declínio dos costumes. A mesma questão reaparece na resenha de Smith sobre o segundo Discurso de Rousseau, objeto de comentário em A Ilusão Pastoral.
A dimensão moral da crítica, por sua vez, é explorada no ensaio O Diálogo como Gênero Filosófico, em que está em questão, como já observamos, os efeitos morais do exercício do diálogo, na regulação das paixões. Ela é também tangenciada no ensaio Da Maneira ao Estilo, por ocasião do comentário à observação de Hutcheson ao Tratado da Natureza Humana, segundo a qual Hume deveria ter se engajado mais fortemente na defesa da virtude, no lugar de apenas apresentá-la por meio de uma investigação abstrata, como faz no Tratado. A essa observação Hume responde recorrendo à metáfora do anatomista e do pintor e esclarecendo que no Tratado optou por proceder à maneira do anatomista, procurando desvendar as “molas e princípios mais secretos” ( apud Pimenta, p. 42) do seu objeto, em vez de recompor sua graça e beleza, como faria o pintor. Isso equivale a proceder como o metafísico, que explica o que é a virtude, e não como o moralista, que a exorta. Há toda uma questão sobre a natureza da investigação moral no horizonte dessas observações.
Aqui, pode-se talvez lamentar que Pedro Paulo Pimenta reduza a distinção entre esses dois modos de fazer filosofia moral a uma dferença de estilo– a diferença entre o estilo seco do metafísico, que fala ao entendimento, e o estilo vivo e forte do moralista, que fala às paixões -, de maneira a concluir que a diferença entre os estilos do Tratado e da Investigação sobre os princípios da Moral, implique uma diferença no modo de fazer filosofia moral. De acordo com Pimenta, na passagem do Tratado para a Investigação, Hume deixou de considerar descabida a observação de Hutcheson de que deveria proceder ao modo do moralista, para então passar a aceitar fazer filosofia moral desse modo. No entanto, as diferenças compositivas e estilísticas entre as obras não implicam diferença no modo de fazer filosofia moral. Na Investigação, Hume permanece o mesmo anatomista do Tratado, expondo porém o resultado de sua dissecação de um modo mais conciso e agradável. Parece-me que aqui a foco nas questões de estilo acabou por obscurecer um aspecto da filosofia moral de Hume, o modo como Hume compreendeu a natureza e a função da filosofia moral, enquanto uma anatomia da virtude.
Pode-se dizer que é um retrato de Hume o que se trata de fazer em A Imaginação Crítica – o que é tão mais pertinente dizer em função da atenção particular que se dá ao modo como o próprio Hume pensou o tema da composição e do retrato. São facetas de Hume que aparecem na sequência dos ensaios, que aos poucos vão formando um quadro, completo e simples de um certo Hume. Além do Hume crítico, do historiador e do moralista, os ensaios mostram ainda o homem do seu tempo, preocupado com comentar e interferir nas questões e temas de sua contemporaneidade, em franco diálogo com a produção literária do século XVIII: o Hume da República das Letras e dos salões.
Por meio de intenso recurso à correspondência de Hume que tem muitas de suas passagens traduzidas e comentadas por Pimenta, que contribui assim, de maneira importante, pela excelência de suas traduções, para a divulgação do seu conteúdo -, o retrato de Hume assume um tom anedótico. À figura do filósofo e literato se acresce a figura do homem de carne e osso, pelo que ficamos sabendo de certos episódios da sua vida, como sua viagem a Alemanha a serviço da diplomacia britânica, no ensaio Hume e Tiepolo no Palácio de Würzburg, e das condições de sua morte em Os últimos dias de David Hume (a tradução das passagens da correspondência em que se faz menção às circunstâncias de sua morte), assim como pela referência às particularidades de sua compleição física, em Elogio da Obesidade (a tradução de passagens da correspondência em que Hume comenta, em tom jocoso, o seu excesso de peso).
O livro traz ainda muita informação acerca do que Hume pensou de seus contemporâneossobre o que disse, por exemplo, acerca do estilo de Fegunson a Robertson e Blair, em Refinamento e Civilização, ou sobre Rousseau e D’Alembert, em Hume, Rousseau e D’Alembert, ou o filósofo no espelho -, assim como sobre o que disseram dele, como Hutcheson, em Da maneira ou estilo, e sobre o que seus contemporâneos disseram uns dos outros, como Smith de Rousseau e Bouffon, em A Ilusão Pastoral.
Esse “diz-que-diz-que”, cuidadosamente pinçado da correspondência de Hume e outras fontes, retrata bem a intensa comunicação e correspondência entre os filósofos do XVIII e mostra o quanto as questões de estilo importavam não só a Hume como a seus contemporâneos.
Ocorre, porém, dessas referências cruzadas tomarem em alguns momentos um espaço excessivo nas análises de Pimenta, como no ensaio Refinamento e Civilização, em que terminam por se sobrepor à questão de saída o sentido do termo civilização, seus aspectos positivos e negativos a ponto de fazer perdê-la de vista.
Do mesmo modo, se as observações sobre a obesidade, ao lado da reconstituição dos últimos dias de Hume, tem um interesse intrínseco, pela disponibilização de textos preciosos, exemplos finos do bom humor e da leveza de estilo de nosso autor, o mesmo não se pode dizer da questão que anima o ensaio sobre os painéis de Tiepolo, em que o caráter anedótico e a pergunta pitoresca e um pouco forçada o que Hume teria a dizer acerca desses painéis se já estivessem instalados no momento em que visita o palácio de Würzburg? põem à sombra a questão política –as observações de Hume sobre a suntuosidade do palácio como signo da autoridade dos príncipes alemãesque faz o interesse da anedota.
Todo esse anedotário serve, porém, com maestria, ao estilo que Pedro Paulo Pimenta pretende ele próprio cultivar em suas análises.
Aplica-se a elas o que L. Jaffro escreveu acerca do livro Shaftesbury e a formação de um caráter moderno 2 de Luís Nascimento, quando diz que, se Luís Nascimento nos ajuda a compreender a filosofia de Shaftesbury, “ também precisamos da filosofia de Shaftesbury para compreender Luís Nascimento ” (p. 11). A referência aqui é ao modo como Nascimento mimetiza o estilo de Shaftesbury no comentário que faz de sua obra, o que se aplica igualmente à relação de Pedro Paulo Pimenta com Hume. É assim, como um elemento da composição do retrato de Hume, em compensação às análises mais pesadas, por assim dizer, que a mobilização de todo esse anedotário ganha sentido.
O esmero na arte de compor o retrato de Hume certamente compensa algum desconforto que um leitor de humor mais analítico e severo possa sentir diante do modo como Pedro Paulo Pimenta lida com certas questões metafísicas com as quais se depara. Por exemplo, no ensaio A lógica do Tableau, o autor aponta para uma interessante relação entre composição, no sentido em viemos falando dela até agora, e percepção. A percepção é para Hume, ele observa, como já para Locke, uma forma de composição, dado que envolve um processo de imitação na passagem das impressões às ideias, e que os efeitos dessa imitação, aos quais se condiciona a distinção epistêmica entre crença e ficção, dependem diretamente da unidade e simplicidade das relações entre os elementos perceptivos. Daí que, segundo Pimenta, o caráter de cópia da ideia deixe de ser um problema epistêmico para se tornar uma virtude – “ uma imitação bem feita (…) vale por muitas impressões ” (p. 87). De onde se passa, com certa rapidez, à conclusão: “ é na ‘crítica do gosto’ que se revelam a verdadeira natureza e dimensão do conhecimento, e resolvem-se, de uma vez por todas, os problemas da ‘lógica’ ” (p. 88). A formulação é de impacto: no gosto encontra-se a solução definitiva dos problemas da lógica! Mas, por mais sugestiva e promissora que seja, tal conclusão não se deixa derivar, sem mais, da analogia entre composição plástica e percepção.
Um desconforto semelhante pode acometer o leitor de A arte do retrato histórico. Ali, Pedro Paulo Pimenta mostra como certas questões de método em História, tal como pensadas por Hume e Gibbon, para os quais cabe ao historiador trazer à luz o encadeamento e a lógica dos eventos relatados a fim de identificar suas causas gerais, espelham, para esses autores, as questões de gosto, precisamente aquelas relativas à unidade compositiva do retrato, de forma que ao historiador, enfatiza Pimenta, é imprescindível o bom gosto. Porém, por mais rigorosa que seja essa observação, ela corre o risco de ser redutora se não for melhor explorada. Pois, não são apenas as questões de gosto e certas exigências compositivas que motivam Hume a compor, para usar o exemplo de Pimenta, o retrato de Carlos I na História da Inglaterra do modo como ele o faz, quando se trata de resgatar a dignidade de sua figura contra a detratação partidária de que teria sido vítima por uma certa historiografia. Aqui, não se trata apenas de bem retratar e de ser verdadeiro, segundo os bons princípios da composição. Tratase de entender os episódios da guerra civil inglesa a partir das causas gerais que se presume presidir este e outros acontecimentos históricos, a partir de um método e de uma lógica para se julgar sobre causa e efeito tomados de empréstimo das práticas cognitivas das ciências naturais e cujo alcance crítico não se deixa reduzir a uma questão compositiva. Seja como for, se o método histórico não se reduz a uma questão de gosto, as duas esferas não deixam de ter relação, como faz ver muito apropriadamente Pedro Paulo Pimenta.
Estas são pequenas objeções, a vontade de pensar para além do que se propõe a fazer Pedro Paulo Pimenta, instigada pela leitura de seu livro, cujo mérito está em pintar, de maneira deliberadamente recortada e fragmentada, um belo retrato do Hume pintor não o anatomista, que é o mais conhecido.
Notas
1.PIMENTA, P. (org.) O iluminismo escocês. São Paulo: Alameda editorial, 2011.
2.NASCIMENTO, L.Shaftesbury e a formação de um caráter moderno.São Paulo: Alameda editorial, 2012
Referências
PIMENTA, P. A Imaginação Crítica, Hume no século das Luzes. Rio de Janeiro: Azougue & Pensamento Brasileiro, 2013.
_____ O iluminismo escocês. São Paulo: Alameda editorial, 2011.NASCIMENTO, L.Shaftesbury e a formação de um caráter moderno.São Paulo: Alameda editorial, 2012.
Maria Isabel Limongi – Universidade Federal do Paraná. E-mail: belimongi@yahoo.com.br
Ensaio filosófico sobre a dignidade: antropologia e ética das biotecnologias – BAERTSCHI (C)
BAERTSCHI, Bernard. Ensaio filosófico sobre a dignidade: antropologia e ética das biotecnologias. Trad. Paula Silvia Rodrigues Coelho da Silva. São Paulo: Loyola, 2009. Resenha de: WEBBER, Marcos André. Conjectura, Caxias do Sul, v. 18, n. 2, p. 163-166, maio/ago, 2013.
Bernard Baertschi é professor e pesquisador no Departamento de Filosofia da Universidade de Genebra. Ao lado da pesquisa sobre a filosofia francesa dos séculos XVIII e XIX, Baertschi possui muitos livros e artigos publicados com o foco voltado ao pensamento ético, especialmente no que se refere aos fundamentos da ética, à ética das biotecnologias e à neuroética.
Atualmente, é titular da disciplina de Bioética no Instituto de Ética Biomédica e do Departamento de Filosofia da Universidade de Genebra. Leia Mais
Um século de conhecimento: arte, filosofia, ciência e tecnologia do século XX – SIMON (FU)
SIMON, S. (Org.). Um século de conhecimento: arte, filosofia, ciência e tecnologia do século XX. Brasília: Editora UnB, 2001. Resenha de: NEDEL, José. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.13, n.2, 199-208, mai./ago., 2012.
A obra e o século XX
O organizador da obra, Samuel Simon, professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, faz a apresentação, falando do seu objetivo, de sua abrangência, além de traçar uma síntese dos acontecimentos mais relevantes do século relacionados ao tema.
Objetivo
O principal objetivo da obra, em 31 capítulos, em 1.282 páginas de 24 x 17 cm, é a análise completa, escrita em língua portuguesa, das teorias científicas nas várias áreas do conhecimento do séc. XX e dos desdobramentos daí advindos. A cada autor foi solicitada a análise crítica e prospectiva de uma área de conhecimento, compreendendo: situá-la historicamente, referir seu desenvolvimento na passagem do séc. XIX para o séc. XX, quando fosse o caso, oferecer uma análise propriamente dita, e apresentar as tendências possíveis da respectiva área para o séc. XXI.
Abrangência
O livro resultou sendo uma versão crítica do que tem sido feito no séc. XX, fora alguns domínios do conhecimento, não contemplados, por não ter sido possível contar com os respectivos especialistas (p. 18).
As informações abrangem ciências humanas, da natureza e exatas; saúde e nutricionismo; tecnologias e artes. Estão contempladas as seguintes especialidades, umas mais desenvolvidas que outras: Administração, Agronomia, Antropologia, Arqueologia, Arquitetura, Biologia, Botânica, Ciência cognitiva, Ciência da informação, Cinema, Computação, Comunicação, Cosmologia, Ecologia comportamental, Educação física e esporte, Engenharia aeroespacial, Engenharia de minas, Estatística, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Museologia, Música, Nutrição, Paleontologia, Química, Relações internacionais, Sociologia e Teoria literária.
Panorâmica do séc. XX
A descrição geral do séc. XX pode ser composta pelo que consta da Apresentação (p. 7-19) e do Prefácio de Roberto A. Salmeron (p. 21-26). Uma advertência oportuna é a de que o conhecimento teórico e aplicado, que obteve grande desenvolvimento no séc. XX, não se iniciou nele, nem mesmo no séc. XVII, com a revolução científica. Com efeito, as atuais definições da teoria científica são herdeiras de uma tradição de 2,5 mil anos de conhecimento ocidental e oriental. Ao lado do desenvolvimento científico e tecnológico, ocorreu também o das artes e da filosofia.
Desenvolvimento
Em síntese, o conhecimento científico no séc. XX ensejou o aparecimento de novas áreas, aprofundando duas tendências iniciadas no séc. XVII: a crescente especialização do conhecimento e o estabelecimento de interconexões entre áreas até então bastante distintas (p. 7). A história das ideias ensina que a aproximação entre fenômenos antes sem conexão, integrando um mesmo conjunto explicativo, é uma tendência definitiva. Segundo Roberto A. Salmeron, as novas interconexões das várias ciências, ao lado da matematização crescente em vários domínios científicos e da abstração, são, talvez, os traços mais característicos das ciências no séc. XX (p. 14).
Interconexões
Como exemplos, vale notar as interconexões nos seguintes tópicos: O uso da matemática constitui-se a base da física moderna (Galilleu Galilei e Newton). A física, até então, fundamentalmente qualitativa, apropria-se da matemática e a desenvolve, como se vê do cálculo diferencial e integral nos estudos de Newton e Leibniz. A química também tem fortes vínculos com a física e a matemática. A biologia mantém conexões com a química e a matemática, importante desde os trabalhos de Mendel. A sociologia, a antropologia e a área das relações internacionais são tributárias da história que, de maneira recíproca, examina novos fatos à luz dessas ciências e de outros domínios das ciências humanas. A museologia mantém estreitas relações com a arqueologia (p. 8). O uso cada vez mais relevante da computação compete com a matemática em muitos casos. Herdeira disso é a inteligência artificial, conduzindo a novos domínios, como o da vida artificial (p. 15).
Abstração
Para Salmeron, “a característica mais importante do séc. XX […] é a passagem para a abstração, nas ciências e nas artes” (p. 23 e 26). É assim que Louis de Broglie, em 1924, apresentou tese de doutorado na qual mostrou que a cada partícula se pode associar uma onda. Foi a origem da mecânica ondulatória, posteriormente chamada mecânica quântica, que tem fundamentos abstratos, isto é, sem relação com nossa experiência diária. E ela é fundamental para a interpretação da física moderna, em particular dos fenômenos atômicos. Uma teoria abstrata tem inúmeras aplicações, das quais nem nos damos conta: máquina fotográfica digital, ressonância magnética, scanner, transistor, etc. Mais de 30% da indústria moderna de vanguarda são baseados em fenômenos quânticos. Outro exemplo de abstração: a psicanálise que trata da mente humana sem medicamentos, sem intervenção física no corpo (p. 24).
Também na arte houve mudança radical, com a introdução da abstração no modo de pensar. A primeira obra nesse sentido foi o quadro de Picasso Les Mademoiselles d’Avignon, de 1907: cinco mulheres nuas, com desenho simplificado, rostos de três delas representados por máscaras africanas, o fundo com cores vivas sem gradação e contrastes violentos. O quadro, que suscitou escândalo e forte rejeição na época, abriu nova perspectiva para a pintura: a produção de obras que não representam objetos reais. Isso logo foi seguido por outros artistas, como o inglês Thomas Moore, que desenvolveu a abstração na escultura, e Arnhold Schönberg, que o fez na música, com seu dodecafonismo, vindo ele a tornar-se o precursor do que se convencionou chamar música moderna.
Avanços
Os avanços nas ciências e no domínio da natureza ao longo do séc. XX são notáveis. O desenvolvimento tecnológico tem sido extremamente acelerado. O homem conseguiu sobrevoar os oceanos em poucas horas, ir à Lua, desenvolver computadores de altíssima velocidade e pequeno porte, manipular o código genético, aumentar a expectativa de vida, propor conceitos altamente abstratos, como de sinergia (administração), estruturalismo antropológico (antropologia), axialidades (arquitetura), totipotência (botânica), sistemas especialistas (ciência da informação), espiral do silêncio (comunicação), frases protocolares (filosofia), cadeia trófica (paleontologia), etc. Pôde ainda olhar para os confins do universo e obter evidência empírica sobre a existência de um objeto extragaláctico, chegando à cifra de 100 bilhões de galáxias em contínua expansão (p. 8-9).
As artes também conheceram mudanças importantes: o cinema, produto genuíno do séc. XX, tornou-se uma poderosa indústria. Além de oferecer entretenimento, tornouse espaço para a reflexão sobre o homem, sua diversidade cultural, seus valores (p. 9).
Qualidade de vida
O resultado de pesquisas das ciências fundamentais e do aprimoramento da técnica ajudou a minorar o sofrimento de milhões de pessoas. Desde o início do séc. XX, o aumento da oferta de alimentos foi maior que o crescimento da população. Houve enorme progresso social: o homem vivia melhor no fim do que no começo do século, apesar das injustiças e desigualdades existentes em muitos lugares. Trabalha com muito mais conforto e produz muito mais, goza de saúde melhor, vive 30 anos mais e tem mais lazer do que no começo do século (p. 22).
Pela metade do século, iniciando a descoberta dos antibióticos, a medicina deu um salto: muitas doenças passaram a ser curadas, e a procura de medicamentos para tratar ou prevenir doenças tornou-se rotina. Com os avanços da genética e a descoberta da biologia molecular, a biologia se transformou: passamos a ter nova visão da herança da vida e dos fenômenos vitais. Inúmeras aplicações da física tornaram-se inseparáveis de nossa vida cotidiana, tais como telégrafo, telefone, rádio, televisão, computador, novos materiais, aparelhos domésticos e de aplicação na medicina, no transporte, etc. (p. 22).
Limitações
Contudo, são de notar também limitações do conhecimento científico. Muitas questões não estão resolvidas até hoje. Há implicações éticas da ciência aplicada, v. g., da engenharia genética. O conhecimento produzido e acumulado ao longo de milênios tem pouca influência sobre os governantes no tocante à sua adequada utilização em prol de uma vida mais digna (como as questões ecológicas). Esse conhecimento também não tem conseguido reverter o uso indevido, muitas vezes com a ajuda de cientistas, de alguns de seus resultados (p. 10-11).
Algumas observações pontuais
Os autores deste livro monumental, no âmbito da respectiva especialidade, procuram dar conta do que aconteceu no séc. XX, tão rico em desenvolvimento e novidades científicas e tecnológicas. Uma súmula de cada um dos capítulos não caberia nesta simples nota bibliográfica. Por isso apenas alguns tópicos são selecionados e trazidos à consideração dos leitores, não mais do que para despertar o interesse pela leitura exaustiva da obra.
Roque de Barros Laraia (“Da ciência biológica à social: a trajetória da antropologia no século XX”, p.95-117) chama a atenção para o postulado da unidade biológica da espécie humana, já afirmada por Confúcio, 400 anos antes de Cristo, nestes termos: “A natureza dos homens é a mesma; são os seus hábitos que os mantêm separados” (p. 103). Segundo Laraia, aliás, “a antropologia reafirmou o princípio da igualdade da mente humana” (p. 116). A reafirmação dessa verdade reconhecida pela antropologia científica abala, com toda a pertinência, o próprio fundamento de concepções ou teses a favor da desigualdade qualitativa entre raças humanas, que ao longo da história têm ensejado discriminações e exclusões, hoje universalmente condenadas, mesmo que na prática por vezes apenas em vias de superação.
Waldenor Barbosa da Cruz (“Herança e evolução: aventuras da biologia no século XX”, p.195-288). Merece destaque esta observação do autor: “Nenhuma tecnologia científica tem consequências mais profundas sobre o homem do que a derivada da biologia: a biotecnologia. Isto porque afeta não somente nosso estilo de vida, mas também nossos valores éticos e morais e até mesmo põe em questão a evolução de nossa espécie. Por essa razão, os avanços da biologia, particularmente da biotecnologia, são tão amplamente discutidos em todos os meios de comunicação social […]” (p. 279).
O autor pondera que, nesse contexto, surge a bioética. A biologia molecular possibilitou o mapeamento físico do genoma humano e a criação de técnicas para sua manipulação. Isso possibilita ações com objetivos médicos (prevenção, diagnóstico, tratamento de doenças), práticas de exclusão social de indivíduos com genes não desejáveis e construção de indivíduos perfeitos (em suma, processos de cura e eugenia). A mesma tecnologia aplicada a genomas vegetais leva aos alimentos transgênicos, que também envolvem discussões éticas. O patenteamento de genes humanos é inaceitável. Aliás, a UNESCO já o deixou claro na Declaração universal sobre o genoma humano e direitos humanos, 1997 (p. 281). E o autor conclui: “Não é preciso ter bola de cristal para prever que a bioética será cada vez mais importante nas próximas décadas” (p. 282).
Bem apropriadas são as ponderações do autor. É que as questões de bioética são por via de regra polêmicas. Volta e meia retornam à pauta das discussões em âmbito nacional, como já tem acontecido com o aborto, inclusive de feto anencefálico, o uso de embriões humanos na pesquisa, alimentos transgênicos e outras questões que envolvem a vida e a dignidade humana. Nesses casos, a pura ciência biológica, não tendo o alcance necessário para a solução, deve mesmo ser socorrida pela ética em sua vertente aplicada, no caso a bioética.
Aluizio Arcela (“Computação: uma ciência exata com aspirações humanas e sociais”, p.503-557), em meio à explicitação de sua “ciência exata” da computação, faz um juízo crítico da psicanálise, nestes termos: “A psicanálise […] mostra-se vítima de seus próprios ensinamentos ao demonstrar dificuldades de sair da sua infância científica e, assim, ainda não traz uma luz suficiente, algo que explique formalmente, como convém à computação, o que são os complexos, os medos, os desejos e tudo o mais que se manifesta nesse domínio chamado inconsciente, se possível na mesma medida que a lógica o faz para o raciocínio” (p. 554).
Em verdade, exigir da análise da mente humana o rigor da lógica ou da computação, no mínimo, não é devido nem razoável. É que a psyché é misteriosa, apenas acessível de forma indireta, por introspecção, e nunca de modo cabal. Aliás, cada saber tem o rigor e a exatidão que seu objeto permite ou requer, como Aristóteles já ensinou in illo tempore. Se o teorema da incompletude de Kurt Gödel, segundo o qual todos os sistemas matemáticos suficientemente fortes são incompletos, porque neles há teoremas que não podem ser demonstrados nem negados (proposições indecidíveis), tem aplicação na própria computação na versão segundo a qual “nem todos os enunciados verdadeiros da aritmética podem ser demonstrados por computador” (p. 515), não deve causar espécie que na análise dos complexos, medos e desejos da alma humana não haja clareza insofismável como a que é possível na lógica e na computação. Há outros modelos de ciência, particularmente na área das ciências humanas.
Luiz Martins (“Teorias da comunicação no século XX”, p.559-604) faz judiciosas observações acerca do mundo atual e da qualidade da comunicação despejada sobre todos diariamente. Segundo ele, a humanidade foi vitoriosa no campo tecnológico e do ponto de vista das possibilidades de uma interconexão global. Porém, a sociedade moderna está marcada por exclusões e alargamento dos abismos sociais. O mundo sistêmico venceu o mundo da vida, dito em categorias habermasianas (p. 564-565). Há livre trânsito de capital financeiro e mercadorias, mas barreiras à circulação de pessoas, sobretudo em busca de trabalho e asilo. O mundo globalizado se caracteriza por exclusões: fechamento de fronteiras e apartheids sociais (p. 588). “Tal como ironicamente aconteceu no período das circunavegações, novamente o mundo se completa enquanto esfera, mas fragmenta-se em matéria de humanismo. A ‘aldeia global’ totaliza-se para explodir em estilhaços, sucumbindo às categorias dominantes do poder e do dinheiro, diabolicamente fragmentadoras” (p. 589). Pelo visto, a influência do discurso de Habermas sobre o autor é palpável, aliás, expressamente admitido.
O autor pondera que, em relação aos MCM, não raro vence o mau gosto, o grotesco. Na radiodifusão educativa há muito input e pouco output. O papel dos MCM, especialmente da TV, tem estado mais para a deseducação das massas do que para a elevação do nível educacional e cultural das populações, a julgar de obras recentes publicadas pela UNESCO. As crianças são mais vítimas do que beneficiárias dos meios de comunicação: os conteúdos educativos perdem para as programações repletas de violência e degradação dos valores morais e humanos. Os meninos são fascinados por heróis agressivos, como o Exterminador do futuro (p. 573-574).
Obviamente, o alerta do autor deve ser levado em conta. A qualidade das apresentações artísticas e de diversão é ruim, quando não péssima, na maioria dos canais da TV brasileira. O exemplo atual mais chocante disso é o programa Big Brother Brasil que anualmente é encenado e continua no ar, apesar das muitas críticas, por razões de faturamento da empresa de comunicação que o promove, desprezados os bons costumes, os valores educativos e a qualidade artística do espetáculo digno de um zoológico humano.
Carlos Eduardo Guimarães Pinheiro (“A abordagem evolutiva no estudo do comportamento animal e humano”, p.631-659) defende em sua abordagem evolutiva que não há dicotomia verdadeira entre o genético e o cultural; que a cultura também é vista como manifestação genética dos animais, evoluída dentro das populações e moldada por seleção natural. Segundo ele, somos seres culturais porque fomos moldados pela seleção natural para sermos assim. Por sinal, atualmente se acredita que há genes até mesmo para a religiosidade. O principal argumento em favor dessa ideia é que, apesar da enorme diversidade étnica e cultural entre os homens, até hoje não se descobriu povo ou civilização totalmente ateu sobre o nosso planeta (p. 651). Assim, “para desvendarmos as virtudes e maldades da natureza humana, precisaremos conhecer um pouco mais sobre os genes” (p. 655).
Com certeza, uma antropologia de feição mais clássica não teria dificuldade em relativizar esse entendimento biologista do autor. O ser humano é um composto psicofísico que ultrapassa seu patrimônio genético. Nessa condição, realiza atos orgânicos em que o corpo (no caso, a parte biológica) e a psique são concausas; e outros atos, os da inteligência e da vontade, em que o corpo entra apenas como condição, não como causa. Nesse nível situa-se o mundo da cultura criado pelo ser humano ao longo de sua rica aventura sobre o planeta. Na cultura, nela incluída a religião, os genes intervêm, não como causas (que produzem o resultado), ou como determinantes, mas como condições (necessárias para que a causa – a alma, a mente, o espírito – possa produzir o resultado). Entre genético e cultural há, sim, uma distinção radical. Mas distinção não quer dizer separação, pois ambas as partes funcionam sinergicamente no ser humano hígido. A valer a tese do autor, de que a cultura, inclusive a religiosidade, é genética, caberia indagar: por que dela não ocorre nenhum indício entre os chimpanzés, cujo patrimônio genético, segundo pesquisas recentes, é idêntico ao dos humanos em noventa e nove por cento? Não chegaram lá ainda? Ou porque, encerrados na mera perspectiva biológica, não têm acesso ao mundo simbólico? Essa, porém, não é uma questão científica, de antropologia física, mas de antropologia filosófica. A luz da biologia é insuficiente, de curto alcance, para resolvê-la.
Aldo Antônio de Azevedo e Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende (“As dimensões humanas da educação física e do esporte na cultura”, p.661-710) fazem um grave alerta sobre Educação Física nas escolas brasileiras. Segundo eles, com as mudanças na concepção educacional, a ginástica foi perdendo espaço no contexto escolar para o esporte, passando a consolidar-se nas academias, ao lado da musculação, como prática orientada para a modelagem estética do corpo. No Brasil, a esportivização da Educação Física resultou na perda de sua identidade pedagógica e no questionamento de seu papel dentro da escola. O professor passou a ser técnico esportivo interessado em treinar seleções, relegados a segundo plano os alunos apontados como desprovidos de aptidões naturais para o esporte (p. 700).
Se a denúncia é verdadeira, deve ser levada em conta pelos educadores e instituições de ensino, a fim de que não se perca uma prática indispensável à educação integral, consagrada ao longo da história da educação no Ocidente, e não se induza a discriminação dos educandos havidos como menos prendados para o esporte.
Nelson Gonçalves Gomes (“Os progressos da filosofia no século XX”, p.795-871) escreve um valioso ensaio de síntese das reflexões filosóficas no séc. XX. Passa pelas principais correntes, como o idealismo, o positivismo, a fenomenologia, a filosofia analítica, até a pós-analítica para a qual as lógicas intensionais abriram horizontes (p. 867). Observa que na filosofia não há progresso consensual (p. 861), mas progressos controversiais, isto é, formação de correntes, em processo contínuo, com diferentes posições diante dos grandes problemas. As concepções exercem influência umas sobre as outras e evoluem, por exemplo, o neotomismo analítico (p. 861-862).
Da filosofia analítica o autor aponta os resultados mais interessantes: o papel privilegiado conferido à linguagem, como instrumento de pensamento; o emprego de métodos formais no tratamento das questões filosóficas; o uso da lógica como recurso auxiliar (p. 864). Afirma: “A filosofia analítica, tal como existiu na primeira metade do século XX, esgotou-se. ‘Filosofia analítica’ tornou-se uma espécie de guarda-chuva que abriga toda uma família de filosofias, que têm em comum o cuidado no uso da linguagem e a exigência do emprego de argumentos” (p. 867). Informa que, a partir daí, alguns falam em “filosofia pós-analítica”, que retoma grande parte da tradição, mas não de forma conservadora, uma vez que discute grande variedade de problemas novos. O retorno dos temas clássicos se faz muitas vezes com emprego de linguagens sofisticadas e argumentação rigorosa, frequentemente formulada com o auxílio de lógicas intensionais. Esclarece que essas lógicas, desenvolvidas na segunda metade do séc. XX, são sistemas nos quais se trabalha com frases regidas por expressões como necessariamente, possivelmente, obrigatoriamente, surgindo assim a lógica modal, a deôntica, a epistêmica e outras, para as quais são construídos sistemas peculiares de semântica, as semânticas dos mundos possíveis (p. 867).
Pelo visto, o autor traz a análise até os dias atuais e transita por tudo com objetividade e desenvoltura. No mais, oferece preciosas dicas para extensão e aprofundamento dos temas por parte dos interessados.
José David M. Vianna (“A física e o século XX”, p.873- 916) apresenta um longo estudo sobre os avanços da física no último século e faz uma observação sobre cuja pertinência a história futura da ciência dirá, a saber.
No início do séc. XX, pelo menos o primeiro quarto de século, a física foi marcada por desdobramentos de resultados e propostas da segunda metade do séc. XIX: a sintetização das leis do eletromagnetismo (Clerk Maxwell); a descoberta dos raios catódicos (Johann W. Hittorf e William Crookes); do efeito fotoelétrico (Hertz e Philipp von Lenard); dos raios X (Wilhelm K. von Roentgen); da radioatividade (Henri Becquerel); a confirmação da existência de ondas eletromagnéticas (Heinrich Rudolf Hertz); o desenvolvimento da teoria clássica do elétron (Hendrick A. Lorentz), etc. (p. 873-874). Isso leva a pensar sobre quanto das ideias surgidas nos últimos 25 anos do séc. XX poderão influenciar as descobertas do séc. XXI. Nessa situação encontram-se estes tópicos: a informação quântica, as cordas e supercordas (strings e superstrings), os materiais nanoestruturados, o confinamento e os novos materiais, o caos, os quarks, os campos de calibre (gauge), a unificação da interação forte com a fraca e a eletromagnética, e a superunificação das quatro interações básicas, etc. Tudo pode entrar como itens de uma pauta de projetos cujo desenrolar continuará a fazer da física uma ciência de interesse cada vez maior (p. 912). E ela tem de assinalar novos progressos, porque desafios múltiplos lhe estão postos. Um deles é não menos do que este, como afirma o autor: “Um dos desafios para este século que se inicia é encontrar um modelo para a estrutura fundamental da matéria” (p. 898).
Haverá de encontrá-lo? Se acontecer, com certeza, não será pouco.
Ignez Costa Barbosa Ferreira (“A visão geográfica do espaço do homem”, p.817-944) traça um estudo preciso do desenvolvimento da geografia, das origens até as perspectivas atuais. Enquadra-se no novo paradigma de base ecológica, surgido em decorrência da pressão dos problemas ambientais, preocupado com a atuação antrópica sobre a natureza, em que o próprio homem seja visto como elemento do ecossistema (p. 935). A autora pensa que “a preservação do hábitat do homem na superfície da Terra é a grande questão da sociedade” (p. 918). Por isso, “desenvolvimento e preservação do ambiente torna-se uma das grandes questões atuais e um dos maiores desafios para a produção do espaço geográfico pela sociedade” (p. 940). Sobre o papel da geografia entende que sua principal contribuição está em “apontar saídas, a partir do território, no sentido de se construir um espaço socialmente mais justo e ambientalmente sustentável” (p. 941). Pelo visto, a postura da autora é coerente com o paradigma da sustentabilidade do nosso planeta, hoje elemento precípuo de agendas internacionais.
Estevão de Rezende Martins (“A renovação contemporânea da historiografia”, p.945-985) conclui seu estudo pelo caráter científico de sua disciplina, nestes termos: “A história do século XX tornou-se, indiscutivelmente, ciência histórica. Seus procedimentos metódicos, suas práticas de pesquisa e seus resultados satisfazem aos critérios da confiabilidade, verossimilhança e controlabilidade. Seu produto – a historiografia – submete-se ao crivo intersubjetivo da comunidade profissional” (p. 979).
É de notar, porém, que a submissão ao crivo intersubjetivo não é marca exclusiva da ciência, mas de todo produto cultural. A rigor, não representa critério de cientificidade, nem que conduza ao consenso, pois nem este não é indicativo infalível de verdade. Com efeito, o consenso pode estar alicerçado em falsas evidências capazes de ensejar juízos e afirmações equivocadas. Disso a história universal registra exemplos abundantes.
Conrado Silva (“O século mais instigante de toda a história da música”, p.1049-1067) faz uma observação que suscita preocupação, nestes termos: “É um fato singular do século: pela primeira vez em toda a história da música, não existe um cânone que sirva de base para definir as características do estilo. O próprio conceito de cânone hoje já não tem mais função. A divergência de critérios é o que importa” (p. 1052). Nesse contexto, compreende-se quiçá melhor o próprio Schoenberg com sua música atonal (sistema dodecafônico).
O autor continua sua observação, quase uma lamentação: “Ainda na primeira geração pós-internet, a realidade mostra uma nivelação por baixo da criação musical. A difusão de programas de criação e de sequenciação de som permitiu a entrada no meio musical de uma quantidade enorme de aprendizes de feiticeiros interessados em mostrar suas experiências, em geral objetos sonoros banais, de pouco interesse musical, resultado de pouca reflexão nos princípios básicos de confecção da estrutura musical” (p. 1064).
Essa situação, profundamente lamentável, não representa sequer novidade para um consumidor leigo de música, porque a indigência cultural, literária e musical muitas vezes salta aos olhos de qualquer pessoa minimamente informada. Infelizmente, esse experimentalismo permeado de pobreza, banalidade e mau gosto denunciado pelo autor não é exclusivo da música, mas atinge também outras áreas, como a das artes plásticas e da literatura, especialmente na poesia. Qualquer garatuja ou instalação por mais abstrusa que seja vai para bienal… Uma simples prosinha empilhada, em geral hermética ou sem sentido, sai premiada em concurso de poemas. A exemplo do abandono dos princípios da estrutura musical, também foram descartadas para o cadoz das antiqualhas as regras clássicas da composição poética. Cada um agora faz a sua regra, o que transforma a suposta arte em pura facilidade, impulso emocional, sem racionalidade. Entretanto, a verdadeira arte, como toda virtude, é da ordem do difícil, segundo a lição indescartável de autores como Platão, Aristóteles, T. de Aquino e outros. Salústio a recolheu dos gregos e a transmitiu a César: Ad virtutem una ardua via est (Epistolae ad Caesarem 1, 7) – O caminho da virtude é um só, e este é árduo. É urgente um retorno aos clássicos.
Marcus Faro de Castro (“De Westphalia a Seattle: A teoria das relações internacionais em transição”, p.1153-1222) examina com amplitude o complexo das relações internacionais em sua gênese e transformação. Passa pelo realismo de Edward Carr e Hans Morgenthau, o neorrealismo de Kenneth Waltz, a teoria da interdependência de Robert Keohane e Joseph Nye, e chega ao construtivismo dos tempos mais recentes, perspectiva constituída de apropriação e adaptação de contribuições oriundas sobretudo da teoria social europeia, que surgiu em meados de 1980 e teve seu florescimento nos anos 1990. Nessa perspectiva, os fatos do mundo, inclusive a política, o uso do poder, a violência exercida pelo Estado, são socialmente construídos, em parte com base em elementos subjetivos (significados linguísticos, valores, crenças religiosas, aspirações, normas morais, preconceitos, valores culturais, sentimentos), que formam estruturas motivacionais da ação. Esses elementos ideacionais podem ser criticados ou expostos à interpretação e possível reelaboração por meio de práticas sociais participativas (p. 1205-1206).
O autor visualiza, para a Teoria das Relações Internacionais, como perspectiva profícua no futuro previsível, tanto como atitude do trabalho intelectual quanto como prática política, a abertura ao pluralismo de valores (p. 1211), o que será consentâneo com a preservação da liberdade. Obviamente, essa perspectiva é coerente com a tendência majoritária hoje de progressivo apreço dos direitos humanos pelos povos e a sua efetiva aplicação na prática das nações.
Vilma Figueiredo (“Do fato social à multiplicidade social”, p.1223-1253) faz observações que ressumam a humildade que deveria ser o apanágio do todo cientista. Lembra esta palavra de Max Weber: “Nenhuma ciência […] será capaz de, definitivamente, ensinar aos homens a melhor maneira de viverem, ou às sociedades, de se organizarem, e tampouco de dizer à humanidade qual será o seu futuro: sempre existirão as esferas ou dimensões da sociedade nas quais a ação social não-racional prevalece e a ciência pode expressar-se, apenas, em termos de probabilidades” (p. 1230). Em outras palavras, a ciência é limitada, quer na extensão, quer no aprofundamento das questões de seu objeto. “O século ensinou que a teoria sociológica não deve pretender ser abrangente no sentido de não deixar lugar para o desconhecido, para o indefinido. Isso não é desejável nem necessário. A ciência apenas é possível porque se pode afirmar algo sem que se saiba tudo. A ciência é inexaurível” (p. 1245).
Ninguém jamais saberá tudo, nenhuma ciência humana exaurirá o cognoscível. Por isso, a correta organização das sociedades há de ser sempre criação humana, em condições históricas concretas, observadas algumas verdades incontestes que a história, inclusive a recente, nos ensinou: que é falaciosa a busca exclusiva da igualdade social em detrimento da liberdade. A prova dessa falácia, já a deu o rotundo fracasso da marcante experiência histórica que mudou a face do mundo contemporâneo, ou seja, a implantação do comunismo na Rússia e a criação da União Soviética (p. 1232).
Em suma, a experiência soviética permitiu confirmar hipóteses derivadas de Durkheim e Weber sobre a natureza do vínculo social e da dominação política: que o vigor das sociedades se origina da relação equilibrada entre igualdade, disciplina e regulação de um lado, e liberdade, inovação e criação de outro. “O excesso de disciplina leva à rotinização e ao marasmo; a liberdade sem controle opõe-se à formação do consenso e dá origem à anomia social” (p. 1232). Em verdade, a eterna questão política é encontrar o equilíbrio entre liberdade e disciplina: o grau ótimo de liberdade que não só não prejudique, mas ainda assegure a estabilidade e a segurança desejadas no convívio social.
Henryk Siewierski (“Correntes e perspectivas da teoria da literatura no século XX”, p.1255-1281), na questão da intertextualidade, termo que Julia Kristeva propôs em substituição à intersubjetividade, rejeita a crítica desconstrucionista, ou pós-estruturalista, dos que negam a autonomia do texto. Esses autores questionam o caráter objetivo da estrutura de uma obra literária (p. 1272), dizendo que qualquer texto é inconcebível isolado de outros textos, por ser privado de autonomia ou significado fixo (independência da intenção do autor e do contexto histórico), de objetividade (estabilidade estrutural e independência da interpretação) e unidade (unicidade e integralidade) (p. 1269). Para os desconstrucionistas, “não há texto em si”, sendo impossível seu “fechamento” (p. 1270).
Para o autor, esse radicalismo leva ao ceticismo extremo segundo o qual “toda leitura é desleitura” (misreading), porque todo texto dependeria de interpretação, e essa seria imprevisível (p. 1270). Aponta, ao final, para a moderação, nos termos do aviso de Gadamer, no posfácio de Wahrheit und Methode: “Seria mau hermeneuta aquele que imaginasse que a ele pertence a última palavra”. Com certeza, a moderação, tão exaltada por Aristóteles e a tradição ocidental, vale como caminho seguro, mormente em matérias distantes da evidência cartesiana das ideias claras e distintas.
Considerações finais
Os destaques feitos até aqui não pretendem mais do que despertar a curiosidade para toda a obra, inclusive para os capítulos não mencionados, por motivo de espaço. Trata-se de uma obra que merece não apenas ser lida, como também estudada, pelo alto valor de seu conteúdo quase enciclopédico. As lacunas mencionadas pelo organizador com certeza serão preenchidas em alguma reedição. Talvez até, na questão das relações internacionais, ou na da filosofia, uma referência à importante contribuição recente de John Rawls, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor e outros. Como o trabalho está, porém, já comprova à saciedade, relativamente à oportunidade de sua publicação, o que a coautora Vilma Figueiredo afirma da ciência, em si inexaurível, em relação à qual “se pode afirmar algo sem que se saiba tudo” (p. 1245). O dito já é mais do que suficiente para atrair não só o leitor comum, a exemplo deste da nota bibliográfica, mas também o estudioso de cada área, inclusive o especialista.
José Nedel – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: josenedel@hotmail.com
[DR]
Justiça: o que é fazer a coisa certa – SANDEL (C)
SANDEL, Michael. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.Resenha de: BOMBASSARO, Alessandra. Conjectura, Caxias do Sul, v. 17, n. 2, p. 183-186, maio/ago, 2012.
Considerando um dos mais importantes filósofos de sua geração, Michael Sandel leciona há mais de vinte anos na Universidade de Harvard, no famoso curso “Justice”, por onde passaram cerca de 15 mil alunos.
Quando ele profere as suas aulas no amplo anfiteatro universitário, quase mil alunos o acompanham na exposição de temas sumamente instigantes.
Sandel é ouvido atentamente ao abordar grandes problemas filosóficos relacionados a prosaicos assuntos da vida cotidiana, incluindo, por exemplo, a união entre pessoas do mesmo sexo, suicídio assistido, aborto, imigração, impostos, o lugar da religião na política, os limites morais dos mercados.
Para ele uma abordagem da filosofia – considerada por ele a mais segura – ajuda a entender melhor a política, a moralidade, contribuindo também para a revisão de aferradas convicções.
As questões propostas por Sandel, que integram um extenso elenco de problemas contemporâneos, são cada vez mais discutidas por sua complexidade. Por exemplo: Quais são as nossas obrigações uns com os outros e em uma sociedade democrática? O governo deveria taxar os ricos para ajudar os pobres? O mercado livre é justo? Às vezes é errado dizer a verdade? Matar é, em alguns casos, moralmente justificável? É possível, ou desejável legislar sobre a moral? Os direitos individuais e o bem comum estão necessariamente em conflito? Sandel é um crítico do liberalismo. Sustenta que essa ideologia política se caracteriza pela importância que dá aos direitos civis e políticos dos indivíduos. É a defesa intransigente da “liberdade pessoal”, em torno da qual se agregam a liberdade de consciência, de expressão, de associação, de ocupação e de exercício sexual. Os liberais não admitem que, em tais âmbitos, o Estado pretenda intrometer-se, a não ser para proteger os que poderiam sofrer dano.
Enquadrado no grupo dos “comunitaristas”, Sandel denuncia, nas críticas ao liberalismo, uma concepção anti-histórica, associal e incorpórea do sujeito, implícita na ideia de um indivíduo dotado de direitos naturais que preexistem à sociedade. O autor nega a tese da prioridade do direito sobre o bem, que se encontra, por exemplo, no centro do novo paradigma liberal estabelecido por John Rawls.
O que Sandel pretende destacar reside no fato de que o liberalismo se apoia, erroneamente, no pressuposto de que as pessoas podem escolher e revisar os seus fins na vida “sem nenhuma dependência de laços comunitários”. Adotando uma posição contrária, o autor afirma que certas obrigações comunitárias são “constitutivas” da identidade dos indivíduos, além de toda escolha. Tais obrigações compartilhadas formariam a base para uma “política do bem comum”, contrastando com a “política dos direitos” do liberalismo.
Tais pressupostos são apresentados por Sandel, principalmente, em sua obra Liberalism and the limits of Justice, literalmente [Liberalismo e os limites da Justiça] (2000). É com ela que o autor participou, contribuindo para o início do “debate liberalismo-comunitarismo” que dominou a filosofia política anglo-americana nos anos 80 (séc. XX). Sandel também defende que certas liberdades civis, tais como a de consciência e da sexualidade, são melhor entendidas como protetoras de fins “constitutivos” do que como protetoras de escolhas “sem limites”.
Sandel pretende ressuscitar uma concepção de política como domínio onde cada um reconhece o outro, ambos como participantes de uma mesma comunidade. Contra a inspiração kantiana do liberalismo, baseada nos direitos, os comunitaristas apelam para Aristóteles e Hegel. E, contra o liberalismo, Sandel apela para o republicanismo cívico. É o que deve favorecer o regresso a uma política do bem comum baseada em valores morais partilhados. Entretanto, não fica clara a questão: Mas como fica a defesa da liberdade individual? Feitas essa aproximações às posições e propostas do autor, é importante agora guiar a atenção, objetivamente, para a obra de Sandel: Justice, título original em inglês, aqui traduzida como [Justiça: o que é fazer a coisa certa]. Ela foi publicada em 2009, nos Estados Unidos, tendo sido traduzida por editoras de vários países. No Brasil, todos os seus direitos foram adquiridos pela Editora Civilização Brasileira, cujos livros são distribuídos pela Record.
Em dez capítulos, Sandel discorre sobre a filosofia do livre mercado, enfatizando a ganância com o abuso dos preços. Examina o socorro financeiro aos bancos, no decorrer da presente crise internacional. Faz uma reflexão sobre o utilitarismo de Jeremy Bentham e a posição de John Stuart Mill.
Enfoca a questão da tortura, da desigualdade econômica e do Estado mínimo pretendido pelos liberais. Insinua-se, em seguida, no âmbito da bioética, abordando temas como o suicídio assistido, a barriga de aluguel, a utilização de células-tronco, o direito ao aborto. Quando enfoca questões atinentes aos direitos humanos, analisa o pensamento kantiano em torno da maximização da felicidade, moralidade, liberdade e justiça. Logo, Sandel examina a teoria da justiça de Rawls. Evolui para o problema da segregação racial, do propósito da justiça, do significado de política e vida boa, de justiça e vida boa, finalizando com o desejo de uma política do bem comum.
O livro Justiça – como o próprio Sandel afirma –, começou como um curso. Por quase três décadas, o autor teve o privilégio de ensinar filosofia política a universitários de Harvard e, durante vários desses anos, ministrou aulas sobre uma matéria chamada “Justiça”. O curso expõe aos alunos algumas das maiores obras filosóficas escritas sobre justiça e também aborda controvérsias legais e políticas contemporâneas que levantam questões filosóficas.
Alessandra Bombassaro – Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade de Caxias do Sul (UCS). E-mail: ale.bomba@ibest.com.br
Oeuvres complètes tome I – Écrits philosophiques et politiques 1926-1939 – CANGUILHEM (Ph)
CANGUILHEM, Georges. Oeuvres complètes tome I – Écrits philosophiques et politiques 1926-1939. Paris: Vrin, 2011. Resenha de: ALMEIDA, Fábio Ferreira de. Philósophos, Goiânia, v.17, n. 1, p.237-248 jan./jun., 2012.
Com o subtítulo “Escritos filosóficos e políticos – 1926- 1939”, acaba de ser publicado, sob a direção de dois reconhecidos especialistas (Jean-François Braunstein e Yves Schwartz), o primeiro volume das obras completas de Georges Canguilhem. Estamos, de fato, diante de escritos filosóficos e políticos, como anuncia o título deste volume, mas também estamos diante, seguindo uma classificação costumeira que encontra bem seu emprego aqui, dos escritos de juventude de Canguilhem, cuja obra, a parte Le normal et le pathologique (1966) e, talvez, La connaissance de la vie (1965) e os Etudes d’histoire et philosophie des sciences (1968), ainda é bem pouco conhecida1. Os textos deste período, aos quais agora passamos a ter acesso, nos mostram um Canguilhem anterior ao Canguilhem cujas ideias, a pesar da discrição, não cessam de repercutir e de se renovar entre pensadores e estudiosos mundo a fora; um Canguilhem de antes do Canguilhem (Canguilhem avant Canguilhem), como diz o feliz título do artigo em que Jean-François Braunstein afirma com razão: “Está claro que não se trata aqui de trabalhos de epistemologia, nem mesmo de história das ciências em sentido corrente, mas alguns dos primeiros combates de Georges Canguilhem orientarão a visada epistemológica das obras ulteriores” (BRAUNSTEIN 2000, 11).
A obra é composta basicamente de artigos filosóficos, resenhas, conferências e alguns textos polêmicos publicados em diferentes jornais e revistas, mas, principalmente, no Libre propos, o jornal de Alain, cujo pacifismo antimilitarista, determinado fundamentalmente pelas atrocidades da Primeira Guerra Mundial, marcou profundamente o pensamento de Canguilhem, sobretudo, em sua primeira juventude; e na revista Europe, da qual foi um dos fundadores.
Além destes textos mais curtos, vale mencionar três trabalhos particularmente significativos, até então quase, se não totalmente desconhecidos: a brochura Le fascisme et les paysans, o Traité de logique et de morale e a tradução da tese da tese latina de Émile Boutroux, Des vérités éternélles chez Descartes. Como destaca J.-Fr. Braunstein no artigo citado há pouco, antes da edição de sua tese de medicina, Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, em 1943, Canguilhem já havia, portanto, publicado muito, até mesmo um livro, e este primeiro volume de suas Obras Completas permite, com efeito, “retificar a imagem corrente que faz de Canguilhem um puro historiador das ciências ou um simples continuador da obra de Gaston Bachelard” (BRAUNSTEIN 2000, 10).
Escritos filosóficos e políticos: o período que completa o título deste primeiro volume, “1926-1939”, não é trivial; não é um mero recorte didático. O texto que abre o livro é uma resposta do então jovem estudante da Escola Normal Superior, à questão proposta pela seção “La chronique internationale” da Revue de Genève, mesma questão à qual já haviam respondido Raymond Aron e Daniel Lagache, sobre “o que pensa a juventude universitária francesa”. Neste artigo já se podem identificar certos traços da personalidade de Canguilhem, sempre lembrada por seus comentadores, como o estilo provocador, incisivo e de uma petulância “rústica” e mordaz, o que, diríamos nós, o filósofo fez questão de cultivar como demonstração de sua forte ligação com suas origens campesinas. O modo como assina este artigo costuma ser mencionado sempre como exemplo disso: “Georges Canguilhem, languedociano, aluno da Escola Normal Superior onde se prepara para o concurso de agregação de filosofia.
No tempo que sobra, no labor do campo” (p. 152).2Este traço, que também evidencia a influência de Alain, se refletirá mais tarde na brochura de 1935, Le fascisme et les paysans, publicada clandestinamente pelo CVIA (Comité de vigilance des intellectuels antifascistes), na qual analisa a questão agrária na França frente ao desenvolvimento dos regimes fascistas que, na Itália e na Alemanha, buscavam valerse da crise agrária que, devido a suas especificidades, na década de 1930 atingiu particularmente os produtores rurais franceses, forjando uma ideologia de retomada de valores – diríamos nós: campestres – usurpados pelo rápido desenvolvimento das técnicas de agricultura e pelos grandes produtores, a fim de atrair essa força importante e, a esta altura, bastante organizada. Percebe-se, então, que neste momento, 1935, Canguilhem já enxergava os traços particulares do fascismo que é o que determinará sua ruptura com as posições pacifistas. Mas foi sob a influência de Silvio Trentin que Canguilhem pode perceber o quanto o cenário político internacional repudiava que se continuasse professando “A paz sem reservas” (este é o título do artigo que Canguilhem publica em 1932 tomando posição na polêmica entre Félicien Challaye e Théodor Ruyssen a propósito da questão do “pacifismo integral”), pois estava em curso um fenômeno que não tinha paralelo, nem com os acontecimentos da Primeira Guerra, nem com nenhum outro acontecimento anterior. A seguinte passagem deste artigo permite perceber, ao mesmo tempo, o teor do pacifismo que Canguilhem ainda professava em 1932, e a necessidade de uma ruptura total com ele, ruptura esta determinada pelos acontecimentos, ou melhor, pelos fatos:
Ora, a guerra, que cada vez mais se tornou um extermínio radical de tudo o que é jovem e generoso e, por isso, capaz de criação, – se for verdade que a criação é a mesma coisa que o porvir –, suprime aquilo pelo que a vida do homem ganha uma significação. […] Para que seja dado algum valor à vida e à justiça, é preciso que primeiro a vida seja. E para que eu possa mudar esse mundo, eu quero primeiramente – o que não quer dizer nem unicamente nem principalmente – viver nele. Sem dúvida, a morte é sempre possível. E a morte, pois que vem aniquilar o esforço do dever, é o mal absoluto. Mas esta morte que nos chega sempre do fundo de um acidente que vai de par com o de nossa existência, este próprio acidente abranda para nós o gosto amargo que ela tem. O que é horrível, não é a morte pelas coisas e pelo mecanismo, é a morte dada por um homem. O que é horrível, não é a morte, é a matança. Ora, a guerra é o assassinato e a morte preparados, paramentados, honrados. É a consciência tornada instrumento de sua negação, o aniquilamento de consciências por suas decisões recíprocas. Eis por que, como Challaye, eu digo: a guerra é o mal absoluto, sendo a morte tomada pela vontade como a saída a ser buscada e não como acidente possível. (p. 404)
O mal absoluto e a morte degradante, o esfarrapamento de toda humanidade pelo absurdo de uma vontade doentia, enfim, a aniquilação de toda possibilidade de criação da novidade, como se vê, na verdade, ainda estava por vir. E é a Trentin, em Toulouse, que Canguilhem deve a tomada de consciência que o levou romper com o pacifismo, poupando- o de seguir a deriva de outros que, fiéis à distinção defendida por Alain entre política interna e política externa, acreditavam, por exemplo, poder negociar com a Alemanha hitlerista.
Durante este período, e face a estes acontecimentos [afirma Canguilhem numa entrevista de 1991], muitas atitudes e convicções políticas que convinha chamar ‘de esquerda’ deram ensejo a confusões, a amálgamas, a mal-entendidos cuja interpretação e apreciação ainda alimentam querelas ideológicas. Viram-se socialistas tomarem distância em relação ao antifascismo. Viram-se pacifistas compreensivos com o hitlerismo. Viram-se intelectuais marxistas aprovarem o pacto germano-soviético. No entanto, aqueles que tiveram a sorte – e eu acrescentaria: a honra – de ouvir Trentin em suas analises, de seguilo em suas iniciativas, por vezes de acompanha-lo em suas investidas, devem agradecê-lo por terem podido, graças a ele, evitar as armadilhas de que comumente são vítimas os de boa vontade sem experiência política crítica.3
A partir de daí, é a volta ao concreto, à experiência concreta, o que se dá pela resistência e pela medicina. Neste sentido é que devemos reconhecer que, apesar da dificuldade em determinar quando ocorre efetivamente esta transição, o ano de 1939, com o Traité de logique et de morale, escrito em parceria com Camille Planet, marca, com ressalta Xavier Roth em sua Introdução ao texto, o fim do período de juventude, pois representa um ponto de inflexão no itinerário filosófico de Canguilhem “que testemunha menos uma doutrina definitivamente estabilizada, que uma filosofia do julgamento se orientando paulatinamente para um encontro decisivo – o encontro com a vida – que fornecerá a esta filosofia em devir, a um só tempo, uma base e uma ocasião de deslocamento” (p. 615). Neste sentido é que, ao final do Tratado, temos a constatação de que “para construir relações internacionais outras que as que existiram até o momento, é necessário primeiro determinar as condições do conflito. A ideia de Paz de nada serve a esta determinação”.
E logo em seguida:
Em resumo, dada a aspiração humana a uma sociedade verdadeiramente pacífica, dado o fato das soberanias nacionais e dos imperialismos concorrentes, recusando antecipadamente toda limitação do direito às suas pretensões e a sua autonomia, como subordinar o fato à aspiração? Haveremos de convir que os meios ficam por serem definidos e que, nestas circunstâncias, os fatos pesam mais que a aspiração. O realismo condicional é, neste caso, mais urgente que nunca (p. 921).
Este realismo condicional é o que determina a escolha, que é um aspecto decisivo desta “filosofia axiológica” para a qual, como afirmam os autores do Tratado de lógica de moral, o Valor prima em relação ao Ser (Cf. p. 793).
O período de juventude, portanto, entre os anos de 1926 e 1939, é um período marcado pela reflexão filosófica e política e, ao mesmo tempo, é um período de formação que resultará nos trabalhos mais conhecidos do filósofo, sobretudo, naturalmente, a tese Ensaio sobre alguns problemas concernentes ao normal e ao patológico, republicada mais tarde com o título reduzido, O normal e o patológico, acrescido de “novas reflexões” sobre o tema. Neste período está manifesto o grande interesse de Canguilhem, por exemplo, pela filosofia de Kant e, sobretudo, Descartes (além da tradução da tese de E. Boutroux, são deste período os dois importantes artigos “Descartes et la technique” e “Activité technique et création”). Como afirma Braunstein, alguns combates deste período de juventude continuarão, de fato, a orientar o pensamento maduro de Canguilhem, e não apenas as posições filosóficas defendidas no Tratado de 1939.
Neste sentido, destacaria a resenha do livro de Alain, Onze chapitres sur Platon, intitulada “O sorriso de Platão”, que, em 1929, Canguilhem publica na revista Europe. Este artigo, como outros reunidos neste volume, mereceria um estudo completo. Para o que nos interessa destacar aqui, no entanto, bastará a seguinte passagem:
Platão, tendo feito da metafísica o tecido das coisas positivas, levou, sem dúvida e de um só golpe, a irreligião ao seu estágio máximo, recusando- se desatar o drama humano através de um Deus que surgisse da transcendência como se de um céu de teatro. O deus ex machina da comédia antiga é um símbolo tão profundo quanto se queira e sem qualquer erro, pois falar de transcendência é falar do espírito em termos de carne e num lugar. Mas em Platão, e talvez apenas nele, nenhuma comédia. Compreendemos nós este sorriso e que não estamos, de modo algum, diante do espetáculo de nossa vida? A metafísica nas coisas positivas, eis novamente Platão”. (p. 236)
Para Platão, assim como para Canguilhem, o idealismo é um racionalismo; idealismo altamente irreligioso, na medida em que, nele, os dramas humanos se desatam numa busca do espiritual nas coisas, no mundo da vida, se for possível dar um sentido não fenomenológico a este termo.
Para Canguilhem, assim como para Platão e para Spinoza, o racionalismo deve ser, portanto, engajado; contra o deus ex maquina que acorre quando o drama da existência é transformado em espetáculo, o Deus sive natura insere e a metafísica nas coisas positivas e obriga o pensamento a “falar de espírito em termos de carne e de lugar”. Esse racionalismo, que será mais elaborado mais tarde através dos estudos de filosofia das ciências e que se recrudescerá pela influência cada vez mais marcante de Gaston Bachelard, enfim, este idealismo em sentido altamente platônico, caminha lado a lado com aquele “realismo condicional” de que nos fala o Tratado de 1939. E não é precisamente isso que se reflete na conhecida passagem da Introdução a Le normal et le pathologique, quando Canguilhem afirma que “a filosofia é uma reflexão para a qual toda matéria estranha serve e, diríamos até, é uma reflexão para a qual só serve a matéria que for estranha”? Na continuação deste parágrafo inicial da obra, a coerência entre a resistência na qual ingressou e os estudos de medicina que abraçou na mesma época fica ainda mais evidente: “Não é necessariamente para melhor conhecer as doenças mentais que um professor de filosofia pode se interessar pela medicina. Tampouco é para necessariamente se dedicar a uma disciplina científica. O que esperávamos precisamente da medicina é uma introdução a problemas humanos concretos” (CANGUILHEM 2009, 7).
É este idealismo platônico, que nos permitiremos identificar em Canguilhem como um racionalismo engajado, que configura aquele realismo condicional e seu enorme interesse pelos problemas humanos concretos. Esta conjunção, como se vê, profundamente filosófica, se realizará, enfim, nos maquis de Auvergne e pela medicina, a cujos estudos se consagra a partir de 1940, quando solicita afastamento de seu cargo de professor de liceu em Toulouse, cargo que, afirma ele, demorou muito a conseguir e que o único que realmente almejou em sua vida4, “a fim de não ter de ensinar o que parecia se preparar, isto é, a moral do marechal Pétain” (BING; BRAUNSTEIN 1998, 122). A respeito deste duplo engajamento, Elizabeth Roudinesco tem uma observação precisa no artigo Georges Canguilhem, de la médecine à la résistence: destin du concept de normalité, referindo- se à tese de 1943:
Nada deixava supor, à leitura deste texto magistral, que Canguilhem e Lafont [codinome de resistente] pudessem ser uma única e mesma pessoa. A clivagem entre as brilhantes hipóteses do filósofo e o contexto exterior, totalmente ausente de seu raciocínio, era tamanha que temos dificuldade em acreditar, ainda hoje, que uma tese dessa natureza tenha sido defendida em plena guerra, num momento em que, com a derrocada das potências do Eixo na África e o desembarque aliado na Itália, já se esboçava a derrota do fascismo na Europa.
E, entretanto, a reflexão empreendida pelo filósofo não era estranha às atividades do maquisard. […] No maquis, ele se encarregou essencialmente de atividades humanitárias, exercendo a medicina sob risco de morte. E este foi o único momento de sua vida em que praticou a medicina. Em outras palavras, foi médico apenas na guerra e pela guerra: um médico de urgência e do trauma. (BING; BRAUNSTEIN 1998, 25-26)
Estas circunstâncias da volta para o concreto, nos ajuda ainda a entender a reabilitação de uma referência filosófica importante para o Canguilhem da maturidade: Henri Bergson.
Depois de uma elogiosa resenha, publicada em 1929, do panfleto antibergsoniano de Georges Politzer, La fin d’une parade philosophique: le bergsonisme, no qual se leem afirmações rudes, como a seguinte: “À parte a mentira, somente a mediocridade poder erigir o bergsonismo em grade filosofia” (POLITZER 1967, 149), Canguilhem afirma a Fr.Bing e J.Fr. Braunstein, quando perguntado sobre o papel de Bergson em sua filosofia: “Eu o li melhor depois de meus estudos de medicina”. E logo em seguida: “Quando éramos alainistas, finalmente (risos), tínhamos poucos relacionamentos, éramos muito exigentes. Isso ficou pra trás, e o que me fez deixar isso para trás foi precisamente a ocupação, a resistência e o que se seguiu… a medicina” (BING; BRAUNSTEIN 1998, 129).5 Como se vê, de fato, o ano de 1939, com a ocupação, a resistência e os estudos de medicina, marca, ainda que de maneira imprecisa, o fim destes anos de formação. A partir daí, é uma obra, nos dizeres de Michel Foucault, “austera, voluntária e cuidadosamente limitada a um domínio particular de uma história das ciências que, em todo caso, não se coaduna com uma disciplina de grande espetáculo” (FOUCAULT 2008, 1582).
O que nos prometem os próximos cinco volumes das obras completas de Georges Canguilhem é precisamente a reunião dos trabalhos em que o rigor desta obra reflete, antes de tudo, a ação do pensamento. Maduro o pensamento, ele não se deixará levar pelas modas, nem seduzir por uma filosofia da ação, nem por uma filosofia do engajamento. A volta para o concreto oferece isso que aqueles que Canguilhem gostava de chamar “terroristas literários”, não puderam perceber, pois, quando uma tarefa essencial se apresenta ao espírito, é muito confortável separar da palavra e da escrita a mão e o gesto. Se Canguilhem sempre foi, ao longo da vida, discreto a respeito de sua atividade como resistente, seus escritos sobre o amigo e companheiro de maquis, Jean Cavaillès não cessarão de lembrar aos incautos que “a luta contra o inaceitável [é] inelutável” (CANGUILHEM 2004, 34). Neste sentido, a ação não é uma escolha, mas uma necessidade lógica, pois, como afirma em sua conclusão a conferência intitulada Vie et mort de Jean Cavaillès, “antes de ser irmã do sonho, ação deve ser filha do rigor” (Idem, 30) – o que, bem entendido, não vai sem poesia. Canguilhem nos ensina, seguindo Cavaillès, mas também Bachelard (não por acaso, é Canguilhem quem organiza a publicação, em 1972, da coletânea de artigos de Bachelard à qual intitula L’engagement rationaliste), que, se há ainda um problema filosófico importante em nossos dias, este problema é o do engajamento! * Por fim, é preciso assinalar o aspecto didático dado a este primeiro volume. Cada seção é precedida por uma longa e erudita Introdução e os textos são rica e cuidadosamente anotados. Abrem o volume um prefácio, quase que exclusivamente autobiográfico, de Jacques Bouveresse e uma Apresentação geral que destaca os aspectos centrais deste período, intitulada “Jeunesse d’un philosophe”, por Yves Schwartz. Nos anexos, nos são dados o texto de Félicien Challaye, ao qual Canguilhem reagiu com o artigo “La paix sans reserve? Oui”, bem como as respostas de Théodor Ruyssen, e ainda o artigo “Réflexions sur le pacifisme intégral”, publicado em 1933 no Libres propos, no qual Raymond Aron se manifesta a respeito deste debate.
Assim, este primeiro volume, sem dúvida, deixa-nos na expectativa dos próximo cinco que completarão a edição definitiva das Obras Completas de Georges Canguilhem (que inclui uma “Bibliografia crítica”, a cargo de Camille Limoges, como VI volume). Através delas se poderá finalmente perceber a dimensão da obra deste filósofo que, conhecido mais pelas referências feitas por aqueles a quem ele influenciou que pelos seus próprios trabalhos, tem a atualidade perene de todo grande pensamento.
Notas
1 No Brasil, data do final dos anos 1970 a tradução de O normal e o patológico, que é, com efeito, sua obra mais significativa. Publicou-se, tempos mais tarde, o pequeno Escritos sobre a medicina (2005) e, recentemente, os Estudos de história e filosofia das ciências e O conhecimento da vida, ambos em 2012.
2 Vale a pena aqui remeter o leitor à bela fotografia que abre a seção de “Artigos, discursos e conferências (1926-1938)”, primeira do livro, na qual Canguilhem aparece precisamente neste labor, empurrando o arado puxado por duas reses.
3 CANGUILHEM, G. citado por Jean-François Braunstein na Introdução à Obras completas intitulada “À la découverte d’un ‘Canguilhem perdu’”, p.112.
4 Canguilhem o reconhece na entrevista a François Bing e a Jean-François Braunstein, em 1991, publicada em Actualité de Georges Canguilhem, p.121.
5 Já em Le normal et le pathologique podemos ler, por exemplo: “Pelo menos potencialmente, as normas são relativas umas às outras num sistema. Sua correlatividade num sistema social tende a fazer desse sistema uma organização, isto é, uma unidade em si, senão por si e para si. Pelo menos um filósofo percebeu e trouxe à luz o caráter orgânico das normas morais na medida em que elas são, em primeiro lugar, normas sociais. Foi Bergson, analisando em Les deux sources de la morale et de la réligion, o que chama de ‘o todo da obrigação’.” (CANGUILHEN 2009, 185)
Referências
BRAUNSTEIN, Jean-François. Canguilhem avant Canguilhem. In: Revue d’histoire des sciences, 2000, tome 53, n°1, pp. 9-26.
BRAUNSTEIN, J.-Fr.; BING, Fr.; et alii. Actualité de Georges Canguilhem. Le Plessis-Robinson: Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1998.
CANGUILHEM, Georges. Le normal et le pathologique. Paris: PUF, 2009.
CANGUILHEM, Georges. Vie et mort de Jean Cavaillès. Paris: Allia, 2004.
FOUCAULT, Michel. La vie: l’expérience et la science. In:___. Dits et écrits II, Paris: Gallimard, 2008, pp. 1582-1595 (texte361).
POLITZER, Georges. La fin d’une parade philosophique: le bergsonisme. S.l.: J. J. Pauvert Éditeurs, 1967.
Fábio Ferreira de Almeida – Professor adjunto da Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Goiás, Brasil.
Idee Concrete. Percorsi nella filosofia di John Dewey – CALCATERRA (C-RF)
CALCATERRA, Rosa M. Idee Concrete. Percorsi nella filosofia di John Dewey. Genova: Marinetti, 20101 112 p. [Ideia Concreta. Caminhos na filosofia de John Dewey.]. Resenha de: FREGA, Roberto. Cognitio – Revista de Filosofia, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 155-159, jan./jun. 2012.
Rosa M. Calcaterra’s last book is a most welcomed introduction to Dewey’s philosophy with a focus on its practical dimension.
It is a short and dense book of 130 pages, composed of seven chapters and a rich bibliography of secondary sources. Calcaterra reads Dewey’s work in the light of what she calls “concrete ideas”, that is to say Dewey’s conception of philosophy as a transformative enterprise. Yet her book is not merely a book on Dewey’s moral and political ideas. Following a tradition willing to locate Dewey’s practical starting point first of all in his understanding of logic and epistemology, Calcaterra devotes two chapters to Dewey’s “instrumentalism”. One might have preferred here a more cautious terminological choice, perhaps a conservative use of the term “pragmatism”.
Indeed, Dewey’s use of the term “instrumentalism” significantly declined after 1917, and was generally meant by him as a way to denote his theory of logic rather than his whole philosophy, who he preferentially referred to as “pragmatism”.
The book opens with a biographical note (written by Roberto Gronda, author also of the bibliography) that will be of use to any beginner.
In the following (second) chapter Calcaterra attempts to assess the central roots in Dewey’s thinking that she locates in Darwin’s naturalism, in Hegel, and in Christianity. Joseph Margolis has once defined pragmatism by a two interrelated moves consisting in Darwinizing Hegel and Hegelianizing Darwin. In a similar way, Calcaterra takes her starting point in the acknowledgement of this double line of influence, by all means central to Dewey’s philosophical development. Calcaterra highlights the idealistic bends of the young Dewey and correctly points out that any trace of idealism will vanish out after the turn of the century. One may wish to have some few lines devoted to what Dewey lately called the “permanent Hegelian deposit”. A deposit that, we would add, lies more in his social understanding of the moral and political life than in any supposed continuity with the idealistic tradition, a tradition – as Calcaterra correctly points out – well abandoned by Dewey in the last decade of the Nineteenth century.
The third chapter brings us into the core of Dewey’s philosophy: his logic and his epistemology.
Calcaterra correctly fixes the transition from idealism to pragmatism in the publication of John Dewey “Studies in Logical Theory”, published in 1903, but already anticipated, three years before, by his “Some Stages in Logical Thought”, the text where Peirce’s influence is the most explicit and the most direct. In this chapter Calcaterra traces Dewey’s new theory of thought and logic to his discovery of James’s psychology as a basis for his forthcoming practice-based conception of thought as a form of inquiry. Here, as Calcaterra reminds us, we should be aware of a double genealogy: a Peircean strand leading to Dewey’s theory of logic, and a Jamesian strand leading Dewey to emphasize the role of pre-logical experience, and of its continuity with logical thought. In the following of this chapter Calcaterra proceeds then to show how the years 1900-1917 were decisive for the development of Dewey’s mature conception of pragmatism, and the importance taken by logical and epistemological reflections in this process. We cannot but praise Calcaterra for insisting on the importance of this formative phase, and on the particular importance of Dewey’s 1917 Essays in Experimental Logic, where Dewey collected his most interesting essays of the 1900-1917 period.
In the next chapter Calcaterra furthers her interpretation by a close comparison of Dewey’s and Peirce’s philosophies. While one might consider that Dewey’s admiration and interest for Peirce’s logic is more ancient than Calcaterra says it is, she is totally right in pointing out the philosophical importance of Dewey’s essay “The Pragmatism of Peirce”, published in 1916, where Dewey shows his allegiance to Peirce’s understanding of the relationships between belief, habits, and conduct.
One may compare this article with Dewey’s review of James’s Pragmatism, published in 1908 under the title “What Pragmatism means by Practical”. Here too Dewey shows unambiguously where he stands in the Peirce-James controversy.
Calcaterra then moves to discuss Dewey’s most innovative idea in logical theory, that is to say his notion of “warranted assertibility” that Dewey introduced as the proper normative standard of discourse. According to Dewey, in fact, once we acknowledge the epistemological priority of judgments over propositions – a claim stated in The Logic of Judgment of Practice of 1915 and then fully developed in the first chapters of his Logic. A Theory of Inquiry of 1938 – then truth-talk should be dropped. According to Dewey, in fact, warranted assertibility provides all that we need as an epistemic – although not a semantic – theory of truth, as it refers to what an agent can justifiably say, given the state of knowledge and method available at a certain time.
To appreciate the importance of this move, one has only to remind that Dewey’s defense of warranted assertibility should be understood as an anti-relativistic move.
On this point, as probably elsewhere, R. Bernstein’s reading is to be preferred to R.
Rorty’s. Calcaterra is in line with this interpretative tradition that she explicitly connects to Putnam, but that can also fruitfully be brought back to Ralph Sleeper’s essay The Necessity of Pragmatism, one of the milestone of the contemporary rediscovery of Dewey’s logic and epistemology.
Calcaterra rightly insists on the positive and permanent influence of Peirce’s philosophy on Dewey’s fashioning of his own logical theory, and this is very heartening at a time when too many continue to insist in reading Dewey as a follower of James or a forerunner of Rorty: not only Dewey’s theory of inquiry is deeply influenced by Peirce’s theory of rationality as inquiry. Dewey takes from Peirce also the naturalistic outlook that he will then radicalize in a way that was impossible for Peirce. Dewey will then go as far as reclaiming for himself the idea of a natural theory of thought – an idea that Peirce could not but despise.
Calcaterra reminds then the centrality of what Dewey termed the cultural and natural matrix of inquiry, and the radicality of his naturalistic stance. She also points out and shows clearly that Dewey’s naturalism never becomes reductionistic: Dewey’s inscription of logic into a naturalistic and evolutionary program never undermines the normative pretenses of logical thought. Nor is he interested, as is the case in contemporary naturalism, to reduce thought to one or another biological or neurological processes. His aim, rather, is to point out that logical thinking is but the cultural evolution of a natural trait, whose understanding requires that we show its continuity with other, human and animal, strategies for coping with the environment.
Still in this chapter Calcaterra introduces the central theme of Dewey’s understanding of thought as a form of action, his idea – as he says in The Logic of Judgment of Practice – that “things exists in relation to agenda, things to be done”, and that thinking is in itself a form of action. Here we are reminded of the theoretical role of the theory of habits that Dewey had developed in the previous decades, and that he presented in his masterpiece Human Nature and Conduct, published in 1922.
The chapter closes with a detailed account of Dewey’s theory of judgment and of its importance for the whole project of Dewey’s logic.
The fifth chapter marks the transition to the second and last part of the book, where the author focuses on Deweyan contributions to questions of practical normativity.
This part of the book follows logically from the first, as Calcaterra is persuaded not only that Dewey’s logic and epistemology point towards an active and transformative attitude towards the world, but also that Dewey’s moral, social, and political theory should be understood against the background of his instrumentalism, that is to say his general epistemology.
Calcaterra locates the main link between these two dimensions in Dewey’s theory of rationality as inquiry, and in its corollary that thought is essentially a problem solving activity. Therefore, the domain of the ethical, the social, and the political is rightly seen as being problem driven, as being qualified by the emergence of problems to which human inquiry tries to find solutions.
Here the Deweyan theory of “reconstruction” appears appropriately to denote at the same time the goal of human action and the way of proceeding of thought.
Therefore, once the activity of thought has been correctly understood as being transformative, we are naturally brought to see thinking as a practice-based activity, and the social and the political as the highest spheres to which humans should devote their reflective efforts.
Calcaterra insists correctly on the importance of publicity in Dewey’s social and political thought. Publicity, in fact, is the overarching concept of both Dewey’s anthropology (a point clearly stated in Human Nature and Conduct) and of his social and political theory. Publicity is therefore preordained to the better known but much more controversial concept of “democracy as a way of life”. So Calcaterra starts with the right foot her inquiry on Dewey’s social and political theory.
Calcaterra then turns to the analysis of Dewey’s theory of the relationship between the individual and the social that she rightly points out as another central pillar of Dewey’s social and political theory. Indeed, Dewey develops, since the Twenties, a processual understanding of society, and defended a social conception of human agents, in which the social is never identified with pre-existing social structures but always with the processes of socialization by which humans are fashioned and refashioned and by which experiences, values, emotions, ideas are constantly selected and transmitted. While one might prefer not to define Dewey’s theory of society as being organicistic (this reminds of idealistic positions that by that time Dewey had totally overcome), Dewey’s anti-individualistic approach and his critique of reductionistic atomism are rightly pointed out as some of the most important ideas of Dewey’s social theory. It is along these theoretical lines that, as Calcaterra points out, Dewey defends his social variant of individualism: his social understanding of individualism proves that he was not after a re-actualization of organic metaphors and ways of thinking, but that he sought to reconcile an individual-centered philosophical vision with the acknowledgment of the natural and social constitutedness of human being.
Dewey’s critique of dogmatic individualism is at the same time epistemological and genealogical. Epistemological, as he tries to undermine the epistemological and metaphysical assumptions that underlies traditional individualism. Genealogical, as he traces this conception back to a politically conservative understanding of society and to the ideology of the frontier, that according to Dewey could no more sustain the form of life that Americans were beginning to build.
Dewey’s theory of rationality as inquiry is brought into the service of this new individualism, as Dewey saw clearly the huge potentiality opened by an experimental approach to social reality and social problems. Indeed, as Calcaterra points out, Dewey staunchly defended a thoroughly reformist approach to social problems.
Another point stressed by Calcaterra concerns the importance of the Dewey- Lippman debate in the development of Dewey’s understanding of the form of intelligence that should characterize the public life. In discarding Lippman’s antidemocratic conception of the role of experts, Dewey was able to develop a theory of public inquiry that has rightly been considered as the first attempt at developing a deliberative conception of democracy. Indeed, in his definition of the public, Dewey left to experts the role of knowledge-bearer, but stated that only the public, that is to say those that are affected by the social problems under discussion, have a complete knowledge of the nature of the problems. In Dewey’s approach then, experts and the public should take part together to a deliberative and cooperative process of inquiry, and only through their joined effort and participation can inquiry hope to be successful.
The sixth chapter is devoted to one of the most well know and recently most controverted themes in Dewey’s social and political thought: his theory of democracy as a way of life. Calcaterra’s account follows that interpretative line that praises Dewey’s critique of proceduralism in favor of a more complete understanding of democracy. Accordingly, she does not deal with recent attempts to assess Dewey’s political theory in the light of political liberalism, but rather prefers to emphasize the relevance of Dewey’s theory of democracy for a humanistic conception, where Dewey’s Public and its Problem stands side by side with A Common Faith.
Not surprisingly, then, the book closes with a chapter devoted to Dewey’s humanistic naturalism.
Here Calcaterra recalls the importance of the scientific attitude for Dewey’s overall philosophy, according to a principle of continuity that wishes to emphasize continuity between the natural and the social sciences, between the scientific and the lay ways of thinking, and between human and non human ways of problem solving.
It is here that Calcaterra locates the thread that unites Dewey’s thought: his focus on practical values, and his conception of philosophy as a transformative enterprise finally freed from the metaphysical myth of “the spectator theory of knowledge” that Dewey had so powerfully criticized. It is around this theme that, according to Calcaterra, all the most important Deweyan philosophical ideas gather: not only his logic and epistemology but also his pedagogy, his ethical theory, his late metaphysics.
We are then forced to acknowledge what Calcaterra terms “the intimate relationship between nature, rationality, and sociality”, a thesis that, better than any other, captures the permanent vitality of Dewey’s philosophy.
Roberto Frega – Centre d’Etudes des Mouvements Sociaux (CEMS) Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) – Paris fregarob@gmail.com
Filosofia, ética e educação: de Platão a Merleau-Ponty – PAVIANI (C)
PAVIANI, Jayme. Filosofia, ética e educação: de Platão a Merleau-Ponty. Caxias do Sul: Educs, 2010. Resenha de: SABBI, Caros Roberto. Conjectura, Caxias do Sul, v. 17, n. 1, p. 241-245, jan./abr, 2012.
Nas dobras do tempo, tal qual um legítimo pontifex,1 Paviani liga mais de dois mil e trezentos anos que separam um dos expoentes da filosofia, senão o maior – Platão – ao filósofo fenomenólogo francês Merleau-Ponty na sua obra Filosofia, ética e educação: de Platão a Merleau- Ponty.
O primeiro, representando a Academia, criada por ele próprio em 387 a.C., num olival situado no subúrbio de Atenas, enquanto o segundo, em 1952, ganhou a cadeira de Filosofia no Collège de France. De 1945 a 1952, Merleau-Ponty foi coeditor (com Jean-Paul Sartre) da revista Les Temps Modernes. Leia Mais
Espinosa e Vermeer: imanência da filosofia e na pintura – HORNÄK (CE)
HORNÄK, Sara. Espinosa e Vermeer: imanência da filosofia e na pintura. São Paulo: Paulus, 2010. Resenha de: PAULA, Marcos Ferreira de. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n 26, 2012.
Sobre arte, Espinosa nos fala muito pouco. O termo, com o sentido estético que costumamos lhe atribuir, ocorre poucas vezes em toda a sua obra. Não é por acaso. No século XVII arte ainda conserva o sentido de um ofício específico, embora, como se sabe, o conceito de já arte estivesse em transformação desde o Renascimento, quando então ela tornou-se definitivamente inseparável das noções de beleza, estilo e originalidade, caminhando cada vez mais, sobretudo a partir do século XVIII, em direção ao sentido estético contemporâneo que hoje conhecemos. A arte no tempo de Espinosa não está longe, portanto, dos valores da contemplação e dos prazeres estéticos, mas é certamente menos importante a presença seja do artista ou do expectador que se situam num campo artístico sem pretender avançar para além de seus limites propriamente estéticos. Espinosa, por exemplo, situa as ciências e as artes no rol de todas as atividades humanas (e coletivas) que são necessárias ao aperfeiçoamento da “natureza humana” e à conquista da “beatitude”. A arte não se separa, para ele, de sua utilidade ética, sem a qual ela talvez nem faça sentido. É o que parece nos indicar esta passagem do Tratado teológico-político :
[…] ninguém teria a força e o tempo necessário se fosse obrigado a lavrar, semear, ceifar, cozer, tecer, costurar e fazer sozinho tudo o mais que é preciso para o sustento, não falando já nas artes e ciências, que são também sumamente necessárias à perfeição da natureza humana e à sua beatitude (Espinosa 2, p. 85, grifos nossos) .Fazer arte não é o mesmo que tecer e cozer, certamente, mas deve servir, em última análise, aos mesmos propósitos éticos. Se é assim, a arte, enquanto tal, não poderia servir à própria tarefa de compreensão filosófica do mundo, de si e da Natureza? De fato, sabemos que quando Espinosa fala em “perfeição da natureza humana” e “beatitude” devemos entender o exercício de uma mente humana na compreensão de si, da essência singular de seu corpo, das coisas singulares e da Natureza inteira, da qual mente e corpo são expressões modais imanentes; e se a arte pode ser útil nessa tarefa, é porque deve conservar algum poder de compreensão. Haveria, assim, entre arte e filosofia, uma ligação talvez mais íntima do que alguns comentadores ou leitores de Espinosa gostariam de ver – justamente aqueles leitores ou comentadores para os quais a arte, pertencendo ao campo do primeiro gênero de conhecimento, a imaginatio, não teria nenhuma importância na obra do filósofo holandês, não podendo sequer poderia ser tomada como via de compreensão de sua filosofia.
Não é este o caso, felizmente, de Sara Hornäk, autora de Espinosa e Vermeer: imanência na filosofia e na pintura, livro publicado na Alemanha em 2004 e que chegou até nós no final de 2010 pela editora Paulus. Trata- se de uma obra em que a arte é iluminada pela filosofia e a filosofia, pela arte; uma obra na qual vemos que um artista pode ser também filósofo, e um filósofo, artista. É que – Hornäk não hesitaria em afirmar – artista e filósofo habitam um mesmo mundo, um mesmo Universo, no sentido metafísico da palavra, de tal maneira que compartilham um mesmo “plano de imanência”, para utilizar, em sentido menos sério, a expressão deleuziana. A relação que Hornäk estabelece entre Espinosa e Vermeer (consequentemente, entre filosofia e arte), é de tal ordem que a noção de imanência ganha um destaque e uma relevância que escapam muitas vezes até mesmo aos leitores de Espinosa. A imanência, como sugere o título da obra, é o elemento pelo qual a autora constrói sua argumentação que une a arte de Vermeer à filosofia de Espinosa; mas é também o alvo do livro, cujo objetivo principal parece ser o de mostrar que uma experiência estética da imanência realizaria por outros meios o mesmo que uma filosofia da imanência proporcionaria por meio do trabalho do pensamento.
Para chegar a esse resultado, contudo, a autora seguiu um caminho um tanto longo, mas muito acertado e talvez quase inevitável. Ela primeiro expôs toda a filosofia de Espinosa contida na Ética . Essa exposição, que ocupa a primeira parte do livro, tem antes de tudo o mérito de oferecer ao leitor um verdadeiro trabalho de introdução ao pensamento de Espinosa. Aí estão presentes os principais conceitos espinosanos. Substância, atributos, modos, conatus, afetos, afecções, liberdade e eternidade, entre outros, são apresentados ao leitor com o cuidado de quem deseja introduzi-lo no universo dessa difícil filosofia da imanência.
Nesta primeira parte, que ocupa mais da metade do livro, o pensamento de Espinosa é apresentado com certa fidelidade e clareza. Há contudo um momento de sua exposição em que a autora parece trair tanto o “espírito” quanto a “letra” do texto espinosano. Ela traduz amor Dei intellectualis por “amor espiritual a Deus” (Hornäk 3, p. 246). E devemos frisar que não há erro na tradução para o português, realizada por Saulo Krieger e revisada por Rachel Gazolla: no original alemão, a expressão da autora é die geistige Liebe zu Gott (“amor espiritual a Deus”, grifo nosso). Trata-se sem dúvida de uma opção por “espiritual”, uma vez que uma das edições alemãs da Ética consultadas por Hornäk (elencadas no “Índice Bilbiográfico”) é justamente a Ethik de W. Bartschat, que traduziu corretamente o amor Dei intellectualis por Die intellektuelle Liebe zu Gott . Caberia, então, uma nota de rodapé da autora explicando tal opção, assim como seria útil ao leitor brasileiro uma nota explicativa por parte do tradutor ou da revisora. É que não estamos aqui diante de uma questão menor: “amor espiritual a Deus” é uma tradução inaceitável para todos aqueles que sabem o quanto o “amor intelecutal de Deus” de Espinosa está longe de receber o sentido espiritualista do “amor a Deus” das tradições religiosas e teológicas judaico-cristãs. Ademais, tal opção seria menos problemática, não fosse o fato de estarmos, aí, num momento conclusivo do percurso filosófico realizado por Espinosa e que Hornäk reproduz em seu livro: precisamente no ponto de chegada do caminho filosófico espinosano, no ápice da tarefa da Ética, o leitor desprevinido pode ser levado a confundir Espinosa justamente com aqueles aos quais ele se contrapôs ética e filosoficamente. Afora esse deslize – que pode ser pequeno ou grande, a depender de se o leitor de Hornäk é ou não também um leitor de Espinosa – não há problemas na exposição da autora, embora tampouco haja aí novidades interpretativas.
Realizando esse longo percurso pelo pensamento espinosano, na primeira parte do livro, a autora pôde se desincumbir, na terceira parte, de explicar cada conceito espinosano, ao tratar da relação entre a arte de Vermeer e a filosofia de Espinosa. Mas antes de chegar a ela, a autora também nos oferece uma segunda parte, espécie de intermezzo histórico no qual o leitor se vê às voltas com os problemas da imanência e da transcendência, num percurso que vai de Platão a Giordano Bruno, passando pelos neoplatônicos e Nicolau de Cusa, sem deixar de nos oferecer ainda, ao final, algumas considerações sobre o “plano de imanência” de Gilles Deleuze. Mas é sem dúvida a terceira parte do livro que concentra o que ele tem de melhor. Aí encontramos as teses principais da autora; aí vemos a filosofia juntar-se à crítica e à história da arte para se chegar a bons resultados, seja no que concerne à compreensão do pensamento espinosano, seja no que toca à interpretação das obras de Vermeer.
A ideia central de Sara Hornäk é que a imanência pode ser não apenas pensada, mas também mostrada . A imanência, para além de sua expressão recebida no trabalho de pensamento filosófico, se exprimiria também em outros campos do fazer humano – na arte, por exemplo, e Vermeer seria aqui exemplo privilegiado, particularmente A leiteira, obra sobre a qual se centram as interpretações da autora.
Na forma, na tecedura e combinação das cores, assim como no uso da luz, Vermeer deixaria ver ou daria visibilidade à mesma imanência de que nos fala Espinosa. Hornäk vê no tratamento de temas cotidianos precisamente uma recusa da transcendência em Vermeer. Não se trata de que nas obras do pintor encontraríamos a representação da imanência: dá- se antes que a própria imanência estaria aí presente, visível, expressa na tela mesma. Em Vermeer, assim como na teoria da mente da Ética, não haveria então a representação de ideias, motivos ou objetos; a própria imagem produziria seu sentido, assim como um sentido emerge no próprio texto da Ética – e Hornäk fala aqui em “autorreferencialidade”, em “estrutura de expressão horizontal”, para dar conta dessa potência expressiva imanente ao texto e à imagem (Hornäk 3, p. 329).
Arte e filosofia, entretanto, conservam esta potência expressiva de maneiras diferentes, cada uma a seu modo, em seu próprio campo e com seus próprios recursos. Hornäk não sonha estabelecer qualquer relação causal entre Vermeer e Espinosa. Ao mesmo tempo, ela vê no “conhecimento da imanência, que, segundo Espinosa, se dá intuitivamente” (Hornäk 3, p. 331), o elemento comum que os une. A intuição, que a autora corretamente vê, não como uma superação mística do racionalismo, mas como uma ampliação da própria razão, seria assim o meio pelo qual a imanência é inteligida e vivida, tanto em Espinosa quanto em Vermeer. Essa experiência intelectual e afetiva da imanência, que Espinosa exprime no conceito de amor intelectual de Deus, em Vermeer estaria presente na “quietude profunda” que Hornäk vê “expressa” em seus quadros, os quais permitiria uma certa “contemplação da eternidade”… (Hornäk 3, p. 331-333).
Mas de que forma, do ponto de vista da filosofia de Espinosa, tudo isso seria possível? A arte não é de fato uma atividade que se dá antes de tudo no campo da imaginação e portanto da ideia inadequada? Contudo, segundo Hornäk devemos superar a ideia de imaginatio como mero conhecimento inadequado. Lembremos que a imaginação, enquanto tal, está inscrita no rol das atividades dos modos finitos, o que significa que ela mesma é algo, é modo e constitui um modo de ser. Sabemos, ao mesmo tempo, onde está o problema teórico e prático da imaginatio : caímos no inadequado ao afirmarmos de um conteúdo imaginativo que ele é verdadeiro ou falso, bom ou mau, quando o próprio conteúdo não nos oferece tanto. Como estamos sempre no exercício do nosso conatus, é quase inevitável que a imaginação não venha acompanhada dessas afirmações ou negações. No entanto, o próprio conatus pode exercer-se de tal forma que a imaginação não seja um obstáculo, mas um reforço. A imaginação, muitas vezes, é antes uma potência, em vez de impotência e passividade. Flaubert e Machado de Assis nos dão a ver certas paixões humanas. Mas no ato mesmo em que escrevem, não são dominados por elas.
A imaginação no artista é, em casos como esses, um potente instrumento de criação, não de dominação daquele que imagina. Hornäk nos lembra que, na abertura do Breve Tratado, a forma de exposição é já artística; ademais, a própria forma de exposição geométrica da Ética é, para a autora, igualmente artística, pois faria emergir uma “estrutura complexa” em que definições, axiomas, proposições e demonstrações se mostrariam de tal forma interligados que, ao fim do texto, seríamos capazes de vê-lo todo, seríamos capazes de ver a simultaneidade da forma, assim como seríamos capazes de apreender a nossa essência singular inseparavelmente do Universo (o todo), da mesma maneira que a autorreferencialidade presente nos quadros de Vermeer nos dariam a ver o próprio real em sua simultaneidade.
Hornäk vê nos quadros de Vermeer a expressão do que ela chama de “força substancial” em meio às próprias coisas cotidianas. Os elementos cotidianos do pintor realizam a imanência pictoricamente. A arte pode tornar a imanência visível. Em Vermeer, mais do que em qualquer outro pintor do XVII, segundo Hornäk, dá-se justamente essa visibilidade da imanência. Para a autora, a imanência não é uma ideia puramente conceitual, e portanto não se trata de buscar na arte o sentido da imanência, mas sim de entender como ela se exprime na arte.
Vermeer retrata o cotidiano de tal forma que o que se exprime na tela é o singular (não o geral, isto é, não uma casa, um quarto, um vaso ou uma mulher, mas esta casa, este quarto, este vaso, esta mulher). Tomando sempre como referência A leiteira, Hornäk considera que o humano e o mundo estão igualmente presentes na tela de Vermeer, através da figuração plástica de uma mulher, um lugar e uma ação singulares. A singularidade do gesto da leiteira exprime-se em sua total concentração na realização do ato cotidiano de despejar o leite que sai de uma recipiente e entra em outro. Concentração e movimento, aqui, encerram a “quietude” que se exprime no gesto da leiteira. Para Hornäk, a apreensão intuitiva do “verter do leite” equivale a uma experiência da eternidade, uma vez que a Natureza se exprime nos modos e portanto também nos gestos mais cotidianos.
Para chegar a essas conclusões, Hornäk analisa o uso das cores, da luz e do que ela chama de “superfície de imagem e espaço de imagem”, em Vermeer. O trabalho de composição e combinação das cores mostra o quanto elas formam uma trama, uma tessitura, pela qual Vermeer “escreve” o “texto” da tela, de tal maneira que a imanência se faria presente no próprio ato criativo do pintor. Para Hornäk, entretanto, sem o uso específico que Vermeer faz da luz essa trama das cores seria impossível. Aqui, como muitos historiadores lembraram, o procedimento estético é o chiaroscuro . Hornäk lembra, porém, que o uso desse procedimento é de tal ordem que o chiaro não se opõe ao oscuro . Claro e escuro não são oposições irredutíveis. Em vez disso, eles formariam uma “unidade harmônica”. O homem não se opõe ao mundo; é dele um elemento discernível mas inseparável, componente intrínseco do todo. Mas de onde vem a luz, em A leiteira ? Segundo Hornäk, a luz intensa da parede não pode advir dos vidros da janela à esquerda da tela, porque eles estão demasiados embaçados para produzir uma tal luminosidade 1 . A luz da parede, intensa e profunda, seria produzida ali mesma, por ela mesma: ela seria, assim, figuração pictórica da causa imanens, da causa que não se separa do efeito após causá-lo. Certamente a importância que a autora dá ao papel da luz não é casual. Ela mesma nos lembra que para uma longa tradição de religiosos e pensadores a luz sempre foi considerada “símbolo do divino”. Mas a luz, em Vermeer, não seria o que remete a outra coisa, a algo fora da tela, ao transcendente: ela se dá e se constitui no cotidiano mesmo, alia onde as coisas estão, em meio a elas e por meio delas.
É contudo no momento em que analisa o problema da superfície e do espaço da imagem que a interpretação de Hornäk fica ao mesmo tempo mais interessante e mais controversa. Mais interessante porque aprofunda a interpretação da obra de Vermeer pela ótica da imanência espinosana; mais controversa porque, nesse aprofundamento, parece realizar uma leitura “piedosa”, “espiritualista” e um tanto mística da filosofia de Espinosa. E, realmente, a partir da análise de elementos formais de A leiteira, Hornäk identifica a figuração pictórica de temas como a “concentração” e a “quietude”. A mulher que no centro da tela faz jorrar o leite na vasilha sobre a mesa realiza esse ato com toda a atenção, compenetrada em seu gesto, a ponto de ela, sua ação, os objetos que a cercam, o próprio lugar, enfim, comporem uma “cena hermética” que exprime “concentração” plena e, por isso mesmo, certa “quietude”.
Nesta “cena hermética” encontra-se, porém, a abertura para todo o Universo, afirma Hornäk. A autora fala no “mundo sumamente próprio” e na “interiorização absoluta” que as telas de Vermeer deixariam ver. E, no entanto, precisamente aí encontraríamos “o atrelamento, tão difícil de apreender, entre finitude e infinitude” (Hornäk 3, p. 378). Haveria, então, uma espécie de “filosofia da imanência”, não dita, não escrita, mas figurada nas telas de Vermeer, particularmente em A leiteira ? As análises e interpretações de Hornäk parecem querer levar o leitor a essa conclusão. E de fato uma tal conclusão em Vermeer seria tanto mais possível quanto, segundo Hornäk, “o pintor suprime dualismos em teoria do conhecimento, como o que se tem entre imaginatio e ratio, corpo e alma, percepção e conhecimento” (Hornäk 3, idem).
Não é que autora desconheça o lugar da imaginatio na Ética de Espinosa. Sabe que na imaginação estamos sempre às voltas com o inadequado. Mas ela lembra que a conquista do adequado, em Espinosa, não se faz pela defesa “de um ponto de vista puramente racionalista”, já que Espinosa vai além da razão sem dispensá-la: a ciência intuitiva, o terceiro gênero de conhecimento, faz de Espinosa um racionalista sui generis no século XVII, pois com ela a própria razão se vê ampliada – não porque seja agora capaz de apreender mais generalidades, mas, ao contrário, porque capaz de captar singularidades, antes de tudo da essência singular do corpo de que esta mente intuitiva é a ideia. Contudo, precisamente a ciência intuitiva dá à imaginatio um outro estatuto: à imaginação não é mais dado o valor de verdade que era fonte de todo o erro (lembremos que a imaginação em si não é nem falsa nem verdadeira), mas antes um lugar na contemplação adequada de si que envolve uma outra imagem de si mesmo, das coisas e da Natureza (ou Deus), assim como da ligação necessária (eternidade) entre nós, as coisas e a Natureza.
A ciência intituitiva, portanto, envolve razão e imaginação, mas agora sob o aspecto da eternidade. Ora, precisamente esse conhecimento intuitivo corresponde, na arte, segundo Hornäk, à “uma atitude contemplativa, na qual o homem, mergulhado em si mesmo, assume um estado de interiorização”. Essa “interiorização” intuitiva estaria presente em A leiteira : “A criada parece espreitar a si mesma” (Hornäk 3, p. 382). Evidentemente, não estamos aqui diante de uma interiorização que nos faria cair num sopsismo sem saída de si, precisamente porque, realizando- se no campo da ciência intuitiva, ela é por isso a expressão da ligação que mente tem com a Natureza inteira, e, portanto, em vez de nos fechar em nós mesmos, ela é capaz de nos abrir a todas as coisas, ou, o que é o mesmo, de realizar uma abertura ao “múltiplo simultâneo”, para utilizar uma expressão de Marilena Chaui (Chaui 1, p. 103). É aqui que, para Hornäk, somos capazes de apreender o eterno no temporal, o infinito no finito, a Substância nos modos.
O que, entretanto, em A leiteira de Vermeer, revela-nos esse poder de apreensão intuitiva do real e de nós mesmo na Natureza? Aqui aparece com mais clareza aquele ponto controverso a que nos referimos acima. Para Hornäk, pode-se ver na ação da criada, em sua expressão, em seu gesto, uma atitude de “concentração”, “paciência” e “quietude”. E a autora chega mesmo a falar em “humildade”, dando-lhe outro sentido, que não é o de Espinosa: se para este a humildade é contemplação da própria impotência, para a autora ela é “dedicação plena de devoção”, que o gesto da criada deixaria entrever. Se, agora, reunirmos estes termos e expressões àquele “amor espiritual a Deus”, não poderíamos ver aí uma interpretação um tanto “piedosa”, isto é, religiosa, e espiritualista da filosofia de Espinosa, mas também das obras de Vermeer? Mas deixamos ao leitor um julgamento mais apurado e justo do livro. Em todo caso, é verdade que, por outro lado, o texto de Hornäk deixa entrever que humildade, paciência, quietude e concentração querem exprimir apenas um estado de alegria ativa, em que se fundem atividade e passividade, ação e contemplação, obra e expectador, texto e leitor. Para Hornäk, Vermeer desfaz de tal forma a oposição entre interioridade e exterioridade, que o observador pode tomar parte na atitude contemplativa da personagem figurada na tela.
Mas a conclusão talvez mais importante de Hornäk, nesse momento de seu percurso interpretativo, é a de que as figuras retratadas nos quadros de Vermeer não narram acontecimentos, mas exprimem a eternidade. Na concentração tem-se o elemento da atenção – e Hornäk não deixa de lembrar pelo menos um intérprete de Vermeer que tenha destacado o fato de que na arte holandesa do XVII ocorreu a representação do mais alto grau de atenção envolvido na atividade doméstica (Hornäk 3, p. 384). Concentração, atenção, presente. Para os zen-budistas, a beatitude não se faz fora do tempo presente, esse tempo que é o mais difícil de ser vivido, como dizia Jorge Luis Borges. E se não narra acontecimentos, nem por isso Vermeer figura naturezas mortas congeladas no tempo (como se tal fosse possível). Em vez disso, o pintor “dilata o passo temporalmente mensurado para uma duração que nos possibilita a eternidade” (Hornäk 3, p. 394), escreve Hornäk. E então compreendemos que o leite jorrado da leiteira “flui eternamente” (Hornäk 3, p. 396). O leite sendo derramado é um “transcurso”, é duração eterna ou um “demorado agora” no todo da eternidade.
Muitos intérpretes falaram do “enigma” na obra de Vermeer. Para Hornäk este enigma consiste em tornar visível o que é da ordem do invisível: a eternidade e a imanência. Mas não é isso o que precisamente Espinosa nos faz ver, sobretudo com sua Ética ? A diferença é que enquanto aí os “olhos da alma” são as demonstrações geométricas da mente, em Vermeer os “olhos da mente” são os próprios olhos do corpo diante da visibilidade de uma obra que mostra a imanência e eternidade dos gestos, das coisas, do homem. Hornäk não hesita em afirmar que “na obra de Vermeer se realiza a imanência”. E poderia ser diferente? Não seria correto dizer que, se todos os modos são modificações da Substância única que lhes é imanente, como eles a ela, a própria Substância está de algum modo em todas as coisas, em todos os gestos, em todos os homens, em todas as obras? Correto, mas, precisamente, ela se faz presente de maneiras diferentes. Há maneiras e maneiras de exprimir o Ser. Podemos fazê-los mais ou menos. Às vezes se está mais próximo de si mesmo; às vezes se está tão longe de si que é então a quase pura passividade o que impera. Neste último caso, um gesto, uma obra, uma ação exprimem apenas a exterioridade das relações e já não dizem quase nada, ou fazem muito pouco pela perfeição de nossa natureza e por nossa beatiude.
Sara Hornäk relembra uma passagem de O Olho e o espírito, na qual Merleau-Ponty afirma que na obra de Cézanne se “produz um cintilar do ser […] em todos os modos do espaço e também na forma” (Hornäk 3, p. 415-416). O mesmo, segundo Hornäk, se passa em Vermeer. Há nele a criação de uma “outra” realidade, sua obra remete a um “para além” do que se vê e se sente, mas ele o faz justamente no que se vê e se sente . “A segurança e capacidade com que a figura representada”, escreve Hornäk ainda sobre A leiteira, “realiza sua atividade permite que a cena apareça à luz da necessidade”. Eis, em Vermeer, a potência intrínseca da própria obra, a figuração do instante que se inscreve numa ontologia do necessário e que por isso mesmo torna visível a eternidade e imanência dos gestos, dos modos, dos acontecimentos. E, assim, por caminhos diferentes encontraríamos, em Vermeer como em Espinosa, uma mesma unidade de ser e agir, uma mesma afirmação da vida no presente, uma mesma potência de agir que se inscreve no seio da atividade eterna (sempre presente) dos atributos divinos que constituem a essência da Substância absolutamente infinita.
Deleuze amava dizer que a alegria espinosana realiza-se no mesmo ato de um bom encontro. Não se sabe se algum dia Espinosa encontrou-se com Vermeer, apesar de terem morado próximos um do outro, pelo menos durante os 17 anos em que Espinosa, mesmo tendo habitado diferentes cidades, não se afastou muito de Delft, a cidade de Vermeer. Mas Hornäk consegue realizar agora, para nós, esse bom encontro entre o filósofo e o pintor, entre a filosofia e arte, percorrendo o mesmo fio imanente que une um e outro, uma e outra, e todos nós. .
Notas
- Há um pequeno buraco, num dos vidros, que deixa ver o quanto eles estão embaçados, provavelmente pelo calor do ambiente interno em oposição ao frio do exterior
Referencias
- CHAUI, Marilena de S. “Ser Parte e Ter Parte: Servidão e na Ética IV”. In: Discurso, no. 22, 1993.
- ESPINOSA, Baruch de. Tratado teológico-político. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- HORNÄK, Sara. Espinosa e Vermeer: imanência da filosofia e na píntura. São Paulo: Paulus, 2010.
Marcos Ferreira de Paula – Professor de filosofia do Curso de Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Cartas sobre a hipermodernidade ou O hipermoderno explicado às crianças – CHARLES (C)
CHARLES, Sébastien. Cartas sobre a hipermodernidade ou O hipermoderno explicado às crianças. São Paulo: Barcarolla, 2009. Resenha de:GONÇALVES, Marco Antonio. Conjectura, Caxias do Sul, v. 16, n. 3, Set/dez, 2011.
Num ensaio sobre nossa temporalidade qualificada como hipermoderna, diferenciando-a do conceito de pós-moderna, pois isso pressuporia a ideia de rompimento dos princípios constitutivos da modernidade – racionalidade técnica, economia de mercado, democratização do espaço público e extensão da lógica individualista – Charles parte da tese de que esses princípios não foram rompidos, mas que estão sim radicalizados.
Com conteúdos bastante relevantes, Cartas sobre a hipermodernidade reúne dez cartas que contribuem para o debate evitando uma atitude simplória de desespero ou indignação dessa lógica individualista presente em diversos níveis.
Sobre essa ótica, o autor procura, primeiramente, responder: o que é o pós-moderno? (Carta 1) – Vivemos num momento de instabilidades e de questionamentos acerca da relatividade dos valores e dos gostos.
Constata-se isso com as questões inéditas que as tecnociências nos trouxeram – estendidas ao campo dos direitos individuais –, o desaparecimento dos grandes projetos políticos e a angústia por não mais possuirmos referenciais seguros.
O autor questiona: por que utilizar o conceito de hipermodernidade e não se limitar a dizer simplesmente que a modernidade continua normalmente o seu desenvolvimento? A modernidade mobilizou intensamente os homens ao lhes prometer novos rumos: desaparecimento das tarefas inglórias e desgastantes graças ao progresso tecnológico, justiça e igualdade para todos após reformas políticas adequadas, e felicidade universal em razão de uma reformulação da ordem social. (p. 16). Mas essas promessas não foram honradas nem plenamente concretizadas: o progresso tecnológico colocando-se a serviço de causas nobres e vise a justiça e a igualdade permanecendo como reivindicações, e a felicidade, como ideal.
Surgiram novos temores e uma ambiguidade de sentimentos de fascinação e de angústia abordados na Carta 8 – “Entrada para um novo cenário”. As tecnociências não param de revolucionar os referenciais de nosso mundo e, infelizmente, a atual lógica da descoberta científica não está atendendo mais a uma visão humanista como no passado. Está mais preocupada com a rentabilidade do que com a verdade, esquecendo seu horizonte de inteligibilidade e de enquadramento ético.
Dentro deste panorama, a Carta 9 – “Glosa sobre a resistência” analisa as modificações pelas quais a universidade passa. Numa lógica mercantil balizada num cálculo individualista de custo e benefícios, vê-se inserida num contexto complexo de relações pessoais, pedagógicas e sociais.
Mas não seria correto reduzir a universidade a “supermercado do conhecimento” que visa apenas às exigências do mercado. Grande número de estudantes e professores assume as autênticas exigências universitárias e se dedica com abnegação e rigor aos seus estudos, com preocupações sociais, éticas ou ambientais, ou seja, são e formam cidadãos capazes de melhor compreender os desafios atuais e participam ou influenciam nas decisões coletivas assumidas.
Como explicar o retorno da temática da felicidade na filosofia contemporânea? Esse retorno a um pensamento preocupado com considerações eudemônicas – desaparecidas das considerações filosóficas no século XVIII – que contraponha a lógica hipermoderna é abordada em Comentários às metanarrativas (Carta 2). Fala-se que há uma falência do projeto moderno devido ao esvaziamento ou à eliminação das metanarrativas (sociedade sem classes, felicidade universal, realização do espírito, emancipação dos indivíduos).
Essa ideia, segundo o autor, é frágil se não levar em conta a complexidade da sociedade contemporânea. Argumenta que nem todas as grandes narrativas foram desacreditadas – os direitos humanos jamais foram tão festejados e consensuais – e o desaparecimento de boa parte das metanarrativas não significa o fim da modernidade. Ao contrário, há uma celebração do passado, a preservação da memória e a sensibilização para com um passado ao qual já não é mais possível voltar.
Alguns fatores podem ser destacados para exemplificar aquele abandono: a adoção de um discurso autônomo da ciência moderna como única detentora da verdade e conhecimento capaz de conduzir à felicidade, o aparecimento de uma nova reflexão política, social e econômica, assim como relacionado à filosofia de Kant e a substituição da questão da felicidade pela da obrigação. Todos nós desejamos ser felizes, mas somos incapazes de dizer o que, de fato, garante a nossa felicidade, fazendo dela um ideal da imaginação e nada mais.
Cresceu, no século XX – junto com o progresso científico e a experiência dos regimes totalitários –, nossa preocupação e desconfiança pelo fato de as ciências naturais e humanas serem incapazes de dar uma resposta ética aos desafios que elas mesmas criaram. Assistimos ao ressurgimento e à atualização no discurso filosófico sobre a felicidade.
O autor diz: Atualmente, são essas utopias que parecem ultrapassadas e a filosofia, entendida como sabedoria, perfeitamente atual. A função da filosofia, hoje, pode ser a de ocupar esse espaço deixado livre pelas utopias políticas, a fim de nos permitir pensar conjuntamente felicidade coletiva e felicidade individual, sem deixar o coletivo preponderar em detrimento do individual, o que representaria um retorno às experiências totalitárias, nem o individual predominar sobre o coletivo, o que representaria a anarquia. (p. 44).
A crença na regulação da ordem social pelo mercado, que teria a virtude de aumentar naturalmente a felicidade coletiva, também se enfraqueceu. A felicidade prometida pela sociedade de consumo que ainda não tornou realidade e a conscientização de que o bem-estar não pode ser garantido somente pela compra de bens materiais explicam a reabilitação de uma filosofia que pretende trazer respostas à felicidade.
A volta atual à filosofia se explica, sobretudo, pelo aumento do individualismo e do hedonismo que movem as nossas sociedades hipermodernas, que fazem do indivíduo o próprio centro da sua lógica e, da sua felicidade, o objetivo da existência humana. Contudo, a busca dessa felicidade hipermoderna está baseada numa filosofia sob a forma de iniciação aos grandes mestres espirituais, a qual reúne novas formas de religiosidade, caminhos espirituais de todo tipo, buscas místicas e o retorno às sabedorias filosóficas. Uma extensão da lógica do consumo ao domínio da espiritualidade e uma válvula de escape para as tristezas existenciais.
Os ensaios filosóficos obtêm, hoje, um sucesso excepcional, e a demanda social pela filosofia – seja através de cafés filosóficos, de especialistas em filosofia ou de programas na mídia – nunca foi tão forte. Os indivíduos buscam, em geral, mais o prazer do que o filosofar.
Esse modismo não encontra igual repercussão na invasão dos Departamentos de Filosofia nas universidades. A filosofia tem o objetivo de distinguir as falsas felicidades, o que se chama de ilusões, da verdadeira felicidade, relacionada com a verdade.
Se a filosofia não nos torna felizes, ela pode, ao menos, nos dar as chaves para sermos menos infelizes. A felicidade à qual a filosofia quer dar acesso não é qualquer felicidade, ela não está baseada em mentiras, na ilusão ou no esquecimento, mas sim sobre um máximo de lucidez.
Para o filósofo, mais vale uma verdadeira tristeza do que uma falsa felicidade. (p. 51). Algumas reflexões filosóficas que nos permitem ao menos uma melhor compreensão das razões da infelicidade que afeta a nossa existência dizem respeito à própria vida e à relação natural e necessária que ela tem com a morte. Acredita-se que a felicidade se encontra em bens fugazes e efêmeros que acumulamos para sentir segurança. A mensagem da filosofia é simples: é preciso moderação, saber impor limites aos desejos, ao que é necessário à obtenção de uma vida agradável, sem ir além do que basta. Essa mensagem é bastante difícil de se entender numa sociedade de hiperconsumo, mas que retoma, apesar de tudo, as preocupações contemporâneas sobre a necessidade de se limitar à retirada de recursos naturais a fim de se preservar o meio ambiente e de se preocupar com o destino das gerações futuras.
Na “Mensagem sobre o curso de filosofia” – Carta 10, percebe-se que há um aumento de atenção com relação à filosofia, apesar de outras disciplinas tomarem o seu lugar na tarefa de pensar o mundo e não ser mais concebida como a única ciência com a pretensão à verdade. Nessa carta, o autor dá indicativos de uma crise da filosofia – com suas razões históricas e culturais – em torno das problemáticas metafísicas, morais e éticas. Ele defende uma filosofia modesta, essencial à nossa época, indispensável como disciplina a ser ensinada, mesmo com divergência sobre como ensiná-la e sobre o conteúdo a ser ensinado.
Filosofia modesta porque ela não pretende mais dizer onde está a verdade, mas filosofia essencial, apesar disso, pois ela pode permitir distinguir o falso ou indicar os limites que não devem ser transpostos.
E nós precisamos sim de filosofia, ou seja, de argumentação racional, de debates públicos e críticos, de reflexão sobre a vida, para responder aos desafios que as ciências nos trazem e que a administração das nossas sociedades democráticas exige. (p. 195).
Essa preocupação é percebida na Carta 3, – “Sobre a história universal”, ao se fazer um resgate histórico dessa questão até os dias atuais quando se afirma o fim das filosofias da história. Vê-se a necessidade de se pensar respostas coletivas em termos de desenvolvimento econômico, de visão de mundo e evitar “as armadilhas do etnocentrismo histórico e do universalismo abstrato, buscando o seu objetivo mais nobre, a preservação da humanidade e do meio ambiente que torna possível sua existência. (p. 75).
Na Carta 4 – “Apontamento sobre a legitimidade”, o texto aborda a questão do multiculturalismo contemporâneo a partir da linguagem da tolerância como virtude política. Analisada e valorizada filosoficamente, no seu sentido moderno, a tolerância é indissociável de uma reflexão política sobre os direitos individuais e sobretudo a liberdade de consciência e de crença. O autor afirma: O multiculturalismo não é uma posição frágil, mas forte, não se traduzindo por um relativismo moral ou uma anarquia total na qual todas as reivindicações seriam aceitáveis e aceitas. As nossas democracias, cujos recursos estão longe de se esgotarem, devem ser inflexíveis sobre os princípios (defesa dos direitos individuais, promoção da dignidade da pessoa humana) e flexível no tocante aos valores culturais problemáticos. (p. 94).
Vinculado a essa temática, “Mensagem sobre a confusão das razões” – Carta 5, sustenta que essa (in)flexibilidade só foi possível graças às revoluções sociais e políticas que redefiniram a natureza, o estatuto do Estado, da sociedade civil e do indivíduo.
O Estado pós-moderno apresenta-se como um Estado mínimo com prerrogativas reduzidas, ação mais modesta e mais atenta às necessidades sociais, descentralizado, pragmático, baseado em prioridades essenciais (educação, justiça e segurança). Contudo, percebe-se que há um discurso de crise da política-tradicional, indiferença ao jogo político, queda da militância política e presença da chamada política espetáculo. Contrapõe-se a isso um aumento de cidadãos mais exigentes e responsáveis, em instâncias de exercício de poder mais direto, mais consultivo e mais participativo. Torna-se necessário um novo pacto social. Em vez de Estado mínimo, o autor diz ser necessário se pensar num Estado responsável.
A Carta 6 – “Pós-escrito ao terror e ao sublime” analisa modernidade e estética, o início do desaparecimento e a dessacralização das “grandes narrativas” artísticas e literárias, a renovação da estética urbana moderna nos anos 60 (séc. XX) e a revolução nos comportamentos a partir dos anos 80 (séc. XX): a valorização do hedonismo, a preocupação com a sedução, a promoção do cotidiano, o desaparecimento das correntes artísticas em prol de iniciativas mais individualizadas, a valorização das emoções e das percepções, o fim das vanguardas, a negação das hierarquizações estéticas, etc. (p. 119).
A partir da segunda metade do séc. XX, o consumismo e os valores vinculados a ele, sob o manto de uma cultura narcisista, fizeram com que a arte se tornasse um produto social como qualquer outro, submetido às leis do mercado. O desaparecimento de normas estéticas provocou novas formas de ecletismo, cada um podendo ao mesmo tempo e sem contradição gostar de diferentes manifestações artísticas. Devemos cuidar para não cair num relativismo cultural, no qual tudo tem valor e, ao mesmo tempo, tudo não vale nada.
A situação do hiperindividualismo contemporâneo é o grande tema da Carta 7 – “Nota sobre o sentido da expressão ‘hiper’”, que é marcado por uma lógica paradoxal: vivemos numa sociedade que massifica, padroniza e, ao mesmo tempo, cria seres autônomos e ambíguos, estimula os prazeres e produz comportamentos angustiados e esquizofrênicos divididos entre uma cultura do excesso e o elogio da moderação. Sua superação pressupõe não só uma responsabilização coletiva, exercida em todos os setores do poder e do saber, mas também individual, ao assumir autonomamente o legado da modernidade.
O hiperconsumismo funciona como uma forma de hiperindividualismo. Não leva nem ao desaparecimento dos ideais nem à corrupção da moral – seria simplista dizer que a sociedade hipermoderna é um espaço sem valores. Várias pessoas sentem a necessidade de agir, de intervir, de ajudar, a partir de uma deliberação que lhes é própria e não em razão do pertencimento a tal ou a qual estrutura política ou religiosa.
Pelo que se pode perceber, a análise da hipermodernidade exige um esforço em eliminar certos dogmatismos intelectuais e ideológicos que, em nossa formação e no mesmo agir pedagógico e social, nos foram incutidos. Assim, numa mudança de paradigma epistemológico, é preciso ter a lucidez de perceber a complexidade de suas manifestações, para que as ações sejam eficazes nas transformações desejadas e necessárias.
Marco Antonio Gonçalves – Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFil). Mestrado em Ética, da Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Collected papers of Herbert Marcuse. Philosophy, Psychoanalysis and Emancipation – MARCUSE (CEFP)
MARCUSE, Herbert. Collected papers of Herbert Marcuse. Philosophy, Psychoanalysis and Emancipation. Vo.5. [?]: Editora da Unesp, [?]. Resenha de: CARNEIRO, Silvio Ricardo Gomes. Cadernos de Ética e Filosofia Política, São Paulo, v.20, p.185-193, 2011.
De Hitchcock a Greenaway, pela história da filosofia. Novas reflexões sobre cinema e filosofia – CABRERA (FU)
CABRERA, J. De Hitchcock a Greenaway, pela história da filosofia. Novas reflexões sobre cinema e filosofia. São Paulo: Nankin Editorial, 2007. Resenha de: KUSSLER, Leonardo Marques. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.12, n.1, p.87-89, jan./abr., 2011
Nesta segunda obra que aborda a temática de cinema e filosofia, Cabrera retoma alguns pontos de seu livro anterior (Cabrera, 2006) que geraram muitas dúvidas e mal-entendimentos, pressupondo que não se faz necessário demonstrar novamente o cinema em seu enlace com a filosofia, e sim, mostrar as repercussões acerca do que o cinema mostrou da natureza filosófica, diz o autor. Para tanto, Cabrera distingue dois momentos do livro: um primeiro, mais teórico com esclarecimentos e definições mais específicas dos conceitos de seu primeiro livro, e um segundo, que trata de novas reflexões do autor com análises e reflexões sobre novos filmes.
O autor retoma o conceito de páthos e sua presença no âmbito filosófico — sua importância ante os sistemas tradicionais (intelectualistas nas palavras do autor) de filosofia na tentativa de justificar a afetividade como parte de um modo de compreensão — e, especialmente, sua participação no momento filosófico do cinema. A grande crítica refere-se às tradicionais vertentes intelectualistas filosóficas, que entendem a compreensão somente como algo proposicional e apático, conforme Cabrera, totalmente desligada do páthos, da afetividade. A ideia de Cabrera parte do crédito que ele dá à possibilidade de conceber ideias não necessariamente nessa redoma intelectualista, que reduz a capacidade de composições de ideias ao meramente racional, duro, sem a dimensão da afetividade. O autor quer mostrar que, com a afetividade, é possível uma nova raiz de concepções ideáticas composta não só pela razão hard, mas também pela companhia do caráter afetivo, numa logopatia, diz Cabrera, onde esta carga afetiva seria um meio pelo qual seria possível conceber conceitos. Alguns filósofos, segundo ele, arriscaram-se a trazer o elemento pático na formulação de sua filosofia, tais como Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche e Heidegger. Tais pensadores levaram a linguagem ao extremo de sua capacidade expressiva, buscando um movimento que fugisse da construção argumentativa linear. Por meio da escrita em aforismos e de poesias, diz Cabrera, tais autores fizeram críticas ao momento de expressão máxima — e também de limite — da linguagem, ao se darem conta que não conseguiam dizer tudo através dos referenciais da linguagem tradicional.
O cinema, na visão de Cabrera, seria um novo meio de se passar conceitos através de imagens. Tais conceitos não seriam simples imagens, visto que fariam tremer o espectador justamente por portarem o elemento afetivo. Da imagem “[…] não interessa somente sua eventual função de ‘auxiliares’ das ideias, mas a capacidade de interagir com elas modificando seu sentido, intensificando sua compreensão” (Cabrera, 2007, p.16). As imagens do cinema, ou cinematográficas, não se compõem pela simples representação gráfica em movimento, mas também por tudo que não aparece, ou seja, pelos sons, pelos ruídos, por todos os efeitos de câmera que em conjunto com as ideias podem representar ou descrever a realidade de uma forma mais rica. Na visão apática, própria dos filósofos intelectualistas, é omitida a dimensão afetiva, impactante da imagem, bem como sua carga de referência potencial, diz o autor. O cinema tem esta capacidade de moldar a imagem e potencializá-la no momento de impacto. O filme pode apresentar asserções de verdade, ou pretensões de verdade ou falsidade, pois, ao se pôr na função de provedor de conceitos, obviamente pode ter algum tipo de assertividade, embora não no sentido proposicional, mas situacional. Os conceitos-imagem, por meio de outros dispositivos, ligam-se a uma assertividade de tipo situacional que, no cinema, são “[…] algo semelhante às proposições para a filosofia escrita: um lugar onde os conceitos interagem e se desdobram” (Cabrera, 2007, p.19). O cinema, à medida que mostra alguns elementos, oculta outros, sendo por isso “[…] tão bipolar quanto a proposição, arriscando-se à falsidade e à inadequação” (Cabrera, 2007, p.21). O autor defende que a imagem não é facilmente saturada, pelo contrário, sua riqueza consiste em uma inquietante incompletude, um lado de sombra que deixa de mostrar. O cinema tem sua própria capacidade de comunicar-se de acordo com sua linguagem particular, “ele é uma linguagem porque dispõe de recursos para fazer afirmações, ou seja, para predicar algo acerca de algo” (Cabrera, 2007, p.22). O autor ainda ressalta que a assertividade das imagens não exclui o fictício, o fantástico, pois, os conceitos-imagem, ao contrário dos conceitos-ideia, não temem trazer sua própria verdade por intermédio do extraordinário, do implausível. Os impactos emocionais que os filmes causam nos espectadores fazem-nos perceber mais claramente a temática que o filme apresenta. Ao observar os conceitos-imagem de um filme, podemos compará-los com os de um outro filme que trata do mesmo assunto e filtrar de acordo com a melhor compreensão e gosto pessoal. Podemos simplesmente gostar do conteúdo do filme e rejeitar a tese imagética que ele carrega consigo. “Existem realidades às quais temos melhor acesso pelo auxílio de algum impacto emocional, mas uma vez que se teve o acesso e se compreende do que se trata, pode perfeitamente rejeitar-se” (Cabrera, 2007, p.27). O interessante a ressaltar nesta última parte descrita é o caráter filosófico do não enterrar a ideia refutada, pois, tal como na filosofia não se pode enterrar uma ideia refutada, o mesmo se dá no âmbito cinematográfico, pois parece atrelado à análise de conceitos, que são reformuláveis, como na filosofia. Uma nota de Cabrera explica que não necessariamente temos que explicar filosoficamente as coisas de um modo duro, apático, senão por um caráter mais aberto que leve de volta à essência reflexiva e inconclusiva filosófica, diz o autor, pois dispomos de inúmeros tipos de linguagens que expõem conceitos.
A segunda parte do livro apresenta alguns exercícios filosóficos e analíticos de filmes, tal como no primeiro livro, carregando títulos no mínimo provocativos, como por exemplo: “Kant na lista de Schindler?”, ou “Schelling, Amadeus e o pior diretor de cinema de todos os tempos”, ou então “Schopenhauer e Roberto Benigni. A vida é bela: análise de uma frase absurda e de um filme deplorável”. Aqui, Cabrera tenta colocar em prática suas teses desenvolvidas anteriormente e demonstrar a importância do caráter filosófico, de fato, nos filmes, no momento em que as problemáticas do cinema se tocam com as da filosofia — não necessariamente confluindo-se.
Por último, o autor destaca, de forma bem-humorada, o problema da tradução de títulos do cinema para a língua portuguesa, dividindo os tipos de tradução e comparando o nível de alteração do original para o traduzido. É importante ressaltar a defesa do autor ante os ataques críticos que recebeu em seu primeiro livro, o que mostra que sua pretensão se dá pela simples exposição de suas concepções, sem “pontos finais”, mas como alternativas somente. Enfim, sem dúvida, apesar das críticas, trata-se de um ótimo livro, que traz questões antigas sob uma nova perspectiva de pensar, com caráter transdisciplinar e contemporâneo.
Referências
CABRERA, J. 2006. O cinema pensa. Rio de Janeiro, Rocco, 399 p.
Leonardo Marques Kussler – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: leonardo.kussler@gmail.com
[DR]
Giorgio Agamben: Poetry, philosophy, criticism / Alberto Pucheu
Ao se debruçar sobre o conjunto da obra de um dos maiores críticos literários da atualidade, o italiano Giorgio Agamben, Alberto Pucheu Neto, nessa monumental obra, esclarece e perscruta as sendas do processo de criação artística entre a relação que envolve a poética e sua imbricada conjunção com a filosofia, sem olvidar de como a crítica no mundo ocidental construiu seu arcabouço a partir da linguagem, do texto como elemento semântico e sintagmático de explicação do mundo, à medida que a razão instrumental ora recorria à poesia, ora se distanciava dela, enquanto mecanismo compungido de expiação do sentimento de descoberta do cosmos.
Essa é uma das razões pelas quais o pensamento filosófico e teórico do século XIX caracterizou-se pela invenção de uma escrita poético-teórica, ou seja, o processo de designação de uma linguagem responsável até pela própria criação dos sentidos, dando conta de uma explicação causal das coisas. Giorgio Agamben denuncia a separação ocidental entre filosofia e poesia. O que no princípio nasceu imbricado com os gregos, aos poucos se deslindava para uma ruptura da qual a poesia cada vez mais ficava resguardada não como mecanismo de elucidação do não revelado, mas como manifestação isolada de seus criadores, os poetas, como se suas conjunções expostas sob forma poética não contivessem em si um processo de exposição, até mesmo da linguagem. Para tanto, a crítica pode ser poesia e a poesia, crítica, segundo Pucheu, porque a suposta dicotomização entre ambas dificulta a compreensão de como a crítica, nasce a partir da poesia, instrumentalizando sua interpretação, assim como a crítica ao desvendar as filigranas da poesia, é, em sua essência, também poesia, estabelecendo intermediação, paralelismo, imbricação.
Para Alberto Pucheu, Giorgio Agamben aposta numa reconciliação de uma “teoria nela mesma literária”, a fim de encontrar a unidade da palavra despedaçada. A aposta reside em (PUCHEU, 2010, p. 20).
Lidar com a filosofia, a literatura e seus entornos interventivos a partir da busca incansável por uma nova modalidade de escrita, que reconcilie o cindido ocidental em um novo destino, é o projeto perseguido por Giorgio Agamben desde a primeira página de abertura de seu primeiro livro, quando assume a herança nietzschiniana de uma anunciada reversão de Kant.
A estética tornou-se um elemento da própria configuração instrumental da reflexão desgastada da própria arte. Propôs-se a ser maior que o ato da criação, de desapego às forças internas da criação para medir a transmissão e valor da obra. Ora, a obra não se resume ao seu resultado impresso, aquilo de que a crítica e a estética tentam dar conta, já que cada vez que se “retira um livro da estante para ler, outro livro, desse mesmo livro, permanece lá, para sempre invisível, para sempre ilegível”, na asserção do escritor egípcio Edmond Jabés, segundo Pucheu (2010, p. 56); afinal, toda obra escrita é apenas um prelúdio de uma obra ausente.
Outro problema colocado pela teoria literária do século XIX é a difícil desvinculação entre poesia e prosa — uma análise acurada da obra de Euclides da Cunha dá conta disso, afinal, as estruturas poéticas comportam diferenças de uma prosa que se proveu de elementos poéticos ao longo da história como estância criadora de sua narração, posto que a prosa contém em si elementos de sonoridade.
A sonoridade existente no processo de hibridização da prosa está contida em estâncias como a Versura do enjambement, ou como diria o próprio autor (PUCHEU, 2010, p. 76): A versura é o momento exato em que ela própria, enquanto disjunção, dá passagem e nascimento à articulação necessária dos versos. Assim, a versura do enjambement, fazendo a palavra retornar à sua origem criadora, manifesta a ideia do verso e, não menos, a ideia de linguagem: confundindo-se com ela, o poema, como um de seus lugares privilegiados, se fende em duas movimentações vazadas, a mostrar as duas forças intrínsecas a ele e a ela.
Ao evidenciar as diferenças entre poesia e história e poesia e cinema, o autor não se propõe a destacar a importância desta primeira em detrimento de qualquer outra forma de linguagem, expressão ou explicação do mundo; ao contrário, os mecanismos de legibilidade de linguagens como a histórica e a cinemática, ao se colocarem por vezes como não poesia, é que perdem sua força inextrincável não de explicação, mas de expiação dos sentidos, ou seja, aquilo que não pode ser explicado nem tudo pode ser explicado – deve ser intuído pelos sentidos, sorvido, consumido, compungido. Desta feita, Pucheu recorre à alusão feita pelo cineasta Abbas Kiarostami, que, afastando cinema de literatura e aproximando-a da poesia, se nega a aceitar um cinema que conte tudo, que explique didaticamente o sentido das coisas, que conte histórias. Para Abbas, a incompreensão faz parte da essência da poesia. O cinema deveria fazer a mesma coisa.
E quanto à história? Essa, por seu turno, no afã e desiderato de “explicar” tudo, ao ter se abastado da poesia e da literatura no século XIX, perdeu a sua força criadora, sua capacidade de imbricar-se nos mecanismos da existência humana pela dinamicidade da vida, por aquilo que, ainda que não realizado no plano do real vivido, nem por isso deixou de existir, tal como o livro que, tirado da prateleira, continuou a existir como preâmbulo de outro livro ainda não escrito. A história também se faz daquilo que se sentiu, daquele que se desejou, mesmo não efetivado no plano das relações objetivas.
Por essa razão é que Pucheu, no seu último e quarto ensaio, mostra as intrínsecas relações entre poesia e filosofia, mostrando como poetar e filosofar está carregado de sentidos e de uma captura da ou das existências. Para o autor, segundo o italiano Giorgio Agamben, “na busca de acesso a uma autêntica compreensão do problema da significação, o que está em jogo é a reflexão ocidental sobre o significar ou a linguagem. Entender esta questão é entender a necessidade de filosofar” (PUCHEU, 2010, p. 119).
Não à toa o autor culmina sua obra citando Hegel na sua explanação sobre o enigma na arte egípcia os diferentes níveis do simbolismo na arte, a superação das artes por outras artes, e o esforço de Édipo em decifrar o enigma da esfinge, ou seja, libertar a Grécia do que “ainda possuía de egípcio”, ou, “a vitória do humano sobre a naturalidade da animalidade presente na figura da Esfinge”, pletora vontade potente do herói civilizador moderno.
Giorgio Agamben e Alberto Pucheu Neto são interseccionais. O pensamento dos dois se funde nessa obra reveladora de como a trajetória de um pensamento instrumental ocidental pode levar a existência humana a um aprisionamento de um tipo de linguagem. Ser interseccional é romper com a atomização dos sentidos, com o encaixotar das formas de expressão, é perceber o mundo através das suas múltiplas formas sem encerrá-las em seus sentidos estanques, é enxergar o que de filosofia existe na poesia e o que de poesia contém a substância filosófica, é retornar para casa, para quando homens e mulheres se preocupavam em existir desvelando os mistérios, e não meramente afirmar que até os mistérios são criações da linguagem, como se antes da linguagem existisse o nada.
A poesia e a filosofia não são turistas, são viajantes. O turista quer chegar ao seu destino de qualquer forma, ele quer chegar. O viajante está preocupado com o caminhar, com o processo. Ele se descobre no percurso.
José Henrique de Paula Borralho – Universidade Estadual do Maranhão – EMA São Luís, Maranhão – Brasil. E-mail: jh_depaula@yahoo.com.br.
PUCHEU, Alberto. Giorgio Agamben: Poetry, philosophy, criticism. Rio de Najeiro: Beco do Azougue, 2010. 168, p. Resenha de: BORRALHO, José Henrique de Paula. Outros Tempos, São Luís, v.8, n.11, p.341-344, 2011. Acessar publicação original. [IF].
Trilhas da História | UFMS | 2011
Trilhas da História (Três Lagoas, 2011-) foi pensada e elaborada com o objetivo de promover o debate acadêmico, tendo o propósito de enriquecer as pesquisas em andamento, tal como agregar produções de outros lugares, instituições e sujeitos.
Com esse objetivo, esperamos alcançar, além de professores da universidade e da rede pública e privada de ensino, alunos graduandos de nosso curso [de História – Três Lagoas/MS] e de outras universidades, tendo por intuito incentivar novas pesquisas e a busca por conhecimentos produzidos pela História e áreas afins.
Se a proposta é interdisciplinar, disciplinas como a Filosofia, Geografia, Ciências Sociais, Antropologia, Arqueologia, entre outras, encontrarão espaço para veicular as suas produções, desde que concernentes aos temas sugeridos pela Revista. A Revista se constitui de Dossiês; Artigos livres; Ensaios de Graduação; Resenhas e Fontes.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2238 1651
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Deleuze, a arte e a filosofia – MACHADO
MACHADO, R. Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2009. Resenha de: AMARANTE, Ana Helena. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.11, n.3, p.351-352, set./dez., 2010.
O livro de Roberto Machado aborda, a partir de distintas dimensões da obra deleuziana, aquilo que, conforme o autor, é a grande singularidade deste pensamento – a diferença em detrimento da identidade.
Ele mostra como este é o fio que conduz esta filosofia, perseguindo em seu estudo a heterogeneidade própria deste pensamento em seus encontros com a arte, com a ciência, com a própria filosofia. Em seu livro, Machado persegue essa heterogeneidade, pois acredita que explicitá-la é evocar a própria questão que Deleuze não cessa de fazer acerca do “que é pensar”, retirando a filosofia do seu habitual papel de reflexão sobre outros domínios, sejam eles a história da filosofia, a literatura, o cinema, a ciência; para pensar com eles e não mais sobre eles.
Deleuze crê na filosofia como aliança e não como um pensamento reflexivo, o que Machado explora no desenvolvimento de seu trabalho, mostrando a maneira como estas alianças vão sendo constituídas, os encontros de Deleuze com outras filosofias e o modo como elas vão sendo utilizadas, seus conceitos modificados ao receberem outros elementos, outros contextos. Em relação à arte não é diferente, e a prioridade está nas ressonâncias entre cada domínio e não em uma suposta prioridade de um sobre o outro.
Mas Machado observa que, embora Deleuze conceda à exterioridade da filosofia uma importância evidente, o seu exercício é filosófico, já que o pensamento, quando exposto às forças que o fazem pensar, cria conceitos, e esta é, conforme o próprio Deleuze, a especificidade filosófica. A arte e a ciência não precisam da filosofia para o exercício do pensamento; fazem-no a partir de suas especificidades, criando sensações e funções, respectivamente. Mas a criação de conceitos é a prioridade filosófica, o que Machado destaca na obra deleuziana, afirmando que as questões dessa filosofia vêm prioritariamente da tradição filosófica e se colocaram a partir da filosofia e chegando mesmo a afirmar que Deleuze “é um historiador da filosofia que ousou pensar filosoficamente” (Machado, 2009, p.19).
Mas, simultaneamente, Machado quer mostrar o quanto o título de “historiador da filosofia” não cabe a Deleuze, já que sua obra jamais consiste em buscar uma identidade na leitura que faz dos filósofos, mas afirmar sua diferença. Esta operação Machado examina detalhadamente nas leituras deleuzianas de Foucault e Nietzsche, ressaltando as torções, os deslocamentos ou interferências que essa leitura instaura, destacando o processo de colagem de Deleuze.
Esse processo, já trabalhado em Deleuze e a filosofia, obra de Machado de 1990, agora é ampliado, já que inclui a filosofia de Deleuze ao encontro da arte e literatura (Machado, 2009, cf. capítulos 6, 7 e 8). É o próprio Deleuze que nomeia dessa maneira o procedimento de, sobre a história da filosofia, produzir as torções necessárias para que os conceitos respondam a outros problemas; para tanto é necessário que recebam outros elementos, sendo remanejados para outros contextos.
O autor estabelece uma analogia com as técnicas da colagem na pintura, onde a obra é o encontro com materiais distintos numa mesma tela, e refere-se também ao movimento dadaísta.
Machado quer tornar evidente essa operação de colagem na obra de Deleuze, objetivo que parece mesmo conduzi-lo na leitura dessa filosofia, pois privilegia as íntimas relações entre a colagem deleuziana e a instauração da diferença em detrimento da identidade. Isto porque esse encontro de “materiais diversos numa mesma tela” não faz referência a nenhuma identidade ou totalidade, mas busca justamente as diferenças entre os elementos, as diferenças de diferenças, sem nenhuma sujeição a uma suposta identidade.
Daí a geografia do pensamento e não uma história, característica que Machado desenvolve desde a introdução do seu livro. Deleuze quer a constituição de espaços onde seja possível colocar distintos pensadores em ressonância, sem nenhuma obediência a uma história progressiva e linear do pensamento. Nesse espaço o privilégio é dado ao pensamento sem imagem, isto é, o pensamento que não sabe de antemão o que pensa, sem pressupostos, o “espaço da diferença”.
Machado, ao tornar evidente a singularidade da filosofia de Deleuze, persegue o que em cada encontro, com pensadores da filosofia ou não, faz vibrar essa singularidade. Isto é, ele quer apanhar o próprio exercício deleuziano ao encontro de seus intercessores, observando também como esses encontros constituem a construção da filosofia de Deleuze.
Nesses encontros, Machado ressalta a importância de Nietzsche como inspiração fundamental na construção de uma filosofia da diferença, e parece-nos igualmente ser o momento em que Machado apresenta as suas leituras de um modo mais ousado, arriscando-se a uma colagem própria com os conceitos de vontade de potência e eterno retorno, diferença e repetição.
Poderíamos dizer que, ao mesmo tempo em que Machado percebe a inspiração nietzscheana de Deleuze, é também contagiado por ela, já que procura, em certa medida, a vontade que anima a filosofia deleuziana. E esta certamente é a singularidade de seu estudo.
Referências
MACHADO, R. 1990. Deleuze e a Filosofia. Rio de Janeiro, Graal, 242 p.
Ana Helena Amarante – Centro Universitário Metodista IPA. Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: ahelena21@yahoo.com.br
[DR]
Deleuze, a arte e a filosofia – MACHADO (AF)
MACHADO, Roberto. Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. Resenha de: PACHECO, Fernando Tôrres. Artefilosofia, Ouro Preto, n.8, abr., 2010.
Lançado no segundo semestre de 2009, Deleuze, a arte e a filosofia consiste em uma revisão ampliada do livro Deleuze e a filosofia (Graal, 1990). No mais recente, Roberto Machado procura explicitar os ca- minhos percorridos pelo filósofo Gilles Deleuze no seu esforço para afirmar o pensamento da diferença contra o pensamento representativo. Para tanto, fez-se necessário demonstrar como essa afirmação perpassa por agenciamentos com interlocutores tanto da própria filosofia quanto de outras maneiras de pensar, como as artes. Deleuze, ao travar acordos e distanciamentos com esses interlocutores, revolve seus conceitos e/ou sensações buscando elevar as suas relações em prol do exercício construtivista característico de seu pensamento. A via proposta pelo autor centra-se principalmente sobre as leituras das obras da década de 60 – em especial Diferença e Repetição – partindo para Foucault e terminando sua análise nos livros e escritos sobre literatura, pintura e cinema. Roberto Machado investiga como o tema da diferença é suscitado tomando como ponto de partida o texto “Platão e o simulacro”, em que Deleuze discorre sobre o método de divisão platônico. Tal texto pretende demonstrar como Platão privilegia a representação em detrimento da diferença ao adotar um método de divisão na sua teoria das idéias, em que há uma eliminação sistemática das cópias que não possuem os seus respectivos correspondentes no mundo ide- al. Dessa maneira, Platão elimina da perspectiva filosófica o simulacro, prevalecendo somente as cópias que mantêm correlação intrínseca com a idéia originária. Contra essa perspectiva excludente das diferenças e contra o ponto de vista ascensional platônico, Deleuze alia- se à perspectiva nietzscheana, esta que se posiciona de maneira cética ao pensamento identitário e universalista. Deleuze revisita o filósofo alemão e adota as noções de eterno retorno e vontade de potência como orientações do pensamento que, em relação, são capazes de afirmar a diferença sem subordiná-la à identidade. O ponto determinante do livro está na leitura deleuziana de Kant, em que podemos perceber que a relação do filósofo francês com o criador da filosofia crítica não se configura por tanta animosidade como é comum ser dito. Dentre as inovações conceituais kantianas, Deleuze aponta como fator positivo a inserção da forma do tempo no cogito, gerando uma cisão no sujeito, o je transcendental e o moi empírico. Deleuze é instigado pela caracterização temporal atribuída por Kant em sua filosofia, a qual possibilita a forma diferencial cingida do sujeito, ainda que este mesmo sujeito seja reconciliado posteriormente pela identidade sintética e pela moralidade da razão prática. Em contrapartida, o filósofo francês vai questionar o acordo das faculdades kantianas inserindo a idéia de “gênese” no senso comum. Para Deleuze, Kant não abre mão da noção do comum acordo entre as faculdades, que configuraria um dos postulados da filosofia da representação. Ao contrário, Kant multiplicaria tal noção. Dessa maneira, o filósofo francês demonstrará que existe um “acordo discordante” entre as faculdades encontradas na Crítica do Juízo, em que “no caso do sublime, o desacordo entre imaginação e a razão é o princípio genético do acordo das faculdades”. Ao contrário da idéia da filosofia da representação em que as faculdades convergem para a recognição do objeto, Deleuze propõe três faculdades (sensibilidade, memória e pensamento) autônomas: a cada uma delas um objeto próprio é apresentado, “só apreende o que a concerne exclusivamente, diferencialmente”.
A intensidade é aquilo que força a ser sentido, é a razão suficiente do fenômeno, dá o limite daquilo que é sentido. O objeto da memória (memória transcendental) é a forma pura do tempo, a coisa esquecida, o ser em si do passado que força a lembrança. Já o pensamento opera sobre um impensável que força o pensamento a pensar. Assim, Deleuze aponta que a relação entre as faculdades é do tipo de uma violência discordante que força o pensamento e que as idéias são uma multiplicidade. O capítulo sobre Foucault é apresentado pelo autor como referência a uma continuidade temática de Deleuze em relação aos escritos da década de 60, o que o faz afirmar não haver uma ruptura a partir do “Anti-Édipo”. Nesse capítulo, ao demonstrar o procedi- mento deleuziano de repetir o pensamento de outrem com o intuito de criar torções, o autor adota também a perspectiva de colagem, contrapondo a própria leitura à de Deleuze e demonstrando o funcionamento de conceitos como poder e saber segundo a perspectiva de cada um. Na parte do livro reservada ao pensamento deleuziano em conexão com interlocutores não-filosóficos, Roberto Machado demonstrará como o filósofo francês capta potências de conceitos oriundos de sensações literárias, pictóricas e cinematográficas. Com Proust, Deleuze irá demonstrar o papel da boa interpretação como forma de alcançar a essência: perfeita unidade entre signo e sentido. Continuando entre os literatos, o filósofo demonstrará a importância da linguagem e do estilo e apontará para o papel da sintaxe como constructo da diferença. Para Deleuze, a sintaxe estabelece o que ele chamará de uma “língua estrangeira” dentro da própria língua, o desvario da língua materna. Alguns autores como Melville conseguem, através do uso sintático da linguagem, proporcionar uma desterritorialização da língua, produzindo um devir-outro da língua que fuja dos padrões gramaticais, do establishment canonizado. Esse procedimento de criação de uma nova linguagem procura estabelecer uma conexão com o de-fora “(…) que consiste em visões e audições capazes de revelar o que há de vida nas coisas ao capturar as forças e a intensidade”. Com Francis Bacon, Deleuze demonstrará como o pintor, ao adotar procedimentos de desfiguração e isolamento da Figura, se caracteriza como sendo o artista a expressar as forças, a prevalência das forças sobre as formas.
Para introduzir “Imagem-movimento” (cinema clássico), Machado demonstra a distinção feita por Deleuze entre movimento reproduzido e movimento apresentado para localizar a leitura de Bergson sobre o cinema e, ao invés de situá-lo como algoz da sétima arte, insere sua filosofia mais ainda no audiovisual. “Imagem-tempo” (cinema moderno) caracteriza-se para Roberto Machado como o livro de cinema em que Deleuze pôde estabelecer a sua filosofia da diferença. Com o advento do neo-realismo, o filósofo francês enxerga a tomada do pensamento pelo cinema: ele sai do cinema de ação e passa a ser um cinema visionário, “um exercício transcendental da faculdade de sentir que suspende o reconhecimento sensório-motor da coisa, ou a percepção de clichês, como é a percepção comum, proporcionando um conhecimento e uma ação revolucionários” (p.273).
Deleuze, a arte e a filosofia reforça a hipótese do autor de que a filosofia de Deleuze é uma filosofia sistemática, mas uma sistematização que se dá por articulações e agenciamentos de multiplicidades conceituais. Como bem lembrou Machado ao comparar a filosofia deleuziana ao “Samba de uma nota só” de Tom Jobim: “outras notas vão entrar, mas a base é uma só.”
Fernando Tôrres Pacheco-Mestrando em Estética e Filosofia da Arte/ IFAC/ UFOP.
A transformação da filosofia em Jürgen Habermas: os papéis de reconstrução, interpretação e crítica – REPA (C-FA)
REPA, Luiz. A transformação da filosofia em Jürgen Habermas: os papéis de reconstrução, interpretação e crítica. São Paulo: Singular/Esfera Pública, 2008. Resenha de: MATTOS, Fernando Costa. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.15 Jan./Jun., 2010
A transformação da filosofia em Jürgen Habermas, de Luiz Repa, é um livro que anuncia no título o seu escopo mais geral: analisar as transformações por que passa, ao longo da obra de Habermas, a compreensão que este tem da filosofia. E o subtítulo, por seu turno – os papéis de reconstrução, interpretação e crítica –, indica desde logo as principais balizas desse caminho de transformação: essas três noções-chave, que se vão incorporando gradativamente ao conceito habermasiano, permitirão compreender o lugar da filosofia em seu pensamento, até pelo menos o final da década de 1990.
Com isso, Repa poderá chamar a atenção do leitor – e este é talvez um dos grandes méritos de seu livro – para a centralidade que a filosofia assume na obra do filósofo Habermas, tornando a princípio insustentáveis as acusações segundo as quais o “sociólogo” Habermas reduziria a filosofia a um mero apêndice das ciências sociais.1
Não há de ser fortuito, por sinal, que Luiz Repa inicie seu livro com uma citação d’ O discurso filosófico da modernidade em que Habermas se reporta à oposição kantiana entre os conceitos acadêmico e mundano de filosofia 2 : é um ótimo ponto de partida para quem quer explicar a posição filosófica habermasiana em termos propriamente filosóficos, extraídos daquele que seria, embora sem ter a consciência disso (segundo Habermas), o inaugurador do discurso filosófico da modernidade. A noção de “diagnóstico de época”, por exemplo, desde o princípio tão cara à teoria crítica, se deixaria explicar em associação com tal conceito mundano de filosofia, estando já em Kant, pois, a percepção da necessidade, colocada para todo filósofo autenticamente moderno (ou contemporâneo), de “filosofar” com os olhos voltados ao “mundo”, i.e. à sociedade humana em sua inscrição espácio-temporal. De outro lado, o conceito acadêmico de filosofia seguiria denotando a filosofia enquanto especialidade universitária, a qual pendeu cada vez mais, com o passar do tempo, a um estudo da história da filosofia que, embora rigoroso, tenderia a mostrar-se descompassado em relação ao momento presente.3
Essa menção inicial a Kant não tem por objetivo, evidentemente, o perfilamento de Habermas no pelotão dos filósofos modernos e contemporâneos, como se ele fosse apenas mais um sistema de pensamento. O que o impede de cair nessa armadilha é a outra filiação decisiva, mencionada por Luiz Repa na sequência: a tradição hegelo-marxista de crítica da ideologia, segundo a qual o papel da filosofia é essencialmente crítico, negativo, e não positivo.4 É certo que ela se pauta por um “interesse emancipatório” que já nos anos 1960 Habermas opunha aos interesses técnico (próprio das ciências da natureza) e prático (próprio das assim chamadas ciências do espírito), 5 mas esse, digamos, princípio regulativo só se deixa realizar na medida em que a filosofia se constitua por oposição aos discursos positivos que bloqueiam a possibilidade da emancipação.
Ao fazê-lo, porém – e aqui se mostra aquele que é, talvez, o grande paradoxo de toda filosofia após Hegel –, a filosofia não pode (como pareceu querer Adorno) ficar na mera negatividade: ela tem de construir, ou na verdade reconstruir, os padrões normativos racionais que, na realidade efetiva das transformações sociais, apresentaram-se associados à luta pela emancipação. Não é ao filósofo, nesse sentido, que cabe ditar, positiva e soberanamente (tal como faziam os filósofos clássicos), qual o caminho a seguir; é a própria sociedade quem deve indicá-lo, a partir de conflitos concretos em que os aspectos comunicativos da racionalidade buscam afirmar-se contra os meramente instrumentais.
Assim, a nova função do filósofo está ligada à capacidade de identificar, nessa reconstrução que faz da sociedade moderna, tanto os potenciais emancipatórios como os obstáculos que se apresentem à sua realização. Para identificá-los, contudo, ele necessita do instrumental teórico oferecido pelas ciências que, por meio de pesquisas empíricas, permitem tornar muito mais preciso aquele “olhar para o mundo” de que já o velho Kant nos falava e que, na tradução contemporânea, passou a denominar-se com frequência um “diagnóstico de época”. É por este viés, com efeito, que Luiz Repa nos permite compreender, com razoável clareza, a nada simples relação entre filosofia e ciência no pensamento habermasiano: o tal trabalho reconstrutivo que é agora exigido do filósofo passa tanto (1) pela identificação dos pressupostos normativos que, sob a forma de pretensões universalistas, constituem a base das lutas concretas pela emancipação (“reconstrução horizontal”) como (2) pela demonstração de como esses mesmos pressupostos puderam constituir-se sob condições empíricas (“reconstrução vertical”).
Nas palavras do próprio autor,
com a idéia de uma divisão de trabalho ‘não exclusivista’ entre filosofia e ciência, as reconstruções vertical e horizontal se implicam, de modo que, para a filosofia, resulta a possibilidade de se apoiar em estudos empíricos para o estabelecimento de suas pretensões de validade. Ou seja, articula-se uma concepção falibilista para as reconstruções filosóficas, a qual é contraposta a toda ideia de fundamentação última.6
De certo modo, estão dados aí os dois aspectos mais gerais do desafio teórico colocado para Habermas e, por extensão, para Luiz Repa na reconstrução do percurso trilhado pelo filósofo: a possibilidade de um apoio na empiria e o distanciamento das fundamentações últimas. São essas duas exigências, com efeito, que pautam tanto o diálogo de Habermas com seus críticos como as transformações conceituais com que ele responde a essas críticas: deixando de lado uma compreensão da filosofia como crítica da ideologia e da ciência – vista então como ideológica, na esteira da tradição marxista frankfurtiana 7 –, Habermas se verá forçado a ampliar a sua concepção de racionalidade, nos anos 1970, para dar conta dos potenciais emancipatórios que, segundo permitiam notar as ciências sociais de base empírica, estariam contidos no interior da própria evolução do sistema capitalista, da ciência e da técnica 8 – uma carência de seu pensamento para que críticos como Bubner haviam apontado.9 Em seguida, a presença de elementos ainda muito fortes, do ponto de vista da fundamentação filosófica, no interior da compreensão nascente de uma racionalidade – elementos como a “comunidade ideal de fala”, duramente criticada por Wellmer –, acabaria por conduzir Habermas a mitigar ao máximo os “elementos horizontais” de sua filosofia, falando de um “transcendental fraco” para contrapor-se a Karl-Otto Apel.10 E a sensível dificuldade de efetivar tal mitigação, por seu turno, acabaria por levá-lo a sofisticar ao máximo aquela relação entre as reconstruções horizontal e vertical dos pressupostos normativos da linguagem – linguagem cujo protagonismo, em função da influência da filosofia analítica, iria acentuar-se cada vez mais.
É na reconstituição desses deslocamentos habermasianos, assim, que Luiz Repa constrói o seu próprio percurso, alinhando os capítulos do livro aos sucessivos períodos e temas por que passou a compreensão habermasiana da filosofia e de sua relação com a ciência.11 Da “filosofia como crítica da ciência” (capítulo 1) à “filosofia como interpretação mediadora” (capítulo 4), passando por “um conceito complexo de racionalidade” (capítulo 2) e pela “filosofia como ciência reconstrutiva” (capítulo 3), somos levados a acompanhar e, em razoável medida, a compreender tanto as referidas transformações como a permanência de certos ideais metodológicos e o gradativo estabelecimento – basicamente, dos anos 1960 aos 80 – de uma posição a eles mais conforme: deixando para trás toda pretensão veritativa de um discurso filosófico positivo, quiçá capaz de fundamentar os pressupostos teóricos extraídos da linguagem por meio da reconstrução vertical, Habermas passaria a enfatizar o caráter falibilista de seu próprio discurso reconstrutivo, o qual buscaria equilibrar-se sempre entre os pontos de vista descritivo e normativo com vistas à elaboração de uma compreensão efetivamente crítica das sociedades modernas, pluralistas e pósindustriais.12
De certo modo, é essa a resposta tardia de Habermas à grande dificuldade da filosofia desde meados do século XIX (“somos contemporâneos dos jovens hegelianos”, diz ele na resposta a Henrich 13 ): entre o dogmatismo subjetivista com que ainda Kant, segundo ele, pretenderia acessar se não o mundo, pelo menos as estruturas últimas do sujeito transcendental, e o relativismo antirracionalista que sobretudo a partir de Nietzsche identificaria toda racionalidade à dominação, o transcendentalismo falibilista de sua filosofia reconstrutiva, maximamente ancorado nos movimentos sociais, de um lado (as tendências emancipatórias inscritas na própria efetividade), e nas pesquisas empíricas, de outro (as contribuições decisivas das ciências sociais ao novo discurso filosófico), permitiria resolver em nova chave o velho desafio kantiano de sair do dogmatismo sem cair no ceticismo (absoluto). Afinal, seria possível falar em pressupostos normativos sem conservar os fardos metafísicos da filosofia da subjetividade, e sem ceder inteiramente o terreno aos positivistas dogmáticos que, desconfiados de todo e qualquer pressuposto não verificável, enterrariam de vez as esperanças da filosofia.14
A saída é engenhosa, e o livro de Luiz Repa, bastante persuasivo. Não obstante, há questões que parecem teimar em persistir. Que o seu falibilismo, por exemplo, guarde estreito parentesco com a solução dada por Kant às idéias da razão e ao juízo reflexionante, é algo que o próprio Habermas não hesitaria em admitir. Ora! A depender da leitura que fizermos de Kant, contudo – enfatizando os elementos regulativos em detrimento dos constitutivos –, pode ser que a diferença se torne tão pequena que sejamos levados a questionar o alcance dessa aparente revolução copernicana a que Habermas, inspirado no modelo kuhniano de história da ciência, dá o pomposo nome de uma “mudança de paradigma”.15
É também discutível, nesse mesmo sentido, se a nova metafísica pretendida por Kant – e que, como se sabe, está longe de resumir-se à analítica transcendental – encaixa-se no conceito de metafísica que Habermas acredita ter sido ultrapassado no “pensamento pós-metafísico”.16 Se tivermos em vista as reflexões de Kant nos Prolegômenos, por exemplo, em que ele se põe a considerar o que será da metafísica no futuro, salta aos olhos o caráter meramente problemático e hipotético – leia-se falibilista – de uma série das ideias que serão centrais a esse novo saber. Note-se que também aqui não se trata de questionar a engenhosidade da solução habermasiana, mas apenas o seu grau de novidade e transformação paradigmática: a depender de como interpretemos o conceito de metafísica no cenário pós-kantiano, o que Habermas faz é radicalizar a problematicidade que desde o princípio marca esse conceito.17
Isso, de qualquer modo, se estiver correto o peso dado por Luiz Repa à filosofia, por meio dos conceitos de reconstrução, interpretação e crítica, no interior do pensamento de Habermas.
Pois caso se reduzisse esse peso, como querem alguns, haveria o risco nada pequeno, apontado também por Dieter Henrich, de a filosofia ver-se engolida pelas ciências sociais empíricas e contaminada pelo positivismo destas últimas. Mas neste ponto parece acertada a insistência de Repa em assinalar a “dependência recíproca” em que Habermas enxerga as relações entre a filosofia e as ciências:
Quanto mais houver uma cooperação feliz entre ciência e filosofia, tanto mais poderemos, na esfera do discurso teórico, ter razões para aceitar – ainda que por enquanto – propostas teóricas fortemente universalistas. O que surge não é, entretanto, uma dependência da filosofia em relação à ciência, mas uma “dependência recíproca”, uma vez que as ciências reconstrutivas de tipo experimental (…) precisam, por sua vez, das abordagens reconstrutivas filosóficas como uma espécie de medida de processos evolutivos.18
Resta saber, naturalmente, se de fato funcionam assim, em regime de “cooperação feliz”, as relações entre as ciências e a sua “ex-mãe”. Antes disso, porém, é preciso entender melhor o modo como o próprio Habermas as enxerga. E o livro de Luiz Repa, quanto a isso, nos indica certamente um bom caminho.
Notas
1.Entre tais acusações, valeria destacar aquela que é feita por Dieter Henrich no artigo “O que é metafísica? O que é modernidade? Doze teses contra Jürgen Habermas”. in: Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n. 14, p 83-117, jul.-dez,.2009.
- REPA, L. A transformação da filosofia em Jürgen Habermas: os papéis de reconstrução, interpretação e crítica. São Paulo: Singular/Esfera Pública, 2008, p. 13.
3 Idem, ibidem.
4 Idem, p. 15.
5 Idem, p. 14.
6.Idem, p. 17.
- Idem, pp. 76 e ss.
- Idem, pp. 85 e ss.
- Idem, p. 71 (nota 151).
10.Idem, p. 166 e ss.
11 Cf. idem, p. 229.
12 Idem, p. 175.
13 HABERMAS, J. “Retorno à metafísica – uma recensão”. In: _____. Pensamento pós-metafísico. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002 (2ª.ed.), p. 269.
14 REPA, L.A transformação da filosofia em Jürgen Habermas: os papéis de reconstrução, interpretação e crítica, p. 217 e ss.
- É o que faz Dieter Henrich em “O que é metafísica? O que é modernidade”?”. Henrich, D. “O que é metafísica? O que é modernidade?”. In: Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n. 14, p. 101-3.
- Cf. HABERMAS, J.Pensamento pós-metafísico, p. 14-5.
- Cf. =ies, C. Der Sinn der Sinnfrage. Metaphysische Reflexionen auf kantianischer Grundlage. Munique: Alber, 2008, pp. 58-65.
- REPA, L. A transformação da filosofia em Jürgen Habermas: os papéis de reconstrução, interpretação e crítica, p. 177
Fernando Costa Mattos – Doutor em filosofia pela USP, desenvolve atualmente pesquisa de pós-doutorado, com bolsa da FAPESP, junto ao Núcleo Direito e Democracia do CEBRAP.
Platão – BENSON (Ph)
BENSON, Hugh H. (ED.) Et al. Platão. Tradução de Marco Zingano. Porto Alegre: Artmed, 2011 1. Resenha de: BORGES Anderson de Paula. Philósophos, Goiânia, v.15, n. 1, p.197-202, jan./jun, 2010.
O público brasileiro, interessado no estudo de Platão, que queira consultar uma introdução de primeira linha conta com mais um título no mercado nacional. O professor Marco Zingano (e a editora Artmed) nos prestou um ótimo serviço ao traduzir o volume dedicado a Platão, o (37°) da coleção Blackwell Companions to Philosophy. O livro foi lançado em 2006 sob o título A Companion to Plato, com edição de Hugh H. Benson. Trata-se de um guia atualizado e abrangente na abordagem dos problemas investigados pelos estudiosos do platonismo. O roteiro de temas e o método de análise empregado vêm sendo firmados há cerca de 60 anos por meio de uma produção intensa de livros e artigos no cenário da ancient philosophy. O guia de Benson sintetiza esse trabalho em 29 ensaios inéditos produzidos por 30 especialistas em filosofia antiga.
Antes de comentar o conteúdo de alguns capítulos, quero enfatizar a linha editorial adotada. O volume se dis-tingue de outros guias similares como o The Oxford Handbook of Platonism, editado por Gail Fine em 2008 e o The Cambridge Companion to Plato, editado por Richard Kraut em 1992. O guia de Fine apresenta seus artigos em dois níveis que se complementam: uma parte dos capítulos explora tópicos filosóficos na economia interna do plato-nismo e outra parte examina a estrutura de alguns diálogos. O volume da coleção Cambridge Companions, por seu lado, traz artigos sobre temas específicos, num projeto que privi-legia a abordagem do autor do ensaio. O resultado é útil pela qualidade do time de ensaístas, mas certas lacunas fica-ram evidentes. Sente-se a necessidade de um tratamento mais profundo da epistemologia do Fédon, da República e do Teeteto. Falta também um conjunto de ensaios sobre alguns diálogos centrais. No projeto de Benson, por outro lado, optou-se por dar a cada colaborador um formato exíguo nos capítulos, permitindo explorar um domínio bem mais ex-tenso. Quem desejar garimpar os tópicos nos diálogos terá muitas opções no índice remissivo. No prefácio Benson a-nuncia seu critério editorial: selecionar os temas por sua relevância “filosófica em oposição à relevância histórica” (p. X).
Um aspecto menos virtuoso do conjunto é a opção por especialistas do circuito anglo-saxão. Com exceção das edi-ções críticas consultadas e de alguns títulos de alemães e franceses nas indicações de literatura secundária, o corpo dos ensaios pode induzir o leitor a pensar que a pesquisa de ponta no platonismo está toda concentrada nos Estados Unidos e na Inglaterra, o que é enganador. Itália, França e Alemanha possuem expoentes na atual indústria do comentário em filosofia antiga. Mais recentemente, alguns países da América do Sul, entre eles o Brasil, estão se destacando pela qualidade de seus pesquisadores na área. É interessante comparar com a edição, um pouco mais “democrática” no convite aos scholars, de Sara Ahbel-Rappe e Rachana Kam-tekar no A Companion to Socrates, também da coleção Blackwell Companions.
A seguir vou enfatizar alguns recursos e argumentos dos primeiros ensaios, sem pretender, obviamente, uma análise mais profunda. Minha intenção é temperar o interesse do leitor e induzi-lo à leitura, destes que destaco, bem como dos que não poderei mencionar devido aos limites dessa re-senha.
Após um breve prefácio no qual o editor explica sua es-tratégia na concepção do livro, três ensaios abrem o volume: “A vida de Platão de Atenas”, de D. Nails, “Inter-pretando Platão”, de C. Rowe e “O problema socrático”, de W. Prior. Nails sintetiza com habilidade traços da biografia de Platão, como a ambientação aristocrática, os irmãos, a vida política e os acontecimentos históricos que marcaram Atenas na primeira parte da vida do filósofo. Destaca-se a opção por atrelar tais aspectos a algumas obras, como Euti-demo e Carta VII, certamente uma estratégia segura para dar consistência ao cruzamento entre os acontecimentos da vi-da de Platão e a rica ambientação dramática que caracteriza sua produção filosófica. Rowe, com sua prosa sempre de al-to nível, reúne em poucas linhas a defesa de um socratismo que permearia toda a obra de Platão. Ele firma aí uma posi-ção moderada, se a comparamos com o extremismo das tendências desenvolvimentista e unitária. Já o ensaio de Prior pode parecer deslocado no lugar onde está, a apresen-tação do livro, mas não é um deslize. Como argumentou Rowe no capítulo anterior, tendemos a ver isso como um efeito do fato de que a obra platônica, em linhas gerais, não se afasta do programa filosófico socrático, nem mesmo na chamada fase “madura”.
Depois dessa abertura, o livro se divide em seis partes apresentando oito tópicos do platonismo: método, epistemo-logia, metafísica, psicologia, ética, política, estética e legado. O método e a forma do diálogo são tratados pelos ensaios “A forma e os diálogos platônicos”, de M. M. McCabe, “O E-lenchus Socrático”, de C. Yang, “Definições platônicas e formas”, de R. M. Dancy e “o método da dialética platôni-ca”, do editor. McCabe examina o gênero adotado pelo filósofo e identifica fases de maior e menor presença da forma “diálogo”. Ela especula que Platão pode ter sido ins-pirado pela própria evolução da prosa grega que, apesar de ter culminado num material de tipo argumentativo, não se desvencilhou do apreço dos gregos pelo teatro. A proposta da autora é problematizar esse quadro com a complexa tra-ma dos diálogos. Enquanto “encartados” no quadro, os diálogos não se permitem uma interpretação simplista nos moldes da que os vê, fundamentalmente, como reprodução de um método, proposto por Sócrates, de fazer filosofia.
O ensaio de Charles Young examina o elenchus. É um capítulo com duas qualidades muito úteis: explicita com fô-lego as principais passagens onde o elenchus está em ação no corpus e avalia criticamente a clássica tese de Vlastos sobre os dois tipos de elenchus. Já o artigo de Dancy persegue a i-deia de “definição” em textos como Carmides, Eutifron, Hípias Maior, Laques, Lísis, Protágoras e República I. Seu estilo é árido. O uso de acrônimos, recurso que Jonathan Barnes chamou de “SSPCU style” (in: Philosophy and Phenomenological Research, vol. 56, 1996, p. 489-491) e de símbolos da ló-gica moderna obrigam o leitor não-especialista a retomar certos parágrafos no curso da leitura. Esse detalhe não ate-nua a relevância do objetivo do autor: trata-se de identificar certos procedimentos típicos nas passagens sobre “o que é x” e retirar destes lugares as condições necessárias e sufici-entes do tipo de definição ideal que os diálogos buscam. No detalhe, porém, Dancy defende interpretações que precisam de mais argumentação (cf. a p. 84 ele está consciente disso) como, por exemplo, sua tese de que a terceira condição de uma boa definição, que ele nomeia “Requerimento de Ex-plicação”, envolve alguma conexão causal entre a definição e suas instâncias. Não está claro de modo algum no texto de Dancy que tipo de causalidade é essa.
A dialética é examinada por Benson, fechando o pri-meiro bloco. O autor apresenta soluções para resolver os impasses sobre a conexão entre o método dos primeiros di-álogos e o dos diálogos médios. Destaca-se o esforço para explicar a continuidade entre “metodologias” de hipóteses presentes em Mênon, Fédon e República.
A segunda parte aborda a epistemologia platônica. G. Matthews assina “a ignorância socrática”, C. Kahn “Platão e a Reminiscência”, D. Modrak “Platão: uma teoria da per-cepção ou um aceno à sensação?” e M. Ferejohn “O conhecimento e as formas em Platão”. Na terceira parte, dedicada à metafísica, T. Penner escreve sobre “As formas e as ciências em Sócrates e Platão”, M. L. Gill propõe “Pro-blemas para as formas”, C. Freeland “o papel da cosmologia na filosofia de Platão, D. Sedley “Platão e a Linguagem”, M. White “Platão e a matemática” e M. McPherran “a religião platônica”.
A psicologia de Platão, na quarta parte, traz os ensaios “os paradoxos socráticos” (Brickhouse e Smith), “A alma platônica” (F. Miller jr.), “Eros e amizade em Platão” (C. D. C. Reeve) e “Platão e o prazer como o bem humano” (G. Santas). Ética, política e estética são contemplados com “a unidade da virtudes”, de D. Devereux, “Platão e a justiça” de D. Keyt, “O conceito de bem em Platão”, de N. White, “Platão e a lei”, de S. S. Meyer e “Platão e as artes”, de C. Janaway. A última parte é consagrada às influências do pla-tonismo na tradição filosófica posterior. C. Shields escreve “Aprendendo sobre Platão com Aristóteles”, A. Long “Pla-tão e a filosofia helenística” e S. Ahbel-Rappe termina o livro com “a influência de Platão na filosofia judaica, cristã e islâmica”.
O livro “Platão”, de Hugh H. Benson e colaboradores, é extremamente útil, tanto para especialistas quanto para es-tudantes de filosofia. Os primeiros vão gostar de ver seus focos de interesse sendo comentados de modo inteligente e eficaz. Os demais terão no livro uma orientação que lhes permitirá conhecer o modo mais profícuo de se abordar Platão, hoje. Por isso, trata-se de um livro indispensável.
Nota
1 Tradução feita a partir do original: “A Companion do Plato”, publicado pela Blackwell e organizado Hugh H. Benson.
Anderson de Paula Borges – Professor-adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás. E-mail: Ander.borg@gmail.com
Arte e Filosofia no Idealismo Alemão – WERLE; GALÉ (C-FA)
Marco Aurélio Werle; Pedro Fernandes Galé (Orgs). Arte e Filosofia no Idealismo Alemão. São Paulo: Barcarolla, 2009. Resenha de: VIDEIRA, Mario. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.15 Jun./Dez., 2009.
“A arte […] consegue para a intuição justamente aquilo que a mais alta filosofia consegue através da especulação”1
Numa carta de 06 de janeiro de 1795, Schelling escreve a Hegel: “A filosofia ainda não chegou ao final. Kant deu os resultados: faltam ainda as premissas”. E conclui: “Nós precisamos seguir adiante com a filosofia!”.
Um dos principais problemas herdados pelos filósofos póskantianos foi o da passagem entre filosofia teórica e filosofia prática. A exigência do incondicionado, indicada por Kant no § 76 da Crítica do Juízo foi profundamente sentida pelos pensadores pós-kantianos, para os quais o problema do Absoluto se resolveria, de certa forma, no âmbito da arte.
Desde o chamado “O mais antigo programa de sistema do Idealismo Alemão” já se indicava que a unificação entre teoria e prática deveria ser efetuada através da beleza:
Por último, a Idéia que unifica tudo, a Idéia da beleza, tomada a palavra em seu sentido superior, platônico. Pois estou convicto de que o ato supremo da Razão, aquele em que ela engloba todas as Idéias, é um ato estético, e que verdade e bondade só estão irmanadas na beleza. O filósofo tem de possuir tanta força estética quanto o poeta. Os homens sem senso estético [ästhetischen Sinn] são nossos filósofos da letra. A filosofia do espírito é uma filosofia estética […]
A poesia adquire com isso uma dignidade superior, torna-se outra vez no fim o que era no começo – mestra da humanidade ; pois não há mais filosofia, não há mais história, a arte poética sobreviverá a todas as outras ciências e artes.2
A união entre necessidade e liberdade, a passagem entre filosofia teórica e prática será consumada por meio da arte. Para alguns autores, a arte fornece de maneira imediata – isto é, através de uma intuição estética – aquilo que, no âmbito da teoria só pode ser concebido como uma “aproximação infinita”. No “Sistema do Idealismo Transcendental” (1800) de Schelling, o belo será considerado como sendo o infinito exposto finitamente [ das Unenedliche endlich dargestellt ]. Para ele, a intuição estética nada mais é do que a intuição intelectual que se tornou objetiva: “aquilo que para o filósofo já se divide no primeiro ato de consciência, e que é, de outra forma, inacessível a qualquer intuição, resplandece através do milagre da arte, a partir de seus produtos”3 Daí a tese, defendida por Schelling, de que a arte seria o único e verdadeiro órganon e, ao mesmo tempo, o documento da filosofia.
A partir dessas considerações pode-se perguntar: como foi possível que a arte alcançasse essa autonomia e dignidade? De que maneira a arte representa, a partir desse momento, um campo privilegiado para a afirmação do absoluto? Estas são algumas das questões investigadas na coletânea de ensaios intitulada “Arte e filosofia no Idealismo Alemão” que acaba de ser publicada pela Editora Barcarolla. Esse livro é resultado do colóquio internacional “Estética no Idealismo Alemão”, promovido pelo Departamento de Filosofia da USP em outubro de 2007, e reúne nove textos de importantes pesquisadores brasileiros e estrangeiros.
Como os organizadores ressaltam logo na introdução ao volume, o livro não pretende ser uma apresentação sistemática de todos os temas do Idealismo Alemão. Ao invés disso, procura-se tratar a estética desse período “como uma questão aberta, sobretudo como um desafio ao pensamento e que comporta diferentes enfoques” (p. 11). Com efeito, a variedade de enfoques e temáticas dos ensaios dão uma mostra da complexidade das relações entre arte e filosofia no Idealismo, que é certamente um dos períodos mais ricos da filosofia alemã. Os ensaios concentram-se principalmente no exame das filosofias de Kant, Schelling e Hegel. No campo da literatura, o autor-chave é Goethe.
A temática do gênio, central para a reflexão filosófica do período, é examinada num ensaio do professor Ubirajara Rancan de Azevedo. Trata-se de um estudo bastante específico, que por meio do confronto com outros textos de Kant (como alguns fragmentos das Preleções sobre Antropologia ), busca examinar a definição kantiana do gênio como “inata disposição de ânimo (ingenium) pela qual a natureza dá regra à arte”, tal como exposta no § 46 da Crítica do Juízo. A temática da experiência estética em Kant e Schiller é examinada num ensaio de Christian Hamm, que procura mostrar em que pontos a concepção schilleriana difere da kantiana e como “a instauração da nova perspectiva estética implica alterações absolutamente essenciais em quase todos os componentes da constelação original kantiana”, como por exemplo, na função sistemática do juízo (p. 72). Além disso, Hamm mostra de que maneira a interpretação (moral) da atividade estética do sujeito permite a Schiller o desenvolvimento de sua proposta de uma educação estética do homem.
A relação entre monismo e filosofia da arte em Schelling é estudada num excelente artigo de Christian Klotz, que examina a teoria da forma de representação simbólica exposta particularmente na parte geral das preleções sobre Filosofia da Arte (1804/05).
Klotz defende a tese de que essa teoria seria uma transformação da concepção kantiana de idéia estética, motivada pelo ponto de vista monista de Schelling (p. 107). Além disso, Klotz procura mostrar de que maneira as transformações da estética kantiana levadas a cabo por Schelling, de certa forma, podem ser consideradas como uma antecipação de elementos da estética de Hegel.
O artigo de Eduardo Brandão procura traçar alguns paralelos entre as filosofias de Schelling e de Schopenhauer, a partir da noção de “ideia”. Segundo Brandão (p. 15), o Mundo como Vontade e Representação de Schopenhauer “repõe no interior da metafísica da Vontade o problema clássico que se arma em torno da noção de ideia e que é enfrentado por Schelling”.
A filosofia de Hegel é trabalhada nos ensaios de Javier Dominguez Hernández, de Klaus Viehweg e de Marco Aurélio Werle. O professor Klaus Viehweg examina a superação da orientalidade e do classicismo pela arte moderna, bem como o tema do “fim da arte” na Estética de Hegel. Um ponto interessante para o qual Viehweg chama a atenção do leitor é a atualidade da filosofia de Hegel. Segundo ele (p. 159), Hegel “fixou linhas fundamentais, forneceu alicerces sobre os quais uma filosofia da ar te atual pode ser construída”. O tema do caráter pretérito da arte em Hegel é examinado também no artigo de Javier Hernández. Segundo ele, a definição da arte levada a cabo por Hegel é feita a partir de sua tarefa na formação do espírito e cultura humanos. Dessa forma, a função histórica da arte na cultura moderna não seria t anto de conteúdo, ou seja, “não se trata de uma formação substancial ( substantielle Bildung ), mas sim de uma formação formal ( formelle Bildung )” (p. 84). Tal como Viehweg, também Hernández critica uma interpretação classicista da estética de Hegel, que impede que se perceba “a atualidade de suas exposições” (p. 90). O artigo de Marco Aurélio Werle explora o tema da subjetividade artística em Goethe e Hegel. Partindo de uma análise do final da primeira parte dos Cursos de Estética (mais especificamente, do subcapítulo sobre o artista ), Werle defende que Hegel dialoga com Goethe e o toma como referência central em sua argumentação, de modo que Goethe seria, de certa forma, o protótipo da subjetividade para Hegel. Segundo Werle, “Goethe se apresenta, para Hegel, como um exemplo acabado da única possibilidade que resta para a arte na época moderna: seguir a via da interioridade subjetiva e reflexiva, priorizar os desdobramentos autônomos do sujeito em suas manifestações” (p.188).
Se Werle examina principalmente exemplos da produção lírica de Goethe nesse confronto com a estética de Hegel, o professor Vinícius de Figueiredo analisa o romance Os sofrimentos do jovem Werther, procurando assinalar um ponto de contato entre essa obra e a primeira Crítica de Kant. Segundo ele, “tanto Goethe quanto Kant edificam um modelo de crítica da positividade, que se legitima pelas prerrogativas literárias e especulativas atribuídas à indeterminação – seja do narrador, como no caso do Werther, seja da atividade reflexiva, como no caso da Terceira Seção da Analítica Transcendental da Crítica da Razão Pura ” (p. 39).
Também o artigo escrito por Franklin de Matos está voltado para uma análise do Werther. Mas aqui, o foco está mais no exame da forma literária adotada por Goethe, a saber: o romance epistolar, tão em voga no século XVIII. Matos compara as soluções adotadas por Goethe com aquelas adotadas por autores como Montesquieu, Rousseau e Laclos, e mostra de que maneira a forma d o romance epistolar seria a fórmula romanesca que mais se aproxima do drama pois, excetuando-se os prefácios, advertências ou notas de um editor fictício, são os próprios personagens que toma m a palavra.Por meio de uma análise exemplar, concisa e elegante, Franklin de Matos aponta a “notável destreza” de Goethe ao lidar com “as faces lírica e narrativa do gênero epistolar” (p. 147).
Através deste breve resumo da temática trabalhada em cada um dos capítulos, pode-se notar que os mesmos constituem uma contribuição valiosa para a compreensão de aspectos relevantes desse período decisivo da filosofia alemã. Embora o nível de detalhamento de alguns dos ensaios possa torná-los potencialmente mais úteis para os especialistas na área, parece-nos que o livro como um todo também pode ser de grande interesse para um público mais amplo, especialmente no que diz respeito ao exame das conexões entre a filosofia e a literatura.
Notas
1 SCHLEGEL, A. W. Die Kunstlehre. Hg. E. Lohner. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1963, p. 72.
- SCHELLING, F.W.J. Obras escolhidas. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Abril Cultural, 1984, pp. 42-3.
3.SCHELLING, F. W. J. Ausgewälhte Schriften I. Frankfurt-am-Main.: Suhrkamp, 2003, p. 693.
Referências
SCHELLING, F.W.J. Obras escolhidas. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Abril Cultural, 1984.
_____.Ausgewälhte Schriften I. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp, 2003.
SCHLEGEL, A. W.Die Kunstlehre. Hg. E. Lohner. Stuttgart: W.
Kohlhammer, 1963, p. 72.
Mario Videira Doutor em Filosofia (FFLCH-USP)
Quaderni del Carcere: Edizione crittica dell’Istituto Gramsci a cura di Valentino Gerratana | Antonio Gramsci
Uma obra pode ser considerada um clássico quando projeta influência para além de seu tempo e espaço. Assim pode ser definida a obra de Antônio Gramsci (1891-1937), cuja influência sobre as Ciências Sociais e Humanas pode ser medida pelo grau de apropriação que as diferentes matrizes e correntes epistemológicas fizeram de seus escritos.
A leitura de Gramsci sobre o desenvolvimento histórico da sociedade italiana e suas análises sobre os problemas culturais, sociais, políticos, econômicos e educacionais de seu tempo tornaram seu pensamento um importante referencial teórico sobre o século XX. Leia Mais
Uma introdução à filosofia- PAVIANI (V)
PAVIANI, Jayme. Uma introdução à filosofia. Caxias do Sul: Editora da UCS, 2014. 107 p. Resenha de: RODRIGUES, Maria Inês Tondello. Veritas, Porto Alegre, v. 60, n. 2, p. 401-404, maio-ago. 2015.
Propondo uma viagem à História da Filosofia, a obra Uma introdução à filosofia (EDUCS, 2014, 107 p.), de autoria do professor e pesquisador Jayme Paviani, evidencia a presença constante de conceitos e questões filosóficas na ciência e nas atividades humanas. Ao iniciar cada capítulo, o autor faz uma citação que se aproxima do tema a ser abordado. Num texto que trata de Filosofia, não poderiam faltar referências a pensamentos filosóficos como os de Platão, Aristóteles, Agostinho, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Husserl, Jauss, Habermas, Merleau-Ponty, Popper, Gadamer, Levinas, Deleuze, Foucault, entre outros.
Jayme Paviani nasceu em Flores da Cunha, em 4 de junho de 1940. Em 1951 iniciou os estudos no Seminário Nossa Senhora Aparecida em Caxias do Sul, cidade que adotou desde então. Em 1999 recebeu o título de cidadão caxiense. Licenciado em Filosofia, Bacharel em Direito e Doutor em Letras, exerce a docência há quase cinquenta anos. Foi professor na Unisinos e na PUCRS, há mais de quatro décadas atua na Universidade de Caxias do Sul, atualmente estando vinculado aos Programas de Pós- Graduação Mestrado em Filosofia e Mestrado em Educação. Escreveu mais de vinte livros relacionados à filosofia e seus pensadores; no ano de 2002 publicou o livro de crônicas O pomar e o pátio, e reuniu seis livros de poemas no volume As palavras e os dias. É autor, ainda, de inúmeros capítulos de livros, artigos e ensaios em revistas científicas.
Usando uma linguagem acessível e bastante didática, Paviani desenvolve sete capítulos, além da apresentação, todos com um foco singular e sugestivo para uma busca por aprofundamento. No primeiro capítulo, A filosofia e o filosofar: propostas pedagógicas, o professor propõe uma reflexão acerca da função e da presença da filosofia na história e na sociedade. Esclarecendo que a filosofia precisa justificar sua natureza, cita seis aproximações para pensar sobre sua origem, natureza e função: o que é a filosofia; como ter acesso à filosofia; porque, o que e para que pensamos; o que é o homem; filosofia e ciência andam juntas; e reconhecimento de si no outro.
No segundo capítulo, A história da Filosofia: o texto e sua recepção, estabelece relações entre a obra literária e a obra filosófica. Relaciona a teoria da recepção de textos, aplicada à história da literatura com o entendimento da história da Filosofia. Esclarece que uma metodologia recepcionista requer adaptações e implica em mudanças de procedimentos.
Tratando de examinar como a obra é e foi recebida, “possibilita examinar as concretizações das ideias e dos conceitos filosóficos no tempo e no espaço” (grifo do autor, p. 31). A recepção tem carência em seu método que é parcial e incompleto, exigindo outros procedimentos científicofilosóficos, por isso tem seu ponto forte na interpretação. Sugere o uso deste instrumento da recepção para experimentar o ato de filosofar, integrado nas diferentes leituras oferecidas pelos textos filosóficos.
Conhecimento e linguagem: os acessos à realidade, o terceiro capítulo inicia dizendo que “conhecimento, linguagem e realidade são conceitos, âmbitos e dimensões de um fenômeno complexo e objeto de investigação de diferentes disciplinas consolidadas na história da filosofia” (grifo do autor, p. 37). O autor cita a questão ontológica que envolve concepção metafísica e realidade, indagações do humano que questionam as dimensões do ser; a questão epistemológica que analisa o conhecimento, sua origem e desenvolvimento. Fala da dialética e da lógica e das relações entre ciências e teorias da verdade. A linguagem é condicional para o avanço dos estudos do conhecimento, por isso traz leituras e conceitos definidos por diferentes pensadores, entre eles: Humboldt e a linguística, Wittgenstein e um conjunto de atividades, Husserl e um sistema de sinais reinterpretáveis, Heidegger e a analítica existencial.
O capítulo, Ética, educação e sociedade: o elo indissolúvel, pelo próprio título demonstra no tema central sua necessidade de analisar o agir humano que exige uma postura crítica. O autor explicita as relações entre ética e moral, ética e pós-modernidade, ética e educação e a escola e a educação moral. Contudo, percebo como foco principal desse capítulo, o estudo das teorias éticas, entre elas as da tradição ocidental e as tendências das teorias contemporâneas. Resumidamente, porém de forma clara, expõe a ética das virtudes, de Platão; a ética do dever, de Kant; e a ética consequencialista, de Bentham e Mill dentro das teorias tradicionais.
Nas tendências das teorias apresenta o discurso, de Habermas e Apel; a alteridade, de Levinas e Ricoeur; a responsabilidade, de Hans Jonas; a finitude, de Heidegger; a imanência, de Deleuze e Guattari; o cuidado de si, de Foucault; a autenticidade de Charles Taylor; e a justiça de Rawls.
No quinto capítulo, A gênese da biopolítica: vida nua e estado de exceção, é estabelecida uma relação entre vida e política por meio de quatro subitens. Vida, poder e biopolítica trata da vulnerabilidade da vida e do poder exercido sobre a vida das pessoas, traz um pouco de história para mostrar que as transformações sociais não acontecem de forma rápida. Vida nua e homo sacer analisa as diferenças entre vida animal e humana refletindo sobre pensamentos e atitudes. A política como uma ética trata da rede proposta pelas relações entre filosofia, ciência, ética e política sugerindo que “a função da biopolítica é a de recolocar a vida biológica no centro dos cálculos do Estado moderno” (p. 73). O bando e o campo de concentração, diz que “a política é a passagem do viver para o viver bem” (p. 74) refletindo sobre o conceito de “bando” e usando o termo “campo” a partir da realidade dos campos de concentração nazistas. O autor nos remete a pensar sobre consciência como tarefa da filosofia e da ciência.
O artístico e o estético: dimensões entrelaçadas é o capítulo em que afirma a necessidade de relação entre os dois conceitos. Inicia com uma revisão histórica para propor pensar sobre o estético e o artístico, o estético e o ético, o artístico e o técnico, a metafísica do belo e a vivência da arte e do belo. Qual o significado de arte, de beleza, de estética, se “o próprio ser humano traz consigo um rastro de mistério” (p. 90). Sugere um pensar de forma diferente os conceitos e remete a analisar conflitos e relações entre o natural e o artístico.
Para finalizar, Filosofia e Literatura: traços comuns e diferenças, traz aproximações e distanciamentos entre os textos filosóficos e os literários.
Analisando especificamente a linguagem escrita, Paviani trata filosofia e literatura como realizações autônomas e distintas ressaltando suas especificidades. O filósofo, o escritor e o texto é o tópico que analisa as diferenças entre as formas de escrita que podem identificar o tipo de texto. Traços literários na obra filosófica e traços filosóficos na obra literária são os títulos que analisam as características de cada tipo de obra. Estilo e filosofia mostra que o escritor tem forma de escrever e de se expressar, assim a linguagem usada estabelece seu modo de pensar.
A prosa do mundo fala do livro inacabado de Merleau-Ponty; com o mesmo título, o autor “mostra que o escritor se concebe numa linguagem estabelecida” (p. 101).
Uma introdução à Filosofia é um livro bem escrito e com uma linguagem clara como é apontado pelo autor que essa forma de comunicação deve ser. Demonstra coerência entre o texto escrito e o conteúdo apresentado.
Segue uma sequência na relação que estabelece entre os conceitos fundamentais e as sistematizações do conhecimento. A obra traz, como indica o título, uma introdução ao estudo da Filosofia sem aprofundar qualquer questão. Contudo, indica as diversas possibilidades de aprofundamento sugerindo as interligações entre as formas de pensar o conhecimento. Por isso, o texto pode ser endereçado aos leitores que tenham interesse nesse saber que ganha espaço no meio educacional e na forma de pensar a pesquisa científica.
Para concluir, trago o pensamento descrito pelo professor Paviani que, para entender o saber humano é preciso estudar filosofia e para isso é necessário ler os clássicos. Com certeza, isso é fundamental. Contudo, nessa obra o autor alcançou seu objetivo, descrito na apresentação: “abrir as portas ao leitor para que ele perceba a riqueza de aspectos desse saber teórico, distinto do saber comum vizinho da ciência e da tecnologia” (p. 7). A partir de Uma introdução à Filosofia, o leitor se lançará num emaranhado de questões que lhe encaminharão a novas buscas. As portas se abriram, vamos entrar…
Maria Inês Tondello Rodrigues – Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado em Educação, da Universidade de Caxias do Sul, com pesquisa na Linha de História e Filosofia da Educação. Possui Licenciatura em Pedagogia e Especialização em Educação de Jovens e Adultos – EJA, ambas pela Universidade de Caxias do Sul. Endereço postal: Programa de Pós-Graduação em Educação Universidade de Caxias do Sul Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 – Cidade Universitária 95070-560 Caxias do Sul, RS, Brasil.
Nietzsche | UFSB/Unifesp | 1996
Fundados em 1996 por Scarlett Marton, os Cadernos Nietzsche são lançados desde então regularmente nos meses de maio e setembro. Publicação do GEN – Grupo de Estudos Nietzsche, os Cadernos contam difundir para um publico de filosofia ou das ciências humanas em geral trabalhos de especialistas estrangeiros e brasileiros, dos mais experientes a doutorandos ou mestrandos.
Espaço aberto para o confronto de interpretações, os Cadernos Nietzsche pretendem veicular artigos que se dedicam a explorar as ideias do filósofo ou desvendar a trama dos seus conceitos, escritos que se consagram à influência por ele exercida ou à repercussão de sua obra, estudos que comparam o tratamento por ele dado a alguns temas com os de outros autores, textos que se detêm na análise de problemas específicos ou no exame de questões precisas, trabalhos que se empenham em avaliar enquanto um todo a atualidade do pensamento nietzschiano.
O título abreviado do periódico é Cad. nietzsche, que deve ser usado em bibliografias, notas de rodapé, referências e legendas bibliográficas.
Periodicidade quadrimestral
Todo o conteúdo do periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons do tipo atribuição BY-NC.
ISSN 1413-7755 (Impresso)
ISSN 2316 8242 (Online)
Acessar as resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Filosofia Alemã | USP | 1996
Organizada pelo Grupo de Filosofia Crítica e Modernidade (FiCeM), um grupo de estudos constituído por professores(as) e estudantes de diferentes universidades brasileiras, a revista Cadernos de Filosofia Alemã: Crítica e Modernidade (ISSN 2318-9800) é uma publicação semestral do Departamento de Filosofia da USP que, iniciada em 1996, pretende estimular o debate de questões importantes para a compreensão da modernidade.
Tendo como ponto de partida filósofos(as) de língua alemã, cujo papel na constituição dessa reflexão sobre a modernidade foi – e ainda é – reconhecidamente decisivo, os Cadernos de Filosofia Alemã não se circunscrevem, todavia, ao pensamento veiculado em alemão, buscando antes um alargamento de fronteiras que faça jus ao mote, entre nós consagrado, da filosofia como “um convite à liberdade e à alegria da reflexão”.
Periodicidade semestral
Sob a licença Creative Commons Non Commercial – Share Alike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
Acessar resenhas
Acessara dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Dissertatio | UFPEL | 1995
A Revista Dissertatio de Filosofia (RDF) (1995) é uma publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas.
RDF publica artigos originais, estudos críticos, traduções devidamente autorizadas pelos autores e/ou representantes legais, com introdução, comentários e notas de temas relevantes na História da Filosofia, assim como resenhas. Desde 2015, a RDF começou a publicar volumes de fluxo contínuo e volumes suplementares em um mesmo número, ao invés de intercalar volumes de fluxo contínuo com números temáticos (dossiês).
Em 2016, a Revista Dissertatio de Filosofia migrou para a Plataforma Open Journals (viabilizada pelo Public Knowledge Project), com o objetivo de qualificar e agilizar seus processos editoriais. Em 2017, o objetivo é intensificar o processo já em curso de internacionalização. Neste sentido, a periodicidade da revista passará a ser quadrimestral, seguindo as diretrizes dos principais indexadores internacionais.
Periodicidade semestral
Revista licenciada pela CREATIVE COMMONS ATRIBUIÇÃO 4.0 INTERNACIONAL. Com esta licença os leitores podem copiar e compartilhar o conteúdo dos artigos em qualquer meio ou formato, desde que o autor seja devidamente citado.
ISSN 1983 8891
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos [A partir de 2007]
Espinosanos | USP | 1995
O Grupo de Estudos Espinosanos do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, nasceu em 1995. Ao longo deste período, diversas atividades foram desenvolvidas e procurou-se fazer o registro delas para, como diz Espinosa, tentar contornar as forças do “tempo voraz que tudo abole da memória dos homens”. Os Cadernos Espinosanos se inspiram nesse propósito.
Desde o número X, dedicado ao Professor Lívio Teixeira, os Cadernos estão dedicados também a Estudos sobre o século XVII, seu subtítulo. O que, na verdade, expressa algo que já acontecia na prática, pois textos acerca de vários outros filósofos do período sempre estiveram presentes a cada edição.
O objetivo destes Cadernos continua sendo publicar semestralmente trabalhos sobre filósofos seiscentistas, constituindo um canal de expressão dos estudantes e pesquisadores deste e de outros departamentos de Filosofia do país.
Porque destinados a auxiliar bibliograficamente aos que estudam o Seiscentos, tanto para os trabalhos de aproveitamento de cursos, quanto para a elaboração de outros projetos de pesquisa, estes Cadernos também publicarão, regularmente, ensaios de autores brasileiros e traduções de textos estrangeiros, contribuindo com o acervo sobre o assunto.
Esperamos que esta iniciativa estimule os estudos sobre os filósofos daquele período a que esta publicação é inteiramente dedicada e permita criar ou ampliar a comunicação entre os que estão envolvidos com a pesquisa desses temas, incentivando, inclusive, outros departamentos de Filosofia a colaborar conosco no desenvolvimento deste trabalho.*
Periodicidade semestral (Julho e Dezembro)
Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.
ISSN 2447 9012 (Online)
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos