Posts com a Tag ‘FERRARO Marcelo Rosanova (Res)’
Becoming Free – Becoming Black: Race Freedom and Law in Cuba – Virginia and Louisiana | Alejandro de la Fuente e Ariela J. Gross
Ariela J. Gross e Alejandro de la Fuente | Foto: Medium |
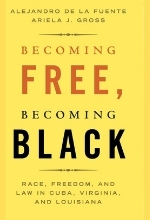 Em tempos que reascendem os debates sobre o racismo institucional nas Américas, a publicação de Becoming Free, Becoming Black responde tanto às demandas do presente quanto aos dilemas que moveram as ciências humanas ao longo do século XX. Após décadas de pesquisas que revelaram as desventuras de sujeitos escravizados, pelo cotidiano do cativeiro e pelos labirintos jurídicos, Ariela Gross e Alejandro de la Fuente dão um passo à frente, assim como uma mirada atrás. Reivindicando teórica e metodologicamente uma história “de baixo para cima”, os autores revisitam os debates clássicos sobre a relação entre a escravidão, o direito e a constituição de diferentes regimes raciais no continente, ao empreender um ambicioso estudo comparativo sobre Cuba, Virgínia e Louisiana entre os séculos XVI e XIX. [3]
Em tempos que reascendem os debates sobre o racismo institucional nas Américas, a publicação de Becoming Free, Becoming Black responde tanto às demandas do presente quanto aos dilemas que moveram as ciências humanas ao longo do século XX. Após décadas de pesquisas que revelaram as desventuras de sujeitos escravizados, pelo cotidiano do cativeiro e pelos labirintos jurídicos, Ariela Gross e Alejandro de la Fuente dão um passo à frente, assim como uma mirada atrás. Reivindicando teórica e metodologicamente uma história “de baixo para cima”, os autores revisitam os debates clássicos sobre a relação entre a escravidão, o direito e a constituição de diferentes regimes raciais no continente, ao empreender um ambicioso estudo comparativo sobre Cuba, Virgínia e Louisiana entre os séculos XVI e XIX. [3]
De partida, Gross e de la Fuente fazem de Frank Tannenbaum seu antagonista e, também, em menor grau, uma inspiração. Assim como em artigos publicados anteriormente, eles reforçam as críticas a Slave and Citizen, em especial às premissas teóricas, que atribuíram às normas escritas nas metrópoles um papel determinante dos rumos das sociedades coloniais. Igualmente contestada foi a projeção das diferenças raciais entre os Estados Unidos e a América Latina ao passado, como se decorressem de um devir inevitável, fundado pelos regimes jurídicos anglo-saxão e ibéricos. Por outro lado, tanto a historiografia revisionista (que preteriu o direito e a religião pela economia e a demografia) quanto os estudos recentes no campo da cultura legal, se limitaram a demolir o modelo de Tannenbaum, sem oferecer uma interpretação definitiva sobre as origens das diferenças raciais nas Américas. Assumindo o desafio, Gross e de la Fuente resumiram ainda na introdução seu postulado: não foi o direito da escravidão, mas o direito da liberdade o elemento crucial para a constituição dos regimes raciais no continente.[4]
Embora a maioria dos homens e mulheres escravizados jamais tenha rompido as correntes do cativeiro, a minoria que conquistou a alforria, constituindo comunidades negras livres, teria sido a chave para a construção da raça nas Américas. Gross e de la Fuente convidam o leitor a embarcar em uma longa jornada, que se inicia na travessia atlântica e na colonização de Cuba, Louisiana e Virgínia, perpassa as águas turbulentas da Era das revoluções, para enfim desembarcar nos regimes raciais do século XIX, cujos legados se estendem até hoje. Antecipando suas conclusões, os autores sustentam que as diferenças entre as três regiões não decorreram do reconhecimento da humanidade dos escravizados e tampouco da fluidez racial. O fator determinante teria sido o grau de sucesso das elites escravistas na imposição da relação entre branquitude e liberdade, e entre negritude e escravidão. O enunciado contém um dos principais manifestos políticos do livro, mas deixa uma questão em aberto-que será retomada adiante.
Os dois capítulos iniciais transitam pelas sociedades coloniais de Cuba, Virgínia e Louisiana, partindo do regime jurídico e da experiência espanhola das Américas. Embora as Siete Partidas reconhecessem a humanidade das pessoas escravizadas, o efeito prático do precedente social e legal dos ibéricos foi a definição prévia das distinções raciais por lei. A inversão do pressuposto de Tannenbaum é radical. A escravidão em Portugal e o princípio da limpeza de sangre na Espanha ofereceram aos ibéricos as pré-condições para o pioneirismo na criação de regimes legais racializados na América. Nesse ponto, os autores cederam em parte a Tannenbaum, identificando, na raiz romanista do direito ibérico, a alforria como instituição sólida. Mas incorporando as contribuições da historiografia recente, eles avançaram ao demonstrar como, em solo americano, foram os escravizados-no caso, os da ilha de Cuba-que fizeram da norma uma tradição e, por conseguinte, um direito.
Em paralelo, o colonialismo francês constituiu seu próprio regime no Caribe por meio das diferentes versões do Code Noir, que progressivamente restringiram tanto a alforria e os direitos das comunidades negras livres. À época da ocupação da Louisiana, a experiência e os precedentes normativos serviram à constituição do regime mais excludente do Império francês, mas que ainda assim não cerceou em absoluto a liberdade e o direito de negros livres, especialmente em Nova Orleans. A Virgínia, por sua vez não contou com precedentes legais ou experiências coloniais prévias. Sem incorporar os precedentes de Barbados e da Carolina do Sul, a colônia inglesa se converteu em uma espécie de laboratório, onde as diferenças raciais não estavam pré-determinadas jurídica ou socialmente. Invertendo mais uma vez as premissas de Tannenbaum, Gross e de la Fuente desvelam uma Virgínia relativamente aberta à prática da alforria e à formação de comunidades de negros livres no início do século XVII.
Privilegiando as fontes jurídicas, com destaque para as ações de liberdade, os autores esbanjam rigor metodológico sem comprometer a fluidez da narrativa de pessoas escravizadas que recorriam à justiça. Embora esse procedimento fosse comum nas três regiões no século XVII, ela se manteve constante em Cuba, enquanto rareou na Virgínia e na Louisiana no século XVIII, onde também aumentaram as restrições aos casamentos inter-raciais. De acordo com Gross e de la Fuente, essa progressiva distinção na trajetória das sociedades escravistas em questão não foi o resultado da pretensa benevolência ibérica, mas de razões econômicas, demográficas e de gênero. Eram principalmente as mulheres que conquistavam a alforria, predominantemente de forma onerosa, e consequentemente serviam à reprodução das comunidades negras livres. Os franceses precocemente haviam fechado o cerco às manumissões, embora incapazes de pôr fim à presença de negros livres em Nova Orleans. Enquanto isso, a Virgínia transitou gradualmente de uma sociedade desregulada para a mais restritiva das três, especialmente após a Rebelião de Bacon, em 1676.
Recuperando a interpretação de Edmund Morgan, segundo o qual as restrições visavam à solidariedade branca contra a aliança entre servos brancos, indígenas e negros, os autores acrescentam argumentos econômicos e políticos. A conversão da Virgínia em uma sociedade escravista começara antes mesmo da revolta, por conta do barateamento do preço de africanos em relação ao custo da servidão. Fortalecida, a elite virginiana conseguiu a um só tempo restringir as alforrias e solidificar a solidariedade branca na colônia, diferentemente de seus pares de Louisiana e de Cuba, que foram incapazes de abolir um precedente jurídico estabelecido. A consequência foi a formação de comunidades negras livres e miscigenadas de diferentes tamanhos nas três regiões, e não favorecidas pelas elites, mas maiores ou menores de acordo com sua capacidade de resistir aos esforços para evitá-las. No final do segundo capítulo, Gross e de la Fuente retomam sua hipótese, insistindo que as elites de Cuba, Virgínia e Louisiana tentaram igualar a raça negra à escravidão, pois enxergavam nos negros livres uma ameaça à ordem. As diferenças, contudo, não decorreram do precedente legal, mas das diferentes realidades sociais e demográficas que permitiram o maior sucesso na Virgínia e na Louisiana, e o menor em Cuba.[5]
Tema do terceiro capítulo, a Era das Revoluções consistiu no período de maior aproximação entre as três regiões, onde tanto as alforrias quanto as comunidades negras livres cresceram. Ao mesmo tempo, a escravidão avançou nos territórios, respondendo aos estímulos do mercado mundial. Em Cuba e na Louisiana, o paradoxo era apenas aparente, pois a alforria era uma tradição jurídica e socialmente vinculada ao cativeiro. Já na Virgínia a libertação de escravizados se associou ao ideário da independência. Enquanto as comunidades negras livres de Havana e de Nova Orleans eram fruto do Antigo Regime, a de Richmond respirava os ares da revolução. Consequentemente, as elites virginianas reagiram ao horizonte que se abria, seguidos por seus pares do Vale do Mississippi, recentemente integrados aos Estados Unidos e movidos pelos interesses açucareiros e algodoeiros. Entre 1806 e 1807, a promulgação do Black Code da Louisiana e de uma série de leis na Virgínia restringiram a alforria e os direitos dos negros livres, dando o tom de um regime racial que chegaria à maturidade em meados do século XIX, apartando em definitivo o modelo estadunidense do cubano.
O movimento esboçado nos Estados Unidos se agravou entre as décadas de 1830 e de 1860, das quais tratam os capítulos finais do livro. Neles, Gross e de la Fuente esboçam uma guinada metodológica, organizando-os a partir de eixos temáticos, em vez de compararem pormenorizadamente as ações de liberdade em cada um dos espaços. Nas páginas que seguem, os autores descrevem o recrudescimento das forças e discursos escravistas nos Estados Unidos, como reação ao avanço do abolicionismo e de revoltas como a de Nat Turner. A elite cubana enfrentou seus próprios inimigos, pressionada pela campanha da Inglaterra contra o tráfico de africanos e ameaçada frontalmente por um ciclo de resistência dos escravizados, que se estendeu da revolta de Aponte, em 1812, à de la Escalera, em 1844. As três elites compartilharam do temor de que se formassem alianças entre negros livres e escravizados, como ensaiado mais propriamente em Cuba. Por meio de leis restritivas à alforria, além de políticas de remoção das populações negras livres, para fora dos estados ou do país, as elites da Virgínia e da Louisiana deram passos largos no sentido da construção de um regime racial pleno, em que a negritude fosse sinônimo não apenas de degradação, mas do cativeiro. De acordo com os autores, houve esforços similares em Cuba, assim como ataques às comunidades negras livres, mas estes não foram sistêmicos ou capazes de cindir as mesmas linhas raciais dos Estados Unidos.
Na década de 1850, Cuba, Virgínia e Louisiana eram sociedades escravistas maduras, nas quais os negros eram tidos como social e legalmente inferiores. No entanto, o processo de destituição de direitos foi muito além nos Estados Unidos, dando forma a um regime racial particular, que destoava daqueles desenvolvidos na América Latina. Retomando o debate com Tannenbaum na conclusão do livro, Gross e de la Fuente, arrolaram as variáveis que incidiram sobre a diferenciação dos regimes nos três territórios. As tradições legais teriam tido o seu peso, embora não nos termos propostos em Slave and Citizen. Os ibéricos teriam sido pioneiros na criação de legislações raciais, mas o reconhecimento jurídico da alforria cindiu a brecha por onde mulheres e homens escravizados encontraram seus tortuosos caminhos para a liberdade. A agência dessas pessoas e a mobilização do direito “de baixo para cima”, portanto, teria cumprido um papel central, tão ou mais importante que o precedente normativo. Consequentemente, os negros livres de Cuba fizeram da tradição um direito e de suas comunidades uma realidade incontornável para a elite da ilha.
Nesse sentido, o fator determinante na formação dos diferentes regimes raciais, segundo os autores, foi o tamanho das comunidades negras livres, que pressionavam pelo reconhecimento de direitos e dificultavam o cerceamento das alforrias. Um segundo ponto levantado pelos autores foram os diferentes regimes políticos. A constituição de uma democracia liberal nos Estados Unidos entrelaçou os princípios da liberdade, da igualdade e da cidadania, tendo por contrapartida os esforços reacionários que negaram seu acesso à população negra. Enquanto a democracia branca se consolidava ao Norte, Cuba preservou sua condição colonial, assim como as hierarquias políticas locais. A liberdade de uma parcela minoritária de negros respondia antes a uma tradição do Antigo Regime do que à extensão da cidadania. Não havia necessidade de uma ideologia supremacista racial onde sequer vigia o pressuposto da igualdade.
Na conclusão, Gross e de la Fuente reforçam o postulado de abertura, segundo o qual as elites de Cuba, da Virgínia, da Louisiana buscaram constituir a dicotomia perfeita entre raça e escravidão. Frente à resistência das comunidades negras livres, nenhuma delas obteve o êxito pleno, mas as estadunidenses foram mais bem sucedidas. Não há dúvidas de que na Virgínia, na Louisiana e em grande parte do sul dos Estados Unidos, prevaleceram esforços nesse sentido. Mas a despeito de discursos e medidas legais apresentados pelos autores, não se depreende da narrativa e das fontes que a elite cubana tenha se dedicado à questão com o mesmo afinco. Em mais de uma passagem, Gross de la Fuente relativizam seu próprio enunciado, reconhecendo que as autoridades de Cuba preferiram não se contrapor à tradição legal e aos direitos de comunidades estabelecidas. Seguindo os passos dos próprios autores, é possível levar a questão além.
Se como dizem Gross e de la Fuente, os ibéricos foram pioneiros da constituição de regimes raciais legalizados, eles também foram os primeiros a conhecer os efeitos da alforria na escravidão negra nas Américas. A formação de comunidades negras livres não foi resultado de um projeto, mas das condições demográficas e da ação dos próprios escravizados. Por conseguinte, os ibéricos foram também os primeiros a usufruir desse arranjo social e racial que, na maior parte do tempo, contribuiu para a preservação do cativeiro. A proximidade entre negros livres e escravizados era um risco real, mas a experiência histórica revela que na maior parte das vezes, a aliança entre os livres de diferentes cores prevaleceu sobre a solidariedade racial, ainda mais em sociedades marcadas por um alto grau de miscigenação. O sucesso das elites estadunidenses em cindir as raças também conteve em si a chave de seu fracasso, reforçando a identidade e a solidariedade negra, que se voltaram contra a supremacia branca durante a Guerra Civil e tantas vezes após a abolição. Em contrapartida, o suposto fracasso da elite cubana, nos termos dos autores, conteve o segredo de seu sucesso. Afinal, o escravismo experimentado pelos ibéricos não foi apenas pioneiro nas Américas, mas o mais longevo, tendo perdurado em Cuba e no Brasil até o último quartel do século XIX. Não à toa, as elites desses países tantas vezes se valeram dos Estados Unidos como contraponto, para preservar suas próprias hierarquias sob o mito das “democracias raciais”.[6]
São os próprios autores que fornecem os dados e argumentos para esse breve contraponto. Em mais de uma passagem, eles descrevem a alforria como instituição escravista em Cuba, assim como reconhecem a hesitação das elites em cerceá-la. Ao enunciarem na introdução e na conclusão que as três elites escravistas compartilharam de um mesmo horizonte racial, Gross e de la Fuente miraram dois alvos. A crítica se voltou tanto às elites do passado, quanto aos discursos mais recentes que, na política e na historiografia, ainda se valem da escravidão e do racismo explícito nos Estados Unidos como um contraexemplo, a fim de sustentar a suposta benevolência do cativeiro e a pretensa harmonia das relações raciais na América Latina. A posição dos autores no debate público é mais do que bem-vinda, e contribui para a desmistificação do tema. De todo modo, o próprio livro revela como Cuba antecedeu e sucedeu o cativeiro na América do Norte, e como sua elite constituiu o seu próprio regime racial. Sem cindir a ilha entre o branco e o negro, ela preservou por mais tempo a escravidão valendo-se de um racismo velado, tão eficaz e talvez mais perverso que o estadunidense.
Nas derradeiras páginas do livro, Gross e de la Fuente alçam voo sobre os anos que se seguiram à abolição, contrastando os Black Codes e as Leis Jim Crow no Sul dos Estados Unidos com o relativo reconhecimento dos direitos dos negros em Cuba. Em seus termos, a transição da escravidão à cidadania resultou das lutas políticas dos negros de cada região. Nas entrelinhas, os historiadores convidam seus pares a desbravar o campo das relações raciais nas sociedades do pós-abolição, à luz de suas importantes contribuições. Trazendo mais uma vez Tannenbaum ao debate, Gross e de la Fuente concluem que o tecido de conexão entre o negro escravizado e o cidadão negro, no pós-abolição, não decorreu da relação entre “slave and citizen” mas de “black to black”. Como enunciado no título e na introdução, não teria sido o direito da escravidão, mas a mobilização do direito à liberdade pelos próprios sujeitos escravizados que selou o caminho para a construção, não só dos regimes, mas das identidades raciais. É possível questionar se o direito à liberdade existiria senão como contradição interna do direito da escravidão, em uma relação dialética. No entanto, foi por meio dessa inversão do prisma que Gross e de la Fuente miraram um velho debate sob um ângulo novo, trazendo à luz outros sujeitos e respostas.
Becoming Free, Becoming Black coroa os resultados de uma tradição historiográfica que trouxe à luz a complexidade da escravidão e das disputas sobre os sentidos da liberdade e da justiça nas Américas. Reivindicando os ganhos metodológicos e políticos da história “de baixo para cima”, e preservando no centro da narrativa os sujeitos escravizados e sua agência, Gross e de la Fuente deram um passo além. Instigados pelos debates postos no presente, ousaram revisitar os clássicos para oferecer respostas e questionamentos originais. Em tempos de crise das representações e de revisionismos históricos, Becoming Free, Becoming Black nos reabre uma janela ao passado, exibindo as raízes pérfidas de mazelas que ainda nos assolam. No entrepasso do caminhar de tantos homens e mulheres, os autores nos lembram das lutas pretéritas, e quiçá nos apontam possíveis caminhos para os embates que se anunciam no horizonte.
Notas
1. Universidade de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
2. Marcelo Ferraro é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e estuda a relação entre direito, violência e escravidão no Vale do Paraíba e no Vale do Mississippi no longo século XIX.
3. Apenas para citar a principal referência dos autores, ver Rebecca J. Scott, Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba After Slavery. Cambridge, MA, 2005; e mais recentemente Scott, R., & Hébrard, J. Freedom Papers: An Atlantic Odyssey in the Age of Emancipation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.
4. Frank Tannenbaum, Slave and Citizen. Boston, 1992). Sobre as publicações anteriores de Gross e de la Fuente, ver De la Fuente, Alejandro, & Gross, Ariela. (2010). Comparative Studies of Law, Slavery, and Race in the Americas. Annual Review of Law and Social Science, 6(1), 469-485. Gross, Ariela, & De la Fuente, Alejandro. (2013). Slaves, free blacks, and race in the legal regimes of Cuba, Louisiana, and Virginia: A comparison. North Carolina Law Review, 91(5), 1699. De la Fuente, A. (2010). From Slaves to Citizens? Tannenbaum and the Debates on Slavery, Emancipation, and Race Relations in Latin America. International Labor and Working Class History, 77(1), 154-173. De la Fuente, A. (2004). Slave Law and Claims-Making in Cuba: The Tannenbaum Debate Revisited. Law and History Review, 22(2), 339-369.
5. Morgan, Edmund. American slavery, American freedom: The ordeal of colonial Virginia. New York: W.W. Norton &, 2003.
6. A título de exemplo, ver os discursos de representantes de Cuba e do Brasil sobre a questão dos negros livres, assim como suas divergências, em Berbel, Marcia., Marquese, Rafael, & Parron, Tamis. Escravidão e política: Brasil e Cuba, c. 1790-1850. São Paulo: Editora Hucitec: FAPESP, 2010. Sobre o racismo em Cuba no século XX, é o próprio Alejandro de la Fuente que sustenta a interpretação aqui esboçada. Ver Fuente, Alejandro de la. A Nation for All: Envisioning Cuba. The University of North Carolina Press, 2011.
Referências
DE LA FUENTE, A. (2010). From Slaves to Citizens? Tannenbaum and the Debates on Slavery, Emancipation, and Race Relations in Latin America. International Labor and Working Class History, 77(1), 154-173.
DE LA FUENTE, A. (2004). Slave Law and Claims-Making in Cuba: The Tannenbaum Debate Revisited. Law and History Review, 22(2), 339-369
DE LA FUENTE, Alejandro, & GROSS, Ariela. (2010). Comparative Studies of Law, Slavery, and Race in the Americas. Annual Review of Law and Social Science, 6(1), 469-485.
GROSS, Ariela, & DE LA FUENTE, Alejandro. (2013). Slaves, free blacks, and race in the legal regimes of Cuba, Louisiana, and Virginia: A comparison. North Carolina Law Review, 91(5), 1699.
SCOTT, Rebecca. Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba After Slavery. Cambridge, MA, 2005;
SCOTT, R., & HÉBRARD, J. Freedom Papers: An Atlantic Odyssey in the Age of Emancipation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.
TANNENBAUM, Frank. Slave and Citizen. Boston, 1992).
Marcelo Rosanova Ferraro – Universidade de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil. Marcelo Ferraro é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e estuda a relação entre direito, violência e escravidão no Vale do Paraíba e no Vale do Mississippi no longo século XIX.
DE LA FUENTE, Alejandro; GROSS, Ariela J. Becoming Free, Becoming Black: Race, Freedom, and Law in Cuba, Virginia and Louisiana. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Resenha de: FERRARO, Marcelo Rosanova. O direito à liberdade e a dialética das raças nas Américas. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021. Acessar publicação original [DR]
Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a NineteenthCentury Brazilian Penal Colony | Peter M. Bettie
Publicada em 2015 por Peter M. Beattie, professor da Universidade de Michigan, a obra“Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a Nineteenth-Century Brazilian Penal Colony” consiste em um ambicioso estudo de caso, em que a colônia penal de Fernando de Noronha se converte em um microcosmo para a análise de temas como raça, cor, escravidão, gênero, sexualidade, punição, justiça e direitos humanos, tanto em relação à sociedade e ao Estado brasileiros quanto ao quadro atlântico ou global.
Em primeiro lugar, o autor possui o mérito de escapar das armadilhas teóricas e metodológicas de estudos sobre prisões e punições, evitando a mera reprodução ou negação do paradigma foucaultiano (“Vigiar e Punir: O Nascimento da Prisão “). Tampouco recai nas versões simplificadas do debate sobre “ideias fora de lugar” ou no reducionismo binário de categorias como arcaico e moderno, afastando-se de alguns dos vícios que acometem obras de referência sobre o tema na América Latina e no Brasil. A partir de uma apropriação muito particular dos estudos e aportes teóricos e conceituais de Erving Goffman, Lewis Coser e David Garland, Beattie esboça uma criativa analise em que a ilha, o Império do Brasil e o Atlântico (quiçá o globo) se cruzam em múltiplas escalas geográficas, sociais e discursivas do oitocentos.
Os primeiros capítulos perpassam a historia da ilha desde a colonização portuguesa até o século XIX, com sua progressiva conversão na principal colônia penal do Estado brasileiro. O autor descreve o cenário e os atores envolvidos sem perder de vista o quadro mais amplo da sociedade brasileira e do Estado e suas instituições em formação, dando-se a um luxo do qual não usufruíam os condenados em seu isolamento, em que remetiam à sua ilha como “Fernando” em oposição ao “mundo” (continente). Fernando de Noronha adquire ao longo do texto tanto a condição de espaço físico, geográfico e social quanto a de representação compartilhada e disputada pelos agentes históricos, ora como cenário idílico ora como cárcere. Assim como a escravidão, a ilha se converteu em metáfora nas representações sobre liberdade e sua negação, servindo aos mais variados discursos e interesses.
Muito transparente em relação à metodologia adotada e à documentação analisada, Beattie apresenta as contradições entre o caráter normativo dos discursos de autoridades da alta burocracia imperial, da legislação vigente e dos regimentos oficiais e a realidade cotidiana da ilha, em que militares e condenados de diversas cores e condições civis (inclusive escravos) reinventaram suas vidas e identidades. Enquanto os discursos penais da primeira metade do século XIX remetiam a um estrito controle do tempo e do espaço, a arquitetura e a rotina da colônia possuíam condições muito particulares, não decorrentes de um caráter arcaico da sociedade escravista e das instituições brasileiras, mas em parte pela própria condição geográfica insular e pelas relações sociais muito particulares desse microcosmo social. Por entre as brechas do sistema, pessoas livres conviviam com condenados, e formas de comércio e de contrabando se misturavam à rotina imposta pelos regimentos. Contudo, esse submundo de Fernando de Noronha não é tomado como a negação de sua função, mas como a face complementar (“dark twin”) típica de todo ambiente penal planejado, sendo inclusive incorporado e defendido nos discursos dos administradores.
Ao abordar o trabalho dos presos nos campos agrícolas e outras atividades, o autor apresenta um interessante paralelo entre prisão e plantation, resvalando em uma tradição de estudos de cunho marxista que relacionam a esfera da produção e as práticas punitivas (Georg Rusche e Otto Kirchheimer, “Punishment and Social Structure”; Dario Melossi e Mario Pavarini, “The Prison and the Factory”). No entanto, as aproximações sugeridas por Beattie não se pautam pela dimensão econômica, especialmente tendo em vista o caráter deficitário da produção da colônia – em oposição à alta lucratividade de grande parte das plantations do continente – e o fato de que a maioria dos condenados não retornaria à sociedade na condição de mão-de-obra disponível. Amparado nas reflexões de David Garland, Beattie adota uma abordagem pluralista e multidimensional da punição, sem recair nas fórmulas do marxismo, do paradigma foucaultiano ou do simbólico durkheimniano, mas buscando combinar esses referenciais clássicos da sociologia da punição. É o caráter de instituições disciplinares que faz convergirem os ambientes e as práticas da colônia penal, das fazendas escravistas e até mesmo de agrupamentos militares.
Ao dialogar com outras duas referências do campo da sociologia, Erving Goffman e Lewis Coser, o autor apresenta uma das contribuições mais originais da obra no quinto capítulo. Por meio do uso alargado dos conceitos “instituição total” e “instituição gananciosa” (“greedy institution”), Beattie contradiz a suposta tensão entre a instituição da família e outras instituições disciplinares nas práticas narradas em Fernando de Noronha. Na gestão da colônia penal as autoridades passaram a questionar as diretrizes normativas referentes a gênero e sexualidade – isolamento e abstinência dos condenados -, defendendo a presença de mulheres e a constituição de laços familiares heterossexuais. O casamento se converteria em política abertamente defendida pelas autoridades da ilha, como instituição voltada à disciplina e à produtividade dos condenados: a “instituição ciumenta da conjugalidade heterossexual” (“jealous institution of heterossexual conjugality”).
Outra importante contribuição decorre da análise dos conflitos entre os militares que geriam a colônia penal e as autoridades da alta burocracia estatal, em geral pressionados pelos interesses de proprietários de escravos. Desde os primeiros capítulos o autor demonstra a politização das questões penais e prisionais no processo de formação do Estado. É evidente ainda o papel da política partidária no que se refere a nomeações de cargos e práticas clientelistas, que atrelavam a gestão da ilha ao jogo político do continente. Na segunda metade do século XIX, diante dos sucessivos embates sobre a escravidão e as constantes comutações de penas de morte pela ação do poder moderador, a colônia penal de Fernando de Noronha se converteu em uma representação disputada pelos agentes sociais. Curiosamente, tanto abolicionistas como defensores da manutenção da escravidão faziam uso da comparação entre a condição prisional e a escravidão no mesmo sentido, apontando a segunda como pior que a primeira. Entretanto, enquanto abolicionistas questionavam o cativeiro como indigno e pior que a prisão, escravocratas criticavam as comutações de penas de morte em galés ou prisão, sugerindo o risco de se incentivar a criminalidade dos escravos que prefeririam correntes e grades às senzalas. Nesse discurso, a colônia penal se tornava a ilha do rei, onde os escravos se livrariam do cativeiro. Como insiste o autor, tal percepção não correspondia à realidade dos números dos crimes e de escravos em Fernando de Noronha, o que, todavia, não invalida a importância de sua representação no imaginário oitocentista.
Nesse contexto, as autoridades locais passaram a ser questionadas por membros da alta burocracia sobre as praticas de gestão da Ilha, especialmente a partir da década de 1880, com a visita de inspetores nomeados pelo Ministério da Justiça. Entre as principais divergências estavam a própria política de promoção de casamentos (“jealous institution”), o reduzido controle do tempo e do espaço de circulação dos condenados, a quantidade de trabalho imposto e a falta de segregação e hierarquização da população prisional com base na condição civil. Quanto último quesito, as autoridades respondiam aos anseios de uma sociedade que ainda legitimava a escravidão e aos interesses de proprietários que se sentiam ameaçados pela crescente rebeldia de seus cativos e pela ascensão do movimento abolicionista. Entretanto, administradores da colônia se negavam a adotar uma gestão que segregasse e punisse de forma diferenciada escravos ou libertos. Esse dado permite ao autor sugerir uma estratificação menos clara entre os condenados das mais diversas cores e condições civis, aglomerados na categoria dos pobres intratáveis (“intractable poor”), pois, na colônia penal, condenados que fossem escravos ou livres compartilhariam de condições de vida e oportunidades muito semelhantes. O autor é cauteloso e nega qualquer subsídio à ideia de uma democracia de condição civil ou racial nas prisões, argumentando apenas contra estudos que avaliaram a condição de escravos nas prisões a partir da legislação e regulamentos.
O capitulo que antecede a conclusão, intitulado “Direitos Humanos em Perspectiva Atlântica” (“Human Rights in Atlantic Perspective”) destoa em forma e conteúdo do restante do livro. No entanto, se a escolha aparentemente rompe a harmonia do texto, a reflexão de cunho ensaístico e as hipóteses levantadas conferem maior profundidade e relevância à obra. A proposta comparativa tem por foco principal Brasil e Estados Unidos no século XIX, mas inclui outros espaços do globo, inclusive para além do Atlântico. Entre os pontos levantados, dois merecem destaque. Em primeiro lugar, o autor aponta o paradoxo de o Brasil, último país a abolir a escravidão, ter sido um dos primeiros a abolir de facto a pena de morte. Esse fenômeno negligenciado pelos que estudam o tema contradiz argumentos da historiografia sobre os Estados Unidos que defendem a relação intrínseca entre pena de morte e escravidão para justificar as divergências regionais do judiciário no país. Ainda nesse quesito, o autor se une aqueles que defendem a importância da atuação de D. Pedro II na política nacional, especialmente no que se refere ao judiciário, pois se a abolição da escravidão era um tema essencialmente do Legislativo, as prerrogativas do poder Moderador lhe permitiram atuar para por fim às execuções de penas capitais, inclusive no sentido de defender internacionalmente a imagem do país.
Em segundo lugar, Beattie sustenta a hipótese de que reformas referentes às penas corporais, à pena de morte e à escravidão se cruzaram e se estimularam mutuamente, e que aquelas que se referiam a melhorias no tratamento de algumas categorias sociais abriam possibilidades para futuras reformas referentes aos grupos ainda marginalizados. A título de exemplo, reformas contra penas corporais a homens livres teriam aberto a possibilidade de debates acerca das condições de prisioneiros e, inclusive, escravos. Além do mais, como se referiam a diferentes integrantes dos grupos marginalizados da sociedade, a hipótese de reformas graduais é utilizada pelo autor para defender a categoria relativamente indiferenciada dos “pobres intratáveis” (“intractable poor”).
Por fim, o trabalho margeia o anacronismo ao se escorar no conceito de direitos humanos para retratar o fim do século XIX, sem, contudo, comprometer seus argumentos centrais. Diante da tendência de estudos sobre escravidão e raça se valerem de tal discurso, esse pecado dos historiadores pode se converter em virtude no que se refere ao posicionamento político no presente em que a obra se insere.
A partir de um estudo de caso original e ambicioso, Peter Beattie apresenta uma obra de múltiplas escalas, descrevendo as minucias do cotidiano desse microcosmo, perpassando o imaginário e os discursos da sociedade oitocentista brasileira, e utilizando de forma criativa modelos clássicos da sociologia. Um dos pontos altos do estudo, o voo panorâmico atlântico esboçado nos últimos capítulos apresenta uma promissora proposta de história comparada, que se levada adiante trará grandes contribuições para historiografia. Ainda que Brasil (ou o Atlântico) não caiba em Fernando de Noronha, Beattie faz dessa colônia penal uma janela para muitas dimensões do século XIX.
Marcelo Rosanova Ferraro – Universidade de São Paulo, São Paulo – SP, Brasil. Bolsista de Mestrado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). E-mail: marcelo.rosanova.ferraro@usp.br
BEATTIE, Peter M. Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a NineteenthCentury Brazilian Penal Colony. Durham / London: Duke University Press, 2015. Resenha de: FERRARO, Marcelo Rosanova. Fernando de Noronha e o Mundo: A Colônia Penal do Império em Perspectiva Atlântica no Século XIX. Almanack, Guarulhos, n.10, p. 498-501, maio/ago., 2015.


