Posts com a Tag ‘Faces da História (FH)’
Rethinking historical time: new approaches to presentism | Marek Tamm, Laurent Olivier
O estudo do tempo histórico (temporalidade) vem se modificando recentemente no campo da teoria e filosofia da história, como apontou Ethan Kleinberg em seu artigo Introduction: The New Metaphysics of Time, publicado em 2012. Após a publicação de Kleinberg, outros estudiosos tentaram mapear e demonstrar essas mudanças na temporalidade apontadas por ele, sendo o livro Rethinking Historical Time, New Approaches to Presentism organizado por Marek Tamm e Laurent Olivier uma resultante desta renovada forma de pensar a temporalidade. Publicado em 2019 pela Bloomsbury Academic, o livro é uma grande colaboração entre vários teóricos que desenvolveram seus capítulos e que foram organizados nessa unidade por Marek Tamm e Laurent Olivier. Leia Mais
Cavaleiro de Cola/Papel e Plástico: sobre os usos do passado medieval na contemporaneidade | Carlile Lanzieri Júnior
Segundo Febvre, a “história era filha de seu tempo”, o que já demostrava a intenção do grupo de problematizar o próprio “fazer histórico” e sua capacidade de observar. Cada época elenca novos temas, no fundo, falam mais de suas próprias inquietações e convicções do que de tempo memoráveis, cuja lógica pode ser descoberta (BLOCH, 2020, p. 7). Leia Mais
Mastodontes: a história da fábrica e a construção do mundo moderno | Joshua Freeman
Em 2010, dezoito trabalhadores da empresa de tecnologia chinesa Foxconn tentaram cometer suicídio ao pularem do telhado de uma das instalações da empresa. Quatorze deles infelizmente conseguiram. Este trágico evento foi uma das razões que levaram o historiador norte-americano Joshua Freeman a refletir a escrever Mastodontes: a história da Fábrica e a construção do mundo moderno, publicado originalmente em 2018 pela W.W. Norton, e traduzido imediatamente para o português em 2019 pela editora Todavia. O livro faz parte do esforço da editora brasileira em trazer para uma audiência nacional produções estrangeiras que versam sobre temas proeminentes do mundo contemporâneo. Neste caso, a obra traduzida busca contribuir para o debate sobre a relevância do mundo industrial nos dias de hoje e frisar o quanto este universo impactou e continua a impactar o presente.
No livro, Freeman nos traz uma história das fábricas. Mas não qualquer fábrica __ como ele mesmo salienta no começo do livro __ mas aquelas mastodônticas, que se destacaram à época de sua construção por terem suscitado na sociedade industrial uma miríade de questões políticas, culturais e econômicas, incorporando, a um só tempo, um imaginário de horror ancorado na exploração do trabalho, degradação ambiental e miséria social com a esperança de um futuro glorioso pautado na abundância material. Como o próprio autor ressalta, estas fábricas “não eram típicas” e se diferenciaram da maior parte das unidades produtivas fabris do século XIX e XX, que eram menores tanto em tamanho quanto em sofisticação (FREEMAN,2019, posição 134). Além disso, sua experiência como professor do Queen’s College (um dos principais centros de história operária dos EUA) e um representante da Nova História Social do Trabalho1 , com vasta produção em história do operariado estadunidense e publicações a respeito do capitalismo norte-americano em perspectiva global, pode ser percebida no enfoque fornecido pelo autor, que se difere dos trabalhos acadêmicos que analisam as fábricas sob o viés arquitetônico (DARLEY, 2003), e das pesquisas que as compreendem como uma componente secundária dentro do mundo do trabalho (LE ROUX, 1980). Freeman, por sua vez, busca apresentá-las como uma “instituição em si mesma”, dotada de historicidade própria, com seus aspectos políticos, culturais, econômicos e estéticos sendo compreendidos como elementos que variaram no tempo e no espaço (FREEMAN, 2019, posição 142). Leia Mais
From Franco to Freedom. The Roots of the transition to Democracy in Spain, 1962-1982 | Miguel Ângel Ruiz Carnicer
David Alegre Lorenz e Miguel Ãngelo Ruiz Carnicer (direita). Foto: La Esfera de los libros 2018 /
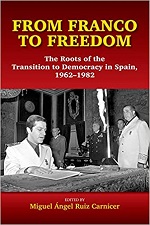 La transformación política surgida de las entrañas de la estructura estatal, en el contexto legislativo, socio-cultural e institucional del tardofranquismo, es uno de los marcos de trabajo de investigación más complejos que puedan existir a día de hoy por muy diferentes motivos. El presente libro, en formato de obra colectiva, pretende clarificar una serie de cuestiones relativas a la motivación del cambio político. Asimismo, la investigación busca la apertura de nuevos espacios temáticos, para arrojar luz sobre los factores desencadenantes de la transformación interna. La planificación del proceso de reciclaje institucional y la adopción de nuevos roles por parte de las magistraturas del Estado buscaron el establecimiento de unas pautas de comportamiento programadas (por algunos integrantes de la cúpula política de la dictadura) para evitar que el proceso de transición a la democracia se descontrolase. En términos de puridad metodológica, el periodo histórico que va desde 1962 a 1982, hace posible que el trabajo de investigación sea sólido, con fundamentos comparativos y descriptivos muy amplios.
La transformación política surgida de las entrañas de la estructura estatal, en el contexto legislativo, socio-cultural e institucional del tardofranquismo, es uno de los marcos de trabajo de investigación más complejos que puedan existir a día de hoy por muy diferentes motivos. El presente libro, en formato de obra colectiva, pretende clarificar una serie de cuestiones relativas a la motivación del cambio político. Asimismo, la investigación busca la apertura de nuevos espacios temáticos, para arrojar luz sobre los factores desencadenantes de la transformación interna. La planificación del proceso de reciclaje institucional y la adopción de nuevos roles por parte de las magistraturas del Estado buscaron el establecimiento de unas pautas de comportamiento programadas (por algunos integrantes de la cúpula política de la dictadura) para evitar que el proceso de transición a la democracia se descontrolase. En términos de puridad metodológica, el periodo histórico que va desde 1962 a 1982, hace posible que el trabajo de investigación sea sólido, con fundamentos comparativos y descriptivos muy amplios.
Miguel Ángel Ruiz Carnicer (Departamento de Historia, Universidad de Zaragoza), editor de From Franco to Freedom1 (RUIZ CARNICER, 2018), realiza una labor de coordinación e integración de trabajos notable. En líneas generales, el conjunto de las contribuciones busca la implementación de un contexto de originalidad y proporciona nuevos puntos de vista sobre la fase final de la dictadura, mediante el estudio de los condicionantes externos y los contextos internos que influyeron en los lentos ritmos del cambio. Como en el resto de su trayectoria de investigación, el editor pone el foco en la transformación de las mentalidades colectivas y el escenario socio-cultural. Los diferentes aportes a la investigación tienen una clara naturaleza multidisciplinar y una estructura bastante equilibrada (en su dimensión y en forma). El cuerpo del texto se compone de ocho capítulos, cada uno de ellos cuenta con una conclusión y un epígrafe de referencias documentales. En la parte final existe un aparatado con la información biográfica de los investigadores participantes y el índice alfabético. El trabajo no cuenta con una conclusión final conjunta. Leia Mais
De Leandro de Sevilha a Taio de Zaragoza: um estudo sobre a praxiologia política no Reino Visigodo de Toleto (séculos VI-VII) – GREIN (FH)
GREIN, Everton. De Leandro de Sevilha a Taio de Zaragoza: um estudo sobre a praxiologia política no Reino Visigodo de Toleto (séculos VI-VII). Curitiba: Editora CRV, 2019. 292p. Resenha de: PROENÇA, Vinícios da Silva. O início das unções régias no Reino Visigodo de Toledo e a valorização do papel político de Taio de Zaragoza: uma releitura. Faces da História, Assis, v.7, n.2, p.429-434, jul./dez., 2020.
As pesquisas na área de história podem sofrer revisões ao longo do tempo, uma vez que os acontecimentos do presente instigam os historiadores a questionar o passado, permitindo que temas já estudados possam ser reinterpretados. Como ensina o historiador francês Marc Bloch “O passado é, por definição, um dado que nada mais modificará. Mas o conhecimento do passado é uma coisa em progresso, que incessantemente se transforma e aperfeiçoa.” (BLOCH, 2002, p. 75). Esse é o caminho que percorreu Everton Grein, quem propôs releitura da tese de Abilio Barbero de Aguilera sobre um antigo problema historiográfico acerca do início das unções régias no Reino Visigodo de Toledo, bem como ressaltou a relevância de Taio de Zaragoza (600-683) no período pós-isidoriano como um importante elemento do florescimento cultural do século VII, algo que, na perspectiva do autor, a historiografia não se preocupou em realçar.
Abilio Barbero de Aguilera em seu livro intitulado La sociedad visigoda y su entorno histórico, dedicou o primeiro capítulo a compreender o pensamento político visigodo e às primeiras unções régias ocorridas no Ocidente europeu, haja vista que os visigodos foram os primeiros a realizá-las. Barbero de Aguilera defendeu a ideia de que a formação de uma teoria política no Reino Visigodo foi obra de Isidoro de Sevilha, tendo sido evidenciada no IV Concílio de Toledo em 633. Nesse sentido, Everton Grein também buscou com sua pesquisa compreender a concepção teórica da realeza cristã, como escolhiam e legitimavam os soberanos no interior dessa sociedade.
Fruto de uma tese de doutorado, o livro foi organizado em quatro capítulos. Munido de epístolas, atas conciliares, documentos jurídicos, dentre outras fontes sobre o tema, Grein demonstrou conhecer bem os manuscritos e a historiografia sobre o período. Vale ressaltar que, além do material tradicional sobre o tema, o pesquisador se valeu de poesias visigóticas, algo inovador na medida em que tais fontes, na perspectiva de Grein (2019, p. 43), foram marginalizadas pelos pesquisadores. Esse conhecimento em relação às fontes fora salientado por Luis A. García Moreno (2019), pesquisador da área, ao escrever o “Prólogo” da obra, no qual teceu elogios a Everton Grein pela finura e inteligência com que concebeu sua pesquisa.
No primeiro capítulo, o autor apontou que o reino dos godos foi construído sobre as antigas estruturas do Império Romano, tendo absorvido muitos aspectos da sua forma de organização, o que Edward Arthur Thompson (2014) constatou em sua obra Los godos en España. Na sequência, iniciou sua narrativa a partir da conversão pessoal de Recaredo ao catolicismo em 587, dando enfoque ao projeto de unificação política e religiosa intentado por Leovigildo. O referido monarca, ao associar seus filhos como consortes regni, teve de lidar com a revolta de seu filho mais velho, Hermenegildo. O pesquisador descreveu, de maneira detalhada, as implicações dessa disputa familiar para a unificação do reino e apontou como os prelados da época descreveram Leovigildo e seu filho rebelde. Ao analisar os escritos visigodos e os exteriores ao reino, observou diferenças na forma de compreender o ocorrido, sendo alguns apoiadores de Hermenegildo enquanto outros ficaram ao lado de Leovigildo.
Notou-se que, pelo menos em Hispania, os clérigos optaram por ficar do lado de Leovigildo que, embora ariano, tinha um projeto de unificação para o povo godo da península. Findadas as disputas, foi a missão de Recaredo concluir o projeto de seu pai, convertendo o reino visigodo em católico através do III Concílio de Toledo, sob a presidência de Leandro de Sevilha. Tal bispo foi descrito pelo autor como figura central na consolidação dos visigodos como herdeiros do Império Romano, tendo no III Concílio de Toledo adotado insígnias correspondentes ao período imperial, dando a conotação de que Recaredo seria o continuador de tal herança. Além disso A ideia de realeza entre os godos ganhou, portanto, a partir do III Concílio de Toledo, contornos mais nítidos daqueles que até então se apresentavam. O papel desempenhado pelo bispo Leandro de Sevilha foi determinante no processo de edificação do conceito de realeza cristã entre os godos. (GREIN, 2019, p. 81).
Everton Grein concluiu que o prelado foi o articulador da conversão dos visigodos ao catolicismo e o promotor da cristandade em Hispania. Dessa maneira, o pesquisador procurou ressaltar a relevância de Leandro de Sevilha para esse contexto, pois em alguns estudos o papel do prelado fica eclipsado por seu irmão mais novo, Isidoro. Contudo, é necessário destacar a ideia de unificação entre os godos é problemática, uma vez que esses grupos não podiam ser considerados homogêneos dado os múltiplos interesses das várias facções políticas. A ideia de que Leovigildo teria alcançado uma forma de coesão nos parece mais apropriada. Também se faz necessário destacar que, mesmo após a conversão oficial do reino visigodo ao catolicismo em 589, as práticas ditas pagãs permaneceram vivas na sociedade visigótica, não sendo apenas meros resquícios, mas parte da religiosidade popular, algo que Grein pouco explorou em sua pesquisa.
Ao final do primeiro capítulo, o autor destacou o papel de Isidoro de Sevilha e suas contribuições para a formação de uma teoria política no reino visigodo, apontando que anteriormente ao IV Concílio, o prelado já teria esboçado suas concepções através de suas Sentenças e Etimologias. Everton Grein concluiu que De fato, a partir de inferência do pensamento de Isidoro de Sevilha – com a sacralização da instituição monárquica – verifica-se na Hispania visigoda uma espécie de necessidade de ajustamento entre Igreja e Estado, cuja expressão que melhor definiria tal necessidade seria a elaboração de uma teoria política que tomava como princípio o aspecto religioso, portanto, o caráter sagrado do poder. (GREIN, 2019, p. 97).
Já no segundo capítulo, o autor teve por objetivo versar sobre a consolidação do reino visigodo católico, bem como apresentou a praxiologia política aplicada ao século VII. Tomada de empréstimo da filosofia e sociologia, tal área de estudo visa compreender “as ações humanas, suas leis e comportamentos” (GREIN, 2019, p. 99). Dessa maneira, o pesquisador procurou analisar como determinados contextos produzem certos comportamentos. Embora o autor tenha realizado o trabalho utilizando a referida metodologia, já que a mesma centra sua análise nas ações dos indivíduos em determinadas situações, outro aporte metodológico que também poderia ter trazido resultados satisfatórios são os estudos discursivos, os quais poderiam lançar luz sobre o contexto em que tais narrativas foram produzidas, assim como sua efetividade ou não ao longo do tempo.
No tocante à consolidação da Monarquia católica, Grein destacou que, após o III Concílio de Toledo, Igreja e Estado precisaram se ajustar uma à outra, considerando-se que ambas eram as duas principais instituições de poder. Isidoro de Sevilha teve papel central nessa aproximação entre as instituições, pois contribuiu para o desenvolvimento do caráter sagrado da Monarquia. O pesquisador também salientou a importância de Bráulio de Zaragoza (590-651) no contexto analisado, por ter sido sucessor de Isidoro e ter vivido nesse período conturbado da primeira metade do século VII. Bráulio esteve presente no IV, V e VI concílios de Toledo, sendo considerado conselheiro dos monarcas Chintila, Chindasvinto e Recesvinto. Dessa maneira, o prelado esteve presente em momentos conturbados da história visigoda, período esse marcado por deposições e legitimações contraditórias.
Mesmo com a sacralização da realeza, na prática, as usurpações continuaram a ocorrer, sendo o IV Concílio de Toledo em 633 um exemplo disso. Suintila teve seu trono tomado por Sisenando em 631 que, com apoio da Igreja e dos francos, usurpou o trono. Tal acontecimento foi sui generis não pelo fato de ser uma usurpação, algo recorrente entre os godos, mas por ter sido legitimada no IV Concílio de Toledo. O referido concílio assemelhou Sisenando ao rei bíblico Davi, colocando-o como ungido do Senhor e tentando proteger o monarca de posteriores deposições. Esse cenário instável para os monarcas foi percebido em governos subsequentes, como o caso de Chintila (636-639) o qual sucedeu Sisenando. Everton Grein apontou que, no V Concílio de Toledo em 636, o então monarca teve por preocupação salvaguardar sua família e procurou legitimar-se enquanto governante. Com esses dados, pode-se perceber, mesmo com a sacralização da figura do monarca, sua segurança nem sempre foi assegurada.
Durante todo o terceiro capítulo, o pesquisador procurou ressaltar a relevância de Taio de Zaragoza, descrevendo sua inserção no cenário visigótico do século VII, bem como sua produção literária. Everton Grein, apontou como se dava a circulação dos manuscritos nessa sociedade, e também versou sobre a viagem de Taio a Roma. Grein salientou que “com efeito, nossas fontes da época, parecem de fato apontar que o fito da viagem de Taio foi a busca das obras de Gregório Magno” (GREIN, 2019, p. 139). O autor informou que as motivações que levaram Taio a ir para Roma possuem outras interpretações. Outro ponto evidenciado por Grein é a quantidade de epístolas produzidas no século VII, bem como suas potencialidades para se compreender tal contexto histórico.
Ao final do capítulo três, o autor analisou a obra Sentenças, escrita por Taio de Zaragoza, bem como a influência que Isidoro de Sevilha, Gregório Magno e Agostinho de Hipona tiveram nas obras do prelado. Grein ainda evidenciou que Taio de Zaragoza não era um simples compilador desses autores, mas alguém com uma leitura muito apurada e uma grande capacidade de síntese. O autor também relatou uma possível mudança na visão sobre o papel do rei e da realeza cristã no período de Taio de Zaragoza. Nesse sentido, o último capítulo teve como objetivo propor uma releitura, utilizando como base o livro V das Sentenças de Taio, sobre o pensamento político visigodo e as primeiras unções régias, tendo sugerido um novo ponto de vista sobre o tema.
No último capítulo, o autor fez uma exposição pormenorizada sobre a tese de Abilio Barbero de Aguilera, apontando como o visigotista construiu sua interpretação. Grein evidenciou a relevância de Isidoro de Sevilha na concepção da realeza visigoda cristã, e resumiu a perspectiva de Barbero de Aguilera sobre a teoria política isidoriana ao escrever que Compreendida desse modo por Abilio Barbero, a teoria política elaborada por Isidoro de Sevilha apresenta pelo menos três pontos essenciais a considerar; a) para Barbero, a doutrina política isidoriana deriva ante do aspecto teórico do que prático; b) ainda que as condições em que se produziu a teoria isidoriana fosse em virtude dos desmandos e dos crimes de Suintila, bem como a usurpação de Sisenando, o ponto fundamental da doutrina era atribuir legitimidade às ações do usurpador face a atmosfera política do reino naquele momento; c) finalmente, através da citada doutrina, Isidoro atribui à Igreja, e unicamente a ela, a auctoritas sobre a condução e a destituição do régio poder. (GREIN, 2019, p. 177).
Nesse sentido, Everton Grein argumentou que a doutrina política isidoriana teria um caráter mais teórico do que prático, tendo ressaltado as condições e as motivações de sua confecção. Outro aspecto salientado por Grein fora o fato de que, a partir do IV Concílio de Toledo, a Igreja passou a ter um papel fundamental como representante da nobreza, tendo sua influência ampliada no referido concílio. Ao final de sua obra, o pesquisador procurou demonstrar que a teoria política visigoda se iniciou no século VI com Leandro de Sevilha, tendo Bráulio e Taio de Zaragoza um papel expressivo nessa formulação ao longo do século VII. Dessa maneira, Everton Grein procurou mostrar que tal empreendimento não fora obra exclusiva de Isidoro de Sevilha.
Em relação às unções régias, diferentemente de Barbero de Aguilera que apontou para seu início no IV Concílio de Toledo em 633, Grein argumentou que tal prática teria se iniciado com Recesvinto em 653. Isso porque, ao analisar o escrito de Juliano de Toledo, Historia Wambae Regis, notou-se que o prelado fez menção ao fato de tal prática seguir um antigo costume godo. Tendemos a discordar de Grein em relação ao início das unções régias no reinado de Recesvinto. Na perspectiva de Barbero de Aguilera (1992, p. 68), é possível que as unções tenham se iniciado na época de Sisenando, haja vista que foi no IV concílio de Toledo onde se teve pela primeira vez a referência de que o rei seria um “ungido do Senhor”. Nas atas conciliares (VIVES, 1963, p. 217), podemos observar a alusão ao Salmos 105:15 onde se alerta a não tocar nos ungidos de Deus, bem como a associação de Sisenando à figura bíblica de Davi. Pode-se verificar que Sisenando adquiriu no referido concílio a aparência de um rei ungido de Deus, possuindo legitimidade para governar assim como o Davi bíblico de outrora. Dessa maneira, baseado na associação feita com a narrativa bíblica pelo concílio, tendemos a acreditar que Sisenando teria sido o primeiro monarca godo que experenciou a unção régia no Reino Visigodo.
A tese não apresentou ineditismo quanto ao tema, pois o início das unções régias no Ocidente goza de ampla bibliografia, mas teve sua inovação na proposta do pesquisador de apontar uma nova leitura sobre o início das unções régias, além do fato de ter ressaltado a relevância política de figuras como Leandro de Sevilha e Taio de Zaragoza, o que pode contribuir para o surgimento de pesquisas voltadas à compreensão do papel que esses prelados desempenharam em seus contextos.
Referências
BARBERO DE AGUILERA, Abilio. El pensamiento político visigodo y las primeras unciones regias en la Europa Medieval. In: BARBERO DE AGUILERA, Abilio. La sociedad visigoda y su entorno histórico. XXI, Siglo vinteuno de España. Madrid: Editores,1992. p. 1-77.
BLOCH, Marc. Apologia da história, ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
GARCÍA MORENO, Luis A. Prólogo. In: GREIN, Everton. De Leandro de Sevilha a Taio de Zaragoza: um estudo sobre a praxiologia política no Reino Visigodo de Toledo (séculos VI-VII). Curitiba: Editora CRV, 2019. p. 17-18.
GREIN, Everton. De Leandro de Sevilha a Taio de Zaragoza: um estudo sobre a praxiologia política no Reino Visigodo de Toledo (séculos VI-VII). Curitiba: Editora CRV, 2019.
THOMPSON, Edward Arthur. Los godos en España. Madrid: Alianza editorial, 2014.
VIVES, José. (Ed.). Concílios Visigóticos e Hispano-Romanos. Ed. Bilingue (Latim-Espanhol). Madrid: CSIC, 1963.
Vinícios da Silva Proença – Graduado em História pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Assis-SP, e Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação da mesma Instituição. E-mail: vinicius-v-8@hotmail.com.
[IF]Los indígenas y la construcción del Estado-Nación. Argentina y México, 1810-1920: historia y antropología de un enfrentamiento – BERNAND (FH)
BERNAND, Carmen. Los indígenas y la construcción del Estado-Nación. Argentina y México, 1810-1920: historia y antropología de un enfrentamiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Prometeo, 2016. Resenha de: ZAPATA, Horacio Miguel Hernán. Los pueblos indígenas en la construcción Nacional de Argentina y México: un contrapunto de experiencias sociohistóricas (1810-1820). Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.480-485, jan./jun., 2020.
La participación de las sociedades indígenas dentro de los procesos de creación y afianzamiento de los Estados nacionales constituye una de las tantas problemáticas que ha marcado tanto la historiografía como la antropología latinoamericanas de las últimas décadas. Sin duda, a ello han contribuido de forma significativa, por un lado, antropólogos formados en la tradición de una Etnohistoria interesada por entrever la “perspectiva del otro indígena en las situaciones de dominación colonial y estatal” (ROJAS, 2008). En segundo lugar, han contribuido a ello también aquellos historiadores enrolados en una historia social y política “desde abajo”, preocupados por ofrecer nuevas aproximaciones a las diversas experiencias históricas de los grupos sociales subalternos – en relación con los grupos hegemónicos– a lo largo la historia. En efecto, el desarrollo de investigaciones empíricamente fundadas en la interpretación de viejas y nuevas fuentes a partir de enfoques y metodologías renovadas, ha permitido que historiadores y antropólogos pudiesen “ensanchar la base de la historia” (SAMUEL, 1984, p. 17) y explorar “una dimensión desconocida del pasado” (HOBSBAWM, 1998, p. 207-208) o, más bien, un aspecto de las culturas nacionales mal conocidas y sobre las que pesan no pocos mitos y polémicas. A partir del fortalecimiento de esta línea de trabajo innovadora, contamos con más elementos para acabar con las miradas que han concebido a las comunidades indígenas como objetos pasivos de las políticas impuestas en el pasado y el presente.
Como consecuencia, en los nuevos estudios e interpretaciones histórico-antropológicas los pueblos indígenas se nos presentan como verdaderos actores, sujetos constructivos y activos frente a la realidad que los contiene y que se transforma continuamente a través de las sucesivas adecuaciones, inventivas e impugnaciones barajadas gracias a su capacidad de agenciar – de manera armónica o contradictoria – distintos bienes, prácticas y representaciones del mundo en que viven. Precisamente gracias a que existen estos incesantes esfuerzos de distintos académicos por producir conocimiento social sobre las comunidades originarias es que hoy contamos con el libro Los indígenas y la construcción del Estado-Nación. Argentina y México, 1810-1920, de la afamada etnohistoriadora francesa Carmen Bernand. Elaborado y publicado originalmente como un manual destinado a abordar el tema del concurso de acceso a la condición de profesor de la enseñanza pública en Francia, el presente libro constituye la versión traducida al castellano y mejorada por su propia autora, convirtiéndose en una voluminosa obra dedicada a presentar – como bien indica su título – un estudio de antropología histórica comparada de los complejos vínculos entre los indígenas y los nuevos Estados nacionales surgidos a partir del descalabro del otrora imperio español.
Como podrá advertir el lector avezado, su redacción obligó a reunir y compaginar un creciente y heterogéneo universo de resultados de investigación sobre diferentes objetos y en diversos registros, propios y ajenos, cuya articulación no siempre resulta evidente, en una narración atrapante donde su objeto nunca se desdibuja. Su composición permite ver con claridad tanto las líneas maestras del oficio como la manera, precisa y elocuente, de trabajar con un corpus significativo de fuentes (correspondencia oficial y personal, periódicos, informes de comandancias de frontera, los registros de gastos de compensaciones, memorias particulares y diarios de viajeros) en un esfuerzo para comprender, de manera vívida y sugerente, los significados que una sociedad atribuye a los acontecimientos en los que participa. Si bien los argumentos vertidos a lo largo del libro – en la mayor parte de los casos – no son naturalmente novedosos para los especialistas, el mismo no carece de la profundidad propia de las obras que obligan a ajustar cuentas con los estudios anteriores y marcan pautas para futuras investigaciones, sobre todo en lo que se refiere a la principal hipótesis de la autora. Y es que el objetivo central de Bernand es demostrar que los grupos indígenas fueron partícipes de los dramáticos avatares derivados de la conformación de los actuales Estados republicanos de México y Argentina a lo largo del siglo XIX, ya que – en tanto agentes activos – tejieron relaciones de negociación, conflicto y subordinación con las elites en el poder.
Sin embargo, pese a su nueva adaptación, la investigadora logró conservar esa particular “identidad mestiza” (VIAZZO, 2003), que supo imprimirle al ensayo original, desdibujando las fronteras entre Antropología e Historia, combinando un conjunto de preocupaciones teóricas del campo antropológico con el andamiaje empírico que provee del decurso histórico. En este sentido, el lector podrá observar que en la arquitectura global del libro hay secciones que resultaron más históricas, mientras que otras se tornaron más antropológicas; ello no quita que, por momentos, el abordaje conjugue ambos enfoques. Ciertamente, la obra divide el estudio de las trayectorias indígenas en dos grandes partes. Bajo el subtítulo de “Jalones”, la primera parte expone y analiza los principales hechos en el orden cronológico en el que se presentaron a lo largo de un apartado introductorio y siete capítulos. Los capítulos, a su vez, se hallan delimitados a partir de distintos clivajes temporales que responden – en términos generales – a una periodización secular significativa para ambos países, cuyo inicio arranca en el año 1810 y su cierre alrededor de inicios de la década de 1920. Si bien la decisión de Bernand de recurrir a una periodización inconveniente (por su apego a efemérides patrias o convenciones historiográficas tradicionales, pero no así a las dinámicas del mundo indígena), es indudable que la misma se convierte en un mapa de lectura muy útil.
De ese modo, en el capítulo introductorio se presentan cuestiones que la autora entiende como fundamentales para la comprensión del recorrido histórico de los siguientes acápites, como la situación en los Virreinatos de Nueva España y del Río de la Plata a fines del siglo XVIII, dos territorios mucho más extensos que las repúblicas que llevaran los respectivos nombres de México y Argentina, los caracteres y dinámicas sociales de los grupos indígenas que habitaban más allá de las fronteras de ambas jurisdicciones, las descripciones etnográficas sobre éstos legadas por funcionarios, misioneros y viajeros y los fundamentos políticos sobre los que se erigieron las jóvenes repúblicas. Seguidamente, en los capítulos primero y segundo, la autora describe los corolarios producidos sobre las poblaciones indígenas por el proceso de la insurgencia en México y en las Provincias Unidades del Sur. A continuación, los capítulos tres y cuatro reconstruyen el largo período caracterizado por una sucesión de guerras civiles y de conflictos internacionales abiertos luego de la independencia política de ambos países.
Allí, Bernand sitúa al indígena dentro del conjunto de grupos socioétnicos que tomaron parte, según sus propios intereses y oportunidades, en los conflictos que forjaron los Estados republicanos modernos, historizando las acciones emprendidas por las distintas facciones políticas criollas en pugna (caudillos unitarios y federales en el caso del Río de la Plata y liberales o conservadores en el caso del México), para ganar la colaboración militar de algunas de las parcialidades indígenas y los diversos posicionamientos que éstas últimas adoptaron. Resultado de esa participación fueron, como muy bien explica la autora, la progresiva pérdida de la autonomía y los enfrentamientos interétnicos que comenzaron a vivirse dentro de las propias sociedades indígenas. A su vez, a lo largo de los capítulos cinco, seis y siete, se explora cómo el triunfo de las políticas librecambistas, la vinculación de ambas regiones con el mercado mundial y los procesos de consolidación de la soberanía territorial exigieron la anexión de nuevas áreas productivas y un fuerte disciplinamiento social, acentuando las políticas ofensivas de ambos Estados contra los aborígenes y volviendo imposible su existencia de éstos como formaciones sociales independientes. El relato prosigue con la situación de las comunidades una vez que las empresas de expansión territorial colocaron paulatinamente las últimas “fronteras interiores” bajo el control del nuevo Estado. Se examina la forma en que los miembros de comunidades indígenas que sobrevivieron a tal embestida perdieron total autonomía y pasaron a ser incluidos en forma subordinada a las sociedades nacionales de Argentina y México, como ciudadanos de segunda clase entre fines del siglo XIX y principios del XX.
Al finalizar este primer gran apartado, cualquier lector quedará con la sensación de haber recorrido una historia propiamente hablando, en la cual es posible identificar algunas coyunturas claves o episodios específicos, que operan como disruptivos en la dinámica de interacción socio-política general y, sobre todo, ciertas transformaciones ocurridas en los vínculos entre indios y cristianos a lo largo del período de estudio, sin perder de vista las continuidades que se manifestaron en la larga duración. Además, desde ese marco temporal amplio, el lector también podrá observar las rupturas y continuidades en la vida de los pueblos indígenas durante la formación de las culturas nacionales de cada país, así como también las similitudes y contrastes que existieron entre los casos argentino y mexicano. Ello, sin duda, llevará a los lectores a prestar atención a las características regionales; al tipo de intereses conjugados en las relaciones interétnicas; al carácter de frontera o de dominación ya consolidada de los ámbitos que estructuraban estas relaciones; a las modalidades jurídicas y legales ofrecidas por los sucesivos gobiernos en los diferentes contextos sociohistóricos; y, finalmente, a los rasgos sociopolíticos de las poblaciones indígenas. De allí se desprende la intención de dar cabida a ciertas individualidades a medida que entran en escena, en función de ciertos problemas y la importancia asignada a correspondencias con la trama social en la que se insertan. En efecto, a lo largo del libro las ejemplificaciones ofician como una herramienta interpretativa – no la única, por supuesto – capaz de dar cuenta del carácter complejo de las interacciones y conflictos que caracterizaron el vínculo de los indígenas con las diversas instancias estatales de cada país y de las miradas opuestas o alternativas que unos y otros construyeron en aras de definir la forma de inclusión de “lo indígena” a las culturas nacionales en definición. Para la autora, el hecho que las sociedades indígenas fueron las grandes derrotadas en la construcción estatal constituye un desenlace humanamente trágico a la vez que paradójico, puesto que en ese mismo momento ambas sociedades atravesaban sus primeras experiencias de ampliación política democrática: ya sea a través de la vía reformista seguida en Argentina y expresada en la ley Sáenz Peña (que garantizaba el derecho al voto universal, secreto y obligatorio), cuya aplicación llevó a la presidencia al radical Hipólito Yrigoyen en las elecciones de 1916; ya sea a través de la vía revolucionaria ocurrida en México, la cual se manifestó en el estallido de la Revolución agraria en 1910 y concluida en 1917.
Bajo el título de “Problemáticas”, la segunda parte del libro comprende un conjunto de textos que se alejan de un abordaje de tipo cronológico y, organizados en los restantes cinco capítulos, tienen por propósito profundizar la complejidad de los modos de organización y cosmovisión de las sociedades indígenas y sus transformaciones a lo largo del período analizado. Consciente del desafío de bosquejar esta complejidad lo más claramente posible para el lector no especialista, alejado de las eruditas y no siempre fáciles discusiones metodológicas, la autora estudia – del capítulo ocho al once – el largo devenir de la agencia indígena desde ciertos nudos problemáticos. De ese modo, Bernand explora la estructura y funcionamiento de los cacicazgos, las múltiples dinámicas (alianzas políticas, conflictos armados, intercambios comerciales y procesos de mestizaje) que tenían lugar en los espacios de frontera, la conversión de los indígenas en proletarios a partir de su desarticulación (en el caso argentino), la pervivencia de las economías campesinas a partir de los procesos de comunalización (en el caso mexicano) y, finalmente, el impacto heterogéneo del catolicismo – con sus misiones y cofradías, fiestas y rituales – sobre la cultura de los pueblos nativos. Por último, en el capítulo doce, Bernard analiza el vínculo entre los indígenas y la memoria a partir de los distintos significados adjudicados a este último concepto como narración identitaria, como representación visual y como relato experiencial. Para ello la autora identifica y describe los contrastes existentes entre las configuraciones particulares que asumen las formas de recuerdo (u olvido) de “lo indígena” en el arte, la fotografía, el folklore, las coleciones patrimoniales de los museos y las etnografías. Si bien los temas nativos fueron retomados por ciertas vertientes del nacionalismo cultural de las décadas de 1910 y 1920, Bernand indica que los indígenas fueron valorados únicamente en función de ciertas producciones estéticas de su cultura que, desde una mirada occidental, resultaban curiosas, llamativas y exóticas. Esta apreciación prejuiciosa y estereotipada tuvo su correlato en el largo y progresivo proceso de negación y olvido generalizado de la participación del indio en la historia patria. Sin embargo, Bernand concluye que esa misma memoria oficial se ha visto impugnada a partir de los procesos de reemergencia identitaria y, en particular, de las acciones llevadas adelante por líderes y organizaciones indígenas para la reivindicación de sus derechos y territorios, tanto en México como en Argentina, a finales del siglo XX y principios del nuevo milenio.
Por lo antedicho, no solamente nos hallamos frente a un insumo bibliográfico básico para el investigador y para el formador de docentes e investigadores, sino también una muy buena obra de divulgación, adecuada e interesante para un público que rebasa el ámbito de los especialistas en temas indígenas. Y es aquí donde reside una de sus principales virtudes: logra brindar al lector lego una imagen clara, precisa y equilibrada de las diversas contingencias que atravesaron las relaciones que los diversos gobiernos establecieron con los indígenas durante la formación del Estado en ambas experiencias nacionales a través de una síntesis elaborada con un lenguaje sencillo y desprovisto de los tecnicismos propios de la jerga académica. Pero otra virtud del libro, quizás menos visible pero ciertamente válida, es que se trata de una obra que saca a la luz significados que son posibles de extraer a través de un minucioso trabajo forjado donde el pasado histórico nos sacude y nos arroja involuntariamente a reflexionar sobre el presente y el futuro de los pueblos originarios en América Latina.
Referencias
HOBSBAWM, Eric. Sobre la Historia. Barcelona, España: Crítica, 1998.
ROJAS, José Luis de. La Etnohistoria de América. Los indígenas, protagonistas de su historia. Buenos Aires, Argentina: Editorial SB, 2008.
SAMUEL, Raphael. Historia popular y teoría socialista. Barcelona, España: Crítica-Grijalbo, 1984.
VIAZZO, Pier Paolo. Introducción a la Antropología Histórica. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003.
Horacio Miguel Hernán – Magister Internacional en Ciencias Humanas y Sociales por el Instituto de Desarrollo Humano de la UNESCO, Madrid, España. Docente-Investigador de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Resistencia, Argentina. Formador de Formadores en la Dirección de Nivel Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes, Argentina. Correo electrónico: horazapatajotinsky@hotmail.com.
[IF]Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX) – DOMINGUES et al (FH)
DOMINGUES, Ângela; RESENDE, Maria Leônia Chaves de; CARDIM, Pedro (orgs). Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX). Lisboa: Atlantica Lisbon Historical Studies. Centro de História da Universidade de Lisboa, CHAM – Centro de Humanidades (NOVA FCSH-UAc) e Programa de Pós-Graduação em História/Universidade Federal de São Joao del-Rei (PPGH-UFSJ), 2019. 364 p. Resenha de: ARAÚJO, Lana Gomes de. Protagonismos indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.486-492, jan./jun., 2020.
Em 2019, sob a organização de Ângela Domingues, Maria Leônia Resende e Pedro Cardim, foi publicado o livro Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX) composto por vários artigos de pesquisadores que entendem a sociedade colonial não só como um espaço dinâmico, mas complexo, diverso e criativo, onde o tratamento dado aos indígenas gerava uma pluralidade de respostas e das suas justiças frente à cultura jurídica da sociedade colonial da América espanhola e portuguesa.
Abrindo as discussões, Ailton Krenak denuncia as violências reais e simbólicas sofridas pelo povo Krenak ao longo dos séculos. Foram perseguidos, tiveram suas famílias escorraçadas, massacradas, despejadas, expulsas de suas próprias terras e perambularam por diversas regiões do Brasil. Situação agravada durante o regime militar, quando juntamente com outras etnias foram jogados em um Reformatório, sob a desculpa governamental de que precisavam ser reeducados, enquanto tomavam-lhes as suas terras. Terras que as famílias indígenas nunca desistiram.
Em Os Povos Indígenas, a dominação colonial e as instâncias de Justiça na América portuguesa e espanhola, Pedro Cardim discute os esforços dos próprios indígenas ao longo da história em se afirmarem enquanto grupo étnico. Apontando que o movimento indígena, a produção acadêmica mais recente desenvolvida pelos próprios pesquisadores indígenas, a aproximação da história com outras disciplinas, métodos, conceitos, assim como as técnicas de manuseio de fontes documentais e as influências do conceito de subaltern studies1, têm sido importantes ferramentas para “superação dos silêncios nada inocentes e mostrar a voz e o rosto dos ameríndios”2. (FISCHER, 2009 apud CARDIM, 2019, p.31) Apesar dos avanços, Pedro Cardim destaca que é preciso estar atento ao “vocabulário da conquista” (CARDIM, 2019, p. 41), referindo-se aos termos comumente encontrados nos documentos coloniais como “índio”, “gentio”, “bárbaro” e outros. Uma vez que estes possuíam efeitos jurídicos diferentes dentro do cenário da América portuguesa e podiam significar manutenção ou perda de direitos, por exemplo.
Em Da ignorância e rusticidade: os indígenas e a inquisição na América portuguesa (séculos XVI-XIX), Maria Leônia Resende traz uma importante abordagem sobre a atuação do Tribunal da Inquisição e como a produção historiográfica sobre tratou o tema, apresentando uma luta ideológica entre as diversas facções religiosas da Europa na Idade Moderna: ora uma visão detratora por sua crueldade, ora pelo certo grau de misericórdia diante aos considerados ataques ao catolicismo.
Todavia a história institucional do dito Tribunal se deu no plural na Europa e nos domínios ultramar, ao ponto de podermos afirmar que houve Inquisições. E, os estudos das denúncias e processos têm mostrado as maneiras que a Inquisição lidou com as expressões das práticas religiosas, costumes e culturas indígenas tendendo, muitas vezes, em uma interpretação jurídica-canônica mais benevolente para as “populações desprotegidas”, fundamentada no uso do conceito “persona miserabilis” e da “ignorância (in)vencível”.
O conceito de persona miserabilis permeia o debate de outros pesquisadores, como o de Jaime Goveia, Maria Regina Celestino de Almeida, Hal Lagfur e de Pedro Cardim. Este último, inclusive, compreende que a classificação de miserabile garantia certa proteção aos indígenas, situando-os numa condição especial frente à Inquisição, aos tribunais ordinários, ou ainda, aos colonos, sustentadas por uma posição evangelizadora mais benevolente. Esse entendimento, de pessoas “miseráveis, ignorantes, pessoas rústicas”, fazia com que acreditasse que os indígenas eram incapazes de dar conta dos seus próprios erros, por não terem consciência plena do “pecado”.
As principais denúncias contra os indígenas fundamentavam-se em questões de feitiçaria, adivinhações, bigamia, blasfêmias, por comerem carne em dias proibidos e até por pequenos roubos, como foi o caso de Anselmo da Costa. Este, um jovem índio de 14 anos, confessou ter roubado pequenos adereços e pedaços de fita do berço do Menino Jesus para confeccionar uma bolsa de mandigas, a fim de se livrar dos perigos de mordidas de cobras e onças. O jovem passou 4 anos no cárcere, mas teve seu processo encerrado quando o Tribunal alegou sua capacidade de discernimento (RESENDE, 2019, p.113).
Em Sem medo de Deus ou das justiças (…), a professora Ângela Domingues analisou os “poderosos do sertão” através dos discursos do capitão-mor e governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado na Capitania do Grão-Pará e como eles estavam alinhados com a política pombalina. De acordo com ela, através da análise desse período administrativo é possível perceber as estratégias, alianças e negociações interétnicas, revelando situações em que os indígenas passaram a ser considerados infratores por não se enquadrarem nos projetos do Estado para a Amazônia e desafiarem a vontade dos poderosos da região.
Em Índios, territorialização e justiça improvisada nas florestas do sudeste do Brasil, Hal Langfur levanta uma interessante questão acerca da implementação da justiça no Brasil colonial imposta em prejuízo aos indígenas. Segundo ele, a legislação colonial mascarou uma realidade jurídica, retirou os índios das suas terras, legitimou o trabalho forçado etc., mas “os indígenas não aceitaram esta perseguição jurídica sem resistência” (HANGFUR, 2019, p.157).
Jaime Gouveia, em Os indígenas nos auditórios eclesiásticos do espaço luso-americano, debate sobre as relações envolvendo os povos indígenas e a justiça episcopal no período colonial, tema que gerou algumas generalizações equivocadas, sobretudo, por não ter existido no caso português um “direito canônico” como existiu na América hispânica.
No Brasil, os auditórios tinham alçada sobre todo o clero secular – excetuando alguns crimes (como os de lesa-majestade e disputas relativas aos bens da Coroa) – e leigos (membros da Capela Real e das ordens militares). E poderes quanto a matéria, ou seja, sobre a natureza dos delitos, abrangendo os pecados públicos, independente dos autores serem leigos ou eclesiásticos. Mas, não tinha competência para julgar as consideradas heresias indígenas.
Porém, com os índices populacionais nos territórios indígenas, as necessidades de evangelização esbarravam na escassez de estruturas necessárias a esse exercício, passando a exigir responsabilidades mais amplas. De todo modo, os processos judiciais contra os réus indígenas decorriam na mesma formalidade de praxe dos não-indígenas, com exceção do privilégio jurisdicional de miserabilidade, que era visto como concessão de uma graça do direito canônico aos indígenas.
No sétimo artigo, Maria Regina Celestino de Almeida apresenta uma nova versão de dois capítulos de seus livros publicados em 2005 e 20093, desenvolvendo uma relevante análise sobre a cultura política indígena e política indigenista no Rio de Janeiro colonial através das disputas jurídicas sobre as terras e a identidade étnica dos índios aldeados entre os séculos XVIII e XIX. Evidenciando o fato de que, para evitarem a perda total de suas terras, os indígenas passaram a assumir nitidamente a identidade de índios aldeados e súditos cristãos, assumindo uma posição de privilégios em relação aos negros e índios escravos (ALMEIDA, 2019, p. 221).
Isso porque, assumindo essa condição, podiam solicitar mercês, ter direito à terra, embora uma terra reduzida. Tinham direito ainda a não se tornarem escravos, embora obrigados ao trabalho compulsório. Por fim, o direito a se tornarem súditos cristãos, embora tivessem de se batizar e abdicarem de suas crenças e costumes. Sendo que as lideranças ainda tinham direito a títulos, cargos, salários e prestígio social, o que dentro de condições limitadas, restritas e opressivas, eram possibilidades de agir para valer o mínimo de direito assegurado por lei.
Como parte das investigações mais recentes, escrito em espanhol, o artigo de Pablo Ibáñez-Bonillo, Procesos de Guerra Justa en la Amazonía portuguesa (siglo XVII), aponta a influência indígena na construção das fronteiras coloniais, partindo da premissa de que a guerra justa é uma ferramenta para se explorar as relações de fronteira. Com isso, a construção de alteridades e a influência das dinâmicas indígenas na história colonial não podem ser vistas como um mecanismo de dominação, mas sim um processo mais amplo de negociação e resistência.
O texto do professor Juan Marchena e da Nayibe Montoya (2019) traz um valioso estudo sobre as justiças indígenas andinas e sua relação com a aprendizagem da cultura escrita. Os autores destacam que as sociedades originárias lutaram e lutam permanentemente pela independência, justiça, dignidade e necessidade de combater a pobreza, não se renderam, não se deixaram comprar, mesmo enquanto eram abatidos e destruídos. Sendo que, com a luta mantida durante os séculos até o presente, por suas terras, cultura e identidade, representam uma luta que deveria ser de todas e todos nós.
Por fim, o artigo de Camilla Macedo alude sobre a propriedade moderna e a alteridade indígena no Brasil entre meados de 1755-1862, partindo da análise da implementação do Diretório dos Índios e suas implicações para as questões de terra e propriedade privada, observando as rupturas e continuidades através das políticas indigenistas na transição da jurisdição eclesiástica para a secular, envolvendo os indígenas, administradores coloniais, religiosos etc.
Com esta obra, os autores dão continuidade ao relevante trabalho que o movimento indígena juntamente com os historiadores e antropólogos vêm desenvolvendo ao longo das últimas décadas. As reflexões contribuem para a percepção de que os homens e mulheres indígenas foram e continuam sendo protagonistas das suas próprias histórias através das suas ações, ressignificações e agenciamentos4 frente aos ditames da Coroa portuguesa.
As pesquisas apresentadas nos permitem refletir acerca dos regimes de memória5, trabalhados e discutidos por João Pacheco de Oliveira (2011), que construíram no Brasil imagens preconcebidas sobre os índios, definindo-os e limitando-os negativamente, condicionando o indígena exclusivamente ao passado colonial e estereótipos como de nomadismo, bravura ou de exuberante beleza extraído da literatura romântica.
Além de ressaltar as questões de estratégias e que interações proporcionadas pelos contatos interétnicos na realidade política colonial eram plurais, como fez a professora Maria Cristina Pompa (2001). E problematizar sobre a circularidade cultural entre os indígenas e os outros agentes coloniais, como fez Gláucia de Souza Freire (2013), ao apontar que os missionários religiosos se prevaleciam de práticas ritualísticas dos indígenas que eram consideradas “feitiçarias”, como o uso da jurema sagrada.
Os diálogos contrariam ainda a historiografia dita oficial que reservava aos indígenas um papel secundário e descarta antigas concepções sobre “índio puro”, “índio aculturado”, “resistência”, “aculturação”, embasados nas tentativas de reduzir a participação dos indígenas a um processo inevitável de extinção e desaparecimento. Sendo que os indígenas estão cada vez mais presentes nas questões políticas, se apropriando e ressignificando sua cultura e lutando pelo reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos após muita persistência do próprio movimento indígena.
Notas
1 O conceito de Subaltern Studies trabalhado por Florencia Mallon (1994) foi utilizado para tratar da análise de “baixo para cima” realizada por um grupo de estudiosos sobre a Índia e o colonialismo, mas que forneceu inspiração para historiadores americanicistas. MALLON, Florencia. The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American. History. The American Historical Review: 1491-1515. DOI:10.1086. 1994.
2 FISHER; O’HARA. Introduction Racial Identities and their Interpreters in Colonial Latin America. In: FISCHER, Andrew; O’HARA, Matthew Imperial Subjects. Race and Identity in Colonial Latin America. Durham: Duke University Press. 2009. p. 1-37.
3 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Índios, Missionários e Políticos: Discursos e Atuações Político-Culturais no Rio de Janeiro Oitocentista.” In: SOIHET, Racehel el al (org). Culturas Políticas. Ensaios de História Cultural, História Política e Ensino de História. Rio de Janeiro: Mauad, 2005, p. 235-255; ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Cultura Política Indígena e Política Indigenista: Reflexões sobre Etnicidade e Classificações Étnicas de Índios e Mestiços no Rio de Janeiro – Séculos XVIII e XIX. In.: AZEVEDO, Cecilia et al (org.) Cultura, Política, Memória e Historiografia. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 211-228
Referências
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Índios, Missionários e Políticos: Discursos e Atuações Político-Culturais no Rio de Janeiro Oitocentista. In: SOIHET, Racehel el al (org). Culturas Políticas. Ensaios de História Cultural, História Política e Ensino de História. Rio de Janeiro: Mauad, 2005, p. 235-255.
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Cultura Política Indígena e Política Indigenista: Reflexões sobre Etnicidade e Classificações Étnicas de Índios e Mestiços no Rio de Janeiro – Séculos XVIII e XIX. In.: AZEVEDO, Cecilia et al (org.) Cultura, Política, Memória e Historiografia. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 211-228
DOMINGUES, Ângela; RESENDE, Maria Leônia Chaves de; CARDIM, Pedro (orgs). Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX). Lisboa: Atlantica Lisbon Historical Studies. Centro de História da Universidade de Lisboa, CHAM – Centro de Humanidades (NOVA FCSH-UAc) e Programa de Pós-Graduação em História/Universidade Federal de São Joao del-Rei (PPGH-UFSJ), 2019. 364 p.
FISHER; O’HARA. Introduction Racial Identities and their Interpreters in Colonial Latin America. In: FISCHER, Andrew; O’HARA, Matthew Imperial Subjects. Race and Identity in Colonial Latin America. Durham: Duke University Press. 2009. p. 1-37.
MALLON, Florencia. The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American. History. The American Historical Review: 1491-1515. DOI:10.1086. 1994.
MONTEIRO, John. Negros da Terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
OLIVEIRA, João Pacheco de (org). A presença indígena no Nordeste: processos de territorialização, modos de reconhecimento e regimes de memória. Rio de Janeiro: Contra Capa. 2011.
POMPA, Maria Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e “Tapuia” no Brasil Colonial. 2001. 455 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2001.
SOUZA, Glaucia Freire. Das “feitiçarias” que os padres se valem: circularidade cultural entre indígenas Tarairiú e missionários na Paraíba setecentista. 2013. 159 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Campina Grande, PB, 2013.
Lana Gomes Assis Araújo – Bacharela em Direito pelo Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande – PB, licenciada em História pela Universidade Federal de Campina Grande – PB, mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande – PB, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Recife – PE. Bolsista CAPES. E-mail: lana.araujo@ufpe.br.
[IF]Frontiers of Citizenship. A black and Indigenous history of Postcolonial Brazil – MIKI (FH)
MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship. A black and Indigenous history of Postcolonial Brazil. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 314p. Resenha de: SANTOS, Murilo Souza dos. “Fugir para a escravidão”: Geografia insurgente e cidadania na fronteira do Brasil pós-colonial. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.493-497, jan./jun., 2020.
Há um esforço recente, e cada vez mais imperioso entre os pesquisadores, de questionar a maneira pela qual história e antropologia estudaram as populações indígenas e afrodescendentes na América Latina. Fruto de uma política colonial que tratava índios e negros separadamente, outrossim perpetuada nos regimes de governos subsequentes, a tradicional análise dessas populações restou seccionada e, frequentemente, dicotômica (WADE, 2018). Por objetivar explorar as temáticas de raça, nação e, sobretudo, cidadania por meio das interconexões entre as histórias de negros e indígenas, Frontiers of Citizenship: a black and Indigenous history of Postcolonial Brazil, de Yuko Miki, é um livro que se insere nesse esforço novo e promissor. Entre os diversos prêmios e honrarias que recebeu até o momento, estão o Wesley-Logan Prize em História da Diáspora Africana, concedida pela American Historical Association, e o Warren Dean Memorial Prize como o melhor livro sobre História do Brasil publicado em inglês, dado pela Conference on Latin American History (CLAH), que lhe concedeu, ainda, menção honrosa no Howard F. Cline Prize, dedicado à Etno-História da América Latina.
A pesquisa que resultou nesse livro é também motivada por um segundo incômodo da autora: a compreensão de que a historiografia brasileira não teria dado a devida atenção às fronteiras, espaço no qual, segundo ela, a relação entre raça, nação e cidadania havia sido de fato testada e definida diariamente (MIKI, 2018, p. 8). Com isso em mente, Yuko Miki elege como espaço de observação o que ela escolheu chamar de fronteira atlântica: uma região que, embora jamais tenha aparecido nas fontes sob tal denominação, corresponderia ao contorno da Mata Atlântica original do sul da Bahia e Espírito Santo. Outrora proibida pela Coroa portuguesa, essa região se tornou objeto de uma colonização agressiva com o avançar do século XIX.
Os seis capítulos que compõem Frontiers of Citizenship estão estruturados em torno de um embate de visões. De um lado, as elites brancas, que pretendiam homogeneizar o povo brasileiro a fim de que fosse encaixado em uma definição pré-definida de cidadania; do outro, negros e índios, que disputavam a definição de cidadania, para que o povo, na sua heterogeneidade, nela pudesse ser incluída. Dessa maneira, enquanto o primeiro capítulo analisa os debates parlamentares acerca da definição notavelmente inclusiva de cidadania inscrita na Constituição de 1824 para contrastar com a exclusão implícita que ela pressupunha, o segundo foca nos índios e negros da fronteira atlântica para examinar como eles reagiam diante das exclusões geradas na prática. Essa intercalação está presente em todo o livro.
O segundo capítulo faz, ainda, uma análise estimulante acerca da percepção que muitos negros e indígenas tinham da monarquia como fonte de justiça e proteção, ao ponto de inúmeras revoltas terem sido desencadeadas pela forte ressonância dos boatos de emancipação. Todavia, a menos que se considere o crescendo de violência que caracteriza a expansão do Estado no período como consequência das formas de resistência adotadas por negros e índios, Yuko Miki fica longe de cumprir com o principal objetivo assumido para esse capítulo, qual seja o de “demonstrar como a expansão do Estado foi moldada pelas mesmas pessoas que procurou excluir” (MIKI, 2018, p. 25, tradução nossa).
Os capítulos terceiro e quarto se complementam no objetivo de mostrar que a adoção da mestiçagem como meio de criar um povo brasileiro homogêneo implicava tanto na crescente inclusão desigual dos negros escravizados quanto na efetiva extinção dos índios. Assim, o terceiro capítulo argumenta que as elites urbanas combinaram o indigenismo romântico e a nova ciência antropológica com a expressão das leis para criar uma situação legal, na qual “para se tornar cidadãos, os índios precisavam ser civilizados e, uma vez civilizados, não eram mais índios” (MIKI, 2018, p. 133, tradução nossa). O quarto, por sua vez, demonstra as consequências práticas desse projeto de mestiçagem por meio da comparação de dois casos de violência oriundos da fronteira atlântica: de um lado, a erosão do poder dos proprietários de escravos sobre eles; do outro, a transformação dos índios no Brasil pós-colonial em corpos matáveis.
O ponto principal do livro está nos capítulos quinto e sexto, cujo sentido é mostrar que a perspectiva de liberdade negra e autonomia indígena se tornaram inseparáveis da luta pela terra. No quinto capítulo, Yuko Miki observa que, nos anos finais da escravidão, muitos quilombolas criaram assentamentos tão próximos da região na qual estavam legalmente escravizados que se podia ouvir seus batuques à noite. A partir dessa constatação, e inspirando-se na ideia de geografia rival, elaborada por Edward Said e usada pelos geógrafos para descrever a resistência à ocupação colonial, Miki formula o conceito de geografia insurgente para designar a prática política que ela entende como “fugir para a escravidão” (fleeing into slavery, no original). Seria por meio da geografia insurgente, do fugir para a escravidão e não para longe dela, que as pessoas escravizadas deixaram de resistir à sociedade escravista para, finalmente, desafiá-la por dentro; vivendo como pessoas livres em seu meio e, desse modo, expressando “os termos pelos quais queriam viver na sociedade brasileira” (MIKI, 2018, p. 214, tradução nossa).
Por seu turno, no sexto capítulo, a autora observa que, apesar das divergências de opiniões quanto ao futuro dos indígenas e libertos, tanto missionários quanto abolicionistas e escravocratas compartilhavam a visão de que eles deveriam ser disciplinados para uma cidadania limitada e fundamentalmente servil. A iminência da abolição revigorou o interesse das elites pela possibilidade de transformação dos indígenas em “cidadãos úteis” por meio da disciplina do trabalho conjuntamente à negação do acesso à terra (os mesmos termos que posteriormente seriam reproduzidos nas discussões sobre os libertos). Tal confluência de pontos de vista teria ajudado a conjugar, do outro lado, as perspectivas de negros e indígenas. Para a autora, a forma como eles interpretaram liberdade e cidadania não apenas repreendeu radicalmente essas ideias racializadas, naquele contexto, como teve repercussões duradouras no período republicano.
Como se pode ver, o conceito de geografia insurgente é central para a tese defendida em Frontiers of Citizenship. Sua pressuposição é a de que a convivência na comunidade do quilombo teria transformado a consciência de liberdade numa prática política coletiva pela qual as pessoas escravizadas reimaginaram suas vidas como pessoas livres dentro da própria geografia em que estavam destinados a permanecer escravizado (MIKI, 2018, p. 174). Interessa mostrar, finalmente, que os escravizados não apenas lutavam para proteger o que lhes eram pessoalmente importantes, mas, muito além, eles afirmavam uma visão específica da política de cidadania e anti-escravidão (MIKI, 2018, p. 26). De que maneira? Yuko Miki sabe que a multiplicidade de motivos que levavam os escravizados a fugir em pouco se confunde com semelhante ideologia. A engenhosidade do conceito de geografia insurgente está justamente na capacidade de transformar uma motivação factível, “a luta pela geografia”, em um significante para a cidadania (MIKI, 2018, p. 251), ainda que para tal inferência não haja indícios capazes de sustentá-la. Já no epílogo, a autora nos lembra que, com a Constituição de 1988, o direito à terra se tornou, legalmente, um meio para reivindicar uma cidadania plena. O problema que se coloca, em suma, é que se, por um lado, tal conquista é verdadeira, por outro, soa forçoso dizer que tal associação foi forjada conscientemente pelos afro-brasileiros no período de escravidão e pré-emancipação (MIKI, 2018, p. 257). Dessa maneira, o que seria a mais importante contribuição do livro fica reduzida a uma ilação ou, mais apropriadamente, à amostra de um equívoco metodológico denominado por Frederick Cooper como ultrapassar legados, isto é, “afirmar que algo no tempo A causou algo no tempo C sem considerar o tempo B, que fica no meio” (COOPER, 2005, p. 17).
Frontiers of Citizenship é um trabalho vigoroso, que consegue demonstrar com sucesso a impossibilidade de compreender temas como raça, nação e cidadania sem envolver tanto as histórias da diáspora africana quanto a das Américas indígenas. Por outro lado, e essa é a principal crítica, não analisa alguns conceitos que são cruciais para a sua própria fundamentação mas, pelo contrário, aplica-os nas fontes sem historicizá-los. Cooper, já mencionado, mostrou, em Citizenship, Inequality and Difference (2018), que apenas recentemente o conceito de cidadania foi constituído como inerentemente igualitário, mas por Yuko Miki aplicar esse conceito sem a devida contextualização, a existência de uma cidadania desigual, tal como defendida pelas elites na conjuntura analisada, soa como mera injustiça. Similarmente, raça e nação lhe parecem ser concepções tão unívocas que sequer precisam ser definidas e, dessa forma, a impressão resultante é de que os sujeitos analisados agem em relação às mesmas identidades coletivas que pressupomos hoje.
Em The Problem of Slavery as History: a Global Approach, Joseph C. Miller impôs o desafio intelectual de pensar a escravidão para além da politização contemporânea. Para ele, estamos tão preocupados em condenar a escravidão, que inibimos o entendimento acadêmico dessa prática como sujeito de investigação intelectual (MILLER, 2012, p. 2). Pelo demonstrado, a abordagem dos conceitos em Frontiers of Citizenship o situa como exemplar dessa conduta que precisa ser evitada. Ainda assim, esse é um trabalho que merece atenção, não apenas pela importância do tema, mas sobretudo pela forma original com a qual Yuko Miki, frequentemente, associa os discursos sobre cidadania, escravidão e extinção com a política deles resultante.
Referências
COOPER, Frederick. Citizenship, Inequality and Difference. Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2018.
COOPER, Frederick. Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History. Berkeley: University of California Press, 2005.
MILLER, Joseph C. The Problem of Slavery as History: a global approach. New Haven and London: Yale University Press, 2012.
WADE, Peter. Interações, relações e comparações afro-indígenas. In: ANDREWS, George Reid; FUENTE, Alejandro de la (orgs.). Estudos afro-latino-americanos: uma introdução. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2018.
Murilo Souza Santos – Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Campinas (PPGH-UNICAMP), na linha de História Social da Cultura. Bolsista de mestrado CAPES. E-mail: murilosouza.ds@gmail.com.
[IF]Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política de morte – MBEMBE (FH)
MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política de morte. São Paulo: N-1 edições, 2018, 80p. GARRIDO, Mírian Cristina de Moura. A emergência das discussões de Achille Mbembe no Brasil. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.499-500, jan./jul., 2020.
Desde a aprovação da Lei 10.639, em 2003, o debate sobre o tema História da África tem crescido dentro do campo acadêmico, estimulando pesquisas e produções editoriais. Incontestavelmente, a discussão e aprovação de tal lei foi uma conquista do movimento negro contemporâneo (PEREIRA, 2016). Ademais, se as primeiras pesquisas indicavam a ausência de literatura especializada para formação de professores e suporte didático (PANTOJA; ROCHA, 2004), a realidade em 2020 é outra.
A princípio o cenário começou a se modificar pela iniciativa do próprio Estado brasileiro em traduzir, publicar e disponibilizar gratuitamente a ímpar coleção História Geral da África. Dividida em oito volumes e criada por iniciativa da UNESCO, a coleção reúne pesquisadores do continente (majoritariamente) e africanistas para o debate do método e da História da África em seus diferentes períodos históricos.
A esse esforço somaram-se pesquisadores brasileiros que já vinham se dedicando ao tema, a introdução de disciplinas nas Licenciaturas e de linhas de pesquisas na pós-graduação dedicadas à essa área, ou a ele correlatos, e a produção e divulgação dessas pesquisas.
Parte das editoras, que até então afirmavam a ausência de um público consumidor sobre a História da África – historiográfica ou literária – no país, passaram a produzir e publicar livros a respeito da temática. Exemplar desse argumento são os livros do moçambicano Mia Couto, que entre 2008 e 2018 teve vinte e dois livros publicados no Brasil pela Companhia das Letras e tem frequentado as feiras literárias no país desde então.
Outro autor que tem estado em voga é o camaronês Achille Mbembe (1957-). Doutor em História pela Sorbonne e atualmente professor de História e de Ciências Políticas do Instituto Witwatersrand, em Joanesburgo, na África do Sul. No Brasil, suas ideias têm sido divulgadas por meio de três livros: Sair da Grande Noite: ensaios sobre a África descolonizada (2019); Crítica da Razão Negra (2018); Necropolítica (2018). É sobre esse último que essa resenha se debruça.
O livro apresenta-se como um ensaio, resultado do diálogo do autor com outros intelectuais – aos quais identifica e agradece no fim da obra. A Necropolítica parte da definição de soberania e biopoder (a partir da leitura de Foucault1), para determinar que a soberania é exercer o controle sobre a mortalidade, definir quem deve viver e quem não deve viver, ou nas palavras do autor, a soberania permite definir “quem é ‘descartável’ e quem não é” (MBEMBE, 2018, p. 41).
Mbembe reconhece no racismo o modelo exemplar do que chama de “tecnologia destinada ao exercício do biopoder” (2018, p. 18), isto é, o direito soberano de matar. Refletindo sobre os Estados escravistas e os regimes coloniais contemporâneos (sem, contudo, pormenorizar a construção da raça e das hierarquias raciais do século XIX e XX), o autor afirma que ambos são experiências máximas de: ausência da liberdade, expressões de terror, símbolos da perda do lar, direitos ao corpo e do estatuto político (em especial no escravismo), manifestação do poder de controle de uns sobre o corpo/desejo de outros, em ambos os casos.
A ênfase e contribuição maior do ensaio, porém, não está na questão do escravismo ou do racismo, mas sim nas técnicas e dispositivos da mentalidade dos governos contemporâneos e suas formas de controle e de guerra. Essa última, levada a cabo na contemporaneidade, com o objetivo de se instalar a completa submissão do inimigo, sem mensurar os impactos colaterais para a sociedade civil.
Esse modelo de guerra, descrito como característico da “época da globalização”, é exemplificado no livro com a Guerra de Kosovo, onde houve a destruição da infraestrutura tais como ferrovias, rodovias, redes de comunicação, depósitos de petróleo, centrais elétricas e tratamento da água, estendendo, assim, os danos à população local. Contudo, para o autor, há uma racionalidade na morte inerente à essas formas de composição de Estado e concepção de soberania, que reside na já mencionada submissão total do inimigo.
O exemplar da definição do necropolítica está, para o autor, na ocupação contemporânea da Palestina. “Aqui, o Estado colonial tira sua pretensão fundamental de soberania e legitimidade da autoridade de seu próprio relato da história e da identidade. Essa narrativa é reforçada pela ideia de que o Estado tem o direito divino de existir; e entra em competição com outra narrativa pelo mesmo espaço sagrado” (MBEMBE, 2018, p. 42). Nesse caso, a violência e a soberania reivindicam um elemento divino, na qual a identidade do grupo é buscada na divindade e construída em oposição ao “outro” e sua divindade.
O leitor que iniciou seu conhecimento de Mbembe por meio do Crítica da Razão Negra frustra-se pela pouca atenção concedida às discussões sobre escravismo, colonialismo e racismo. Frustra-se, contudo, por algo que não era prometido pela obra e comete um erro, pois a partir dessas considerações sobre a necropolítica o leitor pode, por si mesmo, construir diálogos com o racismo estrutural e institucional brasileiro, o genocídio deliberado contra os negros, o encarceramento em massa da população afro, a segregação espacial da população no país, e assim por diante… Todos elementos corroboram com a ideia de que o Estado adota políticas de morte, definindo inimigos e estabelecendo aqueles que são ou não são descartáveis.
Referências
KI-ZERBO, Joseph et al. História geral da África. Metodologia e pré-história da África. Brasília: Ministério da Educação, 2011. v. 1.
MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. São Paulo: N-1 Edições, 2018.
MBEMBE, Achille. Sair da Grande Noite: ensaios sobre a África descolonizada. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2019.
PANTOJA, Selma; ROCHA, Maria José. Rompendo Silêncios: História da África nos Currículos da Educação Básica. Brasília: DP Comunicações Ltda., 2004.
PEREIRA, Amilcar Araújo. O movimento negro brasileiro e a Lei 10.639: da criação aos desafios de implementação. Revista Contemporânea da Educação, Rio de Janeiro, v. 11, n. 22, p. 13-30, jan/abr. 2016.
Mírian Cristina de Moura Garrido – Doutora pela Universidade Estadual Paulista, Assis – SP, pós-doutoranda em História, pela Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos – SP. E-mail: miriangarrido@hotmail.com.
[IF]O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista – LUKÁCS (FH)
LUKÁCS, György. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Tradução de Nélio Schneider. 1 ed. São Paulo Boitempo, 2018. 733p. Resenha de: SILVA, Edson Roberto de Oliveira. O jovem Hegel de Lukács: por uma redenção da dialética. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.51-507, jan./jun., 2020.
György Lukács é considerado o maior filósofo marxista do século XX. Nasceu em Budapeste no dia 13 de abril de 1885, em uma Hungria que, no período, fazia parte do território integrado ao Império Habsburgo. Graduou-se na Universidade da mesma cidade, doutorou-se em Direito e Filosofia em 1906 e 1909, respectivamente. A produção e desenvolvimento filosófico do jovem Lukács — de 1910 a 1923 influenciou nomes conhecidos como Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, Ernest Bloch e pensadores da famosa Escola de Frankfurt, como Theodor W. Adorno.
O livro O Jovem Hegel e os Problemas da sociedade capitalista (2018), de Lukács faz parte da coleção A Biblioteca Lukács, coordenada por José Paulo Netto, e se tornou o sétimo título do filósofo húngaro publicado pela editora Boitempo. A obra foi traduzida diretamente do alemão por Nélio Schneider e teve revisão técnica de Netto e Ronaldo Vielmi Fortes.
A coleção Biblioteca Lukács tem como missão fazer a divulgação do pensamento do filósofo húngaro. Entretanto, não é de hoje que o pensamento lukacsiano é divulgado no Brasil, tanto por traduções como por elaborações críticas. Sua filosofia foi intensamente divulgada na década de 1960 por três intelectuais de grosso calibre — Leandro Konder, Carlos Nelson Coutinho e J. Chasin — efetuando traduções e em elaborações críticas. Entre as obras de Lukács traduzidas e divulgadas por Konder e Coutinho estão: Ensaios Sobre Literatura (1964); Introdução a uma Estética marxista (1978), títulos esses publicados pela Editora Civilização Brasileira.
O desenvolvimento filosófico de Lukács tem como proposta, desde seus primeiros escritos marxistas, fazer um debate renovado com a filosofia clássica, principalmente a alemã, na qual ele buscava fazer “ao nível da crítica” a “análise histórica e sistemática das modalidades de conhecimento e interpretação do mundo constituídas pela cultura burguesa” e “determinar o estatuto histórico-filosófico do marxismo” instaurando uma “crítica macroscópica da totalidade da cultura burguesa” (NETTO, 1978, p.14). Netto (1978) dará destaque para duas obras do filósofo húngaro onde se encontram as críticas sistemáticas à cultura filosófica burguesa: O jovem Hegel, a qual nos propomos apresentar a partir dessa resenha, e Destruição da Razão: de Schelling a Hitler (NETTO 1978, p.15). O intérprete nos alerta que a crítica à filosofia burguesa do pensador húngaro não somente se propõe a apontar suas limitações, mas, também, resgatar Hegel da instrumentalização mistificadora elaborada pelos ideólogos fascistas — se empenhando em “resgatar os conteúdos humanistas e democráticos do pensamento burguês anterior 1848” (NETTO, 2011, p.8). Desta forma Lukács, desde História e Consciência de Classe, é considerado um renovador do pensamento marxista.
O livro, O jovem Hegel, é dividido em quatro partes que são compostas por momentos do desenvolvimento filosófico de Hegel partindo das diferentes localidades em que o filósofo alemão viveu: Berna (1793-1796), denominado como o período republicano de Hegel; Frankfurt (1797-1800), no qual o filósofo deu início ao desenvolvimento do método dialético; e Iena, que se divide em mais dois períodos: o primeiro (1801-1803), no qual há a vinculação e a defesa ao idealismo objetivo; e o segundo (1803-1807), momento que mostra os últimos percalços que Hegel trilhou para culminar em sua primeira produção amadurecida, original e de peso, A Fenomenologia do Espírito.
O plano de fundo d’O jovem Hegel é a Revolução Francesa e os ecos no pensamento germânico. O interesse do filósofo alemão, como nos alerta Lukács, estava voltado para entender a sociedade civil burguesa [bürgerlicheGesellschaft]. O húngaro mostrará que a influência da revolução burguesa na sua totalidade — isto é, Revolução Industrial e a revolução política para a instauração de um Estado-nação —, interessava à Hegel e foi determinante para a formação de seu posicionamento filosófico e político.
No curto espaço de tempo que Hegel esteve em Berna, Lukács analisa o início do seu desenvolvimento filosófico, desmistificando as interpretações feitas de sua filosofia nesse período, que tendem a culminar, muitas vezes, na redução e vinculação de suas elaborações a um “reacionarismo” tratando-o como absolutista e vinculando-as unilateralmente com a “teologia”. O húngaro nos mostra que, em primeiro lugar, as vinculações políticas de Hegel nesse período sempre estiveram voltadas para a ala da esquerda democrática do Iluminismo e que teciam críticas ao Iluminismo alemão, pois os “absolutistas feudais e seus ideólogos tentaram muitas vezes se aproveitar de determinados aspectos deste movimento para seus próprios fins” (LUKÁCS, 2018, p. 68). Hegel via a “antiga república citadina (polis) não como um fenômeno social do passado”, mas como a constituição de “um modelo eterno, ideal não alcançado para uma mudança atual da sociedade e do Estado” (LUKÁCS, 2018, p. 69, grifos nossos). Em segundo, aponta que a filosofia de Hegel não teve vinculação teológica, pelo contrário, Lukács argumenta que o alemão é um crítico do sectarismo do cristianismo primitivo (LUKÁCS, 2018, p. 71), e se interessava por seitas posteriores. Hegel, segundo seu estudioso, trata o cristianismo como uma religião “positiva” a qual “constitui um esteio do despotismo e da opressão” (LUKÁCS, 2018, p. 85).
A ligação de Hegel à filosofia kantiana, principalmente de Crítica da razão Prática, é, segundo Lukács, de extrema importância para a vinculação de sua filosofia à realidade. O filósofo alemão vê que tanto os problemas sociais como os morais vinculam-se aos problemas da práxis, mostrando que a base de sua filosofia é a “reconfiguração da realidade social pelo ser humano”. Lukács escreve que Hegel vai além de Kant, posto que este último investiga os problemas morais do ponto de vista do indivíduo. Para Kant o fundamental é a consciência como um fato moral, em contraponto a isso “o subjetivismo do jovem Hegel, direcionado para a prática, é coletivo e social desde o início. Para Hegel, é sempre a atividade, a práxis da sociedade que constitui o ponto de partida e também o objeto central da investigação” (LUKÁCS, 2018, p. 73).
Já nos três anos de Frankfurt, Hegel, segundo Lukács, irá reestabelecer criticamente algumas das suas concepções filosóficas, entre elas a sua elaboração de positividade. Nesse momento, a “positividade” será vista como “um sinal de que o desenvolvimento histórico já ultrapassou uma religião, e que ela merece ser destruída e inclusive tem de ser destruída pela história” (LUKÁCS, 2018, p. 329). Essas novas formulações também servirão de base para os “primeiros embriões do método de Fenomenologia do espírito” (LUKÁCS, 2018, p. 177). Lukács nos expõe que todo esse desenvolvimento do período de Frankfurt é atrelado com as constantes variações na história da Revolução Francesa, porém suas concepções republicanas revolucionárias permanecem as mesmas do período de Berna. O húngaro realça que é nesse momento que se revela a diferença da produção filosófica hegeliana, pois, enquanto em Berna Hegel elaborava suas concepções histórico-filosóficas partindo de um único fato relevante para a história universal, a Revolução Francesa, após Frankfurt, o alemão passa a dar igual importância para o desenvolvimento econômico da Inglaterra. Assim, ambos os eventos passam a ser elementos fundantes para a sua concepção de história e noção de sociedade. “O problema”, diz Lukács, “referente ao modo como a estrutura absolutista feudal da Alemanha deve ser modificada pela Revolução Francesa aflora para Hegel dali em diante não como questão geral da filosofia da história, mas como problema político concreto”. (LUKÁCS, 2018, p. 171).
Lukács diz que a filosofia de Hegel incorpora as “problemáticas sociais e políticas” e que estas “se convertem em filosóficas de modo sempre imediato” (LUKÁCS, 2018, p. 172). Como consequência disso, passou a tomar “consciência, portanto, do antagonismo entre dialética e pensamento metafísico primeiro como antagonismo entre pensamento, representação, conceito etc. de um lado, e vida, de outro” (LUKÁCS, 2018, p. 173). Esse processo teria feito parte de um projeto de reconciliação filosófica de Hegel entre os “ideais humanistas do desenvolvimento da personalidade e os fatos objetivos e imutáveis da sociedade burguesa” que, segundo o filósofo húngaro, irão conduzir Hegel “a uma compreensão mais e mais profunda primeiro dos problemas da propriedade privada e depois do trabalho como inter-relação fundamental entre indivíduo e sociedade” (LUKÁCS, 2018, p. 175). Esse desenvolvimento das concepções de Hegel culminará em uma tentativa de sistematização no fim do período de Frankfurt, o que também prepara Hegel para uma crítica profunda ao idealismo subjetivo e para a separação da filosofia de Schelling frente a de Fichte.
Em Iena, onde Hegel passa um pouco mais de seis anos, de 1801 a 1807, é que surgirão as suas elaborações de juventude mais profundas. É o período em que o jovem filósofo acertará as contas com a filosofia clássica de seu tempo, Kant, Schiller, Fichte e, somente em Fenomenologia do espírito, com Schelling — obra que sela definitivamente o rompimento com as colaborações filosóficas entre ambos, e faz com que este último se coloque como um combatente frente a dialética hegeliana. Em Iena temos dois períodos, o primeiro, de 1801 a 1803, é marcado fortemente pela defesa de Hegel ao idealismo objetivo. Para tanto, o filósofo inicia sua parceria com Schelling demonstrando a diferença da filosofia deste com a de Fichte onde, o último, é colocado como um agnóstico (LUKÁCS, 2018, p. 342), motivo que colocou Hegel como defensor da filosofia schellinguiana e revelou a ambos que ali nascia uma nova formulação filosófica por parte de Schelling. Nesse processo, Lukács aponta que Hegel combateu o individualismo abstrato da ética elaborando uma crítica mais concreta, dessa forma o filósofo alemão “não se limita mais a examinar problemas isolados da ética kantiana que tem uma problemática coincidente com a sua, mas submete toda a ‘filosofia prática’ do idealismo subjetivo a uma análise crítica abrangente” (LUKÁCS, 2018, p. 391).
A filosofia hegeliana, segundo o húngaro, é histórica desde as primeiras elaborações de Berna, porém essa concepção só entra em cena após as “renúncias às ilusões jacobinas de renovação da Antiguidade”. É nesse momento que Hegel se depara com os “problemas da dialética da sociedade burguesa moderna”, isso faz com que se constitua, no seu pensamento filosófico, um problema central e latente de “conexão dialética entre o desenvolvimento histórico e a sistemática filosófica”. Dessa maneira Hegel tem a possibilidade de levantar contra Fichte uma crítica a suas concepções de “liberdade independentemente das leis objetivas da natureza e da história” (LUKÁCS, 2018, p. 410. Lukács mostra que o historicismo de Hegel segue uma concepção que não significa uma glorificação do passado, pois esse seria a visão do historiador romântico que apareceu na Alemanha “sob a influência publicística da contrarrevolução”, disseminando a “concepção de que a ‘organicidade’ das formações históricas e do desenvolvimento histórico exclui a vontade consciente dos homens de mudar seu destino social” e, além disso, também defendem que “a ‘continuidade’ do desenvolvimento histórico é francamente contrária à interrupção da linha de desenvolvimento já iniciada” (LUKÁCS, 2018, p. 411. As concepções de Hegel nesse momento já se apresentam como um prelúdio para a sua primeira síntese filosófica de peso sistematizada em Fenomenologia do espírito A Fenomenologia do espírito de Hegel é colocada por Lukács como uma obra seminal do pensamento filosófico alemão e marca uma virada nas coordenadas do desenvolvimento não só da filosofia hegeliana, mas de todo pensamento moderno. É no segundo momento de Iena, 1803 a 1807, que Hegel iria amadurecer suas diferenças filosóficas com Schelling, as quais foram reduzidas pelo primeiro apenas à questão do método, mas que o húngaro enfatiza que a diferença se apresenta “também em todas as questões da filosofia da sociedade e da história” (LUKÁCS, 2018, p. 559). A concepção filosófica-histórica de Hegel, a partir de Lukács, vai na contramão da visão moderna, pois na filosofia hegeliana não existe “estado de espírito”, assim há uma diferença em relação a “posição histórica do tempo presente” (LUKÁCS, 2018, p. 594). Em Iena, o filósofo húngaro diz que “a Revolução Francesa e sua superação (no triplo sentido hegeliano) por Napoleão constitui o ponto de inflexão decisivo da história mais recente” e que entra em contraposição com a visão posterior do velho Hegel que a “Reforma assume a posição central na história da era moderna que em Iena Hegel havia atribuído à Revolução Francesa e a Napoleão” (LUKÁCS, 2018, p. 595).
O filósofo húngaro atribui à Fenomenologia a sistematização entre as categorias de mediação, reflexão etc. mas considera as categorias de alienação (Entäusserung) e estranhamento (Entfrendung) como pontos centrais do desenvolvimento dessa obra, ambos os termos derivados da tradução do termo inglês “alienation” para o alemão – termo esse que foi utilizado na economia-política inglesa, quando se tratava da venda de mercadoria e, também, pela “teoria do contrato social para denominar a perda da liberdade original, a transmissão, a exteriorização da liberdade original à sociedade originada pelo contrato”(LUKÁCS, 2018, p. 689). A categoria de alienação não foi usada exclusivamente por Hegel na filosofia clássica alemã. Lukács exibe que Fichte já a tinha utilizado para mostrar que um “objeto posto” constitui uma alienação do sujeito e o próprio objeto é concebido como uma “razão alienada”. O estudioso do filósofo alemão aponta que, na Fenomenologia, há três níveis de apresentações da categoria de alienaçãoo primeiro faz menção à relação entre sujeito-objeto, e vincula toda produção humana, o trabalho, à “atividade social e econômica do homem”; o segundo nível a alienação é o que se apresenta na sua forma capitalista, e que, mais tarde, será desenvolvido por Marx como categoria fetichismo (LUKÁCS, 2018, p. 691); no terceiro nível é um momento que passa pela alienação, ou seja, como “coisidade (Dingheit) ou objetividade (Gegenständlichkeit)” que é a “forma em que, na história da gênese da objetividade, esta é apresentada filosoficamente como momento dialético na trajetória do sujeito-objeto idêntico de volta a si mesmo, passando pela ‘alienação’” (LUKÁCS, 2018, p. 692).
Lukács se esforça em sistematizar historicamente o envolvimento de Hegel com o seu tempo histórico e demonstrar o reflexo desse tempo em sua filosofia. Dessa forma o húngaro não faz uma biografia de Hegel, mas um tratamento histórico-sistemático olhando a “filosofia como parte importante do movimento total da história” (LUKÁCS, 2018, p. 21). Graças ao trabalho de tradução de Nélio Schneider, a divulgação do pensamento de Lukács — que se iniciou na década de 1960 com Konder, Coutinho e Chasin — ganha ainda mais volume e temos a oportunidade de ter em mãos um trabalho histórico-filosófico que contribui para o desenvolvimento do marxismo no Brasil de forma fecunda e dialética pois essa obra tem a capacidade de desmistificar a filosofia de Hegel e, com uma leitura atenta, absorver o método dialético que ali se explicita.
Referências
LUKÁCS, György. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Tradução de Nélio Schneider.1º ed. São Paulo Boitempo, 2018.
NETTO, José Paulo. Lukács e a Crítica da Filosofia Burguesa. Lisboa: Seara Nova, 1978.
NETTO, J. Paulo. Introdução: Sobre Lukács e a Política. In. LUKÁCS, György Socialismo e democratização – Escritos políticos 1956-1971. 2º ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2011.
Edson Roberto Silva – Graduado em História pela Universidade Estadual Paulista – UNESP, Assis, estado de São Paulo (SP), mestrando na Pós-Graduação em História da UNESP de Assis, estado de São Paulo (SP), Brasil. Atualmente é bolsista CAPES. e-mail: edoliviera89@gmail.com.
[IF]O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
ALBUQUERQUE Jr, Durval Muniz de. O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História. São Paulo: Intermeios, 2019. 276 p. Resenha de: SOUZA, Vitória Diniz de. A História como tecido e o historiador como tecelão das temporalidades. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.508-514, jan./jun., 2020.
A historiografia está em constante transformação, por isso, certas tendências foram sendo esquecidas com o tempo e outras surgiram para formular novas maneiras de produzir história. O livro do historiador Durval Albuquerque Júnior, O Tecelão dos Tempos, nos convida a refletir sobre a escrita da história e a inventar novos usos e sentidos para o passado. Essa sua obra pode ser encarada como um manifesto para os historiadores/as repensarem a sua prática e a abandonarem certos convencionalismos que marcam a tradição historiográfica.
O “Prefácio” é escrito por Temístocles Cezar, que define o livro como uma “constelação simultaneamente erudita e polêmica, ferina e generosa, que pode ser lida de trás para frente, de frente para trás, com os pés descalços no presente, com olhos no passado ou como projeto de uma história futura” (CEZAR, 2019, p. 12). Sendo essa uma boa descrição de como esses textos se entrelaçam e convidam seus leitores a mergulharem em polêmicas discussões sobre a história e o seu estatuto hoje. De fato, a escolha do estilo ensaístico na escrita desse livro é ousada, principalmente, pela liberdade que esse gênero possibilita para quem escreve. Estilo narrativo que foi preterido pela historiografia por muito tempo, em especial, no Brasil. Nesse caso, o ensaio é uma maneira interessante para se iniciar discussões, aprofundá-las, mas sem as amarras conclusivas que certos textos exigem, como os artigos.
Essa obra está dividida em três partes, a escrita da história, usos do passado e o ensino de história, que estão organizadas de maneira sistemática, a partir das temáticas discutidas nos ensaios, articulando-se em uma diversidade de discussões que se interligam em diferentes momentos. Causando uma sensação de fazerem parte de uma mesma narrativa, com início, meio e fim, mesmo que não tenham sido escritas em ordem cronológica, ou que não sejam lidas na ordem apresentada. Por outro lado, pela sua heterogeneidade, cada capítulo inicia uma discussão independente das outras e rica em si mesma. Na primeira parte, “A escrita da história”, inicia a discussão sobre o trabalho do historiador e o estatuto da história enquanto disciplina, problematizando sobre o lugar do arquivo e sobre a prática historiadora – da análise documental ao seu processo de escrita. Enquanto isso, em “Usos do passado”, propõe reflexões sobre passado, memória, patrimônio, comemorações, traumas e esquecimentos. Dessa maneira, possui um olhar criativo sobre esses conceitos tão caros a história, como também, conceitualiza-os, explicitando seus significados e usos, e propondo uma (re)apropriação deles. Na terceira parte do livro, “O ensino de história”, centraliza as discussões acerca da disciplina histórica e o ensino da história na Educação Básica. Demonstrando que além de um erudito e pesquisador, ele também é professor, defendendo a necessidade de um ensino de história que se reinvente dada a situação atual da educação escolar.
Dando início, no capítulo que dá nome ao livro, “O tecelão dos tempos: o historiador como artesão das temporalidades”, defende as razões para que o trabalho do profissional da história seja considerado como de um artesão, pois […]a história nasce como este trabalho artesanal, paciente, meticuloso, diuturno, solitário, infindável que se faz sobre os restos, sobre os rastros, sobre os monumentos que nos legaram os homens que nos antecederam que, como esfinges, pedem deciframento, solicitam compreensão e sentido (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 30).
As metáforas enriquecem o texto de maneira que o leitor pode compreender a atividade do historiador a partir da comparação com outros ofícios. Mas também, oferece ao profissional uma reflexão sobre a sua prática, principalmente, sobre a sua escrita que, muitas vezes, se vê enrijecida por um texto acadêmico sem vivacidade. Em certo momento, o autor compara o trabalho do historiador com o de um cozinheiro do tempo “aquele que traz para nossos lábios a possibilidade de experimentarmos, mesmo que diferencialmente, os sabores, saberes e odores de outras gentes, de outros lugares, de outras formas de vida social e cultural” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 32).
Em seguida, no capítulo “O passado, como falo?: o corpo sensível como um ausente na escrita da história”, ele faz uma defesa da colocação do corpo, do sensível, das dores, dos sofrimentos, dos afetos, dos sentimentos como lugares para a história. A partir dessa perspectiva, ele aponta para a necessidade de se discutir novas maneiras de expressar as sensibilidades na narrativa histórica, criando novas estratégias que possam expressar na própria pele do texto essa presença, ignorada e mutilada das narrativas acadêmicas. Um corpo que é erótico, que sente afetos, raiva, desejo, rompendo, dessa maneira, com o pudor que cerca a historiografia.
As sensibilidades é um dos temas mais recorrentes ao longo dos capítulos, sendo que em “A poética do arquivo: as múltiplas camadas semiológicas e temporais implicadas na prática da pesquisa histórica”, Durval Albuquerque Júnior critica os historiadores e sua técnica de análise, afirmando que na busca pela informação, o pesquisador pode até se emocionar, pode até ser profundamente afetado pelo contato com a materialidade, mas pouco o leva em conta na hora da sua análise. Essa repressão à dimensão artística da pesquisa histórica leva a dificuldade que os profissionais da história têm de perceber, de lidar, de incorporar, no momento da interpretação, os signos emitidos pela própria escrita do documento. Em suma, a natureza da linguagem é ignorada, seus efeitos e dimensões são apenas transformados em dados. Para o autor o “trabalho do historiador é semiológico, ou seja, constitui-se na decifração, leitura e atribuição de sentido para os signos que são emitidos por sua documentação” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 64). Sendo assim, é preciso enxergar no documento as camadas do tempo, suas marcas, sua historicidade, sua materialidade, significados e sentidos que perpassem não apenas o racional, mas também, o emocional, o artístico.
A questão da poética na escrita da história se destaca no capítulo “Raros e rotos, restos, rastros e rostos: os arquivos e documentos como condição de possibilidade do discurso historiográfico”, no qual Durval Albuquerque Júnior une dois campos diferentes que causam polêmicas entre os historiadores, a ficção e a escrita da história. Inspirado em uma pesquisa do biógrafo Guilherme de Castilho sobre o poeta Antônio Nobre, ele cria um conto fictício no qual personifica os documentos como personagens da história. Instigando o leitor a estar curioso sobre o destino das cartas e dos postais que esse poeta enviou para o também escritor Alberto de Oliveira. O mais interessante é como consegue articular questões teóricas e metodológicas da pesquisa histórica em uma narrativa ficcional, provocando o leitor e sensibilizando-o a imaginar as fontes e sua trajetória. Assim, a subversão do gênero que ele propõe ao construir um texto de história por meio da ficção é uma das inovações mais interessantes desse livro.
A discussão sobre história e ficção é polêmica, tendo sido abordada por uma vasta produção historiográfica. Nesse contexto, diferentes perspectivas acerca do estatuto da história enquanto uma “verdade” entram em conflito. Como é o caso emblemático do historiador Carlo Ginzburg com a historiografia considerada “pós-moderna”. No capítulo “O caçador de bruxas: Carlo Ginzburg e a análise historiográfica como inquisição e suspeição do outro”, Durval Albuquerque Júnior critica o posicionamento de Carlo Ginzburg em relação as suas discordâncias no meio acadêmico. Visto que, Ginzburg é considerado um dos maiores “inimigos” da historiografia “pós-moderna”, entrando em conflito com nomes como os de Michel Foucault e Hayden White. Sendo que, o historiador italiano chegava a transmitir, em certos momentos, xingamentos e ofensas contra aqueles de quem discordava. Durval Albuquerque Júnior critica o seu posicionamento e manifesta as razões pelas quais Carlo Ginzburg utiliza de um procedimento retórico estratégico do discurso inquisitorial e judiciário: a submissão da variedade de formas de pensar a um só conceito, em um só esquema explicativo, que simplifica, caricaturiza e estereotipa aquelas que são consideradas diferentes. Procedimento que o próprio Ginzburg criticou em seus trabalhos, como em Andarilhos do Bem (1988), O Queijo e os Vermes (1987), entre outros. É preciso reconhecer que a dita “historiografia pós-moderna” não se qualifica enquanto uma corrente de pensamento homogênea e coerente, na verdade, ela se apresenta mais como uma diversidade de perspectivas, métodos e teorias divergentes entre si que se aproximam menos pela uniformidade que pelo rompimento com a tradição moderna que marca a história. Para Durval Albuquerque Júnior, Ginzburg utilizava essa estratégia para reduzir em inimigo todos aqueles de quem discordava.
A seguir, as reflexões acerca do passado e da memória e de seus usos no presente ganham forma na segunda parte do livro. Como é o caso do oitavo capítulo, “As sombras brancas: trauma, esquecimento e usos do passado”, no qual o autor faz referência a literatura luso-africana e algumas reflexões proporcionadas pelas obras dos autores José Saramago, Eduardo Agualusa e José Gil em relação a memória, identidade e esquecimento. Com efeito, Durval Albuquerque Júnior discute sobre a questão do trauma na história portuguesa, que apesar de todo o processo de ser uma cidade histórica que constantemente exibe os símbolos e marcas do passado, ao mesmo tempo, ignora ou esquece dos traumas vivenciados, seja a experiência salazariana, como também, o processo de colonização exploratória nos países africanos, asiáticos e americano, como é o caso do Brasil. Para o autor, é função dos historiadores expor o sangue derramado e o “cheiro de carne calcinada” e clamar por justiça. Sendo assim, a história deve ser o trabalho com o trauma para que esse deixe de alimentar a paralisia e o branco psíquico e histórico, em referência a cegueira branca do livro Ensaio sobre a Cegueira (1995), de José Saramago.
Uma discussão semelhante se segue no nono capítulo, “A necessária presença do outro, mas qual outro?: reflexões acerca das relações entre história, memória e comemoração”, no qual Durval Albuquerque Júnior elabora acerca de como as comemorações e datas históricas são encaradas pela historiografia hoje, sobre as quais há um consenso de que precisam ser problematizadas, sendo as versões oficiais alvo de críticas que se transformaram em uma densa produção historiográfica. Ele conclui sobre a importância de “fazer da comemoração profanação e não culto, fazer da comemoração divertimento e não solenidade, fazer da comemoração momento de reinvenção do passado e não de cristalização e de estereotipização do que se passou” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 190). Seguindo essa perspectiva, no décimo capítulo, “Entregar (entregar-se ao) o passado de corpo e língua: reflexões em torno do ofício do historiador”, ele traz também para o debate a questão da “verdade” e do negacionismo histórico que tem sido uma ferramenta recorrente dos grupos de extrema direita no Brasil para desqualificar o conhecimento produzido pela história. Dessa maneira, recomenda maneiras para combatê-lo, como, por exemplo, através do uso da imaginação, da linguagem e da narrativa para emocionar, sensibilizar sobre os sofrimentos, corpos e tragédias ocorridas no passado, como é o caso do Holocausto e da Escravidão. Para o autor, esse é o meio mais eficaz para que as pessoas consigam ser afetadas pelo conhecimento histórico e possam aprender com ele.
Na terceira parte do livro, o foco da discussão foi o ensino de história. Assim, no capítulo “Regimes de historicidade: como se alimentar de narrativas temporais através do ensino de história”, o historiador paraibano estabeleceu um paralelo em termos de comparação entre regimes de historicidade e regimes alimentares. Levantando questionamentos sobre a qualidade do que os alunos estão sendo alimentados nas aulas de história e apontando para a necessidade de aulas mais atrativas, lúdicas, saborosas, sem, no entanto, perder a qualidade, a crítica e a historicidade. Nesse sentido, defende que os professores devem contar histórias que sejam realmente interessantes e que afetem, de fato, os alunos. Sendo responsabilidade dos docentes, ensiná-los a terem uma relação saudável com o tempo, com a diferença e com a alteridade. Nessa proposta de um ensino mais criativo, no décimo segundo capítulo, “Por um ensino que deforme: o futuro da prática docente no campo da história”, o autor provoca o leitor/professor a desconstruir sua visão de escola e da atividade docente, proporcionando uma prática que realmente revolucione. Ele discute sobre o estatuto da escola atualmente e sua “crise” enquanto instituição formadora. Um ensino que deforme é aquele que “investe na desconstrução do próprio ensino escolarizado, rotinizado, massificado, disciplinado, sem criatividade, monótono” (ALBUQUERQUE, 2019, p. 240).
No último capítulo, “De lagarta a borboleta: possíveis contribuições do pensamento de Michel Foucault para a pesquisa no campo do ensino da história”, tece críticas acerca do uso da obra de Michel Foucault na área da educação que se centralizam apenas na escola como instituição disciplinar e que não exploram outros olhares sobre a suas obras. Dessa maneira, ele lista uma série de recomendações para os pesquisadores na área de ensino de história para explorarem a obra de Michel Foucault de outra maneira, uma pesquisa que não repita o que já foi dito, mas que seja inventiva, ousada, evitando assim, certo dogmatismo.
Durval Albuquerque Júnior é um crítico da historiografia e tem uma extensa carreira. Em O Tecelão dos Tempos, ele reúne quatorze ensaios escritos ao longo dos anos, o que explica a variedade de discussões. Esse é um livro instigante que considero a melhor produção desse historiador até o momento. Ele possui uma escrita fluída, clara e objetiva, sendo uma preocupação recorrente a explicitação sobre o significado de conceitos e ideias discutidas, para assim evitar mal-entendidos. Esse livro deveria ser lido acompanhado de outra obra desse autor, História: a arte de inventar o passado, publicada em 2007, no qual ele faz outras duras críticas a produção histórica. Obra polêmica que causou desconforto por parte dos pares acadêmicos, questão tocada por ele na introdução.
Uma das marcas da sua escrita é a presença de inúmeros referenciais teóricos, citados e retomados em diversos momentos do texto. Pela clareza do texto, é uma obra tanto para os mais experientes em teoria da história, como também para os iniciantes. Pelo fato de serem ensaios, as discussões não se encerram nos capítulos, sendo interessante para o leitor procurar as obras citadas ao longo do texto e aprofundar esses assuntos individualmente. Assim, esse exercício contribui para a melhor compreensão dos assuntos abordados e para a visão de outras perspectivas.
De fato, o historiador é como um tecelão, que tece as tramas do tempo, compondo um tecido que, nesse caso, é a narrativa histórica. Sendo também, inclusive, cozinheiro, responsável por produzir sabores, delícias e dissabores no tempo. Portanto, fica a recomendação dessa obra tão rica de discussões pertinentes aos amantes da história e que também se dedicam a produzi-la. Durval Albuquerque Júnior além de historiador, é um poeta, que apesar de não escrever poesias, escreve uma história poética, sensível, afetiva, que emociona e nos faz relembrar dos prazeres de se produzir história.
Referências
ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz de. História: a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da História. Bauru: Edusc, 2007.
ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz de. O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História. São Paulo: Intermeios, 2019.
CEZAR, Temístocles. Prefácio. In: ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz. O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História. São Paulo: Intermeios, 2019, p. 09-12.
GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
GINZBURG, Carlo. Os Andarilhos do Bem: feitiçarias e cultos agrários nos séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
Vitória Diniz de Souza – Graduação em História pela UEPB, Guarabira-PB, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação UFRN, Natal-RN. Bolsista de Mestrado do CNPq. E-mail: vitoria4218@gmail.com.
[IF]Sentidos da Folia de Reis: um estudo da memória e da identidade da celebração popular em Florínea/SP – GOULART (FH)
GOULART, Rafaela Sales. Sentidos da Folia de Reis: um estudo da memória e da identidade da celebração popular em Florínea/SP. São Paulo: Editora Alameda, 2018. 268p. Resenha de: FABRI, Aline. Folia de Reis em Florínea: manifestação popular, memória e patrimônio. Faces da História, Assis, v.6, n.1, p.483-489, jan./jun., 2019.
A partir da década de 1970, devido à efervescência da Nova História Cultural e da Micro-História, surgiram críticas à história das grandes narrações e do tratamento global à cultura. Os sujeitos presentes em todos os espaços, inclusive os marginalizados, passam a ser investigados e vistos por estas vertentes de pesquisa como contribuintes importantes à compreensão acerca da cultura e de diversos aspectos que estão envoltos a ela.
Dentro deste novo modo operante de se investigar a cultura e a história vem o livro Sentidos da Folia de Reis: um estudo da memória e da identidade da celebração popular em Florínea/SP, de autoria de Rafaela Sales Goulart, historiadora formada pela UENP (Universidade do Norte do Paraná), com especialização em História e Humanidades pela UEM (Universidade Estadual de Maringá), e mestrado em História pela UNESP (Universidade Estadual Paulista) câmpus de Assis.
O livro em questão é resultado da dissertação de mestrado da autora e foi publicado em 2018 pela editora Alameda/São Paulo. Possui 268 páginas, contendo introdução, três capítulos e conclusão. O prefácio foi feito pela orientadora de Goulart, a historiadora Fabiana Lopes da Cunha, que sucintamente escreve sobre o tema.
Sua estrutura está pautada em referencial teórico e historiográfico, com citações de pensadores relacionados ao assunto investigado. Alguns deles serão expostos mais adiante. Também usa fontes orais, colhidas de forma técnica, fotografias, além de trechos de músicas e declamações religiosas. Foram obtidos 21 relatos orais do grupo de foliões e 4 entrevistas com demais membros da cidade, como o pároco, por exemplo. Portanto, os documentos foram diversos: envolveram registros produzidos a partir dos foliões, documentos públicos da prefeitura e outros. Goulart fez uso de ideias de alguns autores que tratam de métodos de pesquisa em relação à história oral e à memória, como, por exemplo: Michael Pollak, Jacques Le Goff, Eduardo Romeiro de Oliveira e Verena Alberti.
No que diz respeito às narrativas orais e sua relação com a memória, Goulart apoiou-se em importantes autores. No entanto, ela poderia ter recorrido às indicações de Portelli (1996) quanto a esses métodos no trato e no cuidado para com os documentos. Isso teria reforçado ainda mais sua desenvoltura frente às fontes analisadas no presente trabalho. O autor nos ajuda a pensar que, ao fazer uso da história oral e das memórias, é preciso saber que elas “não nos oferecem um esquema de experiências comuns, mas sim um campo de possibilidades compartilhadas, reais ou imaginárias” (PORTELLI, 1996, p. 71). O cuidado para com as fontes orais e com as memórias é sempre imprescindível, e o aporte em Portelli (1996) seria uma sugestão para o incremento na construção de pesquisas nesse campo de estudos.
O assunto central da obra gira em torno da Festa de Reis, na cidade de Florínea/SP, que acontece há sessenta anos, e que teve reconfigurações de destaque, em 1993, e nos vinte anos seguintes, até 2013. O recorte temporal citado se destaca pela transferência da festa da zona rural para a área urbana. E, também, pela aquisição, com apoio da prefeitura, de um local fixo para a realização da festa bem como da criação da Associação Folclórica de Reis Flor do Vale de Florínea. Nos capítulos iniciais, a autora deixou o leitor a par, de forma descritiva e por meio de memórias, das principais características que constituem a Folia de Reis na cidade de Florínea. Em seguida, nos capítulos finais, ela trouxe à tona reflexões gerais acerca da consciência social construída sobre a Folia de Reis, da identidade formada pelos membros desse ritual e da Folia de Reis de Florínea vista como patrimônio imaterial.
No Capítulo 1, “A cidade da Folia de Reis: um giro pelas memórias e histórias de Florínea (SP)”, o foco é a história da cidade de Florínea construída por meio de relatos orais de moradores foliões da Companhia de Reis e por documentos da Prefeitura. Nesse processo, tem-se a identificação de proximidade da história de fundação da cidade com a história da constituição das duas Companhias de Reis ali formadas ao longo do tempo. Enquanto no Capítulo 2, A Folia de Reis de Florínea (SP) ritual, símbolos e significados, a autora retrata as a organização e as características específicas do festejo, trazendo detalhes sobre as diferentes funções dos membros das Companhias, explicações sobre os símbolos do festejo, da movimentação das Bandeiras e conteúdo das canções e versos entoados.
Valendo-se dos estudos de Jacques Le Goff e de Verena Alberti no que diz respeito a questões metodológicas, Goulart traz para a análise o papel do historiador frente aos documentos encontrados. Ela expõe, pautada nesses autores, que diante de documentos escritos, fotografias ou relatos orais, é preciso uma conduta de desmonte do que se tem em mãos para se conseguir analisar as suas condições de produção. Com essa postura, Goulart analisou as fontes ao longo de sua pesquisa de forma consciente e crítica, demonstrando sempre a preocupação com o explícito, mas além disso, com o implícito, no que tange à imagem que a comunidade de Florínea e os foliões têm de si mesmos ao longo da trajetória histórica das Companhias de Reis, suas vivências e realizações.
As reflexões sobre o assunto prosseguiram no Capítulo 3, Sentidos da Folia de Reis de Florínea (SP): memória, identidade e patrimônio (1993-2013). Neste capítulo, há uma análise sobre a possível formação de uma consciência social acerca da ideia de patrimônio em torno das mudanças ocorridas na festa. E, ainda, os sentidos dos rituais, aprendizagens sociais e estratégias de sustentação da memória coletiva tomadas pelos sujeitos envolvidos na condução do festejo.
A autora apoia-se nas ideias de Paulo Freire para discorrer uma análise sobre consciência social, crítica e histórica no tocante ao festejo estudado.
Goulart, dando continuidade às suas reflexões, analisa a transferência da festa para o Parque de Tradições, na cidade. Também discute os sentidos da criação da Associação Folclórica de Reis Flor do Vale de Florínea por foliões, em 2013, indicando que se trata de ações da comunidade florinense para com a continuidade da Folia de Reis. A partir destes dois atos, Goulart constrói sua análise acerca da possibilidade de existência de uma consciência coletiva dentre esses sujeitos, pois essas mudanças representam ações que aparentemente parecem ir nessa direção. A autora traz dados acerca dessa possível construção de consciência sobre o papel da Folia dentre os participantes do festejo. Verificamos isso em sua fala, por exemplo, sobre a Associação Folclórica de Reis Flor do Vale de Florínea quando ela afirma que tal entidade “[…] é recente e ainda depende de avanços no processo de consciência social dentro e fora do grupo, o que incide nas limitações das políticas culturais da cidade de Florínea.” (GOULART, 2018, p. 241).
Ao trabalhar com a questão da identidade do grupo pesquisado, Goulart se apoia nos estudos de Eric Hobsbawn e de Joseane P. M. Brandão. Ela discorre sobre a construção da identidade do grupo e usa de ideias desse primeiro autor para se referir à ideia de coesão social. Para isso reflete sobre o exemplo de figuras como o festeiro e o mestre que representam peso histórico de tradição forte: as bandeiras chegam a ser reconhecidas pelo nome de seus festeiros ou de seus mestres, e não pelo nome do fundador. No entanto ainda há uma reafirmação do nome daquele que seria o primeiro festeiro e fundador da festa (Sebastião Alves de Oliveira), o que reforça o peso de tradição da festa. Tais pontos de tradição, segunda ela, podem contribuir para a coesão social do grupo e de sua identidade.
Fazendo uso da citação de Joseane P. M. Brandão Goulart faz mais apontamentos sobre a formação da identidade do grupo: “[…] as identidades são sociais e os indivíduos se projetam nelas, ao mesmo tempo em que internalizam seus significados e valores, contribuindo assim para alinhar sentimentos subjetivos com as posições dos indivíduos na estrutura social” (BRANDÃO apud GOULART, 2018, p. 221). A Folia de Reis seria parte da identidade social de Florínea, tendo em vista que exerce representatividade dos sujeitos da cidade, que se veem como parte constituinte do festejo. Para o grupo, os rituais dessa festa popular possuem símbolos que lhes são significativos e dotados de valor e sentidos.
Quanto à ideia de patrimônio, Goulart a desenvolve tendo em vista sua imbricação com a formação da consciência e da identidade do grupo. Ela afirma que a Folia de Reis de Florínea é entendida como um patrimônio da cidade, porque representa uma identidade coletiva e suscita tentativas de conscientização do grupo sobre a […] a conscientização é um compromisso histórico. É também consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exige que os homens criem sua existência com um material que a vida lhe oferece. (FREIRE apud GOULART, 2018, p. 237).
continuidade do festejo. Cita, inclusive, a decretação da lei municipal de 2010 que coloca o dia 6 de janeiro (Dia de Santos Reis) como feriado municipal. O que seria mais uma tentativa de conscientização sobre o caráter de patrimônio da Folia de Reis de Florínea.
A autora discorre também sobre educação patrimonial e aprendizagens sociais. Para isso, recorre as ideias de Carlos R. Brandão e Sônia R. Florêncio. Ela cita a formulação da Coordenação de Educação Patrimonial (CEDUC) sobre o termo “Educação Patrimonial”, fazendo uso das palavras de Sônia R. Florêncio: […] todos os processos educativos formais e não formais que tem como foco o Patrimônio Cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera, ainda, que os processos educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diversas noções de Patrimônio Cultural. (FLORÊNCIO; et al, 2014, p. 19 apud GOULART, 2018, p. 237-238).
O ato de ensinar o outro sujeito a fazer declamações, danças ou demais aspectos da Folia de Reis faz parte de um processo de aprendizagem em Florínea, demonstra Goulart. A rigor, ela discorre sobre o assunto pautada em Carlos R. Brandão relatando que as comunidades detentoras dos patrimônios fazem fluir o saber, o ensinar e o aprender. E com o tempo transformam-se em representações sociais.
Conhecer o trabalho de Goulart com as fontes orais nos remete à categoria de “memória coletiva” desenvolvida por Halbwachs (1990). Embora ela não o tenha usado em sua pesquisa, esse sociólogo, que tem raízes no pensamento de Durkheim, nos traz conceitos, procedimentos e entendimento quanto ao trabalho com memórias. Ele nos alerta que o convívio social é determinante sobre a formação da memória. A lembrança de um indivíduo tem relação com lembranças coletivas dos grupos em que ele esteve ou está inserido. As memórias dos sujeitos da Folia de Reis de Florínea, transcritas por Goulart no livro, podem assim ser classificadas como coletivas. Elas têm pontos em comum, se entrecruzam, pertencem a grupos sociais presentes num mesmo espaço, que no caso é a cidade de Florínea e a área rural da região. Entretanto, a memória individual não pode ser ignorada. Ela é uma das lembranças que compõem a memória coletiva. O indivíduo exerce papéis tanto na memória individual, como na memória coletiva.
[…] a memória coletiva tira sua força e sua duração do fato de ter por suporte um conjunto de homens, não obstante eles são indivíduos que se lembram, enquanto membros do grupo. Dessa massa de lembranças comuns, e que se apoiam uma sobre a outra, não são as mesmas que aparecerão com mais intensidade para cada um deles. Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios. (HALBWACHS, 1990, p. 51).Ainda nessa perspectiva de análise sobre o caráter da memória, sua validade e uso, Goulart se baseia nas ideias de Bosi (1994) e afirma que “[…] memória é trabalho (BOSI, 1994) e de que lembranças são constructos sociais” (GOULART, 2018, p. 181). Ela nos leva a perceber que o mundo do trabalho está envolto à memória dos indivíduos e faz parte da construção de lembranças a serem contadas. Podemos recorrer à obra de Bosi (1994) para trazer mais alguns pontos sobre essa reflexão realizada por Goulart.
Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado, ‘tal como foi’, e que se daria no inconsciente de cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. (BOSI, 1994, p. 55).
Dessa forma, o historiador, ao trabalhar com fontes orais e memórias, precisa investigar as condições contextuais do grupo social onde os sujeitos depoentes estão inseridos e conjecturas atuais de interesse sobre o passado. Em Florínea, a maior parte dos depoimentos orais colhidos por Goulart são de indivíduos que hoje vivem no meio urbano. Ao se direcionarem as memórias sobre o passado, as atividades da Bandeira de Reis exercem um certo saudosismo por outra época: a vida no campo. Esse ponto merece ser tratado com cuidado, à luz de reflexões de estudiosos sobre os métodos de estudos sobre a memória.
Em relação aos sentidos da Folia para os envolvidos, Goulart criou reflexões que alcançam a ideia de identidade, consciência social e patrimônio. O grupo se vê nas práticas e símbolos do ritual e sente necessidade de dar continuidade ao festejo, o que contribui para lhe qualificar como patrimônio cultural imaterial.
Na conclusão do livro, a autora delineia um balanço final da pesquisa, com apontamentos voltados para a importância das construções sociais e da formação de consciência sobre um patrimônio cultural que, no caso das Companhias de Reis da cidade de Florínea, estão em formação.
Portanto, nesse estudo sobre a Folia de Reis em Florínea-SP emergem reflexões sobre identidade e memória, além de ser um trabalho que nos aproxima das análises referentes a fontes orais. O livro pode ser recomendado para estudantes que se interessem por assuntos envolvendo a problemática da memória e das identidades, que se inscrevem no campo da cultura popular e que se expressam nos festejos que envolvem religiosidade e fé que podem ser recuperados nos discursos memorialistas e fontes correlatas.
Referências
BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
GOULART, Rafaela Sales. Sentidos da Folia de Reis: um estudo da memória e da identidade da celebração popular em Florínea/SP. São Paulo: Alameda, 2018.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Laurent Léon Schaffter. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990.
PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e os fatos. Tempo, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, vol. l, n. 2, p. 59-72, 1996.
Aline Fabri – Licenciada em História, Unesp – Assis, São Paulo (SP). Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da UNESP, Assis, SP. Professora do Ensino Médio – Etec – Centro Paula Souza. E-mail: alinefabri1@yahoo.com.br.
[IF]História e Pós-Modernidade – BARROS (FH)
BARROS, José D’ Assunção. História e Pós-Modernidade. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2018. Resenha de: OLIVEIRA, Ana Carolina. História e pós-modernidade: uma polêmica na historiografia. Faces da História, Assis, v.6, n.2, p.547-552, jul./dez., 2919.
Perante as polêmicas na historiografia sobre uma história pós-moderna, as quais trazem à tona os debates sobre a aproximação da história com a ficção e com seu significado polissêmico, o embasamento argumentativo deve encaminhar aspectos teóricos e não de senso comum. Sendo assim, é necessário pontuar, de forma teórica e crítica, o conceito de pós-modernidade e o que isso representa na historiografia.
O livro História e Pós-Modernidade, escrito pelo autor José D’ Assunção Barros, possui o objetivo de pontuar questões que permeiam a discussão da pós-modernidade na história, compondo uma estruturação explicativa e básica sobre o tema. O autor procura expor referências e indicações de leituras, mas os seus capítulos são curtos, o que torna o livro uma introdução com possíveis caminhos de leituras, isso se deve à intencionalidade de Barros em escrever algo mais próximo de um manual, em pequenos capítulos, para aqueles que não têm conhecimento sobre o tema.
O livro contém treze capítulos que estão elencados na seguinte ordem: “Pós-Modernidade: referências iniciais”, “Pós-Modernismo: o conceito e algumas análises clássicas”, “A análise de Fredric Jameson sobre o pós-modernismo”, “Historiografia e Pós-Modernismo: a polêmica de Ankersmit”, “A crise da história total e a fragmentação da história”, “Narrativa e cognição histórica: interações e conflitos”, “Hayden White: a História como gênero literário”, “Resistências à redução da história ao discurso”, “Paul Ricoeur: tempo e narrativa”, “A Pós- Modernidade e os novos modos de escrita historiográfica”, “Traços do Pós-Modernismo: alguma síntese”, “Quem são os pós- modernos”, “Conclusões: a história pós-moderna e o contexto das crises historiográficas”. Os capítulos são escritos de forma acessível, para aqueles que queiram tirar dúvidas ou ter uma visão geral do tema.
A proposta de Barros foi de elaborar uma escrita que dialogasse com o contexto histórico e a promoção de discussões historiográficas, trazendo uma análise da pós-modernidade, sob a ótica de vários autores como Jameson e Ankersmit.
Barros começa seu livro com a discussão acerca do conceito de pós-modernidade, por tratar-se de uma definição conceitual que impõe consigo ambiguidades. Às vezes, pós-modernidade e pós-modernismo são usados como sinônimos, causando confusão. É no capítulo “Pós-Modernismo: o conceito e algumas análises clássicas” que as diferenças conceituais são apresentadas. Segundo Barros, a pós-modernidade significa um período específico da História Contemporânea, enquanto o pós-modernismo representa um campo da esfera cultural (BARROS, 2018, p. 11). Seguindo o conceito, a linha de pensamento da pós-modernidade é questionar a concepção de verdade clássica, a ideia de progresso ou de uma possível emancipação universal, como se a história tivesse um objetivo para ser atingido, o conceito de razão, a questão da identidade e objetividade, além das críticas contra as grandes narrativas.
A pós-modernidade surge da mudança histórica no Ocidente, quando o capitalismo se implanta na sociedade, na qual encontramos um mundo do consumismo e da indústria cultural. Por meio de uma análise marxista sobre a cultura e a história no pós-modernismo, Barros trabalha em seu capítulo “A análise de Fredric Jameson sobre o pós-modernismo”, com a posição de Jameson sobre a pós-modernidade, apontando para o poder imensurável que a mídia passa a conter. Tudo é comercializado, tanto produtos materiais quanto imateriais e com a historiografia não poderia ser diferente, pois ela transformou-se em um produto. Por conta do consumismo houve o crescimento de livros no mercado. Os historiadores passaram a escrever obras literárias ao estilo do romance histórico, para que seus livros chegassem à maior parte da população, além dos historiadores, visando à ampliação do lucro. O problema é que não fica nítido se nesses livros a obra é uma ficção para entretenimento literário ou se contém alguma metodologia científica (BARROS, 2018, p. 21-22). Segundo Jameson: na cultura pós-moderna, a própria cultura se tornou um produto, o mercado tornou-se seu próprio substituto, um produto exatamente igual a qualquer um dos itens que o constituem: o modernismo era, ainda que minimamente e de forma tendencial, uma crítica à mercadoria e um esforço de forçá-la a se autotranscender. O pós-modernismo é o consumo da própria produção de mercadorias como processo (JAMESON, 1997, p. 14).
Da esfera cultural para a historiografia, Barros utiliza o artigo Historiografia e pós-modernismo, escrito por Frank Ankersmit, a fim de iniciar as discussões sobre a historiografia no capítulo “Historiografia e Pós-Modernismo: a polêmica de Ankersmit”. O artigo de Ankersmit trabalha a historiografia pós-moderna, mostrando uma quebra de paradigma, com a crítica de que a “crise das metanarrativas seria o traço principal da Condição Pós-Moderna” (BARROS, 2018, p. 27).
Por meio da historiografia pós-modernista, encontrada principalmente na história das mentalidades, é realizada uma ruptura com a tradição essencialista, no pensamento pós-moderno. O objetivo não é mais a integração, uma totalidade ou uma história universal. Para Ankersmit as principais diferenças entre uma história moderna e pós-modernista são: Para o modernista, dentro de sua noção científica de mundo, dentro da visão de história que inicialmente todos aceitamos, evidências são essencialmente evidência de que algo aconteceu no passado. O historiador modernista seguia uma linha de raciocínio que parte de suas fontes e evidências até a descoberta de uma realidade histórica escondida por trás destas fontes. De outra forma, sob o olhar pós-modernista, as evidências não apontam para o passado; mas sim para interpretações do passado; pois é para tanto que de fato usamos essas evidências (ANKERSMIT, 2001, p. 124).
Portanto, não apontar para os padrões essencialistas no passado é, antes de tudo, a essência da pós-modernidade. Nesta fase da historiografia, parece que o significado adquiriu mais importância que a reconstrução, sendo o objetivo dos historiadores desvendar o significado do acontecimento no passado, para poder informar gerações atuais e posteriores. A historiografia pós-moderna é enquadrada em um paradigma historiográfico, em uma alternativa ao positivismo, historicismo, entre outros inúmeros existentes. Barros chama a atenção para a indagação que Ankersmit transmite “o nosso insight sobre o passado e a nossa relação com ele serão, no futuro, de natureza metafórica, e não real” (ANKERSMIT apud BARROS, 2018, p. 33), ou seja, é o momento de colocar em primeiro plano o pensar sobre o passado e em segundo lugar investigá-lo.
Para a corrente historiográfica pós-modernista “a História seria essencialmente construção e representação, com pouca ou nenhuma ligação em relação a uma realidade externa” (BARROS, 2018, p. 77). Desta afirmação surgem diversos posicionamentos. Existem aqueles que veem a história com ceticismo ou como uma possível alternativa de misturar história e ficção ou aqueles que relacionam a construção da história com práticas disciplinares e com um sistema de poder.
A História (ou as histórias) torna-se aqui profundamente subjetivada no que se refere a suas destinações. E, mais ainda, ao escrever uma história dirigida para um público específico, o historiador pode pensar isto socialmente – direcionando-a a grupos que cultivem identidades específicas, como a negritude, o feminismo, o ecologismo, o movimento gay, as identidades religiosas ou simplesmente pensar a destinação do seu trabalho em termos de públicos consumidores, pois o mercado editorial contemporâneo até mesmo o estimula a isto (BARROS, 2018, p. 78).
Aqui voltamos para a questão da superprodução historiográfica: por um lado existem obras que misturam história e ficção. Os historiadores escrevem romances históricos e apresentam uma narrativa sem problematização ou sem uma metodologia científica. Por outro lado, encontramos algo importante, como as histórias que foram deixadas de lado. Podemos aqui direcionar a história para um público, como a história das mulheres, a cultura africana, as diversas religiões excluídas; encontramos uma variedade de histórias que antes não seriam escritas e aceitas no meio acadêmico. Encontramos na historiografia um diálogo com a sociedade. Se antes os paradigmas historiográficos ou os grupos acadêmicos não aceitavam determinado tema, como os pesquisados na micro-história ou dos pós-modernistas, com o tempo esses aspectos importantes foram modificados.
Os historiadores dificilmente se assumem pós-modernistas, por conta das polêmicas e atritos na historiografia. O que implicaria ser um historiador pós-moderno? Seguindo um modelo de apresentação, Barros utiliza as definições de Ciro Flamarion Cardoso, no capítulo “Traços do Pós-Modernismo: alguma síntese”, para pontuar as cinco características principais de um historiador pós-moderno: “(1) a desvalorização da Presença em favor da Representação; (2) a crítica da origem; (3) a rejeição da unidade em favor da pluralidade; (4) a crítica da transcendência das normas, em favor da sua imanência; (5) uma análise centrada na alteridade constitutiva” (BARROS, 2019, p. 81-82). No entanto, são apenas tentativas de atribuir características, pois a rotulação de historiadores e suas pesquisas são difíceis.
Por fim, Barros apresenta muitos questionamentos interessantes. Um deles é a seguinte pergunta, no capítulo “Conclusões: a história pós-moderna e o contexto das crises historiográficas”: “Será a historiografia pós-moderna um produto das crises historiográficas, ou uma resposta a estas mesmas crises?” (BARROS, 2018, p. 99).
Em primeiro lugar, vivemos em uma época com alternativas para o historiador optar ao escrever história, conceitos e paradigmas. Como a história é devir, é natural que comecem a surgir novos paradigmas e questionamentos das concepções de história existentes. A crise acontece com frequência, é a partir dela que repensamos a própria forma de escrever e se essa ou aquela corrente historiográfica precisa ser modificada. Neste caso, podemos expor dois fatores: os “endógenos, que são aqueles que foram produzidos pelo próprio sistema em causa; e há os fatores exógenos, que são aqueles que intervieram de fora” (BARROS, 2018, p. 99).
Se analisarmos a historiografia do início do século XIX, por exemplo, nota-se que, com seu próprio desenvolvimento, surge a superconsciência histórica, o historiador contemporâneo começa a elaborar a sua própria consciência histórica, a qual condiz com a historicidade e relatividade da história que são frutos, desde as mudanças “dos desenvolvimentos da hermenêutica historicista à crescente tomada de consciência gerada pela própria prática historiográfica, ao se confrontar com níveis vários de subjetividade” (BARROS, 2018, p. 100). Este processo é algo que ocorreu no âmbito interno da história como campo de disciplina, pois o historiador entra em contato com “a natureza relativa e histórica daquilo que servirá de base material para a produção do conhecimento histórico: a fonte” (BARROS, 2018, p. 100).
As discussões em relação ao tratamento dos documentos foram debatidas já com os primeiros historicistas. O texto historiográfico não era mais visto com neutralidade ou como um documento oficial detentor de verdades inquestionáveis. As críticas documentais mostraram que um texto sempre carrega a subjetividade e o contexto da época de sua escrita. Com o tempo, o texto escrito pelo historiador passou a ser analisado da mesma forma, considerando a subjetividade. Já no século XX, o historiador contemporâneo constatou a necessidade de lançar críticas e refletir sobre a própria historiografia.
As obras com as discussões sobre a historiografia surgiram em 1970, como por exemplo, A Operação Historiográfica de Michel de Certeau, Como se escreve a História de Paul Veyne, A Meta História de Hayden White, entre outras, a partir de obras como estas “foi se desenvolvendo no historiador contemporâneo, enfim, aquilo que poderemos categorizar como uma superconsciência histórica” (BARROS, 2018, p. 101).
No entanto, o fator “endógeno” é um produto do próprio “sistema em causa”, ou seja, é a superconsciência histórica. Por se tratar de um processo interno da história, ela é produto e causa. Por conter a superconsciência, o historiador vê-se obrigado a repensar a historiografia que escreve promovendo uma transformação na historiografia. Já o fator “exógeno” é o conjunto de acontecimentos externos que afetam a história, como a reflexão vinda da linguística que trouxe questionamentos sobre os limites da narrativa histórica. Com esta reflexão surgiu a centralização das “práticas e representações de um setor da chamada historiografia pós-moderna que, no limite, passou a reduzir a Historiografia apenas ao Discurso” (BARROS, 2018, p. 102).
São inúmeras as crises na historiografia, como aponta Barros no capítulo “Conclusões: a história pós-moderna e o contexto das crises historiográficas”, sendo que uma delas é marcada pela afirmação de Fukuyama, em 1989, sobre o “fim da história”, que usou como argumento a queda do socialismo como um sinal de que a “história tinha chegado ao fim”, por atingir o capitalismo (BARROS, 2018, p. 102). Essa afirmação, de que a “a história tinha chegado ao fim”, recebeu mais críticas do que elogios, pois foi na realidade um efeito político e midiático e não um posicionamento pautado em argumentos históricos fundamentados e verossímeis. Por outro lado, a crise da cientificidade de 1980 proporcionou um questionamento da História Serial e gerou uma crise para os herdeiros da corrente historiográfica dos Annales. Para concluir, Barros afirma que: as crises na história – das de baixo impacto às de alto impacto, das fugazes às de longa duração, das que trazem decadência às que permitem crescimento, das que perturbam às que autorregulam, das que são geradas por dentro às que vêm de fora – podem ser pensadas, em um plano mais alto, como partes importantes desta complexa história da historiografia. Os rumos da história pós-moderna, se assim podemos chamar a um certo setor da historiografia contemporânea, e também os futuros desenvolvimentos de uma série de outras propostas que não se adequem propriamente ao conceito de “pós-modernismo historiográfico”, ainda estão por se definir no interior desta mesma complexidade (BARROS, 2018, p. 104).
Portanto, estamos diante de um livro que contém vantagens e desvantagens. A vantagem é que os capítulos trazem uma leitura, que flui com explicações simples e objetivas. Outro ponto positivo é que Barros cita e indica várias obras para leitura sobre o tema. A desvantagem é que o livro se aproxima de um manual com capítulos curtos. Seria interessante se estes fossem densos, pois é um tema pouco trabalhado, mas acredito que o objetivo de Barros tenha sido o de apontar um panorama geral. Além de tudo, o livro compõe uma leitura dinâmica e agradável, com uma linguagem objetiva e didática, fato que impulsiona a leitura até o fim do livro, prendendo a atenção aos argumentos e indicações que Barros coloca em sua narrativa.
Referências
ANKERSMIT, Franklin Rudolf. Historiografia e Pós-Modernismo. Topoi, Rio de Janeiro, p. 113-135, mar. 2001.
BARROS, José D’ Assunção. História e Pós-Modernidade. Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2018.
JAMESON, Fredic. Pós-Modernismo: a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. São Paulo: Editora Ática, 1997.
Ana Carolina Oliveira – Mestranda na Pós-Graduação em História da UNESP de Assis, estado de São Paulo (SP), Brasil. Atualmente é bolsista CAPES. E-mail para contato: nacarolinaoliveira1234@gmail.com.
[IF]Utopia e repressão: 1968 no Brasil – NUNES et al (FH)
NUNES, Paulo Giovani Antonio; PETIT, Pere; LOHN, Reinaldo Lindolfo (org.). Utopia e repressão: 1968 no Brasil. Salvador: Sagga, 2018. 355p. Resenha de: VENTURINI, Luan Gabriel Silveira. Um país de vários rostos, várias culturas e várias lutas: o ano de 1968 no Brasil. Faces da História, Assis, v.6, n.2, p.553-558, jul./dez., 2019.
Nesta coletânea, os professores Paulo Giovani A. Nunes, do Departamento de História da Pós-Graduação em História da UFPB, Pere Petit, associado da UFPA, e Reinaldo L. Lohn, do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da UDESC, organizam quatorze textos – divididos em capítulos – sobre o período da Ditadura militar brasileira em várias localidades do país, dando vida, assim, ao livro “Utopia e Repressão: 1968 no Brasil”, publicado no ano de 2018. Estes capítulos seguem, de certa forma, uma ordem de organização de acordo com a temática, nos quais grande parte dos textos tem como foco o tema entre memória e movimento estudantil universitário e secundarista, passando pela memória social e pela imprensa da época. Desse modo, vemos que as ações do Regime não se concentraram apenas nos grandes centros, pois movimentaram outros segmentos da sociedade na luta pelas liberdades, como estudantes secundaristas, indígenas, comunidades extrativistas, etc.
Torna-se necessário, portanto, destacar as motivações dos organizadores com a publicação da coletânea aqui apresentada. O intuito desses autores é mostrar, particularmente, os acontecimentos do ano de 1968 no Brasil ditatorial; momento de muitas agitações, manifestações, embates, perseguições e da imposição escancarada da repressão e censura, por meio do AI-5. Além disso, querem expor a enorme diversidade de atores sociais e também espacial, ou seja, apresentar que o Regime militar brasileiro e as suas determinações e consequências motivaram mais do que os principais políticos, artistas, estudantes, jornalistas e intelectuais das principais cidades brasileiras (Rio de Janeiro e São Paulo). Os capítulos irão revelar um país mais plural, afirmando a diversidade durante esse período da História.
No primeiro capítulo, “Papagaio que está trocando as penas não fala: autoritarismo e disputas políticas no Amazonas no contexto do golpe de 1964”, César Augusto B. Queirós analisa as disputas políticas no Estado do Amazonas, no contexto do golpe de 1964. O autor salienta a cassação do mandato do governador Plínio Ramos Coelho (PTB) e a consequente posse de Arthur César Ferreira Reis, político indicado à Assembleia Legislativa do Estado pelas Forças Armadas e pelo presidente Castelo Branco.
A coletânea segue para o próximo texto, permanecendo ainda na região Norte, só que agora o foco não são mais os políticos e, sim, os povos indígenas. Em “Os involuntários da pátria: povos indígenas e Segurança Nacional na Amazônia Ocidental (1964-1985)”, Maria Ariádina C. Almeida e Teresa A. Cruz destacam a situação dos povos indígenas no Estado do Acre, durante um momento em que se acentuavam as ações de controle e violência contra eles por parte de alguns órgãos do Governo Federal. Segundo elas, isso ocorria graças à doutrina de Segurança Nacional e ao objetivo de incentivar a integração tanto socioeconômica quanto cultural da Amazônia ao centro-sul do país. Elas não deixam de salientar a resistência desses povos e também a dos seringueiros na defesa dos seus territórios.
Já em “Memórias de luta: eventos estudantis contra a ditadura na ‘Fortaleza 68’”, há um deslocamento da região Norte para o Nordeste, além da mudança de objeto. O autor Edmilson A. Maia Jr. apresenta a memória sobre a organização do movimento estudantil e conta a trajetória dele em Fortaleza, desde a retomada das instâncias dos interventores, a partir de 1966, até o ápice deste movimento na capital cearense, que foi a Passeata dos Vinte Mil. O autor utiliza-se principalmente de fontes orais.
No próximo capítulo, o objeto de análise continua sendo o movimento estudantil, além do estudo acerca da imprensa na cidade de Florianópolis, ou seja, agora desloca-se para a região Sul. Em “1968 entre utopias e realidades. Imprensa e protesto estudantil: o caso de Florianópolis”, Reinaldo L. Lohn e Silvia Maria F. Arend analisam a complexidade entre imprensa e movimento estudantil com as mudanças sociais ocorridas naquele momento em diferentes cidades brasileiras, principalmente Florianópolis. Eles buscam demonstrar que a temática da juventude e da inovação social implicava tanto nos projetos de quem ia às ruas combater a Ditadura quanto também nutriam os empolgados com o crescimento econômico que estava transformando as cidades de porte médio no Brasil.
Novamente ocorre um deslocamento de cenário, agora para a região Sudeste, porém, o movimento estudantil e a imprensa continuam sendo os objetos de análise em “A UNE na mira da VEJA desde 1968”. A autora Maria R. do Valle ressalta as lutas deste movimento estudantil em São Paulo, a partir de 1968, não só contra a repressão política, mas também contra a narrativa elaborada pela grande imprensa – especialmente a VEJA – que estigmatizava os personagens e as tomadas de decisões do movimento, produzindo assim uma memória pejorativa em relação aos ativistas.
O movimento estudantil continua como objeto de estudos no trabalho de Paulo Giovani A. Nunes, que analisa a luta armada na região Nordeste. Assim como no trabalho de Edmilson A. Maia Jr., em “O ano de 1968 no Estado da Paraíba: militância estudantil e opção pela ‘luta armada’: trajetórias, história e memória”, vemos a trajetória e as memórias de alguns militantes de esquerda, vinculados ao movimento estudantil no Estado da Paraíba. Além disso, alguns estudantes optaram por participar da luta armada no Estado e, segundo o autor, faziam parte do PCBR (Partido Comunista Brasileiro Revolucionário).
A questão da memória estudantil continua como foco no trabalho “O poder jovem: memória estudantil e resistência política na obra de Arthur Poerner”, no qual Rodrigo Czajka e Thiago B. Castro observam a influência do livro O poder jovem, que trata da memória social elaborada acerca dos fenômenos sociais que definiram aquela geração (década de 1960). Segundo os autores, o livro ainda é considerado uma referência para o movimento estudantil.
Após alguns trabalhos sobre movimento e memória estudantil, há uma mudança no objeto de estudo no capítulo “Anticomunismo, evangelização e conscientização: igreja e trabalhadores rurais em Pernambuco (1968-1978)”, no qual Samuel C. de Maupeou estuda a atuação da Igreja Católica no meio rural do estado nordestino, especialmente na zona canavieira, mostrando que apesar do viés social, atuava nessa área com um caráter anticomunista. O autor ainda ressalta que apesar do movimento religioso ter defendido o Golpe de 1964, ele foi abalado após a tomada do poder pelos militares; e, com isso, houve a sua reorganização e uma nova articulação.
Seguindo nesse viés de análise da Igreja no contexto do Regime militar, em “Dominicanos, 1968”, Américo Freire discorre sobre a atuação dos religiosos da Ordem dos dominicanos na luta contra a Ditadura militar e como se tornaram alvos dos militares a partir dos contatos de frades com Carlos Marighella. Segundo o autor, as razões para o envolvimento deles na luta contra o Regime vão além das questões políticas.
No texto “O 68 no Rio Grande do Sul”, Enrique S. Padrós analisa a atuação do movimento estudantil secundarista na cidade de Porto Alegre e como as aproximações e os engajamentos com a luta armada estiveram interligados com aspectos da vida cultural, particularmente o teatro.
E no capítulo “1968, memória e esquecimento: como recordar a Bahia?” Lucileide C. Cardoso analisa, especialmente, as memórias acerca do movimento estudantil secundarista e universitário, que iniciaram suas lutas em 1966, mas chegaram ao auge das mobilizações em 1968, além de diferentes interpretações sobre fatos ocorridos no estado nordestino.
Em “Partidos e Eleições no Pará nos tempos da Ditadura Militar”, Pere Petit – assim como César Augusto B. Queirós na análise sobre o Estado do Amazonas – ressalta o desfecho do Golpe de 1964 no Pará e a consequente perseguição aos opositores “comunistas”, seguida pela cassação do mandato do atual governador Aurélio do Carmo. O autor também apresenta os resultados eleitorais de 1965 e a disputa pelo controle do partido ARENA entre duas principais lideranças golpistas no Estado, Jarbas Passarinho e Alacid Nunes.
No trabalho “Do uso das tecnologias e dos dispositivos de poder: ditadura militar e empresários na Amazônia”, em que Regina Beatriz G. Neto e Vitale J. Neto apresentam o processo de colonização e violência imposto no Mato Grosso como padrão de desenvolvimento econômico. Para isso, analisaram as alianças entre as elites econômicas e órgãos do governo federal e estadual, que ignoraram a territorialidade dos povos indígenas e dos extrativistas. Trata-se também de mais um trabalho sobre a região Amazônica no livro.
No último texto da coletânea, “Considerações sobre a ditadura civil-militar no sul de Mato Grosso (1964-1968)”, Suzana Arakaki analisa a atuação dos membros da Ademat (Ação Democrática de Mato Grosso) e também do Comando de Caça aos Comunistas no combate a esses “subversivos”, além do papel da imprensa da região antes e durante a Ditadura.
Como vimos, o intuito desta coletânea é apresentar aos leitores as diversas realidades brasileiras que compuseram o período de Ditadura militar, bem como a luta e resistência desses “novos” segmentos. Além disso, ela nos mostra possiblidades e objetos de pesquisa, que ainda são pouco explorados pela historiografia sobre o tema, como o uso das memórias na reconstituição da história dos movimentos estudantis, o papel das alianças entre grandes proprietários de terras e os órgãos do governo federal, a utilização de obras contemporâneas do período como forma de recuperar a memória social daquela geração etc. Assim sendo, trata-se de uma obra que traz importantíssimas contribuições e novos problemas de pesquisa.
Os organizadores cumpriram com o que se propuseram ao apresentar um Brasil plural durante a Ditadura militar, por meio da exibição de diversos cenários – tanto urbano quanto rural – e atores sociais do nosso território nacional. Desse modo, passaram por todas as regiões do país, isto é, mostrando que o Regime militar fez-se presente em cada região e não só nos principais centros. No entanto, o modo como organizaram e distribuíram esses temas no decorrer dos capítulos não valorizou a coletânea, uma vez que, aparentemente, o livro segue uma ordem de apresentação, mas em certos momentos é interrompida, ficando, assim, dispersas as regiões e assuntos que tinham relação um com o outro. Por exemplo, os dois primeiros capítulos tratam de temáticas da região Norte, sendo que o primeiro discorre sobre as questões políticas no Estado do Amazonas, antes e após o Golpe de 1964. A região Norte retorna ao livro no antepenúltimo capítulo, no qual Pere Petit também ressalta as questões políticas no Estado do Pará durante o processo do Golpe de 1964, ou seja, trata-se da mesma região e tema, que poderiam estar próximas na organização do livro.
Todavia, observamos ao longo dos capítulos a atenção dada ao tema da memória e, consequentemente, ao uso da fonte oral como recurso para se chegar a ela. No trabalho de Edmilson A. Maia Jr., por exemplo, a História Oral é utilizada como metodologia de pesquisa e constituição de fontes, permitindo “o registro de testemunhos e o acesso a ‘histórias dentro da história’ e, dessa forma, amplia as possibilidades de interpretação do passado” (ALBERTI, 2008, p. 155). Assim, a História Oral permite o estudo das formas como pessoas ou grupos efetuaram e elaboraram as suas experiências, como vemos na narrativa de Maia Jr. sobre a trajetória de embates e resistência do movimento estudantil de Fortaleza. A combinação da história com a experiência relatada significa entender como pessoas e grupos experimentaram o passado, tornando possível questionar interpretações generalizantes de certos acontecimentos (ALBERTI, 2008).
Portanto, a História Oral é muito útil para a História da Memória, pois, segundo Alberti (2008), apesar das críticas no início – afirmando que as fontes orais diziam respeito às “distorções” da memória –, hoje em dia, os historiadores consideram a análise dessas “distorções” como a melhor forma de levar a compreensão dos valores coletivos e das ações de um grupo, como o caso dos movimentos estudantis.
Ela [a memória] é resultado de um trabalho de organização e de seleção do que é importante para o sentimento de unidade, de continuidade e de coerência – isto é, de identidade. E porque a memória é mutante, é possível falar de uma história das memórias de pessoas ou grupos, passível de ser estudada por meio de entrevistas de História oral. As disputas em torno das memórias que prevalecerão em um grupo, em uma comunidade, ou até em uma nação, são importantes para se compreender esse mesmo grupo, ou a sociedade como um todo (ALBERTI, 2008, p. 167).
Por fim, como nos sustenta René Rémond (2003), não há muitas realidades da nossa sociedade que o político não está presente, e isso vale para as memórias também. Admitindo-se, então, essa dimensão política no funcionamento da memória – já que seu caráter instituinte se realiza no campo conflituoso das escolhas, dos valores, dos significados –, os historiadores da memória tratam, segundo Meneses (2009), de examinar na contemporaneidade aspectos da memória politicamente marcados. Desse modo, a coletânea aborda constantemente temas relacionados à memória da Ditadura militar brasileira, especificamente a memória estudantil, que querem trazer um significado, transformando-se em elemento simbólico (MENESES, 2009), ou seja, a Ditadura em si é carregada de significados, formando uma memória coletiva a respeito dela; e as lutas e resistências destes segmentos também carregam significados próprios, formando também uma memória coletiva. Estas memórias coletivas convergem entre si e ajudam a formar a história da Ditadura militar brasileira.
Referências
ALBERTI, Verena. Fontes orais – Histórias dentro da História. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2008. p. 155-202.
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Cultura política e lugares de memória. In: AZEVEDO, Cecília et. alli, (org.). Cultura política, memória e historiografia. Rio de Janeiro: FGV, 2009. p. 445-463.
NUNES, Paulo Giovani Antonio; PETIT, Pere; LOHN, Reinaldo Lindolfo (org.). Utopia e repressão: 1968 no Brasil. Salvador: Sagga, 2018. 355p.
RÉMOND, René. Do político. In: RÉMOND, René (org). Por uma história política. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. p. 441-454.
Luan Gabriel Silveira – Graduado em História pela UFMS/CPTL, Três Lagoas, estado do Mato Grosso do Sul (MS), Brasil. Professor substituto da Educação Básica. E-mail: luan_silveira10@hotmail.com.
[IF]Escravo, africano, negro e afrodescendente: a representação do negro no contexto pós-abolição e o mercado de materiais didáticos (1997-2012) – GARRIDO (FH)
GARRIDO, Mírian C. M. Escravo, africano, negro e afrodescendente: a representação do negro no contexto pós-abolição e o mercado de materiais didáticos (1997-2012). São Paulo: Alameda, 2017. 203p. Resenha de: SILVA, Jonatan Gomes dos Santos. A representação do negro nos materiais didáticos. Faces da História, Assis, v.6, n.2, p.11-27, jul./dez., 2019.
O Brasil possui o maior programa de distribuição de livros didáticos do mundo. Só em 2017 foram gastos 1.295.910.769,73 de reais em 125.570.649 livros. Tais cifras ajudam a entender a importância dos livros didáticos no ensino do país, sendo uma das bases para a configuração dos currículos escolares e do planejamento de aulas. O processo de avaliação e distribuição desses livros é complexo, devendo ser feito com diálogo entre o Estado, as editoras, a academia e as demandas sociais.
O livro Escravo, africano, negro e afrodescendente, de Mírian Cristina de Moura Garrido, analisa essa relação na produção dos livros didáticos cujo conteúdo tem grande impacto na formação da identidade dos alunos. Para isso, propõe em seus três capítulos a análise das representações dos negros nos principais livros didáticos de história distribuídos nas escolas brasileiras entre os anos de 1997 a 2012, tendo como foco o tema pós-abolição. A autora não analisa apenas o seu conteúdo, mas também as etapas a serem cumpridas até a sua distribuição nas escolas, colocando em pauta a indústria de materiais didáticos e sua relação com o Estado, seu principal cliente. O livro foi publicado em 2017 pela editora Alameda, sendo fruto da dissertação de mestrado em História da autora, realizado na UNESP (campus de Assis) entre os anos de 2008 e 2011. Doutorou-se pela mesma instituição em 2017, também realizou estágio de pesquisa na University of Pittsburgh (Estados Unidos) e pesquisa de campo em Maputo (Moçambique). Atualmente, Garrido é pós-doutoranda em História pela Universidade Federal de São Paulo, desenvolvendo pesquisa sobre as memórias da independência moçambicana.
No primeiro capítulo “O livro didático: contexto”, Garrido contextualiza os livros didáticos brasileiros a partir dos aspectos econômicos, editoriais e historiográficos, traçando um panorama do que sua obra discute. Para analisar essa relação entre representação e o complexo processo de criação do livro didático, a autora utiliza o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático). Este é o responsável por avaliar e disponibilizar os livros didáticos das escolas brasileiras. A partir de seus editais de convocação, em geral lançados dois anos antes da circulação do livro na escola, é possível estabelecer todas as exigências a serem cumpridas pelas editoras e obras didáticas que desejam negociar com o Estado, as condutas dos livros didáticos e suas editoras, bem como os critérios de análise estabelecidos. Na última etapa do edital PNLD aparece o Guia de Livros, Garrido também o usa como fonte, pois ele fornece auxílio ao professor na escolha do livro didático, expondo os princípios e critérios de avaliação das obras didáticas e as resenhas dos livros aprovados.
O PNLD na obra de Garrido também é fundamental para seleção dos livros utilizados como fonte, uma vez que formula seus critérios: a aprovação dos autores na versão 2008 do Programa Nacional do Livro Didático destinado ao Ensino Médio; a presença deles no mercado de didáticos antes do início das avaliações governamentais para o segundo ciclo do ensino fundamental, portanto, 1997 (PNLD 1999); e a representatividade desses autores entre docentes. Traçado esse perfil, três nomes emergiram: Gilberto Cotrim, Antonio Pedro e Mario Schmidt. (2017, p. 12) A formação profissional desses autores diverge. Cotrim tem uma ampla e diversificada formação: graduação em História, Direito, Filosofia, e mestrado em Educação, Arte e História da Cultura. Também foi presidente da Associação Brasileira de Autores de Livro Educativo (ABRALE). Antonio Pedro tem uma carreira mais ligada à universidade, possui graduação em História pela Universidade de São Paulo (USP) e doutorado em História Social pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) em conjunto com a Columbia University. Schmidt, estranhamente, não tem formação comprovada, mas alega ter graduação em História na Alemanha Oriental, bem como ter iniciado os cursos de Engenharia e Filosofia sem completá-los, e ainda assim é uma grande referência no mercado de didáticos.
A autora articula o PNLD com a lei 10.639/03. Esta é fundamental para a representação do negro nos livros didáticos enquanto sujeito histórico, porque expõe a conquista de uma das mais antigas demandas do movimento negro contemporâneo: a incorporação de conteúdos sobre História da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional nos currículos escolares. Não é uma simples incorporação de conteúdo, o que “está em pauta é o repensar de atitudes e valores, de ressignificação do ensino enquanto instrumento de valorização da identidade.” (GARRIDO, 2017, p. 175) No segundo capítulo, “Livros do Ensino Médio aprovados no PNLEM: Cotrim; Schmidt; Pedro”, Garrido analisa os livros das duas gerações (1997 e 2008) dos autores selecionados. O método utilizado é a análise do conteúdo, portanto, a autora primeiro realiza a “desmontagem dos textos, fragmentando o corpo do texto para obter unidades lógicas; em seguida, essas unidades serão confrontadas com outros referenciais bibliográficos” (GARRIDO, 2017, p. 79), objetivando a emergência de novos significados. A desmontagem do texto inicial resulta em um segundo texto, um metatexto capaz de pluralizar a captação de significados do texto original. Assim, é possível ampliar as interpretações de leituras possíveis e evitar uma leitura superficial.
Os referenciais bibliográficos que Garrido utiliza para confrontar as fontes dialogam com uma revisão historiográfica que ocorre a partir da década de 1980, e que ainda perdura, propondo uma nova interpretação sobre o sujeito histórico. De forma geral, pensando na questão da representação do negro, pode-se dizer que essa historiografia emergente recusava “a predominância de um enfoque socioeconômico e estrutural passando a privilegiar abordagens que ressaltavam variáveis políticas e culturais, para um melhor entendimento das relações sociais construídas entre dominantes e dominados.” (GOMES, 2004, p. 159).
Portanto, as reflexões de Sidney Chalhuob (1990) e Walter Fraga Filho (2004) se destacam na obra de Garrido. Eles sustentam que o negro, escravizado ou livre, como agente ativo socialmente, é partícipe das transformações sociais mesmo com as limitações que lhe são impostas. Ocorre, pois, a sua valorização enquanto sujeito histórico, diferente da ideia de passividade e anulação pelo dominador que era propagada por modelos, marxistas ou não, que privilegiam os aspectos estruturais, resultando na coisificação do negro. Para isso, são empregados métodos e fontes que aproximam o historiador ao cotidiano da população negra – como as memórias, os processos criminais, testamentos –, documentos que de alguma forma dão voz à ela ou nos relatam sua participação na sociedade. Dessa forma, apesar das limitações sociais, é possível apreender as redes familiares e de solidariedade construídas por esse segmento social, os meios criados para a sua participação no mercado de trabalho, as negociações entre negros e ex-senhores. Além disso, como os autores trabalham com regiões diferentes, Rio de Janeiro e Bahia respectivamente, o diálogo entre eles possibilita contestar generalizações. Essa mudança teórico-metodológica, portanto, nos permite apreender o afro-brasileiro de forma dinâmica, participando ativamente da sociedade através de diversas formas de resistência.
A partir da análise do discurso focando na representação dos negros no pós-abolição, a autora se debruça sobre os livros didáticos de 1997 e de 2008 dos autores escolhidos, constatando que nas poucas páginas dedicadas, os conteúdos sobre o tema não estavam de acordo com a produção historiográfica em voga, isto é, não valorizavam o negro como sujeito histórico, tornando invisível sua participação na sociedade.
Nos livros didáticos da segunda geração (2008), Garrido considera que ocorreram melhorias, contudo foram poucas. Schmidt e Cotrim, no que tange à seção dedicada ao pós-abolição, fizeram mudanças pontuais nos textos da década de 1990, tentando se adequar aos requisitos do edital do PNLD 2008. Mas toda a argumentação da primeira geração continua intacta. O texto de Antônio Pedro é ainda mais preocupante, pois a única alteração no texto de 2008 é o acréscimo de uma palavra.
A parte reservada às imagens e às atividades foi aprimorada, com destaque para Cotrim, que elaborou atividades para resgatar o conhecimento prévio dos alunos, não se limitando aos exercícios de memorização. Apesar das diferenças entre os conteúdos dos livros serem sutis, a autora destaca que Cotrim põe em xeque a liberdade dos negros, mas sem levar em conta, entre ex-escravizados, a plural significação desse conceito. Para entender essa condição para os egressos da escravidão, Garrido entra em concordância com Chaulhoub (1990) que defende que ser livre poderia significar autonomia de movimento e a constituição de relações afetivas. Com o texto de Walter Filho (2004) é possível sair do Sudeste e pensar essa relação na Bahia, onde a liberdade pode ser analisada pela forma como a interferência senhorial não foi tolerada, ela também aparece nas intensas negociações para manter e ampliar direitos que foram conquistados no período da escravidão.
Em seus livros, Schmidt, conhecido por sua posição marxista ortodoxa, busca evidenciar conflito entre os grupos sociais, porém trabalha com uma leitura que privilegia aspectos estruturais, não conseguindo “expressar percepções que singularizem o processo como estratégias e táticas de sobrevivência além da morte, do suicídio ou fuga, nem admitir outras formas de resistências que ocorram no cotidiano.” (GARRIDO, 2017, p. 103).
Sem dúvidas, Antonio Pedro foi o autor que mais recebeu críticas, pois praticamente não ocorreram mudanças em suas obras. Assim, além de conter generalizações, reedita a tese da anomia de Florestan Fernandes ao não considerar o negro como sujeito histórico quando argumenta sobre a marginalização, reforçando o mito do negro “indisciplinado e ocioso”, o que é totalmente nocivo à representação do afro-brasileiro.
Garrido dedica o terceiro capítulo, “História, Educação e Identidade: por um ensino aprendizagem possível”, à reflexão sobre as perspectivas e possibilidades para uma educação que não negligencie o debate sobre o racismo e a discriminação. A autora constata que a questão da valorização do afro-brasileiro está presente tanto na historiografia atual, quanto na base da Lei da 10.639/03 e nos editais de convocação do PLND, contudo os livros didáticos ainda não se atualizaram. Para compreender essa nociva permanência, Garrido primeiro problematiza as lacunas do PNLD e conclui que, por mais que os seus editais tenham se aprimorado com o passar dos anos, a falta de um critério de desqualificação referente a não incorporação de conteúdos atualizados gera uma brecha, permitindo a aprovação de livros desatualizados.
Em seguida, a autora reflete sobre o uso e a produção dos livros paradidáticos. Este gênero emerge entre as décadas de 1970 e 1980, quando ocorre uma expansão do saber acadêmico acompanhada de uma renovação do livro didático devido às novas propostas curriculares.
Num primeiro momento, o paradidático tinha como principal consumidor alunos da rede privada de ensino e alunos de graduação, mas com a criação do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) em 1997, a clientela tem se reconfigurado, pois livros de diversos gêneros literários, entre eles o paradidático, passam a ser comprados e distribuídos nas bibliotecas de escolas públicas. Através dessa ação, o programa tem como principal objetivo incentivar a formação do hábito de leitura nos alunos da rede pública, modificando a histórica restrição à cultura letrada, propiciando “melhores possibilidades de acesso a essa cultura aos estudantes de escolas públicas do país” (GARRIDO, 2017, p. 161). O PNBE tem uma estrutura de funcionamento similar ao PNLD, inicialmente são lançados os editais de convocação, em seguida os livros são avaliados e selecionados por professores universitários, professores do ensino básico e profissionais de múltiplas experiências.
A obra de Garrido constata que os livros paradidáticos após 2003, se ocupam em explicar a África e suas relações com o Brasil e a herança dos afro-brasileiros, contemplando as exigências da lei 10.639/03. Vale ressaltar que os livros paradidáticos envoltos na temática “história e cultura africana e afro-brasileira” foram vencedores do Prêmio Jabuti na categoria didáticos e paradidáticos nos anos de 2007, 2009 e 2010, o que torna explícita a qualidade do conteúdo do segmento paradidático.
O que chama a atenção de Garrido é o fato de as editoras produzirem livros didáticos carentes de incorporação de conteúdos sobre o tema “África e afrodescendentes”, ao mesmo tempo em que têm em seus catálogos livros paradidáticos suprindo essas carências. Isso pode ser explicado como uma estratégia “na qual as editoras lucram com as compras governamentais duas vezes, no PNLD e no PNBE” (GARRIDO, 2017, p. 165). Para a autora, essa estratégia escancara a lógica da relação entre editoras e Estado, ou seja, enquanto estas buscam deliberadamente o lucro, as políticas públicas devem fundamentar a educação que pretendem efetivar através dos recursos disponíveis. Outro obstáculo, pois, para a valorização da população negra.
Portanto, a obra de Mírian Garrido traz importantes contribuições para a reflexão da representação do negro nos principais livros didáticos do país. Ao questionar o que vem sendo ensinado nas instituições de ensino sobre o pós-abolição, a autora aponta que a incorporação de conteúdos que valorizem o negro enquanto sujeito histórico reflete na construção da identidade negra. Também é importante que as políticas públicas se atentem à necessidade de promover dentro das escolas uma constante discussão da relevância e legitimidade de uma educação que não negligencie nenhuma das identidades.
Nenhum dos livros didáticos analisados pela autora renovou os conteúdos já consagrados, não se atendo a atual historiografia sobre o pós-abolição, tampouco sobre a demanda social da Lei 10.639/03. O ex-escravo continuou fadado à marginalização por sua passividade ou submissão. Essa postura conservadora pode ser entendida como uma opção dos autores e editoras. Apesar disso, ainda ocorreram melhoras significativas no material do produto didático e em certos “setores” dos livros: exercícios, textos complementares e no tratamento com imagens.
Pouco pode ser considerado de negativo na obra de Garrido. O conceito de memória, que é importante na discussão da autora, poderia ser mais desenvolvido, mas sabendo que o livro é fruto de sua dissertação de mestrado, espaço limitado e de prazo curto que tende a priorizar certos aspectos, essa carência torna-se compreensível. Além disso, não compromete a reflexão sobre a importância da representação valorativa do afrodescendente nos livros didáticos.
Referências
CHALHOUB, Sidiney. Visões de Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhada da liberdade: Histórias e trajetórias de escravos e libertos na Bahia, 1870-1910. 2004. 363 f. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004.
GARRIDO, Mírian C. M. Escravo, africano, negro e afrodescendente: a representação do negro no contexto pós-abolição e o mercado de materiais didáticos (1997-2012). São Paulo: Alameda, 2017. 203p.
GOMES, Ângela de Castro. Questão social e historiografia no Brasil do pós-1980: notas para um debate. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 34, p. 157-186, jul./dez. 2004.
Jonathan Gomes dos Santos – Graduado em História pela Universidade Estadual Paulista – UNESP, Assis, estado de São Paulo (SP), mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História da UNESP, Assis (SP), Brasil. Bolsista CAPES. E-mail: jonatangs@live.com.
[IF]Vivendo autobiograficamente: a construção de nossa identidade narrativa – EAKIN (FH)
EAKIN, Paul John. Vivendo autobiograficamente: a construção de nossa identidade narrativa. São Paulo: Letra e Voz, 2019. Resenha de: MOREIRA, Igor Lemos. Pensar a autobiografia entre história, identidade e narrativa. Faces da História, Assis, v.6, n.2, p.566-572, jul./dez., 2019.
As discussões a respeito das relações entre identidades e narrativas são recorrentes nas Ciências Humanas e Sociais. Desde a virada linguística no século XX, os estudos em diferentes áreas do conhecimento como a história, a crítica literária, a psicanálise e a antropologia têm procurado compreender estruturas, práticas e processos que envolvem o ato narrativo, destacando constantemente sua relação com a formação de identidades/identificações e representações. Publicada em 2019, a obra Vivendo autobiograficamente: A construção de nossa identidade narrativa, do pesquisador estadunidense Paul John Eakin, contribui para o aperfeiçoamento das discussões sobre identidades e narrativas em áreas de estudos como práticas biográficas, cultura escrita e narrações contemporâneas.
Paul John Eakin é graduado em História e Literatura pela Universidade de Harvard, onde também cursou seu mestrado e doutorado. Especialista na área de autobiografias, é professor emérito da Indiana University, onde ocupou a cadeira Ruth N. Halls de Inglês. A obra, publicada originalmente pela Cornell University, foi lançada no Brasil pela editora Letra e Voz, sendo a primeira tradução para português de um trabalho do autor. O livro está estruturado com uma introdução e quatro capítulos, apresentando os seguintes eixos centrais: os processos de narrativa sobre si; a consciência autobiográfica; a construção identitária por meio das narrativas; e autobiográfica, memória e rememoração.
O primeiro capítulo, “Falando sobre nós mesmos: as regras do jogo”, parte das discussões sobre as narrativas de “si” na contemporaneidade, ao analisar articulações analisando articulações entre autobiografias e mídias (com destaque a programas televisivos como Oprah). Partindo de vasta revisão bibliográfica e passando por autores como Oliver Sacks, Eakin discute e identifica alguns processos envolvidos nas narrativas autorreferênciais construtivas de cada indivíduo. Entre os temas que gravitam este capítulo estão: os efeitos/elaborações de acontecimentos atuantes na constituição das subjetividades; as “regras” que constituem o ato narrativo e a identidade narrativa, que para o autor é algo característico de todo sujeito; a ideia de efeito de verdade, permitindo ao(a) leitor(a) observar um breve panorama da densidade de discussões que perpassam o debate sobre autobiografias. Neste capítulo, a discussão realizada destaca que “[…] quando se trata de nossas identidades, a narrativa não é simplesmente sobre o eu, mas sim de maneira profunda, parte constituinte do eu.” (EAKIN, 2019, p. 18, grifo do autor) A respeito desta discussão é interessante apontar que, na perspectiva do autor, a construção autobiográfica é um processo que lida com diferentes dimensões temporais de passados e experiências vividas, para além de ser um ato sempre do “tempo presente”, ou seja, do momento de elaboração da narrativa. Essa construção no presente é o que manifesta, ou representa, as identidades dos sujeitos que a constituem a partir de suas vivências, memórias, lembranças e projeções de futuro. Dentro desta chave é possível aproximar os atos narrativos da elaboração de acontecimentos (narração de fatos) que rompem com as temporalidades, sendo uma questão em comum entre o autor e as discussões de François Dosse (2013). Para o historiador francês, a elaboração de um acontecimento é sempre uma produção atual, do momento de comunicação, que articula uma forma de significação acerca da experiência, sem a qual o evento não existiria.
Eakin (2019) aproxima-se dessa leitura ao considerar que esses processos, muitas vezes, levam a incluir experiências coletivas, que nem sempre são frutos de vivências pessoais. Para exemplificar, o autor destaca o 11 de setembro de 2001, uma vez que inaugurou a possibilidade de ter civis como personagens do acontecimento, o que atesta “o desejo de pessoas comuns enxergarem por si mesmas o que aconteceu naquele dia” (EAKIN, 2019, p. 20). Ao analisar esse evento, Dosse (2013) observa o papel das mídias que fabricaram instantaneamente o acontecimento, ao mesmo tempo que o historicizavam. Nesse caso, Dosse e Eakin concordam que um acontecimento testemunhado, direta ou indiretamente, é fundamental na elaboração das identificações, relação possível através das narrativas que permitem ao sujeito inserir-se em contextos que não necessariamente tenha vivido ou experienciado diretamente.
Outro elemento central no capítulo, e que perpassa o restante da obra, é a noção de identidade narrativa e sua relação com a construção de histórias de vida e trajetórias. Para o autor, a identidade, elaborada a partir de identificações, é fruto de construções narrativas entendidas “[…] de um modo inescapável e profundo, elas são o que somos, pelo menos enquanto atores posicionados dentro do sistema de identidade narrativa que estrutura nossos arranjos sociais atuais.” (EAKIN, 2019, p. 10, grifo do autor). Nesta interpretação, a identidade narrativa envolve a estruturação de uma forma de construção autobiográfica que molda o sujeito, reestruturando o passado em uma perspectiva linear e progressiva dos fatos.
A perspectiva do autor enquadra-se no fato de a identidade narrativa ser acumuladora de mais elementos com o passar dos anos, resultado de uma construção da história dos sujeitos, constantemente resignificada. Esse processo estrutura uma narração intencionalmente progressiva sobre a trajetória do sujeito, sempre promovida pelo individualismo. Eakin (2019) destaca que as falhas na memória, vistas como esquecimentos, impactam diretamente na constituição dos relatos autobiográficos, fragilizando a construção dessa identidade narrativa. Essa relação pode ser vista dentro da noção de ipseidade de Paul Ricouer (1991), na qual os sujeitos moldam constantemente o passado de acordo com aquilo que os jogos entre memória e esquecimento permitem e não apenas o que a experiência vivida ou apreendida possibilita relatar1.
No capítulo seguinte, intitulado “Consciência autobiográfica: corpo, cérebro, eu e narrativa”, o autor analisa produções literárias e autobiográficas nas últimas décadas, discutindo como tem se elaborado diferentes formas de identidade narrativa no tempo. Partindo da compreensão de que tais obras são consumidas constantemente, na medida em que existe um desejo das sociedades contemporâneas pela identificação com um outro e pelo consumo de memórias, o autor propõe entender o lugar da ficção e da história no ato de “relatar a si mesmo”. Ao afirmar que “[…] a memória e a imaginação conspiram para reconstruir a verdade do passado” (EAKIN, 2019, p. 76), Eakin destaca que as memórias são perpassadas constantemente pela tensão entre ficção, verossimilhança e “verdade”.
Nos estudos historiográficos sobre autobiografias2 é importante, muito mais que a verdade dos fatos narrados, compreender os diferentes modos como indivíduos pensaram e sentiram os fatos de suas vidas. Enquanto o historiador e/ou biógrafo finda um compromisso com os fatos ocorridos ao narrar uma trajetória, o autobiógrafo tem sua lealdade associada ao “eu”/sujeito construído. Deste modo, a autobiografia apresenta-se como espaço de tensões e o historiador e/ou pesquisador dedicado ao seu estudo necessita de atenção redobrada para observar que a principal relação não se dá na verossimilhança, mas sim com o efeito da linguagem que representa um sujeito, que almeja determinado fim. Um elemento central para compreender esse efeito de linguagem é a noção de corpo, pois não somente é o espaço em que o “eu” habita, como também é o que permite o indivíduo sentir e experienciar a vida.
Nesse sentido, é possível perceber que o principal argumento do autor centra-se na ideia de que a autobiografia está necessariamente associada à espetaculização dos indivíduos, ou seja, seu local é não apenas o presente, mas também o seu destinatário, “o outro”. Artiéres (1998), ao debater os processos de arquivamento do eu nas sociedades contemporâneas por meio das práticas de guarda e constituição de acervos pessoais, problematiza essa questão de maneira semelhante a Eakin. Ambos os autores, ao discutirem os processos autobiográficos, tencionam as relações temporais para além apenas de destacar o ato de escrita no presente ou sua intencionalidade futura. Dentro dessa perspectiva, construir uma autobiografia é elaborar uma narrativa sobre si e sobre um tempo não linear, apesar de sua sistematização geralmente ser, como forma de orientação e constituição das identidades.
O terceiro capítulo, “Trabalho identitário: pessoas fabricando histórias”, inicia uma segunda parte do livro no qual o autor procura construir breves relatos de estudos de caso. É possível perceber que Eakin divide seus estudos de caso em torno de dois grupos principais de documentações: (1) Obras autobiográficas e literárias de grande recepção, publicadas na idade moderna e na contemporaneidade; (2) Relatos de vidas cotidianas e de pessoas “ordinárias”. Para o primeiro caso de estudo, o autor retoma relatos autobiográficos desde o século XVIII e XIX, como os depoimentos recolhidos por Henry Mayhew (1881-1841), para debater as diferentes operações e processos que envolvem as autobiografias nos séculos XX e XXI.
Tomando o final da Idade Moderna francesa como ponto de partida, o autor historiciza a emergência das práticas de relatar a si mesmo e das autobiografias. Para Eakin (2019), apesar de os relatos escritos serem predominantemente ligados às elites, ainda assim é possível mapear a construção de narrativas autobiográficas através de leituras a contrapelo, como fez Mayhew. Embrenhando-se pelo que pode ser considerado um exercício de busca pela compreensão dos estratos de tempo (KOSELLECK, 2014), apesar de essa dessa relação não ser mencionada, Paul Eakin afirma que esse processo foi intensificado com a emergência dos meios digitais, criando sociedades cada vez mais narradoras de si. Redes sociais, a exemplo do Facebook e o MySpace foram fundamentais para lançar a centelha que favorece a alteração da identidade, uma vez que propiciam a mudança não somente de construções narrativas, mas também cria-se a necessidade constante do on-line, o que causa profunda sensação de aceleração do tempo e a consequente efemeridade da elaboração de uma identidade narrativa.
Nesse capítulo, o segundo conjunto de fontes utilizadas são os relatos do cotidiano de sujeitos considerados, pelo autor, como “comuns” ou “ordinários”. Diferentemente de uma análise exclusiva sobre como o cotidiano é narrado por esses sujeitos a partir dos livros autobiográficos, Eakin (2019, p. 114) afirma que seu interesse é compreender que a “atividade de construir eus e histórias de vida consiste ainda em mais uma prática cotidiana”, perspectiva elaborada através dos estudos de Michel de Certeau.
Michel de Certeau (2009) entende que o cotidiano é constantemente elaborado por meio de dinâmicas entre estruturas socioculturais e práticas individuais e (re)inventivas. Eakin analisa de que modo as práticas de relatar o cotidiano são elaboradas, dimensionando o consumo destas narrativas. Uma das ocorrências analisadas, e talvez o mais intrigante dos estudos de caso, é o do próprio pai do pesquisador, no qual, para além de pensar nos impactos da figura paterna na construção da identidade narrativa, discute de que maneira ele o influenciou a se interessar por autobiografias. Partindo dessa relação, o autor discute suas próprias narrativas autobiográficas, interrogando-se sobre a maneira como “modelos” de histórias e os relacionamentos interpessoais influenciam na constituição de identidades.
A discussão sobre o pai do autor prossegue no capítulo seguinte da obra, quando Eakin passa a realizar um relato autobiográfico. Em “Vivendo autobiograficamente”, capítulo que dá nome à obra, o autor mergulha em uma escrita autobiográfica sobre si e sua identidade narrativa. Se até essa altura do livro houve a discussão dos aspectos teóricos e metodológicos, bem como a realização de estudos de caso e a historicização de algumas práticas, o último capítulo apresenta o autor problematizando seu exercício cotidiano. Em sua leitura é possível perceber uma provocação intencional a quem “[…] se propõe a usar esse material como fonte para uma análise social deve perguntar […] de onde é que provem o entendimento de um indivíduo acerca do eu e da história de vida” (EAKIN, 2019, p. 130). Nesse sentido, para analisar autobiografias, Eakin diz que a experiência é fundamental para compreender suas práticas.
O autor utiliza a sua trajetória para refletir sobre o perfil adaptativo da história, dependendo sempre do narrador/elaborador, seu contexto e sua intencionalidade. Através dessa perspectiva, Eakin (2019, p. 158) defende que “[…] o discurso autobiográfico tem um papel decisivo no regime de responsabilização social que rege nossas vidas, e, nesse sentido, pode-se dizer que nossas identidades são socialmente construídas e reguladas”. Dentro dessa constatação é perceptível a centralidade do eu e de suas intenções, em que se pode considerar a narrativa como instrumento de legitimação de poder e de um determinado status ou lugar social no qual seu comunicante se insere. Essa questão pode ser interpretada através de outras perspectivas contemporâneas das ciências humanas que não citadas por Eakin, como, por exemplo, os conceitos de lócus de enunciação (GLISSANT, 2011). Nessa articulação, não apenas o passado mobilizado no presente da narração, mas também a categoria e diferentes noções de futuro são aspectos centrais.
É particularmente interessante observar que, ao chegar ao último capítulo da obra, o(a) leitor(a) tenha sido conduzido a perceber a forma de organização dos temas intensamente problematizados. Partindo inicialmente de uma discussão teórica sobre as questões autobiográficas, o autor procurou definir seus conceitos norteadores, abordando também suas historicidades, para aplicá-los em estudos de caso e, por fim, produzir sua própria identidade narrativa. Tal estratégia cria um espaço para que o(a) leitor(a) mobilize as discussões do próprio teórico, percebendo os processos apontados e também sua tese principal: a de que é impossível fugir da narrativa, pois a elaboração de identidades é um processo de construção de histórias no presente a partir de suas relações com o tempo.
Referências
ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 11, n. 21, p. 9-34, jan./jun. 1998.
BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes (Org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2006. p. 183-191.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
DOSSE, François. Renascimento do acontecimento. São Paulo: EdUNESP, 2013.
GLISSANT, Édouard. Teorias. In: GLISSANT, Édouard (Org.). Poética da relação. Portugal: Porto Editora, 2011. p. 127-170.
KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo: estudos sobre a História. Rio de Janeiro: Contraponto, Ed. PUC-RJ, 2014.
RICOEUR, Paul. O si-mesmo como um outro. Campinas: Papirus, 1991.
Notas
1 Essa discussão encontra-se no texto de Pierre Bourdieu (2006) sobre a “Ilusão Biográfica”, conceito mobilizado pelo sociólogo para alertar aos pesquisadores na área de biografias e trajetórias, assim como os biógrafos, a respeito dos perigos da linearidade e das construções teleológicas da narrativa de vida de sujeitos. Em função da proximidade com os indivíduos biografados, e o processo de pesquisa que permite ao biógrafo conhecer na maioria dos casos o desfecho de sua obra antes mesmo de iniciar sua narrativa, Bourdieu reafirma a necessidade de problematização das trajetórias, compreendendo os processos, percursos e enfrentamentos que marcam a vida dos indivíduos.
Igor Lemos Moreira – Doutorando em História pelo programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina (PPGH-UDESC), na linha de pesquisa Linguagens e Identificações. Bolsista PROMOP/UDESC, estado de Santa Catarina (SC), Brasil. Mestre e Graduado em História (Licenciatura) pela mesma instituição. Integrante do Laboratório de Imagem e Som. E-mail: igorlemoreira@gmail.com.
[IF]1913: antes da tempestade – ILLIES (FH)
ILLIES, Florian. 1913: antes da tempestade. São Paulo: Editora Estação Liberdade, 2016. 368p. Resenha de: VIEIRA, Vinícius de Castro Lima. Sobre prazeres, percepções e apropriações: um convite à leitura de 1913, de Florian Illies. Faces da História, Assis, v.6, n.1, p.472-477, jan./jun., 2019.
Ao texto de prazer, Roland Barthes, em 1973, propôs uma caracterização como o texto que procura ser desejado pelo leitor, que produz o deleite pelas/das palavras, que contenta pela ironia, pela erudição, pela fineza, pela cultura e pela inovação. Um texto de prazer, e esse é um detalhe crucial, não é aquele necessariamente dedicado a narrar o prazer, não é o pornográfico; o texto de prazer é aquele no qual se regozija pela forma de produção, pelo erotismo das palavras que instigam.
Para mim, não houve possibilidades – e aqui já me entrego de imediato – de ler o livro, 1913: antes da tempestade, de Florian Illies, e não lembrar das palavras de Barthes. Aliás, o prazer do texto no livro de Illies, ao menos nesta edição brasileira, começa – em um oximoro erótico – antes mesmo da leitura: já está encaminhado na belíssima capa estampada pelo quadro Rua à Noite, de Max Beckmann, que envolve o miolo composto por papel off-white de excelente qualidade e com uma agradável composição tipográfica. Por isso, não pretendo aqui fazer apenas comentários críticos sobre o trabalho de Illies, mas também escrever uma resenha que instigue a leitura do livro.
Mas atenção: não é porque o livro de Illies tenha sido um texto de prazer para este leitor, agora alocado na posição de autor, que o será, automaticamente, para outros. Pode ser que alguém sinta um completo enfado pelo livro; como também é possível que eu mesmo, num outro momento, eventualmente não o identifique mais como um texto de prazer. O prazer é individual, presente, momentâneo e efêmero. Como o sentido de um texto que só se completa nas co-criações do leitor, o prazer, por mais que o texto o procure, não está garantido. O prazer existe em função de alguém e é específico de um leitor em um certo momento; afinal, “se aceito julgar um texto segundo o prazer, não posso ser levado a dizer este é bom, aquele é mau (…). O texto (o mesmo acontece com a voz que canta) só me pode arrancar este juízo, nada objetivo: é isso. E mais ainda: é isso para mim!” (BARTHES, 2009, p. 137).
O livro de Illies cativa pela fina ironia, pelo bom humor, pelo nítido cuidado com as palavras e pelo vasto trabalho de pesquisa. A estrutura narrativa é descontínua, cada capítulo se refere a um mês do ano de 1913 e é subdividido em pequenas seções. Isso não impede, contudo, a percepção e o acompanhamento do transcorrer de determinadas situações, casos e conflitos ao longo do ano. Dessa forma, o livro pode ser apreciado em vários regimes de leituras, dentre os quais dois se destacam: o primeiro seria o da leitura fragmentária, mais interessada nas crônicas envolventes do cotidiano de personagens admiráveis como Rilke, Picasso, Kafka, Schiele, Freud e Schönberg; o segundo seria o da visão totalizante, que permite a percepção de uma espécie de zeitgeist do modernismo europeu no início do século XX. Evidentemente, esses regimes de leituras são mais complementares do que excludentes.
A nacionalidade alemã, a formação em história da arte e a atuação profissional como marchand de arte e jornalista cultural, são aspectos biográficos e profissionais de Illies que ajudam a compreender alguns desses encaminhamentos narrativos, como a natureza jornalística da prosa curta, direta e objetiva e, também, o decalque no destaque evidente ao mundo artístico-cultural germanófono.
Em 2000, o nome de Illies já havia reverberado bastante na intelectualidade alemã com a publicação de seu primeiro livro, Generation Golf, em que fazia uma análise de sua própria geração, nascida nos anos 1970 e modelada no transcorrer das duas décadas seguintes. Não foi por acaso, portanto, que 1913 se tornou um sucesso de crítica e de vendas logo após o seu lançamento, em 2012, na Alemanha; sendo, posteriormente, traduzido para o inglês, francês, espanhol, italiano e português. O livro chegou ao Brasil, em 2016, numa edição publicada pela editora Estação Liberdade, com tradução de Silvia Bittencourt e sob auspícios do Ministério das Relações Exteriores alemão.
Ao final da leitura de 1913, fica uma certa impressão de que este ano foi arrebatador, repleto de eventos inaugurais que seriam emblemáticos durante um longo período. Para me ater apenas a exemplos integrantes do inventário de Illies, poderia citar: o início da operação da primeira linha de montagem nas fábricas da Ford; a inauguração dos 57 andares do edifício Woolworth, em Nova Iorque, assumindo o posto de mais alta construção do mundo naquele momento; a publicação do primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido, marco da literatura modernista; as primeiras audições públicas de Canções de Guerre e de Sagração da Primavera, obras-primas de Schönberg e de Stravinsky, respectivamente; o retorno de Mona Lisa ao Museu do Louvre, dois anos depois de ter sido roubada; a realização da exposição Armory Show, que consolidaria a hegemonia do modernismo nas artes; a circulação do primeiro número da revista Vanity Fair entre muitas outras coisas. Tudo isso em 1913.
Ora, se for feito um levantamento tão detalhado quanto o de Illies para outros anos do último século, talvez se chegue a impressões similares de importância, de efervescência e de singularidade. O diferencial do ano de 1913 é especialmente definido pelo que se segue, pois o desenvolvimento econômico-tecnológico, a agitação cultural e, até mesmo, um certo chacoalhar nos costumes ocorre às vésperas da Primeira Guerra Mundial. E isso se torna ainda mais peremptório na narrativa de Illies por não haver indícios no cotidiano das pessoas de apreensão, medo ou desconfiança generalizados para com o futuro.
Evidentemente, as pessoas, em 1913, não poderiam conhecer a “tempestade” que lhes aguardavam; sobretudo porque as experiências traumáticas da Primeira Guerra Mundial estavam tão recheadas de ineditismo que não seria viável nem mesmo vislumbrá-las no horizonte de expectativas. A clivagem que a grande guerra mundial operou no espaço de experiências daquela geração permite que nós, hoje, retrospectivamente, compreendamos como foi possível a formulação de certos prognósticos, como o de David Starr, presidente da Universidade de Stanford em junho de 1913: “A grande guerra europeia, uma ameaça eterna, jamais chegará. Os banqueiros não arranjarão o dinheiro para tal guerra, a indústria não a manterá, os estadistas não terão como levá-la a cabo. Não acontecerá nenhuma grande guerra” (STAR apud ILLIES, 2016, p. 177); ou mesmo o de Lênin, em março desse mesmo ano: “Uma guerra entre a Áustria e a Rússia seria muito útil para a revolução na Europa Ocidental. Todavia, é quase impossível imaginar que Francisco José e Nicolau nos façam este favor” (LÊNIN apud ILLIES, 2016, p. 89).
Essa percepção de que a grande guerra mundial não estava inserida no campo das probabilidades, em 1913, emerge no olhar microscópico lançado por Illies sobre o período. Um olhar que focaliza o cotidiano de determinados integrantes – ou daqueles que viriam sê-los, em breve – das elites culturais, políticas, intelectuais, acadêmicas e científicas do continente europeu, em especial, das “capitais do modernismo” – Viena, Paris, Berlim e Munique. Illies pouco ou nada nos diz sobre os pobres e os camponeses europeus, nem sobre o cotidiano nos trópicos ou nos continentes asiático e africano. Um historiador, por outro lado, que empregasse um olhar instrumentalizado pelo telescópio1, sobre o mesmo período, talvez pudesse afirmar, pautado em elementos – que o próprio Illies menciona – como o aumento dos gastos militares, o incremento no contingente do exército austro-húngaro ou o aumento das tensões políticas nos Balcãs, que já estaria sendo tramado um cenário de guerra. E, assim, estaríamos diante de um bom exemplo das variações interpretativas proporcionadas pelos chamados jogos de escalas (REVEL, 1998).
Porém, Florian Illies não é esse historiador, não é essa sua intenção, nem, muito menos, é esse o seu olhar. Ele prefere nos deliciar com as intimidades da vida dos outros. Prefere nos contar a ida de Hitler para a Alemanha, em maio, fugindo do recrutamento do exército austríaco; a intensa paixão do feioso Oskar Kokoschka com a belíssima Alma Mahler, que lhe promete casamento se ele pintar uma “grande obra-prima” (ILLIES, 2016, p. 138); a apreensão de Freud para o encontro com seu ex-colaborador Jung, no IV Congresso da Associação Psicanalítica; e as indecisões de Kafka, suas “gagueiras por escrito” (ILLIES, 2016, p. 191), nas cartas trocadas com sua amada Felice Bauer.
Aliás, Kafka é um dos personagens mais proeminentes da narrativa de Illies e merece aqui um comentário mais detido. Quando finalmente consegue se decidir, um dos maiores escritores do século XX, pede Felice Bauer em casamento de uma forma no mínimo sui generis. Escreve Kafka: […] pondere Felice, diante desta incerteza é difícil pronunciar as palavras e também deve ser estranho ouvi-las. Ainda é cedo demais para dizer. Mas depois será tarde demais, não haverá mais tempo para discutir essas coisas, como você menciona na última carta. Mas não há mais tempo para hesitar demais, pelo menos é o que sinto, e por isso pergunto: dadas as condições acima, difíceis de eliminar, não quer pensar em se tornar a minha esposa? Você quer isso? […] Considere, Felice, as mudanças que se sucedem conosco em um casamento, o que cada um perderia, o que cada um ganharia. Eu perderia a minha solidão, assustadora na maioria das vezes e ganharia você, a quem amo acima de todas as pessoas. Você, porém, perderia a vida que tem agora, com a qual tem estado quase inteiramente satisfeita. Perderia Berlim, o escritório de que tanto gosta, as amigas, os pequenos prazeres, a perspectiva de se casar com um homem saudável, alegre e bom, de ganhar filhos bonitos e com saúde, algo que você, pense bem, realmente almeja. No lugar destas perdas incalculáveis, você ganharia uma pessoa doente, fraca, insociável, taciturna, triste, inflexível e quase sem esperança (KAFKA apud ILLIES, 2016, pp. 191-192).
Illies então segue, comentando ironicamente, “Quem não diria sim imediatamente? Um pedido de casamento em forma de admissão de falência” (ILLIES, 2016, p. 192).
Tudo bobagem, poderiam dizer os estudiosos presos à ortodoxia de uma história estrutural desencarnada. Mas acho que a essa altura já está bastante evidente que as miudezas, as de Illies aqui, em particular, podem municiar importantes reflexões. Se ainda não estiver, vamos a um exemplo ainda mais claro.
Um exemplo de reflexão teórico-conceitual que o livro de Illies encaminha aparece bem localizado no início do capítulo dedicado ao mês de março e diz respeito à importância em conferir uma dimensão histórica ao conceito de moderno. Como sabemos, o que é tomado, proposto e entendido como moderno, em uma determinada época, é objeto de disputa, envolvendo, em alguns casos, passado e presente, tradição e ruptura. À cada geração, ao menos desde meados do século XIX, o que é identificado como moderno é redefinido constantemente, de modo a consolidar o rompimento com parcelas de um passado e ser associado às experiências presentes. Toda essa reflexão é belamente ilustrada por Illies a partir do relato das relações do crítico de arte Julius Meier-Graefe com as vanguardas artísticas: Sempre assistimos, espantados e admirados, a como os propagandistas mais impetuosos da vanguarda têm olhos apenas para aquela única revolução artística. Quando chega a geração seguinte, disposta a fazer a última vanguarda parecer antiquada, a perícia, o discernimento, o “olho” firme muitas vezes não funcionam mais. É o caso aqui. Meier-Grafe, que por iniciativa própria abrira os olhos dos alemães para Delacroix e Corot e Cézane e Manet e Degas e muitos outros, está sentado na casa de campo em Berlim-Nikolassee e escreve, impassível, a sentença: “Frente ao nome de Picasso, o historiador do futuro ficará paralisado e constatará: aqui se chegou ao fim”. Ponto. Inimaginável que, depois da destruição das formas do cubismo, seja possível seguir em frente. O grande autor, talvez o estilista mais ardente da crítica de arte do século, um mestre em narrar a “evolução” da arte, agora a enxerga, sobriamente, chegando ao fim. Lá, no mesmo ponto em que hoje enxergamos seu início (ILLIES, 2016, p. 87).
É preciso, ainda, fazer três comentários sugestivos e críticos sobre aspectos formais do livro, dois deles de responsabilidade do próprio autor e o outro me parece que mais específico à edição brasileira. Primeiramente, a ausência de indicações precisas das referências das fontes, ao meu olhar viciado de historiador, incomoda bastante. A lista das referências bibliográficas que segue ao final do livro é muito geral e não ajuda muito outros pesquisadores que eventualmente quiserem desenvolver ou mesmo checar algumas informações citadas por Illies. Certamente, o autor e os editores optaram por suprimir as notas de rodapé para favorecer a fluidez do texto, mas, ainda sim, poderiam ter se valido das notas de fim, com as quais obteriam efeito parecido, sem comprometer o rigor. Outra carência importante é a de um índice remissivo. Como são muitos nomes citados inúmeras vezes, esse índice, provavelmente, seria gigantesco, porém ajudaria os pesquisadores, estudantes e mesmo os curiosos com interesses mais específicos, a identificar os momentos exatos em que cada personagem é mencionado. Não posso deixar de sinalizar, por fim, os problemas de ortografia e de digitação que a edição brasileira apresenta. Para me bastar no mais grosseiro, o nome de Virginia Woolf aparece, ao menos três vezes, erroneamente grafado como “Virgina”. Detalhe que não anula a qualidade do livro, mas que precisará ser objeto de uma revisão mais cuidadosa em futuras reedições.
Estamos, portanto, diante de uma obra que tem méritos, defeitos e limitações, mas que consegue, antes de tudo, despertar o interesse do leitor pelo período e pelo desenrolar do próprio livro. Illies escolhe tão bem as palavras que nos deixa em dúvida se lemos num único fôlego para conhecer os desfechos de todas aquelas situações ou se diminuímos o ritmo para desfrutar pausadamente das imagens produzidas pela narrativa. E, ainda assim, no final, ficamos curiosos dos destinos das vidas ali narradas, desejosos de perceber de que modo a grande guerra alterou aqueles cotidianos e produziu outras sociabilidades, apreensões e “normalidades”. Por isso, seria formidável se Illies nos presenteasse com um 1915 ou um 1918. Enfim, foi ótimo para mim. Espero que para vocês também seja.
Notas
1 Quando me refiro aos olhares telescópicos e microscópicos faço alusão ao comentário de José Gonçalves Gondra sobre o trabalho de Jacques Revel. Sobre esse tema, consultar: GONDRA, 2012; REVEL, 1998.
Referências
BARTHES, Roland. O prazer do texto. Lisboa: Edições 70, 2009.
ILLIES, Florian. 1913: antes da tempestade. São Paulo: Editora Estação Liberdade, 2016.
GONDRA, José. Telescópios, microscópios e incertezas: Jacques Revel na história e na história da educação. In.: LOPES, Eliane; FARIA FILHO, Luciano (Org.). Pensadores sociais e história da educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. v. 2.
REVEL, Jacques. Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1998.
Vinícius de Castro Lima Vieira – Mestre em História Política pela UERJ, Rio de Janeiro-RJ, e doutorando em História Política na mesma instituição. Pesquisador do Laboratório de Estudos das Diferenças e Desigualdades Sociais (LEDDES). E-mail: vinicius.vieira@folha.com.br.
[IF]What Is Global History? – CONRAD (FH)
CONRAD, Sebastian. What Is Global History? Princeton: Princeton University Press, 2016. 299p. Resenha de: CALÇA, Elaine. História global: uma solução ou um retorno? Faces da História, Assis, v.6, n.1, p.478-482, jan./jun., 2019.
A tentativa de construir uma história não eurocêntrica surge a partir da crise contemporânea do Estado Nacional e dos acontecimentos do final do século XX, consequentemente, surgiram diversas abordagens dentro da historiografia, como história atlântica, história transnacional e história global. Dentre estas correntes, a história global demonstra ser a alternativa menos empregada pelos historiadores brasileiros. Diante disso, esta resenha pretende apresentar o trabalho publicado pela editora da Universidade de Princeton, em 2016, do renomado teórico do campo da História Global na Alemanha, Sebastian Conrad, professor da Frei Universität Berlin e do programa de pós-graduação em História Global na mesma instituição.
A obra de Sebastian Conrad parte da necessidade de esboçar os motivos da popularidade repentina que a História Global ganhou em espectro mundial no início do século XXI dentro do meio acadêmico, em especial, no campo da História; revistas como The American Historical Review e Past & Present estão publicando estudos nessa área, e em 2006 foi fundado pela Cambridge o Journal of Global History.
O trabalho de Conrad nos apresenta uma perspectiva atual da história que, segundo nossa análise, se contrapõe diretamente tanto à tradição historiográfica do século XX, quanto à tradição dos antropólogos, filósofos e cientistas alemães do século XIX, desde Immanuel Kant até Alexander von Humboldt e Adolf Bastian. Enquanto a tradição antropológica alemã alegava que as culturas africanas não possuíam história e, portanto, eram estáticas, a História Global, segundo Conrad, consiste na saída do continente europeu e na busca da história a partir do enfoque nos sujeitos, ideias e comércio em movimento.
Em geral, o autor defende esta corrente por considerar que a tal engaja-se em quebrar a relação estabelecida entre os historiadores do final do século XIX e o Estado Nação, relação esta que é fruto da fundação da História enquanto disciplina.
Entretanto, sabe-se que a reivindicação em história de uma metodologia relacional ou comparativa é presente em outras vertentes como História Comparativa, História Cruzada, História Transnacional, História Atlântica e esta reivindicação é justamente vista como meio de desvincular a atual disciplina com as instituições estatais, as quais a história vinculava-se durante o século XIX e parte do século XX. Essas correntes também tencionam abordar o tema e o objeto de forma diferente da tradicional, dominantemente presente na historiografia. Apesar desse anseio, José d’Assunção Barros pontua que a intencionalidade de transgredir ou se desvincular com a abordagem tradicional não implica no sucesso garantido do trabalho, já que os historiadores também estão inseridos em “categorias e formas estereotipadas de pensamento que os amarram” que exercem “pressões que sobre eles” (BARROS, 2014, p. 279), ou seja, também produzimos estereótipos e pré-conceitos de nosso tempo.
Na introdução o autor apresenta as diversas formas em que a História Global se apresenta, auxiliando o leitor a se orientar dentro desse debate e a definir o termo não enquanto objeto de estudo ou metodologia específica, mas como perspectiva que enfatiza as interações ou transformações estruturadas em nível global. Dividido em introdução e 9 capítulos, este livro é um manual que sistematiza como a história global foi e é utilizada pelos historiadores, nos apresentando os problemas e apreensões que a escrita da história, dentro deste campo, pode encontrar, bem como algumas possíveis soluções.
“História em sua maior duração foi sinônimo de história nacional” (CONRAD, 2016, p. 3), afirma Conrad nas primeiras páginas da introdução, onde explicita que a abordagem da história global objetiva suprimir tal história, já que o Estado Nação tem sido tão problematizado pela historiografia desde o final do século XX. O objetivo não é escrever uma história total do planeta ou ser um sinônimo de macro-história, mas uma tentativa de ressaltar conexões globais e condições estruturais que, na verdade, sempre houve, mas em níveis de impacto diferentes. Sendo assim, tudo pode se tornar história global. Sobre esta perspectiva, o trabalho, enquanto conceito, é uma das temáticas que pode ser analisada numa perspectiva global, por exemplo, como parte da economia da escravidão, que estabeleceu relações entre Brasil, Angola e Portugal.
O capítulo II, “Historiografia Ecumênica”, apresenta ao leitor autores que teriam uma visão planetária da história, como o otomano Mustafa Ali (1541–1600) ou o historiador mongolês Tahir Muhammad (ca. 1560). Conrad (2016) afirma que esses autores teriam produzido uma História Mundial na época da hegemonia ocidental, entretanto, não obtiveram reconhecimento, pois eram considerados historiadores amadores. Ampliando o conceito de história global, segundo o autor, Heródoto e Ibn Khaldun também já teriam escrito uma história considerada planetária. Além disso, pesquisa olhares de pensadores periféricos sobre a Europa, um dos temas deste capítulo, como o exemplo do livro História da Índia Ocidental (Tarih-i Hind-i garbi), escrito em Istambul, em 1580, por um turco em anonimato, que tentava compreender a inesperada ampliação de horizonte e do dilema cosmológico apresentado pela descoberta do “Novo Mundo”.
Ademais, o autor reconhece que fazer uma história global não seria algo novo, e cita que a teoria da dependência produzida na América Latina, os estudos subalternos e de gênero, o pan-africanismo e o movimento de negritude, produzidos por autores como Frantz Fanon (1925-1961), Aimé Césaire (1913-2008) e Léopold Senghor (1906-2001), seriam o ponto de partida para ou uma tentativa de produzir uma história global.
História comparativa, transnacional, estudos pós-coloniais, concepção de múltiplas modernidades e teoria dos sistemas mundiais são abordados no capítulo III, “Disputa de Abordagens”. Estas correntes são colocadas em diálogo com a História Global pelo autor. Ele explicita a influência destas sobre os historiadores globais (por vezes sem reconhecimento), que são potencialmente usadas para escrever uma narrativa global coerente. Cada uma dessas abordagens é apresentada também com seus limites. No conjunto da produção de história comparativa, os estudos permaneceram vinculados ao conceito de diferentes “civilizações” e muitas vezes foram escritas a partir da perspectiva da cultura europeia. A concepção de múltiplas modernidades pressupõe a existência de vários modelos de modernidade, que não são construídos sobre o paradigma da ocidentalização, todavia esta metodologia acaba por negligenciar conectividades globais. Para o autor, os estudos pós-coloniais e as múltiplas modernidades são abordagens historiográficas que derivam da falta de satisfação com a teoria da modernidade, mas também possuem diversas limitações.
Essas vertentes possuem nomes diversos que, no entanto, têm mais semelhanças do que divergências, as quais geraram um debate ainda atual. O uso do método comparativo, por exemplo, acabou sendo um dos argumentos para que estas correntes se diferenciassem. Sean Purdy, em seu artigo A História Comparada e o Desafio da Transnacionalidade, apresenta que historiadores da história transnacional negam o método comparativo. O autor nos propõe uma crítica não ao conceito de transnacionalidade, mas como este é utilizado (PURDY, 2012, p. 65).
Ainda dentro desse panorama, Sebastian Conrad afirma que o marxismo, apesar de ser vulgarmente reconhecido como uma abordagem que daria ênfase aos estágios de desenvolvimento, e seu método materialista histórico, apresentaria análises das muitas interações que ocorrem em nível global ao analisar o desenvolvimento social, o qual vai ao encontro com a proposta dialética apresentada também pela história global.
Diante dos apontamentos críticos que o autor faz as outras abordagens teórico-metodológicas citadas até agora, o capítulo IV, “História Global como uma abordagem distinta”, defende que a História Global responde a urgente necessidade de se repensar a história ao propor a análise de fenômenos, processos e eventos sob o aspecto global, os quais permitem ver relações entre histórias e experiências em tempo e espaço diversos, o que não seria possível dentro da investigação tradicional da história. Os historiadores que desejarem utilizar a história global, segundo o autor, deverão não apenas fazer conexões entre os espaços, mas também revisitar as abordagens e métodos citados anteriormente para a elaboração de uma nova história.
As diferenças entre história global e história da globalização serão apresentadas ao leitor no capítulo 5, bem como as potencialidades que os historiadores possam encontrar ao utilizar tal abordagem para analisar as estruturas e as interações globais. Neste momento do texto, são apontados seis campos de pesquisa como já cristalizados na História Global, são eles: História do Oceano; dos Bens; da Migração; da Nação; História Ambiental e dos Impérios. Em relação a última área, destaca-se que a interpretação trazida pela História Global tem mudado substancialmente a área de estudos sobre Imperialismo, ao olhar para aspectos como as concepções de domesticidade, família, infância, sexualidades e masculinidades.
O autor retoma a necessidade dos historiadores repensarem o tempo e o espaço de formas alternativas nos capítulos 6 – “Espaço segundo a História Global”, como pela micro-história ou pelas interações networks; e 7 – “Tempo segundo a História Global”, com a ideia de curta e longa duração, metodologia consagrada desde a obra de Fernand Braudel (1902-1985), bem como os revestimentos (ou escalas) temporais – Zeitschichten, de Reinhart Koselleck (2000).
Em “Posicionamentos e abordagens centradas”, capítulo 8, o autor questiona se uma versão transcultural da história é acessível em todo o mundo, bem como realça a importância das ciências sociais a despeito de sua origem europeia. Tal discussão é mantida no capítulo 9, “Os conceitos da história global e a construção de mundo”, onde o autor aborda o eurocentrismo, a posicionalidade, a ascensão, a queda e o retorno ao modelo de civilizações.
No último capítulo, “História Global para quem? A Política da História Global”, se discute as diferenças entre escrever sobre globalização e a globalização enquanto uma ideologia presente na política. Esta diferenciação pode ser tênue e utilizada acriticamente, levando a equívocos em relação às desigualdades sociais que, além de econômico e estrutural, também está presente nas tradições historiográficas ocidentais, orientais e africanas, que acaba por prevalecer a historiografia eurocêntrica em detrimento das demais. Além da contribuição da hegemonia do inglês como um instrumento de disseminação do conhecimento que é produzido em um espaço delimitado, ou seja, por instituições e mídias europeias e americanas, sobre todo o mundo.
Por fim, é importante ressaltar que as versões da obra em inglês e em alemão (Globalgeschichte, publicada pela editora C.H. Beck em 2013), apesar de possuírem o mesmo título, são diferentes entre si. É importante salientar que na edição de 2016, a qual nos baseamos para esta resenha, o autor pôde revisar, acrescentar capítulos e descartar outros.
Referências
BARROS, José d’Assunção. História cruzada: considerações sobre uma nova modalidade baseada nos procedimentos relacionais. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 40, p. 277-310, 2014.
CONRAD, Sebastian. Globalgeschichte: Eine Einführung. München: C.H. Beck Verlag, 2013.
_________. What Is Global History? Princeton: Princeton University Press, 2016.
KOSELLECK, Reinhart. Zeitschichten. Studien zur Historik. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch Verlag 2000.
PURDY, Sean. A História Comparada e o Desafio da Transnacionalidade. Revista de História Comparada, UFRJ, Rio de Janeiro, p. 64-84, 2012.
Elaine Calça – Graduada pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Assis-SP, Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História e docente bolsista de alemão do Departamento de Letras Modernas na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Assis-SP. Bolsista de mestrado CNPq. E-Mail: elaine.calca@unesp.br.
[IF]A Malinche dos cronistas – JOSÉ (FH)
JOSÉ, Maria Emília Granduque. A Malinche dos cronistas. Curitiba: Editora Prismas, 2016. 158 p. Resenha de: SILVA, Rodrigo Henrique Ferreira da. A Malinche do Século XVI. Faces da História, Assis, v.5, n.2, p.316-321, jul.dez., 2018.
A utilização da crônica e de outros textos semelhantes é de suma importância para os estudos coloniais sobre a América. O uso de tais documentos é um campo aberto que começou a ter mais atenção no Brasil nas duas últimas décadas. Além das fontes de arquivos e cultura material, os trabalhos sobre o período colonial se enriquecem com as crônicas, pois cada espaço do continente americano teve seus próprios cronistas, desde os primeiros contatos entre europeus e indígenas, passando pelo processo de conquista, colonização e catequese. A obra aqui resenhada, A Malinche dos cronistas, da historiadora Maria Emília Granduque José, insere-se nesse crescimento de pesquisas que tomam por corpus documental essas crônicas.
A proposta do livro visa preencher uma lacuna em relação aos estudos da história da conquista espanhola sobre as populações indígenas astecas, entre os anos de 1519 e 1521, no atual território do México. Diante dos atores desse evento, uma das personagens destacou-se entre os próprios pares e foi reinterpretada durante longo tempo na historiografia dedicada à conquista espanhola. Trata-se de Malinche, uma índia intérprete que se envolveu e participou desse momento da conquista.
Ao tratá-la como principal objeto de pesquisa, Maria Emília José tem por objetivo consultar os relatos que versam sobre a conquista espanhola do México para analisar o que os próprios cronistas narraram sobre a indígena e qual a imagem que esses homens produziram dela em seus textos escritos no século XVI. Dito isso, a intenção da autora não é propor a busca de um retrato mais verdadeiro, mas sim, analisar a perspectiva desses diferentes cronistas na própria época da conquista, o que não significa ser um registro mais confiável sobre a Malinche em relação aos documentos de séculos posteriores. O estudo em questão contribui no preenchimento da lacuna do tema abordado e, mais especificamente, a participação da Malinche nesse evento. “Saber o que esses cronistas disseram sobre ela é saber um pouco mais sobre o encontro dos espanhóis com os nativos mexicanos e, assim, sobre a conquista do império de Montezuma […]” (JOSÉ, 2016, p. 85).
O livro é composto por uma apresentação, duas partes com quatro tópicos na primeira e sete na segunda, além de um prefácio escrito pelo historiador Leandro Karnal, e palavras finais. É na apresentação e nas palavras finais que a proposta da historiadora justifica-se ao cotejar as correntes do pensamento mexicano mais expressivas dos séculos XIX e XX, que, inclusive, são bem distantes das construídas pelos contemporâneos quinhentistas, mesmo em relação à representação de Malinche.
A primeira delas refere-se ao discurso nacionalista dos primórdios da independência do país, na primeira metade do século XIX. Na intenção de estabelecer uma identidade mexicana, tais autores releram essas crônicas e consideraram a indígena como a grande culpada pela queda do império asteca ao colaborar com Cortés e seus soldados espanhóis e a consequente situação colonial do México. Com isso, nas obras de temática indigenista, “Malinche aparece como uma anti-heroína que vende seu povo aos invasores externos durante a conquista espanhola […]” (JOSÉ, 2016, p. 147). Ou, como afirma Karnal no prefácio da obra, ela seria uma personalidade contraditória por não ter desenvolvido a “consciência étnica”, um conceito europeu e essencialista no sentido de nação de indígena do Oitocentos. Se a intérprete é personificada como um símbolo de traição à pátria, os expoentes do nacionalismo buscam nos governantes astecas – como Cuauhtemoc – a expressão do herói nacional para representar os mexicanos contra os invasores espanhóis.
No entanto, podemos identificar, ainda nos séculos XIX e XX, o enfoque hispanista, que buscou, na escrita, a construção de uma imagem positiva da Malinche ao destacá-la como uma das figuras mais importantes da conquista, sendo esta um feito benéfico na formação de toda a estrutura social e política do México. Além disso, “Malinche aparece, nessa versão, como uma valiosa colaboradora para a obra religiosa e civilizacional promovida pelos conquistadores” (JOSÉ, 2016, p. 148). Por fim, existe uma terceira corrente, a mestiça, que busca conciliar o elemento indígena e espanhol ao usar a mestiçagem como um fator de coesão da nação mexicana. Logo, a intérprete é lida como a “madre da pátria” por gerar o primeiro mestiço mexicano, fruto de sua relação com Cortés, e simbolizar a união do espanhol com o indígena.
Os autores oitocentistas e novecentistas que se propuseram a analisar a figura da Malinche partiram das crônicas quinhentistas para ampararem suas teses e desenvolverem as variadas interpretações da índia, de acordo com seus contextos históricos. Entretanto, Matthew Restall aponta que “quase todos esses elementos são muito reveladores da história mexicana moderna – mas não da Conquista em si […]” (RESTALL, 2006, p. 157), o que faz com que Maria Emília José busque nesses mesmos homens do século XVI os seus relatos sobre a Malinche. São eles: os próprios soldados do momento da conquista, Hernán Cortés e Bernal Díaz; Francisco de Gómara, em 1552; o religioso Bernardino de Sahagún, em 1575; e também os cronistas mestiços Diego Munhoz Camargo, durante 1584-1585, e Alvarado Tezozomoc, em 1598.
Ao verificar nesses diversos textos as informações transmitidas sobre a Malinche, a historiadora sustenta em seu livro uma tese de que os escritos dos cronistas não são coincidentes no que se refere à origem, ao modo como a intérprete chegou até Cortés e ao seu desfecho após o término da conquista aqui retratada, até pelo fato desses homens partirem de lugares diferentes no registro de suas narrativas, já que há crônicas de conteúdos religiosos e outras mais apegadas a questões militares. Por outro lado, a autora mostra na obra que “as impressões legadas por esses narradores acerca da personagem são formadas muito mais por semelhanças do que diferenças” (JOSÉ, 2016, p. 20), e mesmo no caso dos cronistas mestiços, as anotações são equivalentes às dos espanhóis e “suas opiniões acabam se complementando, ou melhor, ajudam a construir uma mesma imagem da parceira de Cortés” (JOSÉ, 2016, p. 21).
Como dito anteriormente, o livro se estrutura em duas partes. Ao considerar o documento da crônica como um suporte textual para armazenar o registro do encontro entre espanhóis e indígenas e as percepções da Malinche, a proposta da primeira parte concentra-se na discussão do processo de formação dessas narrativas, o gênero cronístico e seus autores; mais adiante, analisam-se os motivos e razões da escrita dos textos, levando em consideração os propósitos e interesses pessoais de cada cronista e as leituras e ideias compartilhadas na época que orientaram os olhares sobre os acontecimentos.
A historiografia atual da escrita da crônica segue um caráter inter ou transcultural da produção histórica, devido à suposta dificuldade em generalizar a obra como sendo espanhola, indígena ou mestiça em sentido étnico; ou seja, a produção cronística não necessariamente representa a origem étnica de seu autor, pois cada texto é visto como interlocução particular de um contexto específico, da interação entre tradições distintas e a disposição de diferentes opções e possibilidades segundo o público alvo. Um cronista pode ser indígena de origem, mas socialmente pode pertencer a qualquer grupo pelo fluxo e refluxo constante de informações e ideias; tudo procede das configurações culturais resultantes da produção de significações por interesses, alianças e cumplicidades (LEVIN ROJO; NAVARRETE; INOUE OKUBO, 2007). Como afirma Inoue Okubo, na discussão epistemológica, pode-se reconhecer as três denominações – espanhóis, índios e mestiços – como provisórias apenas para facilitar a compreensão, mas nunca como absolutas. Essa é a linha historiográfica que Maria Emília José segue ao tratar da questão da crônica e dos homens quinhentistas que utiliza como exemplos: Sahagún é um espanhol religioso que usou elementos indígenas para conhecer o passado mexica; Muñoz Camargo é um mestiço que se valeu de elementos europeus na narrativa sobre Tlaxcala. “Ambos os relatos foram o resultado de uma interação cultural nascida do contexto histórico em comum, vivenciado e atuado tanto por indígenas quanto por espanhóis” (JOSÉ, 2016, p. 39).
“A especificidade dos autores envolvidos com essa escrita também configura uma característica dessas crônicas” (JOSÉ, 2016, p. 39). Seus propósitos pessoais em registrar um texto que reafirme seus interesses na América estão interligados, segundo a autora, com o próprio contexto histórico do período: são homens renascentistas em busca de honrarias (valores caros no mundo ibérico), glórias, fama, títulos e todo tipo de recompensas do rei a fim de eternizarem seus nomes na história e servirem de exemplos para as gerações futuras. O renascimento, especialmente o espanhol, coloca em tensão as hipóteses dos antigos gregos com a nova realidade americana. As referências dos cronistas ainda se respaldam nos clássicos antigos e medievais,2 mas algumas teses consolidadas são contestadas pelos seus novos feitos com as navegações e descobertas marítimas; conhecimentos que os povos antigos não obtiveram. Com isso, era preciso igualar os antigos e superá-los com os novos conteúdos e feitos, o que justifica as constantes disputas envolvendo os diferentes pontos de vista defendidos pelos cronistas acerca das novidades. “É dessa forma, pois, que o afã por escrever um texto inovador ou produzir uma obra única caracterizou o cronista espanhol desse contexto” (JOSÉ, 2016, p. 46-47).
Outra referência fundamental e talvez a mais expressiva entre elas, é a premissa religiosa bíblica que conduziu as visões e os olhares desses homens dentro de uma concepção providencialista do mundo.
“Como se vê, o tom pessoal do cronista teve um peso considerável no momento da escrita, de modo que a necessidade de se inserir na história da conquista o fez criar outra ordem para os eventos” (JOSÉ, 2016, p. 76). Com toda a discussão feita em torno da produção cronística, Maria Emília José adentra na segunda parte do livro e analisa a construção da memória dos atores da conquista pela crônica, enfaticamente a Malinche, como foi vista por esses cronistas do século XVI e retratada em seus supracitados relatos.
A história da conquista dos povos astecas pelos espanhóis e outros aliados indígenas foi marcada pelo problema da comunicação. Para que Cortés e seus soldados conseguissem dialogar com os diversos nativos foi preciso a colaboração de intérpretes que entendessem as várias línguas em contato, como o maia, o náhuatl e outros dialetos locais, além do castelhano. Alguns índios capturados por guerra costumavam burlar e distorcer as informações aos espanhóis por animosidade e os induziam ao erro, sendo, com isso, ocultados das crônicas. Entretanto, as exceções foram os intérpretes Aguilar e, principalmente, a Malinche, lembrada em muitos relatos da conquista, mesmo que de forma limitada. É por essa peculiaridade percebida nas crônicas e por outros pontos notáveis revelados pelos cronistas que motivou a autora a estudar seu objeto de pesquisa: o olhar construído sobre a Malinche na própria época dos Quinhentos.
Malinche teria sido enviada de presente junto a outras dezenove mulheres aos espanhóis pelos índios de Tabasco como recompensa por perder a guerra,3 com a intenção de servi-los nos afazeres domésticos, sendo batizadas e repartidas entre os melhores soldados. As mulheres pertencentes à linhagem nobre, normalmente filhas dos senhores principais, eram entregues com a finalidade de se tornarem esposas dos novos aliados – o caso de Malinche –, e as demais, sendo escravas, deveriam servir em diferentes funções a seus novos donos. Há divergências das narrativas sobre o local de origem de Malinche e o modo como foi entregue aos índios de Tabasco, mas, todas em geral reconhecem sua condição que passou por diversas províncias até chegar a Tabasco. Os cronistas Bernal Díaz e Gómara sugerem que o conhecimento linguístico de Malinche se deve à convivência com diferentes grupos durante os anos em que foi tratada como escrava por essas outras populações, o que pode ter contribuído para o aprendizado das línguas faladas na região e que permitiram a comunicação com boa parte dos nativos, e com os hispânicos, posteriormente.
O aparecimento de Malinche foi importante para intermediar os diálogos que serviram de negociações de alianças com os senhores de Tlaxcala e o contato entre Cortés e Montezuma, agindo em benefício dos conquistadores por julgar adequado para os seus objetivos, ao contrário de outros índios intérpretes. O respeito e admiração conquistados faz com que Malinche seja vista como a “lengua de Cortés” e alcance uma posição de destaque entre os espanhóis: é reconhecida como senhora nobre e exemplar, sendo até chamada de “doña Marina”.4 Toda essa “ponte comunicativa” possibilitada pelas habilidades linguísticas e persuasivas de Malinche a coloca como uma típica faraute, a intérprete responsável pelo trânsito das mensagens.
Talvez por isso nossa personagem tenha ganhado certo destaque nas crônicas […]. A tarefa exercida de intermediar a comunicação entre tais culturas distantes, a partir da constituição de uma fala comum a ambas, pode ser percebida nas páginas escritas pelos diferentes testemunhos da conquista.
É uma imagem construída tanto pelas crônicas aqui consultadas como pelos códices indígenas produzidos nessa época, especialmente o Códice Florentino, que traz cenas de Malinche em pé, à frente dos conquistadores, negociando pontualmente com os naturais (JOSÉ, 2016, p. 120).
Diante dessas situações, Maria Emília José afirma a boa imagem de Malinche nas crônicas quinhentistas, tendo seu lugar nos discursos realizados durante a conquista e nas décadas posteriores. Mesmo com a divergência de informações no que se refere a algumas particularidades de Malinche, seja pelos distintos interesses desses narradores com a escrita, seja pelo confronto de dados sobre a personagem, “[…] não alterou, no entanto, o consenso entre os cronistas sobre a sua relevante contribuição como tradutora nos diálogos estabelecidos durante a conquista” (JOSÉ, 2016, p. 141). Portanto, uma imagem da Malinche como figura central na comunicação e papel protagonista desse evento histórico, mesmo com poucas menções; bem diferente das visões historiográficas posteriores mencionadas no início da resenha.
O livro de Maria Emília José traz grande contribuição para os estudos da história da conquista, pois trata sistematicamente de uma personagem histórica indispensável para os sucessos dos espanhóis e aliados indígenas, e como a índia intérprete foi retratada por um seleto grupo de cronistas do século XVI – uma importante lacuna que necessitava ser preenchida. A autora também se propõe a analisar as representações históricas de Malinche na historiografia moderna mexicana, com destaque às correntes nacionalista, hispânica e mestiça. A obra também possibilita pensar outras questões da conquista no que se refere à participação da Malinche inclusive no campo de estudos sobre gênero, atualmente em expansão na área de estudos históricos.
Notas
2 Maria Emília José menciona as que seriam as principais referências que amparam a escrita dos homens quinhentistas: a busca pelas maravilhas do Oriente relatadas por Marco Polo e Mandeville; os mitos antigos dos antepassados, como o das guerreiras Amazonas e a terra dos Gigantes; a literatura cavalheiresca, responsável por ensinar os modos e condutas de agir dos heróis para buscar a honra e a glória.
3 A doação de mulheres era uma prática comum entre os nativos em situação de guerra, tanto para estabelecer alianças com os adversários como para estreitar laços de amizade.
4 É importante ressaltar que Malinche passa a ser chamada de Marina após receber o batismo cristão.
Já a expressão “doña” possuía um grande peso social por ter origem nobre ou ter prestígio reconhecido.
Referências
INOUE OKUBO, Yukitaka. Crónicas indígenas: una reconsideración sobre la historiografia novohispana temprana. In: LEVIN ROJO, Danna; NAVARRETE LINARES, Federico (Orgs.). Indios, mestizos y españoles: Interculturalidad e historiografia en la Nueva España. México: Universidad Autónoma Metropolitana & IIH – UNAM, 2007. p.55-96.
JOSÉ, Maria Emília Granduque. A Malinche dos cronistas. Curitiba: Editora Prismas, 2016.
RESTALL, Matthew. As palavras perdidas de La Malinche: o mito da (falha na) comunicação. In: RESTALL, Matthew. Sete mitos da conquista espanhola. Trad. Cristiana de Assis Serra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
Rodrigo Henrique Ferreira da Silva – Doutorando em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação do Prof. Dr.Luiz Estevam de Oliveira Fernandes. E-mail: silvarhf@gmail.com.
[IF]Prensa tradicional y liderazgos populares en Brasil – GOLDSTEIN (FH)
GOLDSTEIN, Ariel. Prensa tradicional y liderazgos populares en Brasil. Raleigh, NC: Editorial A Contracorriente, 2017. Resenha de: FIDELIS, Thiago. A imprensa brasileira pela ótica argentina: Vargas e Lula nos periódicos liberais. Faces da História, Assis, v.5, n.2, p.322-328, jul./dez., 2018.
Originária da tese defendida em 2015, no Programa de Ciências Sociais na Universidad de Buenos Aires, a obra Prensa tradicional y liderazgos populares en Brasil, de Ariel Goldstein, se propôs a fazer uma dupla comparação, transitando tanto pela temporalidade (governo Vargas, nos anos de 1950, e governo Lula, nos anos 2000) quanto pelos periódicos pesquisados. O objetivo do livro é comparar como dois jornais brasileiros, O Estado de S. Paulo (OESP) e O Globo retrataram dois períodos históricos distintos: o último período do governo de Getúlio Vargas (1951/1954) e o primeiro mandato de Luís Inácio Lula da Silva (2003/2006).
Como indicado na introdução da obra, a comparação entre os líderes ocorre não necessariamente pelas similaridades entre eles, mas sim pelas condições de seus governos, tendo em especial destaque a relação com a imprensa. Tanto OESP quanto o Globo foram jornais que, assim como praticamente toda a chamada grande imprensa (jornais de maior tiragem no período), fizeram oposição a ambos os presidentes nesses períodos. As publicações selecionadas, embora opositoras a ambas as lideranças, possuíam suas peculiaridades e, mesmo na crítica, mantiveram as diferenças das linhas editoriais e das abordagens na construção das notícias.
Contextualizando ambos os períodos (em especial o governo Vargas), Goldstein demonstrou vasto domínio da literatura sobre a temática, desenvolvendo um diálogo com os principais autores sobre o período e também, utilizando alguns dados obtidos em entrevistas com personagens de ambos os jornais (embora tais dados não tenham sido decisivos para a análise em si). Além do prólogo (escrito pelo professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, Lincoln Secco) e da introdução, a obra foi dividida em 5 capítulos, estruturando os tomos pelos períodos dos governos (com a exceção do primeiro, que faz uma análise da relação entre imprensa e política no Brasil), diluindo a comparação entre os jornais nasanálises de ambos os governos.
No primeiro capítulo, após uma análise bastante sucinta sobre a imprensa brasileira (com uma ênfase um pouco maior no fim do século XX e início do XXI), o autor fez uma breve apresentação sobre os dois principais jornais, enfatizando como se posicionaram nos dois períodos, também chamando a atenção para o período da ditadura e do processo de redemocratização. Embora a apresentação dos periódicos seja bem estruturada, houve uma discussão muito rápida em relação às visões e opiniões de seus signatários (no caso do Globo, a trajetória de Roberto Marinho foi um pouco mais explorada), o que dificulta um pouco a compreensão da ideologia dos jornais para os leitores e leitoras que não acompanham o tema. Em linhas gerais, as perspectivas que permeiam as ideologias e a visão de mundo dos periódicos acabaram sendo mais explorados nos capítulos subsequentes.
Os quatro capítulos posteriores seguiram uma mesma estruturação: o dois e o quatro contextualizaram, respectivamente, os governos Vargas e Lula, sendo que o três e o cinco exploraram, diretamente, a visão dos periódicos em relação aos governos.
Principalmente nesses últimos capítulos, as comparações foram bastante equilibradas, chamando a atenção para o fato de que o OESP, tanto nos anos de 1950 quanto no início do século XXI, possuía uma visão mais incisiva e radical contra os mandatários do que o GLOBO, embora esse também tenha aumentado suas críticas conforme os eventos considerados como “crise” se desdobraram.
No segundo capítulo, o autor chamou a atenção para a proximidade entre Vargas e a imprensa, uma vez que o político via a importância de manter uma boa relação com esse campo, aproximando-se de figuras como Assis Chateaubriand, um dos megaempresários da imprensa nos anos de 1930 (p. 81). Outro destaque refere-se à relação feita entre os dois períodos governamentais, já que Getúlio governou o país de 1930 a 1945, sendo os últimos oito anos de maneira extremamente autoritária através do Estado Novo e, para entender melhor a forte oposição feita pelos jornais em geral, é imprescindível levar em conta tal aspecto, uma vez que boa parte dessas publicações foi afetada pela censura no período (p. 84).
Não à toa, nos anos de 1950, OESP referia-se à Vargas não como presidente, mas sim como ex-ditador. Embora o GLOBO não tenha sido afetado diretamente pela censura nos anos de 1940, também estruturou oposição contra o mandatário, embora em uma perspectiva conciliadora (pelo menos, em um primeiro momento). Goldstein também chamou a atenção para a criação da publicação Ultima Hora (UH), capitaneada pelo jornalista Samuel Wainer, até então empregado de Assis Chateaubriand que, após um furo de reportagem, praticamente “lançou” a campanha de Getúlio em 1950, aproximando-se muito do presidente a partir de então e estruturando um diário que buscasse defender o governo e o legado varguista frente às principais publicações da época (p. 81-83).
As diferenças entre os jornais, no início do governo, ficam evidentes no próprio resultado eleitoral e na posse de Vargas: no caso do OESP, o periódico criticou vivamente a população que votou no ex-ditador, indicando que a falta de educação e instrução no país era o principal fator de compreensão do motivo depor que uma figura autoritária e sem preparo ser tão popular, sendo que a publicação paulista pede abertamente para a posse de Vargas ser impedida pelo Exército, explicitando uma visão bastante elitista e autoritária sobre o processo (p. 90); em compensação, o GLOBO criticou tal postura e, mesmo fazendo oposição ao presidente eleito, defendeu o processo eleitoral e o direito de tomar a posse, já que tinha sido eleito democraticamente (p. 90).
O final desse capítulo e início do seguinte foram intercalados por dois aspectos importantes: do ponto de vista da movimentação do governo, Goldstein chamou a atenção para as dificuldades tanto externas quanto internas durante o governo Vargas.
Internamente, o presidente buscou proximidade com seus opositores (em especial com a UDN, principal partido contrário ao legado varguista, do qual OESP era muito próximo) para uma maior governabilidade, indicando enormes dificuldades para medidas de conciliação (como a criação de órgãos estatais, como a PETROBRÁS); externamente, a consolidação da Guerra Fria com o confronto na Coréia e a não participação do Brasil acabou deteriorando as relações com os EUA, que aumentaram a desconfiança em relação ao estatismo e nacionalismos de Vargas (p. 94-95).
Além disso, o autor também chamou a atenção para uma personagem de extrema importância no período, Carlos Lacerda. Proprietário do jornal Tribuna da Imprensa, o jornalista não possuía cargo parlamentar, mas era o principal opositor de Vargas na imprensa e o nome de maior influência dentro da UDN, utilizando seu periódico para ataques frontais ao presidente e também à UH, que manteve sua postura de defesa do governo durante todo seu mandato (p. 94-95).
O terceiro capítulo começou indicando como Lacerda, dono de uma ótima oratória, ganhou espaço nas redes da rádio Globo e Tupi (também de posse de Assis Chateaubriand, que voltara-se contra Vargas) para verbalizar o que fazia em seu jornal, aumentando a virulência contra o governo (p. 102). Entre os vários acontecimentos que despertavam a oposição de ambos os jornais, a nomeação de João Goulart como ministro do Trabalho, em 1953, aumentou a fervura oposicionista contra Vargas, já que Jango (como era popularmente conhecido) era apontado como o herdeiro político do presidente, sendo uma espécie de perpetuador do varguismo no futuro, ideia considerada imperdoável pelo GLOBO e, principalmente, pelo OESP(p. 103).
Em relação ao governo Vargas, Goldstein não seguiu a ordem cronológica dos acontecimentos, fazendo vários cortes temporais, ainda que quando analisou os jornais e suas coberturas, estruturou os fatos conforme eles ocorreram. Entre os tópicos analisados, é importante destacar a constante ideia do OESP de que o presidente ameaçava, a todo o momento, um novo golpe de Estado nos moldes do Estado Novo (seu diretor, Júlio de Mesquita Filho, fora preso e exilado durante o primeiro período do governo Vargas) e indicava que qualquer ação do Executivo tinha, como plano de fundo, tal perspectiva (p. 108). O GLOBO também demonstrava certa desconfiança em relação às possíveis ações de Vargas, mas em uma escala bem menor (p. 108).
Principalmente no início do ano de 1954, ambos os jornais aumentaram ataques contra o governo, sendo que Goldstein destacou que a maior mudança na abordagem dos periódicos ocorreu por conta do GLOBO, que passou a radicalizar mais em seus editoriais e notícias contra Vargas, enquanto OESP manteve a postura extremamente crítica contra o presidente e seus defensores (p. 126-128). Um outro aspecto importante é a movimentação do GLOBO contra a UH, uma vez que, conforme as críticas da imprensa, em geral, contra Vargas aumentavam, a defesa do periódico de Samuel Wainer também intensificava-se a favor do presidente. Como OESP era de São Paulo, não havia textos tão intensos contra o diário de Wainer uma vez que, embora fosse defensor do presidente, não era um concorrente. No entanto, essa publicação oferecia perigo real para a publicação carioca, uma vez que ambos os jornais eram os de maior circulação no Rio de Janeiro (p. 129-130).
Em linhas gerais, Goldstein indicou que, em ambas as publicações, os três termos mais utilizados para fazer críticas a Vargas por ambos os jornais teriam sido: “comunismo, subversión y república sindicalista” (p. 156). Em relação ao primeiro ponto, as medidas nacionalistas do governo Vargas pesavam de maneira negativa, indicando que ele próprio era um comunista (questão mais explícita ainda no caso de Jango) ou que, se ele não era um, abria espaço para o país para os verdadeiros comunistas com suas ações irresponsáveis (p. 168).
O fantasma da subversão estava presente a todo o tempo, segundo ambos os jornais (em especial OESP), para instigar a população contra as instituições, seja pelo aumento de 100% do salário mínimo no início de 1954, seja pelos discursos de proximidade de Jango com as sindicais e movimentos populares (p. 159).
Por fim, o fantasma da República Sindicalista era construído a partir da movimentação de João Goulart com algumas lideranças trabalhistas, bem como das semelhanças entre ações varguistas e do presidente da Argentina, Juan Carlos Perón, que era um dos expoentes de perspectivas utilizadas no governo e que aterrorizavam ambas as publicações, em especial OESP (p. 160).
Além disso, OESP, por vezes, incitou o Exército a agir para impedir as manobras de Vargas e Jango, indicando que o primeiro deveria deixar o poder e, caso não quisesse, os militares deveriam intervir para que isso acontecesse (p. 182). Embora o GLOBO não fosse tão explícito, nos últimos meses do governo a publicação carioca também passou a radicalizar seu discurso nesse sentido (p. 183).
Por fim, no início de agosto de 1954, Carlos Lacerda sofreu um atentado em frente à sua residência, sendo que um militar que o acompanhava, Rubens Vaz, morreu na ação. Embora, a primeiro momento, não ficou claro quem era o mandante, toda a culpa recaiu sobre Vargas, e ambos os jornais radicalizaram (ainda mais) o discurso contra o presidente: OESP, desde o dia do atentado, acusou frontalmente o mandatário de ser o responsável; já o GLOBO foi mais cauteloso, aumentando as críticas apenas na medida em que as investigações caminhavam para o envolvimento de membros da guarda pessoal de Getúlio no assassinato (p. 191-196).
Momentos antes do suicídio, ambos os jornais insistiam na renúncia de Vargas como o único caminho a ser seguido (p.203-204). Após a morte do mandatário, o GLOBO mudou a abordagem em relação ao presidente, suavizando as críticas e valorizando os aspectos positivos que ele tinha (p. 213-214); já o OESP, em compensação, fez uma análise bastante objetiva do desaparecimento de Getúlio e manteve a linha ácida ao governante, fazendo críticas ao seu legado e dando ampla cobertura ao novo governo, formado pelo então vice, Café Filho (p. 217).
No capítulo quatro, há uma breve abordagem sobre o histórico de Lula, indicando sua origem de migrante nordestino e sua estruturação política no sindicalismo, bem como o crescimento de sua imagem no processo de redemocratização brasileira, nos anos 1980 (p. 241). Levando em conta o pleito em 2002, Goldstein chamou a atenção para o fato de que, principalmente, com a mudança apresentada no processo eleitoral (no qual Lula, diferentemente dos três pleitos anteriores, apresentou uma face mais conciliadora e racional, buscando amenizar sua imagem anterior, que seria mais “radical”), ambas as publicações mantiveram as fortes críticas que estruturavam ao Partido dos Trabalhadores (PT), desde sua fundação, nos anos de 1980, mas relativizaram as críticas a Lula e passaram a elogiar, sobretudo, seu caráter conciliador, colocando-o como alguém capaz de trazer os segmentos sociais que seu partido representava para o poder sem promover uma ruptura na ordem social (p. 246-252).
A nomeação de Antonio Palocci como ministro da Fazenda também foi bastante elogiada, uma vez que o político demonstrava interesse em realizar uma política de austeridade econômica, sem gastos excessivos (sobretudo, com as questões sociais) e procurando manter as contas em dia (p. 249-250).
Dentre os assuntos de grande vulto debatidos durante o primeiro mandato de Lula no capítulo 5, Goldstein chamou a atenção para os seguintes: a votação da Reforma da Previdência, o caso do Mensalão e o processo eleitoral de 2006. Em relação ao primeiro ponto, a ação de Lula foi bastante elogiada por ambos os jornais, uma vez que a reforma possuía uma perspectiva bastante próxima às políticas econômicas ortodoxas dos anos de 1990, acabando com “regalias” (como indicaram ambas as publicações) tais como a aposentadoria de servidores públicos com valores integrais, o pagamento de impostos de aposentados, o estabelecimento de tetos de salários para os servidores federais, entre outras (p. 264).
Ao capitanear essas mudanças e levá-las ao Congresso, tanto OESP quanto GLOBO elogiaram imensamente Lula, indicando que, de fato, a imagem de um líder radical ficou para trás no processo eleitoral e que, no início do governo, demonstrava sua face conciliatória e bastante positiva para o país (p. 264-266). No entanto, mantiveram a postura crítica ao PT, sobretudo por um grupo do partido não ter concordado com a reforma, sendo que esses membros (nomes como a senadora Heloísa Helena e os deputados João Fontes, Babá e Luciana Genro) foram expulsos da agremiação. Logo, a dissociação entre Lula e PT continuou marcando as páginas de ambas as publicações (p. 266-267).
No entanto, essa perspectiva encerrou-se em 2005, com a denúncia feita pelo presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, sobre um esquema de corrupção liderado por membros do Executivo para a compra de votos de componentes do Legislativo. Goldstein não fez uma discussão ampla de como as publicações retrataram o chamado Mensalão em si, mas sim na forma como as publicações retrataram Lula durante e após o processo. Ambos os jornais (em especial OESP) romperam com a ideia estruturada, no processo eleitoral e início do governo, de Lula como um líder conciliatório e acima das divergências e dos possíveis “dogmas” de seu partido, passando a aproximá-lo com as qualidades negativas do PT e, conforme o processo eleitoral aproximou-se, as publicações representaram-no como uma liderança ainda pior do que vinham pintando-o (p. 272-274). Chamando-o de populista e de chavista (explorando intensamente a associação com Hugo Chávez, presidente da Venezuela e um dos principais expoentes da esquerda latino-americana), OESP e GLOBO, cada um ao seu modo, passaram a estruturar uma visão bastante negativa do presidente: a publicação paulista, desde as primeiras denúncias do Mensalão, passou a caracterizar Lula de maneira extremamente negativa, enquanto que GLOBO tratou o processo com mais cautela em um primeiro momento para, em fins de 2005 e início de 2006, passar a também atacar constantemente o mandatário nacional (p. 275-279).
Várias comparações foram relembradas, por Goldstein, entre as temporalidades distintas. No processo eleitoral de 2006, OESP retomou o discurso crítico da qualidade do voto no Brasil, indicando que a falta de instrução e de qualidade nas opções do eleitorado brasileiro era um problema bastante sério para o país, uma vez que essa falta de um olhar mais sofisticado para o processo eleitoral poderia ser uma arma para a reeleição de Lula (p. 290). Já GLOBO também seguiu perspectiva parecida com o período Vargas, realizando, em um primeiro momento, uma análise mais moderada, buscando os dois lados da notícia e dando espaços parecidos para ambos. No entanto, a proximidade do processo eleitoral fez com que o jornal carioca aumentasse suas críticas ao presidente, equiparando seus textos ao do OESP (p. 300). Além disso, também utilizou de forma vasta o elemento das caricaturas, com ênfase para as publicações de Chico Caruso.
Ainda em relação ao processo eleitoral, com a liderança de Lula nas pesquisas, os ataques dos jornais ficaram mais frontais, sobretudo, após a divulgação de um dossiê, que teria sido organizado por membros do PT, em São Paulo, contra o candidato ao governo do Estado, José Serra. Após tal movimentação, a associação entre Lula, PT e corrupção ficou ainda mais forte em ambas as publicações, além da maior valorização de seu principal oponente, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (p. 299-300).
Nos tópicos finais do último capítulo, Goldstein retomou as três temáticas exploradas e passou a aprofundar alguns pontos. No caso da Reforma da Previdência (p.306-307), em um primeiro momento, ambas as publicações elogiaram o “pulso firme” do PT nas expulsões dos parlamentares, ainda que mantivessem os ataques ao partido.
No tocante ao caso do Mensalão e ao processo eleitoral, a abordagem contra Lula e o PT foi muito intensa do ponto de vista negativo. No caso do OESP, como salientado por Goldstein, a linha acusatória foi mantida desde o começo: sempre com textos superlativos e fatalistas (assim como no período Vargas), em alguns textos os editoriais do jornal paulista indicavam o governo Lula como o mais corrupto da história do país (p. 319).
Já em relação ao GLOBO, as mudanças já indicadas foram bastante visíveis, além de chamar a atenção de um outro ponto: a diversidade de opiniões entre os colunistas.
Embora a maioria desses colunistas seguisse a linha do jornal carioca (Goldstein citou, algumas vezes durante o livro, as colunas do jornalista Merval Pereira como exemplo para demonstrar esse aspecto), havia nomes que também apontavam pontos distintos da linha editorial (nesse ponto, o autor citou as colunas de Luís Fernando Veríssimo como exemplo), relativizando e muitas vezes discordando da opinião majoritária da publicação.
Por fim, destacamos dois pontos abordados pelo autor para reforçar alguns princípios não estruturados no restante do texto: a relação entre o PT e o Movimento dos Sem Terra (MST), e a questão do programa Bolsa Família. Em relação ao primeiro, houve uma objeção mais forte por conta do OESP, associando o MST ao terrorismo (p. 329), sendo que GLOBO tratou de maneira um pouco mais amena, embora também aumentasse as críticas conforme o caso do Mensalão foi se desenrolando (p. 332). Já em relação ao Bolsa Família, ambos os jornais estruturaram a ideia de que o governo utilizou essa política pública como forma de compra de votos para a manutenção não somente de Lula, mas do projeto de poder do próprio PT (p. 355).
Concluindo, a obra do argentino Ariel Goldstein, ao fazer a comparação entre temporalidades distintas e com dois jornais bastante próximos do ponto de vista ideológico, indicou as características em comum que podem ser avaliadas a partir dessa trajetória. Fazendo uma reflexão mais ampla, é possível identificar aspectos distintos: no tocante às temporalidades distintas, embora com aspectos divergentes, o autor assinalou que ambas as publicações viam governos de caráter popular como um problema, uma vez que essas perspectivas costumam “quebrar” a tradição de mandatos com caráter eminentemente elitistas (p. 376).
Embora, nos dois governos, GLOBO tenha tido uma postura mais benevolente com ambos os políticos, em um primeiro momento, OESP possuía uma ideia extremamente crítica, sobretudo com Vargas. Nos dois governos existiram acusações de corrupção e ações consideradas nacionalistas e até comunistas, mas com desfechos distintos: enquanto o desenrolar do governo Vargas terminou de maneira trágica e com a morte do presidente, no caso do primeiro mandato de Lula a movimentação, mesmo que truncada, levou à reeleição do mandatário.
Além disso, é importante pontuar o papel da imprensa nesse processo: enquanto no governo Lula não houve intenso conflito entre as publicações e nenhum escândalo envolvendo membros da mídia em si (sendo a maioria voltada contra o presidente e com poucas opções com grande tiragem), durante o mandato de Vargas a tensão na imprensa foi grande, sendo que o principal opositor ao mandatário foi Carlos Lacerda, protagonista do ato final do mandato do político gaúcho, além das questões envolvendo a UH (na qual o GLOBO esteve mais envolvido).
Por fim, a obra Prensa tradicional y liderazgos populares en Brasil é de extrema importância para pensar não somente sobre as perspectivas históricas, mas também sobre o papel da imprensa na política, bem como as problemáticas de ações de cunho populares, sendo implantadas em uma sociedade profundamente marcada pela desigualdade social e pela criação de mecanismos para que essas sejam mantidas.
Thiago Fidelis –Doutor em Ciências Sociais pela Unesp, campus Araraquara e pela Universidade de Coimbra (Portugal).
Doutorando em História pela Unesp, campus Assis. E-mail: fidelisrp@gmail.com Acessar publicação original
[IF]Religiões e religiosidades na Antiguidade Tardia – CARVALHO et al (FH)
CARVALHO, Margarida Maria de… [et al.] (Orgs). Religiões e religiosidades na Antiguidade Tardia. 1.ed. – Curitiba: Editora Prismas, 2017. Resenha de: SILVA, João Paulo da. Discussões acerca da antiguidade tardia: religiões e religiosidades. Faces da História, Assis, v.5, n.2, p.329-332, jul./dez., 2018.
A Antiguidade Tardia fora um período de profundas mudanças no que tange a questão da religião e religiosidade. Essa época de transição, balizada entre meados do século III d.C. e início do século VII d.C., possui características peculiares em relação à simbologia e à subjetividade dos acontecimentos. O conceito de Antiguidade Tardia sofreu alterações relevantes dentro da historiografia moderna, visto os lançamentos de diversas obras no início da década de 1970, como por exemplo, O Fim do Mundo Antigo: de Marco Aurélio a Maomé, de Peter Brown, de 1972, e a obra de Henri Iriné Marrou, intitulada Decadence ou Antiquité Tardive?, de 1977, que focalizava uma continuidade cultural fortalecida pelo cristianismo até os dias atuais. O conceito se fortalecera, deixando em evidência as divergências e diversidades do período, estabelecendo, ao mesmo tempo, problemáticas diversas a saber: político-econômicas, religiosas e culturais, as quais devem ser analisadas em seu próprio conjunto, reverberando determinados movimentos, a exemplo da crise do século III d.C., ou mesmo a cristianização do Império Romano.
A obra, Religiões e Religiosidades na Antiguidade Tardia, aqui resenhada, desenvolve análises específicas com temas diversos que compõe o amplo cenário religioso e suas manifestações no período tardo antigo. Organizada pelos professores Claudio Umpierre Carlan (Professor Associado I de História Antiga da Universidade Federal de Alfenas) , Helena Amália Papa (Professora de História Antiga do Departamento de História e Programa de Pós-graduação em História da Universidade Estadual de Montes Claros), Margarida Maria de Carvalho ( Professora Dra Assistente de História Antiga do Departamento de História e Programa de Pós-graduação da Universidade Estadual Paulista – Campus de Franca) e Pedro Paulo Abreu Funari (Professor Titular da Universidade Estadual de Campinas. (Livre-docente pela UNICAMP), conta com quatorze capítulos no formato de ensaios, com textos não somente dos organizadores, como também de outros pesquisadores convidados. De leitura fluente, não é necessária uma ordem sequencial nos capítulos, tendo em vista a especificidade das temáticas abordadas em cada um deles. Essa obra, do ano de 2017, busca desenvolver análises de casos específicos relevantes ao período tardo antigo, imbricando, além da religião e da própria religiosidade, a cultura, o imaginário e a política na Antiguidade Tardia.
Em linhas gerais, as propostas dos ensaios trazem em seu âmago sempre uma tensão, seja ela religiosa, política ou social. Tais propostas variam de acordo com sua especificidade temática. O capítulo 1 – Religião e Rivalidade no século IV: algumas considerações – aponta para um Império Romano que passa por diversas transformações religiosas, com o surgimento de novas formas de culto e, na figura de Constantino, uma proposta de transformar a igreja num organismo oficial, de extrema importância para o funcionamento do estado. No capítulo 2 – Nomen christianum: práticas Cristãs em Melânia, a Jovem – Renata Lopes Biazotto Venturini, oferece uma discussão acerca das práticas cristãs, analisando a vida de Melânia, a Jovem, destacando o cristianismo como uma nova experiência, como resposta às circunstâncias dos problemas dos homens. O capítulo 3 – Cultura Literária e polêmica anticristã no, de Juliano, o Apóstata. – aponta para a figura singular do Imperador Juliano, o Apostata, com seu pensamento religioso e sua motivação e objetivos de sua política de restauração dos cultos tradicionais, ressaltando as contradições das histórias do velho testamento e a personalidade vingativa do deus hebreu, bem como o caráter particularista de sua revelação e também a inferioridade cultural dos cristãos. No Capítulo 4 – A construção de um arquétipo: o caso de Vetio Agorio Pretextato – Viviana Boch discute a religiosidade com cerne na personalidade de Vetio Agorio Pretextato, deixando em evidência práticas religiosas e a política romana do século IV d.C. No capítulo 5 – Os mártires como protetores espirituais da polis: João Crisóstomo e a cristianização da Antioquia (séc. IV d.C.) – aparecem os mártires e a devoção aos mesmos para o efeito de cristianização da cidade antiga do século IV, análise esta balizada na figura de João Crisóstomo.
O capítulo 6 – Imperator et bouleutes na Antiguidade Tardia: os Conflitos entre César Galo, Juliano, Teodósio e a elite municipal antioquena (Séc IV d.C.) – trata dos conflitos de interesses dentro do Império Romano, revelando que em diversas ocasiões, as instâncias administrativas se opunham e conflitavam, evidenciando, em determinados momentos, tensões de força nas relações de poder. O sétimo ensaio – Gêneros literários, temporalidades e construção biográfica: um estudo da “Vida de Santa Macrina” de Gregório de Nissa (Séc. IV d.C.) –, é dedicado à análise da vida de Santa Macrina, por Gregório de Nissa, com cerne numa maior liberdade de escrita, diferente das formas retóricas da antiguidade. A Arqueologia se fez presente no oitavo capítulo – O fim dos templos: um problema arqueológico, com um estudo apresentado pelo professor Bryan Ward-Perkins, da Universidade de Oxford, elucidando questões relacionadas à arqueologia na literatura, que considera cada vez mais sofisticada, e o fim do paganismo romano. No capítulo 9 – Sociedade, religião e literatura no Egito da Antiguidade Tardia: o caso de Nono de Panópolis – o Prof. David Hernandes de La Fuente promove um panorama no que se refere à situação histórica do Egito, a qual passava por um momento de profundas mudanças sociais e também espirituais, momento esse em que se dá na transição do mundo antigo para o medieval. Em outra proposta de análise com viés literário, Graciela Gomez Aso apresenta no capítulo 10 – Epistola 123 como exemplo da retórica discursiva de Jerônimo de Estridão no ambiente de mulheres aristocráticas de Roma. Barbárie e castidade como tópicos da Antiguidade tardia – uma retórica discursiva, utilizada por Jerônimo de Estridão com a intenção de difundir o testemunho político-religioso deste último, no que diz respeito ao avanço dos bárbaros dentro do território Ocidental do Império Romano, entre os séculos IV e V.
Apresentando uma discussão acerca da construção de paradigmas na Antiguidade Tardia, o capítulo 11 – Clarissimae feminae: de matronas a santas cristãs: a construção do modelo de santidade feminina na Antiguidade Tardia – propõe uma análise voltada para a questão do modelo de santidade feminina e a inserção de diferentes agentes sociais nesse panorama. Há ainda no capítulo 12 – Deus pode ser invejoso ou ciumento? Um debate sobre os atributos divinos entre o Imperador Juliano e Cirilo de Alexandria – uma tensão religiosa no debate entre o Imperador Juliano e Cirilo de Alexandria acerca da figura divina, com cerne no sistema de crenças do mudo antigo.
Através da “Controvérsia Nestoriana”, Daniel de Figueiredo explana no capítulo 13 – Uma análise de emergência da “controvérsia nestoriana” nas cartas de Cirilo de Alexandria (séc. V d.C.) – problemas políticos administrativos na composição da hierarquia eclesiástica ortodoxa, buscando uma explanação, pela historiografia, além de seu teor teológico, comumente trabalhado.
Para finalizar, uma temática pertinente ao período apresentado na obra, A religiosidade como meio e fim, explanada pelo professor Renan Frighetto no capítulo 14 – A religiosidade como meio e fim. A unidade religiosa como proposta à unidade política na Antiguidade Tardia hispano-visigoda: o exemplo da unção e coração de Wamba (672) – uma discussão das múltiplas formas de religiosidade, formas estas que aparecem durante o processo histórico, em particular no período que se define como Antiguidade Tardia. Pontos de destaque para a argumentação do autor encontram-se na cerimônia da unção do soberano, legitimando sua ascensão, sendo reconhecido como portador do signo de Deus devendo essa simbologia favorecer tanto a unidade religiosa representada pelo soberano, como também a unidade política.
No que diz respeito ao mundo tardo antigo, alguns pontos são relevantes para a compreensão do período. Necessariamente, trata-se de um período de transição do mundo antigo para o mundo medieval, extrapolando a visão política normalmente apresentada em outras obras e manuais. Pois bem, não é somete isso que buscamos no entendimento do contexto de compreensão de uma época. Mas as tensões existentes até os dias de hoje. Obviamente não como entre os séculos III e V, mas citando como exemplo a flexibilidade do cristianismo em relação a trazer para si elementos de uma cultura religiosa tida como pagã. Outro ponto relevante é a relação entre a política e a religião, as formas como uma está perpetrada na outra em relação a interesses particulares e relações de força e de poder.
A obra em questão traz contribuições de pesquisadores brasileiros e estrangeiros para uma explanação desse período da história da humanidade, período esse riquíssimo no que tange à religião, as práticas religiosas dos diversos atores sociais e a cultura da época.
João Paulo da Silva – Mestrando em História e Sociedade pela UNESP-Assis. Pós-graduado em História, Cultura e Sociedade pela UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), Pós-Graduado em Docência no Ensino Superior pela UNIVALE, Universidade Vale do Ivaí, graduado em História pela UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná). E-mail: historiadorjoao@hotmail.com.
[IF]Italianidade no interior paulista: percursos e descaminhos de uma identidade étnica (1880-1950) – TRUZZI (FH)
TRUZZI, Oswaldo. Italianidade no interior paulista: percursos e descaminhos de uma identidade étnica (1880-1950). São Paulo: Editora Unesp, 2016, 137p. Resenha de: SUDATTI NETO, Reinaldo. Faces da História, Assis, v.5, n.1, p.349-355, jan./jun., 2018.
Oswaldo Maia Serra Truzzi nasceu em Campinas em 1958 e, atualmente, atua como historiador titular na Universidade Federal de São Carlos, nos Programas de Pós-Graduação em Sociologia e Engenharia de Produção. Possui trabalhos na área de Sociologia relacionados ao tema das imigrações, envolvendo a história social das imigrações, não somente a italiana, mas também a síria e libanesa. Além de obras de relevância como Roteiro de fontes sobre a imigração internacional em São Paulo (1850- 1950) e Repertório da legislação brasileira e paulista referente à imigração.
O livro Italianidade no interior paulista: percursos e descaminhos de uma identidade étnica (1880-1950), lançado pela Editora Unesp em 2016, é apontado, no prefácio do historiador Ângelo Trento, como uma obra que procura levantar uma discussão inovadora no meio acadêmico, a saber: a formação de uma identidade étnica, envolvendo os imigrantes italianos no interior paulista, em um período precedente à construção identitária ocorrida na Itália.2 Em tempo, discute as circunstâncias que auxiliaram e prejudicaram essa construção, ocorrida entre os anos de 1880 e 1950.
O livro inicia-se tomando como referência os estudos de Philippe Poutignat (2008) e Jocelyne Streiff-Fenart que abordaram as concepções teóricas acerca do processo de construção das identidades culturais dos povos, quando confrontados com uma nova sociedade. Deve-se, aqui fazer uma ressalva a respeito do conceito de etnia, o qual não deve ser tomado como superioridade racial e, sim, como um conceito que permite refletir sobre o tema da identidade de si mesmo e sua constituição, a partir do contato entre grupos culturais.
Partindo dessa análise, o autor dirige-se ao mote da composição identitária. Para tanto, embasa-se no estudo de Benedict Anderson (2008) sobre as origens das noções de pertencimento no interior de comunidades construídas de forma heterogênea.
Acrescenta-se, ainda, as reflexões de Maurice Halbwalchs (2006) a respeito da ativação das memórias individuais e coletivas e, dos fatores que se cruzam, entre essas lembranças, criando uma noção de identidade cultural. Com isso, o autor busca reforçar sua tese de que houve um sentimento agregador de italianidade e de pertencimento, nascido primeiro no Brasil, e depois na Itália.
Como recurso teórico para analisar a formação da identidade italiana no Brasil, Oswaldo Truzzi se apoia nos estudos de Pierre Bourdieu (1996) e de Paula Beiguelman (2005), que enfatizam a relação de alteridade construída entre grupos culturais distintos.
Essa relação de alteridade teria fomentado o início da formação da identidade entre os imigrantes italianos que passaram a habitar o interior paulista, entre os anos finais do século XIX e o começo do XX.
Com o objetivo de ratificar a sua tese de uma identidade italiana surgida primeiro no Brasil, o historiador faz uso das tabelas contidas nas obras dos pesquisadores Zuleika Alvim (1986), Angelo Trento (1989) e na análise do demógrafo italiano Giorgio Mortara (1950), cujos dados indicam os números de entrada e saída dos imigrantes, grupos envolvidos nessas correntes migratórias e destinos dessas pessoas na nova terra.
Em seguida, Oswaldo Truzzi passa a descrever o contexto da Itália e do Brasil, em fins do século XIX, evidenciando os motivos que levaram à saída dos imigrantes italianos em direção ao Brasil; a partir de suas constatações e com base nos estudos de Nugent (1995), o autor concluiu que haveria uma dificuldade em afirmar uma italianidade trazida pelos imigrantes da sua terra natal, por outro lado, seria possível analisar uma italianidade construída aqui, no Brasil.
Com base nos estudos sobre a construção da identidade italiana, o autor segue para a diferenciação que se estabelecia entre os ambientes rurais e urbanos. Sobre os primeiros, destacou o modo de trabalho vigente nas fazendas, nas quais os imigrantes foram submetidos à mentalidade escravocrata e a impossibilidade de locomoção, bem como aos maus tratos que levavam às revoltas e resistências. Entretanto o autor avaliou as causas do pouco número de resistências e, valendo-se das análises do historiador Cliford Welch (1999), e de autores como Stuart Hall (2008) e Zuleika Alvim, concluiu que o isolamento dos colonos aliado a um baixo nível de educação formal dos imigrantes e de seus filhos foi fundamental para a pouca ocorrência de conflitos. O que não impediu o registro de formas de resistências como a mudança frequente de fazendas ou, até mesmo, a fuga delas, em alguns casos, para centros urbanos.
Outro ponto analisado foram os matrimônios entre pessoas de regiões semelhantes; para tanto, Truzzi se baseou em seus estudos anteriores sobre os casamentos na Cidade de São Carlos, entre 1860-1930, aliando-os aos trabalhos das historiadoras Maria Stella Levi e Julia Scarano (1999) e do pesquisador Angelo Trento.
O autor chega à conclusão que a união entre pessoas de mesma origem, até a Primeira Guerra Mundial, seria algo que facilitaria o retorno à terra natal, pois a estadia no Brasil era vista como temporária. Daí, a questão de tantos casamentos entre pessoas da mesma origem, havendo declínio desse costume após os anos 1930 e 1940, por conta dos desarranjos nas políticas de imigração assim como, o distanciamento dos laços de origem.
Já no meio urbano, o pesquisador faz um contraponto entre os trabalhos do historiador Warren Dean (1977), que apontava uma relação entre a bagagem profissional trazida do país de origem com novas possibilidades de crescimento do imigrante, os estudos da antropóloga Eunice Durham (2004) a respeito da cidade de Descalvado e os estudos da historiadora Flávia Oliveira (2008), na cidade de Jaú, nos quais as autoras ressaltam que a ascensão urbana se dava apenas com algumas famílias, sendo difícil precisar uma única causa.
O movimento associativo é destacado como via de ascensão social, afinal agregava parte da elite de imigrantes. Essas agremiações se constituíram em lugar de comemorações e festas nacionais que lembravam o local de origem, atraindo cada vez mais público. As elites italianas, por sua vez lançavam-se ao trabalho de construir uma unidade cultural e linguística entre os membros da colônia. A discussão sobre os movimentos associativos se amplia com os estudos de Fábio Bertonha (2005), e da socióloga Eunice Durham na cidade de Descalvado, que fazem referência a uma consciência de italianidade que se manifestava na promoção de solidariedade na colônia, na comemoração de datas patrióticas e na organização de atividades assistenciais e recreativas.
Associação de grande importância, a Sociedade Italiana de Beneficência de São Paulo Vitório Emanuel II, fundada na capital paulista, em 1879, é destacada por Truzzi por se constituir no modelo de sociedade para todas as outras que surgiram no Estado (BIONDI, 2011).
Ainda no que tange às associações de imigrantes, são reforçadas as causas que levavam à formação das mesmas (carência e ausência de políticas de amparo aos imigrantes), assim como as questões dos regionalismos trazidos da Itália que ocasionavam certas dificuldades à manutenção dessas agremiações. Tal processo pode ser observado pela visão negativa que os imigrantes do norte e sul da Itália tinham entre si, como exemplo, a tensão entre os vindos da região do Vêneto e da Calábria, ressaltando-se, ainda, o preconceito contra esses últimos por parte do restante dos imigrantes.
Além das rivalidades e diferenças étnicas, que representavam problemas para as associações, Truzzi amparado pelos estudos de Luigi Biondi e Angelo Trento cita outros problemas que levaram as associações a se desestabilizarem. Dentre os motivos estavam os conflitos de agenda dos diretores das associações que precisavam manter os vínculos de identidade dentro da colônia, buscando o reconhecimento da comunidadeMesquita Filho”, UNESP, câmpus de Assis.
de imigrantes da qual faziam parte e, simultaneamente, procuravam vias de integração às elites locais. Essa situação vivenciada pelos dirigentes evidenciava uma ambiguidade entre a cultura interna trazida pelos imigrantes e seus descendentes e a cultura do país de acolhimento, colocando-se como limites a serem extrapolados, segundo os estudos de Robert Foerster (1919).
A questão do fascismo é retratada pelo autor como um meio de ligar novamente a Itália à comunidade de imigrantes. Com base nos estudos de Bertonha sobre a ação fascista junto à comunidade italiana analisa-se a forma como o regime totalitário foi caracterizado no Brasil e como as classes sociais interagiram com ele.
O autor levanta o ponto de vista das elites brasileiras, que viam os recémchegados como pessoas que conheciam seu lugar na sociedade distanciando-se por isso da política e não ameaçando o domínio das elites locais. Visão que se modificou com a Revolução de 1930, e consequente abertura de oportunidades de projeção social e política por meio das associações comerciais, formadas por uma maioria de origem italiana. Por outro lado, o autor observou-se na geração dos filhos de imigrantes um menor pendor a propagandearem a sua filiação étnica, implicando na diminuição da italianidade como critério de legitimação política e social.
Sabemos que o tema sobre o processo imigratório Itália – Brasil é algo muito estudado, parecendo à primeira vista que nada de inovador possa emergir dele. No entanto, lermos o livro citado, podemos verificar como “[…] essa abordagem do tema torna-se a linha mestra de Truzzi”, que pesquisa a formação e construção do sentimento de identidade italiana, no Brasil, antes de ser construído na Itália.
O livro Italianidade no interior paulista: percursos e descaminhos de uma identidade étnica (1880-1950) traz, portanto, algo muito inovador e instigante. Essa pesquisa aumenta e revitaliza o entendimento sobre a importância da imigração italiana e identidade cultural, no Brasil, a despeito das diversidades regionais trazidas da Itália, além de permitir a compreensão de como esse processo repercutiu entre seus descendentes, assim como na sociedade de acolhimento, evidenciando a importância das trocas culturais tanto para imigrantes quanto para os brasileiros.
Notas
2 Mesmo após a unificação em 1870, os habitantes da Itália possuíam uma relação de identidade ligada mais ao local de origem do que à nação como um todo, não havendo uma identificação comum, antes e durante a fase que da grande imigração, entre as décadas de 1870 e 1920, período no qual a nação enfrentou instabilidades políticas e sociais, que prejudicaram a construção de uma identidade nacional.
Referências Bibliográficas
ALVIM, Zuleica M. F. Brava gente! Os italianos em São Paulo (1870-1920). São Paulo: Brasiliense, 1986.
ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas: reflexões sobre as origens e difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das letras, 2008. Trad. Denise Bottman.
BEIGUELMEN, Paula. A formação do povo no complexo cafeeiro: aspectos políticos.
São Paulo: Edusp, 2005.
BERTONHA, João Fábio. O Fascismo e os imigrantes italianos no Brasil. Porto Alegre: Edi PUCRS, 2001.
___________. Os Italianos. São Paulo: Contexto, 2005.
BIONDI, Luigi. Classe e nação: trabalhadores e socialistas italianos em São Paulo, 1890- 1920. Campinas: Editora Unicamp, 2011.
BORDIEU, P. A economia das trocas linguísticas, o que falar quer dizer. São Paulo: Edusp,1996.
DEAN, W. Rio Claro: um sistema brasileiro de grande lavoura (1820-1920). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
DURHAM, Eunice. A dinâmica da cultura. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
FOESTER, R. F. The Italian Imigration of our Time. Cambrigde: Harvad Universite Press, 1919.
HALL, Stuart. Quem Precisa de identidade. In. SILVA, T. T.; HALL, S.; WOODWARD, K.
(Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2008.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006. Trad. Beatriz Sidou.
LEVY, M. S. F, SCARANO, J. Italianos em São Paulo: casamento e nupicidade. Revista População e Família. São Paulo, vol. 2, 1999.
MORTARA, Giogio. A Imigração Italiana para o Brasil e algumas características do grupo italiano de São Paulo. Revista Brasileira de Estatística. Vol. XI, n. 42, p.323-336, 1950.
NUGENT, W. Crossings: The Great Transatlantic Migrations, 1870-1914. Bloomington: Indiana University Press, 1995.
OLIVEIRA, Flávia. Impasses no novo mundo: imigrantes italianos na conquista de um novo espaço social na cidade de Jaú (1870 -1914). São Paulo: Editora UNESP, 2008.
POUTIGNAT, Philipe. Teorias da etnicidade. São Paulo: Unesp, 1998.
TRENTO, Angelo. Do outro lado do Atlântico: um século de imigração italiana para o Brasil. São Paulo: Nobel, 1989.
TRUZZI, Oswaldo. Italianidade no interior paulista: percursos e descaminhos de uma identidade étnica (1880-1950). São Paulo: Editora UNESP, 2016.
WELCH,Cliford. The Seed Was Planted. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1999.
Reinaldo Sudatti Neto – Mestrando em história pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Campus de Assis.
[IF]Por que gritamos golpe? Para entender o impeachment e a crise política no Brasil | Ivana Jinkins, Kim Doria e Murilo Cleto
Examinar processos sócio-políticos “à quente”, em meio ao desenrolar das tramas, é um desafio posto aos historiadores dedicados ao chamado Tempo Presente, campo do conhecimento ainda alvo de fortes críticas, desconfianças e de sua própria precariedade, pois os que incursam nele podem estar munidos de perspectivas construídas anteriormente ao “agora”, mas desprovidos do conhecimento profundo sobre detalhes mais recentes. Embora Marc Bloch tenha, desde o século passado, comprovado que o presente pode e deve ser investigado pelos profissionais da história, ao desvelar as razões pelas quais, segundo ele, a França sucumbiu tão rapidamente ao nazismo em 1940 no seu icônico A Estranha Derrota, ainda existe resistência, dentro e fora do ofício, em reconhecer essa possibilidade e esse dever. Leia Mais
A revolução que mudou o mundo: Rússia, 1917 – REIS (FH)
REIS, Daniel Aarão. A revolução que mudou o mundo: Rússia, 1917. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Resenha de: SOUZA, Felipe Alexandre Silva de. Um balanço sereno e crítico das revoluções russas. Faces da História, Assis, v.5, n.1, p.358-361, jan./jun., 2018.
Independentemente da posição política que se tenha a respeito do fato, dificilmente encontraremos quem negue que a Revolução Russa de 1917 se encontra entre os acontecimentos de maior reverberação do século XX. Entre as diversas publicações que chegaram ao mercado editorial brasileiro no centenário da revolução, destaca-se o livro A revolução que mudou o mundo: Rússia, 1917, escrito por Daniel Aarão Reis, professor aposentado de história contemporânea da Universidade Federal Fluminense.
Em um volume conciso, o professor conciliou um resgate narrativo dos principais momentos da revolução com diversas problematizações acerca das interpretações mais recorrentes de tão controverso evento — desenvolvendo, assim, um livro de grande valia tanto para leigos quanto para iniciados no assunto.
Ainda que o subtítulo do livro destaque o ano de 1917, Reis propõe uma interpretação de duração mais longa do que ele chama de ciclos das revoluções russas.
Tais ciclos se iniciaram com a Revolução de 1905, as Revoluções de Fevereiro e Outubro de 1917, as guerras civis travadas entre 1918 e 1921 e, finalmente, a revolução fracassada de Kronstadt (1921). Apenas levando em conta esse processo histórico mais amplo, defende Reis, é que poderemos compreender melhor os elementos fundamentais que impulsionaram e plasmaram o comunismo soviético que viria a ser um dos principais paradigmas societários até sua dissolução entre 1989 e 1991.
O resgate dos eventos menos conhecidos de 1905 e do período entre 1918 e 1921 é um primeiro aspecto que torna o livro valioso. A Revolução de 1905 foi desencadeada em grande parte pela Guerra Russo-Japonesa (1904-1905), quando o declinante império dos Románov se bateu contra o império japonês pelo controle de áreas de influência na Coreia e na Manchúria. A guerra provocou um grande desgaste nos recursos econômicos e militares da Rússia, levando ao acirramento das contradições sociais e políticas e à eclosão de movimentos grevistas e manifestações contra as deterioradas condições de vida da maioria da população. A partir de então, ao longo daquele ano, houve três grandes ondas de greves políticas (em fevereiro, maio e setembro), exigindo a derrubada da autocracia, a eleição de uma Assembleia Constituinte com vistas à abertura de um regime republicano; movimentos camponeses com suas reivindicações pela nacionalização das terras; e o nacionalismo não-russo, ameaçando a unidade do império então conhecido como “o cárcere dos povos”. Foi em 1905 que surgiu uma organização original: o conselho de deputados operários ou soviete, uma organização com a agilidade e flexibilidade necessárias para enfrentar a repressão tzarista, que rapidamente se difundiu por São Petersburgo e Moscou, com papel central no incentivo e na articulação dos demais movimentos populares urbanos e rurais. Segundo Reis, as experiências de 1905 inspiraram e condicionaram muitas das ações tomadas nas revoluções de fevereiro e outubro de 1917 — não é por nada que 1905 passou posteriormente a ser considerado o ensaio geral de 1917.
Em termos narrativos, as guerras civis entre 1918 e 1921 e a revolução de Kronstadt (1921) são o ponto alto do livro. Ainda que de forma sucinta, Reis expõe toda a complexidade em que as tendências autoritárias dos bolcheviques, observadas já nos eventos da revolução de outubro, se intensificaram por intermédio da centralização política e econômica no Estado, no Partido Bolchevique e no Exército Vermelho, enquanto o poder revolucionário tentava neutralizar a imprensa de oposição e transformar os sindicatos em correias de transmissão do governo. Tais tendências se fortaleceram na medida em que os bolcheviques se viram obrigados a defender a Rússia e a revolução em intricadas guerras civis: em uma primeira frente, contra os Exércitos Brancos, formados principalmente por generais tzaristas e cossacos, apoiados por potências estrangeiras (com destaque para Inglaterra e França) e desejosos de restaurar a antiga ordem; em uma segunda frente, contra outros grupos revolucionários e camponeses que não concordavam com diversas medidas do novo governo e passaram à insurreição aberta; e, finalmente, em uma terceira frente, os movimentos nacionalistas não-russos (e.g. finlandeses, ucranianos e povos islâmicos da Ásia Central). Embora os bolcheviques tenham saído vitoriosos das guerras civis, o resultado não foi apenas uma catástrofe humana em termos de mortos, mutilados, epidemias e fome, mas o estabelecimento de uma […] ditadura política, dotada de uma temível polícia política e de um Exército centralizado e verticalizado. Mesmo os bolcheviques mudaram radicalmente: de uma elite política, atravessada por debates contraditórios, transformaram se num partido de massas centralizado, militarizado, em que não eram mais admitidas dissensões, vistas com desconfiança e suspeição. (REIS, 2017, p.130).
Para Reis, as tendências ao centralismo e à ditadura foram confirmadas na derrota da revolução dos marinheiros de Kronstadt, cidade-base da Marinha de Guerra russa, na ilha de Kotlin, golfo da Finlândia. Além de ser um ponto estrategicamente importante (Kronstadt protegia Petrogrado, com seus fortes e navios, e fiscalizava o tráfego marítimo da região), a base era conhecida por uma tradição política de rebeldia: seus marinheiros participaram com destaque dos levantes de 1905 e fevereiro e outubro de 1917, e Trótski não à toa se referia a eles como “o orgulho e a glória da revolução.” (apud REIS, 2017, p.133). A partir de meados de 1920, tendo estado nas primeiras linhas de combate em defesa do governo revolucionário durante as guerras civis, os homens de Kronstadt começaram a resistir às políticas centralistas e autoritárias dos bolcheviques. Embora fizessem parte de um contexto mais amplo de contestação ao novo regime, Kronstadt não demorou a se encontrar isolada, graças ao apaziguamento dos movimentos de oposição em outros lugares; em março de 1917, a revolução foi derrotada militarmente pelas tropas soviéticas. Segundo Reis, a Kronstadt revolucionária lutava “[…] por um socialismo diferente, em que o produtor fosse senhor da sua produção —os campos para os camponeses, as fábricas para os operários —, dispondo dela livremente e como bem entendessem.” (REIS, 2017, pp.140/141).
Para além da narrativa de reconstrução histórica, o trabalho de Reis, alicerçado tanto em fontes documentais quanto em diversos trabalhos de pesquisadores de renome mundial, problematiza várias interpretações consolidadas sobre a Revolução.
É particularmente importante o questionamento de um superdimensionamento da importância do Partido Bolchevique como mobilizador do povo russo, presente tanto nas pesquisas de cariz liberal quanto na historiografia de esquerda considerada simpática à revolução. Tais interpretações não encontram respaldo nas evidências disponíveis atualmente. Isso se deve, segundo Reis, à tendência das pesquisas em se enquadrarem numa história política, baseada principalmente em documentação partidária. Com isso é atribuída importância insuficiente à participação tanto dos camponeses (em uma época em que 85% da população russa era rural) quanto das mulheres. Em busca de sanar essa lacuna tão comum, Aarão dedica considerável parte do livro aos “atores esquecidos” das revoluções russas, resgatando a agência e as conquistas dos movimentos de mulheres e camponeses.
Outra ideia colocada em xeque é a concepção, difundida especialmente por Trótski, de que durante boa parte de 1917 as relações políticas gerais da Rússia se caracterizaram por uma disputa de forças entre o Governo Provisório advindo da Revolução de Fevereiro e o Soviete de Petrogrado. Com base nas pesquisas do historiador Claudio Ingerflon, Reis defende que essa interpretação se deve a uma aplicação errônea à Rússia do conceito de Estado, elaborado na reflexão de processos sócio históricos específicos da Europa Ocidental. Na Rússia existiam pouquíssimas instituições (aparelhos ministeriais, conselhos, etc.) que mediavam as relações entre a sociedade e o poder imperial. Por isso, a queda da dinastia Románov não deixou um “vácuo de poder” a ser disputado entre Governo Provisório e o Soviete. O que se seguiu foi um processo de profunda desintegração da autoridade, no qual nem o Soviete de Petrogrado nem o Governo Provisório detinham efetivamente os poderes de autoridade que comumente lhes são atribuídos. As evidências apontam para o que Reis chama de “[…] um processo de múltiplos poderes […]” (REIS, 2017, p.60): sindicatos, comitês de fábricas, milícias, comitê de soldados e um sem-número de outras organizações que marcavam sua autonomia e não acatavam ordens externas. Essa tendência centrífuga passou a ser revertida com a predominância dos bolcheviques após Outubro.
Também é digno de nota o resgate que o livro faz de uma antiga controvérsia que perdura até hoje: o que ocorreu em Outubro de 1917 teria sido uma verdadeira revolução ou um golpe bolchevique? Para Reis, quem elaborou a melhor interpretação para o problema foi o historiador francês Marc Ferro: houve um golpe, mas também uma revolução. A perspectiva do golpe era clara desde julho daquele ano, quando os bolcheviques, em seu VI Congresso, abandonaram a proposta dos sovietes como poder alternativo e democrático. No mês seguinte, é tomada a decisão de empreender uma insurreição armada antes das deliberações do II Congresso dos Sovietes. Como justificativa, Lenin teria argumentado que antecipar a insurreição era a única forma de salvar o processo revolucionário, rondado por inúmeros perigos. É sabido, atualmente, que esses perigos não eram reais, devido principalmente à desorganização e conflitos entre os grupos contrarrevolucionários. Todavia, essa informação era desconhecida na época. Além disso, não há como negar que, ainda que entrelaçados com decisões e ações golpistas, os eventos de outubro foram uma verdadeira revolução: As profundas transformações revolucionárias consagradas pelos decretos aprovados no II Congresso (paz e terra) e pelos que viriam depois (controle operário, direito à secessão etc.) certamente mudaram a face e a história daquela sociedade. E mudaram num sentido e com um caráter popular inegáveis. (REIS, 2017, pp.108/109).
O livro se destaca pela serenidade das análises. É fato conhecido que Daniel Aarão Reis é um intelectual inserido indubitavelmente no campo da esquerda, e o livro em questão é claramente simpático aos fins almejados pelo projeto revolucionário, o que não impede que ele apresente conteúdo altamente crítico e atento às contradições de seus protagonistas. Em seu balanço, o professor também realça os inegáveis avanços sociais que a Revolução trouxe aos trabalhadores e demais grupos oprimidos, bem como os aspectos positivos da presença internacional da URSS, que favoreceu as lutas das classes trabalhadoras em âmbito mundial: “Assustadas diante do ‘perigo vermelho’, muitas elites sociais se disporiam a ceder anéis para salvar dedos—e cabeças.” (REIS, 2017, pp.191/192). A própria perspectiva de um socialismo democrático faz com que Reis deixe clara a necessidade de um balanço crítico das experiências comunistas do século XX – das quais a URSS foi um paradigma – caso queiramos que o socialismo triunfe no século XXI. É urgente que se supere a cisão entre socialismo e democracia e liberdade. Só assim, avalia Reis, alcançaremos finalmente uma humanidade verdadeiramente emancipada.
Felipe Alexandre Silva de Souza – Doutorando em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista (UNESP, Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília); E-mail: felipesouza1988@gmail.com.
[IF]Estranhos à nossa porta – BAUMAN (FH)
BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2017. 76p. Resenha de: GOMES, Gilvan Figueiredo. “Enquanto escrevo estas palavras, outra tragédia está à espreita”: Bauman e a crise migratória em Estranhos à nossa porta (2017). Faces da História, Assis, v.5, n.1, p.362-365, jan./jun., 2018.
“Crianças afogadas, muros apressadamente erguidos, cercas de arame farpado e campos de concentração superlotados” (BAUMAN, 2017, p. 05) atraíram os olhares do mundo para as fronteiras europeias nos últimos anos. O aumento dos conflitos na África e no Oriente Médio gerados a partir do movimento pró democracia conhecido como Primavera Árabe transformaram-se rapidamente em guerras civis, a repressão por parte de líderes da região como Bashar al-Asad e Muhamad Morsi aliada à atuação de insurgências com diversas bandeiras, acabaram desenvolvendo um novo fluxo migratório massivo na década de 2010. A “crise migratória”, como ficou conhecida, trouxe todo tipo de narrativa e, enquanto os governos se reuniam para discutir uma saída comum, os migrantes chegavam ininterruptamente, processo marcado tanto pela ajuda de grupos humanitários como pelas agressões de militares e civis. Os sobreviventes escancararam como a guerra, a fome e o medo podem levar as pessoas a atitudes extremas.
O cenário chamou a atenção do sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017), um dos mais reconhecidos intelectuais dos séculos XX e XXI. Grande parte dos seus trabalhos discute a modernidade a partir de sua fluidez, seja no amor, medo, política e sociabilidade, e seu caráter efêmero, passageiro, volátil e imprevisível, enfim, as relações travadas na contemporaneidade são, segundo o autor, líquidas e instáveis.
Combatente de origem judaica na Segunda Guerra Mundial, Bauman, tem suas reflexões voltadas ao futuro permeadas por um sentimento pessimista. Observador de seu presente, escreveu, em 2016, Estranhos à nossa porta, no qual analisa as políticas públicas e as relações sociais a partir das experiências notoriamente trágicas que caracterizaram os grandes afluxos de refugiados nos anos de 2015 e 2016.
As reflexões de Bauman confluem com trabalhos anteriores, como Modernidade Líquida (2001) e Comunidade (2003), nos quais problematizou o conceito de comunidade.
Para o autor, diante do contínuo aumento de estranhos e indesejáveis com os quais as pessoas são forçadas a conviver, se desenvolvem tentativas de fuga dessa sociedade instável, como os condomínios fechados, ou os espaços higienizados – shoppings –, que utilizam o termo comunidade de modo nostálgico, em referência a uma inocência da sociedade que fora corrompida e já não é mais a mesma (BAUMAN, 2001; 2003). Essa distorção da sociedade também foi discutida pelo filósofo francês Alain Badiou, em Notre mal vient de plus loin:penser les tueries du 13 novembre (2016), que desenvolve uma análise do fenômeno “terrorismo” de forma mais profunda, discutindo como a noção de uma sociedade hegemônica pode afetar os excluídos dessa lógica. Para Badiou, o “mal” vem de mais longe pois a violência e a exclusão são problemas diacrônicos, e, em última análise, a motivação para grupos classificados como “terroristas”, como o Estado Islâmico, que defendem a violência embutida em suas práticas, a partir de referências históricas do processo colonial no sudeste asiático e nas resistências nacionalistas e islamistas.
Estranhos à nossa porta foi publicado no Brasil em 2017 pela Editora Zahar – tanto em formato físico como digital – pouco tempo depois da morte de Bauman, em 9 de janeiro do mesmo ano. No formato digital, apresenta variação na diagramação e é composto por 76 páginas divididas em seis breves e ricos capítulos que discutem tanto as políticas adotadas quanto os problemas estruturais das sociedades que recebem os migrantes.
No primeiro capítulo, O pânico migratório e seus (ab)usos, o sociólogo ressalta que o trânsito de refugiados não é um fenômeno recente, contudo o aumento no fluxo de migrantes levanta questões sobre a forma de recebê-los. Para Bauman, o incômodo gerado pela presença desses estranhos – acompanhado, muitas vezes, por maus tratos, violências e abusos – pode ser observado em duas formas: primeiramente, a reação de setores marginalizados da sociedade que identificam mais similaridades nos migrantes do que em seus patrões – indivíduos cuja condição é mais miserável que a sua. Em segundo lugar, o pânico de grupos estabilizados com a possibilidade de perder seu status, “esses nômades […] nos lembram, de modo irritante, exasperante e aterrador a (incurável?) vulnerabilidade de nossa própria posição e a endêmica fragilidade de nosso bem-estar arduamente conquistado.” (BAUMAN, 2017, p. 12).
Pode-se observar nos capítulos 2, Flutuando pela insegurança em busca de uma âncora, e 3, Sobre a trilha de tiranos (ou tiranas), uma discussão sobre as sociedades que recebem os migrantes. Segundo Bauman, a sensação de insegurança aliada à diversidade dos indivíduos dentro do território nacional gera ansiedade e dúvida em relação ao futuro. Nesse contexto, “aspirantes a ditadores”(BAUMAN, 2017, p. 30) não surgem com promessas de combate à desigualdade, mas de enfrentamento dos “estranhos”, reais responsáveis pelo desemprego e falta de moradias para imigrantes, “terroristas em potencial”. Todavia, essas políticas de estigmatização social, afirma o autor, além de cruéis, tendem a favorecer os recrutadores de movimentos terroristas, sempre dispostos a oferecer novas perspectivas de vida para os excluídos (BAUMAN, 2017, p. 23).
Em Juntos e amontoados, o autor parte do desafio do filósofo Kwame Anthony Appiah de substituir a formação pautada na diferença por ideias e instituições que privilegiem a sobrevivência da humanidade.2 Bauman argumenta que para isso seria necessário recolocar a ética e a moral como condicionantes no desenvolvimento de políticas públicas. Entretanto, vale ressaltar que o autor salienta que tais conceitos têm produzido muito mais conflitos do que paz. A saída proposta se pautaria na solidariedade, que só poderia ser alcançada mediante o reconhecimento da humanidade dos migrantes, mas o autor se mantém pessimista diante dos casos de agressão física, humilhação e difamação que, segundo sua ótica, passaram impunes.3 O quinto capítulo, Problemáticos, irritantes, indesejados: inadmissíveis, tem este título em alusão aos adjetivos que refletem, segundo o sociólogo, o tratamento recebido pelos migrantes. Bauman analisa como a questão migratória ganhou importância no cenário político europeu, produzindo discussões não apenas em relação à pouca aceitação dos migrantes, com também sobre as barreiras materiais, muros e cercas, construídos com o objetivo de obstruir a entrada dos migrantes que sobreviveram aos percalços da viagem. Em suma, o autor ressalta a incapacidade das políticas adotadas tanto no atendimento das demandas dos migrantes quanto em relação à contenção de sua entrada.
No sexto e último capítulo, Antropológicas versus temporárias: origens do ódio, Bauman investiga como, na ausência de fatos materiais que comprovem os malefícios causados pelos migrantes, parcela considerável da sociedade acaba por reproduzir as “práticas da maioria”, ou seja, incorporam discursos de intolerância de outros grupos.
Seu ponto privilegiado de análise é o antagonismo entre off-line e online, um mundo incontrolável e submerso nos problemas da sobrevivência contra a paz de ambientes personalizáveis a cada “click”. Porém, fugir do embate gera apenas mais desconforto nos momentos em que o indivíduo é obrigado a se relacionar, as sevícias de outrem tendem a lembrar que não é possível estar online o tempo todo. Superar tal desconforto, para o autor, perpassa pelo incentivo ao diálogo, um caminho sempre criticado e ao mesmo tempo nunca trilhado.
Toda a discussão de Bauman está em torno da questão: constatada a ausência de perspectivas de melhora no pais de origem, ou mesmo a falta de vontade política das nações originárias desses migrantes para a resolução dos problemas político-sociais, como lidar com um fluxo migratório que apresenta um crescimento vertiginoso? Os governantes que sustentam políticas públicas voltadas à construção de fronteiras irão, efetivamente, reduzir o incômodo de olharmos para esses indivíduos à medida que a maioria deles deixará de existir no mundo? Seremos sensíveis ao sofrimento alheio em outros momentos além dos marcados pela comoção extrema? No Brasil, são encontradas questões similares. A sociedade brasileira também é confrontada com a pobreza e a miséria de indesejáveis, oriundos de outros países como Síria e Haiti, bem como dos nativos e migrantes internos, constantemente questionados sobre suas intenções, ideias e projetos de vida. Bauman coloca a necessidade de se reconhecer nesses estranhos e trabalhar em conjunto em prol de uma vida com menos sofrimento, em que a alteridade seja aceita como parte da sociedade e não como a origem “do mal”.
O livro em tela torna evidente a relevância e a contemporaneidade do pensamento de Zygmunt Bauman. Ao debater tanto de modo sincrônico quanto diacrônico a condição dos imigrantes e sua genealogia, o autor apresenta várias temporalidades, lançando luz sobre a construção do conservadorismo e denunciando a desumanização presente em políticas públicas voltadas ao fechamento de fronteiras, sejam estas físicas ou comportamentais. Desse modo, fornece importantes contribuições para discutir o acontecimento de maneira mais profunda, evidenciando a presença de passados que não passam, sempre à nossa porta como um estranho, muitas vezes indesejável.
Notas
2 Cf. APPIAH, K. A. Cosmopolitanism: Ethics in a world ofstrangers, Penguin, 2007.
3 Bauman ressalta principalmente o caso de Katie Hopkins que não foi indiciada por ter chamado os migrantes de baratas em abril de 2015. Disponvel em: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3301963/Katie-Hopkins-not-face-charges-allegations-incited-racial-hatred-article-comparing-migrants-cockroaches.html>, acesso em 10 maio 2018.
Referências
BADIOU, Alain. Notre mal vient de plusloin: penserlestueriesdu 13 novembre. Paris: Fayard, 2016.
BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003. 141 p.
____________. Estranhos à nossa porta. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2017. 76 p.
____________. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001. 278 p.
ROUSSO, Henry. A última catástrofe: a história, o presente e o contemporâneo; Tradução Fernando Coelho, Fabrício Coelho. – Rio de Janeiro: FGV Editora, 2016. 344 p.
Gilvan Figueiredo Gomes – Mestrando no Programa de Pós Graduação em História da UDESC.
[IF]O papel social do historiador: da cátedra ao tribunal – DUMOLIN (FH)
DUMOULIN, Oliver. O papel social do historiador: da cátedra ao tribunal. Trad. Fernando Scheibe. 1. Ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. Resenha de: GAIOTTO, Mateus Américo. Historiadores no espaço público: questões para o debate. Faces da História, Assis, v.5, n.1, p.366-369, jan./jun., 2018.
Voltada ao público em geral, a obra O papel social do historiador, de autoria do francês Oliver Dumoulin e traduzida por Fernando Scheibe, acrescenta mais um título à coleção História e Historiografia, promovida pela Editora Autêntica que tem por objetivo principal fazer circular, entre estudantes e pesquisadores de história brasileiros, títulos que, ainda que não traduzidos, inspiravam certa curiosidade local por conta das abordagens instigantes e/ou pela renovação que promoveram nos âmbitos temáticos, metodológicos e teóricos.
A obra chega em momento oportuno, afinal, o debate contemporâneo a respeito da(s) função(ões) do historiador e da História na sociedade contemporânea encontra no Brasil da última década novas problemáticas, principalmente, em função da situação política nacional.
Oliver Dumoulin, de forma elegante, introduz o tema ao seu leitor ao apresentar discussões que permearam o chamado “processo Papon”. Os episódios que atravessaram a trajetória do político francês e colaborador nazista representam, ainda hoje, um ponto traumático na experiência histórica francesa; seus diversos julgamentos, ocorridos na década de 1980, são exemplos das situações nas quais o papel de historiadores se fez central, visto a não prescrição dos crimes contra a humanidade. A presença de profissionais da História, nesse e em outros casos, suscitaram não só o debate em torno do processo, mas do papel e dos limites dos historiadores nas sociedades contemporâneas.
Na função de espectadores autorizados do passado, esses profissionais trariam o “contexto” para que o júri pudesse guiar-se por algo que não havia vivido, questão central para os julgamentos de crimes de Guerra e contra a humanidade cometidos no século XX.
Assim, o tema central da obra é apresentado pela própria fonte do historiador, que monta sua análise e a divide em três partes: I – Hoje, a encomenda e a expertise, em nome do interesse geral, em nome dos interesses particulares; II – O erudito e o professor 1860-1920; III – O triunfo do cientista impotente e as vias alternativas 1920- 1970.
A divisão realizada pelo autor subverte a ordem cronológica e aborda o tema proposto de forma a iniciar diretamente pelo problema, ou seja, apresenta o tempo e as práticas atuais da historiografia, para, em um segundo momento, mostrar ao leitor as diversas raízes do debate em questão.
Na primeira parte, as discussões em torno do julgamento do “Processo Touvier” são o ponto central da questão. Os ataques sofridos pelos historiadores presentes no tribunal questionaram a qualidade e a importância do trabalho historiográfico e servem de pano de fundo para o autor caracterizar o momento experienciado pelo profissional frente à sua importância social. A figura do expert, aquele que tem uma postura mais próxima a do cientista, em contraposição a do amador, é colocada em destaque; a metodologia de trabalho com as fontes, o olhar diferenciado, a abstração frente ao seu próprio trabalho, são o foco do texto nesse primeiro momento.
O papel da imprensa também é enfatizado nesse e em outros momentos do livro. Os jornais, revistas e folhetins aparecem como os responsáveis por fazerem a ponte entre debates que antes eram exclusivos dos ambientes privados e/ou acadêmicos; além disso, são esses produtos culturais que apresentam aos historiadores novos problemas e questões a respeito do seu fazer historiográfico. O autor defende que a imprensa atua de maneira privilegiada, moldando o papel do historiador, afinal, é nela que constroem os debates contemporâneos, sendo ainda o espaço de afirmação dos sujeitos debatedores.
Gradativamente, o autor vai apresentando as diversas oposições às quais o historiador contemporâneo é chamado a se posicionar, dialogar e responder. Os diversos métodos historiográficos constituem um ponto central da argumentação e a relação da França com a disciplina histórica é o destaque; ainda que, numa segunda parte desse primeiro capítulo, ao demonstrar que o debate é amplo e abarca todas as áreas de estudo da própria história, o autor amplie seu recorte espacial.
Dito isso, cabe um destaque para a segunda das três partes que compõe esse primeiro capítulo, na qual Oliver Dumoulin sai pela primeira e única vez do ambiente europeu e busca nos Estados Unidos um exemplo mais bem-acabado do que ele chama de expert, modelo que, na sua perspectiva, ainda era marginal no continente europeu. Para tal, recorre novamente aos tribunais e às representações históricas daquela sociedade. No final, Dumoulin aponta para a falta de protagonismo da História enquanto disciplina fora da Europa, situação que só vai se alterar no fim dos anos de 1970, quando o historiador Morgan J. Kousser se faz presente regularmente nos julgamentos a respeito das vitimas de segregação nos EUA, tema mundialmente reconhecido como do âmbito da expertise daqueles historiadores.
Em O erudito e o professor 1860-1920, o autor retorna então à fundação da profissão de historiador para tentar responder as questões de fundo que baseiam sua tese. Nesse esforço, busca compreender todos os vieses que fundamentaram a profissão e seus fenômenos, assim, historiciza o próprio fazer historiográfico. Com foco na atuação e produção do historiador, esse capítulo traz para o leitor uma visão mais abrangente do fazer historiográfico desde os debates acerca da profissionalização, até a prática efetiva das revistas dedicadas à disciplina, como a Revue critique d’histoire et de littérature, passando pelo Anné sociologique, a Revue historique e os Annales, que terão papel central no último capítulo. Assim, ao escrever a história o historiador a estaria praticando.
No que diz respeito à virada do século XIX para o XX, o chamado “Affaire Dreyfus” e a presença dos historiadores naquele processo é que reclamam atenção do autor. Segundo ele, a atuação dos historiadores de então estava fundamentada em três valores, a saber: científico, cívico e patriótico. A exemplo de outros cientistas, atuavam em prol da nação, situação que iria se expandir e dominar o campo com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Aqui, o Manifesto dos 93 na Alemanha, as ações de Ernest Lavisse e Émile Durkheim na universidade francesa, e os esforços da Conferência de Paz, se misturam para expor a hipótese de um historiador voltado a proteger a cultura de seu país em meio à destruição; mas, para desempenharem adequadamente essa missão cívica e patriótica, torna-se necessária a nomeação e o reconhecimento profissional, procedimento que depende dos pares e que atesta a legitimidade do fazer historiográfico.
No último dos três capítulos, O triunfo do cientista impotente e as vias alternativas 1920-1970, o mundo dos historiadores é abalado novamente, mas desta vez no pós I Guerra. Nesse contexto, Dumoulin volta seu olhar crítico para a reorganização da disciplina histórica nas cátedras das grandes universidades europeias e, em consequência, o novo papel da História e dos historiadores. Para tanto, com base nos exemplos dos discursos de Lucien Febvre, o autor apresenta o que seria a ruptura com os ideais nacionalistas e uma deontologia do desengajamento. Novamente o autor marca seu capítulo com o surgimento de uma crise na História, ou na historiografia, que reflete a sociedade francesa de então. A sociedade, a economia, a história da arte e outros diversos assuntos, que não os políticos, aparecem no seio dessa crise que leva a um novo rearranjo da disciplina.
O pensamento apolítico e a Segunda Guerra abrem o fim dessa parte do livro e, com isso, a reorganização dos grupos de historiadores em torno das revistas especializadas.
Sempre em comparação rápida com outros países do oeste europeu, o texto busca apresentar uma visão abrangente daquele cenário, mas restrita à realidade europeia, o que não desqualifica a construção analítica do autor, que mostrou-se competente na discussão e conseguiu dar conta das hipóteses levantadas na obra.
O livro de Dumoulin apresenta e desenvolve bem seus argumentos e alcança seus objetivos ao tratar de uma visão ampla da construção social do historiador durante o final do século XIX até a contemporaneidade. Por meio do estudo de biografias, autos processuais, imprensa e obras consagradas da historiografia, o autor não deixa de lado nenhuma das grandes correntes teóricas que surgiram nos últimos séculos. Porém, cabe o alerta para o público brasileiro; conforme apontado acima, essa análise prioriza as experiências europeias e, principalmente, francesas, razão pela qual as especificidades do fazer historiográfico latino-americano e brasileiro não são contempladas.
Dumoulin posiciona-se ao lado de grandes nomes da historiografia para desenvolver sua hipótese, com clara alusão a Lyautey e sua obra La Revue des Deux Mondes (1891). Entre os historiadores citados vemos nomes como René Rémond, Dominique Kalifa, Paul Ricoeur, Antoine Prost, Marc Bloch, Lucien Febvre, Georges Duby, François Dosse, Fustel de Coulanges, entre outros, além de intelectuais que não pertencem à área da História, apesar de todos estarem preocupados com o mesmo problema e possuírem, em alguma medida, objetivos em comum.
Por meio dessa seleção de historiadores e obras, Dumoulin insere-se num debate amplo mantendo a historiografia e realidade francesas como o cerne de sua reflexão. Apesar disso, o autor evita tomar uma posição, pois não caberia a ele o papel de juiz, figura muito discutida em sua própria obra. Assim, ao elencar o engajamento dos intelectuais e o envolvimento de profissionais de diversas outras áreas que não a da História, nesse contexto, o encontro do historiador com seu papel específico continua distante.
Contudo, o debate aqui apresentado está mais do que nunca presente no dia a dia do grupo, sendo assim, apesar de não se destacar pelo seu ineditismo, a obra e a hipótese de Oliver Dumoulin, de que a escrita da história se altera conforme o papel social do historiador que a realiza, abre um novo olhar nesse campo de discussões e constrói uma espécie de biografia da profissão desde o século XIX até a contemporaneidade.
Mateus Américo Gaiotto Acessar publicação original
[IF]Em um Rabo de Foguete: trauma e cultura política em Ferreira Gullar – OLIVEIRA (FH)
OLIVEIRA, Marcus Vinícius Furtado da Silva. Em um Rabo de Foguete: trauma e cultura política em Ferreira Gullar. Brasília: Fundação Astrojildo Pereira (FAP), 2016b. 178 p. Resenha de: DIANA, Elvis de Almeida. Faces da História, Assis, v.4, n.1, p.277-282, jan./jun., 2017.
No mesmo ano em que o poeta brasileiro Ferreira Gullar faleceu, em 2016, o historiador Marcus Vinícius Furtado da Silva Oliveira publicou seu livro intitulado Em um rabo de foguete: trauma e cultura política em Ferreira Gullar, no qual realiza uma análise da atuação intelectual e política daquele autor durante a segunda metade do século XX, mais especificamente a partir da década de 1960, no período da ditadura militar no Brasil.
Assim como a historiadora Fabiana de Souza Fredrigo1 (UFG) bem pontuou ao prefaciar o livro de Oliveira, “[…] os homens descobrem que a perda não é ausência, mas chave para o desvendamento da sociedade que a engendrou” (FREDRIGO In: OLIVEIRA, 2016b, p. 11, grifos da autora), ponderação que elucida de forma considerável o que o autor buscou realizar em seu livro. Ao se debruçar sobre o envolvimento de Gullar com o Centro Popular de Cultura (CPC), a União Nacional dos Estudantes (UNE) e as práticas políticas empreendidas pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), Oliveira volta a sua atenção para o trauma que Gullar teria sofrido após a instauração da ditadura não somente no Brasil, mas também no país vizinho, Argentina, e no Chile, pouco depois. Estes eventos, segundo Oliveira, contribuíram para o distanciamento daquele poeta brasileiro em relação às ideias pecebistas que ditavam sobre a possibilidade de uma revolução (OLIVEIRA, 2016b).
Nessa direção, conforme a análise de Oliveira sobre os poemas e ensaios de Gullar, o trauma promovido pelas ditaduras militares latino-americanas foi responsável por proporcionar uma reflexão acerca de sua formação política engendrada ao longo da década de 1960, quando atuava movido pelos ideais do PCB e, consequentemente, a visualização de um futuro que possibilitasse e contribuísse para uma nova atuação das esquerdas do Brasil e da América Latina após os golpes militares (OLIVEIRA, 2016b).
Para estes objetivos, a escolha das fontes não se dá de forma aleatória, mas sim, cuidadosamente, e respeita a ordem cronológica de produção e publicação das mesmas (entre os anos de 1963 e 1998). Esta preocupação de Oliveira se mostra pertinente, pois consiste em uma forma de demonstrar como teriam ocorrido as mudanças políticoideológicas de Gullar no decorrer deste intervalo de tempo. Dentre tais fontes, Oliveira direcionou maior atenção aos ensaios: Cultura posta em questão (1963), produzido no momento em que era membro ativo do CPC; Vanguarda e Subdesenvolvimento (1965- 1969), cuja escrita se iniciou no ano seguinte à instauração da ditadura militar no Brasil e em uma conjuntura, segundo o autor, caracterizada por novos engajamentos políticos e estéticos; Sobre arte e sobre poesia (1978-1982), textos nos quais Oliveira identificou as concepções de caráter tanto político quanto artístico de Gullar após ter voltado do exílio no Chile; Indagações de hoje (1971-1987) que, pelo fato de terem sido produzidas antes e depois do exílio, segundo Marcus Vinícius Oliveira, possibilita que percebamos os pontos em que o autor passa, aos poucos, a desviar-se das concepções políticas que possuía quando do momento em que esteve no Chile; Rabo de foguete: os anos de exílio (1998), livro no qual registrou suas memórias do período em que esteve no já citado país andino (apud OLIVEIRA, 2016b).
É a partir da análise das supracitadas fontes, e com os objetivos já apresentados anteriormente por nós, que Oliveira procurará apresentar os questionamentos realizados por Gullar acerca da cultura política comunista e como tais contestações teriam sido geradas por motivos de caráter irracional, devido ao trauma causado pela instauração das ditaduras, e não tanto por questões racionais e/ou teóricas propriamente ditas (OLIVEIRA, 2016b, p. 22). Nesse sentido, as noções de “cultura política” e “trauma”, enfatizados por Oliveira, constituirão o eixo central para sua análise dos ensaios de Ferreira Gullar. Estes dois conceitos “costuram” todo o livro de Oliveira, proporcionando a sustentação necessária para discutir as mudanças e transformações do pensamento e da postura de Gullar frente suas concepções políticas e intelectuais ao longo do período estudado. A ponderação anterior permite que nos dediquemos, a partir de agora, ao aprofundamento em torno dos já referidos conceitos trabalhados por Marcus Vinícius Furtado da Silva Oliveira e, assim, apresentemos a estruturação e o desenvolvimento dos capítulos do livro daquele autor.
A obra de Oliveira é composta por três capítulos. No primeiro capítulo, Marcus Vinícius Oliveira volta sua atenção para as discussões teóricas que norteiam a análise do objeto ao qual é dado o enfoque e inicia tal debate com as mais variadas concepções acerca da noção de “cultura política”, mobilizadas por autores tais como Rodrigo Patto Sá Motta, Gabriel Almond, Sidney Verba, Giacomo Sani, Karina Kushnir, Leandro Piquet Carneiro, Richard Inglehart (apud OLIVEIRA, 2016b). No entanto, Oliveira dá ênfase às ponderações que o historiador francês Serge Berstein2 realiza de forma crítica às maneiras de se utilizar este conceito de modo a considerar o caráter “dinâmico”, “plural” e histórico desta noção e, a partir dessa nova visão sobre esta ideia, superar o viés exclusivamente nacional (defendido por autores como Almond e Verba, por exemplo), assim como o caráter “estático” daquele conceito que, por sua vez, é colocado por Inglehart (apud OLIVEIRA, 2016b).
Nessa direção dada por Berstein ao conceito de “cultura política”, Oliveira se aprofunda, procurando ir além, de forma muito pertinente e feliz, na tentativa de avançar na reformulação da já referida apreciação, acreditando que o termo em questão também poderia ser pensado “[…] enquanto uma concepção de mundo, capaz de orientar vontades políticas, que é profundamente radicada em uma determinada experiência do tempo histórico” (OLIVEIRA, 2016b, p. 30).
Para concretizar seu objetivo de aprofundamento deste conceito, Oliveira recorre aos postulados de Antonio Gramsci3 e de Reinhart Koselleck4. No que tange às contribuições do pensador italiano, Oliveira o cita para argumentar sobre a indissociabilidade das relações entre a cultura, a política e os intelectuais dentro de uma construção de variadas concepções de mundo. Por sua vez, no que diz respeito aos postulados do historiador alemão, a intenção de Marcus Oliveira se centra em argumentar que os atos decorrentes das visões filosóficas e políticas acerca da realidade dependeriam da relação entre o “campo de experiência” e o “horizonte de expectativa”5 (apud OLIVEIRA, 2016b, p. 36).
Estas ideias, já muito bem explicadas no primeiro capítulo, darão alicerce às argumentações que Oliveira realiza no capítulo 2 (o mais extenso do livro) intitulado “A cultura política em Ferreira Gullar (1960-1970)”, ao analisar a trajetória intelectual e política daquele poeta desde seu nascimento em São Luís, no Maranhão, sua mudança para a então capital federal, Rio de Janeiro, e todas as transformações de caráter estético e formal que permearam a atuação artística de Gullar ocorridas por lá. Além disso, Oliveira destaca, ainda no início deste capítulo 2, que o seu principal objetivo é entender como Gullar pode ser visto, durante a década de 1960, como uma “amálgama” ou “mistura” de variadas culturas políticas das esquerdas daquele momento (OLIVEIRA, 2016b, p. 46).
Dessa forma, Oliveira obtém sucesso no mapeamento das manifestações de elementos presentes nos textos de Gullar, tais como: o mito da redenção presente na revolução; a influência das ideias de intelectuais do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) referentes ao papel que a arte teria ao criar uma consciência política para o povo brasileiro, ideal este que foi manifestado pelo Centro Popular de Cultura (CPC), do qual Gullar foi membro; a presença dos ideais do PCB, que também encontrou lugar no CPC e focou sua atenção na questão da contradição entre imperialismo e os interesses nacionais propriamente ditos, elementos estes que, para Oliveira, foram os que predominaram no pensamento de Gullar. Nesse sentido, Oliveira demonstra como o contato do CPC com os elementos ideológicos supracitados faz com que, em Gullar, haja uma relação de dominação completa por parte das expectativas em relação às experiências, sendo que aquelas seriam pautadas por uma ideia de tempo possuidor de um caráter linear, teleológico e, consequentemente, dialético, que seria típica das esquerdas defensoras da revolução. Nesse sentido, para Oliveira, essa ideia teria uma finalidade revolucionária e que suprimiria o tempo histórico (OLIVEIRA, 2016b, p. 84).
No entanto, Oliveira argumenta que essa visão de mundo de Gullar começa a mudar após o golpe de 1964, no Brasil, o que fez com que o autor se exilasse em alguns países como Chile, Argentina, Peru e União Soviética entre os anos de 1971 e 1977. É sobre este momento de exílio de Gullar e as rememorações do poeta maranhense que Oliveira centra sua atenção no terceiro e último capítulo do seu livro, ao analisar algumas obras como Indagações de hoje, que foi publicada em 1989, mas que abrange escritos que Gullar produziu entre 1971 e 1985; Sobre Arte e sobre poesia (1978 e 1982); e a narrativa de caráter memorialístico intitulada Rabo de foguete: os anos de exílio, que foi publicada já no final da década de 1990, especificamente em 1998, mas que contém a compilação dos relatos de Gullar referentes ao período em que ficou exilado nos países anteriormente citados. Não é por acaso que esta última obra dá nome à parte do livro de Oliveira, uma vez que este autor procura, ao dar ênfase no livro de memórias de exílio de Gullar, discutir até que ponto o contato que este poeta teve com as ditaduras militares instauradas na Argentina e no Chile teria contribuído diretamente para o desenvolvimento de um trauma responsável pelo desmantelamento gradual de tal “amálgama” (OLIVEIRA, 2016b, p. 106).
E é essa direção que Marcus Vinícius Oliveira toma para argumentar sobre tal reorganização das concepções de mundo de Gullar ao final do exílio vivido por ele naqueles países e sua crítica às esquerdas. A partir do livro de memórias do exílio de Gullar, Oliveira procura discutir, de forma densa e pertinente, as questões referentes ao conceito de “memória” e da possibilidade de narrar o trauma sofrido pelos grupos humanos em determinado momento da história. Neste sentido, Oliveira faz isso dialogando com autores como Michael Pollak, Jacy Alves Seixas, Marcio Seligmann- Silva, Sigmund Freud, Walter Benjamin, Fabiana Fredrigo e Libertad Borges Bittencourt (apud OLIVEIRA, 2016b).
Estas duas últimas autoras realizam uma análise dos ensaios produzidos pelos intelectuais latino-americanos entre os séculos XIX e XX, buscando compreender o desencantamento produzido por uma experiência de caráter traumático, que teria sido provocada pelas independências na América Latina e as relações existentes entre narrativa, temporalidade e trauma (FREDRIGO; BITTENCOURT, 2012 apud OLIVEIRA, 2016b). Nessa direção, Oliveira busca, em diálogo com as autoras, discutir como os intelectuais latino-americanos, por meio das várias narrativas produzidas por eles, preocuparam-se em reelaborar de forma recorrente tais experiências traumáticas, o que fez com que o subcontinente latino-americano sempre ficasse evidenciado como a região das utopias (OLIVEIRA, 2016b).
Nesse sentido, acreditamos ser cabível destacar que, no livro Em um rabo de foguete: trauma e cultura política em Ferreira Gullar, não é a primeira vez que a ideia de trauma é operacionalizada com sucesso por Oliveira para compreender os problemas que ecoam ao longo da história dos países latino-americanos. Em outro trabalho, também datado de 2016 e intitulado Agonia peruana no século XX: Mariátegui e Flores Galindo, Marcus Vinicius Oliveira busca analisar como os ensaios elaborados pelos intelectuais peruanos José Carlos Mariátegui e Alberto Flores Galindo, no decorrer do século XX, podem representar as formas que estes autores encontraram de lidar com os traumas advindos daqueles eventos da história latino-americana, especificamente a do Peru (OLIVEIRA, 2016a).
Retornando ao diálogo que Oliveira realiza com Fredrigo e Bittencourt ao objetivar, ainda no terceiro e último capítulo, desenvolver seu argumento central Em um rabo de foguete, o autor busca compreender o exercício de rememoração como fator que proporcionaria a manifestação de várias temporalidades, as quais teriam a capacidade de reestruturar a realidade, processo no qual o trauma teria papel essencial.
Neste sentido, segundo Oliveira, o trauma poderia ser concebido como um passado que persiste em fazer-se notável no presente, fenômeno este que condicionaria a memória pelo fato de que esta última estaria muito ligada à recorrência irracional aos traumas provocados pela ditadura militar (OLIVEIRA, 2016b, p. 115-116).
No entanto, segundo Oliveira, o caso de Gullar possui uma particularidade que o diferencia dos exemplos trabalhados por Fredrigo e Bittencourt, pois, nas concepções do poeta maranhense, o trauma contribui não para reelaborar as possibilidades utópicas apontadas pelas autoras, mas, ao contrário, serviria para nulificá-las completamente.
Este fato, segundo Oliveira, pode ser visto com mais precisão nos escritos produzidos por Gullar no período em que o poeta brasileiro ficou exilado no Chile, pois estes registros explicitariam como a concepção acerca do passado teria destaque em detrimento da noção relacionada ao futuro. Neste sentido, as “expectativas” seriam invalidadas por causa da “experiência” vivida por Gullar e isso evidenciaria, na ótica de Oliveira, o desencanto de Gullar pela ideia de revolução e dos ideias pecebistas comungados por aquele poeta no decorrer da década de 1960 (OLIVEIRA, 2016, p. 116).
Neste sentido, podemos afirmar que Em um rabo de foguete, Marcus Vinícius Furtado da Silva Oliveira nos oferece bases que possibilitam pensarmos sobre o papel dos intelectuais diante dos diversos caminhos que a sociedade possui a sua frente ao longo dos tempos, assim como a participação e importância dos mesmos no eterno exercício de se ponderar sobre seu passado e seu futuro a partir das inquietações e dúvidas que o seu presente proporciona. Sobre este ponto, estamos de acordo com Fabiana Fredrigo, ainda no prefácio do livro de OIliveira, quando a historiadora, mais um vez, pontua de forma precisa que “entre a revolução e o cancelamento da utopia, há o reformismo” (FREDRIGO In: OLIVEIRA, 2016b, p. 17, grifos da autora). Além disso, acreditamos que o livro de Oliveira também pode ser considerado uma contribuição relevante para os estudos realizados na área da História Intelectual e da História Política, ao relacionar as discussões sobre os intelectuais, processos políticos, psicologia, filosofia, literatura e poesia.
Notas
1. De forma mais específica, ao trabalhar com o conceito de “cultura política” elaborado por Serge Berstein, Marcus Vinícius Oliveira privilegia a leitura do capítulo intitulado “A cultura política”, de autoria daquele historiador francês e que compõe a obra Para uma história cultural (1998, p. 349-363), organizada pelos também historiadores franceses Jean-François Sirinelli e Jean-Pierre Rioux. Nesse sentido, a linha seguida por tais historiadores franceses como, por exemplo, Berstein, Sirinelli entre vários outros se centra, assim como Rioux argumenta na introdução do referido livro, na análise da relação considerável entre os processos políticos e as manifestações culturais ligados a fatores de caráter social, religioso, artístico e intelectual (1998, p. 14).
2. Para sua leitura acerca das ideias de Antonio Gramsci, Marcus Vinícius Oliveira se embasa nos Cadernos do Cárcere (2011; 2014; 2014b; 2014c; 2014d apud OLIVEIRA, 2016) escritos pelo pensador italiano.
3. No que tange às contribuições de Koselleck, Oliveira dedica especial atenção às obras Crítica e Crise (1999 apud OLIVEIRA, 2016) e Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos (2006 apud OLIVEIRA, 2016) daquele historiador alemão.
4. A fim de explicar melhor estes dois conceitos que auxiliam Oliveira em sua análise sobre os textos de Gullar, acreditamos ser pertinente e válido apresentar, de forma breve, o que o próprio Koselleck compreende por “espaço de experiência” e “horizonte de expectativa”. Segundo o historiador alemão, esses conceitos formam um par indissolúvel, sendo que a “experiência” representaria o “passado atual”, enquanto a “expectativa” poderia ser concebida como o futuro que ainda não foi vivido, mas que já faz notar-se presente (KOSELLECK, 2006, p. 310).
Referências
FREDRIGO, Fabiana de Souza. Guerras e escritas: a correspondência de Simón Bolívar (1799-1830). 1. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2010.
______. Prefácio. In. OLIVEIRA, Marcus Vinícius Furtado da Silva. Em um Rabo de Foguete: trauma e cultura política em Ferreira Gullar. Brasília: Fundação Astrojildo Pereira (FAP), 2016b.
KOSELLECK, Reinhard. Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos. Tradução: Wilma Patrícia Maas, Carlos Almeida Pereira; revisão da tradução: César Benjamin. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006.
OLIVEIRA, Marcus Vinícius Furtado da Silva. Agonia peruana no século XX: Mariátegui e Flores Galindo. Espaço Acadêmico, n. 178, março/2016, p. 8-18. Disponível em: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/28357/16202.
Acesso em: 21/03/2017.
OLIVEIRA, Marcus Vinícius Furtado da Silva. Em um Rabo de Foguete: trauma e cultura política em Ferreira Gullar. Brasília: Fundação Astrojildo Pereira (FAP), 2016b.
RIOUX, Jean-Pierre. Introdução. Um domínio e um olhar. In. RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-François. Para uma história cultural. Lisboa: Estampa, 1998.
Elvis de Almeida Diana – Mestre em História pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP, campus de Franca.
[IF]Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII – DARNTON (FH)
DARNTON, Robert. Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII. Tradução de Rubens Figueiredo. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, 228p. Resenha de: PAIVA, Thayenne Roberta Nascimento. Música e oralidade na queda do Antigo Regime. Faces da História, Assis, v.4, n.2, p.249-255, jun./dez., 2017.
Em 2014, a Companhia das Letras publicou o mais recente livro do historiador norte-americano Robert Darnton, intitulado Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII, que teve publicação original em inglês, pela Cambridge, nos EUA, em 2010. Em linhas gerais, o livro destina-se a percorrer circuitos difusos de comunicação e intrigas políticas, que culminaram em uma série de poemas e canções populares sediciosas, e, portanto, de protesto e de cunho difamatório, na Paris de meados do século XVIII.
Robert Darnton é formado pela Universidade de Harvard e com Doutorado pela Universidade de Oxford. Assumiu a chefia da Biblioteca de Harvard em 2007, sendo responsável pela autorização e disponibilização na Internet de considerável produção intelectual da Universidade. Especialista em História do Livro e sobre a França do século XVIII, produziu obras renomadas, tais como O Iluminismo como negócio (1996), Os best-sellers proibidos da França pré-revolucionária (1998), A questão dos livros: passado, presente e futuro (2010), O beijo de Lamourette – Mídia, cultura e revolução (1990) e O grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural francesa (1984) ̶ sendo sua obra mais difundida ̶ , Os dentes falsos de George Washington (2003) e O diabo na água benta, ou a arte da calúnia e da difamação de Luís XIV a Napoleão (2012), dentre outras.
O livro é estruturado em introdução, quinze capítulos curtos, conclusão. Além disso, possui um apêndice, aonde estão presentes as letras, em francês, dos seis poemas sediciosos que foram produzidos, contendo, inclusive, as referências bibliográficas de sua localização (anexo intitulado As canções e os poemas distribuídos pelos Catorze); a respeito do poema “Qu’une bâtarde de catin” (que inclusive intitula o capítulo desta seção), expõe-se como o texto sofreu modificações ao longo de sua difusão; relatos sobre a circulação do poema sedicioso, que gerou a queda do ministro francês Maurepas e de que modo o poema foi apresentado em algumas referências bibliográficas; no capítulo seguinte, intitulado O rastro dos Catorze, adquirimos conhecimento de um resumo geral da investigação; acerca de A popularidade das melodias, tem-se uma noção estatística sobre as chansonniers mais populares na década de 1740; e, o último capítulo deste apêndice, sob o título Um cabaré eletrônico: canções de rua de Paris, 1748-50. Cantadas por Hélène Delavault, apresenta um site de Harvard2 disponibilizando as melodias mais comuns na Paris do século XVIII e sobre as quais foram usadas para introduzir os versos sediciosos produzidos. Neste capítulo, ainda temos as letras em francês, e sua tradução, dos poemas musicados e outras, sobre a queda de Maurepas, Luis XV, dentre outras.
A respeito do conteúdo propriamente dito da obra, Poesia e polícia parte da observação e investigação de uma complexa rede de comunicação, a partir do estudo de caso sobre o episódio conhecido como “O caso dos Catorze” (L’Affaire des Quatorze), iniciado com a prisão do estudante de medicina, François Bonis, em 1749. O motivo foi ter recitado um poema não autorizado contra Luís XV, já que “Difamar o rei num poema que circulava abertamente era uma questão de Estado, um crime de lèse-majesté” (DARNTON, 2014, p. 13). À sua prisão seguiram-se outras, relacionadas ao poema, contabilizando, ao final, catorze prisões de homens pertencentes “às camadas médias da provinciana sociedade parisiense” (Idem, 2014, p. 22).
O historiador igualmente averigua a criação de cinco outros poemas populares seguidos a este e, especialmente, a introdução destes em chansonnieres, canções populares que disseminavam a opinião pública sobre a corte de Luís XV. Esses dois mecanismos de disseminação do descontentamento popular expõem sob quais modos circulavam a informação na sociedade francesa setentecista. Assim, a meta de Darnton é descobrir porque tais poemas se revelaram do interesse das autoridades de Paris e de Versailles, além do interesse pela rede de comunicação existente sobre os poemas.
Para tanto, Robert Darnton recria, por meio de uma metodologia de policial investigativo, algo da cultura oral que geralmente é difícil de ser apreendida pelo historiador, dada a ausência de suportes textuais que garantam sua preservação. Em outras palavras, debruça-se sobre as trocas de informação por meio da oralidade. Este é o ponto central deste livro, resgatando-o em investigações policiais, nos dossiês da época. O objetivo é “(…) seguir a trilha de seis poemas por Paris em 1749, à medida que eram declamados, memorizados, retrabalhados, cantados e rabiscados em papel (…) durante um período de crise política” (Idem, 2014, p. 8). Dada a empreitada, discute a ilusão de se supor que as sociedades pretéritas não se preocupavam ou não possuíam uma rede de comunicação. É anacrônico pensar em uma “sociedade da informação” somente pelo avanço tecnológico − o que Darnton critica, chamando de espécie de “falsa consciência acerca do passado” (Idem, 2014, p. 7).
Embora a composição do grupo dos Catorze fosse principalmente de escrivães e abades, grupo social letrado, muitas vezes a transmissão dos poemas acontecia pela memorização. Como aponta o historiador, o Caso dos Catorze pode ser visto como manifestação da opinião pública, mas de uma maneira mais prática, no recurso mnemônico e na circulação dos poemas, tomando-a como força motora da história.
Destes poemas, dois foram transmitidos pela música, na forma de melodias populares, as chansonniers – que funcionavam como uma espécie de troca oral. A composição destas melodias se exprimia com letras novas em melodias antigas.
Outro aspecto salientado foi a gama de informações produzidas pelo inspetor geral de polícia, Joseph d’Hémery3, que era profícuo e meticuloso em seus detalhamentos sobre as prisões. Destarte, Darnton destaca que todas as prisões efetuadas produziam dossiês com informações abundantes sobre os comentários políticos que apareciam nestes circuitos de comunicação.
Não obstante, tais informações jamais apontaram o autor dos poemas. Para o historiador dificilmente possa ter existido um autor principal, dado os acréscimos e modificações que as estrofes sofriam, sustentando a ideia de uma autoria coletiva, a partir da memorização daqueles que faziam, considerando-os igualmente autores dos poemas. Além disso, ainda que os poemas pudessem ser percorridos, pois muitos deles foram encontrados rabiscados em pedaços de papel no bolso daqueles que foram presos, a transmissão deles era incerta. Estes poemas desapareciam de modo aleatório e ressurgiam já modificados.
Não apenas as linhas de transmissão, mas também os próprios versos das canções eram substituídos por outros – criando uma espécie de “interferência subjetiva” (Idem, 2014, p. 73). Isto expunha um fácil sistema de improvisação com fins de entretenimento, dada sua ocorrência em “tavernas, bulevares e desembarcadores”, o que implica em uma circulação muito maior do que se imaginaria, pois, qualquer pessoa, nobre ou plebeu, poderia modifica-los dada uma “versificação que era tão simples”. Percebe-se, assim, que as melodias funcionavam como recurso mnemônico e os poemas eram multivocais.
Portanto, se não possui autoria precisa, também não existia uma direção ideológica específica, afirma Robert Darnton. Nos dossiês analisados não se encontra movimentos iniciais de revolução, no máximo “Um sopro de Iluminismo, sim; uma suspeita de hostilidade ideológica, seguramente; mas nada parecido com uma ameaça ao Estado” (Idem, 2014, p. 31). Tanto que, na exposição do interrogatório de um dos presos, Alexis Düjast, o interesse residia pelos aspectos poéticos e políticos dos poemas, isto é, “(…) nada semelhante a uma conjuração política” (Idem, 2014, p. 25). Então, Darnton, em boa parte dos capítulos iniciais, levanta a questão: “(…) Por que a polícia reagiu de forma tão enérgica?” (Idem, 2014, p. 28).
O historiador Robert Darnton admite, momentaneamente, a impossibilidade de resposta ao interesse tão forte da polícia sobre este caso, mais ainda por dois pontos por ele sublinhados: esta rede não teceu comunicação nem com a alta burguesia e nem com o povo. Mas o que Darnton ressalta e, que talvez ajude a clarear sobre a autoria dos poemas é que eles circulavam também na Corte, ou mesmo que tenham sido criados, inicialmente, em Versailles. Qual fato justificaria isso, então? Quando ocorreu a mudança no equilíbrio de poder, com a destituição de Jean-Frédéric Phélypeaux, o conde de Maurepas4 do cargo de ministro de Luís XV, sendo exilado em 24 de abril de 1749.
A causa principal foi a coleção de poemas sediciosos, além de canções de mesma natureza, que ele colecionava. Continham os mexericos e intrigas acerca da vida na corte. O próprio Maurepas encomendava os poemas para difamar as amantes do rei (além do próprio rei), como foi com Jeanne-Antoinette Poisson, a Madame Pompadour5.
O intuito do ministro era enfraquecer a influência dela sobre o rei. Não obteve sorte, pois Mme Pompadour influenciou Luís XV para demitir Maurepas, assim sendo feito.
A quantidade de canções e poemas circulantes pós esse exílio revelam possivelmente uma tentativa desesperada de Maurepas e seus seguidores de retornar ao poder.
A influência de Pompadour era emblemática, ascendendo ao mesmo cargo o seu “braço direito” Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, conde d’Argenson6. Este, em sua busca frenética pela autoria dos poemas desejava “consolidar sua posição na corte durante um período em que os ministros estavam sendo redistribuídos e o poder, repentinamente parecia instável”, podendo, desta forma, “controlar o novo governo” (Idem, 2014, p. 41).
Desse modo, Darnton expõe o coração pulsante no caso dos Catorze: por trás de meras declamações de poemas, representava, em seu interior, “uma luta pelo poder situada no coração de um sistema político” (Idem, 2014, p. 41). Em relação aos catorze envolvidos no caso tiveram suas vidas arruinadas, corroborado pelo exílio que sofreram. Significa afirmar, segundo o próprio historiador, que os catorze envolvidos não possuíam consciência de seus atos, ainda mais na qualidade de crime, como foram classificados.
Em termos metodológicos, Darnton se propõe a uma longa exposição descritiva do Caso dos Catorze, sob interpretação cultural, não direcionando uma linha teórica clara, apenas adotando a postura de um historiador investigativo, procurando pistas e fios condutores. A ausência de um condutor teórico em sua obra, embora com uma linguagem acessível e para um público tanto acadêmico quanto não-acadêmico, seja um dos aspectos negativos. Outro ponto negativo é que não há delimitações conceituais sobre o que ele considera opinião pública. Além disso, o historiador torna o texto confuso quando em alguns momentos afirma não poder dar respostas ao interesse tão forte da polícia sobre O Caso dos Catorze, o que é sempre desmontado no capítulo seguinte, o que talvez exponha a fraca habilidade de Darnton de tentar fazer deste livro um encadeamento paulatino de mistérios e possíveis soluções.
Entretanto, outrossim, possui aspectos positivos, tais como a circulação destes poemas, que embora tenham começado com um grupo de letrados, expandiu-se para as camadas mais populares da França do século XVIII, que se entretinham com a mudança de versos, para zombar ou difamar o rei Luís XV, suas amantes e a Corte. Para o historiador Robert Darnton, os poemas são apenas uma das formas de “literatura de protesto” (Idem, 2014, p. 125) contra o Antigo Regime e que mesmo descoberto alguns de seus atuantes, revela a participação crítica e de insatisfação de quase todas as camadas da sociedade parisiense.
Também válido foi a apresentação do projeto eletrônico da Universidade de Harvard, possibilitando as pessoas a se transporem para aquela época, com a musicalização destes poemas – como fontes de época −, no sítio eletrônico <www.
hup.harvard.edu/features/dapoe>, sob interpretação de Hélène Delavault. Igualmente acertado a mobilização de imagens que ilustram cantores itinerantes, os manuscritos dos poemas, as partituras de algumas das músicas originais que serviam como base para a troca dos versos e uma lista rabiscada em um papel com os nomes daqueles que foram presos.
Notas
2 O site www.hup.harvard.edu/features/darpoe é indicado pelo autor, como forma de os leitores tomarem conhecimento de como as letras e melodias foram produzidas durante o período de colapso do Antigo Regime. O endereço eletrônico é fornecido por Darnton e se encontra na p.177.
Para maiores informações a respeito dos procedimentos e estruturação dos dossiês gerados por d’Hémery em outros casos investigativos, ver, especialmente, DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural francesa. Tradução de Sonia Coutinho. Rio de Janeiro: Graal, 1986.
4 Para maiores informações sobre o conde de Maurepas, consultar: RULE, John C. Jean-Frederic Phelypeaux, comte de Pontchartrain et Maurepas: Reflections on His Life and His Papers. The Journal of the Louisiana Historical Association, vol. 6, 1965, p. 365-377 e RULE, John C. The Maurepas Papers: Portrait of a Minister. French Historical Studies, vol. 4, Duke University Press, 1965, p. 103-107.
5 Sobre Madame Pompadour, ver, por exemplo: ABBOTT, Elizabeth. Mistresses: A History of the Other Woman. London: Penguin Books, 2011 e MITFORD, Nancy. Madame De Pompadour. London: Hamish Hamilton, 1st edition, 1954.
6 Esclarecimentos sobre esta figura histórica podem ser obtidos em: COMBEAU, Yves. Le comte d’Argenson (1696-1764): Ministre de Louis XV. Paris: École des Chartes, 1999.
Referências
ABBOTT, Elizabeth. Mistresses: A History of the Other Woman. London: Penguin Books, 2011.
COMBEAU, Yves. Le comte d’Argenson (1696-1764): Ministre de Louis XV. Paris: École des Chartes, 1999.
DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural francesa. Tradução de Sonia Coutinho. Rio de Janeiro: Graal, 1986.
________________. Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII. Tradução de Rubens Figueiredo. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
MITFORD, Nancy. Madame De Pompadour. London: Hamish Hamilton, 1st edition, 1954.
RULE, John C. Jean-Frederic Phelypeaux, comte de Pontchartrain et Maurepas: Reflections on His Life and His Papers. The Journal of the Louisiana Historical Association, vol. 6, 1965.
___________. The Maurepas Papers: Portrait of a Minister. French Historical Studies, vol. 4, Duke University Press, 1965.
Sítio eletrônico citado na obra www.hup.harvard.edu/features/darpoe. Acesso em: 21 de março de 2017.
Thayenne Roberta Nascimento Paiva – Graduada em Bacharelado e Licenciatura, respectivamente, pelo Instituto de História e a Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente, é mestranda em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Email: thayenne-intelectus@hotmail.com.
[IF]O Cavaleiro Negro: Arlindo Veiga dos Santos e a Frente Negra Brasileira – MALATIAN (FH)
MALATIAN, Teresa. O Cavaleiro Negro: Arlindo Veiga dos Santos e a Frente Negra Brasileira. São Paulo: Alameda, 2015. Resenha de: NACHTIGALL, Lucas Suzigan. Faces da História, Assis, v.3, n.2, p.261-264, jul./dez., 2016.
A seguinte resenha visa analisar o livro O Cavaleiro Negro: Arlindo Veiga dos Santos e a Frente Negra Brasileira, da historiadora Teresa Malatian, cujo objetivo central é abordar a participação de Arlindo Veiga dos Santos na Frente Negra Brasileira, desde sua fundação em 1931 até sua dissolução com o estabelecimento do Estado Novo em 1937. Ademais, o livro, lançado no ano passado, aborda também a formação do intelectual e sua atuação em movimentos sociais pelo fim da segregação e pela inclusão do negro na sociedade brasileira.
Sua constituição de pouco mais de trezentas páginas é dividida em vários pequenos capítulos, nos quais são dissertados aspectos da vida e da obra de Arlindo Veiga dos Santos e, consequentemente, das lutas, jornais e associações negras do final da década de 20 e 30.
Após um breve, porém pertinente, prefácio da professora Maria de Lourdes Monaco Janotti2, o livro segue trabalhando a história de Arlindo Veiga dos Santos, ferrenho militante negro, católico e monarquista, que atuou vivamente no Estado de São Paulo durante as décadas de 20 e 30, militando a favor da inserção do negro e pela instauração, no Brasil, de uma monarquia corporativista católica ultraconservadora, distinta dos monarquistas tradicionais, reformistas e liberais.
O livro inicia com a narração dos primeiros anos da formação de Arlindo Veiga dos Santos e seu irmão, Isaltino Veiga dos Santos, ressaltando sua origem de uma família humilde, cujos pais eram cozinheiros, mas que, apesar de terem poucos recursos financeiros, faziam questão de que seus filhos homens estudassem e tivessem uma boa educação.
Posteriormente à conclusão de seus estudos no Colégio São Luiz, de ensino caracteristicamente jesuíta, Arlindo Veiga dos Santos conseguiu, junto de seu irmão, estudar na Faculdade de Filosofia e Letras de São Paulo (hoje parte da PUC-SP), onde concluíram seus estudos.
Durante a faculdade, bem como no colégio que estudara anteriormente, Arlindo Veiga dos Santos recebeu uma formação em filosofia e em oratória, que foi de grande relevância para sua carreira. Foi também neste período que entrou em contato com o neotomismo, vertente filosófica construída a partir do pensamento de Tomás de Aquino e que, politicamente, advogava por uma visão de mundo medieval, notadamente antiliberal, antidemocrática, antiparlamentar, e que se colocava como alternativa ao socialismo, ao comunismo, ao anarquismo e à democracia liberal. Essa vertente filosófica marcaria, então, o cerne de suas obras e militância, e o intelectual se inspiraria também em movimentos políticos autoritários, como o fascismo italiano, para formular seu modelo de regime monárquico católico e corporativista e sua defesa da inclusão social do negro.
O livro segue contextualizando Arlindo Veiga dos Santos diante da intelectualidade negra nos anos 20, abordando as relações sociais dos negros no período e suas redes de sociabilidade construídas em torno de um associativismo cultivado a partir e em torno da recreação e de eventos como bailes e festividades.
Nesse contexto, teve início a ação panfletária de Arlindo Veiga dos Santos, fomentando o surgimento e o crescimento de diversos movimentos negros, como o Centro Cívico Palmares, que funcionava como uma escola, uma biblioteca, assim como, um centro comunitário e um espaço doutrinário de sociabilidade dos negros. Ali também eram confeccionados jornais escritos para a população negra, onde os “irmãos Santos” eram assíduos colaboradores, panfletando pela integração do negro na sociedade dentro de sua perspectiva católica.
Pouco depois da malsucedida tentativa de se estabelecer o Congresso da Mocidade Negra, um núcleo que centralizaria a militância negra, Arlindo Veiga dos Santos participara da formação da Frente Negra Brasileira (FNB), onde atuaria ativamente até sua extinção em 1937. Malatian discorre, então, sobre a constituição dessa frente, dos embates ideológicos internos ao grupo, especialmente entre Arlindo Veiga dos Santos, monarquista de direita, e Correia Leite, ligado a grupos socialistas e comunistas, onde Arlindo Veiga dos Santos assume, impondo sua liderança ao grupo.
Com a vitória de Arlindo Veiga dos Santos, a Frente Negra cresce, estendendo seu alcance muito além dos negros da classe média e congregando muitos populares, tanto na capital como pelo interior, onde diversas sedes foram abertas. Com isso, foi possível promover campanhas pela educação dos negros, bem como outras, como as que defendiam a necessidade de sair do aluguel e adquirir a casa própria e a admissibilidade de negros na Guarda Civil de São Paulo.
Simultaneamente, o livro também trabalha a face política da Frente Negra, desde a participação de negros na Revolução de 32, enquanto o movimento se mantinha neutro, denunciando o caráter oligárquico das elites revolucionárias, as aproximações de Arlindo Veiga dos Santos e, com ele, a FNB, com o integralismo de Plínio Salgado, que estreitaram muito as relações em vários momentos durante a década de 30.
Essa face política culminou com a candidatura de Arlindo Veiga dos Santos para a Constituinte de 1933 e, após o fracasso da candidatura, o lento afastamento do intelectual da presidência da Frente Negra Brasileira, onde ele permaneceria como membro atuante até 1937, quando suas atividades foram encerradas pelo Estado Novo.
O livro, como é possível notar, possui seu conteúdo centralizado na ação de Arlindo Veiga dos Santos e sua militância negra, monarquista e autoritária, com especial enfoque em sua participação na Frente Negra Brasileira e jornais negros subjacentes, como o Voz da Raça e o Clarim da Alvorada, onde participou junto de seu irmão Isaltino.
Sua postura e governos autoritários são diversas vezes apresentados e ressaltados pela autora, bem como os elementos de inspiração medieval que, aliados à aproximação de ideologias e movimentos autoritários, tornaram ímpar sua atuação no movimento negro das décadas de 20 e 30. Sua campanha pela educação, como mostra a autora, obteve profundos resultados.
O autor pregava a realização de uma “nova abolição”, para combater a “escravidão moral”, que assolava o Brasil após a abolição formal da escravidão, e que a educação traria a redenção para o negro, e divulgava assiduamente a necessidade de escolarizar os filhos. Com esforço conseguiram criar uma escola seriada, com alguns professores, e lutar contra o analfabetismo em crianças e adultos, profissionalizá-los e capacitá-los a combater a desigualdade e o preconceito que os negros enfrentavam.
A visão de Arlindo Veiga dos Santos, como nos mostra Malatian, era maniqueísta, centrada no combate entre o bem (católicos, nacionalistas) e o mal (comunistas, socialistas, anarquistas, liberais, entre outros). Nesse embate, os negros deviam lutar pela integração plena na sociedade brasileira, combatendo pela Pátria contra seus inimigos, como o preconceito e doutrinas perniciosas (socialismo, comunismo, liberalismo) para o progresso da Nação.
O estilo de escrita do livro é bastante característico da autora Teresa Malatian. Como seu livro anterior a respeito do Patrianovismo, Império e Missão: Um novo monarquismo em brasileiro (Editora Nacional, 2001), Malatian aborda a década de 30, com seus movimentos religiosos, sociais e políticos, com bastante familiaridade. Os capítulos, curtos, são apresentados de forma breve e temática, mas sucessiva e bem entrelaçada. Sua redação, que lhe é particular, é muito fluída e agradável, o que facilita a leitura e absorção da quantidade de informação que a autora traz à obra.
São apresentados, nos capítulos, uma quantidade relevante de trechos de artigos jornais, poemas e cartas, o que divulga e disponibiliza o acesso a essa documentação. Ao final de muitos desses capítulos, diversas fotografias relacionadas às temáticas são apresentadas, ilustrando os argumentos da autora (o que tem relevância quando se tratam de escolas, bandeiras, uniformes). Porém, infelizmente, a diagramação delas, na fase da edição, acabou fazendo com que algumas delas, como as imagens 05 e 06 (pág. 48 e 49, respectivamente), ficassem estranhas e demasiadamente pequenas, utilizando uma página inteira em uma foto minúscula. Outras, por conta da impressão, ficaram tão escuras que dificultou a definição do que estava representado, ou distinguir as pessoas. Como são problemas de simples resolução, é possível que seja solucionado em alguma eventual reedição.
Apesar desses detalhes, o livro permanece como uma boa escolha de leitura clara e fluída, acompanhada de uma história consideravelmente rica de conteúdo e informações. Esse conteúdo não trata profundamente acerca da atuação de Arlindo Veiga dos Santos na Ação Imperial Patrianovista Brasileira – tema abordado no livro supracitado da autora, e também no seu mestrado e doutorado – mas contextualiza a ação do intelectual e seu monarquismo católico e autoritário dentro do movimento negro da época, o que carecia de trabalhos dedicados.
Certamente, a obra oferece uma leitura útil para aqueles interessados tanto no movimento negro quanto nos movimentos católicos e de inspiração política autoritária da época, principalmente por contextualizar muito bem Arlindo Veiga dos Santos, seus embates e ideias, no movimento negro, e oferecer um panorama bem abrangente de sua ação como militante negro, católico, monarquista e nacionalista.
A autora do livro, doutora Teresa Malatian, é docente titular do curso de História da Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP – campus de Franca. Possui titulação de Mestre em História, pela PUC/SP, com a dissertação A Ação Imperial Patrianovista Brasileira (1978) e de Doutora em História, pela FFLCH – USP, com a tese Os Cruzados do Império (1988). Atualmente, desenvolve principalmente pesquisas sobre os movimentos monarquistas no Brasil República, História do Brasil e historiografia.
Notas
2 Maria de Lourdes Monaco Janotti é professora da Universidade de São Paulo (USP), autora do livro “Os subversivos da República” (1986), que abordou os monarquistas e sua militância nos anos iniciais do regime republicano no Brasil.
Referências
JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. Os Subversivos da República. São Paulo: Brasiliense, 1986.
MALATIAN, Teresa. A Ação Imperial Patrianovista Brasileira. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1978.
MALATIAN, Teresa. Os Cruzados do Império (1988). Tese (Doutorado em História).
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1988.
MALATIAN, Teresa. Os Cruzados do Império. São Paulo: Contexto, 1990.
MALATIAN, Teresa. Império e missão: um novo monarquismo brasileiro. 1.a. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2001.
MALATIAN, Teresa. O Cavaleiro Negro: Arlindo Veiga dos Santos e a Frente Negra Brasileira. São Paulo: Alameda, 2015.
Lucas Suzigan Nachtigall – 1. Mestre em História pela UNESP/Assis. E-mail: lucassuzigan@gmail.com.
[IF]A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964 | Daniel Aarão Reis, Marcelo Ridenti e Rodrigo Patto Sá Motta
A obra A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964 traz uma compilação de artigos escritos por profissionais de diversas áreas do conhecimento, tais como História, Sociologia, Economia, Ciência Política e Relações Internacionais, a respeito da ditadura civil-militar (1964 a 1985). Seu lançamento ocorreu em 2014, há exatos cinquenta anos do golpe militar acorrido em 1964. O ano de 2014 foi marcado por inúmeros eventos organizados por universidades e outras instituições em que se buscou refletir sobre o período do regime militar no Brasil e seus impactos na formação da moderna sociedade brasileira, em termos políticos, culturais, econômicos e sociais2.
Em meio a todo esse contexto de debate e reflexão sobre a ditadura civil-militar foram publicados vários trabalhos sobre o tema, entre eles, a obra do jornalista Carlos Chagas, A ditadura militar e os golpes dentro do golpe: 1964-19693 e a coletânea de artigos Ditadura: o que resta da transição, organizada pelo sociólogo Milton Pinheiro4. Leia Mais
Medo, reverência, terror: Quatro ensaios de iconografia política – GINZBURG (FH)
GINZBURG, Carlo. Medo, reverência, terror: Quatro ensaios de iconografia política. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Resenha de: LINO, Raphael Cesar. Faces da História, Assis, v.3, n.1, p.211-215, jan./jun., 2016.
O historiador italiano Carlo Ginzburg, nascido no ano de 1939, em Turim, é uma referência indispensável dentro dos estudos de história cultural e reconhecido por seus trabalhos sobre crenças populares, heresias e processos inquisitoriais, sendo muitas vezes associado ao surgimento da micro-história, especialmente devido à publicação do livro O queijo e os vermes (1976) e por sua participação na coleção Microstorie, publicada na Itália entre os anos de 1981 e 1993. No entanto, sua produção é bastante eclética no que tange à sua autoria sobre muitas reflexões teóricas e metodológicas, além de trabalhos relacionados à História da Arte.
A obra aqui apresentada, Medo, reverência, terror: quatro ensaios de iconografia política (2014) traz a marca de uma das principais características da produção intelectual de Ginzburg: ser um historiador da inovação, da experimentação. Seu estilo de pesquisa e escrita foi o que Henrique Lima conceituou como método de “deslocamento”, que consiste na transferência de questionamentos e ferramentas de um lugar ao outro, “filologia textual aplicada a textos não literários, problemas de História Social aplicados à História da Arte, análise iconológica recolocada diante dos mitos, morfologia empregada para análise de materiais históricos” (LIMA, 2006, p. 281).
O livro é composto de quatro capítulos independentes, que, em conjunto, se preocupam em evidenciar a conexão entre a produção iconográfica e a política, o que tampouco quer dizer que uma responderia à outra mecanicamente. O destaque para este trabalho é justamente evitar este tipo de relação causal. A análise é construída a partir do estudo das trajetórias individuais, das redes de relações pessoais, bem como do conjunto de referências e escolhas que se constituem e precedem as iconografias.
O primeiro capítulo, Medo, reverência, terror: reler Hobbes hoje, consiste em uma análise de Thomas Hobbes, partindo do livro O Leviatã e sua ilustração mais conhecida2.
Na interpretação de Ginzburg, o pensamento hobbesiano se baseia na constatação de que o medo, juntamente com a sujeição, legitimado pela religião cristã, são os fatoreschave para a formação do Estado. O desenvolvimento dessa afirmação é uma busca na trajetória intelectual e nas vivências pessoais de Hobbes.
Dessa forma, as obras De Cive e, posteriormente, O Leviatã, não buscam somente esboçar uma teoria política, são também resultado da experiência vivenciada em seu contexto histórico. Ao mesmo tempo em que assistia a disputa entre o rei e o parlamento Inglês, Hobbes se exilou na França, em meados do século XVII, após o início da Revolução Inglesa e foi nessa época em que realizou uma tradução de A guerra do Peloponeso de Tucídides.
Em uma das passagens deste trabalho, Hobbes concluiu que o medo dos deuses guiava as leis e os limites da sociedade grega. Com a proliferação da peste em Atenas este medo perdera seu sentido e, desse modo, também toda a coesão social. Na sociedade ocidental, o medo de seu semelhante obriga os homens a cederem seus direitos naturais ao monarca3. A ênfase no medo é colocada em evidência por Ginzburg por um desvio de Hobbes em sua tradução de Tucídides: apeirgein (em grego) “manter sob controle” é transformado em to awe (em inglês) – “amedrontar”.
Ao desenvolver esta teoria, Hobbes realizava uma variação de vocabulário, o que quer dizer que suas leituras foram readaptadas, palavras foram traduzidas com um sentido distinto daquele que teriam em outros idiomas, fato que, para Ginzburg, não tem outra explicação senão o de transformar o medo em algo útil. Hobbes faz dele a própria base do Estado.
Ginzburg finaliza o capítulo estabelecendo uma relação com a geopolítica atual, em que as disputas entre os Estados se assemelham ao estado natural do homem, e, na busca pela hegemonia, medo e terror são duas armas utilizadas amplamente nessa disputa, com objetivos hobbesianos como a submissão e renúncia às liberdades individuais, criando um mundo cada vez mais globalmente controlado.
O segundo capítulo, David, Marat: Arte, política, religião, trata sobre uma análise do quadro Marat em seu último suspiro, do pintor francês Jacques-Louis David (1793).
Não é uma descrição feita a partir do ponto de vista artístico, mas das correspondências políticas com as quais a obra dialoga, pois foi elaborada em um momento decisivo da república proclamada na Revolução Francesa.
Como sabemos, a Revolução foi uma tentativa de ruptura com o Antigo Regime, contra a monarquia e contra o cristianismo. A ruptura com a primeira foi decidida na guilhotina, no caso da religião foram elaborados um conjunto de novos símbolos “republicanos” para substituí-la.
Marat, assassinado e retratado, foi visto como um mártir da República, mas permeado por elementos da tradição cristã. Por exemplo, seus objetos de trabalho, que foram expostos como relíquias sagradas, assim como disputa pela posse de seu coração, retirado de seu corpo antes de ser sepultado, criaram um verdadeiro culto a Marat. Este descompasso entre as intenções e as ações foi comentado por Ginzburg: “Marat falava numa língua clássica, mas com sotaque cristão” (GINZBURG, 2014, p. 44).
David teve uma carreira política dentro da revolução, fora deputado, secretário e depois presidente da Convenção. Ao mesmo tempo, sua carreira artística foi impulsionada, tornando-se uma espécie de cenógrafo político. Seu quadro em homenagem a Marat foi um ato político e com responsabilidades políticas. Obra esta que acabou considerada como marginal no decorrer dos acontecimentos na França naqueles anos, e que, mesmo anos depois da morte de David (1825), continuou vista como fruto dos excessos do Terror.
Ginzburg procura desvendar a história do quadro pelo conjunto de influências artísticas que David acumulara em sua formação e em sua vida. Uma obra anterior a Marat teria semelhanças inegáveis com o quadro francês, Stanislas Kostka, de Pierre Legros (sem data). David a teria conhecido durante seus anos de formação artística, em Roma (entre 1775 e 1778). Stanislas teria elementos indiscutivelmente similares a Marat, a posição do corpo, as mãos, o sorriso dado na hora da morte.
Além desta constatação, entretecem tradições no quadro de David: a clássica greco-romana e a cristã. Esta escolha para representar um mártir republicano seria inconciliável com o ideal de república, o cristianismo era considerado propício à tirania.
A derrubada da monarquia, sustentada pelo direito divino, necessitava de legitimidade e invadia a esfera do sagrado, até então monopolizado pela religião.
Finalizando esta passagem, do mesmo modo que a religião se apropriava dos mais variados elementos para se transformar e assim sobreviver, a arte também se apropriava de outros elementos, mas com o objetivo de criar algo oposto. Marat ilustrava essa tendência.
No terceiro capítulo, Seu país precisa de você: Um estudo de caso em iconografia política, Ginzburg se utiliza do conceito do historiador alemão Aby Warburg, “fórmulas de emoções” (Pathosformeln, em alemão), para pensar a iconografia, cujo foco é a representação de um olhar que cria a impressão de acompanhar o espectador a partir de qualquer ângulo.
O ponto de partida deste capítulo é o cartaz inglês de recrutamento feito durante a Primeira Guerra Mundial, que trazia o General Lord Kitchener estampado, com seu bigode espesso e que, apontando imperativamente com sua mão direita, convocava os jovens a se alistarem como voluntários no exército. Expectadores contemporâneos ao cartaz dão uma percepção sobre como se sentiam observados: “de qualquer ângulo que se observassem, os olhos se encontravam aos do espectador e nunca o deixavam” (DAVRAY, H.D. 1962, p. 55 apud GINZBURG, 2014, p. 77).
Ginzburg traça uma digressão histórica, remontando alguns comentários artísticos sobre a representação de rostos, como, por exemplo, Alexandre, o Grande, ou os santos na Idade Média. O chamado de Kitchener seria uma versão atualizada e contextualizada do gesto de Jesus nas pinturas medievais, cujo efeito do olhar se baseia na mesma técnica de representação, fazendo um chamado religioso. No cartaz inglês, o chamado seria às armas, evocando autoridade e submissão. Ademais, o cartaz de recrutamento é fortalecido pela linguagem publicitária, difundindo numericamente o chamado de general aos ingleses.
Biógrafos do general associam sua imagem ao Grande Irmão de George Orwell (1949). Tal referência não é despropositada, pois a descrição de Orwell sobre a imagem do Grande Irmão traz uma frase próxima à descrição do referido cartaz: “o grande irmão está de olho em você” (ORWELL, 2009, p.11-12). Como sempre, atento à trajetória biográfica de seus interlocutores, Ginzburg associa à descrição de Orwell a uma possível lembrança de sua infância na Inglaterra, para onde se mudara em 1907. George Orwell publicara aos 11 anos um primeiro poema em um jornal fazendo apelo ao chamado de Kitchener.
Da descrição do quadro de Alexandre, o Grande (montado em um cavalo e segurando um raio – de Zeus) ao Grande Irmão de George Orwell, a imagem como elemento de interferência na realidade e na percepção das pessoas ressurge historicamente.
O último capítulo, A espada e a lâmpada, é uma leitura de Guernica, de Pablo Picasso, elaborada e exibida em 1937 em uma exposição em Paris. Nesta ocasião, a exposição era dominada pela apresentação de obras de arte dos países totalitários, Alemanha, Itália e URSS, marcados pela utilização de elementos clássicos e neoclássicos em suas composições. A arte moderna seria uma contraposição aos regimes totalitários, o que fez da exposição uma arena ideológica.
Guernica era um manifesto contra Franco que na época, liderando o exército insurgente contra a recente república espanhola, com ajuda da Alemanha, bombardeou a cidade espanhola de Guernica. O grande número de fotografias e anotações existentes, feitos durante a pintura, a tornam a mais bem documentada obra de arte do mundo ocidental.
Inicialmente, Picasso escolhera como tema “o pintor e seu modelo”, mas após a notícia sobre o bombardeio de Guernica o artista alterou seu projeto. Os esboços iniciais realizados para a pintura do quadro mostram que quase não houve alterações do primeiro desenho feito por Picasso. Quase. Este quase é enfatizado por Ginzburg, que parte dele para as próximas considerações e pelo estudo dos esboços reconstitui seu desenvolvimento até chegar à obra final. Guernica é analisada segundo uma trajetória evolutiva das opções artísticas do pintor, variando de elementos clássicos a modernos, que se mesclaram na versão final. Processo que envolveu incertezas, explorações e escolhas.
Pela leitura de trabalhos que comentam Picasso, Ginzburg coloca em destaque um comentário pouco conhecido de Marcel Proust, que olhava atentamente as trocas artísticas de Picasso com o francês Cocteau. Havia referências aos gregos nessa relação e que apareciam em alguns esboços iniciais do quadro.
Enquanto os Estados totalitários detinham nas mãos a arte que se utilizava de antigos mitos clássicos em suas composições, Picasso transmutava esses mitos pela sua estética artística, cuja origem seria o irracionalismo que, ao mesmo tempo, distorcia a realidade e permitia novos olhares sobre ela. O mito presente na arte deveria ser retirado do Fascismo e este foi o grande triunfo do pintor espanhol.
Os esboços que anteciparam a elaboração de Guernica permitem entrar no estúdio-laboratório de Picasso. Seguindo suas intuições ao estilo de Morelli, Ginzburg retraça os caminhos da arte neoclássica que se desenvolveu no mundo cristão e ocidental e, por meio de semelhanças e repetições encontra uma série de relações entre diversos pintores: a posição dos corpos, distribuição da imagem e referências a símbolos mitológicos, reconhecendo “citações” de outros artistas em diversas pinturas (GINZBURG, 1989).
Os temas clássicos se repetem na história, como, por exemplo, a representação da morte de Caio Graco (reformador romano), pintada no século XVIII em homenagem a um jacobino guilhotinado por tentar derrubar o Diretório, pintado por Topino-Lebrun (também guilhotinado posteriormente em 1800).
Essa descrição entra como hipótese, mas não conclusiva, das possíveis influências que Picasso teria ao pintar Guernica, especialmente pela presença de Picasso em Paris em 1912 em companhia de Georges Braque. O quadro Estúdio com cabeça de gesso seria a antecipação de Guernica que combinava o cubismo com referências da Antiguidade Clássica.
Guernica foi uma obra de resistência ao fascismo, e, dentro do plano ideológico estabelecido na arena da exposição, marcou bem sua posição, não se sujeitando as inclinações dos países totalitários. O fascismo deveria ser derrotado na esfera das artes, o que remete à Guernica e à arte moderna.
Concluindo esta pequena apresentação do livro, vemos que a relação entre iconografia e política é pensada por diferentes dimensões, centrada na trajetória individual de cada uma, de sua autoria aos seus interlocutores. Estas interlocuções também estão em consonância com a própria marca de Carlo Ginzburg, cuja formação intelectual o faz um historiador capaz de intensos diálogos com diferentes disciplinas.
Medo, reverência, terror é mais um resultado desta característica, que o torna um importante ícone na história da historiografia, especialmente para temas culturais.
Notas
2. A primeira imagem ilustrativa d’O Leviatã foi uma homenagem ao rei Carlos II (GINZBURG, 2014, p.26).
3. O estado natural para Hobbes seria a “luta de todos contra todos”: Bellum omnium contra omnes (GINZBURG, 2014, p. 14).
Referências
GINZBURG, Carlo. Medo, reverência, terror: Quatro ensaios de iconografia política. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
______. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: Mitos, emblemas, sinais – morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
LIMA, Henrique Espada. A micro-história italiana: Escalas, indícios e singularidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
Raphael Cesar Lino – 1. Mestrando em História – Programa de Pós-graduação em História – Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP – Univ. Estadual Paulista, Campus de Assis – Av. Dom Antonio, 2100, CEP: 19806-900, Assis, São Paulo – Brasil. Bolsista CNPq. E-mail: rph_lino@yahoo.com.br.
[IF]O corpo, os ritos, os sonhos, o tempo: ensaios de antropologia medieval – SCHMITT (FC)
SCHMITT, Jean-Claude. O corpo, os ritos, os sonhos, o tempo: ensaios de antropologia medieval. Petrópolis: Vozes, 2014. Resenha de: BORGONGINO, Bruno Uchoa. Uma abordagem antropolítica da Idade Média. Faces da História, Assis, v.2, n.2, p.198-201, jul./dez., 2015.
Jean-Claude Schmitt, proeminente discípulo de Jacques Le Goff, dedica-se aos estudos medievais desde a década de 1970. Ao decorrer de sua carreira, acumulou distinções honoríficas, como chevallier da Ordre des Palmes Academiques (2002) e da Légion d´honneur (2005) e doutor honoris causa da Universidade de Münster (2003), além de exercer o cargo de diretor da École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) desde 1983.
Em suas pesquisas, o historiador francês emprega métodos e referências teóricas da antropologia para compreender a sociedade e a cultura do Ocidente medieval, empreendendo, em livros e artigos, investigações sobre vários aspectos socioculturais como: a juventude; o suicídio; os gestos; o aniversário; entre outros. Dentre livros que escreveu, foram traduzidos para o português: O corpo das imagens, Os vivos e os mortos na sociedade medieval, História das superstições, História dos jovens,2 Dicionário temático do Ocidente medieval3 e, mais recentemente, O corpo, os ritos, os sonhos, o tempo: ensaios de antropologia medieval, que ora resenho.
Le corps, le rites, les rêves, le temps: essais d´anthropologie médiévale foi originalmente publicado em 2001 pela editora Gallimard, contudo, foi oferecido ao mercado brasileiro somente em 2014.4 Este atraso de treze anos pela versão nacional não faz jus à importância deste material, pois considera-se que nele constam dezessete artigos de Schmitt, selecionados pelo próprio autor, os quais representam a multiplicidade de suas contribuições aos estudos medievais. Tais artigos permaneceram sem uma versão traduzida oficialmente para a língua portuguesa, embora não fossem inéditos na época da primeira edição em francês e já constassem como referência clássica em determinados campos investigativos.
Cabe salientar que os textos compreendidos no livro, publicados ao decorrer de trinta anos da carreira do medievalista, não foram organizados de maneira cronológica, mas agrupados em quatro unidades – a serem ainda apresentadas mais adiante –, constituindo, cada uma delas, um eixo temático. Se, por um lado, a opção por agrupar os artigos em blocos de assuntos afins facilita a consulta pelo leitor a conjunto tão heterogêneo; por outro, a alternância de textos do início da sua trajetória acadêmica com reflexões mais recentes5 dificulta a percepção do processo de amadurecimento intelectual de Schmitt.
Pode-se constatar, ainda, que o material compilado foi originalmente vinculado em meios diversos, cada qual com suas orientações editoriais próprias e seu públicoalvo pretendido: alguns dos textos eram artigos de periódicos acadêmicos, outros, capítulos em livros. Por isso, há certa discrepância quanto ao tamanho dos escritos, assim como no nível de aprofundamento na abordagem.
Os artigos foram precedidos por um prefácio redigido pelo próprio Schmitt, no qual o autor relaciona sua formação intelectual aos debates acadêmicos mais populares durante o início de sua carreira; assim como aos cursos de renomados pesquisadores – como Georges Duby e Michel Mollat –, aos quais pôde assistir; e às leituras por ele realizadas. Além do diálogo com diversos campos da Antropologia, Schmitt destaca a relevância do comparatismo proposto por Marc Bloch e, depois, por Jean-Pierre Vernant, no qual o exercício de confrontação entre sociedades díspares ajuda a revelar as especificidades de cada uma. Logo, o livro é iniciado por um texto em que o autor contextualiza sua inserção como historiador e esclarece suas principais referências.
A exposição das influências acadêmicas feita pelo próprio Schmitt explicita a formação e atuação do autor em consonância com as propostas da Nova História. Peter Burke demonstrou como a terceira geração da Escola dos Annales, que surgiu após 1968, privilegiou a História das Mentalidades, a análise de fenômenos culturais e a aproximação com a Antropologia (BURKE, 1997, p. 79-107). Essas novas orientações para a pesquisa histórica propiciaram a emergência de novos problemas, novos objetos e novas abordagens.
Ao lado de pesquisadores consagrados como Jacques Le Goff e Georges Duby, Jean-Claude Schmitt contribuiu para a incorporação da Nova História aos estudos medievais ao se atentar para as dimensões simbólicas das representações e das práticas sociais na Idade Média e investigar temas outrora não contemplados pela historiografia, tais como o “corpo” ou o “futuro”.
O primeiro bloco temático, intitulado Sobre crenças e ritos, reúne reflexões sobre aspectos da religião medieval em cinco capítulos. Os artigos É possível uma história religiosa da Idade Média?, A noção de sagrado e sua aplicação à história do cristianismo medieval e Problemas do mito no Ocidente medieval pretendem problematizar os conceitos de “religião”, “sagrado” e “mito” respectivamente, a fim de apresentar as precauções metodológicas na aplicação de tais categorias na pesquisa em História Medieval. Em A crença na Idade Média e Sobre o bom uso do Credo, Jean- Claude Schmitt analisa os sistemas de classificação e os modos de produção e difusão das crenças legítimas, destacando a posição da Igreja nesses processos.
A segunda parte, Tradições folclóricas e cultura erudita, é composta por quatro textos. O capítulo inicial desse bloco, As tradições folclóricas na cultura medieval, apresenta as principais abordagens nos estudos sobre o “folclore” para, em seguida, delimitar os problemas e os princípios de análise para investigações a respeito do tema na sociedade feudal. Os três artigos subsequentes consideram tradições folclóricas medievais diversas.
O sujeito e seus sonhos é o título do terceiro bloco, que abarca três escritos. No primeiro, A “descoberta do indivíduo”: uma ficção historiográfica?, Schmitt parte de uma revisão historiográfica da tese do “nascimento do indivíduo” no século XII para compreender o conceito medieval de “pessoa”. Os dois capítulos seguintes, Os sonhos de Guibert de Nogent e O sujeito do sonho, têm como objeto as atitudes e teorias medievais a respeito do sonho.
A quarta e última parte do livro, O corpo e o tempo, reúne cinco capítulos. Em O corpo doente, corpo possuído, aborda as concepções medievais a respeito do corpo doente. O corpo na Cristandade também debate questões concernentes à corporeidade, considerando três aspectos: o corpo do homem individual, o corpo divino e o corpo social. No artigo Tempo, folclore e política no século XII, Schmitt relaciona as representações do tempo e ideologia a partir da obra do clérigo Walter Map. No capítulo seguinte, Da espera à errância: gênese medieval da Lenda do Judeu Errante, o medievalista francês aborda o tema literário moderno de um judeu que perambula o mundo desde que testemunhou a crucificação, argumentando que sua origem remonta a lendas do século XII. O texto que encerra o volume, A apropriação do futuro, estuda a maneira como os medievais percebiam o seu futuro.
A partir da leitura dos artigos de O corpo, os ritos, os sonhos, o tempo, constatase o compromisso de Jean-Claude Schmitt com o rigor teórico-metodológico ao estudar a cultura medieval, independentemente do objeto que proponha.
Tanto nas abordagens de recorte espaço-temporal mais abrangentes, quanto nas análises de corpus documentais mais restritos, o autor tenta delimitar com a maior precisão possível o campo conceitual. Dessa forma, demonstra a relatividade das categorias que compõem nossa própria percepção do mundo, apresentando como na Idade Média elementos como o corpo, o sonho ou mesmo o futuro eram concebidos de outra maneira.
Esse esforço é empreendido recorrendo principalmente à Antropologia, tal como anunciado no subtítulo e no prefácio. Sendo o livro ora resenhado uma compilação de parcela considerável da produção de Jean-Claude Schmitt, sua publicação em português consiste numa oportunidade ímpar para que os medievalistas brasileiros possam aprofundar seu contato com a obra do autor.
Notas
2 Escrito em parceria com Giovanni Levi.
3 Em dois volumes. Organizado em parceria com Jacques Le Goff.
4 Apesar da editora informar em seu site oficial que o livro foi lançado em 2015, na ficha catalográfica indica 2014 como ano de publicação.
5 O artigo mais antigo data de 1976 e o mais novo, 2000. No total, dois textos foram escritos na década de 1970, oito na década de 1980, cinco na de 1990 e dois em 2000.
Referências BURKE, Peter. A escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da historiografia.
São Paulo: UNESP, 1997.
SCHMITT, Jean-Claude. O corpo, os ritos, os sonhos, o tempo: ensaios de antropologia medieval. Petrópolis: Vozes, 2014.
Bruno Uchoa Borgongino – Doutorando – Programa de Pós-Graduação em História Comparada – Instituto de Historia – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Largo de São Francisco de Paula, 1, CEP: 20051-070, Rio de Janeiro – RJ, Brasil. Professor e pesquisador – Universidade Estácio de Sá, campus Cabo Frio – Rod. Gen. Alfredo Bruno Gomes Martins, s/n, lote 19, CEP: 28909-800, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil. Bolsista CAPES. E-mail: uchoa88@gmail.com.
[IF]A História deve ser dividida em pedaços? – LE GOFF (FH)
LE GOFF, Jacques. A História deve ser dividida em pedaços? São Paulo: Editora UNESP, 2015. Resenha de: COPPES JÚNIOR, Gerson Ribeiro. Forjando o historiador: periodização e longa Idade Média. Faces da História, Assis, v.2, n.2, p.202-206, jun./dez., 2015.
O falecimento de Jacques Le Goff, em abril de 2014, foi tão impactante quanto a morte de Eric Hobsbawm dois anos antes. Com a partida de Le Goff, abria-se uma lacuna, um vazio nos estudos medievais daquele que foi um dos seus escudeiros mais fiéis na luta contra as sombras que insistiam em ser colocadas sobre esse período; assim como no campo metodológico, onde a perda não fora menor para os fundamentos da teorização da chamada História Nova.
O último livro de Le Goff – A História deve ser dividida em pedaços?2 – mostra, nas palavras do autor, um “livro-percurso” que atravessa sua trajetória como historiador. As indagações as quais Le Goff se propôs a investigar seriam como a emergência de uma mundialização, implicando nos questionamentos da noção de periodização ou da ação do homem sobre o tempo.
Se o recorte do tempo em períodos é importante para a História, deve-se levar em consideração que esses recortes não são neutros e, além disso, são objetos de disputa. Desta forma, para compreender as vicissitudes da periodização – sua necessidade ou não, remetendo à pergunta-título – Le Goff examinou as motivações que estiveram presentes na formação de dois períodos, a Idade Média e o Renascimento.
Apesar das diferentes tentativas de periodização que se seguiram até o século XV, a noção de Idade Média como período singular só surgiria entre os séculos XIV e XV, quando certos grupos de escritores e poetas, principalmente na Itália, pressupunham viver em um período distinto e novo e precisavam definir um nome para o período do qual apontavam estar saindo.
Mesmo que o primeiro autor a utilizar o termo “Idade Média” tenha sido Petrarca no século XIV, seu uso não seria corrente até o século XVII e, assim, iniciou-se também sua associação a um tempo sombrio, visto claramente como exemplo na tradução da expressão para o inglês britânico – Dark Ages.
Seria necessário percorrer até o século XIX para que tal conotação negativa fosse desvinculada e se tornasse possível vislumbrar um período brilhante. No século XX, Marc Bloch e os Annales perseguiram de forma semelhante uma época com seus brilhos e sombras. No entanto, o aspecto negativo resistiu a essas tentativas de rever esse período sob uma perspectiva diferente.
A construção de uma visão negativa da Idade Média, para Le Goff, expõe como a periodização da História não era e não é um processo neutro e passível de modificações conforme o decorrer do tempo. A própria noção de Renascimento seria um exemplo desses aspectos de construção/reconstrução, visto que o termo não existia antes do século XIX e demorou a ser imposto sobre a Idade Média.
Da mesma forma, a noção de Antiguidade que, na Idade Média, referia-se somente à Grécia e a Roma, se transforma, posteriormente, nesse processo que emerge no período medieval conveniando, atualmente, em chamar de Antiguidade Tardia o período datado do século III ao VII, marcando nessa transição para a Idade Média uma transformação longa e dinâmica.
A necessidade de fracionar a História surgia em função de sua própria evolução como saber particular e matéria de ensino. Se os monges e cronistas prefiguravam um saber histórico, os progressos da erudição na análise das fontes no século XVII indicavam uma “revolução” do método. O amor pela verdade passava pela análise da prova, pois a construção de periodizações baseava-se em estabelecer uma verdade histórica.
A História como matéria de ensino, no entanto, só surgiria como tal no século XVIII e XIX e ainda presa a exemplos morais ligados a noção de historia magistra vitae. A evolução do ensino de História durante o século XIX refletia duas preocupações: manter a religião e tomar consciência da nação. A transformação da História em matéria de ensino levou à sistematização em períodos que tornasse capaz captar seus pontos de alternância. E nesse aspecto, durante o século XIX, ressurge a oposição entre Idade Média Obscura e Renascimento das Luzes.
Nos capítulos Nascimento do Renascimento e O Renascimento Atualmente, Le Goff continua sua análise agora buscando a invenção dessa expressão para denotar um período singular, o Renascimento, e como o período foi abordado pelos seus teóricos durante o século XX.
Se a expressão Idade Média surge com Petrarca, no século XIV, também surge com ele a noção de um novo período em oposição a um anterior, para a qual seria designada uma expressão própria somente no século XIX.
Na História da França de 1833, Jules Michelet apresentava uma visão positiva de Idade Média como período de luz, criação. No entanto, no decorrer de sua trajetória a Idade Média, que atuava como um “espírito materno” se tornava longínqua, distante, uma inimiga. Se até aquele momento não havia o hábito de se dividir a História em períodos, com exceção da divisão entre “antigo” e “moderno”, e a adição do tempo mediano, “medieval”, criado por Petrarca, Michelet cunhou o Renascimento com maiúsculo como um movimento distinto na História oposto ao obscurantismo do período medieval.
No século XX, Le Goff aponta que o discurso enaltecedor do Renascimento, que atravessou o século XIX, continuou com nomes como Eugenio Garin, Erwin Panofsky e Jean Delumeau. Eugenio Garin apontava que a maioria dos historiadores do século XX havia reavaliado a Idade Média e rebaixado o Renascimento. Portanto, ele buscava em seus trabalhos destruir essas “catedrais de ideias” sobre o período medieval. Garin enunciava duas ideias centrais na análise da relação entre Idade Média e Renascimento: a Itália como centro e coração do Renascimento; e o novo homem que ela forma reunindo nesse território todos os conflitos dessa época. Erwin Panofsky apontava ainda para uma pluralidade de renascimentos precursores e Jean Delumeau apontava que dois aspectos que faziam do renascimento um período completo eram a descoberta da América e a circum-navegação mundial.
Nos capítulos A Idade Média se torna “os tempos obscuros” e A longa Idade Média, as visões sobre o Renascimento são confrontadas com a construção em torno de uma Idade Média como período de trevas. Le Goff busca a construção uma nova visão sobre esse período. Se a necessidade de acessar a Antiguidade levou ao desprezo dos humanistas de um dito Renascimento pela Idade Média, que teriam ignorado esse período, Le Goff se põe a apontar o inverso, como a Idade Média se apropriou e deu continuidade a certos aspectos da Antiguidade.
Entre o século XV e XVIII a ideia de uma Idade Média ligada às trevas era associada a um recuo da racionalidade dando lugar ao sobrenatural. Porém, a racionalidade se entremeou de certa forma na teologia chegando a transformá-la em ciência no século XIII. Apesar da periodização de Santo Agostinho – os seis períodos na História como metáfora para as seis idades do homem – ter prevalecido, existiam clérigos que discordavam da ideia de que o “mundo envelhece” e se reconheciam como “modernos”.
Le Goff frisava, contudo, a dificuldade do uso do termo moderno durante a Idade Média, pois poderia ter um sentido tanto laudatório quanto pejorativo por essa concordância/discordância com o envelhecimento do mundo. A noção de moderno era incompatível com a finitude das seis idades.
Para Le Goff, o renascimento intelectual do século XII, cujas mudanças levaram esses clérigos a flertarem com a concepção de moderno, foi conservado sob uma zona cinzenta. A escolástica continuou como objeto principal da crítica e rejeição dos letrados entre os séculos XVI e XVIII, como Voltaire, que apontava que a teologia escolástica era uma filha bastarda de Aristóteles.
Apesar da reabilitação da Idade Média no século XIX, Ernest Renan ainda apontava a escolástica como barreira para o delicado; os homens e mulheres medievais ainda eram bárbaros. Desta forma, Le Goff delineava uma Idade Média multifacetada e também apontava, como contraposição, que certos aspectos atribuídos a esse período estavam localizados, temporalmente, no Renascimento, como os pogroms, a inquisição e os movimentos milenaristas.
No capítulo A Longa Idade Média, Le Goff retoma sua tese e intenta provar que não haveria mudança fundamental durante o século XVI e XVIII que justificasse a separação entre Idade Média e Renascimento, um período novo. O historiador visa a apontar as continuidades do período medieval no mundo “moderno” e, assim, apesar da descoberta da América, em 1492, ser apontada por Delumeau como ponto característico da singularidade do Renascimento, Le Goff expõe que a América só se tornaria interlocutor da Europa após as Independências entre o fim do século XVIII e XIX. Não existia um mundo unificado, mas territórios do mundo.
As carestias na área agrícola foram frequentes desde o século X até o século XVIII e a alimentação europeia foi primordialmente vegetal até o século XVIII. O século XVI foi um período marcado pelas guerras de religião e o cristianismo é majoritário até o século XVIII. Apesar do assassinato de Carlos I, em 1649, na Inglaterra, a monarquia francesa conservou-se até o século XVIII.
Se Cristóvão Colombo descobre a América em 1492, ele ainda era um homem da Idade Média, pois sua preocupação consistia em trazer aos pagãos/indígenas todos os preceitos e fundamentos condizentes à doutrina e à fé cristã. Nisso, Le Goff indaga se no prolongamento do período medieval o que é mais importante: as continuidades ou as rupturas? Desta forma, para Le Goff, a Idade Média só se encerraria com o advento da indústria moderna e das enciclopédias. O Renascimento do século XV e XVI é, portanto, encarado como o último renascimento dessa longa Idade Média prenunciando os tempos modernos.
No último ensaio, Periodização e Mundialização, Le Goff tenta voltar à ideia inicial do texto, de entender como a mundialização implicava no questionamento da noção de periodização. Para o autor, a periodização se torna indispensável para o historiador compreender o tempo tendo em vista que a própria periodização seria a necessidade do homem de agir sobre o mesmo. A mundialização causaria essas questões em torno do tempo, das continuidades, rupturas, dos modos de pensar a História. A periodização seria deste modo, o meio encontrado por Le Goff de problematizar essas questões, esclarecendo como a humanidade se organiza e evolui no tempo. Desta forma, a História deveria sim ser dividida em partes.
Le Goff, em A História deve ser dividida em pedaços?, retoma problemas que já haviam sido expostos no livro Uma Longa Idade Média (2008) evidenciando como o conceito de longa Idade Média se desenvolveu nos trabalhos do autor a partir da década de 1980. Os problemas levantados por Le Goff durante sua pesquisa em torno da extensão temporal da Idade Média encontraram certa continuidade em alguns historiadores.
Jerome Baschet, no livro A civilização feudal (2006), prefaciada por Le Goff, ampliava o conceito de longa Idade Média, utilizando-a para analisar uma “herança medieval” no México durante a colonização. No tópico intitulado “Periodização e longa Idade Média”, Baschet defende que a Idade Média seria um antimundo, um mundo de tradição oposto ao moderno, e essa imagem oposta só seria possível pela ruptura representada pela Revolução Industrial, e não pelo Renascimento. O estudo da Idade Média seria, então, um exercício de alteridade.
A obra A História deve ser dividida em pedaços? poderia ser vista, como questiona Virginie Tournay, como um testamento intelectual? (2014). O esforço de Le Goff para situar suas obras na historiografia já estava presente desde os anos 2000, como em Uma Longa Idade Média. Este livro poderia ser visto como a última peça dessa construção de sua trajetória, durante a qual, Le Goff, de próprio punho, visava à agregação de todas essas discussões que manteve, reforçando os caminhos tomados durante sua carreira e um esforço próprio do autor de se autoperiodizar.
Notas
2 Livro originalmente lançado em fevereiro de 2014, na França, sob o título Fault-il vraiment découper l’historie em tranches?, publicado no Brasil pela Editora UNESP, em 2015.
Referências
BASCHET, Jerome. A Civilização Feudal: do Ano Mil à Colonização da América. São Paulo: Editora Globo, 2006.
LE GOFF, Jacques. A História deve ser dividida em pedaços? São Paulo: Editora UNESP, 2015.
________. Uma longa Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
TOURNAY, Virginie. Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches?Lectures [online], Lescomptesrendus, 2014. Disponível em: <http://lectures.revues.org/15220>acesso em: 09 de novembro 2015.
Gerson Ribeiro Coppes Júnior – Mestrando em História – Programa de Pós-graduação em História – Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP – Univ. Estadual Paulista, Campus de Assis – Av. Dom Antonio, 2100, CEP: 19806-900, Assis, São Paulo – Brasil. Bolsista CNPq. Este trabalho é resultado de pesquisa desenvolvida no âmbito do Projeto Temático “Escritos sobre os Novos Mundos”, financiado pela FAPESP. E-mail: gersoncoppes@ hotmail.com.
[IF]Alegrias engarrafadas: os álcoois e a embriaguez na cidade de São Paulo no final do século XIX e começo do século XX – CAMARGO (FH)
CAMARGO, Daisy de. Alegrias engarrafadas: os álcoois e a embriaguez na cidade de São Paulo no final do século XIX e começo do século XX. São Paulo: Editora Unesp, 2012. 220p. Resenha de: BOTARO, Luis Gustavo Martins. Faces da História, Assis, v.1, n.2, p.223-228, jul./dez., 2014.
Nos últimos anos têm crescido o número de pesquisas e trabalhos acadêmicos que envolvem a cidade e o espaço urbano enquanto objeto de reflexão1. Sob diversos aspectos, as cidades são discutidas enquanto pano de fundo de disputas políticas, relações sociais e culturais em distintos momentos históricos. Entre essas diferentes perspectivas de análise, há de se destacar o enfoque sob uma abordagem cultural, por meio das representações criadas sobre o urbano, despertando a atenção dos pesquisadores. Sendo assim, a pesquisa de doutorado da historiadora Daisy de Camargo, publicada, em livro, em 2012, aborda os espaços, materiais e práticas da embriaguez da cidade de São Paulo na virada do século XIX para o século XX. A pesquisa perpassa as transformações e reformas urbanas da cidade naquele período que atingem, também, o cotidiano, modos e costumes da população.
Seu objetivo geral é compreender o consumo de bebidas alcoólicas na cidade de São Paulo, os espaços onde as mesmas eram consumidas, as relações sociais nesses locais, os gestos e práticas da embriaguez. As analogias desses espaços e práticas com as propostas e reformas urbanas para a cidade de São Paulo: a emergência de uma nova dinâmica urbana que ganha vida com as transformações urbanas desejadas de um lado e, por outro, as interferências e controle dos espaços onde se comercializava e consumia as bebidas alcoólicas, no cotidiano e nas práticas daqueles que frequentavam esses locais da embriaguez.
Daisy de Camargo, atualmente, dedicou-se à história material e das sensibilidades. Produziu seu texto a partir do gênero narrativo, mas sem abandonar os conceitos e a linguagem acadêmica. Tratou sobre as reformas urbanas da cidade de São Paulo na virada do século, tema muito explorado pelos pesquisadores. Contudo, o diferencial de sua obra são os personagens e as fontes com os quais ela dialogou.
Leitora de Walter Benjamin e de Baudelaire, a autora destaca que o trabalho do historiador é selecionar os cacos do passado e, nesse processo, exercer uma ressignificação do mesmo. Esse processo se dá a partir do cruzamento de distintos registros históricos, ou seja, a partir da seleção de símbolos elaborados por homens num determinado tempo histórico. Para representar suas experiências, o historiador estabelece um diálogo dele com os “trapos” do passado e, nesse processo, reelabora-o e ressignifica-o. A autora também utiliza, como aporte metodológico, a micro-história, proposta por Carlo Ginzburg, visto que, ao tratar sobre os “retalhos” do passado, os dados marginais são considerados reveladores e permitem levar a um quadro histórico mais profundo (CAMARGO, 2012, p.16).
Para composição desses vestígios do passado, a autora utilizou uma gama heterogênea de fontes históricas. Vale ressaltar os documentos produzidos por instituições do Estado como: relatórios dos chefes da polícia, inquéritos policiais, inventários de bens post-mortem, plantas das cidades e dos espaços em que se comercializava e se consumia bebidas alcoólicas. Camargo também utilizou, em seu trabalho, os romances de memorialistas, jornais da época, imagens como pinturas, fotografias e caricaturas.
Com as fontes e a metodologia definida, Daisy de Camargo dividiu o seu trabalho em duas partes: num primeiro momento, a autora elencou os espaços de venda e consumo das bebidas alcoólicas, como os armazéns de secos e molhados, as tabernas e quiosques. Mapeando todos os locais onde se encontravam tais estabelecimentos, como, por exemplo, a Rua Esperança, um dos principais pontos de embriaguez, posteriormente “engolido” pelas reformas urbanas da cidade de São Paulo. Numa segunda etapa, a autora retratou os agentes sociais da ebriedade, a perseguição aos seus costumes e a restrição à embriaguez, bem como algumas imagens que possibilitam uma leitura crítica sobre suas práticas.
Um dos objetivos de Daisy de Camargo foi escrever uma história material da embriaguez, na cidade de São Paulo, na virada do século XIX para o XX. Sendo assim, a partir de inventários post-mortem, a autora conseguiu reconstruir os espaços das tavernas: a variedade de tipos de bebidas para diferentes ocasiões, os distintos objetos para o consumo de álcool, copos de tamanhos variado sendo cada qual para um tipo específico de bebida. Ainda sobre os materiais que compõe um espaço da ebriedade e sociabilidade, Camargo destacou os móveis (como o balcão, mesas, cadeiras e bancos) que podem ser, constantemente, rearranjados segundo os interesses de cada grupo e a ocasião. Além de espaços para a venda e consumo de álcool, Daisy de Camargo ressalta que, em alguns casos, tavernas eram, também, locais de produção de bebidas, fazendo alusão a alguns materiais e produtos descritos nos inventários, como pequenos alambiques e rótulos de bebidas.
Baseada nos registros de memorialistas, nos códigos de postura e na imprensa paulista, a autora identificou que, em meados de 1850, já havia uma preocupação das autoridades públicas na fiscalização das tavernas e tascas da cidade de São Paulo. Segundo a autora estes locais eram representados como ambientes sem as condições mínimas de higiene, espaços de baixa moralidade, de vícios e da embriaguez, frequentado por gente de toda sorte, entendidos enquanto desqualificados (CAMARGO, 2012, p. 58-65).
Uma das consequências da fiscalização sobre as tavernas e tascas da cidade de São Paulo, por exemplo, foi o “desaparecimento” nos almanaques de tais estabelecimentos comerciais, ou seja, a categoria de “tavernas” ou “fábricas e destilação”2. Entretanto, não significava um desaparecimento efetivo, devido à perseguição, mas a mudança da designação que o caracterizava, passando a ser denominado por “armazéns de secos e molhados”. A fiscalização e atenção do poder público, nos anos subsequentes, ganhou ainda mais força, concomitante com os ideais de higiene, moralidade, racionalidade, modernidade e progresso desejados pela elite para toda a sociedade paulistana.
Entre os últimos anos do século XIX e início do século XX, a perseguição às tavernas e tascas na cidade de São Paulo desencadeou a construção de outros espaços para a venda e consumo de álcool. Dentre eles, os quiosques, de propriedade, em sua maioria, de imigrantes ou descendentes de portugueses3. Construído de estruturas pré-fabricadas e importado da Europa, esses estabelecimentos, inicialmente, eram símbolos da modernidade, por sua padronização e identificação com os quiosques da cidade de Paris (CAMARGO, 2012, p. 74-75). Entendido, pela autora, como espaço de lazer, os quiosques eram frequentados por negros forros e brancos pobres e seus hábitos não eram compatíveis com as condutas discutidas e que passariam a ser incorporadas no espaço urbano.
Devido ao número de reclamações nos jornais, frente a tais locais do prazer e sociabilidade, bem como a fiscalização movida pelos ideais modernizadores dos espaços e costumes, os quiosques desapareceram com as reformas urbanas dirigidas pelos prefeitos Antônio Prado e Barão de Duprat. Nesse processo, no lugar desses espaços da embriaguez, ergueram-se cafés luxuosos, restaurantes, lojas e vitrines com suas novidades, num movimento de cosmopolitismo da cidade. Assim sendo, foi possível apontar o desaparecimento desses espaços de baixa moralidade no centro da cidade, assim como aqueles que os frequentavam. A autora considerou que os quiosques no Brasil foram um exemplo da ressignificação da modernização urbana: enquanto na Paris de Haussmann os quiosques foram símbolos da modernidade, no Brasil, devido a anterior perseguição às tavernas, tornaram-se locais de venda, consumo de álcool e da sociabilidade daqueles marginalizados na sociedade.
Daisy Camargo apontou outro espaço de sociabilidade, venda e consumo de álcoois no início do século XX: os cabarés. A autora analisou esses espaços por meio do romance Madame Pommery, de Hilário Tácito, escrito nas primeiras décadas do século XX. Diferente da rusticidade das tascas e tavernas, os cabarés eram locais luxuosos, ornamentados, um misto de restaurante, hotel e bar. Gerenciados, em sua maioria, por mulheres, esses locais eram frequentados por coronéis vindos do interior, que encontravam diversão nos jogos de azar, o prazer no consumo de bebidas alcoólicas e nas prostitutas que ali frequentavam (CAMARGO, 2012, p. 86). Consumia-se, além das bebidas comuns das tavernas, o haxixe, a cocaína e a champanhe, esta, por sua vez, entendida como uma bebida do ser urbano que se pretendia civilizado e interligado à cultura francesa.
De acordo com a autora, os cabarés que emergiam no centro da cidade, enquanto manifestação de outras formas de embriaguez e prazer eram “traduções do luxo das tavernas” (CAMARGO, 2012, p. 87), mas que não deixaram de ser perseguidos devido à conduta daqueles que os frequentavam, sendo visto como um espaço do vício e da imoralidade. Esses locais também sofreram as consequências das reformas colocadas em prática nas primeiras décadas do século XX, desaparecendo para que em seu lugar se constituísse o alargamento das ruas e a construção de prédios públicos, teatros, praças, cafés, restaurantes luxuosos, ou seja, espaços condizentes com os anseios da elite. Para a autora, além do desaparecimento dos cabarés, tascas e tavernas do centro da cidade, esse fenômeno era acompanhado da exclusão daqueles que frequentavam tais espaços, um controle do Poder Público em relação ao prazer, aos costumes e práticas de determinados segmentos ainda mais marginalizados da sociedade, que buscavam, a sua maneira, resistir e buscar seus espaços num ambiente em constante transformação.
Por meio de processos criminais, a autora conseguiu identificar as apreensões que tinham como justificativa a embriaguez. Na maioria dos casos, os “infratores” eram brancos pobres, estudantes, imigrantes pobres e negros, que além de serem acusados de embriaguez, logo, eram associados a “vadiagem” (CAMARGO, 2012, p. 96-102; 132-133). Para os homens das leis, com formação em Direito, a embriaguez era associada à vadiagem, sendo que o ébrio era classificado como um perigo social, com propensão a cometer delitos, a tumultuar a ordem pública e a falta de interesse ao trabalho, na contramão do que era desejado.
Todavia, nos testemunhos daqueles que eram aprendidos, em sua maioria, afirmavam exercer algum tipo de atividade, como lavadeiras e carregadores de bagagem nas estações de trem, por exemplo. Segundo Daisy de Camargo, havia um desprezo do poder público e da sociedade sobre aqueles que exerciam trabalhos informais, sem normas e regras pré-estabelecidas, considerados, assim, vadios aqueles que não se sujeitavam ao expediente convencional.
O conhecimento racional, baseado nos preceitos da ciência, que dominavam as instituições públicas do Brasil e da cidade de São Paulo, na virada do século XIX para o XX, transformou o ébrio num personagem da anticonduta. Os pensamentos sobre a saúde e a moral, discutidos por sanitaristas e pelos homens das leis, defendiam a necessidade de conscientização e disciplinarização das camadas mais pobres da sociedade, para criar bons hábitos e educação sanitária, nesse sentido, passaram a associar o uso do álcool com a degeneração física e moral. Segundo a autora, observa-se uma transformação na figura do ébrio, antes representado por aquele, que sob os efeitos do álcool, tinha atitudes engraçadas, com as vestimentas desarrumadas, postura inclinada, com tom de voz elevado e altas gargalhadas, passando a ser entendido enquanto indivíduo que pode vir a cometer delitos, que se tornou uma desgraça à família e ameaça aos padrões que a sociedade buscava consolidar. Cria-se, portanto, uma nova doença: o alcoolismo, difundido pela medicina e que relacionava a bebida à imoralidade, à degeneração física e moral.
O movimento de proibição do uso de álcool, por ações de conscientização da população, por meio de panfletos, educação sanitária e prisões foi entendido, pela autora, como um controle e cuidado do indivíduo, buscando o cuidado com a toda a sociedade. A regulação do uso do álcool está associada a um controle anímico do corpo, numa ânsia de orientação dos sentidos sobre o argumento da defesa do coletivo.
Em suma, Daisy de Camargo faz uma relação entre as reformas urbanas da cidade de São Paulo, que iniciaram ainda no período imperial, mas que ganharam ímpeto com o governo republicano e os espaços de venda e consumo de álcool. Por meio de uma variedade de fontes históricas, a autora alcançou as experiências, as práticas de consumo, a organização interior e a sociabilidade nas tavernas, cabarés e quiosques da cidade. Cada qual com uma temporalidade e experiência de seu tempo, enfrentavam e resistiam aos ideais que acompanhavam a virada do século, sob os preceitos da Medicina, Engenharia e do Direito.
Portanto, a autora, além de conseguir perpassar pela história social e material da ingestão de álcoois, conseguiu reconstruir as práticas do consumo, a perseguição e controle do indivíduo e suas formas de prazer e diversão que, por sua vez, não estavam em consonância com os valores e princípios desejados para a cidade que se modernizava.
Com uma narrativa fluida e envolvente, Daisy de Camargo propõe uma análise consistente sobre um tema bastante discutido na historiografia: a modernização da cidade de São Paulo. Dentro da perspectiva da história cultural e social, a autora abordou o assunto a partir da questão da embriaguez e do prazer, por meio de uma variedade de fontes que possibilitou dar voz a personagens marginalizados, o que tornou o trabalho ainda mais sólido e ímpar. Um livro importante e necessário àqueles que buscam novas questões e fontes para lidar com a história das cidades e dos modos de vida urbano.
Notas
1 Podemos destacar aqui alguns trabalhos, como: Nicolau Sevenko (1992), Sidney Chalhoub (1996), Sandra Pesavento (2002), Fransérgio Follis (2004), Heloísa Barbuy (2006), Marshall Berman (2007).
2 Designação encontrada pela autora sobre aqueles estabelecimentos que produziam/comercializavam bebidas alcoólicas nos almanaques sobre os estabelecimentos comerciais e industriais da cidade de São Paulo entre as últimas décadas do século XIX e início do século XX (CAMARGO, 2012, p. 44- 55; 64-65).
3 A autora analisa duas tavernas em específico, nos capítulos 1 e 2, que por sua vez, são de propriedade de portugueses.
Referências BARBUY, Heloísa. A cidade-exposição: comércio e cosmopolitismo em São Paulo, 1860-1914. São Paulo: Edusp, 2006.
BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Tradução Carlos Felipe Moisés, Ana Maria Ioratti. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte Imperia. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
FOLLIS, Fransérgio. Modernização urbana na Belle Époque paulista. São Paulo: UNESP, 2004.
PESAVENTO, Sandra. O imaginário da cidade: visões literárias do urbano – Paris, Rio de Janeiro, Porto Alegre. 2ª Edição. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2002.
SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frenéticos anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
Luis Gustavo Martins Acessar publicação original
[IF]Tempos Fraturados: cultura e sociedade no século XX – HOBSBAWM (FH)
HOBSBAWM, Eric. Tempos Fraturados: cultura e sociedade no século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 358p. Resenha de: SCHOLZ, Jonathan Marcel. Faces da História, Assis, v.1, n.1, p.225-21, jan./jun., 2014.
Em primeiro de outubro de 2012, o campo dos estudos históricos e da intelectualidade, de maneira geral, foi abalado. O falecimento do eminente historiador marxista Eric J. Hobsbawm silenciava uma das vozes mais lúcidas e críticas que o século XX havia conhecido. Aos 95 anos, Hobsbawm deixava o legado de inúmeras análises e investigações – expressas em farta produção intelectual – para uma possível compreensão da sociedade ocidental dos últimos séculos.
Após uma carreira profissional repleta de clássicos da historiografia – basta lembrarmos a tetralogia das Eras, a História Social do Jazz, Sobre história etc., – sua última elaboração intelectual foi projetada em Tempos Fraturados. Publicado no Brasil em 2013, o livro, composto por 22 textos produzidos entre 1964-2002, de algum modo, completa sua obra. Dividido em quatro partes1, Hobsbawm diz, no prefácio, que “este livro é sobre o que aconteceu com a arte e a cultura da sociedade burguesa depois que essa sociedade desapareceu com a geração pós-1914, para nunca mais voltar” (2013, p. 09).
Partindo de uma série de palestras realizadas em festivais, artigos e resenhas de livros publicados em revistas especializadas, Hobsbawm admite, no prefácio, que metade do conteúdo da obra era inédito, ao menos em inglês. Percebe-se que a própria construção do livro é diferenciada porque o primeiro item chamado de “Manifestos” é uma seção distinta à dos quatro eixos centrais do livro. Sendo considerado uma introdução às temáticas trabalhadas na obra, o intelectual marxista se debruça sobre a questão da efetividade dos manifestos atualmente. Significativos e impactantes nos séculos XIX e XX, os manifestos assumiam a forma de grandes declarações coletivas. Com a revolução tecnológica, os manifestos são, para Hobsbawm, marcados pela fluidez e caráter individual. Contendo características esparsas e confusas, perderam seus principais idealizadores de outros tempos, os partidos políticos e os movimentos sociais.
Construindo sua narrativa com o rigor e a estética que marcaram sua erudição ao longo das décadas, deve-se dizer, inicialmente, que os quatro eixos centrais da obra possuem íntimas relações temáticas. São afins e se complementam, pois são atravessadas por dois fios condutores que são a questão do desenvolvimento capitalista e a constituição da cultura burguesa na sociedade ocidental. Desse modo, amarradas por esses eixos condutores, a obra foi capaz de abarcar uma diversidade de questões e assuntos.
Tratando e entrelaçando temas políticos, sociais e/ou culturais que vão do século XIX ao XXI, nota-se que Hobsbawm, mantendo-se fiel a sua interpretação marxista, considera que a premissa do livro se insere na crítica ao paradigma capitalista, já que acredita que o desenvolvimento do capitalismo, como a própria lógica da civilização burguesa, estavam destinados a destruir seus alicerces. Por consequência, é nesse aspecto, por exemplo, que se inserem as análises de “tempos fraturados” sobre o rumo das manifestações das artes, ou, ainda, da tecnologia e da ciência.
Nesse campo prognóstico do estudo das artes, Hobsbawm afirma que, na falta de profetas profissionais, o historiador, que é o especialista do passado, pode se aventurar pelo campo da futurologia, porque o passado, o presente e o futuro formam um continuum absoluto (2013, p. 27). Ressaltando que o historiador estaria apto a se posicionar sobre o futuro, Hobsbawm abre margem para críticas, pois entra numa seara delicada para os historiadores, que estão convencionados, em grande medida, a examinar o passado e não o futuro. Vale ressaltar, aliás, que a ideia de futuro ou de porvir são características centrais da obra. Tratando principalmente das artes e da ciência, Hobsbawm dialoga com as possibilidades e incertezas do amanhã.
Notando que as artes, atualmente, mantêm uma dependência com a revolução tecnológica, o intelectual defende que o progresso da computação não acabará com o livro, bem como o cinema, o rádio, a televisão e outras inovações tecnológicas não o fizeram. Quanto à música, Hobsbawm se resume a dizer que vivemos num mundo saturado dela. Os sons nos acompanham por toda a parte. Para ele, “A sociedade de consumo parece achar que silêncio é crime” (2013, p. 32). Elaborando, em última instância, uma crítica contra com a revolução tecnológica e a sociedade de consumo, o autor considera que os próprios conceitos tradicionais de arte e cultura estão se tornando obsoletos.
À medida que trata de temas candentes da sociedade contemporânea, Hobsbawm vai justificando a ideia de tempos fraturados. Investigando um panorama amplo como, por exemplo, as consequências da alta mobilidade das pessoas (viagens, turismo, imigrações) para a cultura no mundo globalizado, o intelectual verifica a possibilidade de enfraquecimento das culturas hegemônicas. Dialogando com o multiculturalismo, o autor vai destacar a internacionalização de muitos aspectos culturais, como a culinária ou o futebol.
Ressalta, ainda, a necessidade de um programa educacional viável e que garanta certo universalismo de informações e valores culturais. Ao lembrar que o turismo transcende a experiência cultural e está se tornando importante para a economia global, Hobsbawm explica o fator econômico por trás do grande “negócio da cultura” e destaca que a cultura, quando se torna símbolo de identidade nacional ou estatal, possibilita frequentes e obscuras relações entre a política, a cultura e o mercado. Nesse rol, torna-se importante pensar que “[…] a cultura simplesmente não tem grande importância nas questões de política interna, como bem o demonstra o valor gasto pelo governo federal dos Estados Unidos nas artes e humanidades, em comparação com o valor gasto nas ciências” (2013, p. 68). Porém, deve-se ressaltar que a cultura, na forma de artes e alta cultura, possuem um significativo prestígio. Isso porque as elites dos países democráticos procuram consolidar seu status social fazendo doações para institutos e organizações culturais.
É na interconexão e no domínio de tantos temas atuais, sobretudo nessa parte inicial, que se percebe o vigor e a versatilidade intelectual de Hobsbawm. Trazendo à tona uma análise historiográfica com o característico viés marxista, a primeira seção da obra é uma reflexão muito recente e que se diferencia por seu estilo de escrita e ousadia científica das análises tradicionais dos historiadores. Consideramos que essa seção inaugural é muito peculiar na produção da obra, possivelmente em razão de ser originada de palestras realizadas em festivais artísticos.
Na parte II: “A cultura do mundo burguês”2, Hobsbawm inicia o capítulo construindo uma instigante análise sobre a emancipação política e cultural dos judeus. Analisando os impactos das contribuições judaicas, a partir do iluminismo, nas áreas das ciências, em geral. Hobsbawm salienta, além da referência aos talentos de origem judaica, a relação de “amor e ódio” destes com a Alemanha. Segundo ele, perante o êxodo e o extermínio dos judeus, durante o nazismo, a Alemanha teve decretado o fim de sua hegemonia linguística no mundo, com a língua alemã deixando de representar a língua da modernidade e das publicações eruditas que todos os acadêmicos precisavam ler.
No prosseguimento da parte II, várias temáticas ligadas pelo vínculo entre burguesia e cultura são trabalhadas. Chama-se a atenção para o debate interdisciplinar suscitado em “Destinos Mitteleuropeus”, no qual Hobsbawm vai falar do perigo que o uso de termos geográficos pode acarretar ao discurso histórico. Investigando as particularidades históricas e variantes do conceito de “Europa Central”, o autor conclui que, como termo político, é inaceitável, já que insinua, historicamente, preconceitos raciais, linguísticos e exclusões étnicas.
Em seguida, focando questões específicas sobre a consolidação da cultura burguesa durante fins do século XIX e início do XX, Hobsbawm vai discutir, sob a ótica das relações sociopolíticas, o papel cultural das mulheres burguesas, a ligação das classes médias europeias com a “Art Noveau” e, ainda, o legado deixado pela cultura burguesa. Tratando de diversas abordagens, Hobsbawm investiga desde o poder que o Estado detinha sobre a cultura e a história, como verifica a mudança do papel concebido às mulheres na virada do século XIX para o XX. Procurando abarcar vários aspectos da civilização burguesa, Hobsbawm demonstra sua capacidade de historicizar os eventos e de englobar objetos díspares, contribuindo para ampliar os conhecimentos por meio do diálogo com várias perspectivas de história. Seja na interdisciplinaridade com a geografia ou no entrecruzamento com a história de gênero, o intelectual marxista desenvolve uma reflexão que, certamente, possibilita uma maior compreensão da influência que a sociedade burguesa exerceu no Ocidente.
Na parte III da obra, “Incertezas, ciência, religião”, é proposta uma série de reflexões que abordam as relações entre a ciência, a intelectualidade, a religião e a arte com o poder. O título da seção, inclusive, evidencia a amplitude de assuntos tratados. Em “Preocupar-se com o futuro” o autor vai sondar a questão das emoções na história. Evidenciando os problemas relacionados à subjetividade destes sentimentos, Hobsbawm afirma que buscar o “estado de espírito” de uma época não serve para análise ou como estrutura de narrativa para os historiadores. Além das emoções não serem estáveis e homogêneas, existe uma complexidade em descrever como as coletividades, ou mesmo os indivíduos, compreendem ou concebem a noção de futuro, pois as pessoas têm percepções diferentes sobre o mesmo período temporal. A iminência de uma guerra ou de um novo governo, por exemplo, possibilita variados sentimentos da população. Não existe uma homogeneidade de emoções e sensibilidades no povo que autorize a se falar em um suposto “estado de espírito”. Explorando um tema multifacetado, Hobsbawm contribui, enfatizando, que a busca de sentimentos na história, sendo um método simplista, é um caminho seguido por alguns literatos, mas não é o adequado para as interpretações dos historiadores.
Na mesma perspectiva, o autor esboça comentários sobre a ciência. Tratando da relação de cientistas (do setor de química e ciências biológicas) com a política, o autor desloca-se para uma área desconfortável e que, frequentemente, não estimula os historiadores. Em “Ciência: função social e análise do mundo” Hobsbawm explora a vida e as contribuições científicas do fundador da moderna biologia molecular, John Bernal. Inserindo o personagem/objeto em seu lugar social, Hobsbawm mostra como o deslocamento da para a vida de um ativista político que colocou a lealdade ao partido comunista (e a ligação com o stalinismo) acima da consciência científica.
Em “Os intelectuais: papel, função e paradoxo”, o autor concentra a atenção na trajetória do papel social dos intelectuais. Notando uma crise de valores e perspectivas no século XXI, no qual se abandonou a velha crença no progresso global da razão e da ciência, Hobsbawm se questiona “Como pode a antiga e independente tradição crítica dos intelectuais dos séculos XIX e XX sobreviver numa era de irracionalidade política, reforçada por suas próprias dúvidas sobre o futuro?” (2013, p. 234). À vista disso, como se nota, o papel representado na sociedade pelos intelectuais e cientistas também foi preocupação do historiador marxista em “tempos fraturados”. Estabelecendo um paralelo entre cientistas que se posicionaram de modo político e público na década de 30, Hobsbawm pensa, posteriormente, sobre a atuação do intelectual e cientista no século XXI. Ou seja, exercendo uma erudição apurada, Hobsbawm incorpora, dialeticamente, a questão dos cientistas em duas temporalidades distintas, observando que os cientistas/intelectuais do século XXI se diferenciam de seus homólogos do século XIX porque vivem num período de incertezas políticas e descrenças ideológicas.
De acordo com a abrangência de temas inqueridos, em “A perspectiva da religião pública” é delineada uma análise sobre a religião enquanto força política. Pensando no contraponto entre a crescente secularização e a ascensão de ideologias radicais (direitistas) dentro da religião na segunda metade do século XX, como o protestantismo carismático e o islamismo tradicional. Hobsbawm considera que a democratização da política revelou o embate entre a religião de massas e os governos laicos. Adentrando na análise de uma esfera (religião) que normalmente não é o foco central de suas investigações, Hobsbawm a considera em razão dos vínculos mantidos entre diferentes sistemas religiosos e os Estados no século XXI, pensando nos efeitos sociais de suas aproximações e distanciamentos.
Nos artigos finais da terceira parte retorna-se a problemática da arte. No capítulo dezoito, “Arte e Revolução”, Hobsbawm estabelece uma ligação contínua entre artistas de vanguarda com os partidos de extrema esquerda. Focalizando a atuação dos artistas na Rússia revolucionária, o autor reconhece os atritos existentes entre a vanguarda e o partido comunista, o qual, sob a tutela de Stalin, submetia, progressivamente, o referido grupo ao poder soviético. Na mesma perspectiva, “Arte e poder” discute as relações sociopolíticas (historicamente construídas) por meio desses dois eixos. Afirmando que a arte é usada para reforçar o poder dos governantes e de Estados desde o Egito antigo, Hobsbawm investiga as demandas básicas que o poder costuma fazer à arte, situando o recorrente confronto público entre Estados e artistas. Por consequência, lembrando que no período entre guerras, Hitler, Stalin e Mussolini mantinham um ferrenho controle sobre as artes, o intelectual verifica que houve um declínio de realizações culturais em tais países.
Na parte final (IV) “De arte a mito” dois artigos completam a obra. Primeiro, “O artista se torna pop: Nossa cultura em explosão” é uma reflexão sobre a influência e intervenção – a qual, consequentemente, engendra perigos – que o progresso tecnológico exerce nas artes contemporâneas. Afirmando que aceitar a sociedade industrial não significa aprová-la, Hobsbawm se pergunta como podemos melhorar o que é produzido pelo movimento cultural. Finalizando a obra, “O caubói americano: um mito internacional?” é uma análise sobre as (re) apropriações que a figura do caubói impulsionou na cultura e na sociedade estadunidense. Indicando que os caubóis refletem os mitos e as realidades das sociedades a que pertencem, Hobsbawm percebe que o personagem americano, absorvendo a tradição original do Oeste, possui uma dupla função de conteúdo social, que representava primeiro, o ideal de liberdade individualista, quando no fechamento das fronteiras, e, segundo, a defesa do americano nativo branco, anglo-saxão e protestante. Hobsbawm encerra afirmando que o caubói reinventado como mito, sobretudo pelo governo Ronald Regan, revela, além de um legado perigoso de segregação e racismo anti-imigrante, o âmago de uma sociedade ultraindividualista.
Portanto, a obra final de Eric J. Hobsbawm expressa o espírito crítico e elucidativo de uma intensa carreira intelectual. Apesar de se constituir em um desafio avaliativo, já que reúne temas tão díspares, mas que são ligados nevralgicamente pelas noções de desenvolvimento capitalista e revolução tecnológica, a obra é uma coletânea de textos que trata da complexidade sociopolítica que o século XXI representa para a humanidade. Constituindo-se, também, enquanto uma história do tempo presente, “tempos fraturados” combina elementos inéditos (reflexão sobre as artes na atualidade) com objetos clássicos da obra de Hobsbawm (burguesia e questões políticas). Levantando novas questões, como a da influência dos judeus, do uso de termos geográficos na história ou do caubói estadunidense, o autor desvela novas possibilidades de estudo, que dão uma originalidade característica à obra.
No entanto, deve-se reiterar que, devido à estrutura do livro, que amalgamou artigos heterogêneos, muitas vezes derivados de palestras, e que foram escritos em diferentes momentos da carreira de Hobsbawm, a obra não conta com um espaço específico para as considerações finais. As conclusões do autor, que assumem características de apontamentos sugestivos, são elaboradas de maneira individualizadas ao final de cada texto.
Por fim, vale ressaltar que sua última produção contribui para o amadurecimento da historiografia contemporânea que trabalha, principalmente, com as questões da arte e da cultura. Mostrando um rol de possibilidades temáticas, Hobsbawm sinaliza que a história, apesar da investigação convencional do passado e das possibilidades de prognosticar o futuro, sempre parte das preocupações do presente. Desse modo, reforçando sua influência marxista em suas interpretações históricas, “Tempos fraturados” é digno do peso historiográfico que Hobsbawm exerceu e representou na intelectualidade ocidental durante o período que ele chamou de “breve século XX”.
Notas
1 Nomeadas como: 1 – Manifestos; Parte I: “A difícil situação da ‘cultura erudita’ hoje”; Parte II: “A cultura do mundo burguês hoje”; Parte III: “Incertezas, ciência, religião”; Parte IV: “De arte e mito”.
2 Parte composta de sete artigos. São eles: “Iluminismo e conquista: a emancipação do talento judeu depois de 1800”; “Os judeus e a Alemanha”; “Destinos Mitteleuropeus”; “Cultura e gênero na sociedade burguesa europeia de 1870-1914”; “Art Noveau”; “Os últimos dias da humanidade” e “Herança”.
Jonathan Marcel Scholz – Graduado em Licenciatura Plena de História pela Universidade Estadual do Centro – Oeste – UNICENTRO, Guarapuava-PR. Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). E-mail: johnnypeavy@hotmail.com.
[IF]Faces da História | UNESP | 2014
A Revista Faces da História (Assis, 2014-), exclusivamente eletrônica, tem por finalidade publicar artigos originais e inéditos, traduções, resenhas e entrevistas relacionadas aos estudos na área da História e das Ciências Humanas e Sociais. A revista aceita trabalhos submetidos por alunos de mestrado e de doutorado, bem como doutores e professores. Os trabalhos poderão ser redigidos em português, espanhol, inglês e francês. A qualquer tempo, a critério do Conselho Editorial, a revista poderá publicar números especiais. As diretrizes para autores encontram-se no campo que trata das submissões (clique em sobre e depois em submissões).
A revista não possui fonte de financiamento e é produzida a partir do trabalho voluntário dos discentes do programa de Pós-Graduação em História da UNESP de Assis.
Periodicidade semestral (junho e dezembro).
Acesso livre
ISSN 2358-3878
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos




