Posts com a Tag ‘Epistemologia’
Giambattista Vico and the new Psychological Science | Luca Tateo
Luca Tateo | Foto: TPGC |
 Although scholarship on Giambattista Vico’s New Science includes a wide range of approaches, it has never experienced a paradigm shift so radical that it cannot be understood within the epistemic assumptions of the Western intellectual tradition. The publication of Giambattista Vico and the New Psychological Science, edited by Luca Tateo, promises to do just that. The volume is a collection of seven essays, and it belongs to the History and Theory of Psychology series, which is edited by Jaan Valsiner. The ambitious aims of this book are elaborated in Valsiner’s fore- word, Waldomiro Silva Filho’s introduction, and Tateo’s preface and conclusion. For Valsiner, the series responds to the question, “how is psychology a science?” (vii). According to Silva Filho, this question is problematized by contemporary conflicts between “radical physicalist reductionism and the most liberal cultural relativism”—the former is the “tendency to reduce psychological processes to . . . the biochemistry of the brain” and the latter is postmodern criticism (xviii). The book’s contributors look to Vico to counter these dangers.
Although scholarship on Giambattista Vico’s New Science includes a wide range of approaches, it has never experienced a paradigm shift so radical that it cannot be understood within the epistemic assumptions of the Western intellectual tradition. The publication of Giambattista Vico and the New Psychological Science, edited by Luca Tateo, promises to do just that. The volume is a collection of seven essays, and it belongs to the History and Theory of Psychology series, which is edited by Jaan Valsiner. The ambitious aims of this book are elaborated in Valsiner’s fore- word, Waldomiro Silva Filho’s introduction, and Tateo’s preface and conclusion. For Valsiner, the series responds to the question, “how is psychology a science?” (vii). According to Silva Filho, this question is problematized by contemporary conflicts between “radical physicalist reductionism and the most liberal cultural relativism”—the former is the “tendency to reduce psychological processes to . . . the biochemistry of the brain” and the latter is postmodern criticism (xviii). The book’s contributors look to Vico to counter these dangers.
Tateo became interested in Vico as an ancestor of cultural psychology and as the first to challenge the dominant Cartesian epistemology. According to Tateo, Vico provided an “alternate epistemology,” one that was “anthropocentric in the sense that we know human nature as we share it and through the historical genesis of its products” (xii). Indeed, Vico replaced the “myth of the given” in “psychological epistemology” with poiesis, an imaginative activity that creates human meaning (211). Tateo says that Vico’s emphasis on the imagination pro- vided “a way to intersubjectively access the mental and emotional processes that are behind the products of human activity,” representing a shift in focus, episte- mology, and methodology in psychological science (xiii). Imaginative universals gave Vico a qualitative methodology through which to understand the sensuous construction of meaning; indeed, they “embody” meaning and start with the “uni- versality of human body” and the “universality of imaginative construction[s]” of cultural forms (viii). But do imaginative universals allow us to “intersubjectively access mental and emotional processes” (xiii) or, as Valsinor says in the fore- word, is “the sensuality of the body—relating with environment—the guarantee of generalization” (viii)? Does the “‘hermetically constructed unity’ (as John Shotter points out in this book) transcend our usual classificatory tendencies of contrasting ‘verbal’ and ‘nonverbal’ meaning-making means” (viii-ix)?
The contributors to this volume are correct about Vico’s emphasis on imagina- tion, poiesis, and the “sensuality of the body.” However, the incongruities inher- ent in their contributions are troubling, particularly insofar as they concern these authors’ understandings of the radical nature of what Vico meant by imagination, imaginative universals, poiesis, and embodiment. These incongruities ultimately undermine this book’s potentially transformative reinterpretation of Vico’s writings and psychology. Although Tateo says that “adopting the ‘principle of poesis’ in the study of the psyche leads to a shift in the focus, epistemology, and methodology of psychological sciences,” this volume has not yet completed that shift (214). To do so, it must ask more fundamental questions that go beyond humanism’s idealist conception of knowledge—indeed, beyond modernity’s epistemological perspective. Any reinterpretation of Vico’s New Science that retains the subjectivism that grounds all humanist epistemologies brings with it metaphysical assumptions that, since Plato, have been used to justify belief in an epistemic knowledge of reality—that is, the beliefs that reality is inherently intel- ligible, yielding universal and eternally true knowledge, the paradigm of which is mathematics, and that humans can know reality only insofar as they possess a rational subjectivity that is ontologically like reality, which is the claim of dualis- tic anthropology. Though Descartes’s critique undermined belief in the inherent rationality of reality and the ontological identity of subject and object, dualism was retained and science provided the methodological grounds for belief in the likeness of subject and object, which is the assumption that Vico’s master key and verum factum principle implicitly reject.
Since Vico called his work a “new science,” scholars engaging with that claim must consider what kind of new science a psychological science is when it is called “poetic.” Are imaginative universals that have been made with a poetic language “subjective” at all, or are they the result of a different meaning-making process, one that is embedded in the social and physical world? What is the dif- ference between an anthropology that supports traditional subjectivist assump- tions and one that supports the knowing of products of an imaginative linguistic social activity? Failure to raise such meta-level questions as these risks repeating the same misinterpretations that have kept the radical nature of Vico’s work from being appreciated.
Tateo suggests a new direction in saying that Vico provided a way of thinking that was anthropocentric and that identified our ability to know human nature because we share it and because it is the genesis of human making. Indeed, Vico raised an anthropological question that philosophy had never asked. Those who believe that the quest for knowledge is essential to humans accept the dualistic metaphysical assumptions of philosophical humanism that were formalized by Plato. Since Vico first published New Science, readers have displayed an inability to comprehend the embodied anthropology he developed against that dualism.[1] Such readers are the moderns whom Vico characterized as fixated on Descartes’s subjectivist justification of certain knowledge of natural science.
When Vico rejected Descartes’s turn to subjectivist anthropology, he rejected the possibility of epistemology at all as understood by humanism and raised a more significant anthropological question: what if what we call “knowledge” is limited to what humans make as wholly embodied beings—that is, the languages, gods, religions, customs, laws, institutions, sciences, artifactual things (cosi) of our ontologically real, meaningful historical world? What if making was due to the power of embodied poetic language, which was the very language that phi- losophers, in their conflict with rhetoricians and poets, devalued as opinion and fantasy? [2]
Vico posed these questions with his insight into what he called his “master key”: the “fathers” of the human world were embodied prehuman beings who, “by a demonstrated necessity of nature, were poets”; they were creators who spoke the poetic language of preconscious peoples.[3] That such primitive beings created human existence was an idea so strange that Vico claimed it “cost us the persistent research of almost all our literary life, because with our civilized natures we [moderns] cannot at all imagine and can understand only by great toil the poetic nature of these first men.” [4] The radical nature of Vico’s verum factum principle cannot be appreciated unless we understand that the giganti were not human. Scholars traditionally consider Vico’s poets primitives or sinners, but this does not do justice to the strangeness of Vico’s master key or the twenty years it took him to understand it. The giganti were not only devoid of minds or the abil- ity to form abstractions; they were not even social beings in any existential sense. They existed solely as solitary beasts who possessed no relation to one another except instinctually. Without the capacity to feel a need for relations with other beings, they were incapable of human existence. Only with an originary potency that was ontologically creative of that existence could they be so.
That poets made meaning not with consciousness but with poetic language was a strange enough claim. Even stranger was Vico’s genetic principle that “the nature of institutions is nothing but their coming into being (nascimento) at cer- tain times and in certain guises,” and “things do not settle or endure out of their natural state.” [5] That principle condemns knowers, even of the third age, to remain embodied poets throughout human history, constructing what humans know with a language that is forever figural. Such knowers must give up the “conceit of scholars, who will have it that whatever they know is as old as the world,” or the notion that abstract ideas correspond to reality.[6] Given Vico’s embodied anthropology, the verum factum principle can no longer be considered epistemic. Elsewhere I have interpreted the unity of making and knowing as an ontological assertion that humans are makers of what they know, an alternative appropriate to Vico’s humanistic concern with knowing not the objective world of modern science but the historical world made by languages, literatures, religions, institu- tions, customs, and artifacts. These are the very cosi (things) that Descartes’s delimitation of knowing to the natural world made knowledge about obsolete.[7] Given that latter radical alternative, poetic knowing becomes the self-reflexive hermeneutic understanding that humans are the creators of what they know.
If the key to the anthropology of Vico’s embodied humanism lies in his claim that poetic beings create human existence ontologically, then we must go beyond the limits of Hellenism’s metaphysical frame to understand it. Other than the biblical world, which similarly identified creativity with originary language, the ancient world offered no way to conceive of a radical creative process that brought what did not exist into the world. In Ancient Wisdom, Vico raised ques- tions about divine causal agency that suggested a way to attribute creativity to humans.[8] Those questions culminated in the myth of origins that Vico developed in The New Science to support his insights about his master key.
Making his myth compatible with scripture, Vico distinguished between the offspring of Noah’s chosen and accursed sons. He identified the latter as the progenitors of the gentiles: fleeing into the forests, copulating with and living as animals, they lost language, their social world, the ability to think—their very human existence.[9] Those grossi bestioni created the human world, and they did so with imagination. In traditional humanism, the imagination is subjective, whereas those impoverished beings literally had no conceptual space. The ability to imagine occurred only when terror of the unknown forced them to make sense of what terrified them, and they could do so only with the physical skills of their bodies, the most rudimentary of which was perception.
According to Vico, the terror that animated these early humans’ creative imag- ination was first roused by the thunder that occurred when the earth dried after the flood. The sensations bombarding these beastly bodies—sounds of thunder, sight of stormy skies, terror shaking their bodies—were meaningless until they were brought together and forcibly projected onto the sky, leading these poets to see the image of “a great animated body.” [10] The guttural sound Pa forced from their lips named that image. As a metaphor, Pa had no literal meaning, but it called into existence a being in the sky who was angry with their behavior. With that poetic word, which named a metaphoric image, the poets created the human meaning that in turn transformed their animal behavior. Running to caves for protection, they created social practices—marriage, burial, language, their very social existence—and thus established the beginnings of humanity’s ontologi- cally real historical world.
Pa was the first certum made: imagination was not subjective but was instead comprised of solely contingent perceptions that were bought together into images of what did not exist before being reified with a name.[11] “Jove,” Vico claimed, “was born naturally in poetry as a divine character or imaginative universal.” [12] The linguistic creation of Jove was the first experience that was common to soli- tary beasts and elicited common responses, including flights to caves, abandon- ment of a solitary existence for a social one, and shared understandings of the need to do so in order to avoid that fearsome being. Pa had no epistemological significance, but daily experience now had meaning: behavior was governed by social practices that established bonds, in turn creating a sensus communis. Jove was a topos, a place of memory, not as a subjective fantasia but as an immanent part of the lived historical experience of social beings.
When the need to form linguistic generalizations that established laws arose, abstract language was created from the poetic, and with it emerged the silent dialogue that we call thinking.[13] Vico even related the emergence of “subjectiv- ity” to the ontological potency of bodily skills; indeed, after describing the events that elicited Pa, he argued that “Jove” was “the first human thought in the gentile world.” [14] Made by metaphors and images that were generated by bodily skills, language was not only imaginative but also immanent and temporal, a lived pro- cess of concrete making.
Vico was quite explicit about his analogy between divine and human ontologi- cal creativity. “Our Science,” he said, “create[s] for itself the world of nations” but does so “with a reality greater by just so much as the institutions having to do with human affairs are more real than points, lines, surfaces, and figures. And this very fact is an argument, O reader, that these proofs are of a kind divine and should give thee a divine pleasure, since in God knowledge and creation are one and the same thing.” [15] Vico was equally explicit about the differences between them, adding that philosophers and philologists should have gone back to the “senses and imaginations” of first fathers in order to study the origins of poetic wisdom.[16] He claimed that
the first men of gentile nations . . . created things according to their own ideas. But this cre- ation was infinitely different from that of God. For God, in his purest intelligence, knows things, and, by knowing them, creates them; but they, in their robust ignorance, did it by virtue of wholly corporeal imagination. And because it was quite corporeal, they did it with a marvelous sublimity; a sublimity such and so great that it excessively perturbed the very persons for who by imagining did the creating, for which they were called “poets,” which is Greek for “creators.” [17]
The poets created an artifactual reality that, like the natural world created with divine poiesis, was no less real for being so. Just as the embodied anthropology presupposed by verum factum deprives philosophy of epistemology’s subjective grounding, it also provides a conception of humans that is more appropriate for the humanist psychology that Tateo’s authors hope to achieve. The topos made from a sound generated by fear was inseparable from real social practices and physical labor producing the certa, and eventually the vera, of the concrete his- torical world.[18] Knowing can only be the self-referential truth identifying humans as ontological makers of their true things. That would seem to run counter to Vico’s insistence on the role of providence, but Vico’s providence was never a transcendent force but only a functional one, ensuring that choices made for private interests achieved social goals.
Philo Judaeus had given philosophic expression to the unity of the Hebraic god’s knowing and creating with the principle verum et factum convertuntur— that is, the notion that only the creator could know what he created, though he could grant knowledge to those acknowledging him as creator. Fortuitously, the verum factum principle had become commonplace by Vico’s writings. First for- mulated as an epistemological principle in Ancient Wisdom, it was only Vico’s insight into his master key that brought out the ontological significance of his claim that humans are genetically poets—that is, creators rather than subjective knowers.[19]
That knowledge of objects is limited to their makers reveals the skeptical aspect of Vico’s verum factum. [20] The made is known only by its maker because it is not inherently intelligible, and knowing is only the makers’ reflexive under- standing that they are makers. Vico’s delimitation of human knowing to what humans make strengthened his claim that humans could not know God’s creation; that humans can know their own creations is what, with Vico’s help, the authors of Giambattista Vico and the New Psychological Science claim for their new poetic humanistic psychology.
Although all of the essays in this volume are valuable additions to scholar- ship on Vico, few contribute specifically to an embodied poetic interpretation of Vico’s new science. The volume does not contain a discussion of language that adequately captures Vico’s claim of originary creativity, for example, and few of the contributions stress human agency. Moreover, most of the authors inter- pret Vico within modernity’s dualistic frame, as revealed by their pervasive use of subjectivist language. They have not yet realized how radical the shift from Cartesian humanism to Vico’s embodied anthropology is. Perhaps the starkest question they need to answer is, in what way is psychology possible without the metaphysical belief in a psyche?
Sven Hroar Klempe’s and Gordana Jovanovic’s contributions to this volume are responsible for placing Vico in particular histotheoretical contexts. Klempe situates Vico’s work in the history of psychology that emerged from metaphysics; meanwhile, Jovanovic traces Vico’s reception beginning in the eighteenth cen- tury. Both authors question whether Vico is an Enlightenment figure or a critic of the Enlightenment. Klempe distinguishes psychology from metaphysics by emphasizing its increasing concern with perception and sensation. He claims that the relation of sensation to intellect distinguishes divine language, a unity of mak- ing and knowing, from the ideality/generality of human language deriving from abstractions. Thus, there is a “mismatch and a tension . . . between our thinking of the world and the world as it appears to us” (54). “In our efforts to mitigate the tension and the gap between our abstract conceptions and the world,” he notes, “we try to unite those two extremes by means of thinking” (55): man “creates abstractions . . . and abstractions are given through language, and this is the real- ity man is able to grasp. This is the core of the verum factum principle” (60). He explains: “For human beings, truth is provided by language” (68).
Whereas Klempe discusses themes that are relevant to Vico’s turn to the role of sensation in language and thinking in creating knowledge and truth, he distin- guishes thinking, abstract language, and “inner life” from sensation and the body. It is “the spirit that represents the connection between the mind and the body,” Klempe says, though for Vico it is embodied poetic language, not thinking, that creates abstract language (56). For Klempe, Vico is a modernist not only because “we recognize the contours of a psychology by the role he gives the aspects of sensation and subjectivity, which form the basis for how language and meaning making are to be understood” (62), but also because he “is definitely . . . pointing forward by emphasizing the role of the human mind in the verum factum prin- ciple” (50). Vico, Klempe claims, “did not belong to the protestant church, but he adopted the focus on subjectivity” (67).
Jovanovic’s essay examines diverse interpretations of Vico from the eigh- teenth century. On the basis of Vico’s critique of reason and his emphasis on verum factum as epistemological, she explains, his readers consider him to be a modernist rather than an Enlightenment figure. Quoting Benedetto Croce, she explains: “with the new form of his theory of knowledge Vico himself joined the ranks of modern subjectivism, initiated by Descartes” (93). Yet Croce “left out many important aspects of Vico’s thought,” Jovanovic notes: “Thus, it was necessary to overcome Croce’s idealist perspectivism in order to open new vistas for reading Vico” (82).
Jovanovic elaborates on the possibility of “open[ing] new vistas for reading Vico” by proposing that the “perspectives of doing and knowing are hermeneuti- cally united” and that “it is within this conceptual framework that Vico’s human- istic agenda is formulated” (79). She does not specify the nature of those herme- neutic relations but stresses the importance of language in shaping communities. She also emphasizes Vico’s privileging of topics over critique, so it is striking, given the volume’s emphasis on poiesis, that she does not mention the creativity of language, especially since poetic metaphors create a social world before they create the semiological views that emerge in the third age.
Despite her limited discussion of language, Jovanovic clearly understands the significance of its embodied nature and relation to human activity. For instance, she notes that “Vico’s anthropology is naturalistically founded, as it starts with capabilities of corporeal individuals, but it is not reductionist as it includes trans- formation and cultivation of corporeal capabilities and existing physical condi- tions, as well as symbolic products and social practice and institutions” (105).
Her strong emphasis on agency is also promising. Because of the importance of rhetoric, “Vico was a reflective theorist of human activity, but an activity of humans as social beings” rather than “of mechanical, subjectless, and communi- cationless processes” (95). She continues:
Given . . . the importance of . . . verum idem factum, and that not only as an epistemo- logical principle but as a principle constitutive of human history, . . . [it] is justified to see Vico as a modern thinker. . . . I would claim . . . this principle supersedes Vico’s critique of rationality on which most interpretations of Vico as an antimodern or counter- Enlightenment thinker rely. (97)
Jovanovic asserts strongly that Vico “should have been protected from pitfalls of subjectivism and idealism of the raising new epoch” (98, emphasis added). Though stressing the importance of the verum factum principle as “constitutive of human history,” Jovanovic does not appreciate the nature of that constitutive power and instead associates it with modernism’s Homo Faber (97). The activ- ity of the latter is, however, the technological application of knowledge that has been derived from science’s mastery of nature, the very knowledge that the verum factum principle prevents humans from possessing. Vico’s conception of human activity is empowered by the originary nature of poiesis that creates the human world.
Despite the richness of Jovanovic’s and Klempe’s contributions to this volume, and though they move away from identifying humans with the primacy of mental activity, it is striking that neither steps enough outside of the Cartesian frame to recognize the incompatibility between their insights and Cartesian modernism. Despite Klempe’s emphasis on the roles of sensation and language and Jovanovic’s verum factum as epistemological, she explains, his readers consider him to be a modernist rather than an Enlightenment figure. Quoting Benedetto Croce, she explains: “with the new form of his theory of knowledge Vico himself joined the ranks of modern subjectivism, initiated by Descartes” (93). Yet Croce “left out many important aspects of Vico’s thought,” Jovanovic notes: “Thus, it was necessary to overcome Croce’s idealist perspectivism in order to open new vistas for reading Vico” (82).
The contributions to this volume that are most focused on the role of poetic language and sense-making in Vico’s anthropology are by Marcel Danesi, Augusto Ponzio, and John Shotter. Danesi’s contribution offers the most in-depth discussion of Vico’s philosophy out of all the pieces in the volume, yet Shotter, by stepping outside the tradition’s metaphysical frame, does the best job of transcending subjectivism and grasping Vico’s embodied creative humanism. Still, Danesi displays a strong understanding of Vico’s philosophy, saying: “The idea that cognition is an extension of bodily experience, a kind of abstracted sensoriality . . . is, as a matter of fact, the unifying principle that Vico utilized to tie together all the thematic strands that he interlaced throughout the NS [New Science]” (27). “For Vico,” Danesi explains,
the appearance of the metaphorical capacity on the evolutionary timetable of humanity made possible the passage from instinctual responses to the flux of events, where images literally floated around randomly in mental space, to a more abstract and organized form of thinking that helped to guide the mind’s primordial efforts to transform the world of sensorial inputs into cognitively usable models of experience. (44)According to Danesi, “the nature of the connections between things, universal and particular, is not available to discursive cognition. But they are neither merely fanciful nor principally subjective. They are real connections made in imaginative form” (34).
Despite this, Danesi ultimately encloses Vico’s poetic insights within modernity’s dualism and obscures Vico’s master key. Though emphasizing fantasia’s relation to sense and perception, Danesi accepts Edward Sapir and Benjamin Lee Whorf’s claim that “language classifies, not ‘creates,’ experience” (15) and reduces language to “mind-space” (18). Danesi notes: “language and thought are interdependent features of human consciousness—that is, we use language to carry the main load of our everyday thinking. It is only when we need to create new thoughts that we must resort to our fantasia to help us out and start the concept-formation process anew” (15). Fantasia is a “mental faculty that generated consciousness, language, and, ultimately, culture.” “The most important feature of the poetic mind is that it seeks expression into models of the world in terms of metaphor and myth,” as Danesi explains: “From this ‘poetic’ state of mind the first human cultures took shape, developing the first institutions.” According to Danesi, “the fantasia can thus ‘create’ new realities totally within confines of mental space—hence the meaning of imagination as a creative faculty” (16).
Danesi identifies the ingegno as “the faculty that organizes poetic forms produced by the fantasia into stable structures.” Accordingly, “‘making sense’ is a product of ingegno as it imposes pattern onto the images that the fantasia creates in mind-space,” which explains how the first myths were made. Arguing that “agency is governed by ingenuity, not by some biological schema or imprint,” Danesi protects Vico from being reduced to neuroscience but keeps him in metaphysic’s “mind-space” (18). He associates Vico’s conception of language with Thomas Sebeok’s semiotics: “Language, for Sebeok, is an effective cognitive means for modeling the world. . . . ‘Speech,’ or articulated language, is a deriva- tive of this modeling capacity” (33). He argues that Vico can be studied in the context of semiotics since “his concept of metaphor as imprinting human experi- ence in the form of language… is the basis of modern cognitive linguistics” (24). Danesi explains: “The crucial lesson that cognitive science has come to learn is that the imagination and metaphor are the essence of mind” (29).
Even though he identifies the fantasia as “the fundamental feature of mind that allows us to transform and make bodily experience meaningful” (46), Danesi obscures that centrality by saying that “rhetorical figures, which abound in ancient fables, did not emerge to increase the imaginative enjoyment of myths” (44); they “make it possible for humans not only to represent immediate reality, but also to frame an indefinite number of possible worlds” (43). Yet Vico’s poetic language does not represent human reality; rather, it creates an artifactual one. Mind, though an artifact of the fantasia and the ingegno, is continually referred to by Danesi as a subjective agent of making that “operat[es] totally within mental space as it configures and creates models of world events” (18). Most strikingly, Danesi argues that metaphor is the “product of the fantasia—. . . a feature of the mind, not just of language” (19). “Metaphor is a ‘tool’ that the mind con- stantly enlists,” Danesi explains (35): “it expresses the reality in the mind of the speaker” (19). “The human mind is ‘programmed’ to think metaphorically most of the time,” which Danesi claims thus makes metaphor an object of conceptual thought (34).
Ultimately, Danesi’s appeal to cognitive science cannot explain the poetic capacity of the fantasia. Imaginative universals are not cognitive: Vico’s master key emphasizes randomness, the contingency of perceptions, and the insight that perceptions do not represent reality but are brought together to alleviate terror filling beastly bodies. And when brought together, it is language that fixes that image with a name. As noted above, Danesi draws on Sapir and Whorf’s claim that “language classifies, not ‘creates,’ experience.” Yet language produced by cognitive processes cannot explain the fantasia’s poetic ability since cognition does not include emotional interactions between bodily processes and the experi- ences in which they are embedded.
Ponzio similarly discusses Vico in the context of the emergence of semiotics and cognitive linguistics. Much in his explication of semiotics is relevant only to the rational minds of Vico’s third age. However, Ponzio concludes his contribu- tion by articulating a valuable reservation: when discussing Vico’s contribution “to the theoretical framework of current research in cognitive linguistics,” Ponzio asks whether or not “we may speak of a ‘Vichian linguistics,’ as Danesi would seem to be suggesting” (169). Acknowledging that there may be Vichian influ- ences on semiotics and other sign sciences, Ponzio expresses doubts: “Vico’s critique of Descartes is formulated in a context entirely different from Pierce’s” (170). Ponzio notes “that there is a great historical-contextual and motivational gap between Vichian inquiry . . . and current philosophical-linguistic research . . . to the extent that it cannot be classified as ‘Vichian linguistics’” (171). Ponzio’s doubts represent an effective critique of semiotic interpretations of Vico’s conception of language. Indeed, what is clear from Danesi’s and Ponzio’s essays is that focusing on semiotics and cognitive linguistics in an attempt to account for Vico’s poetic conception of language obscures more meaningful explorations of the embodied poetic understandings of language that are suggested by Vico’s anthropology.
Vico was writing before developments in biological science, but even if he had understood how necessary biological processes were to human existence, he would not have considered them adequate for creating human meaning. Identifying the body with neuroscientific activities has obscured a more funda-mental kind of embodied experience, one focused on the necessary interaction of bodily skills with the physical/social world and in turn emphasizing conditions that philosophers would consider sufficient—that is, experiences in the external world to which bodily skills respond not only to satisfy needs and utilities but also to produce imagistic language and social practices that create meaning, thus accounting for human agency. Those experiences in the external world, rather than either neuroscientific or cognitive activity, add sensory and emotional interaction between bodily and experiential processes, thus allowing for the poetic ability that Vico refers to as fantasia.
Shotter’s essay best captures the immediacy of that relation: the embodied, embedded, and emotional nature of making and knowing and its appropriateness for a poetic science of psychology. Shotter begins by discussing the issue that is central to Vico’s writing and cultural psychology: the meaning of human meaning. Meanings made in temporal developmental processes begin in mute times, bodily feelings, fearful responses to unknowns, bodily shaking, guttural sounds, and gestures before becoming images projected onto the sky, metaphoric language, and more complex linguistic and social activities that satisfy needs and utilities necessary for survival. Shotter characterizes those processes as “shared expressions, spontaneously occurring in shared circumstances, to which people spontaneously attribute a shared significance” (121). In elaborating on beginnings, Shotter provides what has been missing in existing Vichian scholarship: an experiential account of the transformative processes that lead from bodily feelings to creative linguistic and social activities. He omits purely necessary biological processes, since by themselves they do not capture interactions with the phenomena that stimulate them or the social activities to which they lead. He similarly omits linguistic theories that do not acknowledge bodily feelings, which are the immediate sources of metaphoric relations. For Shotter, only bodily feelings, external phenomena, and social responses to them—what he calls “shared significance[s]” in the external world—create poetic language and human existence.
Shotter elaborates on Vico’s account of the transition from bodily feelings to imagistic language that makes meaning from sensations like thunder: “the development of social processes is based, he claims, not upon anything preestablished either in people or in their surroundings, but in socially shared identities of feeling [they] themselves create in the flow of activity between them,” or what Shotter says Vico “calls ‘sensory topics,’ . . . because they give rise to ‘commonplaces,’ that is, to shared moments of common reference in a continuous flow of social activity” (124). A sensory topic leads to “an ‘imaginative universal,’ the image of a particular something, a real presence . . . , that is first expressed by everyone acting, bodily, in the same way in the same circumstance, but which is expressed later, metaphorically, in the fable of Jove” (133). Thus, according to Shotter, meanings are created “before the emergence of consciousness or awareness . . . occurs” (122). One implication of this is the fact that “language begins, not with people speaking, but with them listening, not with a performative speech act, but with a hermeneutical invention” (132). Shotter explains: “This suggests a quite different account of consciousness—of con-scientia, of witnessable knowing along with others—than that bequeathed to us currently from within our Cartesian heritage” (121-22). This is because “their meaning [that is, the meanings that emerge from socially shared identities of feeling] is in how bodily we are ‘moved’ to respond to them, in how precisely we are going to incorporate them into our yet-to-be-achieved activities” (122). Shotter makes clearer than others in this volume that what Vico means by “mind” is not only prior to rational content but other than subjective or cognitive processes.
Shotter, in explaining his indifference to biological conditions, says that Vico turned him from a “search for ideal realities (forms or shapes) ‘hidden behind appearance’” (120) that was bequeathed to social science by philosophy and psychology’s concern with “inner workings of . . . subjectivities.” Like Vico, Shotter desires a “direct focus on the unique concrete details of our living, bodily . . . participations . . . in the world around us” (142). He explains:
we have become concerned both with what goes on within the different “inner worlds of meaning” we create in our different meetings with the others and othernesses around us, along with paying more and more attention to our embedding within the ever present, larger background flow of spontaneously unfolding, reciprocally responsive inter-activity between us and our surroundings. It is as “participant parts” within this flow, considered as a dynamically developing complex whole, that we all have our being as members of a common culture, as members of a social group with a shared history of development between us. (142)
In focusing on “inter-activit[ies]” between bodily skills, external stimuli, and the linguistic and social activities to which they lead, Shotter reveals sensory and emotional responses to experiences and links biological conditions that neuro- scientists consider determinate to external physical linguistic and social activities that biologists ignore, enabling us to avoid the reductionisms that are inherent in focusing on biological, mental, or external sociolinguistic activities alone. With Vico’s understanding of wholly corporeal imagination, Shotter argues,
meanings are already present in people’s bodily activities long before awareness or con- sciousness of meaning emergences. For, although such bodily thought lacks an abstract or intellectual content, it does not lack a meaning. If nothing more its function is merely a figurative or metaphorical one: that of linking, or “carrying across” a shared feeling to a shared circumstance, thus to create a sense of “we,” of us all being in this together, a sense of solidarity. (134)
This “flow of social activity” similarly touches on what Vico means when he talks about providence. Rather than being “something external,” Shotter explains, providence is the “natural provision of the resources required for their own fur- ther evolution or transformation (or dissolution). . . . [P]eople construct in their own past activities an organized setting that makes provision for their current activities” (136). “What the ‘inner mechanisms’ might be which make such a realization possible are not Vico’s concern here,” Shotter says: “his concern is a poetic concern with what the ‘outer’ social conditions giving rise to a shared bodily experience in a shared circumstance might be like” (122).
Shotter enables us to move outside of traditional cultural frames. He credits his move to developments in psychology that turned the field away from tradi- tional scientific perspectives; he then found in Vico the emergent embodiment of humans, of which, he says, Vico himself may not have been aware. He claims that Vico must have acquired the ability to be “responsive at every moment to one’s changing circumstances . . . to a distinctive, imaginative sense of what it is like to experience and to make sense of events occurring” bodily (130). Thus, he claims, “the agent of inquiry” becomes prominent (119); or as Shotter says when he describes agency, humans develop a skill of “coming to feel ‘at home’ within a particular sphere of activity” (145). Shotter calls that skill “ontological,” for in knowing “how to be, say, a musician, painter, mathematician, company director, or regional developer, one must acquire certain sensibilities and attunements” and “come to know one’s ‘way about’ . . . inside the requisite, conversationally sustained ‘reality’ or ‘inner world’” (146).
This volume’s sharpest response to challenges from biology, and particularly what Tateo calls its “tendency to reduce psychological processes to the most basic events that can be explained through the biochemistry of the brain,” come in the form of Shotter’s focus on concrete details of embodied participation in the world (xviii). Biochemical events and evolutionary processes are necessary for human existence, but they cannot account for it without also addressing social, historical, and cultural activities. Those conditions, which are similarly necessary and, more importantly, sufficient, are the very activities that Vico highlighted and that have not been given sufficient weight by neuroscientists. Failure to appreci- ate the linguistic, social, and physical activities that do the actual creative labor of bodies leads to reductionism.
Whereas Shotter’s account of the way meaning inheres in bodily feelings and allows for “a sense of ‘we’” accounts for sensus communis, Ivana Markova’s essay provides context for that notion before and after Vico (134). The basis of Vico’s sensus communis is ingenium and imagination. “Diverse things,” accord- ing to Markova, “are brought together on the basis of immediate and momentary vision, that is, on the basis of the logic that enables creating images,” particularly imaginative universals that are rooted in common sense (179). Markova empha- sizes the relation of common sense to sensation and, because of the role of “needs or utilities,” to action (178). She stresses metaphoric language’s primary role in this creative process.
The final essay, which is by Carlos Cornejo, compares Vico and Nicholas of Cusa, whom Cornejo claims both adopted a “knowing by not-knowing” approach that Cusa calls “docta ignorantia” (197). Cornjeo claims that Vico’s fantasia continues that tendency of nonrational certainty, though he notes that Vico’s rejection of Cartesian rationalism and the constraints of the body “lies on a dif- fering anthropology.” According to Cornejo, “Vico’s proposal for ascribing more epistemic power to the human sciences than to natural sciences is based on a deep reconsideration of the nonrational capacities in the knowing process” (192). Vico’s relation to the medieval tradition “embodies both novelty and continuity” (196).
If the field of psychology hopes to use Vico’s new science to move from sci- entism toward a more embodied and culturally embedded psychology, it must accept his belief in a closer relationship between rhetoric’s conception of linguis- tic agency and philosophy, thus producing not epistemic knowledge but poetic meaning. Giambattista Vico and the New Psychological Science does not con- tain a conception of language that captures its connectedness to the body rather than to cognitive processes and to the hermeneutic ways it makes sense of and establishes relations with the experiential physical and social worlds. This is an originary power that creates meanings that are not given in nature. The volume’s authors also have not transcended the traditional belief in a dualism between body and some version of intentional cognitive agency. These inadequacies make it difficult to grasp a conception of human agency that interacts with and transforms the physical world, creating a concrete, real, and meaningful human world. Only Shotter appreciates the ontological importance of embodied skills, or the agency that he describes as shared happenings in the external world, “socially shared identities of feeling [beings] themselves create in the flow of activity between them,” “shared moments of common reference in a continuous flow of social activity” (124). This is the way human meanings emerge providentially before consciousness of meaning emerges. Shotter makes clear that what Vico referred to when he talked about the “mind” was something that not only existed prior to cognition but also contained dimensions that were not subjective processes. The developmental processes derived from the common social processes that Vico traced in the historical world do not constitute modernity’s progressive course. Rather, they constitute a cyclical course that produces a regularity that is more supportive of a humanistic (rather than a scientific) new poetic psychology.
It is my hope that the authors of this volume are open to nontraditional readings of Vico that are as strange to contemporary audiences as Vico’s poetic insights were to his original readers, who were embedded in Cartesianism. Only such a reading can free the imaginative and poetic nature of the New Science from mis- understandings that have plagued modern readers since the book’s publication.
Notes
- Giambattista Vico, The Autobiography of Giambattista Vico, transl. Max Harold Fisch and Thomas Goddard Bergin (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1944), 128-32.
- Bergin and Fisch translate cose as “institution.” Elsewhere I translate cose as “thing” to cap- ture the concreteness of the world humans create, and I adopt that usage here. For more on this, see Sandra Rudnick Luft, Vico’s Uncanny Humanism: Reading the New Science between Modern and Postmodern (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003), 130n37.
- Giambattista Vico, The New Science, transl. Thomas Goddard Bergin and Max Harold Fisch (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1948), para. 34.
- Ibid. 5. Ibid., para. 147, 134.
- Ibid., para. 59.
- Luft, Vico’s Uncanny Humanism, 24-26.
- Giambattista Vico, On the Most Ancient Wisdom of the Italians: Unearthed from the Origins of the Latin Language, transl. L. M. Palmer (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988), 105-7.
- Vico, The New Science, para. 172, 192-95, 369, 377.
- Ibid., para. 377.
- The word certum (certain) refers to the first things created. 12. Ibid., para. 381.
- Ibid., para. 1040.
- Ibid., para. 447.
- Ibid., para. 349.
- Ibid., para. 375.
- Ibid., para. 376.
- Certa become vera (the true) for the knowers. 19. Vico, On the Most Ancient Wisdom, 45-47.
- When secularized, the principle’s status as epistemological or ontological depends on the divinity whose creativity humans appropriate. It either reproduces ideal rational truths or the volun- tarist power of an omnipotent deity. In the context of Cartesianism, the principle understood by the moderns has remained resolutely epistemological.
Sandra Rudnick Luft – San Francisco State University, Emerita.
TATEO, Luca (ed.). Giambattista Vico and the new Psychological Science. New Brunswick and London: Transaction Publishers, 2017. 242.p. Resenha de: LUFT, Sandra Rudnick. Vico’s new science and new poetic Psychological Science. History and Theory, v.60, n.1, p.163-176, mar. 2021. Acessar publicação original [IF].
A critical introduction to the epistemology of memory – SENOR (C-RF)
SENOR, Thomas. A critical introduction to the epistemology of memory. New York: Bloomsbury Academic, 2019. 192 p. Resenha de: RIBS, Glaupy Fontana; LIED, Úrsula Maria Coelho. Cognitio – Revista de Filosofia, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 456-460, jul./dez. 2019.
Thomas Senor atualmente e professor na Universidade de Arkansas (EUA) e e especialista em Epistemologia e Filosofia da Religiao. Suas linhas de pesquisa em Epistemologia concernem a epistemologia da memoria e teoria da justificacao. Em marco de 2019, Senor publicou A critical introduction to the epistemology of memory, um livro cujo objetivo e analisar quando as crencas oriundas da memoria estao justificadas.
Senor inicia o livro apontando que as teorias da justificacao epistemica se preocupam apenas com o que e necessario para que um sujeito esteja justificado em crer, sem considerar as diferencas entre formar uma crenca e manter uma crenca. A titulo de exemplo ele menciona a teoria evidencialista, segundo a qual um sujeito esta justificado em crer apenas quando tem evidencias para isso. Ela e uma teoria bastante consistente para a justificacao da formacao de crencas; contudo, nao tem a mesma capacidade apelativa sobre a justificacao da manutencao de crencas. Isto indica que a justificacao para passar a crer nao e identica a justificacao para continuar a crer, e Senor destaca que seu livro e focado na epistemologia das crencas previamente formadas.
O autor reconhece que ha um importante debate em Filosofia da Memoria sobre o que e memoria e quando que, de fato, um sujeito lembra, mas ressalta que o objetivo do seu livro e abordar a epistemologia das crencas entendidas como mantidas e evocadas, sem discutir o que caracteriza a manutencao e a evocacao. Assim, faz uma breve distincao entre metafisica da memoria e epistemologia da memoria.
Ha dois tipos de crencas de memoria. A crenca relembrada e aquela crenca formada anteriormente e evocada no momento presente. O outro tipo e a crenca formada a partir de informacoes mantidas pela memoria. As crencas de memoria consideradas no livro sao as crencas relembradas, formadas previamente pelo sujeito.
Uma tese crucial do livro e que uma crenca pode ser justificada em termos de (1) garantia, (2) racionalidade ou (3) responsabilidade (blamelessness). Assim, ter justificacao significa cumprir qualquer um destes requisitos. (1) Para uma crenca ter garantia, entretanto, e necessario que ela satisfaca o criterio de Gettier. Isto e, nao basta que uma crenca seja verdadeira e justificada para que haja conhecimento, ela precisa ter uma boa base objetiva, uma base que geralmente conduz a verdade.
(2) Seguindo Locke, Senor entende que um sujeito tem racionalidade epistemica quando a sua crenca e proporcional as evidencias das quais ele dispoe. Mas e possivel ter crencas racionais que nao sejam garantidas, como e o caso do sujeito que cre na previsao do tempo feita a partir das folhas de cha porque cresceu em uma comunidade defensora deste metodo. Como o sujeito nao esta atento a correspondencia ou nao das previsoes anteriores, confia em sua comunidade e partilha com ela este metodo; as evidencias que ele tem sao favoraveis a formar a crenca de que a previsao funcione. Ha racionalidade epistemica, mas nao ha garantia porque a base da crenca e um metodo nao confiavel. E por fim, (3) como o sujeito nao controla as crencas que forma, deve ser responsavel e buscar evidencias para justifica-las. Crer sem poder ser culpabilizado e cumprir os deveres epistemicos na formacao da crenca. Em relacao a memoria, a ideia de responsabilidade traz a questao de se ha justificacao quando o sujeito nao lembra das evidencias da crenca ou se ele tem o dever de procurar estas evidencias.
A primeira teoria epistemica da memoria analisada por Senor e o conservacionismo. O principal argumento deste tipo de teoria e que o sujeito so pode alterar suas crencas se surgirem boas razoes para isso. Ou seja, as crencas devem ser mantidas e serao contestadas ou mudadas apenas se aparecerem razoes suficientes para tal. Sao entao apresentados dois modelos conservacionistas, da teoria de Harman e da teoria de McGrath.
A teoria proposta por Harman, apresentada no segundo capitulo, esta baseada na ideia de que a memoria humana e limitada, de modo que a justificacao prima facie, ou seja, a justificacao inicial, se da simplesmente porque o sujeito acreditou anteriormente em determinada crenca. Harman aposta no Principio da Solapacao Positiva (Principle of Positive Undermining), segundo o qual o sujeito deve parar de crer que P sempre que acreditar que as suas razoes para crer que P nao sejam boas. Portanto, o sujeito esta justificado a manter a crenca evocada, a menos que aparecam evidencias contrarias a ela. Em sua analise, Senor apresenta tres objecoes a esta teoria: ele argumenta que a memoria nao e limitada; que a memoria nao evita acumular informacoes desnecessarias; e que e preferivel para o sujeito que ele saiba o caminho justificacional de suas crencas.
Como dito anteriormente, a ideia principal do conservacionismo e que se o sujeito forma uma crenca, ele esta prima facie justificado em manter esta crenca.
Uma diferenca inicial entre os conservacionismos de Harman e de McGrath, exibido no terceiro capitulo, e que o primeiro entende justificacao como garantia, enquanto o segundo entende como racionalidade ou responsabilidade em crer. A teoria de McGrath surge como uma alternativa para escapar dos problemas postos ao evidencialismo e ao preservacionismo, teorias apresentadas em capitulos posteriores.
Senor analisa as respostas de McGrath a tres objecoes ao conservacionismo: o problema da parcialidade, o problema da conversao e o epistemic boost problem, e acrescenta, ainda, o problema da paridade.
Senor termina por avaliar que o conservacionismo nao e uma teoria plausivel nem da garantia, nem da racionalidade, nem da responsabilidade. Ela nunca teve pretensao de ser uma teoria da garantia. Quanto a responsabilidade, ela poderia ser uma boa teoria a esse respeito caso nao houvesse condicoes sincronicas problematicas. O conservadorismo seria uma teoria razoavel da racionalidade, mas Senor questiona por que o mero fato de que alguem tem uma crenca deveria, ele mesmo, ser justificacao para essa crenca.
O autor comeca entao a avaliar o evidencialismo, teoria na qual uma crenca e justificada somente se o sujeito esta de posse de boa evidencia, pois a forca da justificacao e proporcional a forca da evidencia. No caso das crencas da memoria, o evidencialismo mantem que uma crenca mnemica e justificada em um tempo t se e somente se ela se enquadra na evidencia que o sujeito possui em t. Alem disso, o evidencialismo e uma teoria sincronica, pois o sujeito somente possui justificacao da crenca da memoria se ele ainda possui as crencas ou lembra-se das experiencias que fornecem a justificacao para essa crenca da memoria. No entanto, no caso das crencas da memoria, o evidencialismo enfrenta um grave problema, o assim chamado Problema da Evidencia Esquecida. Este retrata o caso onde o sujeito formou uma crenca (e no momento de formacao da crenca ele possuia evidencia para essa crenca), mas no momento presente ele somente recorda-se da crenca e esqueceu a evidencia que a suportava. Outro problema do evidencialismo e que, sendo este uma teoria internalista, mesmo em um cenario cetico extremo (tal como o do Genio Maligno) as crencas que estao fundamentadas em boa evidencia ainda seriam justificadas, mesmo que fossem falsas.
O diagnostico do autor e que o evidencialismo e uma boa teoria da crenca racional, mas nao da responsabilidade de crer, pois uma pessoa pode dar o seu melhor e ainda assim nao acreditar de acordo com as evidencias que possui (por faltar-lhe capacidade intelectual para avaliar a evidencia). O evidencialismo nao e uma boa teoria da garantia da crenca mnemica porque a posicao evidencialista nao afirma que E ser boa razao para crer que P torna mais objetivamente provavel que P seja verdadeiro, ou seja, a teoria nao leva em direcao a verdade.
No quinto capitulo, Senor comeca a avaliar o fundacionismo, teoria que afirma que existem dois tipos de crenca: crencas basicas e crencas nao basicas. As primeiras sao justificadas por serem advindas de fontes basicas de conhecimento, tais como a percepcao, e as ultimas retiram sua justificacao de outras crencas. O fundacionismo sobre as crencas da memoria mantem que, assim como crencas da introspeccao ou da percepcao sao justificadas prima facie, as crencas da memoria tambem sao basicas e justificadas prima facie, ou seja, a memoria e uma fonte de justificacao. O fundacionismo apresentado por Senor e o de Pollock e Cruz, no qual uma pessoa esta justificada em crer em uma crenca da memoria em virtude do estado de recordacao que vem junto com essa crenca, sendo que esse estado de recordacao e que fornece justificacao prima facie para S crer que P.
Sao colocadas, entao, cinco objecoes contra o fundacionismo: a objecao de que algumas crencas mnemicas nao possuem estados fenomenais de recordacao para justifica-las, a objecao sobre a relacao de base, a objecao de circularidade, a objecao do problema das crencas armazenadas e a objecao de que a teoria e sincronica. Quanto a avaliacao da teoria, Senor diz que o evidencialismo nao e uma boa teoria da garantia porque ela somente requer um estado de recordacao para que a crenca esteja justificada, mas um mero estado de recordacao nao garante a verdade da recordacao nem da crenca dela derivada. O fundacionismo e, entretanto, uma boa teoria da racionalidade, pois requer o estado fenomenologico de recordacao para fornecer justificacao prima facie; como nao temos razoes que apontem que a memoria e amplamente nao confiavel, essa crenca nao esta minada. Sobre a responsabilidade do agente doxastico, tomando a teoria de uma perspectiva diacronica, o sujeito pode possuir culpa, pois a historia da crenca pode ter sido distorcida, mas o sujeito esqueceu da distorcao e ainda acredita, podendo ser culpabilizado. Senor conclui esse capitulo com o veredicto de que as teorias conservadoras, evidencialistas e fundacionistas sao todas teorias sincronicas que ignoram a relevancia epistemica da historia da crenca e a evidencia para a crenca atraves do tempo.
No sexto capitulo, Senor apresenta entao a teoria que ele defende, o preservacionismo, teoria na qual o status justificatorio de uma crenca mnemica e, pelo menos em parte, determinado pelo status da crenca quando ela inicialmente foi formada. Assim, no caso do Problema da Evidencia Esquecida, o sujeito ainda vai estar justificado em manter a crenca da memoria, e a explicacao dessa justificacao vem da justificacao original que a crenca tinha quando ela foi formada, pois se nenhum suporte vir a ser adicionado a crenca, e se nada que mine a crenca for adicionado, ela continua possuindo seu status original. O preservacionismo esta comprometido com a tese de que simplesmente crer ou lembrar nao fornece justificacao; a memoria nao gera justificacao, somente preserva, assim, a crenca nao pode ser, no momento da recordacao, mais justificada do que era originalmente.
Um processo e epistemicamente gerativo se e somente se pode conferir justificacao original (justificacao recem-adquirida derivada de fontes gerais) prima facie. O problema para o preservacionista e que, se na memoria houvesse somente crencas, ela nao seria epistemicamente gerativa, mas na verdade ela contem tambem memorias de experiencias perceptuais a partir das quais podemos formar crencas, e a justificacao para essas crencas e derivada da memoria. Alem disso, e mais gravemente, existem casos em que a memoria gera justificacao original para uma crenca que antes nao era justificada. Mas isso nao e um problema, sustenta o autor, porque o preservacionismo nao tem nada a dizer sobre o status epistemico de uma crenca que e gerada a partir da memoria ou de uma crenca que era previamente nao justificada e que se torna justificada em virtude de uma percepcao recordada.
A tese preservacionista apenas requer que uma crenca nao tenha um boost epistemico somente por ser mantida na memoria. Senor sustenta que se a memoria fosse epistemicamente gerativa no sentido de que produz justificacao prima facie simplesmente por sustentar uma crenca ao longo do tempo, entao nesse caso o preservacionismo seria falso.
Mas o preservacionismo e mais a assercao da inabilidade da memoria de fornecer justificacao do que uma teoria que exemplifique as condicoes nas quais o sujeito esta justificado. A teoria da justificacao que normalmente o acompanha e o confiabilismo. O confiabilismo e uma teoria externalista da justificacao da memoria, e Senor salienta que, segundo essa teoria, dizer que uma crenca e justificada implica que ela e provavelmente verdadeira.
O confiabilismo diz que a crenca mnemica de S que P e justificada prima facie se e somente se ela era justificada quando foi originalmente formada (ou em algum ponto anterior ao presente) e tem sido mantida por um (ou mais) processo(s) cognitivo confiavel(is). A memoria de crencas (nao geradas pela memoria) e um processo dependente de outras crencas, e nesse sentido, ela sera confiavel se o sujeito guarda crencas verdadeiras e resgata crencas verdadeiras da memoria. Ja nos casos em que a memoria gera crencas a partir da experiencia, as crencas produzidas serao justificadas somente se a memoria e confiavel da seguinte forma: quando o sujeito tenta recordar uma experiencia, ou seja, quando ele chama uma imagem a mente e, entao, forma uma crenca a partir dela (e essa imagem deve ser acurada, o que quer dizer que ela veio da memoria e nao da imaginacao).
Senor afirma que as virtudes do confiabilismo residem na capacidade da teoria de responder ao Problema da Evidencia Esquecida e de negar que uma crenca ganhe suporte justificativo simplesmente por estar na memoria. Ja os problemas da teoria residem no Problema da Generalidade, que diz que nao ha nenhum modo de individualizar processos cognitivos que nao seja arbitrario, e na New Demon World Objection (proposta originalmente por Lehrer e Cohen em 1983, mas cuja formulacao canonica se encontra em Cohen, 1984), que ataca a capacidade do confiabilismo de explicar a justificacao de crencas.
No entanto, o autor avalia que o confiabilismo nao e uma boa teoria da responsabilidade epistemica, pois o sujeito nao tem escolha sobre qual processo usa para formar suas crencas. Tambem nao e uma boa teoria da racionalidade, pois mesmo de posse de evidencias, o processo que forma a crenca pode nao ser confiavel. Mas o confiabilismo e uma boa teoria da garantia epistemica, pois um processo e confiavel se produz mais crencas verdadeiras, e uma crenca garantida e aquela que na maioria das circunstancias sera verdadeira.
Senor conclui o livro dizendo que nao ha uma boa teoria da crenca mnemica justificada, o que ha sao tres teorias que respondem a cada uma das instancias da justificacao, a saber, a garantia, a racionalidade e a responsabilidade. A conclusao do autor e que o preservacionismo e o confiabilismo sao, tomados em conjunto, a teoria mais satisfatoria da garantia epistemica das crencas. Ja a racionalidade epistemica e melhor explicada em termos evidencialistas. A responsabilidade, por sua vez, nao e bem explicada por nenhuma teoria, de onde ele cogita que ela pode ser uma teoria nao redutivel, e portanto, nao poderia ser explicada em termos de nenhuma outra teoria.
Referências
COHEN, Stewart. Justification and truth. Philosophical Studies, v. 46, n. 3, p. 279- 295, 1984.
LEHRER, Keith; COHEN, Stewart. Justification, truth, and coherence. Synthese, v. 55, n. 2, p. 191-207, 1983.
Glaupy Fontana Ribas – Universidade Federal de Santa Maria – UFSM – Brasil. E-mail: fontanagy@hotmail.com
Úrsula Maria Coelho Lied – Universidade Federal de Santa Maria – UFSM – Brasil. E-mail: ursulamclied@gmail.com
Philosophy of Mathematics – LINNEBO (M)
LINNEBO, Ø. Philosophy of Mathematics. Princeton Universisty Press, 2017. 216p. Resenha de: ALBARELLI, Felipe. Manuscrito, Campinas, v.42 n.2 Apr./June 2019.
The present volume is a contribution to the book series Princeton Foundations of Contemporary Philosophy, and offers a self-contained presentation of fundamental topics of the contemporary philosophy of mathematics. Notwithstanding the intrinsic difficulties of the subject, the book is enjoyable and very well-written and Linnebo succeeds in giving a clear presentation of intricate debates and concepts. The focus of the text is on problems and consequently history is presented only to clear the origin of the various topics. For this reason this book perfectly complements the classic textbook by Shapiro [1], offering a more updated and problem driven introduction to the philosophy of mathematics.
The book is divided in twelve chapters, roughly grouped in two parts: the first seven chapters are devoted to the classic themes from which originate the contemporary debate, while the last five offer a selection of contemporary trends in the philosophy of mathematics. The content-and to some extent the structure-of the book reflects the division in sections of the evergreen anthology by Benacerraf and Putnam [2]: the presentation of the big three schools and the corresponding views on the foundations of mathematics, the ontological problem for mathematical objects, the epistemological problem for mathematical knowledge, and a discussion of the philosophy of set theory.
The book does not intend to be complete neither with respect to the contemporary debates, nor with respect to the history of the discipline. Nonetheless, Linnebo succeeds in giving a broad perspective which introduces some of the most interesting problems of the subject and that, therefore, can profitably be used as an introduction for both philosophers and mathematicians.
This is another merit of this book. It is explicitly structured to build a bridge between the two disciplines, being palatable for people with backgrounds from both philosophy and mathematics. Without diluting the beauty of the subject in shallow waters easy to explore, this book presents the classical ontological and epistemological problems in such a clear way to make them interesting and puzzling from both a philosophical and a mathematical perspective.
We therefore highly recommend this book as an introduction to the philosophy of mathematics; one that will surely convince the readers to investigate further this vast and intriguing domain. We conclude by surveying the content of each of the twelve chapters.
In Chapter One Mathematics as Philosophical Challange, Linnebo introduces the main themes of the book. Initially, the author presents the integration challenge: the attempt to reconcile on a philosophical ground the ontology of abstract mathematical objects with priori knowledge. Next, a section is dedicated to a brief presentation of Kant’s philosophy of mathematics. Here the analytical/synthetic and the a priori/a posteriori distinction are presented. Finally, Linnebo ends the chapter describing the main philosophical positions with respect to mathematics, on the base of Kant’s distinctions.
Chapter two Frege’s Logicism is about Frege’s philosophy of mathematics. Linnebo starts by outlining both Frege’s logicism and his platonism about mathematical objects. Frege’s argument for logicism is presented as an attempt to reduce sentences about arithmetic to sentences about cardinality, while the argument for platonism is introduced by considerations on the semantics of natural language. Subsequently, Frege’s response to the integration challenge is presented. Towards the end, the author shows how Cesar’s problem and Russell’s Paradox undermine Frege’s logicist project.
Chapter three Formalism and Deductivism addresses the two positions named in the title, explaining the motivations for each as well as the main problems that they face. Initially, game formalism is presented, this is the thesis according to which mathematics is the study of arbitrary formal systems, like a game of symbolic manipulation. Next, Linnebo presents term formalism, according to which mathematical objects are the symbols used by mathematicians. Finally, the chapter ends with a discussion on deductivism, the position that sees mathematics as the study of the the formal deductions from arbitrary axioms.
Chapter four Hilbert’s Program is about Hilbert’s formalistic project. This type of formalism differs from the previous ones in that it distinguishes between two types of mathematics: finitary, which deals only with arbitrarily large and finite collections, and infinitary, which deals with complete infinite collections. Linnebo argues that Hilbert assimilates finitary mathematics to term formalism, and infinitary mathematics to deductivism. Hilbert Program is presented as making use of finitary mathematics, which has few suppositions but limited applications, to justify the use of infinitary mathematics, that is epistemically problematic but without limits of application. The chapter ends with a discussion of how the discovery of Gödel’s incompleteness theorems showed the impossibility of completing Hilbert Program.
Chapter five Intuitionism deals with the philosophical thesis bearing the same name, which stands out from those already presented by criticizing certain mathematical practices. Initially, Linnebo explains that intuitionists argue that proofs that use non-constructive methods implicitly presuppose platonism; thus the proposal to abandon principles like the law of the excluded middle. Next, the chapter discusses the intuitionist alternative ontology of mathematics in terms of mental constructions. A subsection is devoted to present intuitionist logic. The chapter ends by showing how the intuitionist view on infinity and proof can influence arithmetic and analysis.
Chapter six Mathematics Empiricism provides an initial section on Mill’s philosophy of mathematics and then focuses on Quine’s empiricism and the indispensability arguments. Initially, Linnebo presents Mill’s argument in defense of the thesis that the principles of mathematics are empirical truths. Then, in discussing Quine, Linnebo presents the main arguments against the synthetic/analytical distinction and his holistic empiricism, together with the criticism that these positions received in the literature. The chapter ends with a presentation and discussion of Quine’s famous indispensability argument, which defends mathematical platonism on the basis of the unavoidable use of mathematics in science.
Chapter seven Nominalism discusses the thesis that no abstract mathematical objects exist. Linnebo explains that the difficulty of explaining how we could have knowledge of abstract objects, given that they have no causal relationship, serves as a basis for nominalism. Then, Field’s project to nominalize science is presented, which consists in showing that it is possible to do science with a language that is not committed to the existence of abstract entities. To this aim, Filed needs to reformulate scientific theories without impacting on their deductive capacities. Towards the end Linnebo also presents a form of nominalism that is not reconstructive.
Chapter Eight Mathematical Intuition is devoted to mathematical intuition. Here we face directly the difficult problem of the justification of mathematical knowledge. After having cleared that intuition is not an univocal notion and that intuitive knowledge may come in degrees, Linnebo proceeds in presenting the recent debate on the relevance of intuition in mathematics. We are briefly recalled that intuition is fundamental in the work of Hilbert, Russell, and Gödel and then the chapter goes on presenting recent defenses of mathematical intuition: the realist use that Maddy made of this notion, the position of Parsons which extends the line of Kant and Hilbert, and finally the phenomenological perspective of Føllesdal. The extent to which intuition can be used to justify higher mathematics is then referred to chapters ten and twelve.
Chapter Nine Abstraction Reconsidered goes back to the notion of abstraction, connecting Frege’s work with the neo-logicist position inaugurated by Hale and Wright. Abstraction principles are presented as a form of access to abstract mathematical objects. The discussion starts from Russell’s paradox and the consequent collapse of Frege’s logicist program. After briefly presenting Russell and Whitehead proposal to avoid the paradoxes by means of type theory, Linnebo presents the neo-logicist prosopal: the attempt to derive arithmetic from safe abstraction principles. After a discussion of the logicality of Hume’s Principle and after presenting the problem of distinguishing the good abstractions from the bad ones, the chapter ends with a discussion on a form of abstraction called dynamic, which better fits the iterative conception of sets.
Chapter Ten The Iterative Conception of Sets is meant to introduce the reader to the problems of the philosophy of set theory. After briefly recalling the definition of the cumulative hierarchy of the Vα, which form the intended interpretation of the axioms of set theory, Linnebo presents and discusses the axioms of ZFC. The chapter continues explaining the similarities between ZFC and type theory and then proceeds in addressing Boolos’ stage theory-i.e. the philosophical counterpart of the formal presentation of a cumulative hierarchy-and the way in which this theory is used to justify a great amount of ZFC axioms. Linnebo then warns the reader from the difficulties of a literal understanding of the generative vocabulary and towards the end of the chapter he introduces the debate between actualists and the potentialists with respect to existence of the universe of all sets.
Chapter Eleven Structuralism presents the main tenants and problems of a view of mathematics centered around mathematical structures. Following the standard terminology, Linnebo divides structuralist positions between eliminative and noneliminative structuralism, according to the commitments to the existence or nonexistence of structures or patterns. By exemplifying these position Linnebo presents the case of arithmetic, discussing the origins of structuralist positions in the work of Dedekind. An interesting section then is devoted to the view according to which structures result from a process of abstraction. The chapter ends by outlining the connection between structuralism and the foundations of mathematics offered by category theory.
Chapter Twelve The Quest for New Axioms brings back the discussion to the philosophy of set theory. The starting point of the discussion is found in the widespread presence of independence in set theory, discovered after the proof of independence of the Continuum Hypothesis (CH) from ZFC. Linnebo then proceeds in discussing the main philosophical arguments offered to justify extensions of ZFC able to overcome independence: intrinsic reasons, connected to the use of intuition, and extrinsic reasons, based on the success of new set-theoretical principles. The chapter ends with a discussion on two common views on set theory: pluralism, that equally accepts different interpretations of ZFC, and a monist view, that has its roots on the quasicategoricity argument of Zermelo for second order ZFC.
References
- SHAPIRO. Thinking about Mathematics. Oxford University Press, 2000. [ Links]
- BENACERRAF AND H. PUTNAM. Philosophy of Mathematics. Selected Readings. Cambridge University Press, 1967. [ Links]
Giorgio Venturi – University of Campinas. Department of Philosophyv. Brazil. gio.venturi@gmail.com
Felipe Albarelli – University of Campinas. Department of Philosophy. Brazil. felipesalbarelli@gmail.com
Um papel para a história: O problema da historicidade da ciência – CONDÉ (PH)
CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. Um papel para a história: O problema da historicidade da ciência. Curitiba: ED. UFPR, 2017. 171 pg. Resenha de: SILVA, Luiz Cambraia Karat Gouvêa da. Internalismo versus externalismo em história da ciência: uma proposta de integração. Projeto História, São Paulo, v.62, Mai-Ago, pp. 388-395, 2018.
Mais do que uma análise histórica sobre uma das maiores controvérsias existentes na História da Ciência, entre as escolas internalista e externalista de teoria científica, o livro Um papel para a história: o problema da historicidade da ciência, do Professor Titular de História da Ciência na UFMG Mauro Lúcio Leitão Condé, desenvolve a ideia de superação da dicotomia entre essas duas perspectivas metodológicas. O objetivo da obra é construir a categoria epistemológica “historicidade da ciência”, uma proposta que promoveria a articulação entre os elementos sociais com as dimensões empíricas do real.
O livro é resultado do minicurso ministrado em setembro de 2013, por Condé, na Escola Paranaense de História e Filosofia da Ciência – ligada ao Departamento de Filosofia da UFPR. Observada a trajetória acadêmica do autor, podemos concluir que esse estudo apresenta uma síntese de investigações que Condé vem desenvolvendo há quase três décadas. Em Um papel para a história: o problema da historicidade da ciência o autor faz uso tanto de autores com os quais trabalha desde o início da carreira, como Wittgenstein e Thomas Kuhn, quanto de pensadores que começou a discutir com mais frequência nos últimos tempos, como Alexandre Koyré, Ludwik Fleck e Edgar Zilsel.
Como o problema da historicidade da ciência é de natureza epistemológica, esse estudo deve ser visto em um contexto disciplinar mais amplo. Para além das fronteiras da História da Ciência, o livro se alinha com outras áreas que investigam os pressupostos metateóricos que fundamentam a produção do conhecimento científico, tais como a Sociologia, a Filosofia e a Antropologia. Embora o texto atinja uma notória profundidade teórica, é desenvolvido em uma linguagem simples e inteligível, sendo sua leitura indicada tanto aos iniciantes interessados em compreender a dicotomia externalismo versus internalismo, quanto aos iniciados que buscam aprofundar-se na temática.
Para operacionalizar sua análise, ou seja, para inter-relacionar as duas perspectivas metodológicas, Condé se utiliza do método comparativo. Em um primeiro momento, o autor elege representantes de cada uma dessas linhas teóricas – Koyré e Zilsel – e lança luz sobre seus principais pontos de divergência. Constatada a querela, Condé passa a analisar como a proposta externalista ganhou, a partir de Kuhn, proporções inimagináveis, ofuscando, inclusive, o que há de meritório na análise internalista. Por fim, o autor, resgatando ideias de Fleck e fazendo uso da filosofia da linguagem de Wittgenstein, procura desenvolver uma proposta de integração na qual tanto o internalismo como o externalismo são utilizados na confecção de uma epistemologia que analisa as influências socioculturais do cientista sem negligenciar o papel da natureza, a historicidade da ciência.
O livro se divide em prefácio, introdução, quatro capítulos e uma conclusão. O prefácio, escrito pelo professor da UFPR Eduardo Salles de O. Barra, busca introduzir o conceito de historicidade da ciência. Para Barra, o esforço de Condé se dá em compreender como o conhecimento científico é produzido por um profissional que está inserido em um determinado contexto. O que Condé, aos olhos de Barra, quer dizer é que o cientista não se encontra em uma ilha isolada quando pratica seus experimentos. Na realidade, existe um conjunto de valores sociais, de pressupostos, de imaginários, que, mesmo não intencionalmente, condicionam o cientista em suas atividades. A “esterilização” laboratorial não levaria em conta que o próprio cientista, na prática da ciência, já estaria partindo de pressupostos, tradições, consensos acadêmicos, refutando, assim, a possibilidade de se atingir um conhecimento pretensamente positivo.
Mas essa forma de analisar a ciência como uma prática social observando seus condicionantes externos – ou seja, a visão externalista – teria se radicalizado em estudos do final do século XX, valorizando em demasia a abordagem sociológica da ciência e atingindo nuances próprias ao relativismo (p. 16). Estudos sobre a teoria científica desenvolvidos pelo Programa Forte da escola de Edimburgo acabariam por retirar a importância da natureza na prática científica, dando, assim, excessivo valor às dimensões sociais presentes no “fazer ciência”. Para Barra, o grande mérito do livro de Condé está, justamente, em propor uma epistemologia ligada aos estudos sobre a teoria da ciência que, como veremos, pense a atividade científica como um produto da interação linguística entre o aspecto social, próprio do contexto do cientista, que não negligencia o papel do dado empírico proveniente da investigação do mundo natural.
Na Introdução, denominada A ciência tem uma história, Condé anuncia uma de suas teses centrais: a de que, para além da conclusão óbvia de que as ciências têm uma história, a forma como essas histórias são construídas também influenciam o próprio processo de produção científica. Isto é, constatada que a visão dos homens é condicionada historicamente, essa premissa é estendida aos cientistas e às atividades laboratoriais: “Todo conhecimento da natureza é tecido a partir de sua historicidade social e linguística” (p. 28). Mais do que história, as ciências possuem historicidade.
O Capítulo 1, intitulado O filósofo e as máquinas: Koyré, Zilsel e o debate internalismo versus externalismo, tem como objetivo mostrar que as origens desse debate remontam à controvérsia sobre as origens da ciência moderna. Os internalistas, representados na figura de Alexandre Koyré, defendem que a Revolução Científica aconteceu por conta de uma mudança na “atitude metafísica” (p. 32), uma alteração de pensamento no plano teórico, que desbancou a escolástica medieval e instaurou um novo cenário intelectual que possibilitou o desenvolvimento da ciência moderna e, consequentemente, das novas tecnologias. Do lado oposto, os externalistas, representados por Edgar Zilsel, advogam que a Revolução Científica foi protagonizada pelas mudanças oriundas da união do saber prático dos artesãos-engenheiros (o “saber-fazer”) com a racionalidade e o saber teórico da tradição filosófica (o “saber-pensar”), gerando o método experimental que caracterizou a ciência moderna. A emergência do capitalismo e a valorização da tecnologia e da mercadoria teriam influenciado esse processo. Assim, enquanto Koyré e os internalistas entendem a Revolução Científica como uma mudança de “atitude metafísica”, Zilsel e os externalistas a compreendem como uma consequência do novo contexto social e econômico que caracterizou a Modernidade.
Condé argumenta que, embora Koyré e Zilsel tenham lançado duas importantes perspectivas metodológicas para os historiadores da ciência, seus modelos continham imprecisões. O internalismo koyreniano, amplamente baseado no realismo matemático de perfil platônico e cartesiano, desconsiderava a influência do contexto na atividade dos cientistas. Já o externalismo, na forma como apresentada por Zilsel, além de não produzir o conceito de historicidade, já que não desenvolveu a ideia de que a história de uma ciência afeta o seu resultado, dava excessiva importância à tese de que a ciência moderna surgiu da união do “saber-fazer” com o “saber-pensar”. Este argumento foi questionado pelos internalistas que observaram que os antigos romanos também contavam com essas duas práticas em sua sociedade e não produziram a ciência moderna. Assim, mais do que desenvolvimento técnico, os internalistas defendiam que as mudanças trazidas pela Revolução Científica se davam na “atitude metafísica”.
No Capítulo 2, O elo perdido: Fleck e a emergência da historicidade da ciência, Condé mostra como a ideia de historicidade da ciência, amplamente divulgada por Kuhn na década de 1960, já existia desde a década de 1930, desenvolvida pelo médico e filósofo Ludwik Fleck. Este pensador teria sido o primeiro a refletir sobre as conexões que se estabelecem entre a ciência e a sociedade. Segundo Condé, Fleck inaugura uma nova epistemologia para se pensar a prática científica na qual a ciência não pode ser vista separada de seu contexto histórico e social. O conhecimento científico não seria apenas fruto do “estilo de pensamento” de um determinado coletivo de cientistas, mas de toda a sociedade na qual o praticante da ciência está inserido. A partir dessa constatação, Condé conclui que não existe conhecimento fora do social e, consequentemente, fora do tempo. Essa seria a noção de historicidade da ciência que Fleck chamaria, na década de 1930, de “ciência das ciências”. Essas ideias entrariam em conflito com o objetivismo característico do neopositivismo do Círculo de Viena, vertente epistemológica hegemônica da época, o que acabou por relegar Fleck ao ostracismo.
No Capítulo 3, “Um papel para a História”: historicidade versus relativismo em Thomas Kuhn, Condé analisa Kuhn em dois momentos. No primeiro, quando, na década de 1960, publica A Estrutura das Revoluções Científicas, afirmando a importância do contexto histórico no “fazer científico” – premissa que foi de encontro às pretensões de objetividade do “racionalismo crítico” de Popper. E, em um segundo momento, a partir da década de 1970, quando alguns de seus seguidores conduziram o estudo da dimensão social da prática científica às últimas consequências, o que acabou por ocasionar o surgimento de grupos de pesquisas que desabilitavam qualquer pretensão objetiva de investigação da natureza – o Programa Forte de David Bloor seria um exemplo. Estes grupos, chamados socioconstrutivistas, foram considerados por Kuhn como relativistas. Segundo Condé, o autor da A Estrutura das Revoluções Científicas passaria o resto da carreira tentando desenvolver uma teoria que conciliasse a dimensão social com a natural. Entretanto, teria morrido antes de terminar esse projeto. Assim, a “tensão essencial” para Kuhn seria o paradoxo insolúvel no qual “sociedade” e “natureza” são, supostamente, inconciliáveis. Mas Kuhn teria deixado algumas pistas que apontavam para uma possibilidade de inter-relação linguística entre esses dois mundos. Abandonando a noção dos paradigmas, Kuhn passaria a estudar o diálogo entre os diferentes grupos científicos a partir da teoria da linguagem e da tradução dos seus respectivos “campos léxicos”.
Entretanto, segundo Condé, a teoria da linguagem científica desenvolvida por Kuhn defendia a “coisa em si” kantiana, o que o teria impedido de levar a análise linguística às últimas consequências. E é a partir desse horizonte que Condé, no Capítulo 4, Wittgenstein e a gramática da ciência: linguagem e práticas sociais no conhecimento científico, utiliza a filosofia da linguagem desenvolvida por Wittgenstein para estudar uma possibilidade de congregar os três conceitos: a sociedade, a linguagem e a natureza. A partir da ideia de “gramática da ciência” o autor propõe que a “historicidade do conhecimento” é feita pela linguagem, a partir da “tessitura”, ou entrelaçamento, dos aspectos sociais e dos dados empíricos obtidos do mundo natural.
Condé nega qualquer tipo de essência transcendental na linguagem, assumindo, por meio de Wittgenstein, que seu uso nos diferentes contextos é regido por regras – as “gramáticas” –, e que essas categorias de linguagem estão em permanente construção, sendo, portanto, produto da “práxis social”. O que Condé está defendendo é que a “coisa em si” kantiana é questionável nessa abordagem linguística e que a própria cultura científica estabelece, em um movimento permanente, as regras que normatizam as práticas científicas. Diferente do relativismo socioconstrutivista do Programa Forte, Condé admite que essa construção linguística da prática científica é feita, também, em diálogo com a natureza, compreendida como “objetos, fatos, ações” (p. 150). Assim, o autor argumenta que a epistemologia sugerida pela historicidade da ciência reconhece na linguagem a possibilidade de articulação da dimensão social com a natural e empírica do trabalho científico.
Na Conclusão do livro, Condé, além de desenvolver uma síntese das discussões dos capítulos anteriores, afirma que a historicidade da ciência pode ser um horizonte epistemológico produtivo para os analistas interessados em compreender a prática científica como um fenômeno de linguagem que congrega tanto a dimensão social quanto a natural.
O livro Um papel para a história: o problema da historicidade da ciência, mais do que apresentar de forma relevante uma possibilidade de superação do problema internalismo versus externalismo, fornece, com agudeza, novas diretrizes epistemológicas para o estudioso da teoria da ciência interessado em refletir sobre as historicidades possíveis na relação entre o “sujeito” e o “objeto” a partir de uma perspectiva linguística.
Luiz Cambraia Karat Gouvêa da Silva – Bacharel em História pela Universidade de São Paulo, é aluno do Programa de Pós-graduação em História da UNESP/Assis. Tem experiência na área de História da Ciência. Número ORCID: 0000-0001-8697-2799. E-mail: luiz.cambraia.silva@usp.br.
Paraconsistent Logic: Consistency, Contradiction and Negation – CARNIELLI; CONIGLIO (M)
CARNIELLI, W.; CONIGLIO, M.. Paraconsistent Logic: Consistency, Contradiction and Negation. Logic, Epistemology, and the Unity of Science Series. New York: Springer, 2016. Resenha de: ANTUNES, Henrique; CICCARELLI, Vicenzo. Manuscrito, Campinas, v.41 n.2 Apr./June 2018.
The principle of explosion (also known as ex contradictione sequitur quodlibet) states that a pair of contradictory formulas entails any formula whatsoever of the relevant language and, accordingly, any theory regimented on the basis of a logic for which this principle holds (such as classical and intuitionistic logic) will turn out to be trivial if it contains a pair of theorems of the form A and ¬A (where ¬ is a negation operator). A logic is paraconsistent if it rejects the principle of explosion, allowing thus for the possibility of contradictory and yet non-trivial theories.
Among the several paraconsistent logics that have been proposed in the literature, there is a particular family of (propositional and quantified) systems known as Logics of Formal Inconsistency (LFIs), developed and thoroughly studied within the Brazilian tradition on paraconsistency. A distinguishing feature of the LFIs is that although they reject the general validity of the principle of explosion, as all other paraconsistent logics do, they admit a a restrcited version of it known as principle of gentle explosion. This principle asserts that a contradiction that concerns a consistent formula logically entails any other formula of the language. The expression ‘consistent’ here is a generic term susceptible to several alternative interpretations (not necessarily coinciding with non-contradiction), depending on the particular LFI under consideration. Another (related) feature that distinguishes the LFIs from other paraconsistent logics is that they internalize this unspecified notion of consistency inside the object language by means of a unary sentential operator ○ (called ‘consistency operator’ or simply ‘circle’). When prefixed to a formula A, ○ expresses that A is consistent or well behaved, however these expressions are to be interpreted in each particular case.
Paraconsistent Logic: Consistency, Contradiction and Negation, by Walter Carnielli and Marcelo Coniglio, is entirely devoted to the Logics of Formal Inconsistency. The book covers the main achievements in the field in the past 50 years or so, presenting them in a systematic and (to a great extend) self-contained way. Although the book is mostly concerned with particular logical systems, the relations among them, and their corresponding metatheoretical properties, it also sets the basis of a new philosophical interpretation of paraconsistent logics.
The book contains nine chapters, which altogether cover several topics about the LFIs. In Chapter 1 the authors explain the rationales behind paraconsistent logics in general and the LFIs in particular, and discuss the philosophical problems related to paraconsistency under the light of some general issues in the philosophy of logic (such as the nature of logic and the nature of contradictions). It is argued that since there are some real life situations in which contradictions do actually turn up, paraconsistent logics are justified, no matter how those contradictions are interpreted – whether they are seen as concerning reality or knowledge. The chapter also discusses the relation between paracomplete and paraconsistent logics and analyzes some key notions related to paraconsistency, such as consistency, contradiction (and the principle of non-contradiction) and negation.
In Chapter 2 the concept of LFI is precisely defined, as well as other basic technical notions employed throughout the book. A minimal propositional LFI, called mbC, is introduced by means of an axiomatic system. mbC results from positive classical propositional logic by the inclusion of two additional axioms: the principles of excluded middle and gentle explosion – A ∨ A and ○A → (A → (¬A → B), respectively. mbC is then provided with a valuation semantics with respect to which it is proved to be sound and complete. The relations between mbC and classical propositional logic are carefully analyzed. The analysis reveals that mbC can be viewed both as a sublogic and as an extension of classical logic, when these terms are suitably qualified.
Chapter 3 presents several extensions of mbC and analyzes the relations between the notions of consistency/inconsistency and contradictoriness/non-contradictoriness – formally expressed by the formulas ○A/¬○A and A ∧ ¬A/¬(A ∧ ¬A), respectively. As it turns out, although consistency and non-contradictoriness (and inconsistency and contradictoriness) are partially independent in mbC, they may or may not coincide in some of its extensions. In addition, the notion of a C-system is introduced. Despite the complexity of the relevant definition, a C-system simply amounts to an LFI within which the consistency operator is definable in terms of the other connectives of the language. Da Costa’s hierarchy of paraconsistent logics – a family of paradigm examples of C-systems – is briefly presented and explained. The chapter also deals with the important notions of propagation and retro-propagation of the consistency operator.
The first part of Chapter 4 is devoted to the problem of the algebraizability of some LFIs, and the second part discusses some many-valued LFI-systems. In Section 4.1 some preliminary concepts concerning logical matrices are introduced. Section 4.2 contains a Dugundji-style proof of the uncharacterizability by finite matrices of the LFIs presented so far. Section 4.3 contains a proof of the algebraizability of some extension of mbC in the broader sense of Block and Pigozzi. The remaining sections deal separately with different many-valued LFIs, most of which were proposed several decades before the emergence of the concept of Logic of Formal Inconsistency.
Chapter 5 represents a partial detour from the main exposition, for the systems presented therein are not extensions of positive classical propositional logic. The first case considered by the authors is that of intuitionistic logic: more specifically, it is shown how a consistency operator ○ can be defined within Nelson’s logic N4 in terms of a strong negation ~ operator (i.e., ○A ≡ ~(A ∧ ¬A)). Another interesting case covered by the chapter is that of modal logic, where the consistency operator is shown to be interpretable as having a sort of “modal flavor”. In particular, the definition ○A ≡ A → □A can be introduced in normal non-degenerate modal logics. Some systems of fuzzy logic are also analyzed in the chapter. In all of the aforementioned logics, the strategy pursued by the authors consists in defining a consistency operator within the system in question and then showing that it satisfies the general definition of an LFI.
Chapter 6 is devoted to the problem of defining non-deterministic semantics for non-algebraizable systems (even in the broader sense of Block and Pigozzi). It presents three main formal semantics – based, respectively, on F -structures, non-deterministic logical matrices, and possible translations. Of particular interest, especially from a more philosophical point of view, is the so-called possible translation semantics, whose main idea is to translate a given logic into logics whose semantics are well known and deterministic. The relevant notion of translation is that of a mapping preserving logical consequences and the rationale for this approach is the interpretation of a logic as a combination of “possible world views”.
Chapter 7 concerns first-order LFIs. The chapter is mainly devoted to two systems: QmbC, the first-order extension of mbC, and QLFI1. Due to the non-deterministic nature of mbC, a non-standard semantics is defined for its first-order extension: the authors introduce the notion of a Tarskian paraconsistent structure, defined as an ordered pair composed of a Tarskian structure (in the classical sense) together with a non-deterministic valuation. Concerning QLFI1, the approach is twofold: on one hand, it is shown how the language may be interpreted in a suitable Tarskian paraconsistent structure; on the other hand, a different semantics is proposed, given that the propositional fragment of QLFI1 can be characterized by a three-valued matrix. The semantics is represented by a partial structure, defined in a similar way to a classical Tarskian structure, except for the fact that all predicate symbols are interpreted as partial relations. Both QmbC and QLFI1 are proved to be sound and complete with respect to the corresponding semantics. Compactness and Lowenhëim-Skolem theorems are proved for QmbC.
Chapter 8 concerns one of the most straightforward applications of paraconsistent logics: set theory. Nevertheless, the authors’ approach to the subject is substantially different from what has been traditionally done in the field of paraconsistent set theory – namely, to formulate a non-trivial naïve set theory countenancing the unrestricted comprehension principle for sets. The systems presented in the chapter include all of Zermelo-Fraenkel set theory’s axioms (except for the axiom of foundation, which is replaced by a weaker version of it) with an LFI as the underlying logic. Another distinguishing feature of those systems is that they include a consistency predicate for sets whose behavior is governed by a set of additional axioms. Hence, whereas in a propositional LFI the property of consistency applies only to formulas, in the corresponding paraconsistent set theories it applies to both formulas and sets. The main results of the chapter are the derivability adjustment theorem (establishing that any derivation in ZF can be recovered within its paraconsistent counterpart) and a proof of the non-triviality of the strongest system presented in the chapter.
Chapter 9 discusses the significance of contradictions for science, describing some historical paradigm examples where contradictions seem to have played an important role in the development of scientific theories. It also proposes an interpretation of paraconsistent logics according to which they are better viewed as possessing an epistemological, rather than an ontological, character; in a nutshell, this means that they are not supposed to deal primarily with reality and truth (as in the case of classical logic), but with the epistemic notion of evidence. This interpretation is meant to be a more palatable alternative to dialetheism (the thesis that there are true contradictions), since it neither affirms the existence of true contradiction nor rejects classical logic as incoherent – adhering thus to logical pluralism.
One of the main virtues of Paraconsistent Logic: Consistency, Contradiction and Negation is that it keenly highlights the pervasiveness and generality of the notion of logic of formal inconsistency. Firstly, because it shows through the definition of an LFI how several systems of paraconsistent logic proposed in the literature – which at first sight might have appeared to be quite unrelated with one another – can be framed under a single unifying concept. Secondly, because it emphasizes that the definition of an LFI is applicable to systems based on logics of various different kinds, such as classical, intuitionistic, fuzzy, and modal logic. The resulting multiplicity of systems allows for various alternative semantic approaches, which are carefully described in several chapters of the book (e.g., valuation semantics, deterministic and non-deterministic matrices, F-structures, swap structures, possible translations semantics).
The book is mainly devoted to the taxonomy of LFI-systems, leaving little room for a more detailed discussion of the intrinsic properties of each particular system. This is understandable, though, since it is not meant to be a textbook. However, it is possible to use the book as an introductory text on formal paraconsistency by skipping some of the more technical chapters (e.g., a reader merely interested in those LFIs based on positive classical propositional logic may well skip chapters 5, 6 and possibly 8).
Concerning the more philosophical chapters of the book (chapters 1 and 9), the reader might think that the issues discussed therein would have deserved a more extended and rigorous analysis, especially when compared to the painstakingness of the other chapters. In particular, she might find the epistemic interpretation of paraconsistent logics wanting, despite its initial plausibility, this view in not sufficiently argued for. Moreover, specific relations between the epistemic interpretation and the particular features of the LFIs are missing. Nevertheless, this apparent shallowness is presumably due to the fact the purpose of those chapters is not to thoroughly develop a philosophical theory about paraconsistency, but merely to indicate some conceptual possibilities. After all, Paraconsistent Logic is mainly a technical piece of work.
So much for the general considerations. There are two specific points that we think would deserve a more detailed discussion. The first one concerns the cumbersome notation employed in the characterization of the semantics of first-order LFIs (Chapter 7): the strategy adopted by the authors in that chapter consists in extending the (non-deterministic) propositional valuations to the first-order case, combining these with a (classical) Tarskian structure – characterized, as usual, by a non-empty domain together with an interpretation function. The resulting first-order valuations apply thus only to sentences and the notion of truth, as in the propositional case, is not defined in terms of assignments, sequences, or any other technical device usually employed in order to interpreted the variables. The absence of any of these devices leads the authors to locally indicate all the relevant substitutions of individual constants for the free variables of a given formula. In the case of QmbC, for example, the semantic value of a quantified formula ∀xA (under a structure ? and a valuation v) is defined by means of the following clause:
v(∀xA) = 1 iff v(A[x / ā]) = 1, for every a in the domain of ?
where A[x / ā] denotes the result of substituting the constant ā for all free occurrences of x in A, and where the language is supposed to have at least one individual constant ā for each elements a of the domain of ? (that is, the language is supposed to be diagrammatic). At first sight, the use of the notation [x / ā] (and its generalization [x 1,…, x n / ā 1,…, ā n] to multiple simultaneous substitutions) does not seem to compromise readability at all – in fact, they are usually employed in the definition of substitutional semantics for first-order logic. However, matters become much more complicated when it comes to the additional clauses introduced in the definition of v(A) in order to guarantee that the substitution lemma holds for Tarskian paraconsistent structures. One of these clauses, which concerns the negation operator, is formulated as follows:
(sNeg) For every contexts (x→ ; z) and (x→ ; y), for every sequence (a→ ; b→ ) in the domain of ? interpreting (x→ ; y→ ), for every A ∈ L(?) x→ ; z and every t ∈ T(?) x→ ; y→ such that t is free for z in A, if A[z/t] ∈ L(?) x→ ; y→ and c = (t[x→ ; y→ / a→ ; b→ ]) ?“ then:
If v((A[z/t])[x→ ; y→ / a→ ; b→ ]) = v(A[x→ ; z / a→ ; c]) then
v((¬A[z/t])[x→ ; y→ / a→ ; b→ ]) = v(¬A[x→ ; z / a→ ; c])
Without attempting to individually explain every piece of notation above, (sNeg) merely expresses that if the substitution lemma holds for a formula A, then it holds for its negation as well (the introduction of this clause, absent in the definition of classical first-order structures, is necessary given the non-deterministic behavior of the negation operator in mbC). Now, it is quite clear that the reader would probably take several minutes to read and understand (sNeg). Moreover, this situation is not restricted to (sNeg), but it also happens with the similar clause concerning the consistency operator and the formulation and proof of various semantic theorems enunciated in Chapter 7. The notational cumbersomeness of the chapter is further worsened by the introduction of the notion of extended valuation, which assigns a truth value to an arbitrary formula A (not necessarily a sentence) by indicating a sequence of individual constants with respect to which A is to be evaluated. More precisely, if the free variables in A are among x 1,…, x n (abbreviated by x → ) then the truth value of A under the extended valuation v x→ a→ is simply v(A[x 1,…, x n / ā 1,…, ā n]). This notion represents a simile of the notion of satisfaction and is necessary in order to provide an interpretation for the open formulas.
The notation of Chapter 7 could, however, be greatly simplified in the following way: instead of importing the notion of valuation from the corresponding propositional LFI, the authors could well have defined a new notion of valuation which assigns one of the truth values 0 or 1 to each pair (s, A), where s is an assignment of objects of the domain to first-order variables and A is an arbitrary formula (open or closed). All definitions and theorems of the chapter could then be easily adapted according to this strategy, yielding much simpler formulations. In particular, clause (sNeg) above would become:
(sNeg’) Let A be a formula with at least one free variable z and let t be a term free for z in A. Let s be an assignment in a structure ? and let s’ be the assignment which is just like s except that is assigns the interpretation of t under s to the variable z. Then:
If v(s’, A) = v(s, A[z / t]) then v(s’, ¬A) = v(s, ¬A[z / t])
In addition to the evident simplicity of this new formulation, it is worth mentioning that since the notion of valuation above applies to any formula whatsoever of the language (open or closed), it is unnecessary to introduce extended valuations, resulting in a significant conceptual simplification.
Our second criticism concerns the paraconsistent set theories of Chapter 8. In general, the main motivation for a paraconsistent set theory is to recover the intuitive notion of set codified in the unrestricted principle of comprehension – i.e., the idea that every property P determines a set of all and only those objects having P. Of course, this can only be achieved by renouncing to classical logic, since that principle classically entails the existence of contradictory sets (e.g., Russell’s set, universal set, etc.). On the other hand, classical set theories (such as ZF) maintain classical logic at the cost of imposing what seems to be ad hoc restrictions to the comprehension principle and countenancing additional principles whose justification seems also ad hoc. Hence, paraconsistent and classical set theories are symmetrically opposed to one another: what the former tries to achieve (i.e., preserve the intuitive notion of set) is given up by the latter, and what the latter preserves (i.e., classical logic) the former revises.
Nevertheless, the approach to paraconsistent set theory adopted by the authors diverges significantly from these two trends. Firstly, because the attempt to recover the intuitive notion of set codified in the principle of comprehension is explicitly given up once they opt for ZF-like axiomatizations of their theories – ruling out well-known inconsistent collections from the outset. Secondly, given that those theories are variations of ZF based on one or another LFI, the revision of the underlying logical theory is achieved by extending classical logic, rather than renouncing to it. In fact, each of the set theories of Chapter 8 is equivalent to ZF under the assumption that all sets enjoy the property of consistency.
This particular take on paraconsistency may leave the reader wondering what is the point of having a paraconsistent set theory that does not explicitly countenance contradictory collections (‘Why not just stick with ZF?’, she might ask.). The book does not provide an explicit answer to this question, though. However, it would not be difficult to imagine a scenario in which the systems of Chapter 8 would be vindicated: suppose that ZF is someday shown to be inconsistent. Under this circumstance, any of those systems could be used to preserve the strength of ZF while avoiding its triviality. Even though a paraconsistent set theory of this kind may turn out to be fruitful, its fruitfulness turns on an unlikely possibility, though – namely, that ZF could be inconsistent. In view of such a possible application, we suggest that the approach to paraconsistent set theory adopted by the authors is aimed at presenting alternative versions of ZF that are more “cautious” in the sense that they would be able to withstand contradictions, should they ever arise within ZF. For this reason, we believe that those theories should not be viewed as competitors to classical set theories, but rather as interesting and possibly useful variations of it, whose mathematical properties are nonetheless worth investigating.
Paraconsistent Logic: Consistency, Contradiction and Negation is a comprehensive text on the LFIs and fulfills an important gap in the literature on paraconsistency. A huge amount of significant results is presented for the first time in a single text, providing the reader with an extensive survey of the research in the area. Moreover, the content of the book is not limited to the achievements of the so-called Brazilian school of logic, but also encompasses contributions coming from other areas and research groups. As a result, it is highly recommended for everyone interested in both the formal and the philosophical aspects of paraconsistency, including mathematicians, linguistics, computer scientists, and philosophers of language, mathematics and science.
References
CARNIELLI, W., CONIGLIO, M. Paraconsistent Logic: Consistency, Contradiction and Negation. Logic, Epistemology, and the Unity of Science Series. New York: Springer, 2016. [ Links ]
Henrique Antunes – State University of Campinas, Department of Philosophy, Campinas, SP, Brazil, antunes. E-mail: henrique@outlook.com
Vincenzo Ciccarelli – State University of Campinas, Department of Philosophy, Campinas, SP, Brazil. E-mail: ciccarelli.vin@gmail.com
Quando ninguém educa: questionando Paulo Freire – ROCHA (SO)
ROCHA, Ronai Pires da. Quando ninguém educa: questionando Paulo Freire. São Paulo: Contexto, 2017. Resenha de: SECCO, Gisele Dalva. Sofia, Vitória, v.6, n.3, p. 175-191, jul./dez., 2017.
INTRODUÇÃO: UM POUCO DE CONTEXTO
Muitos dos temas e problemas com os quais lida Quando ninguém educa: questionando Paulo Freire (ROCHA, 2017) são frutos de reflexões germinadas no ainda pouco explorado Ensino de filosofia e currículo (ROCHA, 2008). Exemplarmente constam ali críticas do “princípio do presépio” como critério capital de desenho curricular; da concepção expressivista de currículo; da imagem da desnutrida da escola como mero aparelho de reprodução de desigualdades sociais; das abstrusas caracterizações de interdisciplinaridade mobilizadas em documentos e debates sobre currículo escolar, do populismo pedagógico; das projeções de ferinas disputas universitárias em ambiente escolar.
A Introdução de Quando ninguém educa informa que a motivação final para sua escrita data de fins de 2015, quando da publicação do ofício endereçado ao Conselho Nacional de Educação (CNE) por pesquisadores da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) com o apoio da Associação Brasileira de Currículo (ABdC). Intitulado “Exposição de Motivos sobre a Base Nacional Comum Curricular”,2 o documento apresenta, em nove tópicos, observações desfavoravelmente críticas à forma e ao conteúdo da primeira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) — naquela ocasião, sujeita à consulta e a debates públicos.
A oferta da BNCC pelo Ministério da Educação (MEC) em 2015 fora prescrita em 1996, no artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O objetivo fulcral do documento sugere-se em sua denominação: servir de alicerce para edificações de currículos nas redes estaduais (caso do Ensino Médio, a partir de agora EM) e municipais (caso do ensino fundamental, a partir de agora EF), e em cada instituição de ensino brasileira. A proposição da BNCC, portanto, configura-se como uma condição de possibilidade do exercício pleno dos direitos garantidos pela lei máxima da educação nacional.
Para além do destaque à reação das entidades representantes da comunidade de pesquisadores em educação frente à proposição da primeira versão da BNCC, vale ressaltar outro elemento do cenário em que se compôs o livro aqui analisado: o fato de que, como se conta no primeiro capítulo (“O currículo e as competições ferozes”), aquela reação foi uma de outras, todas fluindo em peculiar leito midiático:
De um dia para outro a conversa sobre o currículo saiu do círculo dos especialistas, passou para os editoriais dos grandes jornais e dali foi para as redes sociais. A questão da existência ou não de uma base curricular nacional deixou de ser um tema dos especialistas e passou a ser matéria do noticiário cotidiano. (Rocha, 2017, p. 23)
Voltemos ao ofício da ANPEd: em uma passagem, declara-se existir, na base de elaboração da Base, um descolamento entre “as constantes críticas dos especialistas na área” e os alicerces curriculares estipulados na LDB, que deveriam figurar na BNCC. Alega-se ainda, na mesma passagem, que nos anos imediatamente anteriores à publicação da BNCC o MEC operou silenciamentos “sobre os debates, avanços e políticas no sentido de democratização e valorização da diversidade” em prol de um “projeto unificador e mercadológico na direção que apontam as tendências internacionais” (ANPED, Ofício n.º 01/2015/GR, p. 1). Se é fato a ruptura entre o que dizem os especialistas na área (mencionados do ofício da ANPEd) e os especialistas chamados pelo MEC a elaborar a BNCC, perguntar parece propício: o que nos insinua tal fato? Por que a BNCC, parece, teria sido elaborada sem considerar as referidas “críticas constantes”, encarnando um modelo de currículo a elas avesso?
Questão de segunda ordem: seriam tais perguntas respondidas a contento pela via explicativa de mão única que enfatiza as opções políticas desta ou daquela gestão ministerial, e de cada equipe de professores e pesquisadores por elas mobilizadas na confecção da Base? Ou, como acadêmicos dedicados a pensar em como nossa área (a Filosofia) pode contribuir para os debates sobre a construção da Base, nos seria permitido duvidar desta via expressa, buscando compreender as coisas sob outras perspectivas em teorias curriculares? É apostando em respostas positivas a esta última questão, que Quando ninguém educa foi publicado — sem para nada excluir como irrelevantes os elementos de ordem política que compõem o quadro das práticas curriculares no Brasil.
Sobre o momento desta publicação, é trivial lembrar que se trata de um período de padecimento para todos. Vivemos consideráveis perdas de direitos sociais, e ameaças de maiores, mais profundos e variados retrocessos. É inevitável mencionar, nesse contexto, a proposta de revogação do título de Patrono da Educação Nacional, pertencente a Paulo Freire, por parte de mensageiros de “movimentos” “sem partido”, nem ideologia. Um sobreaviso, assim, quase tarda: o livro aqui anotado não seja tratado, por motivo de subtítulo, como gato no saco de desmastreios em que estão metidas iniciativas de similar estirpe. Se é verdade que Quando ninguém educa (QNE) foi publicado em momento turvo e tenso, não é menos verdade que por seus estilo, teor e dicção, visa um público extenso e multiforme, e tem um dilatado potencial para provocar conversas, debates e autocríticas cuja urgência e importância não podemos falhar em reconhecer. Que o mapa que se pode traçar a partir das anotações a seguir possa servir para estimular a leitura deste livro, contracorrente.
1 SOBRE A PRIMEIRA PARTE: A TRAMA E A CRÍTICA
Do ponto de vista morfológico o livro está composto de três partes intercaladas por quatro parábolas, denominadas pelo autor como “fábulas de Zilbra”. O comparecimento de tais historietas não configura aspecto ignorável, pois não somente impõem certo ritmo à leitura das partes principais do livro, como também um tom que pode gerar desconfortos em leitores mais sensíveis às críticas embutidas nesta peculiar eleição retórica. O mesmo se aplica aos primeiros parágrafos do capítulo inaugural, em que, ao modo de pastiche, encontramos uma comparação entre discussões atuais acerca de currículo escolar e debates sobre o valor universal da democracia no Brasil dos anos 1970. Desde o início, portanto, saiba o leitor da possibilidade de estranhamentos diversos no que diz respeito ao modo como são apresentadas as ideias do autor. Quais são elas?
Sigo aqui a ordem da composição. Após a proposição do pastiche como forma de verificarmos semelhanças e diferenças entre o cenário atual e o cenário em que se iniciou o processo de suspensão da tradição de estudos curriculares no Brasil, a primeira parte do livro narra o processo de estabelecimento da teoria curricular hoje hegemônica no país, fortemente calcada em estudos culturais e sociologias do conhecimento (trata-se, portanto, do advento de teorias críticas e teorias pós-críticas do currículo, ocorrido com o abandono das teorias tradicionais). Desde cedo em QNE somos impelidos a pensar que as críticas ao modelo teórico tradicional — o assim chamado currículo por objetivos — resultaram, no Brasil da segunda metade do século passado, em um processo de descarte do abacate junto com o caroço. Vejamos, ainda de que brevemente, quais eram os pontos principais destas críticas.
O primeiro deles indica que teorias como as de Ralph Tyler e Hilda Taba (nomes dos mais conhecidos nos estudos curriculares de então), tal como praticadas no Brasil e a despeito de algum sucesso do ponto de vista de “metas triviais”, não satisfaziam “os fins mais amplos da educação” (ROCHA, 2017, p. 28). Foram, assim, batizadas de tecnicistas. A segunda acusação alegava que a formulação de objetivos de aprendizagem em termos operacionais, válida para o campo empresarial, não valeria para o educacional. Ademais, tal modelo pressionaria em demasia os professores quanto ao planejamento sequencial das fases da aprendizagem, sem espaço para desdobramentos da ordem do imprevisível, que exigiriam menos planejamento e mais capacidade de improviso por parte dos docentes.3 A esta crítica se associa uma quarta, relativa ao privilégio de comportamentos cognitivos enquadráveis em avaliações e mensurações que acabariam por excluir a dimensão humana da experiência escolar — razão pela qual se incriminou o modelo por baixa densidade democrática. Finalmente, dada a padronização da avaliação dos resultados das aprendizagens escolares em termos de mensurações objetivas, artes e ciências humanas não caberiam no espartilho de um tal modelo curricular, cujo descarte estaria, assim, plenamente justificado. Uma sugestão de pesquisa, no livro somente implicada, propõe comparar os cinco pontos das críticas ao modelo tradicional de currículo com os nove pontos de crítica apresentados pela ANPEd no oficio acima descrito: quais diferenças e repetições vigoram entre elas?
O capítulo inicial remete ainda à discussão proposta no segundo capítulo de Ensino de filosofia e currículo (EFC), onde Rocha delineia uma perspectiva sobre educação na qual convivem em paz seu objetivo principal, o da conservação da herança cultural da humanidade — e que será esclarecido adiante no livro, na seção “A educação é conservadora” — e o respeito ao “aspecto essencial de indeterminação, intrínseco à formação educativa” (ROCHA, 2017, p. 29). O capítulo finaliza num duplo movimento: por um lado, e com base nas sugestões de Lawrence Stenhouse, “desempacota” o conceito de educação, como o conceito de um complexo contendo ao menos cinco etapas ou eixos:
Quanto mais nos elevamos nas camadas do processo educativo — habituação, treinamento, instrução, iniciação, indução — mais torna-se complexa a aplicação do modelo de currículo por objetivos. Os problemas mais interessantes ocorrem na área de indução ao conhecimento, pois trata-se de uma tarefa na qual as diferentes camadas da educação estão presentes. De um lado, quando aprendemos a falar colocamos em ação as estruturas conceituais e inferenciais da linguagem, das quais nem sempre temos uma consciência explícita e de cujas potências nem sempre suspeitamos; mas quando aprendemos nossa língua materna não estamos apenas dominando um código, pois ele traz consigo algo que um dia chamaremos, com sorte, de “mundo”. Aqui surge (ou não) a aventura do conhecimento, pois queremos induzir nossos filhos a uma explicitação dos níveis básicos de conhecimento que acompanham a aquisição da língua materna. O nome disso pode ser escola e currículo. (ROCHA, 2017, p. 31).
Por outro lado, o autor sugere que é possível retomar alguns dos bons elementos da tradição de desenhos curriculares calcada no modelo por objetivos, desde que nossa atitude como filósofos e teóricos do currículo não consista na dogmática postura de virar-lhe as costas, sem qualquer empenho de compreensão e subsequente avaliação de seu valor na empreitada de aprimorar a cultura curricular e pedagógica nacional. Além disso, após oferecer — novamente com o apoio de Stenhouse — uma caracterização de currículo como esforço para comunicar as linhas gerais de propósitos educacionais de maneira constitutivamente aberta à crítica, Rocha termina por alinhavar a primeira apreciação mais pungente do espectro hegemônico do campo curricular no Brasil. É neste momento que começamos a entender a função que a análise da opera magna de Paulo Freire tem no livro, pois somos então informados de que
No final dos anos 1970, o giro sociopolítico no campo do currículo consolidou-se e, com ele, os estudos curriculares ligados aos conteúdos e às didáticas foram varridos para baixo do tapete pedagógico. No lugar deles entraram as teorias da ação social aplicadas à educação. O esvaziamento da escola foi de tal ordem que surgiu no início dos anos 1980 um movimento que procurou recuperar o que havia sido sacrificado no altar da crítica. (ROCHA, 2017, p. 33).
Ora, foi justamente o grupo da “Pedagogia histórico-crítica” ou “Pedagogia crítico-social dos conteúdos” o responsável por tecer as primeiras críticas à pedagogia freiriana. Nela não estariam contemplados, de modo adequado, a entrada das crianças e dos jovens no universo dos conhecimentos escolares. De acordo com os primeiros críticos, esta insuficiência se deve, em larga medida, à ênfase desmesurada na valorização da cultura extraescolar na experiência pedagógica. Veremos a seguir, porque o deixa bastante claro o autor, que uma tal desmedida parece se dever um pouco menos à letra do texto de Paulo Freire do que a certas apropriações inadequadamente dogmáticas, derivadas de leituras anacrônicas, de sua Pedagogia do oprimido.
O segundo capítulo segue a narrativa acerca do que chama de extravio da cultura curricular nacional, mobilizando discussões acerca da natureza da escola, uma reflexão sobre as melhores maneiras de conversar sobre currículo, e uma importante crítica à “visão expressivista do currículo” — exposta em documentos oficiais como as Orientações curriculares para o ensino médio . Nesta visão, o currículo é compreendido como um tipo de orientação sem poder de prescrição . A ideia é a de que um currículo que descreva comportamentos esperados de cada ator do teatro educacional não deve desdobrar seu potencial de prescrição das melhores atitudes a esperar de professores e alunos,4 mas tão somente manifestar, revelar, exteriorizar (quiçá sem critério algum?) o que cada sistema e escola entende como o melhor para sua comunidade particular (estaríamos diante de uma sorte especial de relativismo pedagógico?).
Esta primeira e também extensa parte do livro contém ainda cinco capítulos. Antes de expor a crítica a Freire, e a certo freirismo, constante no capítulo “Ninguém educa ninguém”, direi do contexto da crítica no fluxo narrativo-argumentativo de QNE. É que imediatamente antes do estudo de caso crítico, aparece “Formas do conhecimento”. Este capítulo abre com uma máxima de dupla função: de um lado, arrematar o que fora exposto nos capítulos “O currículo como iniciação” e “O currículo como mensagem” (duas perspectivas pouco ou nunca sonhadas pelo grosso da pedagogia nacional) e, de outro, anunciar a tônica de sua crítica: “Conversar sobre currículo sem falar em epistemologia é como pacto sem espada, vira conversa fiada” (ROCHA, 2017, p. 59). Que o modo de adágio desta frase não aligeire o leitor a ignorar a que imediatamente se segue:
Se é verdade que o currículo implica poder e política, pois ele está ligado às formas de distribuição e transmissão de conhecimento, é igualmente verdadeiro que estamos falando exatamente sobre conhecimento .” ( Loc. cit .).
Quem, em são entendimento, poderia desviar-se de tamanha evidência? A quem serviria ler QNE de modo a ignorar sua obstinação na discussão conceitual, filosófica, sobre as relações internas entre categorias epistemológicas e curriculares? Possivelmente somente àqueles sectários afeitos à erística, dessidente do jogo de dar e pedir razões — dos quais temos exemplos de sobra tanto à direita quanto a esquerda do espectro político-ideológico.5 Mas voltemos ao texto.
Antes, no capítulo sobre o currículo como mensagem, o leitor havia sido familiarizado com o vocabulário, algo denso, advindo de uma sociologia da educação epistemologicamente tratada, encarnada na obra de Basil Bernstein. Destaque-se aqui a centralidade da distinção entre conhecimento ou discurso horizontal e vertical , a partir da qual somos a apresentados à crítica do “populismo pedagógico” como fruto de uma confusão entre tais categorias. Registre-se, de modo telegráfico, que se os discursos ou conhecimentos horizontais são da ordem do mostrar — das coisas que aprendemos em nossas comunidades locais, por meio de treino e exemplo (amarrar os sapatos, usar talheres) —, os conhecimentos horizontais são da ordem do dizer : eles operam e se aprendem por meio de “estruturas simbólicas especializadas de tipo explícito, proposicional” (ROCHA, 2017, p. 50). Tais conhecimentos, que Michael Young compreende como efetivamente “empoderadores”,6 demandam ambientes especialmente desenhados, como escolas, para sua aquisição.
Ora, o que em QNE se chama populismo pedagógico se resume num conjunto de práticas curriculares balizadas na polarização entre o conhecimento popular e o conhecimento especializado, frequentemente associadas a uma romantização ou supervalorização do primeiro em detrimento do segundo. Podese neste ponto antecipar os resultados das críticas ao modo hegemônico de ler a Pedagogia do oprimido como uma forma particular de populismo pedagógico: de tanto proteger o aluno de “sustos didáticos”7 (derivados de coisas como aprender a demonstrar um teorema geométrico ou compreender o que é se contradizer), o populismo pedagógico acarreta o abandono de aprendizagens daquele “conhecimento poderoso” de que fala Young (como aprender a demonstrar um teorema geométrico ou ser capaz de reconhecer ou visualizar a relação lógica de contradição no clássico quadro das oposições, ou a aprender a ler mapas, ou uma obra de Clarice Lispector).8
A trama de fundo da crítica a Freire e a seu modo habitual de apropriação e propagação apresentada na seção “Ninguém educa ninguém” envolve ainda a ênfase de Rocha na ideia de que a epistemologia, como investigação sobre as variedades do conhecimento humano, é indispensável para práticas curriculares adequadas aos fins da escola. Aquelas, as variedades, dizem respeito aos distintos critérios para a disposição e ajuste curricular dos conhecimentos, tais como: suas fontes, seus tipos, objetos, as estruturas dos objetos de conhecimento, os tipos de consciência que cada saber mobiliza, seus graus de publicidade, e as não menos relevantes condições sociais e históricas de sua produção e apropriação. Já os fins da escola, por sua vez, tomam corpo na ideia de empoderamento intelectual e humano dos estudantes, e serão ainda tematizados em ao menos três das “séries de lembranças” que compõem a parte final do livro. De todo modo, desta trama praticamente se pode deduzir a pergunta pela epistemologia sobre a qual se erige a referência máxima da pedagogia nacional. Chegamos, assim, ao acontecimento crítico central da primeira parte de QNE.
O capítulo dedicado, ao modo de estudo de caso, a analisar a Pedagogia do oprimido se desdobra em quatro momentos, a começar por um duplo reconhecimento: o da importância histórica da obra, combinado ao do anacronismo de suas leituras mais comuns. Se da primeira não há folga em esquecer, do segundo pouco se diz. As luzes anacrônicas que geralmente se projetam sobre esta obra de Freire, mostra Rocha, se revelam no modo como uma distinção importante como aquela entre educação bancária e educação emancipadora é transportada, do contexto em que foi engendrada — com a finalidade de criticar os modos de relação dos dirigentes políticos da ação revolucionária com as massas, afinal “o tema do livro são as relações de opressão consideradas em um nível de bastante abrangência” (ROCHA, 2017, p. 69) — para contextos de discussão sobre os fins e meios da escola . Não à toa, somos informados, a palavra “escola” aparece em escassas cinco ocasiões ao longo de toda a obra. Mas o problema indicado com as parcas referências à escola não se encerra nesta observação, estendendo-se ao modo como Freire pensa a relação entre lar e escola, fortemente influenciada pelas assim chamadas visões reprodutivistas. Tais perspectivas consideram a escola, prioritariamente, com um aparelho de réplica das desigualdades sociais típicas de instituições como a família (em que os pais mandam e as crianças obedecem, e não pensam) e as prisões (comparação suficientemente desgastada como para exigir alguma explicação aqui).
Que uma distinção tão central para o livro de Freire, como entre “bancário” e “emancipador” seja assim generalizada — do contexto de alfabetização de adultos para o contexto de alfabetização de crianças em idade escolar — explica-se pelo fato de que além de anacrônicas, as leituras mais comuns da Pedagogia do oprimido são também seletivas. De acordo com Rocha, a dificuldade de contextualizar o que Freire diz nos capítulos inicial e final do livro acaba por induzir os leitores contemporâneos a simplesmente ignora-los, para o mal de sua compreensão. Nesses capítulos, aponta Rocha, Freire indica claramente a quem o livro se dirige (os companheiros revolucionários, por quem era acusado de não ser suficientemente comunista, e a quem acusa de agir conforme um sectarismo tão nefasto quanto o de seus efetivos oponentes), e de onde brotam os princípios que orientam, por exemplo, a necessária “reeducação ‘dos profissionais de formação universitária ou não’”, calcada em um alargamento das estratégias dialógicas de ação cultural por parte dos revolucionários. Rocha destaca que
O tema da reeducação dos acadêmicos ocupa quatro páginas no final do livro e é mais uma das formulações freirianas que somente faz sentido quando se tem presente o flerte de muitos intelectuais com o maoísmo da época. Como já antecipei, o livro era um libelo contra o dirigismo revolucionário que contaminava as fileiras da esquerda e a educação bancária a que se o livro se refere pouco tem a ver com os processos de escolarização formal. (ROCHA, 2017, p. 70).
Tendo mostrado suficientemente como a falta de sentido histórico é um aspecto importante na avaliação da atualidade da Pedagogia do oprimido , Rocha se dedica a auscultar a epistemologia sugerida nas considerações de Freire acerca da estruturação do conhecimento. Não se vai longe: citadas algumas passagens, ficamos sabendo que as importantíssimas fontes de saber que são memória e testemunho são ali desprezadas, dando-se a entender “que quando alguém nos conta alguma coisa não há um trabalho de conhecimento” (ROCHA, 2017, p. 71). Do que resulta uma concepção de saber que, aceitas as maneiras de encarar os fenômenos relativos ao conhecimento desde a perspectiva em epistemologia contemporânea aqui adotada, faz pouco sentido — embora se adeque à causa da época.
Ao postular uma educação libertadora que parece não atentar a elementos relevantes para uma descrição minimamente adequada dos processos de conhecimento — como a participação da memória e do testemunho de outros seres humanos na construção de diferentes tipos de saber — engasta-se na obra de Freire a ideia de que “ninguém educa ninguém”. Rocha enfatiza que esta tese foi mobilizada pelo autor no contexto de abordagem da tarefa de alfabetizar adultos. Quer parecer, portanto, que uma reterritorialização da tese para “pensar a escola, o currículo e o conhecimento em outros níveis que não o da alfabetização de adultos” (ROCHA, 2017, p. 72) implicaria alguma mudança no modo de ver a coisa. Deveríamos nos precaver de generalizar teses situadas em contextos específicos. Para que possa o leitor ele mesmo julgar se a concepção sobre o conhecimento humano que encontramos na Pedagogia do oprimido é, como pretende Rocha, demasiadamente restrita, o capítulo “Variedades do conhecimento” mostrará, articuladas, uma gama de distinções conceituais. Vendo este capítulo como uma sorte de “introdução à epistemologia para fins de desenho curricular”, e dado o atual contexto de discussões sobre o que é e como se faz currículo, talvez seja este um dos momentos mais importante de todo o livro. Para Rocha, os critérios de classificação das formas de conhecer, a que já me referi acima e que recebem uma organização gráfica bastante simpática (cf. Rocha, 2017, p. 82), devem ser incorporados ao léxico dos desenhistas de currículos. Isso se justifica na medida em que se aceita a adequação deste gênero de taxonomia diante da tarefa de projeção de distintas e plurais dimensões da formação e das aprendizagens humanas (objeto de estudo da epistemologia aqui mobilizada) nos currículos escolares. A título de amostra da articulação entre epistemologia e currículo escolar proposta por Rocha, ofereço abaixo uma importante passagem deste capítulo final da primeira parte:
A noção de conhecimento precisa de um esclarecimento simples e importante. Não podemos considerar o conhecimento humano apenas como o conjunto das afirmações verdadeiras sobre os diversos aspectos da realidade. O conhecimento tem muitas outras dimensões. As afirmações que encontramos nas diversas áreas de realizações e conhecimentos surgiram a partir do exercício de habilidades e procedimentos duramente conquistados ao longo da história da humanidade. O conhecimento não é apenas produto, é antes de tudo um processo, e a Pedagogia, de modo coerente com essa compreensão, não é um misto de teoria e prática acompanhada de consciência política. A capacidade profissional de intervenção do pedagogo não é adquirida apenas pelo estudo de teorias; ela surge da combinação disso com a formação de uma capacidade de julgamento e avaliação de situações particulares. Essas habilidades surgem no contexto de uma formação por meio de situações de conhecimento por familiaridade, ligadas ao desenvolvimento da capacidade de saber-fazer. (ROCHA, 2017, p. 85)
Além de servir também para que não se acuse o autor de proclamar uma monarquia do conhecimento proposicional, vale destacar que esta passagem participa de um argumento crítico de certas estratégias de estudo sobre currículo de teor sobremaneira sociologizante e descontrutivista, de que a Pedagogia do oprimido é exemplar. Em geral, para Rocha, elas consistem na desidratação de considerações de ordem metateórica que são imprescindíveis para bem situar e realizar o que pretendem — desmantelar as edificações erguidas a partir de nefastas relações de poder e saber, “construções sociais de x ”. Nelas também se encontra um uso “de descrições homogeneizadoras e estereotipadas da ‘ciência’, do ‘ocidental’, da ‘objetividade’, da ‘neutralidade’.” (ROCHA, 2017, p. 85) Isso posto, não é de se espantar a baixa atratividade de muitos debates sobre currículo e pedagogia no Brasil para o público do campo filosófico: enquanto a fenomenologia do conhecimento e da ciência que perpassa as estratégias desconstrucionistas permanecer tão precária como nos apresenta Rocha, parece que nosso destino guarda forte tendência a seguirmos patinando em discursos dotados de tanto sentido quanto a maior parte das experiências escolares cotidianas — sobre as quais, sabemos, incidem elementos que por óbvio ultrapassam os temas de QNE, que afinal não é um livro sobre a dimensão política da escola. Somente leituras tortuosamente motivadas podem esperar deste livro mais do que ele pretende fornecer: uma perspectiva em estudos curriculares que, posicionando o estudioso em primeira, e não mais terceira em pessoa, favoreça o resgate de uma mística mínima para a escola.
2 SOBRE A SEGUNDA PARTE: EPISTEMOLOGIA, CURRÍCULO, E UM CHAMAMENTO
Após noventa páginas de abertura, e precedida por uma parábola que conta sobre o início da derrocada da hierarquização das disciplinas no currículo escolar, a segunda parte de QNE se dedica a fazer o que apontou como ausente nas estratégias anteriormente criticadas: refletir, em perspectiva de segunda ordem, sobre as relações conceituais que mobiliza em seus argumentos. Assim, os dois capítulos desta parte do livro tematizam, o primeiro, as relações entre o campo da epistemologia e o campo do currículo; o segundo, os modos como a noção de interdisciplinaridade floresceu nos documentos e nos debates sobre desenho curricular — como solução algo mágica para o fenômeno do “professor fragmentado”. Vejamos quais os principais pontos de cada capítulo.
Em “Currículo e epistemologia”, Rocha retoma algumas questões já abordadas em outros momentos de sua obra,9 descrevendo os bons frutos que uma interação entre estas duas áreas pode gerar para ambas e, em especial, para as práticas de desenho e realização de currículo. Resgatando as perspectivas sobre currículo apresentadas anteriormente (currículo como iniciação e como mensagem ou narrativa daquilo que valoramos como passível de transmissão às novas gerações), o autor reconhece a evidência de que as práticas curriculares são objeto de disputas que envolvem a tentativa de “chegar a acordos sobre os aspectos centrais de nosso reservatório curricular” (ROCHA, 2017, p. 93). Tal reconhecimento calibra, por meio de um contraste, os aspectos sociológicos dos fenômenos curriculares com os aspectos primordiais, os que implicam “uma teoria do conhecimento, ligada ao papel da escola como uma instituição comprometida com o que temos de melhor.” ( Loc. cit .).
Da parte da epistemologia, Rocha a descreve novamente utilizando a categoria da narração: “é o estudo do conhecimento — daquilo que contamos como conhecimento, sua natureza, fontes, limites, formas etc.” ( Idem , grifos meus), e segue esclarecendo que os problemas da epistemologia são tão polimorfos quanto as variedades já exploradas. Tais problemas e variedades incluem, em um polo, temas ligados ao papel de formalismos de ordem lógica na estruturação de certos conhecimentos e, no oposto, temas vinculados aos aspectos políticos e sociais das diferentes formas de saber. Os dois campos nomeados com as palavras “epistemologia” e “currículo” podem andar juntos sem estranheza:
Isso parece ser cada vez mais necessário, na conjuntura em que vivemos, diante das muitas propostas de intervenção no currículo escolar: as pressões para a introdução de conteúdos sobre criacionismo e ensino religioso, as polêmicas sobre a base curricular nacional e as propostas de mordaças na escola. Nessa hora fala-se sobre muita coisa e pouco sobre os critérios conceituais que devem presidir as decisões de desenho curricular, menos ainda sobre a penúria de nossa cultura pedagógica, curricular e avaliativa. (ROCHA, 2017, p. 94)
Oportuna, a lembrança da aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) que se segue a esta passagem não nos deixa esquecer que, a despeito das rupturas e dificuldades que vivemos, este livro participa do esforço em continuar e qualificar os debates sobre educação no país. O PNE renovou as pressões anteriores para que se pratique interdisciplinaridade nas escolas, o que supõe planejadores “boa noção das características dos domínios da experiência e do conhecimento que serão alvo do currículo” ( Idem ). Ocorre que planejar currículos interdisciplinarmente articulados exige muito mais do que tem sido feito — vide o exemplo das duas primeiras versões da BNCC para o Ensino Médio, claramente confeccionadas sem qualquer sinal de contato entre diferentes interfaces disciplinares. Diante destes fatos, e das sugestões até aqui colocadas em QNE, aparece um conjunto de nove “perguntas singelas”, das quais destaco as que dizem respeito ao tipo de unidade curricular que se pode supor, à organização curricular de diferentes disciplinas ou saberes (ou seja, dadas as disciplinas de que dispomos, pode-se deduzir uma organização implícita do currículo ou qualquer critério organizacional é externo às disciplinas?), à compreensão da estrutura conceitual de cada disciplina , e de suas relações.
Um dos esclarecimentos mais importantes no que diz respeito ao tema da interdisciplinaridade no currículo é elaborado na segunda seção deste capítulo. Trata-se da distinção entre um nível avançado, dito “de pesquisa”, e um nível mais elementar, propriamente escolar. Vale destacar que para Rocha, independentemente da perspectiva assumida, qualquer empreitada interdisciplinar precisa, por manutenção de sentido, reconhecer o respeito pelo conhecimento disciplinar. A não ser que se retorne a algum ideal absolutista de unificação dos saberes, parece que a famigerada fragmentação dos conhecimentos precisa ser recolocada, e avaliada, em seu devido lugar.
Enquanto a interdisciplinaridade à serviço da pesquisa tem a ver com o desenvolvimento de explicações de fenômenos tão complexos a ponto de exigir a associação de disciplinas existentes (e às vezes mesmo a criação de novos campos de saber, como observa Olga Pombo)10, a interdisciplinaridade a serviço da escola “é uma tarefa curricular e didático-pedagógica”:
É curricular porque pode ser antecipada nas fases de macroplanejamento, é didático-pedagógica porque sua realização efetiva na escola depende da mobilização de vontades particulares, da sensibilidade aos contextos de aprendizagem e da subordinação aos objetivos formacionais. Pense aqui, como exemplo, nas relações de dependência conceitual entre a matemática e a física, ou entre habilidades de argumentação e domínio da língua: não aprendemos a argumentar adequadamente no vazio conceitual. O interdisciplinar escolar não entra em conflito com as disciplinas e tampouco é uma panaceia contra a falta de unidade do saber e a fragmentação dos conhecimentos. Por vezes a gente esquece que “disciplina” também quer dizer “ter cuidado”. (ROCHA, 2017, p. 95)
A última observação, associada ao reconhecimento de um fato conhecido por quase todos os educadores do Brasil — o que de não somos habituados a trabalhar como equipes — o que se segue até o final do capítulo é uma reflexão instigante acerca do conceito de transmissão (lembra-se aqui do desprezo de Freire pela narração como transmissão), posto que as disciplinas escolares passam e ser vistas como “rizomas de realizações e curiosidades humanas” (ROCHA, 2017, p. 96) que merecem e devem ser transmitidas, ou traduzidas,11 para aqueles que se iniciam no mundo através da escola. Reconhecendo que os processos de transmissão de tais rizomas culturais não são passíveis de formulações canônicas satisfatórias, Rocha termina por considerar o currículo como sendo “para a educação, como um roteiro ou guião, com a diferença importante de que temos que contar a história” (ROCHA, 2017, p. 97). Este, por assim dizer, “dever curricular” deriva, na perspectiva de Rocha, de sua concordância com a filósofa que tão bem abordou o tema do caráter conservador da educação — Hannah Arendt.
O capítulo seguinte, segundo e final desta parte do livro, nos conta como e por quais motivações os documentos oficiais trazem à tona a demanda por ações curriculares interdisciplinares e contextualizadas. A história é complicada e repleta de matizes, os quais apenas insinuarei aqui. Em primeiro lugar, cabe destacar como um exemplo de complicação (por vagueza) conceitual o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), de acordo com o qual as disciplinas escolares figuram no currículo como passos a serem superados por uma esperada — e entretanto jamais circunscrita ou positivamente caracterizadas — interdisciplinaridade. Em seu “segundo afloramento”, nas Orientações Curriculares Nacionais (OCN), a questão da integração e da articulação no currículo passa a ser tratada, mostra-nos a análise de Rocha, por meio de verbos como relacionar, conectar, vincular, sem no entanto diferenciarem-se os modos como propostas de inter, trans, e outros gêneros curriculares se diferenciam entre si com relação a tais ações. “As expressões surgem como um rol de reis assírios, sonoras, belas, mas magras” (ROCHA, 2017, pp. 103-4). A imagem sugerida nesta passagem certamente faz referência ao princípio de organização curricular já criticado em EFC, o princípio do presépio . De acordo com este princípio, que por inércia seguimos quase todos, cada professor, em cada escola, traz para o currículo aquilo que consegue, sem jamais se perguntar pelo que trazem os demais como contribuição para as aprendizagens dos estudantes. Após seis páginas de uma detalhada análise do modo como se compreende a interdisciplinaridade nas OCN (“O mistério da multiplicação das áreas do conhecimento”), Rocha aborda o desejo de “Resgate do uno” — exemplificado num documento de orientação curricular do estado do Rio Grande do Sul. O capítulo termina com a sugestão de que uma das melhores maneiras de evidenciar a penúria de nossos debates sobre o assunto é a defesa da tendência, autorizada por documentos como o que por último foi analisado, a uma eventual democracia epistemológico-curricular (a postulação radical de uma igualdade de direitos entre todas as disciplinas escolares, refletida na distribuição igual de horas semanais). Para sustentar a legitimidade desta evidência, o autor retoma pontos já trabalhados, como a necessidade de escrutínio de importantes pressuposições conceituais das nossas conversas sobre currículo:
Tal crença na igualdade democrática das disciplinas implicaria um conjunto adicional de crenças sobre a natureza e o papel delas no crescimento e na formação humanas. Ora, estaríamos aí no núcleo duro de uma discussão de epistemologia e currículo, no início de uma longa conversa sobre a natureza dos conhecimentos, habilidades e competências que queremos promover na escola. (ROCHA, 2017, p. 110).
Nesse ponto o leitor poderia com razão reclamar do caráter algo evasivo da sugestão de discussão sobre as relações entre epistemologia e currículo. Gostaríamos de ver como elas se refletiriam ou desdobrariam, por exemplo, em negociações sobre distribuição de horários de diferentes disciplinas, ou em discussões sobre a presença compulsória de distintas disciplinas no currículo escolar — discussão de relevância fundamental após a publicação da Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, que modifica substancialmente a estrutura curricular do Ensino Médio e seus meios de financiamento.12
Aproveitando a referência à situação atual, é oportuno ressalvar as perguntas inicialmente propostas nestas notas, relativas a um fato reconhecido no documento da ANPEd: a falta de diálogo entre gestores, formuladores de currículo (mais especificamente a BNCC — que, não custa lembrar, não é um currículo ) e os especialistas que constantemente criticam os moldes e conteúdos das iniciativas propostas em distintos documentos oficiais. Propus, então, uma leitura de acordo com a qual QNE é um esforço, eminentemente acadêmico , em responder à pergunta pela possibilidade de explicar esta falta de diálogo de modo crítico e positivo. O livro de Rocha poderia, e talvez mesmo deveria, ser lido como proposição de caminhos, alternativos ao hegemônico na academia brasileira, de diálogo entre os que tomam decisões políticas acerca da educação, os professores e gestores no chão da escola e os pesquisadores em educação. Em tempos de rupturas como as que vivemos, esta não é uma tarefa de pouca valia — embora possa ser entendida por alguns como inadequada concessão ao campo inimigo. Foi em razão desta possibilidade interpretativa — além, é claro, do que se pode identificar como estrito caroço da proposta — que, também nas notas introdutórias a este texto, caracterizei QNE como um livro contracorrente. Se o leitor com nada mais concordar, fica ao menos um chamamento para a continuidade da prosa, que se adverte cedo ou tarde inevitável: precisamos falar sobre currículo.
3 SOBRE A TERCEIRA PARTE: POR OUTRA CULTURA CURRICULAR
Feita álbum, a reunião de lembranças de que é composta a parte final de QNE organiza-se em cinco partes, ou variações, sobre os principais temas abordados anteriormente. Como explicitação de pressupostos, o final do livro atesta a legitimidade da descrição fornecida ainda na em sua Introdução, como “caderneta de campo muito pessoal” do professor Ronai.
Autorizada pela consideração de que o que foi dito até aqui serve suficientemente como descrição do contexto e da estrutura do livro — e também por julgar que estas descrições funcionam como chamado à leitura do texto aqui anotado — não apresentarei com o mesmo detalhamento os capítulos de sua parte final. O que ofereço ao leitor, a partir de agora, é uma avaliação do livro, condensada em algumas perguntas que incidem menos sobre o que nele é dito, e mais no que ele pode nos mostrar.
Começo pelo que está posto no capítulo “Quarta série de lembranças”, em que se discute com mais fôlego o tema da interdisciplinaridade escolar a partir da postura de respeito às disciplinas. Para Rocha, vivemos em um clima conceitual pautado por muitos especialistas do esfarelamento curricular, no qual ocorre um “triplo jogo de faz de conta”. Nele, manter as disciplinas implica fragmentações já insuportáveis; a escola deve visar a unificação destes fragmentos; e as áreas de saber são, ainda assim, unidades pedagogicamente operacionais. Juntos, estes três elementos tornam a situação conceitualmente insustentável, pelo seguinte:
Em primeiro lugar, a diversidade de disciplinas não é o resultado de caprichos burocráticos. Ela expressa apenas o fato trivial que cada uma das disciplinas tradicionais é uma faceta peculiar da curiosidade humana, com suas características e nuances. Em segundo lugar, não podemos confundir os anseios por um sentimento de unidade na vida de cada um de nós com a fantasia de uma unidade do conhecimento. O que isso significaria: uma mesma metodologia operacional aplicada a todas as ciências? Por fim, a pesquisa sobre a integração das disciplinas em áreas, se existe, não chega nem às escolas nem aos livros. A prática usual de uma escola é a do “cada um por si”, mas isso nada tem a ver com uma suposta falta de unidade do conhecimento humano, é apenas uma falha no trabalho de formação pedagógica. (ROCHA, 2017, p. 132)
Quadro que, reconhecido, impõe a questão sobre o que fazer — especialmente com relação à formação docente nas universidades brasileiras.13 Quanto a isto, para o autor (e para esta autora), é um fato que não podemos decidir como seguir se não entendermos como chegamos até onde estamos. Nossas principais dificuldades envolvem fatores ligados à democratização do acesso à escola pública sem a devida atenção em termos de políticas de acolhimento do “novo público”, e à consequente queda de qualidade do ensino e das aprendizagens; à ênfase desmedida em leituras sociológicas e políticas das relações educacionais, em detrimento de estudos curriculares epistemologicamente tratados; mas passam também pelo fato de que, para profissionais da filosofia, é claro que a pesquisa pedagógica prática é melhor em áreas que se dedicam há mais tempo (Ciências Naturais e Matemática, por exemplo).
Além disso, a tão falada “bacharelização” dos cursos de licenciatura em filosofia constitui um dos elementos chaves neste processo, e tarda muito em ser discutida de maneira adequada entre nós — especialmente no momento em que todos os cursos de licenciatura do Brasil estão em vias de modificar seus currículos para adequar-se à já referida Lei 13.415, à Resolução nº 02, de 1º de julho de 2015 do CNE14 e à proposta, no momento ainda não divulgada, da versão final da BNCC do Ensino Médio. Sobre “As licenciaturas”, seu futuro, Rocha afirma o predomínio do ceticismo:
A formação docente que ocorre no interior das universidades ainda não encontrou um formato adequado, mas isso pouco tem a ver com boas ou más vontades . Há fatores objetivos que concorrem para isso. O principal deles é que o ciclo de afirmação dos departamentos de conhecimento básico, que são essenciais para as licenciaturas, ainda está em curso. As melhores energias institucionais ainda se concentram na fixação da identidade profissional de cada disciplina e na construção de uma rede de pós-graduação. (ROCHA, 2017, p. 137, grifos meus)
Sublinhando as ricas experiências de formação docente (inicial e continuada) possibilitadas por importantes iniciativas dos governos anteriores (seja o PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, agora ameaçado de extinção, o exemplo), não pareceria, ao contrário, haver muita má vontade distribuída em nossos departamentos no que tange à tarefa de formar bons professores para as escolas de nosso país?
Encerro este texto de modo um pouco abrupto, alinhavando uma avaliação do livro que pretende pensar menos o que ele faz e mais o que ele ainda pode fazer , com as seguintes perguntas:
- Quanto ao tipo de pesquisa que nos permitiria avaliar melhor a plausibilidade da ideia e da instauração de currículos “epistemologicamente democráticos”: o que podemos somente com os conceitos destacados neste livro?
- Quanto ao comprometimento dos Departamentos, em especial os de Filosofia, nas discussões sobre educação: é pouco mesmo o papel das vontades, e maior o das questões “objetivas” (consolidação das identidades dos cursos de graduação e da rede de Pós-Graduação)?
- Nas reformas curriculares das licenciaturas, agora em curso: como podemos aplicar o que em QNE é pensado na direção da relação com a escola? Quais adaptações são necessárias para que apliquemos as críticas feitas no livro aos departamentos alheios (de Educação) sobre nós mesmos (do campo da Filosofia)?
Comentando Tolstoi, Wittgenstein disse que a compreensibilidade geral de um tópico é, no mais das vezes, dificultada pelo que “a maioria das pessoas quer ver”. Por causa disso, seguiu, “as coisas mais óbvias podem se tornar as mais difíceis de compreender. Não é relacionada ao entendimento que uma dificuldade precisa ser superada, senão à vontade” (Wittgenstein, 2000). Dadas certas dificuldades da vontade que mui provavelmente alguns de nós enfrentarão com a leitura de QNE — sejamos ou não do campo da Filosofia — só posso lembrar das palavras de outro excelso escritor, silogizando algumas delas num adágio final: em filosofia da educação, muitas vezes, o que a lida quer da gente é coragem.15
Notas
1 Professora no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
2 Disponível em: <http://www.anped.org.br/sites/default/files/resources/Of_cio_01_2015_CNE_BNCC.pdf>. Acesso em: 09 de novembro de 2017.
3 Valeria perguntar-se aqui pela ideia que fazem os críticos, de ontem e hoje, acerca do improviso na arte, invariavelmente acionada como modelo de prática a ser seguida pela pedagogia, em detrimento de modelos como as práticas científicas.
4 Estranha ideia, sobretudo se pensarmos, por exemplo, no caráter inevitavelmente normativo do uso de dispositivos como mapas, que servem para representar e fornecer orientação (a não ser que se deseje flanar sem rumo, mapas prescrevem os melhores caminhos a seguir dadas certas finalidades: chegar mais rápido ao destino, ou com mais segurança, ou pelo caminho mais agradável etc.).
5 O que, aliás, não só era de conhecimento de Paulo Freire, como foi levado em conta como audiência privilegiada da Pedagogia do oprimido , conforme se conta na seção “Os sectários de esquerda e de direita” (ROCHA, p. 69). A esta altura faz-se imperioso lembrar de “A educação depois de 1968, ou cem anos de ilusão”, ensaio no qual Bento Prado Jr. reflete acerca das transformações nas ideias sobre educação no Brasil entre as décadas de 1960 e 1980. Nosso filósofo aborda então o que chamou de “descarrilamento do pensamento progressista”, alinhavando críticas similares às que Rocha concretiza em QNE no que diz respeito a aporias que a filosofia da educação brasileira deveria, já naquela ocasião, enfrentar. Que me seja permitido sugerir ao leitor sugestionado uma visita a este belo e atualíssimo ensaio.
6 Aludo em especial a um dos poucos textos deste sociólogo traduzido do inglês para nossa pátria, “Para que servem as escolas?” (YOUNG, 2007).
7 A expressão foi emprestada de Tiago Irigaray, estudante licenciatura e bolsista do PIBID Filosofia UFRGS que, sob a supervisão da Prof.ª Rúbia Vogt, realiza sua iniciação à docência no Colégio de Aplicação da UFRGS. Tiago batizou assim o efeito de práticas didáticas — atualmente sob experimentação — nas quais os alunos respondem muito positivamente às novidades conceituais que lhes são apresentadas nas aulas de Filosofia.
8 Aprender a demonstrar teoremas, mais do que aprender a calcular, é um modo de alfabetização simbólica, de aprender a manipular diagramas e figuras, usar definições, seguir regras, imaginar movimentos e testar possibilidades de percepção e raciocínio. Somente alguma sorte de cegueira diante dos prazeres estéticos e intelectuais da matemática pode engendrar qualquer desprezo por seu ensino, ou apagar as possibilidades de articulação entre práticas matemáticas e artísticas.
9 Não somente em EFC (em especial no capítulo “Estudos curriculares e filosofia”), mas também em “Qual epistemologia? Qual currículo?” (ROCHA, 2016).
10 Em um texto que serve de excelente complemento bibliográfico a esta seção, “Epistemologia da interdisciplinaridade” (POMBO, 2008). 11 Utilizo o recurso à sinonímia possível entre traduzir e transmitir a partir da constatação de similaridades positivamente relevantes entre QNE e o precioso livrinho, há pouco publicado na França, Transmettre, apprendre (BLAIS, GAUCHET & OTTAVI, 2014).
12 O texto da lei encontra-se em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13415-16fevereiro-2017-784336-publicacaooriginal-152003-pl.html>.
13 De todas as opiniões de especialistas recentemente veiculadas sobre este assunto, destaco uma das mais recentes, de Bernadete Gatti, disponível no link a seguir. (A manchete afirma o óbvio.): http://epoca.globo.com/educacao/noticia/2016/11/bernardete-gatti-nossas-faculdades-nao-sabemformar-professores.html.
14 Disponível em: http://ced.ufsc.br/files/2015/07/RES-2-2015-CP-CNE-Diretrizes-CurricularesNacionais-para-a-forma%C3%A7%C3%A3o-inicial-em-n%C3%ADvel-superior.pd.
15 Agredeço aos colegas César Santos, Frank Sautter, Elisete Tomazetti, Mitieli Seixas e Rogério Saucedo, pelas diversas análises e críticas que compartilhamos na tarde de debates sobre o QNE organizada pelo Departamento de Filosofia da UFSM — algumas das quais foram incorporadas a este texto.
Referências
BLAIS, Marie-Claude & GAUCHET & OTTAVI, Dominique. Transmettre, apprendre . Paris: Stock, 2014.
POMBO, Olga. Epistemologia da interdisciplinaridade. Revista do Centro de Educação de Letras da Unioeste — Campus de Foz do Iguaçu , vol. 10, n. 1, pp. 940, 2008.
PRADO Jr., Bento. A educação depois de 1968 ou cem anos de ilusão. In: ______. Descaminhos da Educação. Pós — 68. São Paulo: Brasiliense, 1980. pp. 9-30.
ROCHA, Ronai Pires da. Ensino de filosofia e currículo . Petrópolis: Vozes, 2008.
______. Qual epistemologia? Qual currículo?. In: SECCO, Gisele Dalva (Ed.) Epistemologia e currículo: registros do II Workshop de Filosofia e Ensino . Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2008. pp. 95-132.
______. Quando ninguém educa: questionando Paulo Freire . São Paulo: Contexto. 2017.
YOUNG, Michael. Para que servem as escolas?. Educação e Sociedade . Campinas, vol. 28, n. 101, pp. 1287-1302, 2007.
Gisele Dalva Secco1 – Professora no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Brasil. E-mail: gisele.secco@ufrgs.br
[DR]
When historiography met epistemology: Sophisticated histories and philosophies of science in French-speaking countries in the second half of the nineteenth century | Stefano Bordoni
Dedicated to a book which has long been considered a classic, and which, from the Traité de l’enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l’histoire (1861) by A.-A. Cournot to L’évolution des théories physiques du XVIIe siècle jusqu’à nos jours (1896) by P. Duhem, takes us on a tour of 35 years of intellectual history, this review offers three objectives. Firstly, to present the author’s broader arguments. Secondly, considering that, on the one hand, its contents are not immediately apparent (at least not from its Table of Contents) and that, on the other hand, the method used consists in providing (while remaining as faithful to the text as possible) a critical interpretation and commentary on the selected publications, to provide a brief introduction to the authors and the themes addressed. Lastly, owing to its publication within a dossier specifically dedicated to P. Duhem, to further explore the main arguments and ideas, which occupy nearly a third of the work, centered around this illustrious scholar.
French historical epistemology can be defined as the conviction whereby a genuine and authentic historical perspective is seen as essential in order to establish a constructive dialogue between science and philosophy, and in order to construct an epistemology which better conforms to the reality of scientific approach. According to the traditional view adopted chiefly by A. Brenner and C. Chimisso, it originated, depending upon the chosen emphasis, either during the last decade of the 19th century with the works of H. Poincaré, P. Duhem and G. Milhaud (A. Brenner), or during the 1930s and 1940s with G. Bachelard as the key figure in this case (C. Chimisso). Leia Mais
O Brasil na história: deturpação das tradições, degradação política – BOMFIM (RETHH)
BOMFIM, Manoel. O Brasil na história: deturpação das tradições, degradação política. Rio de Janeiro: Topbooks; Belo Horizonte, Puc/Minas, 2013 [1930]. 486 p. Resenha de: FERREIRA, Clayton José. Epistemologia, Historiografia e História no ensaio “O Brasil na História, de Manoel Bomfim”. Revista Expedições: Teoria da História e Historiografia, Morrinhos, v. 8, n. 2, mai./ago. 2017.
Em sua extensa obra, Manoel Bomfim (1868-1932) produziu quatro ensaios de cunho histórico, respectivamente: A América Latina: males de origem (1905), O Brasil na América: caracterização da formação brasileira (1929), O Brasil na história: deturpação das tradições, degradação política (1930) e o Brasil nação: realidade da soberania brasileira (1931). Nestes livros procura descrever e compreender grande parte da história brasileira através das mais diversas fontes documentais e da obra de diversos historiadores nacionais e internacionais os quais tiveram a história brasileira como objeto de estudo. Do mesmo modo, elabora uma crítica historiográfica, debatendo questões sobre a escrita da história.#
Educador, historiador, médico e psicólogo, nasceu na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, porém, viveu a maior parte de sua vida no Rio de Janeiro, onde completou sua formação superior em medicina, exerceu cargos públicos, participou da fundação de jornais e revistas e se tornou professor. Escreveu alguns trabalhos dedicados a educação escolar, tal qual o livro de leitura escrito em coautoria com Olavo Bilac, Através do Brasil (1910), utilizado até a década de sessenta em muitas escolas, tendo sua última, das muitas edições, datada do ano de 2000. Sua obra adquiriu, nas ultimas décadas, uma ressignificação diante da relevância em nossa contemporaneidade de temáticas abordadas pelo autor como, por exemplo, a discussão em torno da potencialidade na multiplicidade étnica e a importância da ampliação da educação básica. Os textos de Bomfim anteriores a 1905, tal qual o discurso O progresso pela instrução proferido em 1904 e, posteriormente publicado, o artigo no jornal A República em sete de Janeiro de 1897, intitulado Dos Sistemas de ensino, e o discurso pronunciado em 1906 e intitulado O respeito à criança, também publicado, possuem um extenso material a respeito da sua preocupação com a educação no Brasil. Dada a atualidade de muitos temas trabalhados em sua obra, seu trabalho tem sido revisitado e novas edições de seus textos têm sido publicadas nas ultimas décadas, tal qual a nova edição de 2013 do livro resenhado.#
O ensaio histórico O Brasil na História de Bomfim, possui uma importante erudição teórica sintonizada a muitos dos principais historiadores, filósofos e sociólogos de sua contemporaneidade, além da análise de um grande número de fontes documentais. O livro de Bomfim se inicia com uma importante introdução a qual procura esclarecer sua compreensão epistemológica da história. Neste texto, intitulado “orientação”, é abordada a relação ontológica do ser humano com a história. Tanto em nossa existência individual como social procuramos possíveis estímulos para nossas ações de modo a norteá-las e potencializá-las. Impulsos parcamente constituídos podem resultar em constantes escolhas infrutíferas, na estagnação da ação e na instabilidade. Como a espécie humana e seu sucesso se estabeleceram através da capacidade de se organizar e agir socialmente (perspectiva construída a partir de sua leitura de Darwin), estímulos os quais projetam uma melhor sociabilidade orientam a atuação humana rumo a aquilo o qual se considera progresso em uma determinada temporalidade.#
Portanto, sentimentos socializadores ou, a preocupação ética, são constantemente abordados na busca por estabilidade dos conflitos humanos. Tais estímulos para a busca por orientação da ação são elaborados, individualmente e comunitariamente, através do compartilhamento de determinadas experiências históricas que estão centralizadas na história, na memória, na identidade e na tradição. Apesar da distância moderna entre passado e presente, as experiências humanas, necessariamente são, com maior ou menor intensidade, espaços para a constituição de alguma reflexão e orientação do agir. Dito isto, Bomfim aponta a necessidade de um esforço historiográfico que siga ao encontro desta constituição ontológica do humano para que o conhecimento histórico profissional e científico ofereça possibilidades de reflexão sobre o norteamento da realização humana, enfrentando os aspectos abstratos e subjetivos da experiência, porém, consciente da incapacidade da disciplina em oferecer prognósticos.#
A partir deste argumento, irá produzir uma crítica direcionada a historiografia nacional a qual, segundo Bomfim, possui uma metalinguagem onde se narra a história brasileira como o lugar da decadência, da desordem e da incapacidade para o progresso. Para o autor, o passado brasileiro (ou daqueles os quais viveram no território o qual se tornou o Brasil) evidencia uma profunda competência para o desenvolvimento. Se o saber histórico pode auxiliar na reflexão e orientação, já que necessariamente ou, para o autor, “instintivamente” os indivíduos se relacionam com o passado, a educação está na centralidade de seus argumentos para mediar e capacitar uma relação mais sofisticada no interior das experiências de modo a produzir uma sociabilidade melhor organizada, de ampliar o que Bomfim chama de “consciência” dos motivos para a ação frente a concepções de progresso historicamente constituídas. Uma historiografia centrada em certa hermenêutica a qual desestimula e retira a potencialidade das experiências passadas e desvia dos objetos históricos os quais demonstram outras possibilidades, fundamentava parte da constituição de uma memória e tradição desencorajadoras frente ao ideal de progresso, atribuindo crédito à falácia da incapacidade civilizacional do brasileiro.#
O primeiro capítulo retoma e desenvolve a relação entre a tradição, a memória e a historiografia no interior de uma sociabilidade ativa sob o signo da nacionalidade. Para o autor, a partir da modernidade, a compreensão coletiva a respeito do passado está diretamente associada a capacidade confiante e engajada em se produzir ideais comunitários de progresso. A aptidão para produzir e direcionar a ação coletiva produz uma maior disposição à solidariedade entre os indivíduos e, portanto, situa-se no interior da sedimentação de valores ético-morais. Seria necessária uma historiografia atenta a esta compreensão teórica, já que ai se encontra o registro mais sofisticado e preciso do passado. Após estas reflexões, Bomfim quer deixar claro que sua proposta historiográfica, mesmo enquanto crítica à epistemologia da disciplina, mantem-se atrelada à produção do saber histórico através do método, da representação do passado fundada no maior rigor e exatidão possível, e não em uma hermenêutica a qual apresente uma história irrealista, idealizada.#
Exatamente para tal aproximação do real, entende ser de vital importância que se tematize aspectos subjetivos entre as experiências passadas e sua contemporaneidade já que tais aspectos são partes incontornáveis da existência. Ainda no interior deste argumento, critica severamente a expectativa descabida de objetividade, apontando que, mesmo através de procedimentos criteriosos, ainda assim todo saber será produzido no interior de valores morais e de identidade do pesquisador. Tais vínculos entre a história e a potencialização da sociedade frente a projetos de progresso poderiam ser observados na historiografia realizada naqueles países considerados como os mais avançados. No entanto, Bomfim aponta criticamente esta abordagem quando ela produz a representação imprecisa de um passado, fantasiando e glorificando a história em um esforço de legitimação de uma equivocada superioridade hierárquica, imputando a outros países a subordinação e dependência, calcadas falsamente em argumentos de inferioridade da formação histórica, social e étnica. O que é considerado progresso civilizacional na modernidade diz respeito a uma complexa relação de saberes e técnicas produzidos pelos mais diversos povos no tempo, o que tornava esta noção hierárquica um esforço estratégico para a realização de uma política internacional favorável.#
No segundo capítulo é tematizada parte das abordagens históricas produzidas em outros países a respeito do Brasil como uma causa externa da deturpação da história brasileira, enquanto que a primeira causa interna estaria associada ao que chama de “Estado português bragantino”. Estas reflexões são voltadas, neste capítulo, com uma especial atenção aos historiadores, sociólogos e viajantes franceses os quais produziram trabalhos sobre o Brasil. Para o ensaísta, grande parte destes autores (Jean de Montlaur, Edmund de Goucourt, Renan, Koster, Gilbert Chinard, Villegagnon, Léry, Thevet, Febvre, Chateaubriand, Gauthier, Flaubert, etc.) teriam produzido muitos dos seus trabalhos buscando confirmar preconceitos e conjecturas, se utilizando de noções teóricas deturpadoras da realidade brasileira (para Bomfim, especialmente o positivismo de Comte), buscando o exótico e produzindo excessivas generalizações; escolhas inadequadas para analisar e compreender experiências divergentes do pesquisador. Como a intelectualidade francesa possuía grande prestígio, suas obras acabavam por impactar negativamente na compreensão do Brasil pelos brasileiros, deturpando principalmente a história nacional. Flexionando este argumento frente a alguns escritores, Bomfim traça grande elogio à História do Brasil (1810) do historiador inglês Southey, o qual teria produzido na grande maioria de seu livro uma sofisticada e atenta análise a qual associava as dicotomias da objetividade e subjetividade valorizadas pelo sergipano.#
Quanto à administração bragantina, esta teria estabelecido um regime centralizado que incapacitou a realização do que Bomfim compreende como uma tradição a qual poderia culminar com uma política republicana; tradição desenvolvida devido a anterior frouxidão das capacidades administrativas da metrópole, resultando em uma organização no território brasileiro relativamente autorregulada. As sublevações, realizadas até então e a partir deste momento contra o Estado, teriam sido compreendidas como resultados de uma população desordeira, sem autogoverno, incapaz frente aos ideais civilizacionais modernos, categorizadas sempre como insurgências e inconfidências e desvalorizando os movimentos sociais no registro da historiografia. No entanto, para Bomfim, se tratavam de legitimas manifestações contra o Estado, de grande potencialidade para a politica republicana, demonstrando ampla capacidade para os ideais progressistas de sua contemporaneidade.#
O terceiro capítulo dedica-se a mediação e crítica de parte da historiografia nacional. Aqui, muitos dos historiadores fortemente associados aos Estados monárquicos desde 1808 são apontados como a segunda causa interna da deturpação da história brasileira. Tais autores, especialmente Varnhagen, teriam repetido, no intuito de legitimar a política centralizadora do Estado, os argumentos os quais imputavam a população uma desordem e incapacidade atávica. Em sua crítica a Varnhagen, há uma forte desaprovação de seus procedimentos para o levantamento de fontes e dados, métodos, fundamentos hermenêuticos e teóricos. Como sua contrapartida, aponta Capistrano de Abreu como historiador ideal, de procedimentos científicos, o qual associava simultaneamente em seu trabalho fundamentos objetivos e subjetivos. Há também uma análise elogiosa a respeito do livro História do Brasil (1627) de Frei Vicente do Salvador como o primeiro e mais valoroso esforço de produção de uma história brasileira, procurando realocá-lo como verdadeiro patriarca da história nacional no lugar de Varnhagen.#
A crítica a respeito do argumento que atribui à monarquia Bragança a unidade territorial é a primeira questão a ser debatida no quarto capítulo. Neste ponto, é desenvolvida com maior densidade a compreensão de que havia certa frouxidão do Estado até a transferência do centro governamental para a até então colônia americana, o que gerou certa auto regulação administrativa a qual tendia à constituição de uma tradição republicana. Admitindo as distâncias e diversidades dos povoamentos ralos, critica especialmente o pressuposto a respeito da unificação atribuído a monarquia no livro Os Sertões (1902) de Euclides da Cunha. Bomfim defende a existência de certa solidariedade entre a maior parte dos povoados na colônia, surgindo e se fortalecendo nas transações internas, nos movimentos de defesa territorial contra os holandeses e franceses, na insatisfação contra o Estado e, ainda, durante a mediação entre os interesses da colônia e os holandeses, franceses, ingleses. Segundo o autor, alguns documentos evidenciam tal sentimento ao tratarem suas questões locais apontando, para além da localidade, certo sentimento de unidade.#
O capítulo quinto se inicia através de um debate teórico a respeito dos conceitos de patriotismo e nacionalismo. Dissertando no interior do vínculo entre indivíduo e sociedade, o ensaísta discorre quanto às possibilidades de estabelecimentos de sentimentos socializantes a partir do assentamento das comunidades e seus antagonismos estabelecidos a respeito de outros grupos. A partir deste fundamento, é desenvolvida e tese de que o estabelecimento de certa tradição, de sentimentos de solidariedade e embates entre as comunidades coloniais e os holandeses, franceses, além da defesa de interesses contra os ingleses e certo hábito de se portar contra os portugueses, sedimentaram lentamente certo sentimento de identidade na colônia portuguesa americana. Tais sentimentos seriam observáveis em alguns documentos, na literatura e na divergência encontrada nas manifestações contra o Estado português.#
O capítulo de número seis da continuidade ao argumento onde o autor defende a unidade territorial brasileira como resultado de sentimentos agregadores, surgidos entre as comunidades da colônia. Também da sequência a crítica direcionada a historiografia a qual associa unidade territorial a monarquia, apontando nestes trabalhos uma metodologia pouco criteriosa, altamente associada à política do império. Para o autor, a história do Brasil evidencia, no geral, tipos sociais fortes e ativos, como os sertanejos e bandeirantes, além de uma constante resistência aos abusos do Estado. Há ainda, certo caráter de “tranquila bondade” atávico ao brasileiro, o qual se concretizou desde a experiência colonial. Em poucos momentos surgiram movimentos de separação, e quando houve, estavam associados a uma administração tirânica. Segundo o ensaísta, o processo de independência, segundo historiadores e documentos do período, demonstra a adoção do sistema imperial como uma rápida resposta para evitar o que se considerava uma real possibilidade de rompimento incisivo entre o Brasil e a corte portuguesa: a implantação de uma república. Tal processo tornaria saliente, mais uma vez, certa tradição republicana.#
Bomfim aborda no capítulo sete, parte da história portuguesa do século XVI até a segunda metade do século XVII, principalmente através da obra do historiador Oliveira Martins. Portugal é compreendido como um grande reino, de importante atividade politica, de desenvolvida capacidade mental e nacional o qual teve suas tradições e política degradadas no decorrer de suas crises econômicas. Este processo teria acirrado a maior exploração de seus domínios, produzindo o mesmo declínio nos territórios americanos do reino. O oitavo capítulo da continuidade as questões do anterior. Aqui, o sergipano da foco maior a atividade mercantil de Portugal, partindo do seu auge, e relacionando sua crise aos decaimentos das instituições e do caráter nacional do português, vulgarizando certo comportamento ganancioso e cobiçoso. Em um segundo momento o autor trata dos mesmos problemas na corte da família Bragança e de uma consequente má administração e política internacional.#
O nono capítulo apura o entendimento do autor acerca da deturpação das tradições e da sociabilidade no Brasil a partir do começo do século XVIII como consequência da crise económica e política portuguesa. Neste sentido, o autor narra e expõe seu discernimento quanto as ações da administração e comercialização portuguesa em sua colônia americana. Entre eles estão os governos de Gregório de Castro Morais e Francisco de Castro Morais e as invasões ao Rio de Janeiro realizada pelos corsários franceses Jean François Duclerc e René Duguay-Trouin, a cobiça dos mercadores portugueses apontada em episódios como na expulsão em 1643 de comerciantes em Assunção devido a sua suposta cupidez, nos problemas entre os proprietários de terra e os negociantes reinóis os quais culminaram na “Guerra dos Mascates”, na proibição do cultivo da vinha e do trigo para não prejudicar a agricultura portuguesa, a cobrança dos impostos, entre outros.#
No décimo capítulo o autor procura entender o processo de independência do Brasil a partir do que chama de movimentos nacionalistas. Muitas vezes conhecidos como movimentos nativistas e movimentos emancipacionistas, tratam-se de conflitos locais ocorridos em sua maioria entre os séculos XVII e XVIII, os quais, para Bomfim, poderiam atribuir possibilidades de sentido para o surgimento de algum sentimento socializante, de solidariedade e alguma unidade entre as comunidades espalhadas no território da colônia portuguesa nas américas. Através do apoio de documentos oficiais e de comerciantes, atas, relatos, cartas e outras fontes procura-se apontar o surgimento de alguma afetividade nacionalista, especialmente nos embates ocorridos em Minas Gerais de 1707 a 1709 e em Pernambuco em 1710 a 1711, e em 1917. Estes momentos seriam evidência da capacidade civilizacional do brasileiro, intrinsecamente fundamentada na história, deslegitimando e desmistificando os argumentos europeus os quais diagnosticavam um insucesso atávico as populações da América latina através de argumentos a respeito da mestiçagem, do clima tropical e de uma suposta história inexpressiva.
Tal sociabilidade e tendências a uma civilidade e políticas republicanas além de um maior desenvolvimento civilizacional, aspectos de uma tradição em formação, teriam sido lentamente cerceadas com a administração do Estado português e a posterior monarquia instaurada na independência. Este é o problema central dos capítulos onze e doze, o primeiro se dedicando de 1808 até a independência, e o segundo aos governos de D. Pedro I e D. Pedro II. No processo de independência teriam sido coibidas as potencialidades das experiências constituídas no passado através do pacto entre a corte bragantina e as oligarquias, estabelecendo um regime político de certa incompatibilidade às tradições locais, dando continuidade a centralização política estabelecida desde 1808. Este processo teria introduzido o hábito em se produzir funcionários administrativos “ineptos, corrompidos, prevaricadores, tirânicos”.#
Bomfim conclui que a história do Brasil revela grandes potencialidades para o progresso nas populações espalhadas pelo território. No entanto, estas competências foram constantemente reprimidas pelo descaso dos governos quanto às questões sociais, a sua instrução e educação, em favor de uma exploração comercial sustentada pelo argumento da necessidade da ordem, o que explicava o atraso frente aos ideais de progresso durante a Primeira República. Dito isto, tal atraso não poderia ser explicado por uma suposta condição determinista ou étnica, atávica aos americanos, fruto de uma cientificidade associada a identidade europeia e à políticas imperialistas: a história revelava a aptidão do brasileiro frente as adversidades. Grande parte da historiografia do século XIX teria se esforçado por legitimar a noção de que o brasileiro é um desordeiro e incapaz o qual apenas poderia manter-se unificado, como povo e território, através do regime monárquico, desvalorizando parte indispensável da história para o estímulo da ontológica orientação humana através das experiências do passado.#
O Brasil na História compõe um importante exemplar historiográfico de um célebre momento da intelectualidade brasileira. No final do século XIX e início do XX foi produzida uma erudita e específica prática de escrita tendo a história como foco e o ensaio como gênero textual destacado, elaborando o espaço para a convivência do rigor, do método e da ciência simultaneamente a subjetividade, a afetividade, a elucubração. Para além de uma compreensão particular de determinados fenômenos históricos, trata-se de um trabalho o qual possibilita a melhor apreensão da historicidade da década de 1920, da Primeira República brasileira e de sua comunidade letrada.
Clayton José Ferreira – Mestre e Doutorando em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Marcelo de Mello Rangel e ao apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-mail: claytonjf15@hotmail.com.
Earth Beings. Ecologies of Practice Across Andean Worlds – De La CADENA (A-RAA)
Marisol de la Cadena. www.rigabiennial.com.
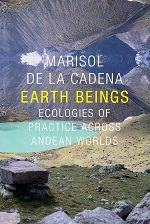 De La CADENA, Marisol. Earth Beings. Ecologies of Practice Across Andean Worlds. Durham: Duke University Press, 2015. Resenha de: MORENO, Javiera Araya. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.26, set./dez., 2016.
De La CADENA, Marisol. Earth Beings. Ecologies of Practice Across Andean Worlds. Durham: Duke University Press, 2015. Resenha de: MORENO, Javiera Araya. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.26, set./dez., 2016.
A veces la lectura de un trabajo etnográfico da la impresión de que este se refiere a diversas y múltiples tradiciones teóricas, al asociarlas de manera más o menos deliberada con partes específicas del trabajo de campo. El relato etnográfico parece entonces responder a la literatura de las ciencias sociales, sin que la reflexión pueda en efecto ilustrar, desafiar, refutar o sustentar algunas de las corrientes teóricas a las que apela de forma fragmentada. Pareciera que el autor no compromete por entero su investigación con determinadas corrientes teóricas e impide así que la dimensión empírica del terreno pueda cuestionar o tensionar plenamente los supuestos teóricos que de manera parcial lo estructuran.
El trabajo de Marisol de la Cadena sobre el que trata esta reseña es un ejemplo de todo lo contrario. A través de su lectura no solo aprendemos sobre las constantes luchas de una comunidad indígena en Perú -contra la hacienda como institución productiva que esclavizaba a sus miembros, contra las corporaciones y sus planes de extracción mineral en sus territorios, contra la policía peruana y su arbitraria aplicación de la ley y, en resumen, contra la pobreza en la que se encuentran- sino que también vemos cómo la autora moviliza su trabajo de campo para interpelar dos grandes corrientes teóricas que marcan la antropología contemporánea. Por un lado, aquélla que denuncia la especificidad colonial de la producción de conocimiento sobre un “otro” y, por otro lado, aquélla que postula la existencia de una diferencia ontológica -y no solo epistemológica- con el “otro” que se quiere conocer.
Respecto a la primera discusión teórica, la autora nos invita a comprender la lucha de la comunidad en su irreductibilidad a las claves de lectura occidentales y eurocéntricas. Respecto a la segunda, De la Cadena constata que ahí donde algunos ven una disputa legal por derechos respecto a la propiedad de un terreno o una movilización campesina por una distribución más justa de las riquezas generadas por la explotación agrícola, otros -precisamente sus protagonistas en la comunidad- ven algo distinto, o más bien algo más. Habitan un territorio que no es solo tierra, sino también un conjunto de relaciones entre seres cuya condición de “humanos” solo puede ser atribuida a una parte de ellos. Efectivamente, en la comunidad indígena de Pacchanta, y retomando los términos en quechua, runakuna (humanos) y tirakuna (no humanos o seres de la tierra) establecen relaciones entre sí y entre ambos. Para los miembros de esta comunidad, lo que pasa allí necesariamente incluye a estos seres no humanos. El lugar emerge necesariamente de estos vínculos que exceden la manera en la que usualmente se piensa en una montaña (por ejemplo) como cosa, sea esta como tierra que puede ser explotada o como espacio natural que debe ser conservado.
¿Cómo producir conocimiento sobre un otro que es tan “otro” que no adhirió a la distinción ontológica -y moderna (Latour 1993)- entre sociedad y naturaleza? ¿Cómo hacerlo de tal manera que este conocimiento producido sea susceptible de reconocer historicidad, es decir trascendencia, relevancia y sentido, a experiencias que parecen solo adquirir pertinencia cuando se insertan en modelos de interpretación que son familiares para el observador occidental, como el de la liberación campesina, del chamanismo andino o del multiculturalismo? ¿Cómo integrar los seres no-humanos, sus intereses y capacidad de acción en conflictos medioambientales y en general en la toma de decisiones políticas que afectan a la comunidad a la que pertenecen? Marisol de la Cadena reflexiona respecto a estas preguntas y ofrece una escritura precisa, honesta y que refleja un esfuerzo logrado por explicar cuestiones complejas con palabras simples. Las descripciones son a la vez suficientes y densas y las repeticiones, que a veces llaman la atención por su abundancia, contribuyen a la comprensión del texto.
El libro está compuesto, además de un prefacio y de un epílogo, por siete narraciones (stories) y dos interludios que presentan las vidas de Mariano Turpo y de Nazario Turpo respectivamente, amigos e informantes de De la Cadena. En la primera narración la autora despliega el arsenal teórico con que escribirá su etnografía y un concepto predominante en todo el libro será el de “conexiones parciales” (Strathern 2004 [1991]), según el cual el mundo no está dividido en “partes” agrupadas a su vez en el “todo”, sino que -como en un caleidoscopio- el “todo” incluye a las “partes”, las que a su vez incluyen el “todo”. Esta imagen permitirá a la autora justificar la idea de que similitud y diferencia pueden existir simultáneamente -en Pacchanta, en Cusco y también en Washington D.C., donde uno de los informantes participa en una exposición-, de que los mundos no tienen que excluirse para poder existir de manera diferenciada.
Por ejemplo, el primer interludio nos cuenta cómo Mariano Turpo, en virtud de sus capacidades para negociar tanto con el hacendado como con los seres de la tierra, fue elegido para encabezar la lucha de la comunidad por liberarse de la hacienda Lauramarca1. Se trataba más bien de “caminar la queja” o “hacer que la queja funcione” (queja purichiy), lo que incluía una serie de interacciones con la burocracia urbana peruana -en Cusco y en Lima- para que esta reconociera de forma legal los abusos del hacendado y eventualmente los derechos de la comunidad sobre la tierra. En uno de sus viajes a Cusco, Mariano Turpo pasa a la catedral a explicar a Jesucristo cómo llevará a cabo su misión, encomendada por su comunidad y que incluye entonces la voluntad de Ausangate, la gran montaña a cuyas faldas se encuentra Pacchanta. Esa mezcla, que en realidad no es mezcla ni sincretismo puesto que no anula cada una de las partes, entre elementos de la religión Católica y el rol de la voluntad de un ser de la tierra -atribuido por la comunidad indígena-, daría cuenta de una de las muchas “conexiones parciales” que identifica Marisol de la Cadena.
Con esta conceptualización presente a lo largo de todo el libro, la autora continúa su análisis describiendo en detalle, en la segunda y la tercera narración, cómo los runakuna “caminaron su queja” y llegaron en la década de los ochentas a distribuir las tierras entre ellos y a ejercer plena propiedad sobre ellas. Basada en autores como Trouillot (1995), Guha (2002) y Chakrabarty (2000), De la Cadena construye un marco de análisis que da pie para pensar un “líder indígena” que, al mismo tiempo que efectivamente lidera la movilización, no es tal. De hecho, para los runakuna Mariano Turpo no era un representante de la comunidad, sino que hablaba desde ella y no solo con humanos. El conjunto de documentos que Mariano Turpo había reunido respecto a la queja y que al momento de ser contactado por De la Cadena le sirve para hacer fuego, adquiere el estatus de archivo o más bien de “objeto límite” -una especie de materialización de una conexión parcial- entre el mundo de la burocracia estatal centrada en lo escrito y el mundo indígena principalmente unilingue quechua, en el cual pocas personas saben leer y escribir a pesar de los esfuerzos de la comunidad por tener escuelas frente a la oposición de la hacienda. ¿Cómo conferir evenemencialidad, algo así como capacidad para ser algo más que parte del paisaje y alterar el desarrollo de los hechos en la lucha por el territorio, tanto a los runakuna como a seres de la tierra? De la Cadena responde a esta pregunta en la cuarta narración.
El segundo interludio avanza según la cronología de la situación en Pacchanta en las últimas décadas. Nazario Turpo, hijo de Mariano Turpo y también capaz de comunicar con seres no-humanos, es el protagonista principal de la segunda parte del libro. En ella, aprendemos que la situación de abandono en que se encuentra la comunidad de los Turpo no ha cambiado a pesar del relativo éxito de la lucha por la tierra, de la reforma agraria o del multiculturalismo promulgado por el presidente Toledo (2001-2006). Y cuando De la Cadena habla de abandono lo hace citando a Povinelli (2011), es decir apuntando a un proyecto sistemático por parte del Estado peruano según el cual la vida de los runakuna se conjuga siempre en pasado o en futuro anterior, pero nunca en presente, de tal manera que sus muertes no gozan de evenemencialidad. La muerte de Nazario Turpo en un accidente de carretera en el bus que lo transportaba a Cusco, donde ejercía como chamán para una agencia turística, es quizás -insinúa la autora- el resultado de las malas condiciones de las carreteras de la zona, las que no se limitan solo a los caminos, sino que también se extienden a escuelas y hospitales y contribuyen a la situación de pobreza y de carencias en un altiplano afectado por sequías e inviernos helados.
La quinta narración nos explica cómo Nazario Turpo llegó a obtener el trabajo de chamán en una agencia turística y cómo este puesto es el resultado de la mercantilización de las prácticas indígenas en el Perú; mercantilización más bien de las prácticas y sus significados que se imputan a los runakuna y que no necesariamente tienen. De hecho, De la Cadena comenta que el rol de “chamán” no existe para los runakuna -quienes identifican en cambio a un paqu, algo parecido, pero diferente- y para quienes prácticas como los despachos ofrecidos a seres de la tierra, traducidos por lo general como “ofrendas”, no hacen ni pueden hacer referencia a una espiritualidad por cuanto los seres de la tierra no tienen ni son espíritus, solo son.
La venta del “chamanismo andino” como producto turístico benefició a nivel económico a Nazario Turpo y a su familia y le valió una invitación a Washington D.C. para participar en una exposición organizada por el National Museum of the American Indian, en tanto parte del equipo de curadores de la exhibición y en tanto él mismo como indígena parte de la muestra. La sexta narración se centra en esta colaboración entre Nazario Turpo y el museo y describe múltiples “equivocaciones” en el sentido desarrollado por Viveiros de Castro (2004), es decir como intentos aceptadamente errados de traducción de la realidad de otro, ontológicamente diferente de la propia. Una de estas refiere, por ejemplo, a la imposibilidad por parte de los organizadores de la exposición de comprender el rol que juegan los seres de la tierra en Pacchanta.
En esta sexta y última narración, De la Cadena discute cómo se distribuye algo así como el “poder” en la comunidad y en sus relaciones con el Estado peruano, aunque ni la autora ni sus informantes utilizan esa palabra. Descubrimos que una misma palabra en quechua –munayniyuq, traducida por la antropóloga como “dueño de la voluntad”- aplica tanto para la hacienda, el Estado peruano y Ausangate, la montaña. Así, el capítulo final del libro incluye descripciones de las rondas campesinas organizadas por la comunidad y de la manera en que algunos de sus miembros obtuvieron cargos políticos representativos en el gobierno local, además nos introduce en la propuesta con que Marisol de la Cadena cerrará el libro en su epílogo: la “cosmopolítica” como una manera de enfrentarse epistemológicamente a otro, sobre todo como un enfoque normativo que permitiría concebir políticamente las diferencias entre mundos ontológicamente distintos.
Al basarse en autores como Blaser (2009) y Haraway (2008) y constatando que las movilizaciones por la protección del medio ambiente frente a la explotación corporativa de recursos naturales reivindican la distinción entre naturaleza y sociedad, invisibilizando así a los seres no-humanos como ríos, montañas y lagos en su capacidad de acción y relaciones que establecen con la comunidad, De la Cadena -leyendo a Stengers (2005)- afirma que Mariano y Nazario Turpo, así como su comunidad en Pacchanta, pusieron en práctica una manera de relacionarse con otros en la cual la igualdad ontológica no era un requisito y en que la “parcialidad de las conexiones” era posible. En palabras de la autora (mi traducción): “sostengo que, al discrepar ontológicamente con la partición establecida de lo sensible, los runakuna proponen una cosmopolítica: las relaciones entre mundos divergentes como una práctica política decolonial que no tiene otra garantía que la ausencia de igualdad (sameness) ontológica” (p. 281). Que la cosmopolítica practicada por los runakuna sea tal es brillantemente demostrado por De la Cadena a lo largo de su obra, sin embargo aquí se introduce una crítica a su trabajo y es que el carácter decolonial en él no se revela tan nítidamente.
Una de las principales fortalezas de esta etnografía es precisamente su capacidad para convertirse en un estudio empírico que a la vez moviliza y desafía las literaturas ligadas tanto al ámbito de la ontología política como a los estudios postcoloniales. Sin embargo, mientras que De la Cadena nos presenta una respuesta completa, teórica y aplicada a la pregunta por cómo aprehender las diferencias ontológicas, la noción de “poder” -en sus versiones más o menos elaboradas, siempre inherente a cualquier reflexión desde la decolonialidad- no alcanza a constituir una respuesta satisfactoria a la pregunta por cómo estudiar a quienes están “en la sala de espera de la historia” (Chakrabarty 2000). Al fin y al cabo, y según los relatos reportados por De la Cadena, esta “sala de espera” no es solo un lugar donde lo que los runakuna hacen y creen no es conocido ni re-conocido, sino que también es un lugar donde la comunidad se está muriendo de hambre y de frío, donde no tiene acceso adecuado a escuelas o a hospitales y donde es continuamente abusada por otros.
La “cosmopolítica” que puedan poner en práctica tanto los runakuna como la antropóloga no es suficiente -aunque quizás en ningún caso prescindible- para otorgar dignidad epistemológica e histórica a la comunidad de Mariano y Nazario Turpo. ¿Cómo dar cuenta de la discrepancia ontológica con el proyecto moderno que encarnan los seres de la tierra en Pacchanta y, al mismo tiempo, de la igualdad política a la que sin embargo los mismos runakuna parecen aspirar? ¿Cómo dar cuenta, simultáneamente, de la diferencia ontológica entre mundos y de la participación en un mismo mundo desigual? El libro de Marisol de la Cadena ofrece ciertamente un trabajo de terreno fascinante, una escritura impecable y una reflexión rigurosa para pensar estas preguntas que inquietan a la antropología contemporánea.
Comentario
1 La situación en Pacchanta, cuyos orígenes se remontan a la colonización española, es el resultado de la tensión entre la entrega de títulos hacendales sobre territorios indígenas a colonos, lo que obligaba a las comunidades que vivían y trabajaban las tierras de la hacienda a pagar tributos a sus dueños, y las sometía a múltiples abusos. La hacienda Lauramarca, que controlaba la zona y que ha tenido distintos dueños a lo largo del siglo pasado, estuvo vigente hasta 1970, cuando luego de muchos conflictos que incluyeron diferentes matanzas de indígenas, ésta se convirtió en una cooperativa agraria. En los años 1980, la comunidad indígena expulsa a los administradores estatales de la cooperativa, deshaciéndola y redistribuyendo la tierra entre las familias indígenas.
Referencias
Blaser, Mario. 2009. “Political Ontology.” Cultural Studies23 (5): 873-896. [ Links]
Chakrabarty, Dipesh. 2000. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference.Princeton: Princeton University Press. [ Links]
Guha, Ranajit. 2002. History at the Limit of World History. Nueva York: Columbia University Press. [ Links]
Haraway, Donna. 2008. When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press. [ Links]
Latour, Bruno. 1993. We Have Never Been Modern. Cambridge: Harvard University Press. [ Links]
Povinelli, Elizabeth. 2011. Economies of Abandonment. Social Belonging and Endurance in Late Liberalism. Durham: Duke University Press. [ Links]
Stengers, Isabelle. 2005. “A Cosmopolitical Proposal.” En Making Things Public: Atmospheres of Democracy, editado por Bruno Latour y Peter Weibel, 994-1003. Cambridge: MIT Press. [ Links]
Strathern, Marilyn. 2004 [1991]. Partial Connections. Nueva York: Altamira. [ Links]
Trouillot, Michel-Rolph. 1995. Silencing the Past: Power and the Production of History.Boston: Beacon. [ Links]
Viveiros de Castro, Eduardo. 2004. “Perspectival Anthropology and the Method of Controlled Equivocation.” Tipití2 (1): 3-22. [ Links]
Javiera Araya Moreno – Magister y estudiante de doctorado en Sociología, Universidad de Montreal. Entre sus últimas publicaciones están: coautora en “Pluralism and Radicalization: Mind the Gap!”. En Religious Radicalization and Securitization in Canada and Beyond, editado por Paul Bramadat y Lorne Dawson, 92-120, 2014. Toronto: University of Toronto Press. Coautora en “Desigualdad y Educación: la pertinencia de políticas educacionales que promuevan un sistema público”. Docencia. Revista del Colegio de Profesores de Chile 44 (XVI): 24-33, 2011. E-mail: javieraarayamoreno@gmail.comMarisol de la Cadena. 2015. Earth Beings. Ecologies of Practice Across Andean Worlds. Durham: Duke University Press
[IF]
Historia. Las últimas cosas antes de las últimas – KRACAUER (CCS)
KRACAUER, Siegfried. Historia. Las últimas cosas antes de las últimas. Buenos Aires: Las Cuarenta. 2010. Resenha de: GURPEGUI VIDAL, F. Javier. Una epistemología del fragmento. El pensamiento histórico de S. Kracauer. Con-Ciencia Social – Anuario de Didáctica de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, Salamanca, n.20, p.165-170, 2016.
Con-Ciencia Social – Anuario de Didáctica de la Geografía/ la Historia y las Ciencias Sociales (CCS)
En esta publicación, con frecuencia hemos trabajado con los autores de la “Escuela de Fráncfort”, pero nunca nos detuvimos en Siegfried Kracauer (Fráncfort, 1889 – New York, 1966), mentor y amigo personal de Adorno, personaje marginal y compañero de viaje, recurrente interlocutor crítico de los planteamientos del grupo. Durante mucho tiempo, en el entorno español su figura estuvo casi exclusivamente vinculada al cine, a raíz de la publicación de dos estudios relativamente tardíos: el relativo al expresionismo alemán, De Caligari a Hitler (1947), así como su Teoría del Cine. La redención de la realidad física (1960). Sin embargo, su obra significativa arranca a comienzos de los veinte, cuando publica en el diario liberal Frankfurter Zeitung una serie de crónicas culturales y sociológicas (1921-30), de donde surgen libros como La novela policial. Un tratado filosófico (1925), Los empleados (1930) o la recopilación El ornamento de la masa (1963). Tras escribir en París su “biografía social” Jacques Offenbach o el secreto del Segundo Imperio (1937), se traslada a Estados Unidos. Todo ello aparte de dos novelas y otros trabajos académicos.
Estas obras han sido traducidas, con un cierto desorden, entre España y Latinoamérica, al castellano. A ellas habría que añadir la publicación argentina de un texto póstumo, Historia. Las últimas cosas antes de las últimas (Kracauer, 2010), a partir de la edición preparada por Paul Oskar Kristeller en 1969, que partía de unos apuntes fragmentarios, especialmente dispersos en tres de los ocho capítulos del libro. Y precisamente en la reflexión histórica de Kracauer se centra una publicación reciente, Historia y teoría crítica.
Lectura de Siegfried Kracauer (Díaz, 2015), que recoge los trabajos presentados en el seminario del mismo título, mantenido en 2013 en la sede valenciana de la Menéndez Pelayo. Se trata del segundo estudio editado en España sobre el escritor, después de la biografía de Enzo Traverso Siegfried Kracauer, itinerario de un intelectual nómada (1998). Como suele ocurrir en los libros de autoría colectiva, sus capítulos ostentan un desigual calado, produciéndose frecuentes solapamientos, y, sin embargo, constituye una llave valiosa para acercarse al universo histórico del autor.
En un autor como Kracauer, que concede gran importancia cognitiva al fragmento y al detalle, resumir sistemáticamente los planteamientos de Historia (2010) constituye una especie de traición, pero resulta inevitable para aprehender su enfoque general. El primer eje expositivo de Kracauer se corresponde con los ámbitos del conocimiento.
Sitúa en el siglo XIX el nacimiento de la historia moderna, en un movimiento de emancipación respecto a las especulaciones filosófico- teológicas sobre el pasado. El relato tradicional debía sustituirse por un discurso objetivamente científico, aun admitiendo las especificidades del conocimiento histórico.
Mientras las leyes científicas se basan en el establecimiento de predicciones, las ciencias de la conducta aspiran a la comprensión de los fenómenos humanos y sociales. Ahora bien, aun así, la historia moderna no deja de atribuir a los hechos históricos rasgos de los acontecimientos naturales. Incurren los historiadores así en dos errores: identificar “historia” y “naturaleza” y confiar en el tiempo como continuo homogéneo. Pero la historia se revela impermeable a las leyes longitudinales, de manera que el historiador se ve abocado a explorar las cualidades específicas de los hechos.
Al hilo de esta explicación, la obra resalta los paralelismos entre historia y fotografía (asimilando a esta última también otro medio, el cine). Para Kracauer, la realidad de la cámara posee los rasgos distintivos del “mundo de la vida”, ya que está destinada a retratar el flujo heterogéneo de la vida. Los planteamientos del autor, relativos tanto a la historia como a la teoría del cine comparten la misma perspectiva epistemológica.
Un segundo eje se corresponde con la dialéctica entre pasado y presente. Se considera al historiador un hijo exclusivo de su tiempo, de manera que la verdad histórica se convierte en una mera variable del interés del presente. Sin embargo, el contexto histórico y social del historiador no es un todo autosuficiente, sino un flujo frágil y heterogéneo.
Pensar que todas las evidencias históricas van a cuadrar en un sistema cerrado del presente se corresponde con el sueño imposible de una razón liberada. Ni el presente es la llave que abre las puertas del pasado, ni la perspectiva del historiador se agota en términos de influencias contemporáneas. El historiador está condenado, por consiguiente, a reconocer el carácter dinámico de su “yo”, alterando la disposición de su mente para llegar al núcleo de las cosas, sin por ello desprenderse de todas las categorías de origen. La realidad histórica se convierte así en un palimpsesto, que superpone las capas del pasado y del presente. Lo cual nos lleva a una concepción no homogénea del mundo y del tiempo histórico.
El mundo histórico tiene una estructura heterogénea porque lo macro y lo micro, lo general y lo particular, no son categorías mecánicamente reconciliables. Cuanta más generalidad se alcanza, se incrementa la inteligibilidad, pero disminuye la densidad de la realidad histórica. Moverse entre los dos niveles implica el reconocimiento de dos principios. Según la ley de perspectiva, el avance hacia lo macro conlleva la ocultación o priorización de circunstancias concretas.
Según la ley de los niveles, la heterogeneidad de universo histórico siempre impedirá la fusión completa entre la perspectiva del pájaro y de la mosca.
La fascinación de las fechas, propia del tiempo cronológico, ayuda a dar sentido a los acontecimientos, provocando además un hechizo de homogeneidad que desencadena la tentación de concebir el pasado histórico como un “todo”, vinculado muchas veces a la idea de progreso. Así se configura el pretencioso fantasma de esa historia universal, que cuestiona fuertemente la obra. Sin embargo, cada secuencia de acontecimientos tiene su propia agenda, según su pertenencia a diferentes “áreas” (arte, literatura, política, economía…), porque cada hecho es significativo en función de una magnitud. El concepto de periodo histórico tampoco será homogéneo, sino que será el punto de encuentro para cruces casuales, algo así como la sala de espera de una estación.
La historia, como la fotografía, ocupa un espacio provisional, situado entre la ciencia y la mera opinión. Si la ciencia no sirve como modelo para la historia, tampoco la filosofía, discurso que apunta al estudio de las “cosas últimas”, desde una perspectiva general y aspirando a una validez objetiva.
El radicalismo y la rigidez de las ideas filosóficas no se adecuan bien al conocimiento histórico. La historia constituye un pensamiento de antesala, situado entre el “mundo de la vida” y la filosofía, alimentado de la heterogeneidad inherente al mundo intelectual, pues ni el histórico ni el intelectual son universos homogéneos.
Este resumen no hace justicia a la obra, porque es fragmentaria por inacabada, pero también por situar en el centro de su reflexión el fragmento que se resiste a pertenecer a una totalidad. No en vano en uno de los trabajos de Historia y teoría crítica (2015, pp. 101-21), Miguel Ángel Cabrera señala que la de Kracauer es una lectura convencional de teoría de la historia. Quizá por ello Cabrera lo instrumentaliza al servicio de su propio discurso, sin respetar su entidad.
Sin embargo, lo interesante del libro del escritor alemán reside en los intersticios que deja entrever la estructura, quizá excesivamente académica, de algunos capítulos. ¿De qué nos habla esta “tierra de nadie”?
Por lo pronto, aspectos de una corriente de pensamiento considerada “central” como la Escuela de Fráncfort pueden resultar más claros a la luz de un personaje marginal como Kracauer.
Es significativo en este sentido el vínculo teórico con otro marginal, como Walter Benjamin, cuestión estudiada por Carlos Marzán (ob. cit., pp. 167-87), especialmente en relación con la famosa introducción a El origen del Drama Barroco alemán (1925) y las Tesis de Filosofía de la Historia (1940). Ambos autores parten de un diálogo con Husserl, y ambos rechazan el historicismo, el cientifismo y la especulación filosófica en historia, que les conduce a un giro epistemológico donde lo concreto y fragmentario viene a representar el testimonio de las víctimas de la historia. Otro colaborador del libro, Sergio Sevilla (ob. cit., pp. 57-59), insiste en la importancia para Kracauer de la mencionada introducción al Drama Barroco, “Algunas cuestiones preliminares de crítica del conocimiento”, según la cual el conocimiento se relacionaría con las ciencias positivas, y la verdad se manifiesta otorgando un sentido a los conceptos, con los que operan las ciencias.
El conocimiento es la posesión conceptual de fenómenos, mientras que la verdad, interpretación y símbolo.
Prosigue su discurso Marzán, ahondando en las diferencias entre los dos autores: mientras el benjaminiano “ángel de la historia” reivindica un anhelo de justicia que desquicia el presente, inclinándolo hacia una acción revolucionaria, el judío errante de Kracauer es identificado con un melancólico “ángel de la duda” (en palabras del cuentista Andersen), más compasivo y sereno que realmente reivindicativo. Con todo, nosotros entendemos que no hay que sacar excesiva punta teórica a estas alegorías de carácter ensayístico, frecuentes en estos autores, y que el “aire de familia” entre los dos es evidente. Aunque Kracauer plantea su reflexión histórica en lo epistemológico, tiene consecuencias éticas y políticas evidentes.
Su llamada a que ningún hecho histórico se pierda por criterios macro es una forma de piedad por los muertos (2010, pp. 141-171).
Dos trabajos clarifican la relación de Kracauer con el grueso de la Escuela de Fráncfort.
Para Hernández i Dobon (Díaz, 2015, pp. 147-65), hacia 1931, el autor ejerce sobre el “Instituto de Investigación Social” una intensa influencia dialógica, que activa un juego de mutuas influencias, que se cruzan a menudo con el pie cambiado. Lleva algún tiempo trabajando sobre las manifestaciones culturales como exponentes de las tendencias inconscientes de la sociedad. La idea de ratio, acuñada en su estudio sobre el relato policial, constituye un importante antecedente de la razón instrumental, mientras que sus trabajos sobre los empleados contradicen las profecías de Marx sobre la progresiva dualización de las clases sociales, en una perspectiva dialéctica sobre lo social característica del grupo. Cuando llega a Estados Unidos, Kracauer ha profundizado en la necesidad de estudios empíricos, justamente cuando Adorno se encuentra de vuelta de ellos. En Historia Kracauer parece dirigirse hacia el horizonte de una “empiria sin teoría” (valga la expresión figurada, no literal, del mismo Hernández), en un intento de pensar a través de las cosas, no por encima de ellas (2010, p. 220).
En este contexto, añadimos nosotros, es imposible ignorar las consecuencias de la famosa “disputa del positivismo” en la sociología alemana, que a lo largo precisamente de los años sesenta estaba enfrentando a autores como Habermas o Adorno, representantes de la teoría crítica de la sociedad, con otros como Karl Popper o Hans Albert, identificables con el llamado “racionalismo crítico”. La desconfianza respecto a lo empírico (vinculado a la razón instrumental) que se derivó de estas posturas ha teñido medio siglo de pensamiento de la izquierda, de modo que lo teórico y abstracto se ha consolidado como la forma por excelencia del pensamiento crítico, capaz de desnaturalizar las prácticas sociales, mientras que la empiria es un instrumento naturalizador del poder. De alguna forma, seguimos con el “pie cambiado” respecto a Kracauer.
Pero sigamos. Para Jiménez Redondo (ob.cit., pp. 123-46) las discusiones con Adorno explicitan una cuestión medular para la Escuela.
En su artículo del Frankfurter “El ornamento de la masa” (1928), Kracauer explica cómo el pensamiento abstracto procede a desmitologizar la naturaleza, pero a su vez no puede sobrepasar los límites que él mismo se ha impuesto, al configurarse al servicio de un sistema económico que lo limita. Dicho de otra forma, al nacer bajo una lógica de dominio capitalista, el pensamiento abstracto paraliza el alcance de la razón, y se acaba convirtiendo a su vez en una mitología.
Años más tarde, en su discurso radiofónico de 1964, retratando a Kracauer, Adorno sería plenamente consciente de la deuda de la Dialéctica de la Ilustración (1944) con estas ideas.
En la paradójica relación que ambos mantenían, Kracauer siempre cuestionó en Adorno la falta de referencias positivas para el ejercicio de una razón crítica tanto en la mencionada Dialéctica de la Ilustración como en la Dialéctica Negativa (1966). Para Antonio Aguilera (ob. cit., pp. 78-79), se cuestiona la existencia de una “dialéctica sin suelo”, el libre vuelo de un pensamiento sin nada que se le resista, que acabe fagocitando lo fáctico.
En el otro extremo, el escritor defiende un proceder filosófico que se entregue a la cosa, para lo cual le será útil un concepto heredado de Husserl, el “mundo de la vida” (Lebenswelt), mediador entre lo abstractosistémico y lo concreto-vivido. El trabajo más importante del libro, a cargo de Sergio Sevilla (ob. cit., pp. 51-75), profundiza en esta construcción.
Para Sevilla, ante la necesidad de hacer inteligible la heterogeneidad de las evidencias empíricas, las ciencias idealizan las experiencias humanas. Para evitar esto, y satisfacer la necesidad de atender a lo particular por parte de la historia, Kracauer recurre al “mundo de la vida”, que para Husserl es un entorno de experiencias y vivencias prerreflexivas que da sentido al discurso, y que debe ser trascendido a través del pensamiento científico. Kracauer reelabora el concepto como una instancia que otorga sentido a un mundo de particulares, evitando que el historiador se diluya en la multiplicidad.
La historia limitaría de esta forma tanto con el “mundo de la vida” como con la “filosofía”.
El “mundo de la vida” articula así una pluralidad de ámbitos, proponiendo para el mundo histórico una lógica semejante al sentido común de la vida cotidiana. Desde el “mundo de la vida”, la historia mantiene una continuidad con el historiador, lo cual tiene dos consecuencias: la historia trasciende el status de “objeto”, para provocar la iluminación de un ámbito de la experiencia social y el historiador deja de ser mero sujeto de conocimiento, ya que el sujeto se distancia de la experiencia y excluye formas de acción ubicada. Por ello está llamado a ser respecto al mundo histórico un exiliado o un nómada.
En el contexto del “mundo de la vida” se entiende la opción de Kracauer por el empirismo.
En su trabajo, Pedro Ruiz Torres (ob.cit., pp. 213-38) señala el distanciamiento del autor respecto al “empirismo ingenuo”, propio de los historicistas y positivistas del XIX, que pretenden inducir a partir de los datos las leyes generales de la historia. Pero también respecto a algunas perspectivas críticas (la escuela de los Annales, la historiografía marxista…), que parten de la puesta en marcha de procesos deductivos, que parten de preguntas e hipótesis. Sin embargo, ambos empirismos parten de la misma base:
más que del culto al dato positivo, de considerar el conocimiento de lo general como la clave para la comprensión del mundo. A este respecto, Ruiz Torres llama la atención sobre la obra de dos autores, Charles V. Langlois y Charles Seignobos, a los que no hay constancia de que Kracauer conociera, que en 1898 alertaron contra los historiadores que, influidos por su formación filosófica, introducían “conceptos trascendentes” en la organización de la historia.
Pero Kracauer no renuncia al uso de generalizaciones. Así, configura un concepto de periodo histórico (2010, pp. 173-94) semejante a la mónada benjaminiana, entendido como el punto en que se entrecruzan tensiones históricas diversas, más que como un periodo de tiempo homogéneo. También acuña una variante especial de “idea histórica”, el resultado de intuiciones del historiador, surgida a raíz de los hechos, pero que deriva en algo distinto a ellos. No dejaría de ser una generalización, pero más producto de una intuición basada en criterios prácticos que de un proceso de abstracción lógica.
Diríase que Kracauer busca perfilar un concepto de “idea histórica” vinculado al “mundo de la vida”, más que basado en procesos académicos; sin embargo, justamente esa intención genera una ambigüedad que dificulta la eficacia del concepto. Por un lado, a pesar de sus reticencias respecto a la filosofía, Kracauer se está moviendo en el terreno de la filosofía de la historia y de la epistemología.
Para él, hay un punto en el que lo general y lo concreto son irreductibles, es decir, lo general es solo general, y lo concreto solo concreto. Solo entonces es posible una dialéctica que nunca se clausure, añadimos nosotros. Kracauer desconfía de la abstracción porque se encuentra demasiado cerca de la lógica del sistema. Al mismo tiempo, su opción por el empirismo (o, mejor dicho, “lo concreto”) trasciende lo académico para convertirse en una propuesta que debe ser concretada en el mundo de la vida, donde nuestros razonamientos se entremezclan con nuestra percepción e intuición ante las cosas.
Todo lo cual es perfectamente coherente con sus formas expositivas. Kracauer se reafirma en el uso de una narración como un dispositivo literario apropiado para el discurso histórico. Sin embargo, la cualidad artística de esta modalidad textual narrativa es un subproducto del planteamiento, no un objetivo central (Kracauer, 2010, pp.195-218). En una línea semejante a la defendida por Adorno en “El ensayo como forma” (1954-58), el gusto por lo concreto, la flexibilidad y la capacidad de sugerencia propias de un género literario hacen que el relato sea el más adecuado para mostrar el fluir heterogéneo de la realidad. Esta actitud cristaliza en distintas metáforas, resaltadas por Miguel Ángel Cabrera (2015, pp. 101- 103): en su reseña a Los empleados, titulada “La politización de los intelectuales”, Benjamin denominó a Kracauer como un trapero al amanecer del día de la revolución, que recoge jirones lingüísticos y trapos discursivos para confeccionar un tejido polícromo de retazos, como es el calicó, claro equivalente del caleidoscopio, imagen de raigambre proustiana que alude a la catarata de tiempos históricos, imposible de homogeneizar.
La insistencia de Kracauer en lo inmediato e intuitivo está estrechamente relacionada con su reflexión sobre la imagen. Sobre dos trabajos de la compilación no vamos a ahondar: el que viene a ser un adecuado artículo introductorio a Kracauer, a cargo de su biógrafo Enzo Traverso (ob. cit., pp. 39-50), así como un útil resumen crítico del libro Historia, escrito por Sabina Loriga (ob. cit., pp. 239-62). Y aludiremos ahora a los tres artículos específicos sobre lo visual.
Por su parte, Anacleto Ferrer (ob. cit., pp.192-195) hace especial hincapié en los 499 textos para Frankfurter Zeitung (1921-1930), que establecen un canon crítico que concede importancia a la cultura de masas, como un instrumento para el desvelamiento de las ideologías sociales, a pesar de su fragmentariedad, y con una autonomía estética instransferible.
Subraya Ferrer la idea de que el realismo estético del cine es consecuencia de su realismo técnico. Justamente poco más tarde, publicaba Benjamin “Pequeña historia de la fotografía” (1931), estudiado por Antonio Aguilera (ob. cit., pp. 77-100), que también vinculaba la productividad estética del medio a sus dimensiones técnicas.
Ese mismo año, Kracauer también publicará “La fotografía” (1931), trabajo que para Susana Díaz (ob. cit., pp. 11-37), configura algunas ideas que determinarán su enfoque sobre historia. Al constituirse la foto, a diferencia de la pintura, como un producto relativamente independiente de las intenciones últimas del fotógrafo, se convierte en testimonio objetivo de una época.
Desde este punto de vista, cualquier intento de practicar la fotografía artística se alineará con las fuerzas sociales defensoras del orden establecido. Para la autora, este planteamiento se perfilará en el posterior Teoría del cine (1960), donde a partir de “la naturaleza fotográfica” del medio, se reivindicará su capacidad para “captar al vuelo” la realidad física. La publicación de Teoría del cine en España sugirió en la crítica una cierta relación con el cine inmediatamente anterior, es decir, con el neorrealismo italiano y algunas modalidades del estilo clásico.
El cine, frente a formas artísticas basadas en el pleno dominio del lenguaje por parte del autor, constituye un reducto que el pensamiento abstracto no debe colonizar.
Mirar la imagen en la pantalla proporciona una sensación de extrañamiento respecto a la realidad preexistente a la filmación. Como Jasón percibe el rostro de la Gorgona desde su reflejo en el escudo (para no quedar petrificado con su mirada), contemplar el cine proporciona una mirada más distanciada sobre el contexto cotidiano. De esta manera, deducimos que el cine facilita un constante ejercicio de aprender a mirar y volver a mirar las cosas desde distintas perspectivas.
Más que de un empirismo propiamente filosófico, o inserto en el método científico, la opción de Kracauer por lo concreto parte de la inmersión del individuo en la sensorialidad visual intuitiva del “mundo de la vida”.
Aunque tan solo sea esa sensorialidad vicaria que nos facilita el cine. Desde esta perspectiva, la mera insistencia en que el cine construye la realidad, y no la “refleja”, se ha convertido en un callejón sin salida, si no entramos a detallar cómo es esa construcción.
Referencias pricipales
DÍAZ, Susana (Ed.) (2015). Historia y teoría crítica. Lectura de Siegfried Kracauer. Madrid: Biblioteca Nueva.
KRACAUER, Siegfried. (2010). Historia. Las últimas cosas antes de las últimas. Buenos Aires: Las Cuarenta.
Javier Gurpegui Vidal – I.E.S. “Pirámide”, Huesca.
[IF]Antigas Leituras: Visões da China Antiga – BUENO/ M NETO (RMA)
BUENO, André; NETO, José M. (org.) Antigas Leituras: Visões da China Antiga. União da Vitória: UNESPAR, 2014. Resenha de: BUENO, André. Revista Mundo Antigo, v.4, n.7, jun., 2015.
Ainda que a China seja um dos temas historiográficos mais importantes da atualidade, é precário e desolador o panorama dos estudos sinológicos no Brasil. Reinam as iniciativas isoladas, calcadas nas bibliotecas particulares (adquiridas a muito custo), cuja divulgação é quase sempre bastante restrita. É possível dizer, sem receio, que estudar o vasto e amplo campo do “Oriente” não é algo devidamente estimulado no ambiente acadêmico nacional. Dentre os múltiplos objetivos da Ciência Histórica, estudar os fundamentos das civilizações humanas, bem como compreender os mecanismos da alteridade, deveriam ser temas relevantes mesmo para um historiador iniciante; e a ausência marcante dos estudos de Antiguidade Oriental em muitos currículos evidencia, mais do que nunca, esse problema gravíssimo de formação. Um estudante, obviamente, não precisa ser sempre um especialista em Antiguidade e/ou “Oriente”; mas sabemos que, ao dominar os instrumentos básicos da pesquisa nesse campo, ele amplia e fortalece sua formação, construindo para si um conhecimento mais sólido e interdisciplinar. Marcel Granet (1884-1940), um dos mais importantes sinólogos que a França já conheceu, afirmava que “A civilização chinesa merece mais do que a simples curiosidade. Ela pode parecer singular, mas (é um fato) nela se encontra registrada uma grande soma de experiência humana. Nenhuma outra serviu de vínculo a tantos homens, durante um período tão grande. Quem pretende ter o título de Humanista, não deve ignorar uma tradição de cultura tão atraente e tão rica em valores duráveis”. Posto de outra maneira: é possível, ou mesmo viável, afirmar-se um “Humanista” ou um “Especialista em Ciências Humanas” quando seu conhecimento teórico e metodológico – que se pretende universal – ignora quase dois terços do mundo (isto é, Ásia e África)? Dito isso, não é preciso muito esforço para compreender a necessidade fundamental dos estudos sobre o “Oriente”. Claro, cuidados devem ser tomados: facilmente, buscar entender UM “Oriente” descambaria no “Orientalismo”, tão bem denunciado por Edward Said (1998), que se constitui na miragem cultural do exotismo e do estranhamento produzida pelos europeus do século 19, em relação “aos outros” – ou, os “orientais”. O “Oriente”, pois, deve ser abordado em blocos separados, e em épocas distintas, buscando-se compreender seus modelos civilizacionais, seus alcances e contribuições. Leia Mais
A estrutura das revoluções científica – KUHN (EPEC)
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 5. ed. São Paulo: Editora Perspectiva S.A, 1997. Resenha de: BARTELMES, Roberta Chiesa. Resenhando as estruturas das revoluções científicas de Thomas Kuhn. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v.14, n. 03, p. 351-358, set./dez., 2012.
PORQUE AINDA THOMAS KUHN
Apesar de já se passarem mais de 30 anos da publicação da obra A estrutura das revoluções científicas, ela permanece atual em termos de discussões epistemológicas e estruturais da constituição das ciências. A importância de qualquer cientista conhecer tal obra se deve ao fato de que ela descaracteriza o mito que se criou em torno das ciências e dos cientistas com o advento da era científica e tecnológica. Kuhn demonstra que, além de serem construções humanas, as ciências são também, e consequentemente, construções sociais e históricas. Disso resulta uma nova compreensão acerca dos processos científicos, e por que não dizer, de alfabetização científica. A atualidade da obra é justificada também por seu caráter inovador. Sem pretensões de ser uma obra de referência mundial, Kuhn apenas fez de seu relatório de pesquisas e das suas inquietações um objeto de estudo que cada vez mais cresceu diante de suas pesquisas. Eis um modelo de compreensão da prática da filosofia das ciências: a pesquisa em busca de saberes que desvelem as verdades que se estabelecem sem questionamento. Isso vale para qualquer campo de estudos, seja nas ciências sociais, humanas, naturais ou exatas.
SOBRE THOMAS KUHN
Kuhn é um físico que, durante seu engajamento no processo de pós-graduação, intrigou-se com algumas afirmações à respeito da ciência e da história da ciência. Como ele mesmo refere-se no prefácio de sua obra, foi durante o envolvimento com o ensino de Física experimental para não cientistas que ele teve contato com a história da ciência. Foi nessa oportunidade que Kuhn percebeu diferenças entre o que dizia a história da ciência e o que ocorria durante as atividades experimentais para o público leigo.
Foi desse interesse incomum que surgiram os estudos “arqueológicos” na história da ciência de Kuhn. Na maioria das vezes, quando realizamos atividades experimentais para públicos de não cientistas, não nos questionamos sobre a validade de nossos argumentos ou sobre a forma como a ciência é apresentada. Para Kuhn, o contato com diferentes áreas do conhecimento, como a epistemologia, a psicologia e as ciências naturais e sociais, permitiu um olhar mais atento e mais complexo sobre a história da ciência. E não apenas isto, mas esse contato lhe permitiu compreender como se dá a construção e a validação de uma ciência, bem como sua manutenção e superação. Assim, como o próprio autor defende, sua inserção na história da ciência está mais interessada em processos epistemológicos do que contextuais ou sociais, o que não significa que estes nãos estejam presentes em seus estudos, pois, como veremos adiante, em cada época há um conjunto de saberes que permitem fazer esta ou aquela leitura da realidade à qual estamos submetidos.
A HISTÓRIA DA CIÊNCIA
Um dos objetos de estudos dessa obra de Kuhn é a história da ciência. Para ele, é nessa disciplina que se encontram os detalhes da produção científica de uma determinada comunidade:
(…) a História da Ciência torna-se a disciplina que registra tanto esses aumentos sucessivos como os obstáculos que inibiram sua acumulação. Preocupados com o desenvolvimento cientifico, o historiador parece então ter duas tarefas principais. De um lado deve determinar quando e por quem cada fato, teoria ou lei cientifica contemporânea foi descoberta ou inventada. De outro lado, deve descrever e explicar os amontoados de erros, mitos e superstições que inibiram a acumulação mais rápida dos elementos constituintes do moderno texto científico. (p.20)
Essas tarefas do historiador, no entanto, são complexas e remetem a diferentes entendimentos do que seja ciência. Kuhn argumenta que: “Talvez a ciência não se desenvolva pela acumulação de descobertas e invenções individuais …” (p.21). Assim, quando os historiadores dedicam-se ao estudo de uma concepção ou teoria científica percebem que para a época eram tão científicas quanto as teorias e concepções que temos hoje:
Quanto mais cuidadosamente estudam, digamos, a dinâmica aristotélica, a química flogística ou a termodinâmica calórica, tanto mais certos tornam-se de que, como um todo, as concepções de natureza outrora correntes não eram nem menos cientificas, nem menos o produto de idiossincrasias do que as atualmente em voga. (p.21)
É nesse sentido que podemos perceber o entendimento de ciência para Kuhn. Ao contrário do que sempre vimos nos manuais científicos, a ciência não é o acúmulo gradual de conhecimentos, mas é a complexa relação entre teorias, dados e paradigmas. Tampouco a Ciência é neutra. Mesmo em seus métodos, como a observação e a experimentação, ela define de antemão o que é ou não possível de ser realizado: “A observação e a experiência podem e devem restringir drasticamente a extensão das crenças admissíveis, porque de outro modo não haveria ciência. Mas não podem, por si só, determinar um conjunto específico de semelhantes crenças.” (p. 23) Ou seja, a observação é feita sobre aquilo que é possível “ver” dentro de um paradigma. Se tomarmos como exemplo a astronomia, veremos que, para Ptolomeu, em seu Almagesto2, a Terra tinha de ser o centro do universo. Isso porque toda a conformação teórica tinha de derivar da perfeição geométrica, produto dos sólidos de Platão. Além disso, a representação do universo estava baseada na teoria de Aristóteles de que o mundo supra lunar era perfeito e imutável e o mundo sub lunar era imperfeito e mutável. Se nos remetermos a essas concepções teóricas, veremos que de fato o mundo supra lunar aparentemente é perfeito e imutável, uma vez que as estrelas “fixas” não mudam suas posições no céu. Elas surgem e ressurgem periodicamente “no mesmo lugar”. Quando surge alguma anomalia, como o movimento de Marte, que parece retrógrado em determinado momento de sua translação, o que vai contra os pressupostos do movimento circular perfeito, adequações são feitas, e o uso de epiciclos retoma a ideia da perfeição e da harmonia do mundo supra lunar. É nesse sentido também que a ciência normal e o paradigma delimitam aquilo que pode ou não ser “visto” na natureza ou nos fenômenos que submetemos à pesquisa dentro de uma comunidade cientifica.
O CONCEITO DE PARADIGMA
O conceito de paradigma vai atravessar toda essa obra de Kuhn com um sentido muito específico. Já na introdução, Kuhn apresenta a seguinte definição: “Considero “paradigmas” as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”. (p. 13). Ou seja, o paradigma é um conjunto de saberes e fazeres que garantam a realização de uma pesquisa científica por uma comunidade. O paradigma determina até onde se pode pensar, uma vez que dados e teorias, sempre que aplicados a uma pesquisa, irão confirmar a existência desse paradigma. Extrapolando a leitura para o campo da educação, podemos pensar que estamos submetidos também a um paradigma, isto é, a uma forma de entender e fazer ciência na educação que leva em consideração um aspecto dos fenômenos de ensino e de aprendizagem. Nosso paradigma atual na educação é o ensino. Todas as pesquisas, todas as dissertações e teses têm alguma relação com esse paradigma. Todos querem melhorar o ensino. Toda a preocupação de nossas últimas produções tem sido a tarefa de ensinar mais e melhor. Mesmo quando estudamos o outro pólo da relação, a aprendizagem, é para garantirmos um melhor ensino. A formação dos profissionais em educação está muito mais interessada na qualidade do ensino do que na aprendizagem. Muito embora também possamos defender que esses processos não sejam separáveis, há uma nítida diferença entre formar para ensinar e formar para possibilitar aprendizagens. No entanto, no campo da educação, percebemos que existem rupturas e alianças com outras áreas que movem novos entendimentos dessa ciência. Perguntas e dados que não podem mais ser respondidos ou compreendidos pelo paradigma do ensino passam agora a desafiar os cientistas da educação. A isto, Kuhn chama de crise de paradigmas. Essa crise de paradigmas é a responsável pelas mudanças conceituais e procedimentais dentro de um campo do saber. Ela surge dentro da chamada ciência normal, por meio de anomalias que não se conformam as formas tradicionais de conceber o processo e o produto científico. Conforme Kuhn:
E quando isto ocorre – isto é, quando os membros da profissão não podem mais esquivar-se das anomalias que subvertem a tradição existente da prática científica – então começam as investigações extraordinárias que finalmente conduzem a profissão a um novo conjunto de compromissos, a uma nova base para a prática da ciência. (p. 25)
Ou seja, quando as formas tradicionais de pesquisa já não respondem às necessidades que novos dados ou novos fatos impõem, as investigações extraordinárias permitem o surgimento de novidades na pesquisa e na ciência. Isso conduz a comunidade científica a novas formas de praticar sua ciência.
A CIÊNCIA NORMAL
Outro conceito específico da obra de Kuhn é o de ciência normal. Para ele, ela se desenvolve junto com a ideia de paradigma, ou seja, podemos compreender que a ciência normal é produto e produtor de um paradigma. Isso fica evidenciado no seguinte trecho: Invenções de novas teorias não são os únicos acontecimentos científicos que tem um impacto revolucionário sobre os especialistas do setor em que ocorrem. Os compromissos que governam a ciência normal especificam não apenas as espécies de entidades que o universo contém, mas também, implicitamente, aquelas que não contém. (p. 26) A ciência normal é o estado de uma ciência na qual suas pesquisas e seus resultados são previsíveis, isto é, ela acontece adequando a realidade às teorias e esquemas conceituais que os cientistas aprendem na sua formação profissional. Diante disso, podemos dizer que a comunidade científica sabe como é o mundo, e as pesquisas servem para comprovar ou aperfeiçoar esses saberes. Para Kuhn:
Neste ensaio, “ciência normal” significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica específica como proporcionando os fundamentos para sua prática posterior. (p.29)
Uma metáfora que Kuhn utiliza para a ciência normal é a montagem de quebra-cabeças. Ou seja, a realidade seria uma porção de peças que, ao serem corretamente unidas, nos daria uma visão real de como a natureza ou os fenômenos estudados funcionam. Além disso, quando montamos um quebra-cabeça, em geral já sabemos aonde vamos chegar, isto é, já sabemos qual o produto final que o encaixe das peças vai nos proporcionar ver. Nisto não há espaço para a novidade. Na ciência normal, não há espaço para o inusitado ou para o inesperado. Assim como na montagem do quebra-cabeça, já se sabe aonde se quer chegar. Se houver um encaixe de peças errado, o que se deverá fazer não é questionar o motivo pelo qual isso ocorreu, mas sim retirá-la e colocá-la no seu devido lugar. À ciência, e ao cientista, caberia a função de encaixar a peça certa no local correto com base nas evidências que as demais peças lhe dão, ou seja, aquilo que já foi feito por outros cientistas anteriormente e que funcionou. A ciência normal não está preocupada em criar novidades, mas em se especializar naquilo que já está posto pelo paradigma vigente. As experiências não criam novidades (intencionalmente), mas desejam especificar melhor o que já se sabe: “O resultado já é sabido de antemão, o fascínio está em como se vai chegar até ele”. (p. 60).
DAS REVOLUÇÕES CIENTÍFICAS: POR QUE COPÉRNICO REVOLUCIONOU?
Com o avanço da ciência normal, vemos surgir novos problemas e novas questões. Conforme Kuhn: “Mas os problemas extraordinários não surgem gratuitamente. Emergem apenas em ocasiões especiais, geradas pelo avanço da ciência normal”. (p 55). Quando uma anomalia perturba o andamento da pesquisa na ciência normal, surgem novos e reforçados movimentos de adequação dos dados às teorias existentes. Como no já citado caso da astronomia grega, as anomalias eram condicionadas àquilo que se dispunha de conceitos e teorias da época. Quando uma novidade surgiu no céu, logo se tratou de adequá-la à teoria existente. No entanto, essas anomalias nem sempre são percebidas, uma vez que a ciência normal (como vimos anteriormente) não está preocupada em criar novidades, mas em se especializar naquilo que já está posto pelo paradigma vigente. As experiências não criam novidades (intencionalmente), mas desejam especificar melhor o que já se sabe. No entanto, as anomalias persistem. Elas podem gerar o que Kuhn chama de crise de paradigma:
De forma muito semelhante (ao que ocorre nas revoluções políticas), as revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente, também seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da comunidade científica, de que o paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza, cuja exploração fora anteriormente dirigida pelo paradigma. […] o sentimento de funcionamento defeituoso, que pode levar à crise, é um pré-requisito para a revolução. (p. 126).
Portanto, as anomalias provocam desajustes nas teorias vigentes, o que leva a um sentimento de “funcionamento defeituoso” da teoria que promove uma crise no paradigma vigente e serve de pré-requisito à revolução. Retomando o caso da astronomia, quando Galileu aponta a luneta para a Lua, percebe que esta não se parece nem um pouco com uma esfera perfeita, conforme julgaram os aristotélicos. Das suas observações criteriosamente anotadas em Sidereus Nuncius3, Galileu descreve que:
Do seu exame (da Lua) muitas vezes repetidos, deduzimos que podemos discernir com certeza que a superfície da Lua não é perfeitamente polida, uniforme e exatamente esférica, como um exército de filósofos acreditou, acerca dela e de outros corpos celestes […] (2010, p.156)
Nesse momento, Galileu anuncia uma anomalia a qual não pode se encaixar nas teorias vigentes e no paradigma da época. O fato de haver montanhas, crateras e irregularidades na superfície da Lua contrariava e muito as ideias aristotélicas acerca da natureza dos corpos celestes. No entanto, conforme assegura Kuhn, “A transição de um paradigma em crise para um novo, do qual pode surgir uma nova tradição e ciência normal, está longe de ser um processo cumulativo obtido através de uma articulação do velho paradigma” (p. 116) Aqui é preciso fazer um esclarecimento. Antes de Galileu utilizar a luneta para observar a Lua e os objetos celestes com maior precisão, houve outro astrônomo que possibilitou essa “abertura” ao inusitado e à novidade. Podemos dizer mesmo que através da resistência de um grupo de astrônomos foi possível causar crise no paradigma vigente e permitir que se instalasse uma revolução. Esse astrônomo é Nicolau Copérnico. Ele é tido como o responsável por colocar a Terra em movimento. Para a época, e para o paradigma vigente, era impossível conceber que a Terra se movia, uma vez que isso não era “observável” no cotidiano. Caso a Terra se movesse, pássaros, pessoas, objetos deveriam “sair” da Terra, ou seja, seriam deixados para trás. Esses eram os entendimentos permitidos pelo paradigma vigente. E como os dados empíricos, da natureza das observações e experimentos feitos até então, não contradiziam essa teoria, ela era tida como verdadeira e científica. No entanto, Copérnico, em sua obra De revolutionibus orbium coelestium4, coloca a Terra em movimento e a retira do centro do universo. No entanto, esse feito não é apenas um simples deslocamento de posições em mapas ilustrativos do universo. Muito além disso, trata-se de conceber novas concepções para as ideias até então desenvolvidas sobre todo o universo, conforme afirma Kuhn:
[…] a inovação de Copérnico não consistiu simplesmente em movimentar a Terra. Era antes uma maneira completamente nova de encarar os problemas da Física e da Astronomia, que necessariamente modificava o sentido das expressões “Terra” e “movimento”. Sem tais modificações, o conceito de Terra em movimento era uma loucura. (p. 190)Portanto, Copérnico é, de fato, responsável por uma revolução tanto na Física quanto na Astronomia. No entanto, é ilusão pensar que essa revolução instalou-se e foi bem sucedida em pouco tempo. Copérnico não foi aceito durante quase um século, haja vista que alguns adeptos de suas teorias foram colocados à duras provas pelos “cientistas” da época da Inquisição. Giordano Bruno e Galileu são exemplos claros da morosidade e da complexidade que compõem mudanças de paradigmas.
PARA ENTENDER A NATUREZA DA CIÊNCIA, ENTÃO!
Chama atenção, logo no prefácio desse texto de Kuhn, a seguinte colocação:
A pesquisa eficaz raramente começa antes que uma comunidade cientifica pense ter adquirido respostas seguras para perguntas como: quais são as entidades fundamentais que compõem o universo? Como interagem essas entidades umas com as outras e com os sentidos? Que questões podem ser legitimamente feitas a respeito de tais entidades e que técnicas podem ser empregadas na busca de soluções? (p.23)
Percebemos que teorias sempre sustentam as buscas científicas de uma comunidade de pesquisadores. Nunca os dados serão analisados de forma neutra e isenta de teorias. Na tentativa de explicar este ou aquele fenômeno, estamos sempre propensos a fazer uso das teorias que nos constituem. Nosso olhar nunca é isento de julgamentos. Somos constituídos do paradigma vigente. Embora isso limite nossa visão para o novo (conforme vimos na ciência normal), é possível que anomalias surjam em nossas pesquisas. Nosso primeiro movimento certamente será o de adequá-las o mais rápido possível àquilo que temos como verdade científica. Caso isso não se dê, ou seja, caso as anomalias persistam, o caminho certamente será o da mudança. Só que esse caminho não se dá de forma isolada, nem se dará de maneira imediata. Isso pode ser visto claramente no campo da educação. Diversos pequenos grupos à margem do paradigma vigente buscam soluções para problemas nas teorias atuais. Como falamos anteriormente, irregularidades estão ocorrendo. Por melhor que sejam os métodos de ensino aplicados pelas melhores didáticas, as aprendizagens não ocorrem sempre, tampouco da maneira esperada. É possível que dessas anomalias os pequenos grupos de cientistas da educação consigam mobilizar novas possibilidades, que o inusitado e o criativo surjam e demonstrem novas possibilidades de compreensão para fazer pesquisas e desenvolver estudos na área da educação.
Notas
1 O Almagesto (que significa O grande livro) é a publicação magna de Cláudio Ptolomeu. Nela, o autor pretendeu reunir todo o conhecimento da humanidade sobre a astronomia.
2 Sidereus Nuncius, ou O mensageiro das estrelas, é a publicação na qual Galileu inicialmente apresenta as observações feitas com o auxílio do telescópio, instrumento por ele aperfeiçoado. Nessa obra, Galileu dedica-se a relatar suas observações acerca da Lua, de Júpiter e de suas luas.
3 De revolutionibus orbium coelestium, ou Da revolução das esferas celestes, foi publicado no ano da morte de Copérnico. Nessa obra, o autor faz uma série de apontamentos sobre a Terra, retirando-a do centro do universo e colocando-a em movimento com os demais planetas. Além disso, ele faz referências às estações do ano e aos equinócios, desenvolvendo explicações para tais fenômenos baseado nas evidências empíricas e matemáticas de que dispunha.
Referências
GALILEI, Galileu. Sidereus Nuncius: O mensageiro das estrelas. 2ª Ed. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa, 2010. KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 5. ed. São Paulo: Editora Perspectiva S.A, 1997.
Roberta Chiesa Bartelmebs – Mestre em Educação em Ciências pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Professora do Núcleo de Estudos em Epistemologia e Educação em Ciências (NUEPEC/FURG). Colaboradora do Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre o Bebê e a Infância (NUPEBI).
[MLPDB]Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico – FLECK (HP)
FLECK, Ludwik. Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2010 (Tradução de Georg Otte e Mariana Camilo de Oliveira), 201 p. Resenha de: CURI, Luciano Marcos; SANTOS, Roberto Carlos dos. Fleck e a(s) ciência(s): por um olhar crítico, histórico e social. História & Perspectivas, Uberlândia, v. 25, n. 46, 21 jul. 2012.
Ensaios: teoria, história e ciências sociais – MALERBA (HH)
MALERBA, Jurandir. Ensaios: teoria, história e ciências sociais. Londrina: EDUEL, 2011, 240 p. Resenha de: GONÇALVES, Sérgio Campos. Enfrentamentos epistemológicos: teoria da história e problemática pós-moderna. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 8, p.187-196, abril 2012.
“Papai, então me explica para que serve a história”. A pergunta infantil com que Marc Bloch (2001, p. 41) inaugura seu último escrito introduz um chamado para que o historiador preste contas acerca da legitimidade de sua profissão. É esse mesmo “ajuste existencial” que Jurandir Malerba busca em seu livro Ensaios: teoria, história e ciências sociais. Porém, enquanto a autorreflexão de Bloch se deu ao aguardar o próprio fuzilamento, na condição de prisioneiro das tropas alemãs do final da Segunda Guerra, a inquietude do pensar o ofício de Malerba é de outro tempo e coloca outras perguntas: Diante da crise do racionalismo moderno e dos desdobramentos da linguistic turn, qual a validade epistemológica da história? Quando a cientificidade de sua profissão parece em xeque, qual o remédio para a angústia do historiador? No centro da questão está a objetividade da história, motivo de variadas reações daqueles que se debruçam sobre o assunto e na qual reside a diferença entre o tempo de Bloch e o do debate contemporâneo do qual Malerba está inserido.1 No pósguerra, segundo Peter Novick (1988, p. 522-572), já não existiria mais o consenso da ampla comunidade de discurso formada por estudiosos unidos por interesses, propósitos e padrões comuns no qual se baseou a disciplina da história até o início da década de 1960. Pois, a partir de então, teriam reinado o ceticismo diante da promessa iluminista de progresso e a crise cognitiva do historicismo, devido à historicização e à relativização do próprio conhecimento, da qual a ansiedade generalizada da comunidade acadêmica seria sintomática.
É nesse campo de batalha em que Jurandir Malerba cava sua trincheira, de onde é franco-atirador contra a dita história pós-moderna, a qual se ampararia, notadamente, na teoria da linguagem e na negação do realismo.
Reunindo suas reflexões sobre a história e o ofício do historiador em oito capítulos, os Ensaios de Malerba compõem um manual de teoria da história que é espelho de sua trajetória intelectual. Ao mesmo tempo em que permitem acompanhar a evolução da erudição e da maturidade do autor, oferecem uma proposta de solução às inquietações epistemológicas que o conhecimento histórico passou a enfrentar no século XX, através de estudos sobre os temas e conceitos que se tornaram incontornáveis para o historiador: ficção e escrita da história, memória, acontecimento, estrutura, narrativa, historiografia, processos e representações. O fio condutor que os perpassa é a problemática pós-moderna, a questão da legitimidade e da objetividade da história.
Abre-se o livro com um escrito de juventude, de ar irônico, em que trata da noção de representação e de narrativa para demarcar a distância entre o escritor de ficção e o escritor-historiador de história. Para o jovem Malerba, o estatuto científico e de objetividade da história ancorar-se-ia na interdisciplinaridade, isto é, a proximidade com as ciências humanas é o que distanciaria o historiador do ficcionista. O tom juvenil contrasta com o capítulo II, que apresenta um texto inédito sobre as concepções de memória e suas discussões no campo historiográfico, no qual Malerba versa sobre “o quadrante memorial avassalador no qual estamos vivendo”, tempo em que efemérides são acompanhadas de “estardalhaços” mercadológicos – vide os 200 anos da chegada da Corte portuguesa ao Brasil, mas que convida a refletir acerca do processo de significação do passado e sobre a operação de seleção entre memória e esquecimento.
Os próximos três capítulos abordam, nas palavras do autor, “questões que se constituem nos maiores desafios que assolaram o pensamento de historiadores e cientistas sociais há décadas” (MALERBA 2011, p. 55).
Respectivamente, a tarefa a que Malerba se propõe é pensar acontecimento, estrutura e narrativa através de suas relações com tempo, sujeito e causalidade, tratando de como tais conceitos podem estar conectados ou apartados em correntes de reflexão teórica da história específicas.
Malerba trata das definições e propriedades do acontecimento na história em relação à noção de estrutura. Objeto e unidade da história, o acontecimento existiria dentro de uma rede causal e inserida em determinada duração temporal: “os acontecimentos existem objetivamente, como dados, e […] os historiadores fazem deles diferentes usos conforme sua visão de que os fatos são únicos e singulares ou manifestação de fenômenos que se repetem” (MALERBA 2011, p. 70); ao historiador caberia narrar e/ou estabelecer as tramas causais que ligam os fatos. O propósito de Malerba é aprofundar a “questão da ‘realidade’ ou ‘objetividade’ do fato”, diferenciando fato de acontecimento a partir de um itinerário de reflexões sobre o caráter histórico dos fatos e sobre como tal processo de diferenciação perpassa as questões ligadas à construção da memória e do exercício do poder. Contudo, a tônica do capítulo III, e que perpassa todo o livro, é a crítica à concepção de história narrativista e suas implicações acerca da objetividade do ofício do historiador. O principal alvo é Paul Veyne (1982, p. 14-18), autor que afirmaria ser contraditória a cientificidade da história, pois, se seu objeto é constituído de eventos individuais e, portanto, impassíveis de serem analisados em série, a história não estaria habilitada a construir tipologias de guerras, culturas e revoluções. Com isso, o historiador estaria fadado a elaborar sua trama apenas a partir dos acontecimentos que conseguiu “caçar” e, invariavelmente, com as muitas lacunas daqueles inúmeros eventos de que não obteve registro. Essa visão sobre a história é, para Malerba, equivocada e impregnada de “conservadorismo epistemológico”. Em Veyne, a história seria anedótica, uma síntese narrativa, quase ficcional, e não uma síntese explicativa da realidade do passado, dado que compreende o fato histórico, antes de tudo, como um atributo da percepção e da linguagem, estabelecido pela intervenção seletiva e subjetiva do historiador. Para Malerba, no entanto, tal perspectiva demonstra “extrema debilidade conceitual”, pois confunde o plano ontológico da história e da sociedade com o plano epistemológico, isto é, com os modos de conhecê-la: O fato histórico, reconstituído pelo historiador, só existe no segundo plano, epistemológico. É o resultado de uma operação intelectual, a qual é moderada por regras metódicas preestabelecidas e amparada no uso de fontes, ou indícios, ou vestígios. Não se trata de ciência, que seria uma atitude gnosiológica limitada e insuficiente para resolver o problema do conhecimento histórico, o qual lida com operações mentais e obstáculos operacionais infinitamente mais complexos do que os apresentados pela operação cientificamente regulada (MALERBA 2011, p. 85).
Da mesma maneira que a estrutura, Malerba compreende que o acontecimento é um constructo intelectual, que ambos são “elaborações teóricas que o historiador produz e das quais se utiliza para conhecer a história” (MALERBA 2011, p. 87).
Malerba explica que, associado à concepção positivista ou metódica, o conceito de acontecimento foi preterido pela proposta de renovação historiográfica da primeira geração dos Annales, a qual se opunha ao que denominava história événementielle, acusada de factual e narrativa, advogando em favor de uma história explicativa, científica e, a partir de Braudel, estrutural.
No capítulo IV, Malerba apresenta uma contextualização do estruturalismo e seus impactos nas ciências humanas, traçando uma distinção entre estruturalismo e história estrutural, apoiada, sobretudo, na articulação conceitual de Koselleck entre acontecimento, estrutura e narrativa. Com isso, constrói uma linha de raciocínio em que o sujeito da história se libertaria das “prisões do imóvel”, diante da ontologização da estrutura, e o historiador se reabilitaria como sujeito cognoscente, diante da ruptura entre conhecimento e verdade, provocada pela “exorbitação da linguagem” de Foucault (MALERBA 2011, p. 97).
Narrativa, história e discurso compõem a temática do capítulo V. Malerba abre o texto de forma inusitada, descrevendo imagens de desastres e problemas sociais para chocar o leitor. Estético, o objetivo é proporcionar um choque de “realismo histórico” para intimar o historiador a comprometer-se com sua profissão. Como no prefácio dos Combats pour l’historie, de Lucien Febvre (1992), propõe-se que a história deve ser um compromisso apelo à vida.
Contudo, Malerba detecta um problema: “em função do próprio cenário intelectual vigente em nosso tempo”, o historiador não tem apresentado respostas aos problemas que lhe caberia responder. Tal cenário intelectual que Malerba diagnostica como causa da angústia e inércia dos historiadores configurou-se, conforme entende, através dos desdobramentos radicais da epistemologia pós-estruturalista que se converteram na historiografia pós- -modernista, antirrealista e narrativista: Num sentido muito geral, o pós-modernismo sustenta a proposição de que a sociedade ocidental passou nas últimas décadas por uma mudança de uma era moderna para uma pós-moderna, a qual se caracterizaria pelo repúdio final da herança da ilustração, particularmente da crença na Razão e no Progresso, e por uma insistente incredulidade nas grandes metanarrativas, que imporiam uma direção e um sentido à História, em particular a noção de que a história humana é um processo de emancipação universal. No lugar dessas grandes metanarrativas surge agora uma multiplicidade de discursos e jogos de linguagem, o questionamento da natureza do conhecimento junto com a dissolução da ideia de verdade […] (MALERBA 2011, p. 124).
Na visão de Malerba (2006, p. 13-14), esse “cenário intelectual” se fundamentaria em dois postulados da teoria do conhecimento pós-moderna: na tese da negação da realidade e na teoria da linguagem. A primeira, a tese do antirrealismo epistemológico, sustentaria “que o passado não pode ser objeto do conhecimento histórico ou, mais especificamente, que o passado não é e não pode ser o referente das afirmações e representações históricas”. A segunda, a tese do narrativismo, conferiria aos “imperativos da linguagem e aos tropos ou figuras do discurso, inerentes a seu estatuto linguístico, a prioridade na criação das narrativas históricas”, com isso, em essência, não haveria diferença entre a narrativa do ficcionista e a do historiador, já que ambas “seriam constituídas pela linguagem e igualmente submetidas às suas regras na prática da retórica e da construção das narrativas”. Fundada no antirrealismo histórico e no narrativismo, a prática da escrita da história pós-moderna colocou em xeque “a objetividade do conhecimento histórico e, consequentemente, os limites estruturais da verdade e de seus enunciados”.
Entretanto, a opinião de Malerba é que “a teoria pós-moderna da linguagem é produto das interpretações enviesadas pós-estruturalistas do trabalho do linguista suíço Ferdinand de Saussure”, que conformam uma espécie de “filosofia idealista, uma espécie de filosofia metafísica fundada em assertivas não provadas e improváveis a respeito da natureza da linguagem” (MALERBA 2011, p. 126).
Malerba procura desmontar os postulados do antirrealismo e do narrativismo: enquanto o narrativismo, ao eliminar a distinção entre as narrativas históricas e ficcionais, nega à historiografia a aspiração de verdade que ela reclama em suas abordagens do passado, tornando inócuo o ofício do historiador, o antirrealismo, por sua vez, seria uma consequência infeliz de “uma compreensão tacanha da relação cognitiva”, pois ignora que a história é uma forma distinta de conhecimento que tem a experiência dos seres humanos no tempo como seu objeto: Talvez a melhor resposta que pode ser dada ao ceticismo pós-moderno é a de que a ideia de um passado independentemente real ou atual não se apoia em qualquer teoria e não é uma conclusão filosófica. Ela é, antes, uma exigência da razão histórica e uma necessidade conceitual, autorizada pela memória, bem como implicada na linguagem humana, que inclui sentenças no tempo passado, e é imposta pela ideia de história como uma forma distinta de conhecimento que tem a experiência dos seres humanos no tempo como seu objeto. Negar a existência do passado como algo real a que os historiadores podem se referir e conhecer é, portanto, algo fútil, porque se trata de uma condição essencial da possibilidade da história como campo de conhecimento cientificamente regulado (MALERBA 2011, p. 134).
Contra tais postulados, Malerba propõe um enfrentamento teórico que se ampara nos conceitos de realidade social e de habitus de Pierre Bourdieu (MALERBA 2011, p. 138) e na teoria simbólica de Norbert Elias (MALERBA 2011, p. 145) – tal solução é retomada e aprofundada nos capítulos finais do livro. O que Malerba evidencia no pensamento de Bourdieu é que a linguagem não é uma categoria independente do real, pois, antes de tudo, a realidade social é que configura os meios através dos quais se percebe a realidade e se constrói atos de fala para representá-la. Assim, argumenta Malerba, ao contrário do que prescreve a concepção estruturalista da linguagem e sua epistemologia pós-moderna, “a constituição de uma língua, por meio da qual representamos o mundo (social inclusive), é um processo eminentemente histórico e social e o sujeito do conhecimento é sempre coletivo”. Por conseguinte, os signos, conceitos e discursos sobre o mundo seriam formulados “a partir de um conjunto de determinantes sociais que são interiorizadas pelo indivíduo, a partir das quais ele constrói as lentes (os conceitos) com os quais apreende (percebe, classifica, narra) o mundo” (MALERBA 2011, p. 141). Além disso, Malerba procura religar o discurso ao mundo real, ou a linguagem ao mundo real, que teriam sido separados pelos pós-modernos. Através da teoria simbólica de Elias, busca mostrar que o elo entre o processo de representação e o real é o “fundo social do conhecimento”, isto é, a língua de uma comunidade linguística contém as experiências sintetizadas historicamente (MALERBA 2011, p. 145-147). A articulação entre realidade e conhecimento que Malerba advoga seria um ponto de convergência entre o conceito de habitus de Bourdieu e a teoria simbólica de Elias; tal articulação valeria plenamente também entre narrativa e história, ou entre narrativa e mundo real. Desse modo, para Malerba, assim como para Jörn Rüsen (2001, p. 54), a consciência histórica nasceria da experiência do tempo, e isso, invariavelmente, perpassaria a relação entre realidade e conhecimento histórico: A história existe, como resultado do conflito de interesses e ações complexas dos indivíduos em seus grupos; o conhecimento desse processo de transformações de si e do mundo a que chamamos de história é possível, não deixando-se de fora o que há no sujeito do conhecimento de tudo o que lhe constitui como ser humano (imaginação criadora, instinto, paixão…), mas “controlando” racionalmente o processo do conhecimento. A história existe e pode ser conhecida, como vem sendo feita cada vez mais e melhor. O resto é discurso (MALERBA 2011, p. 153).
Os desdobramentos conflituosos da epistemologia pós-moderna, na concepção de Malerba, transcendem as questões da cientificidade da história e suas alternativas teóricas e metodológicas. De fato, Malerba aproxima-se das assertivas de José Honório Rodrigues (1966, p. 23), para o qual “não há história pura, não há história imparcial” e “toda história serve à vida, é testemunho e compromisso”, ao afirmar que a relação entre conhecimento, vida e realidade diria respeito, em verdade, à função da história nas sociedades e à responsabilidade social do historiador. A perspectiva de Malerba é que a fixação do conhecimento dentro dos limites do discurso seria uma “atitude escapista, evasiva da realidade, que é virulenta e ameaçadora”, e, consequentemente, argumenta, “a opção pelo discurso desvinculado da realidade não deixa de ser, igualmente, uma posição submetida, submissa ao status quo, portanto, conservadora” (MALERBA 2011, p. 152-153).
Nos Ensaios de Malerba, à crítica à epistemologia pós-moderna sucede uma busca por uma definição do conceito de historiografia, conformado, sobretudo, a partir da teoria da história de Rüsen (2001), para o qual a função da teoria seria enunciar “os princípios que consigam a pretensão de racionalidade da ciência histórica de tal forma que eles valham também para a historiografia”. Assim, cumprindo o papel de garantia de cientificidade epistemológica, soma-se à teoria da história a função de racionalizar a pragmática textual exercida pela teoria da história na historiografia. Com isso, a historiografia passaria a ser parte integrante da pesquisa histórica, cujos resultados se enunciariam na forma de um saber redigido, textual, mas cientificamente satisfatório. No capítulo VI, Malerba defende que a teoria da história deve refletir sobre as formas de apresentação do conhecimento histórico como um dos fundamentos da ciência histórica e que, também, deve valorizar a historiografia como seu campo específico. A historiografia, então, é compreendida enquanto produto intelectual dos historiadores, mas, concomitantemente, como prática cultural necessária de orientação social que é resultante da experiência histórica da humanidade. Apresentando-se duplamente como objeto e fonte histórica, a historiografia estaria vinculada à história das ideias e dos conceitos (MALERBA 2011, p. 171-175).
Os dois últimos capítulos trazem uma tentativa de xeque-mate contra a problemática pós-moderna. Retomando e aprofundando algumas das discussões desenvolvidas no capítulo V, Malerba propõe que o antídoto para o questionamento sobre a validade epistemológica da história e a cientificidade do ofício do historiador seja concebido a partir de uma via metodológica estabelecida pelo conceito de habitus de Bourdieu e pela teoria simbólica de Elias. Assim como o ceticismo pós-moderno havia historicizado e relativizado o conhecimento científico, a estratégia de Malerba é mostrar que a crise do racionalismo moderno também é uma contingência historicizável. Isto é, Malerba relativiza a própria problemática pós-moderna ao observar que tal “fratura epistemológica” da modernidade, da qual advém a concepção antirrealista e narrativista da história, se dá no Renascimento, no momento em que o conhecimento sobre o mundo se objetiva e, como consequência, cria-se a problemática da percepção do humano entre o que é ilusão e o que é realidade. É nesse contexto, segundo Malerba, em que se inicia a problemática da representação, da dúvida sobre a correspondência entre os conceitos (as palavras) e o real (as coisas). A problemática epistemológica contemporânea, assim, seria fruto do “questionamento ao niilismo pós-moderno em relação à suposta inacessibilidade do conhecimento a um mundo caótico ou irreal” (MALERBA 2011, p. 209). A preocupação de Malerba é compreender as representações e resolver o problema da verdade no conhecimento. Para tanto, contudo, adverte que seria preciso superar o hábito enraizado desde o Renascimento de se separar o real e o abstrato.
Daí se amparar na solução eliaseana, assumindo que não há correspondência entre conhecimento e o mundo que não seja representacional, socialmente herdada e constituída. Para Malerba, se a representação é uma prática social, seria um absurdo se conceber as representações como discurso e linguagem sem referente.
Dada à amplitude temática, cada um dos oito capítulos poderia gerar apreciações distintas, iniciando, cada qual, discussões novas ou reeditando velhos debates, cada um apontando para uma direção, sem necessariamente convergir.
As teses que o livro contém, ao pôr em relevo a questão da legitimidade e da objetividade da história, entretanto, orbitam o mesmo centro de gravidade temático: a problemática pós-moderna. Mas a linha que perpassa as partes e as articula ao todo não é somente temática, também revela uma forma específica de compreensão sobre o que é a problemática pós-moderna que é bastante comum entre os historiadores.
Grosso modo, aos olhos do filósofo, a problemática pós-moderna sucede à crise do racionalismo moderno, nascida da crítica à tradição iluminista e à razão ocidental. De maneira violentamente sumária, pode-se dizer que se trata de uma crise acerca do fundamento do conhecimento humano: a partir da “revolução copernicana” do conhecimento de Kant, o fundante da operacionalização da correspondência entre o concreto e o pensamento deslocou-se de Deus para o Homem; com isso, o sujeito do conhecimento deixa de ser um ente fixo, atemporal, e o fator “tempo” passa a ser decisivo para o conhecimento – a razão está no homem, com suas capacidades e limites, há uma morte epistemológica de Deus – tal concepção está cristalizada em Hegel, em sua acepção de que o movimento do espírito humano se desdobra no tempo; no entanto, com Nietzsche há uma ruptura total com o racionalismo moderno (da racionalidade argumentativa, da lógica, do conhecimento científico, da demonstração), o qual, segundo ele, era a causa da decadência e da fraqueza do homem – o objetivo de sua crítica é revelar os pressupostos das crenças e preconceitos (a construção do sentido no tempo), e não legitimar o conhecimento ou a moral – agora, a morte epistemológica é do Homem (cf.
DELEUZE 2009; HABERMAS 2000; MACHADO 1999). Nesse contexto, o que ficou marcado como “virada linguística” (linguistic turn) começa a entrar em cena a partir da tentativa de fundar a razão do conhecimento ocidental na linguagem, começando por Wittgenstein, para o qual a lógica da linguagem corresponderia à lógica do mundo – não a concretude, mas o que é inteligível: o mundo social (CONDÉ 2004). Daí em diante, na filosofia contemporânea, vários foram desdobramentos da busca de solução para a problemática pósmoderna (RORTY 2007, p. 25-129).
De modo geral, o historiador parece captar essas questões da filosofia de forma bastante singular, entre apropriações acertadas e errôneas. Ao se sentir afetado pelos desdobramentos da problemática pós-moderna, frequentemente, o historiador entra em debates e toma posições (tanto prós quanto contras) despertando um olhar indulgente do filósofo, seja ao confundir as noções de discurso e de ideologia, como faz Jenkins (2001), seja ao afirmar que há uma “exorbitação da linguagem” responsável por uma ruptura entre conhecimento e verdade e por uma negação da realidade, como faz Malerba; acreditar que há antirrealismo, por exemplo, na compreensão foucaultiana acerca da forma como o discurso de certa época constrói determinadas verdades é partir, desde o início, de pressupostos equivocados, pois não se discute se o mundo real (concreto) realmente existe e se os fatos que nele ocorrem são positivos, mas se trata de pensar o mundo inteligível, socialmente construído e compartilhado (VEYNE 2011, p. 9-65).
Isso não significa, no entanto, que a leitura de Malerba sobre a problemática pós-moderna e suas correlativas preocupações profissionais seja ilegítima e desprovida de valor. Ao contrário, ela é autêntica representante da compreensão generalizada que os historiadores têm da questão. De tão disseminada essa compreensão acerca do que é e de quais são os desdobramentos da problemática pós-moderna e da linguistic turn, para bem ou para mal, criou-se, entre os historiadores, uma comunidade de sentido em que todos se entendem, na qual percebem e reagem à questão da mesma maneira ou de forma bastante semelhante, como se compartilhassem o mesmo aquário; um aquário diferente dos filósofos. Por isso, ainda que talvez os Ensaios de Malerba não despertem o fascínio do filósofo, o livro tem méritos inquestionáveis por oferecer uma proposição original de solução e de enfrentamento que, dentro do aquário do historiador, faz completo sentido e representa uma proposta teóricometodológica plausível.
Referências
APPLEBY, Joyce; HUNT, Lynn; JACOB, Margaret. Telling the truth about history. New York: W. Norton & Company, 1994.
BLOCH, Marc. A apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
CLARK, Elizabeth A. History, theory, text: historians and the linguistic turn. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005.
CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. As teias da razão: Wittgenstein e a crise da racionalidade moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2004.
DELEUZE, Gilles. A filosofia crítica de Kant. Lisboa: Edições 70, 2009.
FEBVRE, Lucien. Les idées, les arts, les sociétés. Combats pour l’historie. Paris : Libraire Armand Colin, 1992.
HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
IGGERS, Georg G. Historiography in the twentieth century: from scientific objectivity to the postmodern challenge. Hanover, NH: Wesleyan University Press, 1997.
JENKINS, Keith. A história repensada. Tradução de Mario Vilela. Revisão técnica de Margareth Rago. São Paulo: Contexto, 2001.
MACHADO, Roberto. Nietzsche e a verdade. São Paulo: Graal, 1999.
196 Sérgio Campos Gonçalves História da Historiografia. Ouro Preto, n. 8 abril 2012 187-196 MALERBA, Jurandir. A história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006.
____________. Ensaios: teoria, história e ciências sociais. Londrina: EDUEL, 2011.
NOVICK, Peter. That noble dream: the “objectivity question” and the American historical profession. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
REIS, José Carlos. A história, entre a filosofia e a ciência. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
RODRIGUES, José Honório. Vida e história. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1966.
RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
RÜSEN, Jörn. Razão histórica: teoria da história: os fundamentos da ciência histórica. Tradução de Estevão de Rezende Martins. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001.
VEYNE, Paul. Como se escreve a história: Foucault revoluciona a história. Brasília: UNB, 1982.
VEYNE, Paul. Foucault: seu pensamento, sua pessoa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
WINDSCHUTTLE, Keith. The killing of history: how literacy critics and social theorists are murdering our past. Paddington, NSW: Macleay Press, 1996.
Nota
1 Para compreender o impacto da chamada linguistic turn na história e a dificuldade que seus desdobramentos trouxeram para os historiadores, ver APPLEBY; HUNT; JACOB 1994; CLARK 2005; IGGERS 1997; REIS 2006; WINDSCHUTTLE 1996.
Sérgio Campos Gonçalves – Doutorando Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho scamposgoncalves@gmail.com Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, 900 – Jardim Dr. Antonio Petráglia 14409 -160 – Franca – SP Brasil.
A estrutura das revoluções científicas – KUHN (ARF)
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2009. Resenha deFAGHERAZZI, Onorato Jonas. Argumentos – Revista de Filosofia, n.7, p.141-146, 2012.
Gênese e desenvolvimento de um fato científico – FLECK (HU)
FLECK, L. Gênese e desenvolvimento de um fato científico. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2010. 201 p. Resenha de: CURI, Luciano Marcos; SANTOS, Roberto Carlos dos. Fleck e a(s) ciência(s): um olhar sociocultural. História Unisinos 15(3):472-475, Setembro/Dezembro 2011.
Os leitores de língua portuguesa agora já podem usufruir da obra do médico e teórico judaico-polônes Ludwik Fleck intitulada Gênese e desenvolvimento de um fato científico. Lançada no Brasil no dia 13 de setembro de 2010, durante o Colóquio de História e Filosofia da Ciência [Ludwik Fleck] realizado em Belo Horizonte na UFMG3, em homenagem ao próprio Fleck, a edição vem preencher uma lacuna há muito já verificada.
Embora a obra de Fleck ainda seja pouco conhecida, sua importância não é pequena nem ultrapassada. Seu trabalho já estava traduzido para o inglês (1979), italiano (1983), espanhol (1986) e francês (2005) antes da presente tradução brasileira (2010). A republicação em alemão data de 1978. O restante de sua obra epistemológica encontra-se disponível em alemão e inglês (Cohen e Schnelle, 1986)4.
O livro Gênese e desenvolvimento de um fato científico foi originalmente publicado em alemão, na Suíça em 1935. A trajetória biográfica de Fleck foi decididamente bastante acidentada, o que em parte explica a pouca divulgação de seu livro. Ele, seu único filho (Ryszard Arie Fleck) e esposa (Ernestina Waldman) foram vítimas da ocupação nazista na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial e foram enviados para os campos de concentração de Auschwitz e Buchenwald (cf. Lothar e Schnelle, 2010 [1986], p. 3). Embora Fleck, esposa e filho tenham sobrevivido à guerra, o mesmo não aconteceu com amigos, colegas e o restante da família.
Durante a guerra, Fleck prosseguiu suas pesquisas e desenvolveu uma nova técnica de obtenção da vacina antitifo a partir da urina dos doentes. Tal realização despertou a cobiça dos nazistas, que preservaram sua vida, interessados na sua formação e habilidade científica.
Após a guerra, Fleck retornou à Polônia, onde atuou como professor universitário e membro de importantes associações científicas de seu país. No período entre 1946 e 1957, Fleck desenvolveu intensa atividade científico-acadêmica: orientou quase 50 teses de doutorado, publicou 87 artigos científicos e participou de vários congressos científicos, um deles, inclusive, no Brasil em 1955: o II Congresso Internacional de Alergistas, realizado no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 13 de novembro daquele ano (Condé, 2010, p. XV). Em 1956, Fleck sofreu um infarto e descobriu que estava com câncer. A partir deste momento, sua saúde piorou consideravelmente. Essa nova conjuntura o levou a emigrar com sua esposa para Israel, país onde seu filho vivia desde o fim da guerra. Lá faleceu em 1961, vítima de um segundo infarto.
Outro motivo que dificultou a divulgação da obra de Fleck foi sua decisão após a guerra de seguir uma carreira na área da microbiologia, à qual dedicou maior empenho e na qual publicou maior número de trabalhos.
Embora hoje sua notoriedade se deva ao presente trabalho ora traduzido, este foi ignorado durante décadas. Sua redescoberta, em parte, deve-se a Thomas Samuel Kuhn e ao comentário que inseriu em seu livro sobre a “monografia de Fleck”.
Após ter sido praticamente ignorado por várias décadas, Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico, (re) aparece em 1979, em sua tradução para o inglês, na qual o primeiro desses ilustres apresentadores não foi nada menos do que Thomas Kuhn. Cerca de duas décadas antes, em grande medida, Kuhn havia sido o responsável por essa (re)descoberta do livro de Fleck ao afirmar também no prefácio de A Estrutura das Revoluções Cientificas: “encontrei a monografia quase desconhecida de Ludwik Fleck, […], um ensaio que antecipa muitas de minhas próprias idéias” (Condé, 2010, p. IX).5
O livro de Fleck divide-se em quatro capítulos, mais um prefácio do próprio autor datado de 1934. O autor parte de um fato cotidiano de sua lida médica para desenvolver sua reflexão epistemológica: a sífilis.
Assim, o primeiro capítulo faz uma recapitulação histórica para mostrar “como surgiu o conceito atual de sífilis” e já enseja sua explicação utilizando, mesmo que implicitamente em algumas passagens, os conceitos que se desenvolvem nos três últimos capítulos. O segundo capítulo, intitulado “Consequências para a teoria do conhecimento da história apresentada de um conceito”, demonstra o condicionamento histórico-social do pensamento e introduz as noções de protoideias (préideias), estilo de pensamento e coletivo de pensamento.
Na página 62, Fleck cita a importância da biologia na formação de sua epistemologia e esclarece a presença das mutações na formação do pensamento. Relembrar a citação da biologia por parte de Fleck é importante para marcar a distinção que o separa de toda a tradição anterior de reflexão sobre a ciência, o chamado Círculo de Viena, bem como de Karl Popper, cujo livro havia sido publicado em 1934 (Popper, 1993).
No terceiro capítulo, “Sobre a reação de Wassermann e sua descoberta”, Fleck demonstra a construção do fato hoje plenamente conhecido como “reação de Wassermann” (teste diagnóstico da sífilis) e introduz uma reflexão crítica sobre a tão propalada objetividade como critério seguro para discernimento do conhecimento científico.
Essa reflexão é muito importante para a historiografia de modo geral, pois propõe uma percepção problematizadora, não ingênua, sobre a visão retrospectiva habitual dos historiadores e desmistifica a existência concreta da chamada objetividade. Nesse momento, aborda-se a questão do erro na construção da ciência de maneira inovadora para a época.
No quarto capítulo, “Aspectos epistemológicos da história da reação de Wassermann”, Fleck introduz a noção de saber num sentido já bem próximo ao que Michel Foucault definirá mais tarde. Nesse capítulo, aparecem as noções de círculo esotérico (dos cientistas) e círculo exotérico (saber popular), e discute-se a circulação de saberes e conteúdos entre os dois. Também se explicitam as noções de conexões ativas e passivas, e ressalta-se a importância dos manuais de ciência na formação de novos profissionais. Para Fleck, o estilo de pensamento de determinada área do saber em determinada época consiste numa predisposição a uma percepção direcionada (Fleck, 2010, p. 198). No final do capítulo, alude ao estilo de pensamento indiano e chinês, num dos muitos exemplos que evoca, e evidencia que sua reflexão possui um escopo muito maior e pode ser extrapolada para inúmeras outras searas.
Desde modo, o livro de Fleck possui outras possibilidades que, no geral, só recentemente começam a ser exploradas. Habitualmente, suas noções de estilo de pensamento e coletivo de pensamento são consideradas precursoras e semelhantes às de épistémè de Foucault6 e de paradigma em Thomas Kuhn (Cf. Kuhn, 2006). Contudo, essa posição já foi criticada por Bruno Latour.
No posfácio à edição francesa da obra de Ludwik Fleck, Bruno Latour (2005) sugere que uma das injustiças dirigidas a esse pensador (refere-se a Fleck) é o fato de seu conceito de “coletivo de pensamento” ter sido considerado um mero “precursor” da noção de “paradigma” de Kuhn. Segundo Latour, para Fleck não se tratava apenas de estudar o contexto social das ciências, mas de perseguir todas as relações, os embates e as alianças envolvidas na produção do conhecimento e na história do pensamento. Latour o considera, assim, um pioneiro ainda atual e instigante (cf. Machado, 2008, p. 122).
Assim, a obra de Fleck aponta que as ideias científicas circulam inexistindo rupturas totais, ou abruptas, como mais tarde sugeriu Thomas Kuhn. Fleck demonstra a existência de inúmeros reposicionamentos sociais, as chamadas mutações, que possibilitam a gênese e o desenvolvimento de um fato científico. Esses adventos ocasionam a desestabilização de conceitos antigos, do estilo de pensamento de outrora, permitindo o surgimento de novos objetos científicos.
A história da sífilis de Fleck, portanto, não equivale às congêneres de sua época. Diferentemente das abordagens então recorrentes, ele evidencia a construção social da sífilis e demonstra como a reação de Wassermann introduziu um novo estilo de pensamento que reconfigurou o entendimento da própria doença. Para Fleck, o conhecimento científico é um fenômeno social e cultural. A cultura é que torna possível e legitima a ciência e não se constitui num embaraço na lida dos cientistas ou um percalço no caminho da objetividade.
O primeiro estudo epistemológico de Fleck afirmava que as “doenças” são construções coletivas dos médicos7. No seu segundo trabalho epistemológico, ele radicalizou esta idéia e explicou que os agentes causadores das doenças (infecciosas), as bactérias, são também construções dos cientistas8. […] Posteriormente, em seu livro de 1935, Gênese e desenvolvimento de um fato científico […] Fleck desenvolve a ideia sobre o papel das práticas profissionais na construção e validação dos “fatos científicos”. O conhecimento, explica ele, não pode ser concebido fora do grupo de pessoas que o criam e o possuem. Um fato científico é como uma regra desenvolvida por um pensamento coletivo, isto é, um grupo de pessoas ligadas por um estilo de pensamento comum (Löwy, 1994, p. 236-237).
Aqui é preciso reconhecer que a leitura da obra de Fleck demanda uma contextualização que o prefácio e o prólogo realizam satisfatoriamente. Isso ocorre por vários motivos. O texto de Fleck se repete. O primeiro capítulo, por exemplo, para aqueles que não estão familiarizados com o estudo histórico das doenças, pode parecer um pouco enfadonho. Contudo, é a partir da história da sífilis que ele desenvolve sua epistemologia, e o primeiro capítulo é a apresentação do caso a ser estudado, ou seja, da sífilis. Neste caso específico sobre a história da sífilis, alguns leitores mais informados poderão objetar que o texto de Fleck se encontra desatualizado. Quanto à sífilis certamente, quanto ao projeto epistemológico não. Fleck não aborda, por exemplo, a famosa contenda sobre a origem da sífilis, se é americana ou europeia. Isso, no entanto, é secundário. Aplicando a teoria fleckiana ao próprio Fleck, a compreensão destas mudanças na percepção da sífilis tem motivações sociais.
Ele próprio ressalta que a história de uma doença (ou de um fato científico, para usar seus termos) nunca está completa; é sempre tarefa inacabada. Assim, desde a publicação do seu livro, outros temas tornaram-se relevantes no que tange à sífilis e que, em 1935, não estavam tão presentes no estilo de pensamento e no coletivo de pensamento da época.
Para Mauro Condé, professor do Departamento de História da UFMG e um dos articuladores da tradução brasileira, a epistemologia fleckiana possui maior flexibilidade e resolutividade que as demais abordagens teóricas interpretativas da(s) ciência(s) hoje disponíveis. Para ele, a obra de Fleck permanece rica, instigante e atual.
Um dos maiores desafios que o pensamento de Fleck nos oferece talvez seja o de tentar compreender um fato científico a partir de um “sistema de referência”, no qual múltiplas “conexões passivas” e “conexões ativas” se equilibram e os fatos surgem e se desenvolvem. Enfim, devemos abandonar as dicotomias das posições radicais de uma descrição empírica, por um lado, ou de uma postulação lógica, por outro, para abraçar o conhecimento que emerge da atividade humana em suas interações com o social e a natureza (Condé, 2010, p. XIV-XV).
Assim, a leitura da obra de Fleck, situada na fronteira entre sociologia, história e filosofia da ciência, pode ser edificante em várias áreas do conhecimento, pode ser mesmo desconcertante em alguns momentos. Contudo, certamente, trata-se de uma empreitada profícua para historiadores e todos aqueles que têm na sua lida a refl exão sobre o social e o cultural.
A tradução brasileira, é importante registrar, foi feita com rigor e cuidado e incluiu o prólogo de Lothar Schäfer e Thomas Schnelle intitulado “Fundamentação da perspectiva sociológica de Ludwik Fleck na teoria da ciência” escrito originalmente para a edição espanhola de 1986. Deslize editorial foi a omissão no final do livro das referências bibliográficas do próprio Fleck, presentes no original em alemão e na tradução em inglês e espanhol. Elas contêm informações importantes.
Uma delas é a citação que Fleck faz da obra de Karl Popper e que aparece apenas no final. Tais referências são indicativas da atualidade das leituras de Fleck e da diferenciação que queria demarcar e estabelecer. Outra queixa é a ausência de fotografias e mais dados biográficos sobre Fleck, que a presente tradução brasileira deveria conter pela oportunidade ímpar que constituiu de divulgação do próprio autor no Brasil e nos demais países de língua portuguesa.
A expectativa agora é para que a editora Fabrefactum disponibilize o restante da obra epistemológica de Fleck em língua portuguesa, ou seja, os sete artigos por ora apenas disponíveis em inglês e alemão. Isso contribuirá de maneira decisiva para a consolidação no cenário brasileiro deste importante autor e de suas refl exões sobre a História, a Sociologia e a Filosofia das Ciências.
Referências
COHEN, R.S.; SCHNELLE, T. (eds.). 1986. Cognition and fact: materials on Ludwik Fleck. Dordrecht, Reidel Publish Company, 468 p.
CONDÉ, M.L.L. 2010. Prefácio. In: L. FLECK Gênese e desenvolvimento de um fato científico. Belo Horizonte, Fabrefactum, p. VII-XVI.
FLECK, L. 2010 [1935]. Gênese e desenvolvimento de um fato científico.
Belo Horizonte, Fabrefactum, 201 p.
FOUCAULT, M. 2000a [1970]. A ordem do discurso. São Paulo, Loyola, 79 p.
FOUCAULT, M. 2000b [1969]. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 244 p.
FOUCAULT, M. 2000c [1966]. As palavras e a coisas. São Paulo, Martins Fontes, 541 p.
KUHN, T.S. 2006 [1962]. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo, Perspectiva, 260 p.
LOTHAR, S.; SCHNELLE, T. 2010 [1986]. Fundamentação da perspectiva sociológica de Ludwik Fleck na teoria da ciência. In: L. FLECK, Gênese e desenvolvimento de um fato científico. Belo Horizonte, Fabrefactum, p. 1-36.
LÖWY, I. 1994. Fleck e a historiografia recente da pesquisa biomédica.
In: V. PORTOCARRERO (org.), Filosofia, História e Sociologia das Ciências 1: abordagens contemporâneas. Rio de Janeiro, Fiocruz, p. 233-249.
MACHADO, P.S. 2008. Intersexualidade e o “Consenso de Chicago”: as vicissitudes da nomenclatura e suas implicações regulatórias.
Revista Brasileira de Ciências Sociais, 23(68):109-124.
POPPER, K. 1993 [1934]. A lógica da pesquisa científica. São Paulo, Cultrix, 567 p.
Notas
3 Na FAFICH (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas), no Auditório Baesse.
4 Trata-se de sete artigos publicados entre 1927 e 1960. São eles: “Algumas características específicas do modo médico de pensar” (1927); “Sobre a crise da realidade” (1929); “Observação científica e percepção em geral” (1935); “O problema de uma teoria do conhecimento” (1936); “Problemas da ciência da ciência” (1946); “Olhar, ver e saber” (1947) e “Crise na ciência” (1960) Cf. Condé (2010, p. VIII). Esses textos em inglês encontram-se em: Cohen e Schnelle (1986).
5 No original de Thomas Kuhn a afirmação citada encontra-se na página 11 (Kuhn, 2006).
6 A noção de épistémè aparece em inúmeras ocasiões na obra foucaultiana. Apenas para citar alguns exemplos: As palavras e as coisas (2000c [1966]); Arqueologia do saber (2000b [1969]) e A ordem do discurso (2000a [1970]).
7 Trata-se do artigo de 1927: “Algumas características específicas do modo médico de pensar”.
8 Trata-se do artigo de 1929: “Sobre a crise da realidade”
Luciano Marcos Curi Centro – Doutor em História pela UFMG. Universitário do Planalto de Araxá Av. Ministro Olavo Drummond, 5 38180-084, Araxá, MG, Brasil.
Roberto Carlos dos Santos – Mestre em História Social pela UFU. Centro Universitário de Patos de Minas Rua Major Gote, 808 38702-054, Patos de Minas, MG, Brasil.
Khronos | USP | 2008
Khronos – Revista de História da Ciência (São Paulo, 2008-) é uma publicação semestral do CHC – Centro Interunidades de História da Ciência da Universidade de São Paulo (fundado em 1988) – voltada para a história e epistemologia das ciências naturais, ciências da vida, ciências humanas, técnicas e áreas correlatas.
A perspectiva é interdisciplinar e visa estimular as possibilidades interpretativas dos processos de conhecimento científico e técnico em seus contextos históricos.
São publicados resultados de pesquisas originais relativas a temas desde a Antiguidade até o século 21, inclusive.
Além destes, são bem vindos textos de memórias de cientistas ou de instituições, bem como traduções inéditas, resenhas, notícias de projetos de pesquisa e outros assuntos de interesse para historiadores.
[Periodicidade semestral].Género y Epistemología. Mujeres y disciplinas – MONTECINO; OBACH (RCA)
MONTECINO, Sonia; OBACH, Alejandra (Compiladoras). Género y Epistemología. Mujeres y disciplinas. Santiago: Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 1998. Resenha de: OSES, Darío. Revista Chilena de Antropologia, n.14, p.163-164, 1997/1998.
Darío Oses – Universidad de Chile Acesso apenas pelo link original
[IF]



