Posts com a Tag ‘Duke University Press (E)’
Peripheral nerve: health and medicine in Cold War Latin America | Anne-Emanuelle Birn e Raúl Necochea López
Anne-Emanuelle Birn | Imagem: University of Toronto
Scholars of Latin America are familiar with the narrative of the Cold War in the region. The stories we tell about the second half of the twentieth century often rely on narrative scaffolding provided by the Cold War; after all, the global influence of the ideological, political, economic, and military battles between the United States and Soviet Union permeated all aspects of people’s lives to various degrees. In these stories, the Latin American Third World is presented as influenced, persuaded, and pressured by the two global superpowers while politicians and policymakers made decisions about the path nations would take towards development and globalization (see, e.g., Smith, 2007). In Peripheral nerve: health and medicine in Cold War Latin America , Anne-Emanuelle Birn and Raúl Necochea López present a different way to look at the Cold War era in Latin America, with a more nuanced view of how different people in different places experienced, reacted to, and acted during the Cold War. This is not an alternative approach meant to decenter the Cold War: on the contrary, the authors and editors illustrate the complexity of the Cold War on the ground, on the so-called peripheries of development. This book demonstrates that people in Latin America had the “nerve” to face international pressures and make choices that, while under the veil of the Cold War dichotomy, had more to do with the individual local realities than the larger battle between First and Second Worlds. To learn how Latin Americans dealt with the Cold War on a local and international level this book is essential. Leia Mais
Before the Flood: The Itaipu Dam and the Visibility of Rural Brazil | Jacob Blanc
Jacob Blanc | Foto: Everipedia
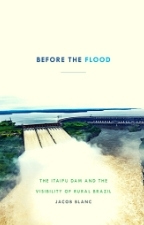 O livro Before the Flood: The Itaipu Dam and the Visibility of Rural Brazil é sobre a visibilidade do Brasil rural a partir da experiência de grupos sociais que habitavam na região que seria inundada pelo lago de Itaipu (Oeste do Paraná). Nesta resenha, além de apresentar o livro, pretende-se apontar duas contribuições ao campo da História. Uma para a História do Paraná e outra para a área dos Latin American Studies, especialmente um possível novo campo de estudos históricos sobre a região da Tríplice Fronteira (Argentina, Brasil e Paraguai).
O livro Before the Flood: The Itaipu Dam and the Visibility of Rural Brazil é sobre a visibilidade do Brasil rural a partir da experiência de grupos sociais que habitavam na região que seria inundada pelo lago de Itaipu (Oeste do Paraná). Nesta resenha, além de apresentar o livro, pretende-se apontar duas contribuições ao campo da História. Uma para a História do Paraná e outra para a área dos Latin American Studies, especialmente um possível novo campo de estudos históricos sobre a região da Tríplice Fronteira (Argentina, Brasil e Paraguai).
Ao contrário do que a combinação do título (Before the Flood) e da imagem da capa (uma foto da usina de Itaipu) pode sugerir, o livro do historiador Jacob Blanc não é prioritariamente uma história do que há quase 50 anos era propagandeado como o “projeto do século” (Itaipu Binacional). Trata-se de uma história social centrada na narrativa de três grupos-chave (pequenos proprietários de terras, trabalhadores rurais sem a posse da terra e indígenas Avá-Guaranis) que lutaram contra o significado essencial da construção do reservatório de águas da usina: a perda do lugar onde habitavam. De acordo com o autor, cerca de 40 mil pessoas foram removidas para dar lugar ao maior lago artificial do mundo, com mais de 1300 quilômetros quadrados (p. 3; 122). Leia Mais
Cowards Don’t Make History. Orlando Fals Borda and the Origins of Participatory Action Research | Joanne Rappaport
Resenhista
Margarita Martínez-Osorio – Indiana University. Bloomington.
Referências desta Resenha
RAPPAPORT, Joanne. Cowards Don’t Make History. Orlando Fals Borda and the Origins of Participatory Action Research. Durham: Duke University Press, 2020. Resenha de: MARTÍNEZ-OSORIO, Margarita. Historia Agraria De América Latina, v.2, n.1, p. 213-216, abr.2021. Acesso apenas pelo link original [DR]
Sins Against Nature. Sex and Archives in Colonial New Spain | Zeb Tortorici
Desde 1986, cuando Serge Gruzinski publicó su novedoso estudio “Las cenizas del deseo”, no se publicaba una investigación histórica tan desafiante sobre la homosexualidad durante el periodo colonial novohispano.1 Es cierto que habían aparecido distintas investigaciones que ampliaban y enriquecían nuestra comprensión del campo de la sexualidad durante el periodo, especialmente porque analizaban muchas transgresiones a la doctrina establecida por la Iglesia. Sin embargo, conviene admitirlo, estas transgresiones tenían relación, casi siempre, con el matrimonio católico. Es decir, se trataba de relaciones heterosexuales prematrimoniales o al margen del matrimonio. Sins Against Nature, es bueno decirlo, no es sobre homosexualidad, pero es indiscutible que es uno de sus principales focos de atención. Leia Mais
Aqueous Territory: Sailor geographies and New Granada’s Caribbean World | Ernesto Bassi
Bassi inicia en su libro, cómo la historia ha sido reforzada a través de narrativas sobre el tiempo y muy pocas veces, se tiene en cuenta el espectro espacial. Es decir, los historiadores, a veces no tenemos en cuenta la dimensión espacial para analizar los procesos históricos que se estudian. En este sentido, Bassi pone de ejemplo a Cartagena y como su “horizonte de expectativa” se había ligado en algún momento a una Cartagena Británica, dada la lógica de la guerra de las independencias, y cómo este episodio, se toma como algo anecdótico dentro de esas narrativas para explicar estos procesos históricos y no como el espacio, había también influido para que los dirigentes cartageneros pensaran en esa posibilidad, dada la relación que tenía Cartagena con el Caribe. Leia Mais
Watering the Revolution: An Environmental and Technological History of Agrarian Reform in Mexico | Mikael Wolfe
El agua suele ser una capa material poco abordada en el estudio del mundo agrario, tanto en América Latina como en el mundo. De hecho, se puede argumentar que analizar el campo como un espacio hídrico –configurado por vertientes, cuencas, canales, ríos, lagos, lagunas, reservas y, acaso más importante, derechos de agua– resulta un ejercicio mucho más complejo y posiblemente más fructífero que cuando se le ve como un “simple” espacio terrestre. Aunque la lucha por los derechos de la tierra ha dominado las narrativas históricas de las comunidades agrarias y los sujetos rurales de esta parte del mundo, existe otra historia por contar en clave hidrológica que da cuenta de los conflictos desatados por el elusivo control y la explotación del agua. Watering the Revolution es el estudio pionero de Mikael Wolfe que ofrece una primera mirada tecnomedioambiental sobre la reforma agraria post-revolucionaria en México. El libro es el resultado de un prolijo estudio de la región nor-central de la Comarca Lagunera, un espacio irrigado por los ríos Nazas y Aguavanal. La topografía de esta región produce una excentricidad medioambiental dado que ninguno de estos ríos desemboca en el océano, sino que producen una serie de lagunas cuyas cuencas sostienen regímenes de agricultura intensiva. En 1936, la riqueza hídrica de la Comarca Lagunera condujo a Lázaro Cárdenas a construir la primera represa del México post-revolucionario. Wolfe documenta el proceso de transformación de los regímenes hídricos producto de la construcción de esta represa, el papel de los técnicos agrarios en diseñar infraestructura y políticas públicas para un nuevo gobierno del campo y el desigual acceso al agua que subyació al reparto de tierras, entendido comúnmente como el aparente gran triunfo de la Revolución Mexicana. Leia Mais
Black Feminisms Reimagined: After Intersectionality | Jennifer C. Nash
Black Feminisms Reimagined, o segundo e mais novo livro de Jennifer C. Nash, crítica cultural e professora de estudos afro-americanos, de sexualidade e gênero, analisa a complexa história institucional e intelectual do feminismo negro, na era do que ela chama de “guerras de interseccionalidade”, e propõe um armistício entre departamentos de estudo de gênero e o feminismo negro através da teoria do afeto. Nash leciona na Universidade Northwestern em Evanston, Illinois, nos Estados Unidos, e é doutora em Estudos Afro-Americanos pela universidade de Harvard. Seu primeiro livro, The Black Body in Ecstasy: Reading Race, Reading Pornography, publicado em 2014, analisa representações visuais do corpo de mulheres negras em um espaço que ela define como “lugar de desconforto” para o feminismo negro: a pornografia racializada. Nesse livro, ela questiona os limites das interpretações vigentes no engajamento teórico do feminismo negro com as representações visuais sexualizadas. Sendo assim, ambos os estudos de Nash procuram investigar os limites teóricos, ou zonas de desconforto, dentro do feminismo negro. Leia Mais
The Fetish Revisited: Marx/Freud/and the Gods Black People Make | J. Lorand Matory
A centralidade da obra de James Lorand Matory nos estudos afro-americanos não pode ser desconsiderada. Não apenas a textura teórica revela um joeiramento crítico profundo, com uma capacidade de reflexão eclética e hermenêutica, como a riqueza do seu conhecimento particular e diversificado das religiões do chamado Atlântico Negro tornam suas obras de leitura obrigatória a todos que se dedicam ao estudo das religiões dessa geografia. Em uma obra anterior, Matory já havia expressado a importância do espaço circum-atlântico na emergência do nacionalismo iorubano (Lagosian Renaissance).1 Nela evidencia o papel de determinadas famílias da elite afro-atlântica na constituição de um conjunto de valores, bens e serviços que promoveram a consolidação daquilo que a literatura designa por “supremacia nagô” ou “nagôcracia”, ao mesmo tempo que questiona a tradição cristalizada por Ruth Landes do matriarcado como padrão ortopráxico. Leia Mais
Earth Beings. Ecologies of Practice Across Andean Worlds – De La CADENA (A-RAA)
Marisol de la Cadena. www.rigabiennial.com.
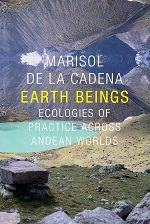 De La CADENA, Marisol. Earth Beings. Ecologies of Practice Across Andean Worlds. Durham: Duke University Press, 2015. Resenha de: MORENO, Javiera Araya. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.26, set./dez., 2016.
De La CADENA, Marisol. Earth Beings. Ecologies of Practice Across Andean Worlds. Durham: Duke University Press, 2015. Resenha de: MORENO, Javiera Araya. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.26, set./dez., 2016.
A veces la lectura de un trabajo etnográfico da la impresión de que este se refiere a diversas y múltiples tradiciones teóricas, al asociarlas de manera más o menos deliberada con partes específicas del trabajo de campo. El relato etnográfico parece entonces responder a la literatura de las ciencias sociales, sin que la reflexión pueda en efecto ilustrar, desafiar, refutar o sustentar algunas de las corrientes teóricas a las que apela de forma fragmentada. Pareciera que el autor no compromete por entero su investigación con determinadas corrientes teóricas e impide así que la dimensión empírica del terreno pueda cuestionar o tensionar plenamente los supuestos teóricos que de manera parcial lo estructuran.
El trabajo de Marisol de la Cadena sobre el que trata esta reseña es un ejemplo de todo lo contrario. A través de su lectura no solo aprendemos sobre las constantes luchas de una comunidad indígena en Perú -contra la hacienda como institución productiva que esclavizaba a sus miembros, contra las corporaciones y sus planes de extracción mineral en sus territorios, contra la policía peruana y su arbitraria aplicación de la ley y, en resumen, contra la pobreza en la que se encuentran- sino que también vemos cómo la autora moviliza su trabajo de campo para interpelar dos grandes corrientes teóricas que marcan la antropología contemporánea. Por un lado, aquélla que denuncia la especificidad colonial de la producción de conocimiento sobre un “otro” y, por otro lado, aquélla que postula la existencia de una diferencia ontológica -y no solo epistemológica- con el “otro” que se quiere conocer.
Respecto a la primera discusión teórica, la autora nos invita a comprender la lucha de la comunidad en su irreductibilidad a las claves de lectura occidentales y eurocéntricas. Respecto a la segunda, De la Cadena constata que ahí donde algunos ven una disputa legal por derechos respecto a la propiedad de un terreno o una movilización campesina por una distribución más justa de las riquezas generadas por la explotación agrícola, otros -precisamente sus protagonistas en la comunidad- ven algo distinto, o más bien algo más. Habitan un territorio que no es solo tierra, sino también un conjunto de relaciones entre seres cuya condición de “humanos” solo puede ser atribuida a una parte de ellos. Efectivamente, en la comunidad indígena de Pacchanta, y retomando los términos en quechua, runakuna (humanos) y tirakuna (no humanos o seres de la tierra) establecen relaciones entre sí y entre ambos. Para los miembros de esta comunidad, lo que pasa allí necesariamente incluye a estos seres no humanos. El lugar emerge necesariamente de estos vínculos que exceden la manera en la que usualmente se piensa en una montaña (por ejemplo) como cosa, sea esta como tierra que puede ser explotada o como espacio natural que debe ser conservado.
¿Cómo producir conocimiento sobre un otro que es tan “otro” que no adhirió a la distinción ontológica -y moderna (Latour 1993)- entre sociedad y naturaleza? ¿Cómo hacerlo de tal manera que este conocimiento producido sea susceptible de reconocer historicidad, es decir trascendencia, relevancia y sentido, a experiencias que parecen solo adquirir pertinencia cuando se insertan en modelos de interpretación que son familiares para el observador occidental, como el de la liberación campesina, del chamanismo andino o del multiculturalismo? ¿Cómo integrar los seres no-humanos, sus intereses y capacidad de acción en conflictos medioambientales y en general en la toma de decisiones políticas que afectan a la comunidad a la que pertenecen? Marisol de la Cadena reflexiona respecto a estas preguntas y ofrece una escritura precisa, honesta y que refleja un esfuerzo logrado por explicar cuestiones complejas con palabras simples. Las descripciones son a la vez suficientes y densas y las repeticiones, que a veces llaman la atención por su abundancia, contribuyen a la comprensión del texto.
El libro está compuesto, además de un prefacio y de un epílogo, por siete narraciones (stories) y dos interludios que presentan las vidas de Mariano Turpo y de Nazario Turpo respectivamente, amigos e informantes de De la Cadena. En la primera narración la autora despliega el arsenal teórico con que escribirá su etnografía y un concepto predominante en todo el libro será el de “conexiones parciales” (Strathern 2004 [1991]), según el cual el mundo no está dividido en “partes” agrupadas a su vez en el “todo”, sino que -como en un caleidoscopio- el “todo” incluye a las “partes”, las que a su vez incluyen el “todo”. Esta imagen permitirá a la autora justificar la idea de que similitud y diferencia pueden existir simultáneamente -en Pacchanta, en Cusco y también en Washington D.C., donde uno de los informantes participa en una exposición-, de que los mundos no tienen que excluirse para poder existir de manera diferenciada.
Por ejemplo, el primer interludio nos cuenta cómo Mariano Turpo, en virtud de sus capacidades para negociar tanto con el hacendado como con los seres de la tierra, fue elegido para encabezar la lucha de la comunidad por liberarse de la hacienda Lauramarca1. Se trataba más bien de “caminar la queja” o “hacer que la queja funcione” (queja purichiy), lo que incluía una serie de interacciones con la burocracia urbana peruana -en Cusco y en Lima- para que esta reconociera de forma legal los abusos del hacendado y eventualmente los derechos de la comunidad sobre la tierra. En uno de sus viajes a Cusco, Mariano Turpo pasa a la catedral a explicar a Jesucristo cómo llevará a cabo su misión, encomendada por su comunidad y que incluye entonces la voluntad de Ausangate, la gran montaña a cuyas faldas se encuentra Pacchanta. Esa mezcla, que en realidad no es mezcla ni sincretismo puesto que no anula cada una de las partes, entre elementos de la religión Católica y el rol de la voluntad de un ser de la tierra -atribuido por la comunidad indígena-, daría cuenta de una de las muchas “conexiones parciales” que identifica Marisol de la Cadena.
Con esta conceptualización presente a lo largo de todo el libro, la autora continúa su análisis describiendo en detalle, en la segunda y la tercera narración, cómo los runakuna “caminaron su queja” y llegaron en la década de los ochentas a distribuir las tierras entre ellos y a ejercer plena propiedad sobre ellas. Basada en autores como Trouillot (1995), Guha (2002) y Chakrabarty (2000), De la Cadena construye un marco de análisis que da pie para pensar un “líder indígena” que, al mismo tiempo que efectivamente lidera la movilización, no es tal. De hecho, para los runakuna Mariano Turpo no era un representante de la comunidad, sino que hablaba desde ella y no solo con humanos. El conjunto de documentos que Mariano Turpo había reunido respecto a la queja y que al momento de ser contactado por De la Cadena le sirve para hacer fuego, adquiere el estatus de archivo o más bien de “objeto límite” -una especie de materialización de una conexión parcial- entre el mundo de la burocracia estatal centrada en lo escrito y el mundo indígena principalmente unilingue quechua, en el cual pocas personas saben leer y escribir a pesar de los esfuerzos de la comunidad por tener escuelas frente a la oposición de la hacienda. ¿Cómo conferir evenemencialidad, algo así como capacidad para ser algo más que parte del paisaje y alterar el desarrollo de los hechos en la lucha por el territorio, tanto a los runakuna como a seres de la tierra? De la Cadena responde a esta pregunta en la cuarta narración.
El segundo interludio avanza según la cronología de la situación en Pacchanta en las últimas décadas. Nazario Turpo, hijo de Mariano Turpo y también capaz de comunicar con seres no-humanos, es el protagonista principal de la segunda parte del libro. En ella, aprendemos que la situación de abandono en que se encuentra la comunidad de los Turpo no ha cambiado a pesar del relativo éxito de la lucha por la tierra, de la reforma agraria o del multiculturalismo promulgado por el presidente Toledo (2001-2006). Y cuando De la Cadena habla de abandono lo hace citando a Povinelli (2011), es decir apuntando a un proyecto sistemático por parte del Estado peruano según el cual la vida de los runakuna se conjuga siempre en pasado o en futuro anterior, pero nunca en presente, de tal manera que sus muertes no gozan de evenemencialidad. La muerte de Nazario Turpo en un accidente de carretera en el bus que lo transportaba a Cusco, donde ejercía como chamán para una agencia turística, es quizás -insinúa la autora- el resultado de las malas condiciones de las carreteras de la zona, las que no se limitan solo a los caminos, sino que también se extienden a escuelas y hospitales y contribuyen a la situación de pobreza y de carencias en un altiplano afectado por sequías e inviernos helados.
La quinta narración nos explica cómo Nazario Turpo llegó a obtener el trabajo de chamán en una agencia turística y cómo este puesto es el resultado de la mercantilización de las prácticas indígenas en el Perú; mercantilización más bien de las prácticas y sus significados que se imputan a los runakuna y que no necesariamente tienen. De hecho, De la Cadena comenta que el rol de “chamán” no existe para los runakuna -quienes identifican en cambio a un paqu, algo parecido, pero diferente- y para quienes prácticas como los despachos ofrecidos a seres de la tierra, traducidos por lo general como “ofrendas”, no hacen ni pueden hacer referencia a una espiritualidad por cuanto los seres de la tierra no tienen ni son espíritus, solo son.
La venta del “chamanismo andino” como producto turístico benefició a nivel económico a Nazario Turpo y a su familia y le valió una invitación a Washington D.C. para participar en una exposición organizada por el National Museum of the American Indian, en tanto parte del equipo de curadores de la exhibición y en tanto él mismo como indígena parte de la muestra. La sexta narración se centra en esta colaboración entre Nazario Turpo y el museo y describe múltiples “equivocaciones” en el sentido desarrollado por Viveiros de Castro (2004), es decir como intentos aceptadamente errados de traducción de la realidad de otro, ontológicamente diferente de la propia. Una de estas refiere, por ejemplo, a la imposibilidad por parte de los organizadores de la exposición de comprender el rol que juegan los seres de la tierra en Pacchanta.
En esta sexta y última narración, De la Cadena discute cómo se distribuye algo así como el “poder” en la comunidad y en sus relaciones con el Estado peruano, aunque ni la autora ni sus informantes utilizan esa palabra. Descubrimos que una misma palabra en quechua –munayniyuq, traducida por la antropóloga como “dueño de la voluntad”- aplica tanto para la hacienda, el Estado peruano y Ausangate, la montaña. Así, el capítulo final del libro incluye descripciones de las rondas campesinas organizadas por la comunidad y de la manera en que algunos de sus miembros obtuvieron cargos políticos representativos en el gobierno local, además nos introduce en la propuesta con que Marisol de la Cadena cerrará el libro en su epílogo: la “cosmopolítica” como una manera de enfrentarse epistemológicamente a otro, sobre todo como un enfoque normativo que permitiría concebir políticamente las diferencias entre mundos ontológicamente distintos.
Al basarse en autores como Blaser (2009) y Haraway (2008) y constatando que las movilizaciones por la protección del medio ambiente frente a la explotación corporativa de recursos naturales reivindican la distinción entre naturaleza y sociedad, invisibilizando así a los seres no-humanos como ríos, montañas y lagos en su capacidad de acción y relaciones que establecen con la comunidad, De la Cadena -leyendo a Stengers (2005)- afirma que Mariano y Nazario Turpo, así como su comunidad en Pacchanta, pusieron en práctica una manera de relacionarse con otros en la cual la igualdad ontológica no era un requisito y en que la “parcialidad de las conexiones” era posible. En palabras de la autora (mi traducción): “sostengo que, al discrepar ontológicamente con la partición establecida de lo sensible, los runakuna proponen una cosmopolítica: las relaciones entre mundos divergentes como una práctica política decolonial que no tiene otra garantía que la ausencia de igualdad (sameness) ontológica” (p. 281). Que la cosmopolítica practicada por los runakuna sea tal es brillantemente demostrado por De la Cadena a lo largo de su obra, sin embargo aquí se introduce una crítica a su trabajo y es que el carácter decolonial en él no se revela tan nítidamente.
Una de las principales fortalezas de esta etnografía es precisamente su capacidad para convertirse en un estudio empírico que a la vez moviliza y desafía las literaturas ligadas tanto al ámbito de la ontología política como a los estudios postcoloniales. Sin embargo, mientras que De la Cadena nos presenta una respuesta completa, teórica y aplicada a la pregunta por cómo aprehender las diferencias ontológicas, la noción de “poder” -en sus versiones más o menos elaboradas, siempre inherente a cualquier reflexión desde la decolonialidad- no alcanza a constituir una respuesta satisfactoria a la pregunta por cómo estudiar a quienes están “en la sala de espera de la historia” (Chakrabarty 2000). Al fin y al cabo, y según los relatos reportados por De la Cadena, esta “sala de espera” no es solo un lugar donde lo que los runakuna hacen y creen no es conocido ni re-conocido, sino que también es un lugar donde la comunidad se está muriendo de hambre y de frío, donde no tiene acceso adecuado a escuelas o a hospitales y donde es continuamente abusada por otros.
La “cosmopolítica” que puedan poner en práctica tanto los runakuna como la antropóloga no es suficiente -aunque quizás en ningún caso prescindible- para otorgar dignidad epistemológica e histórica a la comunidad de Mariano y Nazario Turpo. ¿Cómo dar cuenta de la discrepancia ontológica con el proyecto moderno que encarnan los seres de la tierra en Pacchanta y, al mismo tiempo, de la igualdad política a la que sin embargo los mismos runakuna parecen aspirar? ¿Cómo dar cuenta, simultáneamente, de la diferencia ontológica entre mundos y de la participación en un mismo mundo desigual? El libro de Marisol de la Cadena ofrece ciertamente un trabajo de terreno fascinante, una escritura impecable y una reflexión rigurosa para pensar estas preguntas que inquietan a la antropología contemporánea.
Comentario
1 La situación en Pacchanta, cuyos orígenes se remontan a la colonización española, es el resultado de la tensión entre la entrega de títulos hacendales sobre territorios indígenas a colonos, lo que obligaba a las comunidades que vivían y trabajaban las tierras de la hacienda a pagar tributos a sus dueños, y las sometía a múltiples abusos. La hacienda Lauramarca, que controlaba la zona y que ha tenido distintos dueños a lo largo del siglo pasado, estuvo vigente hasta 1970, cuando luego de muchos conflictos que incluyeron diferentes matanzas de indígenas, ésta se convirtió en una cooperativa agraria. En los años 1980, la comunidad indígena expulsa a los administradores estatales de la cooperativa, deshaciéndola y redistribuyendo la tierra entre las familias indígenas.
Referencias
Blaser, Mario. 2009. “Political Ontology.” Cultural Studies23 (5): 873-896. [ Links]
Chakrabarty, Dipesh. 2000. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference.Princeton: Princeton University Press. [ Links]
Guha, Ranajit. 2002. History at the Limit of World History. Nueva York: Columbia University Press. [ Links]
Haraway, Donna. 2008. When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press. [ Links]
Latour, Bruno. 1993. We Have Never Been Modern. Cambridge: Harvard University Press. [ Links]
Povinelli, Elizabeth. 2011. Economies of Abandonment. Social Belonging and Endurance in Late Liberalism. Durham: Duke University Press. [ Links]
Stengers, Isabelle. 2005. “A Cosmopolitical Proposal.” En Making Things Public: Atmospheres of Democracy, editado por Bruno Latour y Peter Weibel, 994-1003. Cambridge: MIT Press. [ Links]
Strathern, Marilyn. 2004 [1991]. Partial Connections. Nueva York: Altamira. [ Links]
Trouillot, Michel-Rolph. 1995. Silencing the Past: Power and the Production of History.Boston: Beacon. [ Links]
Viveiros de Castro, Eduardo. 2004. “Perspectival Anthropology and the Method of Controlled Equivocation.” Tipití2 (1): 3-22. [ Links]
Javiera Araya Moreno – Magister y estudiante de doctorado en Sociología, Universidad de Montreal. Entre sus últimas publicaciones están: coautora en “Pluralism and Radicalization: Mind the Gap!”. En Religious Radicalization and Securitization in Canada and Beyond, editado por Paul Bramadat y Lorne Dawson, 92-120, 2014. Toronto: University of Toronto Press. Coautora en “Desigualdad y Educación: la pertinencia de políticas educacionales que promuevan un sistema público”. Docencia. Revista del Colegio de Profesores de Chile 44 (XVI): 24-33, 2011. E-mail: javieraarayamoreno@gmail.comMarisol de la Cadena. 2015. Earth Beings. Ecologies of Practice Across Andean Worlds. Durham: Duke University Press
[IF]
Unearthing Conflict: Corporate Mining, Activism and Expertise in Peru – LI (A-RAA)
LI, Fabiana. Unearthing Conflict: Corporate Mining, Activism and Expertise in Peru. Durham y Londres: Duke University Press, 2015. Resenha de: CARMONA, Susana. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.26, set./dez., 2016.
En Unearthing Conflict: Corporate Mining, Activism and Expertise in Peru (Desenterrando el conflicto: minería corporativa, activismo y experticia en Perú1), Fabiana Li explora la proliferación de conflictos en torno a la minería en el Perú desde una perspectiva que pone énfasis en la agencia de elementos no humanos en las controversias. El texto parte de una contextualización histórica para desarrollarse a través de una rica etnografía de agradable lectura, en la cual se analizan con detalle los conflictos mineros en los cuales los más diversos actores entran en escena.
Al igual que otros países en América Latina, las reformas neoliberales de los noventas en el Perú significaron un énfasis en las actividades extractivas y su vinculación con la idea de “desarrollo” y “progreso”. Al mismo tiempo, la oposición social a la minería se incrementó a pesar de los esfuerzos de gobiernos y corporaciones por manejar los conflictos con planes de manejo, estudios técnicos y un despliegue de conocimiento experto que se analiza en el texto. El libro está escrito a partir de dos casos específicos: primero, el de la ciudad de La Oroya en donde se encuentra desde hace más de noventa años un complejo metalúrgico, caso que se desarrolla en el primer capítulo; segundo, la minera Yanacocha en la región de Cajamarca, caso que ocupa el resto del libro.
Unearthing conflict es el resultado de dos años de trabajo etnográfico de la autora en Perú, principalmente en la ciudad de Cajamarca. Como es usual con este tipo de estudios etnográficos, los lugares de observación son muy variados e incluyen no solo la tradicional permanencia con las comunidades, sino también la asistencia a reuniones entre comunidades, empresas y Estado, la visita de inspección a un canal de riego, los espacios de revisión y difusión de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), entre otros. La autora habla de un vínculo especial con la organización social Grufides, que tuvo un papel importante en los conflictos con la minera Yanacocha. El seguimiento a esta organización le permite a la autora dar cuenta de la criminalización de la protesta por parte del Estado, de la separación entre lo “técnico” y lo “político” y, finalmente, de las críticas -externas, pero también desde adentro- a la transformación de una organización social en un partido político.
El objetivo del libro es analizar los elementos que las tecnologías de minería “moderna” (representadas en la minera Yanacocha) han traído al escenario político peruano y que se diferencian de la “vieja” minería (representada en el libro con el caso de La Oroya). La autora se pregunta por la forma en que elementos no-humanos, como la contaminación (pollution) y el agua, se han convertido en los principales puntos contenciosos en los conflictos entre comunidades locales y corporaciones mineras.
Li retoma el concepto de controversias de Latour (2004), que se define como el momento en que las cosas dejan de ser “hechos” (matters of fact) para convertirse en “asuntos de preocupación” (matters of concern). Esto ocurre con la contaminación, con el agua y con otra serie de entidades que son desenterradas por la minería. Según la autora, estos elementos no-humanos se entienden mejor como elementos que no se agotan en un único punto de vista, sino que son construidos desde múltiples perspectivas. Esta construcción es el efecto de relaciones entre actores y su existencia se debe a prácticas específicas que los producen, como por ejemplo estudios técnicos, foros de debate, alianzas y mesas de concertación, movilizaciones sociales, entre otros.
La autora devela en su etnografía lo ambiguas y contradictorias que resultan ser las relaciones entre las empresas y las comunidades, llenas de alianzas, colaboraciones inesperadas y rupturas. Esto la lleva a ampliar la noción de conflicto y a reformularla como relaciones cambiantes entre lugares, personas y cosas, así busca trascender la noción que los conflictos en torno a la minería son un resultado de la falla del Estado o de la actuación corporativa. En palabras de la autora: “no trato a las redes de activistas y a las redes corporativas como antagonistas ideológicas, sino que enfatizo en las alianzas cambiantes entre varios actores y las maneras en que trabajan al mismo tiempo con y en contra de intereses corporativos” (2015, 6). Para su análisis la autora retoma los Estudios de Ciencia y Tecnología (ECT), la ecología política y los estudios críticos del paisaje; de este último, se incluye una perspectiva del paisaje no solo en sus cualidades materiales sino también como agente. Retoma igualmente la idea de los conflictos por extracción de recursos naturales como conflictos ontológicos sobre la producción de mundos y, de esta forma, logra “examinar el cómo cosas como la polución toman forma y se vuelven tangibles, cuándo estas importan y para quién son políticamente significativas” (Li 2015, 21).
El libro es un interesante ejercicio etnográfico en que se contemplan elementos poco comunes a la hora de pensar conflictos mineros en América Latina. Lo más interesante es la atención que pone la autora a las prácticas corporativas que se enmarcan dentro de la “Responsabilidad Social Corporativa” y que incluyen la participación comunitaria, los estudios de impacto ambiental, la rendición de cuentas, la adhesión a estándares internacionales, entre otras. Estas prácticas surgen como respuesta a los movimientos de oposición a la minería y a un interés global en asuntos ambientales y de derechos humanos, sobre los cuáles la antropología apenas recientemente ha posado su interés. Li describe estas prácticas como parte de una “lógica de equivalencia” que busca, mediante procesos de conmensuración y con un despliegue de conocimiento experto técnico-científico, saldar deudas sociales y ambientales. Las equivalencias tienen el efecto de desparecer el aspecto político de los conflictos y poner en términos técnicos las soluciones. Sin embargo, se trata de acuerdos temporales y negociaciones constantes en que las comunidades no se sienten compensadas, pues son intentos de conmensurar lo inconmensurable. Las prácticas corporativas, el activismo y la lógica de equivalencia son rastreados etnográficamente a lo largo de cinco capítulos y un apartado final de conclusión.
La primera sección del libro se titula “Minería, pasado y presente” y en su primer capítulo “Legados tóxicos, activismo naciente” se concentra en el caso de la ciudad de La Oroya, que le permite a la autora presentar la historia minera del país y la agencia de elementos no-humanos, en este caso “los humos”, en el surgimiento de conflictos. Cuando en 2006 una organización norteamericana nombró a La Oroya como uno de los diez lugares más contaminados del mundo, la contaminación en esta ciudad se convirtió en un “asunto de preocupación” global. Para este momento la compañía incrementó sus programas con el fin de contrarrestar las emisiones toxicas, se llevaron a cabo estudios por parte de ONG activistas y de la misma compañía, se implementaron mesas de concertación y se involucró a la comunidad en el manejo de los problemas ambientales.
Muy interesante en este capítulo es la descripción de la forma en que la compañía transforma su obligación de rendir cuentas por sus acciones (corporate accountability) en “responsabilidades compartidas”. Esto último se logra al concentrar esfuerzos en el monitoreo de la salud de los habitantes, el control del riesgo en los puestos de trabajo, el monitoreo comunitario y la promoción de “hábitos saludables”. Estas acciones hacen parte de nueva dinámica en la cual las empresas buscan posicionarse como representantes de la minería moderna y sostenible. La trasformación de elementos no-humanos en asuntos de preocupación y por lo tanto en objetos de conocimientos, se repite a lo largo de los distintos conflictos analizados en el texto: una montaña, canales de irrigación o lagunas. La diversidad de visiones frente a estos elementos es lo que analiza la autora en el resto del libro, al poner énfasis en las prácticas corporativas de generación de equivalencia y en las prácticas de activistas que apelan a argumentos no técnicos.
En este punto la autora pasa al caso de la minera de oro Yanacocha, en cuyo contexto se enfoca en el resto del libro. El capítulo dos “mega-minería y conflictos emergente” narra la historia de la minería en el Perú y su giro hacia la mega-minería. A pesar de las promesas de progreso y de pertenecer al nuevo paradigma de “Responsabilidad Social Corporativa” que generaron enormes expectativas en las comunidades, los efectos de Yanacocha sobre el agua han disparado una enorme oposición a la empresa y a la minería.
A través del análisis de un estudio de la calidad del agua elaborado por una mesa de concertación entre la industria minera, el Estado y las comunidades la autora muestra cómo se producen colaboraciones entre actores y cómo los resultados son usados e interpretados de formas diversas. En este contexto se comienza a hacer evidente que la “percepción” de las personas no se considera un argumento legítimo y que solamente en el marco de un discurso técnico, desde el Estado y la empresa, se habla de compensación y de las preocupaciones sociales, políticas y éticas por el agua.
Tras haber introducido el agua como elemento central de la disputa, la autora pasa en la segunda parte del libro “Agua y Vida” a analizar la forma en que el agua se convierte en un elemento central de la política, generando protestas y movilización internacional en contra de la minería. En el capítulo tres, “La hidrología de una montaña sagrada”, la autora muestra la controversia por el proyecto de explotación a cielo abierto en el Cerro Quilish. Tras mostrar que el cerro es un objeto múltiple que carga al mismo tiempo identidades como depósito de oro, acuífero y montaña sagrada, la autora concluye que en este tipo de conflictos la multiplicidad con que se miran elementos de la naturaleza permiten dar al cerro relevancia política de forma que se “excede la política tal como la conocemos” (De la Cadena 2010). Sin embargo, los argumentos técnicos relacionados con la importancia del cerro como depósito de agua predominaron en la disputa. Esto lleva a la autora a profundizar, en el siguiente capítulo, sobre la lógica con que opera la compañía minera.
En el capítulo cuatro, “Irrigación y equivalencias impugnadas”, la autora analiza de forma detallada la “lógica de equivalencia”. A partir de la historia de unos canales de irrigación afectados por la minería de oro, se narra cómo la empresa llegó a acuerdos de compensación con los campesinos que consistían en dinero en efectivo, contratos de trabajo y asistencia para el desarrollo. La autora muestra el choque de formas de conocimiento y la imposición de los criterios técnico-científicos en las negociaciones. Expone también cómo la equivalencia discrepa con los arreglos políticos preexistentes y por tanto genera conflictos internos a las comunidades. Además, presenta cómo aparecen nuevas dinámicas que hacen proliferar los conflictos, por ejemplo el incremento inusitado del número de usuarios del canal que buscan compensaciones.
No obstante, hace falta un mayor énfasis etnográfico en el cara a cara de la negociación entre los campesinos y los funcionarios de la empresa, así como incorporar el análisis de uno de los elementos más intrigantes de los modelos de desarrollo que llegan con la Responsabilidad Social Corporativa y que la autora no menciona en el texto: el deseo de las personas de hacer parte de sus proyectos. Sin desconocer que efectivamente la lógica de equivalencia opera en la negociación y que los criterios técnicos predominan frente a otras formas de conocimiento, no se explicita el por qué y el cómo los campesinos llegan a este tipo de acuerdos, los aceptan y desean su continuidad.
La forma en que está escrito el texto y los elementos sobre los que se hace énfasis, dejan la sensación de que se trata de una imposición de la corporación malévola y desestiman la agencia de los campesinos en esta negociación. Sin embargo, la etnografía es rica en mostrar el cambio de las relaciones de la gente con el canal de riego y las desigualdades que genera la presencia de la mina en la comunidad.
Finalmente, en la última parte del libro “activismo y experticia”, la autora se concentra en el análisis de un dispositivo corporativo que ha entrado a dominar la escena política en torno a la minería: el EIA. Según Li, los EIA forman parte de una estructura regulatoria que facilita la extracción de recursos y son una de las banderas de la rendición de cuentas corporativas. La autora se concentra en los efectos del EIA y concluye que los impactos identificados son solo aquellos que pueden ser manejados técnicamente, que los procesos de participación y divulgación circunscriben los espacios de oposición al documento y que los procedimientos y formatos asociados al documento son más importantes que su mismo contenido. Esto último lleva a las personas a buscar nuevas estrategias políticas como “salirse del documento”, mediante la no-participación en las instancias oficiales. Una versión preliminar de dicho capítulo de encuentra publicada en Li (2009).
En la conclusión del libro se retoma otro conflicto en torno a la minera Yanacocha. Se trata del proyecto “Minas Conga”, el cual afectaría cuatro lagunas que emergen como los focos de la disputa. Según la autora, el conflicto por Minas Conga encapsula la política de la extracción que se ha mostrado a lo largo del libro, situación que es aprovechada para resumir las conclusiones principales de cada capítulo. Las reflexiones finales se refieren a la hegemonía del conocimiento experto, en este punto la autora deja entrever cierto desconcierto y en un tono de resignación afirma que no se puede negar la fuerza del Estado y el rol de la violencia corporativa y estatal para suprimir la oposición y limitar las posibilidades de acción política; sin embargo, el libro concluye con una reflexión sobre las posibilidades del activismo. Para Li los actores no humanos que se desentierran con la minería moderna, han permitido a los opositores hacer oír sus demandas y desestabilizar visiones dominantes en que la naturaleza es vista como un conjunto de “recursos” que deben ser administrados. Estos objetos, en casos como los que se presentan en el libro y se observan cotidianamente en muchos contextos mineros de América latina, abren nuevos espacios de resistencia.
El libro es una interesante reconstrucción de las dinámicas en torno a la minería desde una perspectiva que permite ver más allá de una tradicional lucha entre actores hegemónicos y no hegemónicos. La atención a las relaciones entre personas y cosas evidencia cómo elementos no humanos llevan a los actores -tanto comunitarios como corporativos- a movilizarse, ya sea para defender un modo de vida tradicional que se ve amenazado o para hacer viable por medio de lógicas de equivalencia una actividad económica extractiva.
Comentario
1 Traducción propia.
Referencias:
De la Cadena, Marisol. 2010. “Indigenous Cosmopolitics in the Andes: Conceptual Reflections beyond ‘politics.’” Cultural Anthropology25 (2): 334–370. [ Links]
Latour, Bruno. 2004. Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy. Cambridge: Harvard University Press. [ Links]
Li, Fabiana. 2009. “Documenting Accountability: Environmental Impact Assessment in a Peruvian Mining Project.” PoLAR: Political and Legal Anthropology Review32 (2): 218–236. [ Links]
Li, Fabiana. 2015. Unearthing Conflict: Corporate Mining, Activism, and Expertise in Peru. Durham y Londres: Duke University Press. [ Links]
Susana Carmona – Antropóloga, magíster en Estudios Socioespaciales de la Universidad de Antioquia, magíster en Antropología y estudiante del doctorado en Antropología en la Universidad de los Andes. Entre sus últimas publicaciones están: coautora en “Números, Conmensuración y Gobernanza en los Estudios de Impacto Ambiental”. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad 10 (30), 2015. “La Percepción de los Impactos Sociales de la Producción de Petróleo: el Caso de Casanare, Colombia”. Southern Papers Series/Working Papers Sur-Sur 21, 2015. E-mail: s.carmona10@uniandes.edu.co
[IF]
In search of the Amazon: Brazil, the United States, and the nature of a region – GARFIELD (HCS-M)
GARFIELD, Seth. In search of the Amazon: Brazil, the United States, and the nature of a region. Durham; London: Duke University Press, 2013. 368p. Resenha de: VITAL, André Vasques. Associações de agentes humanos e não humanos em perspectiva global na construção da Amazônia brasileira. História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22 n.3 Rio de Janeiro July/Sept. 2015.
Lançado nos EUA em 2013, In search of the Amazon é o segundo livro do historiador Seth W. Garfield, professor do departamento de história da University of Texas at Austin. Garfield possui vários artigos lançados sobre temas que envolvem a Amazônia e a política indigenista brasileira na Era Vargas (1930-1945). Seu livro anterior foi traduzido para o português e lançado no Brasil em 2011 pela editora da Unesp com o título A luta indígena no coração do Brasil: política indigenista, a marcha para o oeste e os índios Xavante (1937-1988). O livro ora resenhado, no entanto, ainda não tem previsão de lançamento em português no Brasil.
In search of the Amazon analisa as redes constituídas por instituições, indivíduos, objetos e fenômenos no Brasil e EUA durante a Segunda Guerra Mundial que favoreceram uma série de processos que conformaram a paisagem amazônica e os modos de vida na região. Natureza e política não estão separadas nessa análise, que se constitui tanto como trabalho de história política quanto de história ambiental, embora o autor enfatize o seu afastamento em relação a referenciais teóricos da história ambiental. O aporte teórico-metodológico da obra baseia-se na noção de mediadores e redes compostas pela associação de humanos e não humanos, coprodutores de naturezas e sociedades. Trata-se do conceito de agência dissolvida entre humanos e não humanos do sociólogo da ciência Bruno Latour. Ao longo de cinco capítulos, seguidos de um epílogo, seringueiros, seringalistas, políticos brasileiros, produtos manufaturados de borracha, flagelados da grande seca na região Nordeste de 1941-1943, agências estatais brasileiras e norte-americanas, indústrias de borracha sintética dos EUA, políticos em Washington e outros emergem na obra enquanto protagonistas das transformações sociais e ambientais na Amazônia durante a Batalha da Borracha (1942-1945).
No primeiro capítulo é analisada uma conjunção de fatores de ordem interna e externa, que levaram o Estado brasileiro a realizar investimentos na Amazônia e adotar medidas visando à colonização e ao desenvolvimento econômico da região durante o Estado Novo (1937-1945). O aumento da demanda interna e externa por borracha devido ao estabelecimento de indústrias multinacionais de pneus em São Paulo e pela entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial foi entendido como uma nova oportunidade para a integração nacional da Amazônia. Longe de ser um objetivo novo, o autor aponta que a preocupação com o domínio estatal da região amazônica e sua transformação (de terra “selvagem” e abandonada para “civilizada” e fonte de riquezas para a nação) era uma questão antiga, já pensada e tentada ao longo dos séculos, desde o período colonial português. As principais diferenças das políticas implementadas pelo Estado Novo estavam na ênfase desenvolvimentista, que pregava a conquista da terra, o domínio das águas, a subjugação da floresta, ou seja, uma intervenção em larga escala para a reconstrução socioambiental da Amazônia.
Ainda no mesmo capítulo é destacado o papel de diversos agentes mobilizados pelo Estado visando à reconstrução da paisagem amazônica durante o Segundo Ciclo da Borracha. Oficiais militares, médicos sanitaristas, engenheiros, agrônomos, biólogos, geógrafos, literatos, cineastas e a máquina de propaganda do Estado Novo voltaram-se para a Amazônia, buscando sua remodelação material e imagética, dando caráter nacionalista à missão de seu desenvolvimento. O autor também destaca o papel das elites seringalistas no pacto oligárquico que, na prática, conformou os limites das políticas de Estado na Amazônia. Conhecedores do ecossistema local e associando essa condição à legitimidade política, as elites locais foram parte ativa no processo de transformação da paisagem amazônica.
O capítulo dois parte dos desdobramentos da drástica perda de suprimento de borracha dos EUA, com a invasão japonesa à península da Malásia, para analisar o histórico aumento da dependência social e política norte-americana a objetos feitos com látex. Essa dependência gerou a busca pela borracha da Amazônia e, ao mesmo tempo, intensificou diversos debates sobre modernidade e identidade nacional nos EUA. Contendo em torno de três mil peças de borracha, os automóveis ganharam cada vez mais espaço nos EUA ao longo das primeiras décadas do século XX, transformando as comunicações, a produção, o comércio, a saúde e a sexualidade dos indivíduos. A borracha, por meio do seu uso nos automóveis, tornou-se parte da vida humana, símbolo da modernidade e do progresso, além de ter fundamental importância na produção de material bélico. O início da Segunda Guerra Mundial gerou uma corrida pela estocagem de borracha por parte do governo norte-americano e da iniciativa privada das grandes empresas de borracha manufaturada, provocando tensões entre esses agentes. Diante da falta de suprimentos, as discussões no Congresso americano culminaram com a decisão de investir na importação de borracha vinda da Amazônia e no incentivo ao desenvolvimento de borracha sintética a partir de derivados do petróleo, de modo a acabar com a dependência externa. Em março de 1942, Brasil e EUA assinaram os “Acordos de Washington”, prevendo diversos investimentos em infraestrutura, suporte técnico, sanitário e militar no país e em especial na Amazônia, em troca de suprir a demanda norte-americana e de apoio contra a Alemanha. Os acordos previam também reestruturar o sistema de trabalho nos seringais, buscando promover bem-estar social aos seringueiros, mas Garfield enfatiza como as elites amazônicas, além de políticos e empresários conservadores dos EUA buscaram frear quaisquer intervenções estatais nos meios de produção.
O terceiro capítulo analisa o esforço binacional de prover a mão de obra necessária para a extração de borracha na Amazônia e modificar qualitativamente o perfil do seringueiro e sua relação com o meio ambiente, de modo a aumentar a produtividade nos seringais. Apontada como indolente e fisicamente degenerada, a população da Amazônia era vista como inapta para maximizar a produtividade. Após debates e propostas entre o governo brasileiro e o norte-americano, optou-se mesmo pelo incentivo à migração de pessoas vindas do interior dos estados do Nordeste brasileiro, como aconteceu no Primeiro Ciclo da Borracha. O Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para Amazônia (Semta) ficou encarregado de promover a migração, selecionando os trabalhadores de acordo com o biótipo e as condições de saúde, dando assistência aos migrantes durante o trânsito. O autor analisa as estratégias de mobilização com o uso das mídias (jornais, revistas ilustradas, cinema e rádio), o apoio dado pela Igreja católica e o surgimento da expressão “soldado da borracha”, com a associação do seringueiro à defesa nacional brasileira e à liberdade do mundo diante da ameaça hitlerista. Garfield também analisa nesse capítulo o fracasso das tentativas dos governos brasileiro e norte-americano em padronizar as relações de trabalho nos seringais, que, na prática, mantiveram-se da mesma forma como ocorriam no Primeiro Ciclo da Borracha, por força das elites locais.
O capítulo quatro analisa, a partir das perspectivas política, social, econômica e cultural, as condições dos migrantes e famílias do interior do estado do Ceará e suas estratégias frente à grande seca de 1941-1943 e aos incentivos estatais de ida para a Amazônia. O autor destaca a crise econômica que se abateu sobre a região, as políticas públicas destinadas a minorar as condições de miséria das populações do interior, a ida de cearenses para a Amazônia, Minas Gerais e São Paulo, além do papel tanto dos incentivos estatais quanto das redes de transporte e informação na escolha dos migrantes pelo trabalho nos seringais. Cartas trocadas entre amigos e familiares, histórias de riquezas conquistadas e mortes trágicas durante o Primeiro Ciclo da Borracha, além da literatura de cordel, ajudaram na conformação do imaginário cearense sobre a floresta, levando muitos a optar pela longa travessia rumo aos seringais.
O último capítulo analisa como as autoridades brasileiras e norte-americanas, seringalistas e seringueiros, cada um com suas visões e projetos de poder, conformaram populações e paisagens na Amazônia. O Segundo Ciclo da Borracha favoreceu investimentos norte-americanos e brasileiros na região, dotando-a de infraestrutura, como aeroportos, rede de assistência à saúde nas principais cidades e políticas de bem-estar social. No entanto, os prejuízos advindos da suspensão dos trabalhos de extração no período de cheia dos rios, o fortalecimento das indústrias de borracha sintética e a própria dificuldade de intervir nos meios de produção na Amazônia levaram ao gradual rompimento dos acordos de cooperação por parte do governo dos EUA a partir de fins de 1943. Os seringalistas, remanescentes do Primeiro Ciclo da Borracha, economicamente conservadores e descrentes em relação ao discurso nacionalista do governo brasileiro, esforçaram-se por manter o antigo sistema de aviamentos, promoveram fraudes no sistema de crédito e contrabando, e desrespeitaram os contratos de trabalho assinados entre os seringueiros e órgãos do governo federal. Céticos de que o novo boom da borracha duraria, trabalharam para potencializar seus lucros, desafiando os ditames dos Estados e do mercado com o poder político advindo do controle da força de trabalho e do conhecimento que tinham do ambiente amazônico. Coube aos seringueiros desenvolver suas próprias estratégias individuais na floresta, o que incluiu o engajamento em outras atividades, a cobrança de indenizações na justiça e o uso do termo “soldado da borracha” na luta por reconhecimento e pensão na condição de ex-combatentes.
O epílogo analisa como o espaço amazônico foi sendo reconstruído em termos materiais e políticos nas décadas seguintes, especialmente durante o regime militar até a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Garfield analisa brevemente como a Amazônia, novamente palco de projetos desenvolvimentistas durante o regime militar, virou alvo de atenção transnacional devido à emergência dos movimentos ambientalistas e da percepção de necessidade de conservação da floresta para evitar drásticas mudanças climáticas globais. Frente a esses movimentos transnacionais, os seringueiros tiveram a oportunidade de repensar suas identidades e formas de representação, aliando-as a práticas tradicionais que preservavam a floresta, em contraposição ao avanço da fronteira agrícola, que promovia a devastação, potencializando a violência e a marginalização dos extrativistas remanescentes.
Não é difícil para o pesquisador que trabalha com história da Amazônia e deseja utilizar a noção de agência dissolvida ou agenciamento recíproco entre humanos e não humanos conseguir empreender de fato esse modelo de análise. Trabalhar com história da Amazônia é vantajoso nesse sentido por ser difícil separar cultura e natureza nesse extenso espaço aquático e florestal (Leonardi, 1999, p.15). Nesse sentido, a obra de Garfield tem êxito em empreender uma análise que efetivamente combina associações que transgridem fronteiras entre o local, o nacional e o global, bem como o arcaico e o moderno, o social e o natural, seguindo os conselhos de Latour (1994) e lançando interessante contribuição para uma história ambiental transnacional (White, 1999). Justamente pelo esforço do autor em agregar diversos agentes conformadores das transformações da Amazônia durante o Segundo Ciclo da Borracha, emerge na leitura a pouca visibilidade dos povos indígenas em sua análise. As experiências desses povos foram fundamentais para o conhecimento que os seringalistas adquiriram do ambiente amazônico, possuindo intensa presença na sua conformação socioambiental (Ranzi, 2008, p.71-98).
O livro, no entanto, torna-se referência importante para pesquisadores que analisam tanto o Segundo Ciclo da Borracha quanto o primeiro, já que lança luz sobre as continuidades entre esses dois ciclos. De agradável e fácil leitura, também tem potencial de ser apreciado por leitores em geral, que se interessem pela história da Amazônia.
Referências
LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Editora 34. 1994. [ Links ]
LEONARDI, Victor. Os historiadores e os rios: natureza e cultura na Amazônia brasileira. Brasília: Paralelo 15; Editora UNB. 1999. [ Links ]
RANZI, Cleusa Maria Damo. Raízes do Acre. Rio Branco: Edufac. 2008. [ Links ]
WHITE, Richard. The nationalization of nature. The Journal of American History, v.83, n.3, p.976-986. 1999. [ Links ]
André Vasques Vital – Doutorando, Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. vasques_hist@yahoo.com.br
Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a NineteenthCentury Brazilian Penal Colony | Peter M. Bettie
Publicada em 2015 por Peter M. Beattie, professor da Universidade de Michigan, a obra“Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a Nineteenth-Century Brazilian Penal Colony” consiste em um ambicioso estudo de caso, em que a colônia penal de Fernando de Noronha se converte em um microcosmo para a análise de temas como raça, cor, escravidão, gênero, sexualidade, punição, justiça e direitos humanos, tanto em relação à sociedade e ao Estado brasileiros quanto ao quadro atlântico ou global.
Em primeiro lugar, o autor possui o mérito de escapar das armadilhas teóricas e metodológicas de estudos sobre prisões e punições, evitando a mera reprodução ou negação do paradigma foucaultiano (“Vigiar e Punir: O Nascimento da Prisão “). Tampouco recai nas versões simplificadas do debate sobre “ideias fora de lugar” ou no reducionismo binário de categorias como arcaico e moderno, afastando-se de alguns dos vícios que acometem obras de referência sobre o tema na América Latina e no Brasil. A partir de uma apropriação muito particular dos estudos e aportes teóricos e conceituais de Erving Goffman, Lewis Coser e David Garland, Beattie esboça uma criativa analise em que a ilha, o Império do Brasil e o Atlântico (quiçá o globo) se cruzam em múltiplas escalas geográficas, sociais e discursivas do oitocentos.
Os primeiros capítulos perpassam a historia da ilha desde a colonização portuguesa até o século XIX, com sua progressiva conversão na principal colônia penal do Estado brasileiro. O autor descreve o cenário e os atores envolvidos sem perder de vista o quadro mais amplo da sociedade brasileira e do Estado e suas instituições em formação, dando-se a um luxo do qual não usufruíam os condenados em seu isolamento, em que remetiam à sua ilha como “Fernando” em oposição ao “mundo” (continente). Fernando de Noronha adquire ao longo do texto tanto a condição de espaço físico, geográfico e social quanto a de representação compartilhada e disputada pelos agentes históricos, ora como cenário idílico ora como cárcere. Assim como a escravidão, a ilha se converteu em metáfora nas representações sobre liberdade e sua negação, servindo aos mais variados discursos e interesses.
Muito transparente em relação à metodologia adotada e à documentação analisada, Beattie apresenta as contradições entre o caráter normativo dos discursos de autoridades da alta burocracia imperial, da legislação vigente e dos regimentos oficiais e a realidade cotidiana da ilha, em que militares e condenados de diversas cores e condições civis (inclusive escravos) reinventaram suas vidas e identidades. Enquanto os discursos penais da primeira metade do século XIX remetiam a um estrito controle do tempo e do espaço, a arquitetura e a rotina da colônia possuíam condições muito particulares, não decorrentes de um caráter arcaico da sociedade escravista e das instituições brasileiras, mas em parte pela própria condição geográfica insular e pelas relações sociais muito particulares desse microcosmo social. Por entre as brechas do sistema, pessoas livres conviviam com condenados, e formas de comércio e de contrabando se misturavam à rotina imposta pelos regimentos. Contudo, esse submundo de Fernando de Noronha não é tomado como a negação de sua função, mas como a face complementar (“dark twin”) típica de todo ambiente penal planejado, sendo inclusive incorporado e defendido nos discursos dos administradores.
Ao abordar o trabalho dos presos nos campos agrícolas e outras atividades, o autor apresenta um interessante paralelo entre prisão e plantation, resvalando em uma tradição de estudos de cunho marxista que relacionam a esfera da produção e as práticas punitivas (Georg Rusche e Otto Kirchheimer, “Punishment and Social Structure”; Dario Melossi e Mario Pavarini, “The Prison and the Factory”). No entanto, as aproximações sugeridas por Beattie não se pautam pela dimensão econômica, especialmente tendo em vista o caráter deficitário da produção da colônia – em oposição à alta lucratividade de grande parte das plantations do continente – e o fato de que a maioria dos condenados não retornaria à sociedade na condição de mão-de-obra disponível. Amparado nas reflexões de David Garland, Beattie adota uma abordagem pluralista e multidimensional da punição, sem recair nas fórmulas do marxismo, do paradigma foucaultiano ou do simbólico durkheimniano, mas buscando combinar esses referenciais clássicos da sociologia da punição. É o caráter de instituições disciplinares que faz convergirem os ambientes e as práticas da colônia penal, das fazendas escravistas e até mesmo de agrupamentos militares.
Ao dialogar com outras duas referências do campo da sociologia, Erving Goffman e Lewis Coser, o autor apresenta uma das contribuições mais originais da obra no quinto capítulo. Por meio do uso alargado dos conceitos “instituição total” e “instituição gananciosa” (“greedy institution”), Beattie contradiz a suposta tensão entre a instituição da família e outras instituições disciplinares nas práticas narradas em Fernando de Noronha. Na gestão da colônia penal as autoridades passaram a questionar as diretrizes normativas referentes a gênero e sexualidade – isolamento e abstinência dos condenados -, defendendo a presença de mulheres e a constituição de laços familiares heterossexuais. O casamento se converteria em política abertamente defendida pelas autoridades da ilha, como instituição voltada à disciplina e à produtividade dos condenados: a “instituição ciumenta da conjugalidade heterossexual” (“jealous institution of heterossexual conjugality”).
Outra importante contribuição decorre da análise dos conflitos entre os militares que geriam a colônia penal e as autoridades da alta burocracia estatal, em geral pressionados pelos interesses de proprietários de escravos. Desde os primeiros capítulos o autor demonstra a politização das questões penais e prisionais no processo de formação do Estado. É evidente ainda o papel da política partidária no que se refere a nomeações de cargos e práticas clientelistas, que atrelavam a gestão da ilha ao jogo político do continente. Na segunda metade do século XIX, diante dos sucessivos embates sobre a escravidão e as constantes comutações de penas de morte pela ação do poder moderador, a colônia penal de Fernando de Noronha se converteu em uma representação disputada pelos agentes sociais. Curiosamente, tanto abolicionistas como defensores da manutenção da escravidão faziam uso da comparação entre a condição prisional e a escravidão no mesmo sentido, apontando a segunda como pior que a primeira. Entretanto, enquanto abolicionistas questionavam o cativeiro como indigno e pior que a prisão, escravocratas criticavam as comutações de penas de morte em galés ou prisão, sugerindo o risco de se incentivar a criminalidade dos escravos que prefeririam correntes e grades às senzalas. Nesse discurso, a colônia penal se tornava a ilha do rei, onde os escravos se livrariam do cativeiro. Como insiste o autor, tal percepção não correspondia à realidade dos números dos crimes e de escravos em Fernando de Noronha, o que, todavia, não invalida a importância de sua representação no imaginário oitocentista.
Nesse contexto, as autoridades locais passaram a ser questionadas por membros da alta burocracia sobre as praticas de gestão da Ilha, especialmente a partir da década de 1880, com a visita de inspetores nomeados pelo Ministério da Justiça. Entre as principais divergências estavam a própria política de promoção de casamentos (“jealous institution”), o reduzido controle do tempo e do espaço de circulação dos condenados, a quantidade de trabalho imposto e a falta de segregação e hierarquização da população prisional com base na condição civil. Quanto último quesito, as autoridades respondiam aos anseios de uma sociedade que ainda legitimava a escravidão e aos interesses de proprietários que se sentiam ameaçados pela crescente rebeldia de seus cativos e pela ascensão do movimento abolicionista. Entretanto, administradores da colônia se negavam a adotar uma gestão que segregasse e punisse de forma diferenciada escravos ou libertos. Esse dado permite ao autor sugerir uma estratificação menos clara entre os condenados das mais diversas cores e condições civis, aglomerados na categoria dos pobres intratáveis (“intractable poor”), pois, na colônia penal, condenados que fossem escravos ou livres compartilhariam de condições de vida e oportunidades muito semelhantes. O autor é cauteloso e nega qualquer subsídio à ideia de uma democracia de condição civil ou racial nas prisões, argumentando apenas contra estudos que avaliaram a condição de escravos nas prisões a partir da legislação e regulamentos.
O capitulo que antecede a conclusão, intitulado “Direitos Humanos em Perspectiva Atlântica” (“Human Rights in Atlantic Perspective”) destoa em forma e conteúdo do restante do livro. No entanto, se a escolha aparentemente rompe a harmonia do texto, a reflexão de cunho ensaístico e as hipóteses levantadas conferem maior profundidade e relevância à obra. A proposta comparativa tem por foco principal Brasil e Estados Unidos no século XIX, mas inclui outros espaços do globo, inclusive para além do Atlântico. Entre os pontos levantados, dois merecem destaque. Em primeiro lugar, o autor aponta o paradoxo de o Brasil, último país a abolir a escravidão, ter sido um dos primeiros a abolir de facto a pena de morte. Esse fenômeno negligenciado pelos que estudam o tema contradiz argumentos da historiografia sobre os Estados Unidos que defendem a relação intrínseca entre pena de morte e escravidão para justificar as divergências regionais do judiciário no país. Ainda nesse quesito, o autor se une aqueles que defendem a importância da atuação de D. Pedro II na política nacional, especialmente no que se refere ao judiciário, pois se a abolição da escravidão era um tema essencialmente do Legislativo, as prerrogativas do poder Moderador lhe permitiram atuar para por fim às execuções de penas capitais, inclusive no sentido de defender internacionalmente a imagem do país.
Em segundo lugar, Beattie sustenta a hipótese de que reformas referentes às penas corporais, à pena de morte e à escravidão se cruzaram e se estimularam mutuamente, e que aquelas que se referiam a melhorias no tratamento de algumas categorias sociais abriam possibilidades para futuras reformas referentes aos grupos ainda marginalizados. A título de exemplo, reformas contra penas corporais a homens livres teriam aberto a possibilidade de debates acerca das condições de prisioneiros e, inclusive, escravos. Além do mais, como se referiam a diferentes integrantes dos grupos marginalizados da sociedade, a hipótese de reformas graduais é utilizada pelo autor para defender a categoria relativamente indiferenciada dos “pobres intratáveis” (“intractable poor”).
Por fim, o trabalho margeia o anacronismo ao se escorar no conceito de direitos humanos para retratar o fim do século XIX, sem, contudo, comprometer seus argumentos centrais. Diante da tendência de estudos sobre escravidão e raça se valerem de tal discurso, esse pecado dos historiadores pode se converter em virtude no que se refere ao posicionamento político no presente em que a obra se insere.
A partir de um estudo de caso original e ambicioso, Peter Beattie apresenta uma obra de múltiplas escalas, descrevendo as minucias do cotidiano desse microcosmo, perpassando o imaginário e os discursos da sociedade oitocentista brasileira, e utilizando de forma criativa modelos clássicos da sociologia. Um dos pontos altos do estudo, o voo panorâmico atlântico esboçado nos últimos capítulos apresenta uma promissora proposta de história comparada, que se levada adiante trará grandes contribuições para historiografia. Ainda que Brasil (ou o Atlântico) não caiba em Fernando de Noronha, Beattie faz dessa colônia penal uma janela para muitas dimensões do século XIX.
Marcelo Rosanova Ferraro – Universidade de São Paulo, São Paulo – SP, Brasil. Bolsista de Mestrado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). E-mail: marcelo.rosanova.ferraro@usp.br
BEATTIE, Peter M. Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a NineteenthCentury Brazilian Penal Colony. Durham / London: Duke University Press, 2015. Resenha de: FERRARO, Marcelo Rosanova. Fernando de Noronha e o Mundo: A Colônia Penal do Império em Perspectiva Atlântica no Século XIX. Almanack, Guarulhos, n.10, p. 498-501, maio/ago., 2015.
Trabalho, história ambiental e cana-de-açúcar em Cuba e no Brasil – ROGERS et al (RBH)
ROGERS, Thomas et. al. Trabalho, história ambiental e cana-de-açúcar em Cuba e no Brasil. Resenha de: CHOMSKY, Aviva. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.35, n.69, jan./jun. 2015.
Tanto a história do trabalho quanto a do meio ambiente são campos de estudo florescentes e estão, fundamentalmente, relacionadas de muitos modos em termos estruturais. Apesar disso, os historiadores têm sido lentos em aceitar sua relação. A historiografia espelha profundas divisões entre os próprios movimentos trabalhista e ambientalista, talvez porque muitos historiadores cheguem a seus estudos a partir de um envolvimento, ou pelo menos de uma simpatia, com esses movimentos. Os quatro livros aqui resenhados, ao mesmo tempo em que são – cada um por sua própria conta – interessantes e significativos, mostram, coletivamente, o estado ainda nascente da capacidade dos historiadores em conceituar e investigar as formas pelas quais o trabalho e o meio ambiente estão conectados.
O aparente conflito “empregos versus meio ambiente” tem afligido os movimentos trabalhista e ambientalista nos Estados Unidos há décadas e é frequentemente propagado pela indústria, que nitidamente é o vencedor em uma batalha na qual o trabalhismo se vê compelido a unir forças ao capital para se defender dos desafios ambientais. No entanto, o trabalhismo também tem sido fundamentalmente enfraquecido por esse posicionamento, pois a indústria volta o mesmo argumento contra os trabalhadores, transformando-o em “empregos versus salários, benefícios e condições de trabalho”, e às vezes até mesmo “empregos versus sindicatos”. Enquanto isso, os ambientalistas parecem ter poucas respostas para a acusação de que se importam mais com a fauna exótica do que com as necessidades humanas.
A América Latina dificilmente tem ficado imune a essas correntes. Apesar disso, um envolvimento mais incisivo com a história, uma relativa imunidade às tendências políticas da Guerra Fria que vincularam os sindicatos americanos a uma estreita agenda focada no crescimento econômico e os inevitáveis confrontos com o imperialismo americano em suas muitas formas ajudaram o trabalhismo latino-americano a manter uma postura mais independente e, às vezes, até mesmo revolucionária. Como Charles Bergquist salientou há várias décadas, quando os trabalhadores são nativos e o capital é estrangeiro, o trabalhismo frequentemente se mobiliza para fazer parte de coalizões revolucionárias nacionalistas. Enquanto isso, os camponeses latino-americanos impulsionaram o que Joan Martínez-Alier e outros chamaram de “ambientalismo dos pobres” em defesa de seus meios de vida. O status colonial e neocolonial da América Latina moldou fundamentalmente sua história do trabalho e do meio ambiente (Bergquist, 1995; Martínez-Alier, 2005).
“O que está acontecendo com as comunidades nos afeta, porque fazemos parte das comunidades”, explicou-me o presidente de um sindicato de mineiros de carvão da Colômbia há vários anos. “Como organização sindical com uma visão social ampla, não podemos nos distanciar dos impactos sociais e ambientais da mina.” Ativistas antimineração a céu aberto na Appalachia ficam perplexos ao ouvir um líder sindical expressar essas opiniões. A análise anti-imperialista e marxista nos sindicatos latino-americanos leva muitos a concluir que as empresas estrangeiras estão explorando igualmente o trabalho e o meio ambiente, saqueando os recursos de seu país na busca do lucro.
Entretanto, uma ativista do Sierra Club ficou menos satisfeita com a resposta que recebeu quando perguntou a outro líder do mesmo sindicato: “Você não concorda que temos de deixar o carvão para trás?”. “Você está perguntando para a pessoa errada”, respondeu ele lentamente. “Nós estamos extraindo aquele carvão para vocês. Se vocês querem ir além do carvão, têm que olhar para vocês mesmos.” Nesse momento, ele pegou diretamente no calcanhar de Aquiles do movimento ambiental norte-americano. Muitos ambientalistas do Primeiro Mundo querem salvar a Terra sem enfrentar o problema político-econômico básico: que os Estados Unidos usam de 25% a 50% dos recursos do planeta, e apelos piedosos para “reduzir, reutilizar, reciclar” não mudarão as políticas econômica, externa e militar que mantêm essa injustiça. Assim, Thomas Rogers cita a reação pessimista de um engenheiro brasileiro à propagação dos carros movidos a etanol: “Agora as rodas dos carros do mundo todo vão girar às custas da fome do Nordeste” (p.210).
Para os analistas mais radicais, tanto os do trabalho quanto os do meio ambiente, a desigualdade econômica global é inerente ao próprio capitalismo. Se o capitalismo está baseado no crescimento econômico contínuo, na obtenção de lucro pela exploração da mão de obra e da natureza, então ele se baseia necessariamente na expansão territorial, na destruição do meio ambiente e no empobrecimento da classe trabalhadora. Se a história do meio ambiente examina a relação dos seres humanos com a natureza, e a história do trabalho examina aqueles que trabalham para outros – em geral, pela transformação da natureza -, então o capitalismo e a Revolução Industrial tiveram um papel fundamental em ambas. A substituição do trabalho humano e animal por fontes de energia derivadas de combustíveis fósseis sinalizou um crescimento drástico da capacidade do capital de explorar tanto a mão de obra quanto os recursos.
Historiadores do Terceiro Mundo e teóricos da dependência vêm sustentando há muito tempo que os recursos e a mão de obra do Terceiro Mundo foram cruciais para o desenvolvimento do capitalismo industrial. Mais recentemente, historiadores como Kenneth Pomeranz e Richard P. Tucker ofereceram uma análise explicitamente ecológica desse processo, examinando como a destruição ambiental foi deslocada para as colônias. De maneira perversa, os colonizadores, que primeiro empurraram os povos nativos para terras frágeis para abrir espaço para seus novos empreendimentos econômicos, acusaram os mesmos nativos de macular a “selva” colonial remanescente com sua presença e suas práticas tradicionais – o ambientalismo tornou-se, assim, um outro estágio do imperialismo. É claro que essas expropriações também tiveram, historicamente, um componente laboral, desde as primeiras medidas de apropriação de terras que acompanharam a Revolução Industrial: elas “libertam” os antigos habitantes para entrarem no mercado de trabalho.1
Os quatro livros aqui resenhados examinam regiões moldadas pelo colonialismo e, especificamente, pelo açúcar. O açúcar foi a primeira agroindústria, e aquela na qual, segundo Sidney Mintz, o sistema escravista criou o proletariado original, o modelo para as primeiras fábricas da Grã-Bretanha, bem como uma fonte alimentar primordial para os primeiros trabalhadores industriais da Europa. Como Manuel Moreno Fraginals e outros têm sustentado há muito tempo, as plantações de cana-de-açúcar devoraram vorazmente tanto as pessoas quanto as florestas (Mintz, 1985; Moreno Fraginals, 1976). Todos os livros sugerem questões profundas sobre a natureza global do capitalismo e seus impactos nos seres humanos e no meio ambiente.
Apenas The Deepest Wounds assume a tarefa de realmente conectar as histórias do trabalho e do meio ambiente, focando o Nordeste do Brasil. O livro de Wolford This Land is Ours Now é um estudo de um movimento social brasileiro, intimamente conectado às questões do trabalho e do meio ambiente, que começa, em termos cronológicos, exatamente onde Rogers para. A história ambiental de Cuba de Funes Monzote oferece ideias sugestivas sobre o trabalho, ao passo que Blazing Cane, a história política e do trabalho de McGillivray, levanta questões relevantes para o meio ambiente. Lidos em conjunto, os quatro mostram como o colonialismo e o açúcar estruturaram o debate político em Cuba e no Brasil e oferecem percepções e ideias adicionais sobre como uma história conjunta do trabalho e do meio ambiente pode constituir um empreendimento frutífero.
Funes Monzote assume a visão de mais longo prazo em From Rainforest to Canefield. O título capta com precisão o foco do livro, que consiste, primordialmente, nas florestas de Cuba e nos debates acerca de seu valor e seus usos, com a vitória gradual das plantações de cana-de-açúcar. É, primordialmente, uma história política de questões ambientais, e a história do trabalho está implicada na medida em que as questões trabalhistas nos campos de cana-de-açúcar estão inevitavelmente entrelaçadas com sua expansão e seu esgotamento. É também uma história das ideias, na medida em que os cubanos e seus senhores coloniais se debateram em torno do significado e da finalidade da floresta, e do relacionamento dos seres humanos com a natureza.
Funes Monzote conta a agora conhecida história da expansão das plantações de cana-de-açúcar, primeiro pelo oeste de Cuba, e depois para o leste, destruindo vorazmente florestas em seu caminho. Cuba, sugere ele, “oferece um dos casos mais representativos dos primórdios da agricultura industrial nas Américas”. Diferentemente da agricultura tradicional, que se baseava no princípio de manutenção da viabilidade da terra, a agricultura industrial se baseia na transformação de um recurso renovável – a terra – em um recurso não renovável – ela “funcionou como minas a céu aberto” (p.265).
A cana-de-açúcar exigia não apenas terra para plantar, mas também madeira para combustível, e os donos de plantações cubanos simplesmente se mudaram para novas terras quando esgotaram as suas. Funes Monzote vai além de explicações anteriores e examina a história política e cultural que está por trás do processo: o que a floresta significava para diferentes setores da sociedade cubana e colonial, como eles tentaram impor suas visões e como esse debate moldou a sociedade cubana. Ele reconstrói a maneira como diferentes forças sociais e políticas competiram para impor seus interesses por meio da legislação e da ação, tendo todas o desaparecimento gradativo da floresta como objeto. “Além de avaliar a influência da evolução socioeconômica da ilha e das ideologias dominantes nas atitudes para com o meio ambiente, meu objetivo aqui é destacar a importância das florestas na formação da nação cubana … Esse livro é uma homenagem à importância silenciosa das florestas na história de Cuba” (p.5).
A floresta teve um papel central nos debates sobre o papel do Estado e a distinção entre público e privado, nos crescentes conflitos entre os interesses coloniais espanhóis e um setor “cubano” emergente, nos conceitos de propriedade privada e na noção de bem comum, e no surgimento de ideias sobre a natureza e sua finalidade, ou o relacionamento dos seres humanos com a natureza.
Durante boa parte do período colonial, os principais atores do debate foram a Marinha Real, que queria preservar as florestas para o uso da madeira na construção de navios, e os canavieiros, que reivindicavam soberania sobre as terras que controlavam. Nesse aspecto, o debate em Cuba espelhou – e às vezes prefigurou – o que aconteceu em outros lugares do mundo colonial.2 Tanto a Marinha como os canavieiros viam a floresta em termos economicamente instrumentais, mas seus interesses diferentes os levaram a atitudes e políticas diferentes. Para os donos de plantações, as florestas existiam para serem derrubadas, para a obtenção de combustível ou cana. Para a Marinha, o valor da floresta estava em sua madeira, e, para ser economicamente útil, ela precisaria ter condições de se regenerar. “Os burocratas da Marinha viam o comércio de açúcar como a maior ameaça à construção naval na ilha – não apenas em razão da competição pelo uso da madeira abundante, mas também pelo fato de que plantar cana-de-açúcar eliminava a possibilidade de a mata se regenerar. As características da indústria açucareira naquele período, especificamente sua necessidade de madeira, lenha e solo fértil, eram justificativas suficientes para esses receios” (p.43). “A indústria da construção naval e a indústria açucareira tinham duas concepções irreconciliáveis sobre como as florestas deveriam ser exploradas. Isso não significa que, para a primeira, a proteção das florestas fosse um fim em si mesmo, mas os construtores navais viam a mata como um recurso que, se explorado de maneira razoavelmente ordenada, poderia se regenerar” (p.59).
A posição da Marinha também a levou a articular um bem comum que suplantava aquele do capital privado. Como sustentou o comandante da Marinha Juan de Araoz no final do século XVIII, “para se alcançar essa conservação, os abusos e a liberdade dos homens devem ser reprimidos … o indivíduo nunca vai levar nada em conta a não ser seu interesse privado, que precisa ficar mudo quando defrontado com o interesse geral” (p.107). Quase cem anos mais tarde, um engenheiro florestal espanhol refletiu a mesma postura, lamentando “o egoísmo e a avareza dos indivíduos, que às vezes não entendem seu próprio interesse e são indiferentes ao interesse geral” (p.209). E, em 1918, o botânico cubano Juan Tomás Roig alertou que o governo deveria intervir para “cuidar do futuro da agricultura nacional, frente ao fato de que ‘os donos de plantações só davam atenção a seu interesse privado e imediato'” (p.239).
Nas ilhas menores do Caribe, os canavieiros aprenderam a fazer o cultivo de formas mais sustentáveis – usando o bagaço da cana como combustível, por exemplo. Mas a natureza aparentemente infindável das florestas de Cuba e sua entrada tardia na produção de açúcar – em Cuba, “a produção de açúcar decolou na aurora da era industrial” – incentivaram os donos de plantações a imaginar uma expansão infinita como o caminho mais lógico e lucrativo (p.265). Em poucas gerações, os recursos acumulados em séculos de crescimento das florestas foram esgotados.
O debate político se centrava na questão de quem tinha jurisdição sobre as árvores nas terras que o governo colonial arrogara a si mesmo como Reservas Florestais Reais, e de quanto controle os donos das terras tinham sobre as terras que eram oficialmente deles. À medida que a indústria açucareira se expandia rapidamente no final do século XVIII e começo do século XIX, o conflito colocou a Marinha na posição de ambientalista, defendendo o uso sustentável da floresta e a primazia do bem público sobre o ganho privado. A discussão envolvia mais do que simplesmente a floresta: “Essa batalha contra os limites estabelecidos para a exploração das florestas cubanas atendendo ao interesse da construção naval tornou-se central para as mudanças que ocorriam na estrutura agrícola da ilha e para o triunfo das concepções dos donos de plantações e do liberalismo na esfera econômica da colônia” (p.89). Esse triunfo aconteceu em 1815, quando as Cortes de Cádiz estabeleceram “o direito ‘sagrado’ de propriedade defendido pela primeira revolução burguesa da Espanha” (p.121). É claro que esse direito de propriedade se estendeu também à mão de obra, “mão de obra escrava como uma fonte de enriquecimento rápido, resultando de uma visão de mundo gananciosa no tocante aos seres humanos e ao meio ambiente” (p.128).
Ao final do século XIX, novas fontes de combustível (bagaço de cana e carvão) começaram a substituir a lenha nos engenhos, mas a necessidade de derrubar florestas não diminuiu, já que a indústria estava se expandindo rapidamente e o solo de plantações antigas se esgotava. A preocupação com o esgotamento da terra contribuiu para o questionamento do próprio sistema escravista e sua relação com o uso ineficiente de recursos (p.153). “Se alguém era livre para comprar e vender escravos negros, por que não seria livre para explorar as florestas?” (p.275). Cientistas espanhóis e membros da Sociedade Econômica de Havana reavivaram discussões sobre a necessidade de subordinar o interesse privado ao bem público e levantaram a questão da sustentabilidade de longo prazo: “o homem não vive apenas pelos poucos dias em que exerce seu papel; a posteridade pode também exigir dele uma severa prestação de contas pelo mal que ele fez ou permitiu que acontecesse àqueles bens que negou a seus descendentes” (p.159).
O final do século XIX assistiu à rápida expansão do açúcar para o leste da ilha, sob o novo sistema do central, o engenho grande e industrializado, que separou o cultivo do processo de moagem. Os novos centrales “ajudaram a acabar com a portabilidade da indústria” – limitando, assim, em termos, a derrubada sem fim da floresta -, mas “a existência de mata abundante na metade leste da ilha permitiu aos canavieiros continuar estabelecendo plantações de cana-de-açúcar em terra virgem, agora com um impacto muito maior por unidade” (p.187).
Enquanto vemos o Estado colonial desenvolvendo uma noção de bem público que o coloca em oposição à classe dos donos de plantações, o autor complementa os argumentos de Kenneth Pomerantz e Richard Tucker sobre a importância ambiental das colônias para o projeto industrial. As florestas de Cuba deveriam ser preservadas para compensar o esgotamento das florestas da própria Espanha, e “grande parte da rica biodiversidade da ilha foi consumida para satisfazer as necessidades alimentares dos nascentes centros industriais da Europa e dos Estados Unidos” (p.66, 275). Os súditos coloniais tinham menos direitos do que os súditos metropolitanos porque a finalidade da colônia era servir aos interesses da metrópole. Outro oficial da Marinha sustentou que “a liberdade … tão atrativa e inocente na Península, não é praticável aqui, porque ela beneficiaria o indivíduo em detrimento da nação inteira e seus interesses” (p.113). Vemos aí também, talvez, uma fantasmagórica prefiguração dos ambientalistas imperiais de hoje, cuja preocupação com a floresta tropical amazônica coexiste despreocupadamente com sua promoção dos biocombustíveis que a estão destruindo.
Funes Monzote chama o começo do século XX, quando o capital norte-americano jorrou no país e as plantações inundaram o leste de Cuba, de “o ataque final à floresta” (capítulo 6). O progresso econômico significou destruição ambiental. “Em nenhum outro momento da história cubana o país experimentou maior crescimento em seu ‘potencial produtivo’, assim como em nenhum outro momento o desmatamento e a mudança ambiental foram tão intensos” (p.218). Em 1926, o presidente Machado retornou a ideais anteriores ao século XIX quando assinou um decreto proibindo a derrubada de árvores tanto em terras privadas quanto nas públicas. Àquela altura, porém, “infelizmente era tarde” para proteger a floresta do leste de Cuba (p.229).
O livro Blazing Cane, de Gillian McGillivray, oferece uma boa contrapartida ao de Funes Monzote na medida em que enfatiza o século XX; assim, retoma cronologicamente a questão onde Funes Monzote termina e privilegia o aspecto do trabalho da história da cana-de-açúcar em Cuba. Um tema-chave para McGillivray é o relacionamento entre os trabalhadores, os canavieiros e o Estado, bem como a natureza do populismo latino-americano. Em geral, o populismo tem sido estudado como um fenômeno urbano na América Latina. No entanto, ao impor sua própria força à custa da classe dos donos de plantações, mesmo um Estado conservador pode apelar para os interesses de classe dos trabalhadores rurais, de maneira comparável ao modo como o Estado colonial de Funes Monzote e o Estado machadista relegaram os interesses dos canavieiros para proteger a floresta. O estudo de McGillivray foca dois engenhos de açúcar, o Tuinucú, da era colonial, situado na antiga região açucareira central de Cuba, e o Chaparra, da era moderna, estabelecido nas vésperas da independência, em 1895, sendo emblemático dos engenhos grandes, industrializados e majoritariamente de capital estrangeiro que se espalharam pelo leste de Cuba durante esse período: parte do “ataque final à floresta” de Funes Monzote.
Suas questões principais, no entanto, são políticas: como o Estado, os capitalistas e as classes populares negociaram o poder nessa sociedade dominada pela cana-de-açúcar. Ela identifica três períodos: “‘o pacto colonial’ (1780-1902), ‘o pacto patronal’ (1902-1932) e ‘o pacto populista’ (1933-1952)” (p.5). No pacto colonial, “os donos de plantações aceitavam o domínio colonial em troca da proteção militar e legal da escravidão e da produção de açúcar por parte da Espanha” (p.14). Sob o pacto patronal, que o substituiu, “os capitalistas estrangeiros e seus intermediários cubanos estabeleceram o controle econômico e político sobre boa parte da população rural da ilha através de uma combinação de repressão, clientelismo, incluindo assistência social privatizada nas plantações, e exploração do fascínio dos ‘cubanos’ pelo progresso e a modernidade” (p.86). Esse também foi o período em que a cana-de-açúcar se espalhou pelo leste da ilha. Finalmente, sob o pacto populista, o Estado assumiu o papel de mediar os grupos de interesse e proporcionar assistência social.
Diferentemente de outros historiadores que enfatizaram o caráter excepcional de Cuba como uma virtual colônia dos Estados Unidos, McGillivray enfatiza as semelhanças com o resto da América Latina no desenvolvimento econômico, social e político de Cuba. Seu argumento de que o Estado fortalecido depois de 1933 criou, em certo sentido, classes sociais na medida em que estabeleceu canais através dos quais elas podiam manifestar seus interesses, substituindo as relações patrono-cliente que caracterizaram os dois primeiros períodos, está em paralelo ao que Rogers descreve sobre o Brasil.
A indústria açucareira de Cuba estava organizada de maneira um tanto diferente da do Brasil, pois boa parte da cana era produzida por pequenos agricultores ou colonos, que formavam um terceiro setor social na região açucareira, além dos donos de plantações/engenhos e dos trabalhadores. A maioria dos colonos era cubana, ao contrário dos donos dos empreendimentos maiores, e muitos também dependiam de mão de obra contratada ou até mesmo de subcolonos para trabalhar seus campos. Eles estavam vinculados aos engenhos maiores porque era lá que vendiam sua cana, e especialmente no leste, porque eram, muitas vezes, arrendatários do engenho. Além disso, muitos dos trabalhadores nas novas plantações do leste eram migrantes contratados na Jamaica, no Haiti ou em outras ilhas das Índias Ocidentais. Os colonos desempenham um papel-chave na tentativa de McGillivray de revisar a historiografia de Cuba.
A historiografia cubana estabelece, tradicionalmente, uma dicotomia clara entre as plantações mais antigas, menores e de propriedade de cubanos no oeste, com seus trabalhadores nativos e uma relação mais igualitária com os colonos, e as plantações de propriedade de norte-americanos no leste, com seus trabalhadores importados das Índias Ocidentais e seus colonos arrendatários completamente subordinados. McGillivray mostra que a realidade é mais complexa. A família Rionda, geralmente vista como representante dos canavieiros nacionais do oeste, era radicada na Espanha, em Cuba e nos Estados Unidos, e o capital do engenho, como até mesmo os escritórios, estavam tanto dentro quanto fora de Cuba. Os donos de engenho tanto do leste quanto do oeste consideravam vários fatores ao optar por produzir cana diretamente ou comprá-la dos colonos. Tanto os colonos arrendatários quanto os independentes se mobilizavam em coalizões nacionalistas e revolucionárias, como também para defender seus interesses particulares. De fato, sustenta ela, os trabalhadores e colonos do leste tinham, em alguns aspectos, mais poder que os do oeste, porque conseguiam mobilizar o sentimento nacionalista em seu favor (p.274).
Os colonos surgem como ator político significativo tanto no leste quanto no oeste de Cuba, em particular, nas revoluções de 1933 e 1959. Em 1933, como o pacto patronal entrou em colapso sob o peso da Depressão, trabalhadores e colonos se voltaram para o Estado, dando origem ao novo pacto populista. Assim como no Brasil sob a ditadura militar, tratava-se de um “populismo autoritário” (Blazing Cane, p.227). Tanto Rogers quanto McGillivray nos oferecem novas perspectivas a respeito de como até mesmo os mais direitistas governos autoritários conseguem, com sucesso, atrair as classes trabalhadoras. Ao criar instituições estatais fortes que intervenham nas relações de trabalho, os populistas conseguem quebrar o jugo das classes dos donos de plantações e criar certas garantias para os trabalhadores. Apesar de inicialmente destruir os sindicatos independentes e reduzir até mesmo os insuficientes benefícios de saúde e educação aos quais os trabalhadores tinham acesso sob o pacto patronal, Fulgencio Batista também implementou um sistema de participação nos lucros e, ao final dos anos 1930, havia se reconciliado com os sindicatos e aprovado uma legislação trabalhista progressista (p.244). A Constituição de 1940 “era talvez a mais progressista da América Latina, pelo menos no papel”, e “estabeleceu o Estado de bem-estar social cubano” (p.248).
Ao enfatizar o caráter populista dos governos de Cuba em meados do século XX, McGillivray restabelece o lugar da ilha nos processos históricos latino-americanos. Ao explicar como “o anticomunismo da Guerra Fria de 1947 a 1959 esvaziou o pacto populista de Cuba e o privou de grande parte de sua substância”, ela também oferece novas percepções sobre a revolução de 1959 (p.228). “A forte reação negativa da Guerra Fria, a partir de 1947, começou a minar o valor social-democrático das instituições populistas ao priorizar novamente clientes individuais em vez de grupos de classe … A Guerra Fria tirou grande parte do espaço que os grupos populares tinham conquistado dentro do populismo de meados do século XX” (p.275). Interessantemente, McGillivray se distancia de explicações segundo as quais o relacionamento com os Estados Unidos determinou excessivamente os acontecimentos em Cuba em períodos anteriores; nessa última década foi a política de Guerra Fria dos Estados Unidos que empurrou o governo Batista do populismo para a repressão e abriu caminho para a Revolução de 1959.
O livro The Deepest Wounds, de Thomas D. Rogers, é o que mais diretamente enfrenta o desafio de escrever uma história do trabalho e do meio ambiente. “A despeito das claras ligações entre o meio ambiente e o trabalho rural … os pesquisadores ainda precisam construir um marco satisfatório para analisar os dois paralelamente”, escreve ele (p.4). Ele poderia estar criticando os dois livros recém-discutidos, já que o trabalho rural está praticamente ausente na história ambiental de Funes Monzote, ao passo que o ambiente natural mal aparece na análise de McGillivray a respeito do trabalho e da política.
Para enfrentar a tarefa, o estudo de Rogers acerca da região açucareira no Brasil propõe os conceitos de paisagem – que incorpora tanto as crenças humanas sobre a terra quanto sua realidade material – e de “agroambiente” na medida em que ele molda a ação humana – e, em particular, o trabalho – e é moldado por ela. Como em Cuba, o sistema de plantações no Brasil se baseou na escravidão até o final do século XIX, e em uma forma de política republicana autoritária durante a maior parte do século XX.
Os donos de plantações e os trabalhadores tinham noções muito diferentes de paisagem. Em relação aos donos de plantações, Rogers analisa como o abolicionista Joaquim Nabuco, o romancista José Lins do Rego e o sociólogo Gilberto Freyre expressaram uma sensibilidade ecológica ao estabelecerem ligações claras entre a degradação da terra e do trabalho através do sistema escravista. Eles vislumbraram uma “paisagem trabalhadora” (p.45) em que o “comando” dos canavieiros tornava a terra e o trabalho produtivos. Apesar de críticos ao sistema, eles injetaram em suas obras uma grande dose de nostalgia, sugerindo que as relações patriarcais mantiveram o sistema em equilíbrio até a introdução da usina ou dos modernos engenhos de açúcar industriais ao final do século XIX: “Tanto os trabalhadores quanto a terra foram degradados pela nova indústria moderna e eficiente” (p.57). A nostalgia deles pela paisagem estava imbuída da nostalgia pelas relações sociais inseridas nela. “O que eles proclamavam como amor telúrico não era paixão pela natureza, mas apreço pela dinâmica da exploração racial, de classe e ambiental que constituía a paisagem trabalhadora da zona açucareira” (p.69). Assim, a análise do Brasil do século XIX feita por Rogers é paralela – e dá uma nuance ambiental – ao que McGillivray descreve em Cuba como o “pacto colonial”, e explora os aspectos laborais dos debates coloniais que Funes Monzote explora.
Para os trabalhadores, em contraposição a isso, a paisagem, corporificada nas lavouras de cana-de-açúcar, significava cativeiro. A abolição da escravatura não mudou a dinâmica fundamental de poder, já que os donos de plantações continuaram a controlar a terra. Os antigos escravos tornaram-se arrendatários: “o sistema manteve os trabalhadores presos aos engenhos mesmo sem o vínculo jurídico da escravidão” (p.73). Não houve uma fuga em massa das plantações, não houve um restabelecimento do campesinato, mas havia, de fato, um desejo por terra. “Visto que os donos de plantações tinham um quase monopólio da propriedade fundiária, o único acesso ‘legítimo’ dos trabalhadores à terra era mediante algum tipo de arrendamento; o caminho para o acesso passava pela provisão de mão de obra” (p.92). Quando os trabalhadores fugiam efetivamente das plantações, o único lugar para o qual eles podiam ir era a cidade. Segundo a exposição de Rogers, pelo menos durante os anos 1940, a cana-de-açúcar significava cativeiro, e os trabalhadores do setor açucareiro do Brasil, tanto quanto os ex-escravos em outros lugares, ansiavam por atingir a verdadeira independência por meio do acesso à terra. Apesar de eles não terem elaborado uma crítica ambiental à cana, o fato de restabelecerem a subsistência contestava implicitamente a destruição ambiental causada pela expansão da agroindústria.
Foi só em meados do século XX que a intervenção da agronomia e do governo trouxe uma expansão, modernização e racionalização da indústria que impôs aos trabalhadores um status mais classicamente proletário, em que seu acesso a lotes na plantação para fins de subsistência se evaporou, especialmente na parte meridional da zona açucareira. Em 1961, mais da metade dos trabalhadores do setor ainda tinha acesso à terra; em 1968, apenas 46% tinha, e muitos desses tinham um acesso apenas nominal. O desejo pela terra continuou a estimular levantes sociais e trabalhistas nos anos 1960. “Os trabalhadores rurais não tinham uma cultura da preguiça, nem se resignaram coletivamente à miséria … em meio a circunstâncias mutantes, eles desenvolveram estratégias de trabalho que mais perto chegariam da liberdade em relação ao cativeiro do patrão” (p.124).
A efervescência dos anos 1950 e 1960 atraiu a atenção do Partido Comunista do Brasil e do governo dos Estados Unidos, e ambos acreditavam que a zona açucareira estava madura para a revolução. Agricultores arrendatários das periferias formaram Ligas Camponesas, enquanto o governo brasileiro voltou sua atenção ao “desenvolvimento” do Nordeste. Tanto a Igreja Católica quanto os comunistas se lançaram à organização de sindicatos, especialmente após a eleição de um presidente progressista em 1961 e a aprovação de um Estatuto do Trabalhador Rural em 1963. Na parte meridional da zona açucareira, onde a modernização da agricultura e a proletarização estavam mais avançadas, prevaleciam os comunistas; no norte, mais tradicional, era a Igreja. Assim, “fatores ambientais e agrícolas” moldaram o caminho da sindicalização e os atores políticos nela envolvidos (p.140). Em ambas as regiões, porém, a demanda por terra e reforma agrária era central para a organização dos trabalhadores.
O golpe militar de 1964, de acordo com Rogers, “não foi uma vitória inequívoca dos donos de plantações”: “em termos da trajetória das lutas dos trabalhadores, houve uma continuidade que transpôs a linha divisória” (p.159). O impacto crucial, no Nordeste, foi a incursão do Estado nas relações entre donos de plantações e trabalhadores, o que inevitavelmente limitou a autonomia dos canavieiros e criou estruturas para os trabalhadores fazerem valer suas demandas. “A simples presença de uma autoridade concorrente no âmbito dos donos de plantações foi a mais importante mudança” (p.162) – algo semelhante ao pacto populista que McGillivray descreve para a Cuba dos anos 1930.
Os canavieiros reagiram com a implementação de um novo regime de trabalho – um regime de subcontratação ou trabalho temporário – para tirar seus trabalhadores do alcance do regime trabalhista do governo. Essa medida rompeu os antigos vínculos, inclusive o arrendamento, que prendiam os trabalhadores às plantações. Nos anos 1970, a maioria dos trabalhadores do setor açucareiro trabalhava sob esses novos esquemas e morava fora das plantações, em pequenas cidades (p.168). Rogers documenta uma crescente divisão entre os líderes sindicais, que continuavam a enfatizar a reforma agrária, e os trabalhadores, que passaram a ver os benefícios do Estado para os trabalhadores como um objetivo mais central, no final dos anos 1960 e início dos 1970. “A terra não era mais a condição sine qua non da liberdade. A mobilidade se tornou importante, com pagamentos feitos de forma confiável, e agora as condições do cativeiro eram entendidas na dicotomia entre o engenho e a rua … À medida que a liberdade passou a ser associada ao recurso à burocracia do Estado, os trabalhadores se viam com menos frequência em termos ‘camponeses’, mesmo no tocante à aspiração a ter vínculos com a terra. Eles eram, em primeiro lugar e antes de tudo, assalariados; poder-se-ia dizer que foram proletarizados” (p.178). Comparando-os aos trabalhadores da região de plantação de banana no Equador, e refletindo McGillivray, Rogers cita Steve Striffler para sustentar que eles “foram transformados em uma classe por meio do diálogo com o Estado. Foram ‘organizados pelo Estado e para dentro dele'” (p.207).
A cana-de-açúcar também foi transformada, em parte, pelo compromisso do governo com a exportação de produtos agrícolas, e, depois do choque do petróleo de 1973, pela produção de açúcar para etanol, utilizando técnicas da Revolução Verde e incentivos econômicos. Novos fertilizantes permitiram que a cana se expandisse para “áreas anteriormente inapropriadas” (p.183). “O preço pago pela expansão da cana-de-açúcar foram córregos fétidos, céus repletos de cinzas, florestas derrubadas e maior número de enchentes” (p.201).
Foi uma solução típica de direita para as gritantes desigualdades latino-americanas: expandir sem redistribuir. No entanto, como nos lembra Rogers, “um dos problemas dos projetos de crescimento econômico altamente modernizantes foi que eles deixaram de levar em consideração o meio ambiente” (p.184). Especialmente no norte da zona açucareira, que havia sido menos afetado pelas modernizações anteriores, os efeitos ambientais foram drásticos. Essas mudanças, combinadas à abertura política do final dos anos 1970, levaram a um renascimento da sindicalização e das greves entre os trabalhadores do setor canavieiro. A gravidade da degradação ambiental no norte ajuda a explicar por que ele foi o epicentro das atividades sindicais e grevistas, em contraposição aos anos 1960 (p.196).
O trabalho e o meio ambiente estão conectados na medida em que o lucro, ou o desenvolvimento econômico, depende do controle de ambos – embora o capital não possa, verdadeiramente, controlar nenhum dos dois. “Assim como os donos de plantações antes dela, a ditadura pensou que comandava a paisagem. Em ambos os casos, esse controle era uma ilusão. Essas falhas equivalem a uma denúncia da própria noção de comando como abordagem à gestão do meio ambiente ou da mão de obra” (p.204).
Apesar de Rogers nos oferecer uma história na qual os trabalhadores do setor açucareiro buscaram, por séculos, escapar da cana e ganhar acesso à terra para fins de agricultura de subsistência, ele também sugere que a paisagem pode ajudar a explicar o compromisso dos trabalhadores com a cana-de-açúcar hoje. “A visão das pessoas a respeito de sua localização – das possibilidades e realidades de sua vida – é estruturada por discursos sobre a paisagem. Esse conceito nos permite pensar sobre os impactos materiais desses discursos, entrelaçando fios culturais com o meio ambiente em si … Examinar esses discursos melhora nosso entendimento das motivações e perspectivas que orientam as ações das pessoas, e ajuda a explicar por que as raízes da cana-de-açúcar na Zona da Mata são tão profundas. Profundas o suficiente para que nem os donos de plantações nem os trabalhadores possam pensar em suas vidas sem ela” (p.217).
O livro This Land is Ours Now, de Wendy Wolford, começa no ponto em que Rogers termina cronologicamente. Um dos mais dinâmicos e conhecidos movimentos rurais que surgiram na América Latina nas últimas décadas é o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), no Brasil. Wolford examina como o MST, nascido entre pequenos produtores no Sul do Brasil, evoluiu e se adaptou ao contexto muito diferente do Nordeste do país, onde, como Rogers mostrou, os trabalhadores do setor açucareiro perderam a maior parte de seus laços com a terra. O livro de Wolford trata de um movimento social, mas a plantação de cana-de-açúcar e a sociedade que ela criou formam um contexto importante: séculos de produção de cana moldaram tanto a história do uso da terra quanto as crenças sobre a terra e a consciência dos trabalhadores. Assim como as outras obras aqui resenhadas sugerem, tanto a história do trabalho quanto a do meio ambiente são, de certa maneira, histórias da consciência: das formas como as pessoas pensam sobre o trabalho e o meio ambiente.
A economia moral, a ideologia e os objetivos do MST, sustenta Wolford, que também se tornaram sua face pública e internacional icônica, refletiam as realidades de pequenos agricultores, em sua maioria descendentes de europeus, do Sul do Brasil. O MST dava ênfase à reforma agrária por meio da invasão de terras e ao desenvolvimento de ideologias e instituições alternativas e socialistas através desse processo. Foi complicado para os trabalhadores do setor açucareiro desempregados do Nordeste, descendentes de escravos africanos, que eram uma força de trabalho totalmente proletarizada buscando trabalho, em vez de terra, ajustar-se a essa abordagem. “Sua decisão de aderir ao MST não era indicativa de um desejo de continuar um modo de vida agrícola … A crise contínua pela qual passava a indústria da cana-de-açúcar abriu caminho para a aceitação do MST porque havia poucas alternativas no contexto econômico desanimador dos anos 1990 no Brasil … Nem todo o mundo ficou contente em ter terras próprias, porque eles preferiam ganhar a vida com base no trabalho assalariado e não na agricultura de subsistência” (p.18-19).
Em uma clara inversão de Marx (embora em concordância com os argumentos das obras Peasant Wars of the Twentieth Century, de Eric Wolf, e The Moral Economy of the Peasant, de James Scott), o MST via os trabalhadores do setor açucareiro como “individualistas”, em oposição aos valores mais coletivos dos camponeses do Sul (p.19). “Os camponeses são – e sempre foram – os verdadeiros subalternos do Capital, o ‘outro’ que legitimou e possibilitou a industrialização, a colonização e o desenvolvimento no pós-guerra”, sustenta Wolford (p.70). De certa maneira, a “consciência camponesa” levava a valores coletivos, e os camponeses do Sul estavam, “inicialmente, bastante receptivos à ideia de produção cooperativa … a forma de produção combinava com seu senso tradicional de comunidade igualitária” (p.104-105). No entanto, os líderes do MST frequentemente constatavam que também os camponeses do Sul eram “individualistas e não conseguiam substituir adequadamente o ‘eu’ da sociedade capitalista convencional pelo ‘nós’ da comunidade alternativa do MST” (p.104). Wolford sustenta, porém, que os desafios para os coletivos do MST no Sul do Brasil vinham menos da ideologia camponesa deficiente e mais de dificuldades organizacionais e pessoais dentro dos coletivos do movimento.
Wolford, porém, concorda com Rogers no sentido de que o que ela chama de “hegemonia do discurso açucareiro” prevalece na região açucareira do Nordeste. “Mesmo quando os trabalhadores rurais plantavam frutas e verduras, eles ainda afirmavam que a cana-de-açúcar era a única cultura verdadeiramente viável” (p.185). Como explicou o presidente de um assentamento do MST, muitas vezes os assentados nem se preocupavam em plantar em suas terras recém-obtidas: “Eles estão cansados, têm que sair de casa cedo para cortar cana para terem algo que comer” (p.184). O compromisso ideológico e prático com a cana e com o trabalho assalariado significava que o programa do MST, tão atrativo no Sul, era menos promissor no Nordeste.
Wolford prefacia seu estudo perguntando se é legítimo que uma pesquisadora investigue os problemas e falhas de uma organização que ela admira e que parece oferecer um dos poucos raios de esperança para a crescente população de grupos rurais espoliados no mundo todo. Seu estudo é claramente simpatizante, e ela sustenta que um melhor entendimento dos desafios que se colocam a esse movimento deveria ajudar a fortalecê-lo, e não a enfraquecê-lo. De fato, o compromisso, a visão e a força do MST, e seu potencial para a verdadeira transformação rural, transparecem nessa avaliação sóbria. Uma das conclusões mais desalentadoras dessa obra é que “é muito mais difícil promover o desenvolvimento sustentável do que expropriar terras” (p.128). O MST tem sido mais bem-sucedido em mobilizar e apoiar pessoas nos dias urgentes e empolgantes das ocupações de terra. Mas o desenvolvimento rural sustentável, especialmente em terras esgotadas e no contexto de um capitalismo global neoliberal e declinante, tem permanecido um desafio elusivo virtualmente em toda parte.
Todos os quatro livros têm como foco regiões moldadas por colonialismo, cana-de-açúcar e escravidão. Todos eles mostram como a própria natureza e as ideias e crenças das pessoas sobre o mundo natural contribuíram para outros desdobramentos políticos e sociais e se cruzaram com eles. No entanto, os quatro livros levam suas análises para direções bem diferentes. Ao comparar duas regiões, Wolford e McGillivray buscam tornar mais complexas as narrativas nacionais – mas de maneiras bem diferentes. Wolford enfatiza as diferenças no contexto do trabalho e do meio ambiente no Nordeste em comparação com o Sul do Brasil e, assim, as experiências muito diferentes que os trabalhadores e camponeses tiveram com o MST nas duas regiões. McGillivray contesta a narrativa nacional bifurcada em Cuba, que propõe padrões muito diferentes para as partes oriental e ocidental da ilha. Ela mostra que, em vez disso, ambas as regiões eram mais como colchas de retalhos.
Adotando uma abordagem explicitamente ambiental de uma longa extensão da história, Funes Monzote e Rogers se ocupam mais diretamente das questões teóricas de como as interações humanas com a natureza contêm um componente crucial da história humana. Em todas as quatro obras, no entanto, a relação entre as pessoas e o meio ambiente tem um papel importante nas histórias política e do trabalho. Cada livro contribui com novas formas de entender o impacto profundo que a cana-de-açúcar teve nas relações sociais, nos movimentos políticos e nos Estados. O ambiente natural abriu o caminho para a cana-de-açúcar, sofreu a destruição em função dos interesses do açúcar, influenciou a consciência dos trabalhadores, do capital e do Estado nas regiões açucareiras, e continua sendo um fator importante nas lutas do século XXI nessas regiões.
Das quatro obras aqui resenhadas, no entanto, apenas Rogers tenta explicitamente construir uma abordagem teórica que interligue as questões do trabalho e do meio ambiente. Não ficamos sabendo se os formuladores de políticas públicas ambientais de Funes Monzote em Cuba cogitavam a existência de paralelos ou conexões entre a exploração da mão de obra e do ambiente natural, ou como os trabalhadores escravizados ou livres do setor açucareiro cubano concebiam sua relação com o meio ambiente. Além disso, apesar de o açúcar ter sido e continuar sendo um produto colonial e de exportação por excelência, tanto em sua história do trabalho quanto na do meio ambiente ainda há muito a ser explorado com relação à interação de forças globais com essas histórias locais e à natureza dos ambientalismos popular e de elite no mundo pós-colonial.
A necessidade de histórias que possam nos ajudar a entender as múltiplas ligações entre o trabalho e o meio ambiente é mais urgente do que nunca. Os socialistas latino-americanos do século XXI continuam a se basear em empreendimentos agroindustriais e extrativos para sustentar seus projetos redistributivos e acusam os críticos estrangeiros de imperialismo ambiental. Os movimentos trabalhista e ecológico do Primeiro Mundo se esforçam para ultrapassar análises individuais e localizadas dos problemas que enfrentam. Enquanto isso, a cultura centrada no consumo continua causando estrago até os mais remotos cantos do planeta, ao mesmo tempo em que movimentos pela soberania alimentar ganham impulso. O contexto global, e particularmente o colonial e pós-colonial, continua a estruturar a terra e o trabalho, bem como a compreensão dos sujeitos coloniais a respeito de seu relacionamento com a terra e o trabalho.
Os livros aqui resenhados dão uma importante contribuição para expandir nossas definições e compreensões tanto da história do trabalho quanto da do meio ambiente. A próxima geração da pesquisa vai se basear neles e nas percepções de ativistas latino-americanos das áreas do trabalho e do meio ambiente sobre os contextos e histórias globais que forjaram os sistemas, a consciência e os movimentos trabalhistas e ambientais, bem como as maneiras como esses movimentos, por sua vez, enfrentam os contextos globais. As crises e contradições atuais frisam a importância de se entender como chegamos a esta situação e quais caminhos tomados e não tomados no passado poderiam sugerir futuros alternativos.
Referências
BERGQUIST, Charles. Labor in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela and Colombia. Redwood City, CA: Stanford University Press, 1995. [ Links ]
DOWIE, Mark. Conservation Refugees: The Hundred Year Conflict between Global Conservation and Native Peoples. Cambridge, MA: MIT Press, 2009. [ Links ]
GROVE, Richard H. Colonial Conservation, Ecological Hegemony and Popular Resistance: Towards a Global Synthesis. In: MacKENZIE, John M. (Ed.) Imperialism and the Natural World. Manchester: Manchester University Press, 1990. [ Links ]
MARTÍNEZ-ALIER, Joan. The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation. Oxford: Oxford University Press, 2005. [ Links ]
MINTZ, Sidney Wilfred. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York, NY: Viking Press, 1985. [ Links ]
MORENO FRAGINALS, Manuel. The Sugarmill: The Socioeconomic Complex of Sugar in Cuba, 1760-1860. New York, NY: Monthly Review Press, 1976. [ Links ]
POMERANZ, Kenneth. The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000. [ Links ]
TUCKER, Richard P. Insatiable Appetite: The United States and the Ecological Degradation of the Tropical World. Oakland, CA: University of California Press, 2000. [ Links ]
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2010.
Durham, NC: Duke University Press, 2009.
Durham, NC: Duke University Press, 2010.
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2008
Notas
Resenha publicada originalmente em Social History, v.38, n.4, November 2013.
1 Pomeranz, 2000; Tucker, 2000; Dowie, 2009; Grove, 1990, p.23, 25. Grove observa que “os primeiros ensaios políticos de Marx e o estimulante, por ele mesmo admitido, de suas primeiras tentativas de análise séria do processo social originam-se de sua preocupação com a criminalização dos camponeses pelas novas leis florestais nos anos 1840” (p.32).
2 Grove também sustenta que as políticas florestais que protegiam as necessidades de madeira de Marinhas Reais moldaram o pensamento colonial primitivo sobre o meio ambiente e frequentemente colocavam o Estado colonial em conflito com empresas privadas (1990, p.21). Em Cuba, a principal contestação do conservacionismo da Marinha vinha da indústria do açúcar, diferentemente de outros lugares no mundo colonial onde camponeses nativos e povos da floresta foram deslocados por governos coloniais que visavam preservar os recursos para suas próprias finalidades.
Aviva Chomsky – Salem State University. E-mail: achomsky@salemstate.edu.
[IF]In Search of the Amazon: Brazil, the United States, and the Nature of a Region – GARFIELD (RBH)
GARFIELD, Seth. In Search of the Amazon: Brazil, the United States, and the Nature of a Region. Durham: Duke University Press, 2014. 343p. Resenha de: DUARTE, Regina Horta. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.34 n.67, jan./jun. 2014.
Nas primeiras páginas de seu livro In Search of the Amazon, Seth Garfield evoca os antigos relatos de exploradores – narrativas emocionantes de jornadas hercúleas – para apresentar sua própria empreitada de anos de investigação sobre a Amazônia. As narrativas antigas de viagens às quais o autor alude, entretanto, representavam o meio tropical por meio de identidades bem estabelecidas e contrapostas ao mundo europeu, fundando mitos e firmando preconceitos. Diferentemente, estamos agora diante de uma refinada reflexão histórica que nos incita a questionar o que sabemos sobre a Amazônia. Com ele palmilhamos – página a página – as trilhas construídas no passado por diversos atores históricos, continuamente refeitas e redirecionadas no jogo dos enfrentamentos sociais e políticos. Munido de minuciosa pesquisa documental e disposto a trilhar territórios inexplorados, Garfield desmonta armadilhas de pretensas identidades, conceitos e representações arraigadas. Demonstra como a busca bem-sucedida de uma essência da Amazônia implica a conclusão de que ela não tem essência alguma, pois é lugar historicamente produzido em intricadas relações sociais de escalas locais, regionais, nacionais e globais. Com guia tão perspicaz, torna-se uma aventura intelectual estimulante adentrar a floresta. Garfield integra a melhor estirpe de historiadores, pois, como disse Marc Bloch (s.d., p.28), “onde fareja a carne humana, sabe que ali está sua caça”.
O tema da exploração da borracha na Amazônia brasileira no período do Estado Novo conduz o livro. A despeito de referenciar continuamente os tempos áureos dessa commodity no Brasil entre 1870 e 1910, e dedicar o epílogo às representações e práticas que delineiam a Amazônia desde os anos 1970 até os dias de hoje, o foco principal concentra-se nos anos da Segunda Guerra Mundial. O contrabando de sementes da Hevea brasiliensis, a seringueira, para o sudeste da Ásia, em 1876, e o sucesso das novas plantações nas primeiras décadas do século XX estabeleceram uma competição internacional na qual o Brasil saiu derrotado: no início dos anos 1930, a Amazônia produzia menos de 1% da borracha consumida no mundo.
Entretanto, com o lançamento da Marcha para o Oeste como projeto de integração nacional por Vargas e o avanço da conquista japonesa sobre o sudeste asiático em 1941, a Amazônia emergiu como local estratégico para o fornecimento dessa matéria-prima. In Search of the Amazon concentra-se na análise política, cultural e ambiental da região, acompanhando a produção de múltiplos sentidos para a Amazônia, no entrecruzamento de práticas sociais e disputas de poder.
A Amazônia é analisada como lugar instituído na temporalidade histórica por uma miríade de sujeitos que, por sua vez, enfrentam as condições do meio físico. Para tanto, Garfield dialoga com o geógrafo David Harvey, para quem os lugares são artefatos materiais e ecológicos construídos e experimentados no seio de intricadas redes de relações sociais, repletos de significados simbólicos e representações, produtos sociais de poderes políticos e econômicos. Com Bruno Latour, o autor argumenta que a “natureza” é inseparável das representações sociais, e que a sociedade resulta também de elementos não humanos. Com Roger Chartier, considera os conflitos sociais à luz das tensões entre a inventividade de indivíduos e as condições delineadas pelas normas e convenções de seu próprio tempo. Esses horizontes precisam ser avaliados na investigação do que homens e mulheres pensaram, fizeram e expressaram.
Garfield escarafunchou arquivos em Belém, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Rio Branco e Rio de Janeiro, como também nos Estados Unidos. Enfrentou condições diversas de conservação, organização e acesso aos acervos, nos quais encontrou jornais da época publicados em várias cidades, boletins e revistas de serviços ligados à borracha, programas de rádio, cinejornais, trabalhos científicos de diversas áreas do conhecimento, entrevistas com migrantes nordestinos, processos criminais e civis, relatórios diversos, correspondências pessoais de homens e mulheres envolvidos na saga dos “soldados da borracha” nos anos 1940, romances sobre a Amazônia, literatura de cordel e fotografias. As imagens são pedra de toque na caprichosa edição do livro. Vinte e oito fotografias – além de figuras e mapas – privilegiam aspectos urbanos de Ma-naus e Belém, cenas de trabalho e vida cotidiana, poses de autoridades políticas e técnicos, acampamentos de migrantes. O diálogo entre as análises do autor e as imagens é extremamente rico, mesmo que o leitor permaneça curioso sobre as condições de produção de algumas fotografias.
Desde a decadência da borracha em 1910, ruínas invadiram a paisagem amazônica, com cidades fantasmagóricas, retração demográfica e um rastro de miséria e doenças tropicais. Os ideólogos do Estado Novo elegeram a Amazônia como imperativo nacional, investindo-a de muitos significados: interior a ser desenvolvido pelo Estado centralizado, fronteira a ser delimitada e protegida, terra de promissão para os migrantes nordestinos, torrão natal e metonímia da nação. Vargas visitou Manaus em 1940, discursou, lançou financiamentos para migrantes, inaugurou serviços para incrementar o comércio da borracha, o abastecimento, condições sanitárias e transporte. Mas a invenção da Amazônia não seria urdida apenas “de cima”. Contou com outros atores e interesses: elites regionais, militares, médicos e sanitaristas, engenheiros, botânicos, agrônomos, geógrafos, literatos, cordelistas e migrantes.
A despeito do caráter espasmódico das articulações entre a Amazônia e o mercado internacional, a história investigada no livro é sobretudo uma história de conexões globais. As transformações tecnológicas colocavam a borracha – isolante, flexível, resistente e impermeável – entre os materiais mais estratégicos para as nações. Em 1931, Harvey Firestone Jr. gabou-se de como as coisas feitas de borracha se haviam tornado indispensáveis para o ser humano civilizado, desde o primeiro choro do recém-nascido até a lenta marcha para o túmulo. A borracha alimentou a cultura do automóvel na sociedade norte-americana e o crescimento da aviação por todo o mundo. Presente em milhares de produtos (como luvas cirúrgicas, sapatos, preservativos e pneus), a borracha revolucionou o cotidiano dos civis e a fabricação de artefatos militares. Evitando interpretações deterministas, o autor alerta para o fato de que as inovações tecnológicas e aplicações da borracha na indústria eram produtoras e produtos das mudanças políticas, econômicas e culturais resultantes de práticas dos agentes sociais (p.55).
Quando o ataque japonês à Malásia suspendeu o fornecimento de borracha, a atenção norte-americana se voltou para a Amazônia. Delinearam-se profundas divergências entre membros do governo de Franklin D. Roosevelt. Alguns, como o empresário e político Jesse Jones, viam a Amazônia como inferno verde e inelutavelmente bárbaro: uma vez que nenhuma ação poderia transformá-la, tratava-se de explorar a borracha da forma mais prática possível. Outros, como o vice-presidente Henry Wallace, apostaram na Amazônia como terra promissora, pedra fundamental da integração interamericana, defendendo projetos de saúde, melhorias e integração social. Ao delinear a ação norte-americana na Amazônia, o autor argumenta a multiplicidade de intenções e práticas dos Estados Unidos na região – resultantes paradoxais de enfrentamentos na política interna desse país – traçando uma análise complexa e original das relações entre o Brasil e os Estados Unidos naqueles anos.
O diálogo entre os norte-americanos defensores de projetos sociais paralelos à exploração da borracha e as autoridades nacionalistas do governo Vargas foi profícuo e gerou iniciativas conjuntas de formalização do trabalho e estabelecimento de condições mínimas de higiene, saúde e alimentação. Autoridades brasileiras e representantes norte-americanos se esforçaram pela presença efetiva do Estado brasileiro na Amazônia, com ações e estratégias para formação e controle da mão de obra. Todas essas práticas eram informadas por projetos políticos críticos da mera exploração descompromissada e inconsequente, embalados tanto pelos sonhos brasileiros de construção nacional como pelas aspirações dos Estados Unidos no sentido de estabelecer conexões interamericanas sob sua égide.
Os seringueiros, por sua vez, surgem nas páginas do livro como sujeitos sociais ativos. Garfield critica sua representação recorrente como vítimas passivas, fáceis de manipular, meros joguetes de campanhas pela borracha. Relatos orais transmitidos entre gerações acenavam com histórias pessoais de enriquecimento com a borracha. Signos de masculinidade abrilhantavam a aventura de partir para a Amazônia. O caráter sazonal, móvel e independente da atividade atraía muito mais que a perspectiva do trabalho nas fazendas de café do Sudeste. A informalidade e a mobilidade combatidas pelo Estado seduziram homens em busca de trabalho e com ganas de enriquecimento. A decisão de migrar foi fruto da seca e da falta de perspectivas nos locais de origem, mas também se baseou em cálculos informados por relações de parentesco, gênero e valores culturais.
Analisando as relações entre Brasil e Estados Unidos em torno da Amazônia em termos de interesses recíprocos, o autor afasta-se das interpretações do Brasil como país subdesenvolvido e vitimado pelo Tio Sam. Nem por isso desconsidera o legado impactante das políticas norte-americanas de guerra, que acirraram a competição em torno do acesso e uso dos recursos, representações divergentes da natureza e disputas pelo exercício do poder.
In Search of the Amazon encontrou também todos os indícios do sofrimento e miséria dos trabalhadores da borracha, e das tragédias de isolamento e abandono após o final da guerra. Entretanto, mostra como os seringueiros foram capazes de se reinventar nas décadas que se seguiram. Passaram de aventureiros desavisados a populações tradicionais e detentoras de saberes, de “soldados da borracha” a ambientalistas. Obtiveram apoio internacional para suas lutas e interesses na conservação da floresta. Investiram a Amazônia de novas significações e desafios. Explorando conexões regionais, nacionais e globais da saga da borracha no período da Segunda Guerra Mundial, Garfield problematiza a natureza da região, apresenta ao seu leitor um panorama instigante da Amazônia como lugar produzido socialmente, arena contínua de conflitos e lutas no jogo da história contemporânea, cenário de controvérsias garantidas dos tempos que virão.
Referências
BLOCH, Marc. Introdução à História. 4.ed. Lisboa: Publicações Europa-América, s.d. [ Links ]
DUARTE, Regina Horta.- Departamento de História, Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora CNPq. reginahorta duarte@gmail.com.
[IF]
Hotel Tropico: Brazil and the challenge of African decolonization, 1950-1980 | Jerry Dávila
‘We are going to be Africans, we are going to be Africans!’ It’s going to
be great! `We are all Africans, all Africans.’
Maria Yedda Linhares
Esta resenha examinará o livro Hotel Tropico: Brazil and the challenge of African decolonization, 1950-1980. O trabalho é de autoria de Jerry Dávila e foi publicado ano passado pela Duke University Press (2010, 328 páginas, ISBN: 0822348675). O livro é leitura essencial para historiadores (relações Brasil-África), antropólogos (debate sobre raça e identidade), economistas (promoção comercial e relações econômicas Brasil-África) e internacionalistas (um dos primeiros ensaios da diplomacia sul-sul brasileira). Ele é dividido em nove capítulos – além de introdução e epílogo. Há alguns temas recorrentes, como o impacto das relações com Portugal, o ideário da “democracia racial” e seus desdobramentos na diplomacia, a reconstrução dos laços na década de 1970 e a dimensão comercial. Apesar de falar da descolonização do continente, Gana, Senegal, Nigéria e Angola são, na verdade, os únicos países examinados com profundidade. Os temas também não são novos. Muitos atores já se debruçaram sobre as questões examinadas no livro – de José Honório Rodrigues a Adolpho Bezerra de Menezes, de Alberto da Costa e Silva a Florestan Fernandes, de Maria Yedda Linhares a José Flávio Saraiva. O autor tampouco é neófito no tema, pois publicou artigo na Revista de Antropologia em 2008 sobre a experiência de diplomatas brasileiros na Nigéria (Dávilla: 2008). Leia Mais
Screening Sex – WILLIAMS (CP)
WILLIAMS, Linda. Screening Sex. Durham/London, Duke University Press, 2008, 412p. Resenha de: PARREIRAS, Carolina. Beijos, atos, orgasmos e telas: o sexo em exibição. Cadernos Pagu, Campinas, n. 35, Dez. 2010.
Se há um tema recorrente nos escritos de Linda Williams, este certamente é o sexo. Já em 1989, ano da publicação de seu mais conhecido livro – Hard Core. Power, pleasure, and the “frenzy of the visible” –, ela traça como objetivo entender as diferentes configurações do gênero pornográfico, especificamente as produções cinematográficas heterossexuais hard-core1 (comerciais ou não, como é o caso dos stag movies2) e desse modo contribuir para a escrita de um viés da história desse que é considerado por muitos uma parte menor ou menos importante do cinema. Sob a influência do pensamento de Foucault, ela acredita que os filmes pornográficos seriam mais um exemplo dos intricados mecanismos de poder que produziriam determinados prazeres e saberes.
No epílogo de Hard Core escrito para a edição de 1999, Williams oferece alguns dos insights que darão base ao seu argumento em Screening Sex. O principal ponto apresentado ali é a ideia de on/scene. Nessa primeira formulação, o termo aparece como o marcador das controvérsias em torno das representações sexuais, o responsável por tensionar as noções de público e privado e, consequentemente, do que é chamado de lascivo, pruriente ou obsceno (que significa literalmente off/scene).
O argumento apresentado em Screening Sex caminha por um sentido semelhante e tem no conceito de on/scene a base para grande parte da discussão proposta. Mas antes de partir para a conceituação teórica é interessante pensar no modo como o livro foi construído. Em linhas gerais, o objetivo central é contar a história da exibição do sexo em filmes produzidos principalmente nos Estados Unidos no período de cerca de um século.
Já na Introdução, a autora faz a ressalva de que ela não pretende fornecer uma história completa da exibição do sexo em produções cinematográficas e que os filmes escolhidos para a análise são trabalhos que marcaram períodos ou momentos na história do cinema. Além disso, ela também ressalta que muitos deles despertaram nela – literal ou figurativamente – alguma forma de “saber carnal”3 (carnal knowledge). A discussão proposta passa então por essa localização da própria autora, sendo que, na maior parte dos capítulos, ao descrever os filmes, ela parte de reminiscências sobre os momentos em que os viu pela primeira vez, tentando mostrar os sentimentos, as sensações e os pensamentos que provocaram. Assim procedendo, ela claramente se situa em relação à análise: os pontos de vista contidos no livro são de uma mulher branca, heterossexual, norte-americana, com influências teóricas diversas que vão desde Foucault e Bataille, passando pela psicanálise freudiana, pela teoria crítica com Walter Benjamim, pelas formulações feministas e por estudos sobre mídias.
No percurso escolhido para entender a exibição (ou não) do sexo, Williams constrói um texto que se fosse transformado em filme forneceria um longo e denso documentário sobre as maneiras como o sexo foi colocado em discurso nas produções cinematográficas desde os seus primórdios. A organização dos capítulos proporciona, ao longo da leitura, a sensação de estar visualizando as cenas descritas pela autora, bem como o contexto mais amplo em que elas foram concebidas. Facilita esse processo, principalmente para os não muito inteirados sobre a história do cinema ou sobre os filmes citados, o uso cuidadoso de imagens de diversas das produções analisadas e sua preocupação em dissecar as cenas, apresentando-as em detalhes juntamente com análise dos comentários de produtores, diretores e críticos de cinema.
A divisão dos capítulos se baseia na delimitação de eras na produção cinematográfica. O critério para o estabelecimento de cada era não é exatamente cronológico, visto que em termos de datas ocorrem interpenetrações entre elas e um único período pode apresentar manifestações diferentes em relação à exibição do sexo.
O primeiro capítulo se concentra na era do beijo ou como Williams coloca já no título, o período da “longa adolescência americana”. Beijos foram durante muito tempo a única manifestação com conotação sexual mostrada em filmes. Assim a autora passa por produções que vão desde o primeiro beijo do cinema – The Kiss (Thomas Edison, 1896), passando pelo cinema mudo com Flesh and The Devil4 (Clarence Brown, 1927), por produções clássicas de Hollywood como Casablanca (Michael Curtiz, 1942) e Notorious5 (Alfred Hitchcock, 1946) até o não tão mainstream Kiss (Andy Warhol, 1963).
No segundo capítulo, a intenção é mostrar como os atos sexuais e o que ela chama de “saber carnal” chegaram às telas norte-americanas entre os anos de 1961 e 1971. É salientada a importância dos filmes estrangeiros que serviram de inspiração para os diretores norte-americanos começarem a colocar sexo simulado em suas produções. Para que isso acontecesse, atuaram em conjunto a força da revolução sexual que acontecia no período, bem como uma série de mudanças na produção e comercialização dos filmes. Para colocar na tela essas novas performances, alguns recursos técnicos foram importantes, como por exemplo, a utilização de interlúdios sexuais.6 Dois filmes são o foco central da análise: The Graduate7 (Mike Nichols, 1967) e Midnight Cowboy (John Schlesinger, 1969). A parte final desse capítulo é dedicada a produções mais independentes – sexploitation8, blaxploitation9 e avant-garde10.
O terceiro capítulo é dedicado à análise de três filmes: Last Tango in Paris11 (Bernardo Bertolucci, 1972), Deep Throat12 (Gerard Damiano, 1972) e Boys in the Sand (Wakefield Poole, 1971). Grande parte da discussão gira em torno do momento inicial da pornografia mais comercial – chamada pela autora de pornô chique – heterossexual e gay e pela apresentação das provocativas e ousadas cenas de sexo presentes em O Último Tango em Paris. Já no quarto capítulo, a questão do orgasmo feminino é abordada, com o foco em filmes estrelados por Jane Fonda. A autora ainda mostra como naquele momento as idéias da sexologia em relação ao orgasmo eram importantes, especialmente nas formulações de Kinsey e Masters e Johnson, e também todo o ativismo político feminista e anti-guerra (“Make Love, not War”), com a apropriação do livro de Marcuse – Eros e Civilização.
No quinto capítulo, a atenção se volta para o filme O império dos sentidos (Oshima Nagisa, 1976) que representaria a fusão dos elementos gráficos da pornografia hard-core com a narrativa erótica do amor. Esse filme é o primeiro exemplo de produção cinematográfica que fez sucesso tanto como arte quanto como pornografia, exatamente porque tensiona estes dois pólos. O sexto capítulo é talvez o que mais traga a influência da psicanálise, especialmente das formulações de Freud sobre fantasias primitivas. Williams escolhe então recortes dos filmes, que chama de “cenas primitivas” para mostrar tabus relativos ao sexo presentes nas produções de Hollywood: em Blue Velvet13 (David Lynch, 1986) é pensada a questão do sadomasoquismo e em Brokeback Mountain (Ang Lee, 2005), a penetração anal.
Por fim, no capítulo 7, ela analisa filmes de arte erótica produzidos durante a década de 90 e reivindica para eles o rótulo de “arte erótica hard-core“. Este tipo de produção seria extremamente gráfica, como a pornografia hard-core é, mas não utilizaria os mesmos recursos da narrativa pornográfica, como a filmagem em close-up com grande detalhamento da anatomia corporal. No capítulo final, Williams se propõe a pensar nos desdobramentos mais contemporâneos da exibição do sexo. Para tal, toma como foco a multiplicidade de telas hoje encontradas: não há apenas a grande tela das salas de cinema, mas as telas de televisões (DVDs) e computadores (cyberporn), cada vez mais tecnológicas e interativas.
Feita essa apresentação, algumas questões que perpassam toda a obra merecem atenção. A primeira delas diz respeito ao uso do verbo to screen que tem um duplo significado: é uma projeção, uma exibição, aquilo que revela, mas também pode ser tomado como aquilo que elide e esconde. Há então na história das imagens de sexo em filmes uma relação dialética entre revelação e encobrimento. Beijos podem ser mostrados, mas há uma maneira correta de fazê-lo. Atos sexuais podem ser simulados, mas os sons do sexo devem ser elididos e por isto a necessidade de uma música. E é essa dialética que Williams tenta mostrar ao longo do livro, associando-a com um contexto político, econômico e cultural mais amplo.
Nesse contexto, aparecem momentos importantes como, por exemplo, a existência de um Código de Produção para os filmes de Hollywood (Hollywood Production Code). Este Código, atuante de 1934 a 1966, era um reflexo dos variados tabus da sociedade em relação ao sexo e proibia que os filmes mostrassem ou mesmo inferissem “formas baixas de relação sexual” identificadas como “beijos excessivos e lascivos”, “sedução ou estupro”, “perversão sexual”, “cenas de nascimento”, “doenças venéreas”, “nudez completa” e “exposição indecente”. Outro ponto que Williams destaca é que o Código não permitia a miscigenação, vetando toda e qualquer representação de atos sexuais inter-raciais.
Em substituição ao Código, foi criada em 1968 a Motion Picture Association of America (MPAA). Sua principal decisão foi criar um sistema de classificação dos filmes, tentando adequá-los às diferentes audiências. A primeira divisão era entre filmes para adultos e filmes para crianças. A MPAA é uma das responsáveis também pelo desenvolvimento da categoria “X”, a qual passou a ser utilizada, após o boom das produções pornográficas, para caracterizar esse tipo de produção.
Também faz parte do contexto mais amplo, a revolução sexual a partir dos anos 60. Era clara a relação das ideias de libertação sexual com a contracultura anti-guerra, anti-racismo, anticapitalista e anti-patriarcal. É nesse momento que o movimento feminista, os debates (morais, jurídicos e feministas) em torno dos conceitos de pornografia e obscenidade e as formulações de sexólogos se tornam importantes e permitem uma mudança nas convenções morais operantes, além de permitirem a produção de filmes como O último tango em Paris, Garganta Profunda, Barbarella e O império dos sentidos.
Em relação aos desenvolvimentos mais recentes da exibição de sexo, Williams traz importantes considerações sobre os avanços tecnológicos e o modo como eles proporcionam mudanças na maneira como o sexo é visto e sentido. O desenvolvimento do cyberporn e o crescimento do consumo de filmes em ambiente privado seriam duas das mais visíveis modificações ocorridas a partir dos anos 90. E elas têm um impacto considerável ao modificar a relação público/privado e as maneiras de recepção dos filmes. Não se trata mais apenas de uma audiência defronte a uma grande tela partilhando pública e grupalmente da exibição, mas sim de pessoas que podem estar em seus quartos, sozinhas ou acompanhadas, com a tela de seu computador, conectadas à internet e interagindo das mais diferentes formas com o que vê e sente. Ela reconhece ainda o papel da internet na crise da indústria pornográfica mais tradicional. A experiência de interatividade (e exemplos são os sites de sexo via webcam) mais ampla talvez seja o ponto que confere ao on-line uma diferenciação em relação às técnicas anteriores de interação expectador – tela de cinema.
Apesar de não acreditar que seja possível falar em uma hegemonia de uma das telas, ela afirma que o entendimento da exibição do sexo hoje deve considerar múltiplas possibilidades que incluem clicar, digitar, escolher e até mesmo ver o público assumindo o papel diretor: filmando, escolhendo os atos, as cenas e as interações.
Ao montar o percurso apresentado no livro, Williams possibilita relacionar sexo em sua forma cinematográfica não apenas à pornografia – sua manifestação mais conhecida, debatida e polêmica – ou ao erotismo, mas pensá-lo desde os quase inocentes beijos do cinema mais clássico, passando pelos orgasmos femininos cuja figura símbolo é Jane Fonda, até as relações em tempo real via internet com cybersex e cyberporn.
Assim, faz sentido retornar à ideia de on/scene: a tese proposta por Linda Williams é a de que para pensar as representações sexuais na cultura norte-americana desde a invenção do cinema é necessário levar em consideração o grau em que os atos chamados um dia de obs-cenos (off/scene) foram se tornando on/scene. O que a autora intenciona ao propor o termo on/scene é evitar julgamentos apressados e usos levianos do termo obsceno. Seu percurso argumentativo, narrativo e analítico vem reiterar essa proposta: são muitos os modos de se retratar atos sexuais e essa profusão de imagens não pode ser entendida como descolada da história cultural e social do sexo, nem fora da retórica repetidas vezes mencionada por ela de revelação e encobrimento.
Referências
Williams, Linda. Hard Core. Power, pleasure, and the “frenzy of the visible”. Berkeley/Los Angeles/London, University of California Press, 1999. [ Links ]
Notas
1 A consagrada divisão do gênero pornográfico em soft core e hard core tem como uma de suas bases o discurso jurídico, responsável pela criação do termo hard core. O soft core aparece por contraposição, nomeando as produções com sexo implícito, sendo correntemente associado ao erotismo. Já o hard core se refere aos materiais com sexo explícito, nos quais os atos e órgãos sexuais são mostrados com detalhamento. É bom lembrar também que estas nomenclaturas se mantêm pela ação do mercado, sendo que elas funcionam como meio de segmentá-lo e deixar visível que tipo de produto está sendo produzido.
2 Produções amadoras em vídeo, ilegais e exibidas fora dos circuitos cinematográficos convencionais.
3 Saber carnal tem como definição clássica intercurso sexual, coito, cópula que visa a procriação. Do modo como Williams o emprega, o termo quer especificar uma série de trocas mediadas entre os corpos que assistem e aqueles encontrados na tela. O termo evoca um conhecimento corporificado não apenas dos corpos que se tocam na tela, mas também do deleite que pode provocar naqueles que assistem. A referência para essa formulação são as produções de Vivian Sobchack sobre embodiment e cinema.
4 O Demônio e a Carne.
5 Interlúdio.
6 Interlúdio sexual significa que o registro sexual era feito em um tempo distinto do restante do filme. Era comum a utilização de trilhas sonoras para os momentos de simulação de sexo.
7 A Primeira Noite de um Homem.
8 Filmes soft-core produzidos nas décadas de 60 e 70 que se caracterizavam pela exploração de temas adultos e grande exibição do corpo feminino.
9 Filmes, produzidos principalmente entre os anos de 71 e 74, onde havia a exploração aberta do sexo racializado, com a exaltação da virilidade do homem negro e de grande quantidade de situações de violência.
10 Filmes de menor exibição que mostravam atos sexuais explícitos, mas com estética e objetivos políticos e sociais bem diversos da pornografia hard-core.
11 O Último Tango em Paris.
12 Garganta Profunda.
13 Veludo Azul.
Carolina Parreiras – Mestre em Antropologia Social pela Unicamp e doutoranda em Ciências Sociais pela mesma universidade. E-mail: carolparreiras@gmail.com
[MLPDB]
How Feminism Travels across Borders – The Making of Our Bodies, Ourselves – DAVIS (REF)
DAVIS, Kathy. How Feminism Travels across Borders – The Making of Our Bodies, Ourselves. Durham and London: Duke University Press, 2007. Resenha de: VEIGA, Ana Maria. Uma viagem transnacional do feminismo: outra lente para a história. Revista Estudos Feministas v.18 n.1 Florianópolis Jan./Apr. 2010.
A historiadora holandesa Kathy Davis compartilha no livro How Feminism Travels across Borders, de maneira autêntica e singular, os resultados de uma ampla pesquisa que buscou abordar a circulação das teorias feministas sobre a saúde da mulher, com a obra que se tornou best seller dentro e fora dos Estados Unidos na década de 1970 e manteve essa posição até o final dos anos 1980, Our Bodies, Ourselves.
Davis, que é pesquisadora sênior do Research Institute for History and Culture na Utrecht University, na Holanda, analisa essa obra estadunidense de maneira crítica e com um distanciamento necessário. Sua proposta foi observar o modo como o livro “viajou” por diversos países – foi traduzido para mais de 30 idiomas – e as implicações dessa viagem na maneira de se pensarem o conhecimento feminista e as políticas de saúde em um mundo “globalizado”. Ela percebe a produção e a recepção do livro como uma teoria que transita entre as especificidades de um contexto mundial e nos conta que Our Bodies, Ourselves surgiu da compilação das discussões sobre “as mulheres e seus corpos” em encontros pontuais que aconteceram em diversos países, no final dos anos 1960, promovidos pelo grupo Boston Women’s Health Book Records – BWHBC. O resultado foi um manual com relatos de experiências pessoais e informações úteis a respeito da saúde das mulheres.
Editado em 1970, Our Bodies, Ourselves passou por diversas traduções e reedições, a última em 2005. De acordo com a autora, nesse ano já havia vendido mais de quatro milhões de exemplares (quatro vezes mais do que O segundo sexo, de Simone de Beauvoir), tornando-se uma obra de popularidade única na história do feminismo. Sua função principal, além do esclarecimento, teria sido a de desafiar os dogmas médicos sobre os corpos das mulheres, sendo denominado a “bíblia da saúde das mulheres”.
A interpretação de Davis é apresentada em três partes, que dimensionam a elaboração da obra e suas viagens a outras localidades; as políticas feministas de conhecimento, com o empoderamento que elas trazem; e a política transnacional do corpo, com uma crítica aos padrões ditados por modelos médicos pretensamente hegemônicos, mas também a um modelo de feminismo considerado imperialista.
Por meio de entrevistas, com o apoio das ferramentas da história oral e no campo da teoria feminista transnacional, a pesquisa foi realizada principalmente nos Estados Unidos, contando com depoimentos da maioria das autoras do livro, que formavam na época (1969) o grupo de Boston. Além disso, Kathy Davis promoveu encontros de discussão com um grupo de tradutoras da obra para os mais diversos idiomas. Assim, pôde analisar de que maneira o livro foi adaptado às necessidades específicas de cada país ou de cada região aonde chegava. Certamente não era possível prever uma aceitação das ideias que circulavam entre as feministas estadunidenses naquele momento por mulheres situadas na Ásia ou no Oriente Médio, lugares aonde a obra também chegou, principalmente no que se referia às questões sobre aborto e direitos reprodutivos.
Davis informa que o Brasil é um dos países que aguarda a tradução e que a adaptação mais próxima é a versão feita na Espanha, Nuestros cuerpos, nuestras vidas, já que a versão latino-americana acabou ficando incompleta e não chegou a ser editada devido a conflitos regionais. As editoras e as tradutoras locais não achavam possível pensar uma unidade do contexto latino-americano, alegando que não seria o mesmo traduzir o livro para uma mulher nicaraguense da periferia ou para uma mulher da classe média argentina. As especificidades nas traduções que a autora aponta nos sugerem que a distância cultural faz toda diferença para a leitura e a compreensão da obra, moldada mas também subvertida em cada situação.
Um aspecto interessante da análise proposta pelo livro How Feminism Travels across Borders é a compreensão de como as políticas de localização puderam gerar diferentes visões sobre a história, o conhecimento e as práticas feministas, e as possibilidades e os limites de alianças políticas entre mulheres de dentro e de fora dos Estados Unidos, país tido como missionário das ideias imperialistas. Com isso, aparece a crítica a Robin Morgan, que idealizou e organizou o livro Sisterhood is Global1 em 1984, com a proposta de alcançar um “feminismo global”. Davis contrapõe a essa perspectiva a ênfase na localização, que faz um movimento para fora das histórias lineares do feminismo no intuito de explorar como ele emerge, muda, viaja e se traduz em diferentes contextos espaciais e temporais. Dessa forma, a autora busca tornar visível o significado histórico do livro, tomando como paradigma de sua crítica o que chamou uma “história transnacional”, situada no contexto de um mundo em processo veloz de globalização.
O historiador e sociólogo francês Roger Chartier é peça importante nessa discussão, trazendo a noção da leitura como apropriação da obra original e todas as possibilidades que essa troca direta pode proporcionar. Para ele, é necessário que se reconheça a pluralidade das leituras possíveis de um mesmo texto, em função das disposições individuais, culturais e sociais de cada um dos leitores.2
No caso de Our Bodies, Ourselves, o livro pôde fazer-se e refazer-se seguindo as indicações das próprias leitoras, que escreviam para as autoras permitindo a elas acrescentar ou reelaborar informações e narrativas de experiências. Portanto, mulheres lésbicas, idosas, portadoras de deficiência ou com outras necessidades específicas foram sendo incluídas nas novas edições. Kathy Davis aponta a obra como um elemento móvel, um “documento vivo” atuando na constituição de sujeitos feministas em diferentes localizações, não como um material de consumo.
Outras autoras têm construído reflexões sobre as circulações e as viagens das teorias, buscando compreender as dinâmicas do feminismo transnacional. No campo dos estudos pós-coloniais encontramos o trabalho de Cláudia de Lima Costa, com a proposta similar à de Davis de se olhar para o feminismo como uma teoria que viaja, dentro do que esta última chamou de “projeto epistemológico feminista”. Costa propõe pensarmos sobre a circulação de teorias dentro do campo feminista, levando em conta o trânsito entre o hemisfério norte, tradicionalmente visto como emanador, e o hemisfério sul das Américas, que seria o receptor das teorias.3
Como contraponto a esse argumento, Adriana Piscitelli fala sobre a hierarquização evidenciada por ele e mostra que é preciso ter atenção quanto à apropriação de concepções feministas fora do âmbito em que elas se desenvolvem, pois as referências externas podem obscurecer a compreensão de como operam as práticas locais.4
Cláudia de Lima Costa aponta a tradução cultural como um espaço privilegiado para se elaborarem análises críticas sobre a política de representação e as assimetrias entre linguagens no deslocamento das teorias feministas por espaços geopolíticos diferentes.5
María Luisa Femenías e Nelly Richard colaboram com esse debate, valorizando as reflexões produzidas pelas feministas em âmbito local e a não subordinação às ideias que chegam por meio dos materiais estrangeiros. Para Femenías, o “lugar de apropriação” que resulta do traslado das teorias fratura, de maneira decisiva, o discurso original, permitindo uma revalorização e uma ressignificação contextualizada.6
Nelly Richard também discute a questão da apropriação das teorias dos chamados países do “centro” por aqueles considerados de “periferia”. Para ela, as operações de códigos das práticas subalternas reinterpretam e criticam hibridamente, a partir do seu interior, os signos da cultura dominante. A autora ataca e desconstrói os argumentos das feministas dos países do norte, que apontam para a divisão entre a teoria produzida por elas e a experiência compartilhada pelas latino-americanas. De acordo com Richard, muitas teóricas escrevem a partir de elaborações formuladas por mulheres latino-americanas, consideradas incapazes para a produção teórica.7
Kathy Davis, com sua interpretação sobre o fazer-se do livro Our Bodies, Ourselves, situa-se em confluência com a crítica suscitada por esse debate e termina o livro com reflexões a respeito da postura das feministas estadunidenses, que veem o feminismo como um produto de seu país. A autora contrapõe o que chamou de declínio da “segunda onda branca” com a ascensão de um feminismo multirracial. Para ela, o livro mostra que o feminismo não está limitado aos Estados Unidos e ganha mais força fora de lá, enriquecido pela multiplicidade de contextos.
Davis apresenta uma pesquisa de fôlego e relevância para os campos dos estudos feministas, da teoria feminista transnacional, da história cultural e, também, dos estudos póscoloniais (que recebem da autora uma crítica importante por reforçar a ênfase nas sociedades do chamado Primeiro Mundo).
O título How Feminism Travels across Borders – The Naking of Our Bodies, Ourselves nos faz pensar sobre o tipo de fronteira (border) ao qual a autora se refere, uma vez que as fronteiras territoriais geográficas estão sendo cada vez mais apagadas pelos movimentos transnacionais, como é o feminismo, ele próprio situado num espaço “entre-fronteiras”, a princípio marginalizado, atualmente problematizado com interesse por diversos campos, dentro e fora da academia. De qualquer maneira, o livro de Kathy Davis abre outras perspectivas para pensarmos a história do feminismo de modo mais amplo e torna-se leitura indispensável para quem se interessa por quaisquer dos campos mencionados.
Notas
1 Robin MORGAN, 1996.
2 Roger CHARTIER, 2001.
3 Cláudia de Lima COSTA, 2004.
4 Adriana PISCITELLI, 2005.
5 COSTA, 2003.
6 María Luisa FEMENÍAS, 2006.
7 Nelly RICHARD, 2003.
Referências
CHARTIER, Roger. “Do livro à leitura”. In: ______ (Org.). Práticas da leitura. Tradução de Cristiane Nascimento. São Paulo: Estação Liberdade, 2001. p. 77-105. [ Links ]
COSTA, Cláudia de Lima. “As publicações feministas e a política transnacional da tradução: reflexões do campo”. Revista Estudos Feministas, Florianópolis: CFH/CCE/UFSC, v. 11, n. 1, p. 254-264, 2003. [ Links ]
______. “Feminismo, tradução, transnacionalismo”. In: COSTA, Cláudia de Lima; SCHMIDT, Simone Pereira (Org.). Poéticas e políticas feministas. Florianópolis: Editora Mulheres, 2004. p. 187-196. [ Links ]
FEMENÍAS, María Luisa. “Afirmación identitaria, localización y feminismo mestizo”. In: ______ (Comp.). Feminismos de París a La Plata. Buenos Aires: Catálogos, 2006. p. 97-125. [ Links ]
MORGAN, Robin (Ed.). Sisterhood is Global – The International Women’s Movement Anthology (1984). 2. ed. New York: The Feminist Press at The City University of New York, 1996. [ Links ]
PISCITELLI, Adriana. “A viagem das teorias no em-bate entre práticas acadêmicas, feminismos globais e ativismos locais”. In: MORAES, Maria Lygia Quartim de (Org.). Gênero nas fronteiras do sul. Campinas: Pagu; UNICAMP, 2005. p. 143-163. [ Links ]
RICHARD, Nelly. Intervenções críticas: arte, cultura, gênero e política. Belo Horizonte: UFMG, 2003. [ Links ]
Ana Maria Veiga – Universidade Federal de Santa Catarina.
Countering development. Indigenous modernity and the moral imagination – GOW (A-RAA)
GOW, David D. Countering development. Indigenous modernity and the moral imagination. Durham: Duke University Press, 2008. Resenha de: RAMÍREZ, María Clemencia. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.10, jan./jun., 2010.
Este libro gira alrededor del concepto de desarrollo, de su apropiación, resignificación, refutación y replanteamiento por parte de tres comunidades indígenas Nasa reasentadas después del terremoto que se presentó en Tierradentro (Cauca) en 1994, así como por parte de los Nasa del norte del Cauca. Es central en el planteamiento del autor el llamar la atención sobre cómo el desastre natural les ofrece a estas comunidades la oportunidad de rehacerse a sí mismas y a su cultura de maneras innovadoras, recreando el pasado histórico específico a cada una de ellas en nuevos contextos. La cultura se torna así en elemento clave no sólo para entender la percepción de los miembros de las comunidades Nasa del mundo donde viven sino también sus ideas e imaginarios morales sobre lo que constituyen el desarrollo y la modernidad. Señala además el autor que la resistencia indígena ha sido forjada por la violencia, lo cual en vez de limitarlos los ha hecho esforzarse por mejorar la situación “como una forma de responsabilidad moral con el mundo en el que viven y así, aunque la amenaza y la presencia de la violencia son algo dado, no son vistas como inmutables” (pp. 15-16). Como resultado, esta resistencia a la violencia crea nuevos espacios y nuevas oportunidades, al igual que el desastre natural, resaltando una vez más la capacidad creativa de los grupos indígenas del Cauca.
El autor cuestiona el argumento de Spivak (1988) sobre que el conocimiento local simplemente refleja los intereses del poder local y que sus subalternos no pueden planificar porque pierden su perspectiva subalterna al hacerlo, al demostrar cómo “las personas de la localidad que hablan y planifican están seria y genuinamente interesadas en ser oídas en ‘nuestros’ términos, aun cuando totalmente conscientes de que las prioridades que defienden son sólo parte de su modelo de la modernidad” (p. 175), y debate con este planteamiento la visión de dominación absoluta que niega la agencia de los sujetos, y sobre todo pone en el centro del análisis el que los Nasa se encuentren situados entre dos mundos. Esta tensión entre responder a los lineamientos establecidos por el Gobierno para elaborar los planes de desarrollo y presentar sus propias propuestas, muchas veces en contravía de los requerimientos gubernamentales, se evidencia en el análisis de los textos de los planes de desarrollo, por cuanto, aunque éstos tienden a responder a los requerimientos del Estado, existe al mismo tiempo otro proceso de planificación para la comunidad, donde priman sus prioridades. Según el autor, este último proceso de planificación ofrece la oportunidad de subvertir el statu quo, al privilegiarse el conocimiento local, tal como se evidencia en el proceso de planificación para la educación y en la concepción de la economía solidaria Nasa, la cual sólo puede entenderse entonces como resultado de esta situacionalidad entre lo tradicional y lo moderno.
Es siguiendo este presupuesto que “En el Cauca el movimiento indígena y sus seguidores sostienen que para que Colombia sea considerada una nación moderna, el Estado debe no solamente acoger la diferencia sino también ser más inclusivo y tratar a toda su gente como ciudadanos con los mismos derechos y deberes” (p. 12), lo cual reitera la condición de los Nasa de encontrarse situados entre dos culturas, de manera que para ellos no basta solamente su reconocimiento étnico sino que demandan al Estado su reconocimiento como ciudadanos con derechos, pero sobre todo exigen reconocimiento y justicia social. Estas demandas de los Nasa trascienden las necesidades económicas, lo cual explica la importancia inusitada que toma la educación bilingüe en las tres comunidades estudiadas como forma de fortalecimiento y recreación de su identidad étnica. Esta importancia conferida a la educación lleva al autor a argumentar que se trata de una forma de contradesarrollo, concepto central del libro que discute en detalle en el capítulo 4 y que en términos generales se refiere a la creación en la localidad de modernidades alternas a la hegemónica. Por otra parte, la educación es definitiva en el establecimiento de las diferencias de las comunidades estudiadas, en cuanto a su proyección como comunidades indígenas en el contexto de la nación colombiana.
Para la comunidad de Tóez Caloto, a una hora en carro por carretera desde Cali, su visión de futuro se enfoca en preparar a los niños para manejar el siglo XXI y, por lo tanto, no enfatiza la preservación de la cultura Nasa sino su reinvención “como un medio para tratar en sus propios términos con la modernidad, ni indígena ni desindigenizada, sino como Nasa modernos” (p. 132).
La comunidad de Juan Tama, ubicada en medio de colonos mestizos, se encuentra lejos de los centros urbanos, en la frontera entre los departamentos del Cauca y del Huila, y usa la educación indígena como la base de lo que en esencia es un proyecto cultural y político, puesto que en su escuela primaria se recrean aspectos y componentes importantes de la cultura Nasa que mantienen unida a la comunidad.
Por su parte, la comunidad de Cxayu’ce, a menos de una hora de Popayán, ha mantenido estrechos vínculos con su comunidad de origen y se identifica como Nasa, sin que medie una posición ideológica al respecto, es decir, no hacen manifiesto un proyecto de reconstrucción indígena como Tóez Caloto, y aunque tiene su propio colegio de primaria, la educación en Cxayu’ce no es una obsesión, como sí lo es en las otras dos comunidades, de manera que los maestros son tanto Nasa como mestizos, y el colegio acepta a todos los niños del lugar que quieran estudiar allí.
En el capítulo 6 el autor amplía su análisis al abordar desde una perspectiva histórica la resistencia indígena en el Cauca, desde el movimiento de la Quintinada de principios del siglo XX dirigido por Quintín Lame, pasando por el Movimiento Armado Quintín Lame de principios de la década de los ochenta, que se desmoviliza en 1991, hasta el establecimiento en 1999 de La María: Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación, ubicado estratégicamente en un alto que mira hacia la Carretera Panamericana. Este último es considerado por el autor como un espacio político alternativo, y sobre todo, como sitio contrapúblico subalterno, en el sentido que le da Nancy Fraser a este término, el cual se legitima al ser presentado por los Nasa como continuación de su larga e histórica lucha por la paz, la justicia y la inclusión, y aun cuando tiene su origen en el movimiento social indígena del Cauca, “busca representar un sector mucho más amplio de la población, conformado por los marginados, los desposeídos y los sin voz, lo cual se constituye en fundamento de lo que puede llegar a ser una forma más justa de desarrollo” (p. 204), evidenciando así la existencia de una “imaginación moral” que permite a los Nasa establecer empatía con las dificultades de otros sectores de la población colombiana. En este orden de ideas, sostiene el autor que La María ha continuado sirviendo como el lugar donde se desarrollan y se ponen en práctica posiciones sobre principios y reformas más amplios que afectan el país como un todo, ejemplo de lo cual es el Plan Alterno del Cauca para el período 2001-2003, correspondiente a la gobernación del indígena guambiano Floro Tunubalá, donde se presentó una propuesta sobre cómo podría reformarse el Cauca como departamento, que fue presentada y discutida en La María. El autor logra con este recorrido en el tiempo y el espacio no sólo presentarle al lector la complejidad de la agenda política, social y cultural del pueblo Nasa sino su importancia como vocero de los sectores marginados del país y como promotor de una política radical de ciudadanía inclusiva.
Por último, quisiera detenerme en el primer capítulo del libro, titulado “Más que unas notas de campo comprometidas: colaboración, diálogo y diferencia”, donde el autor presenta una detallada y amplia reflexión metodológica sobre las implicaciones del trabajo de campo antropológico, por considerar que este capítulo se torna en sí mismo en un documento muy válido para ser utilizado en cursos de metodología de campo, pues desmistifica el trabajo “objetivo y neutral” del investigador y lo trae al plano de la experiencia personal, que muchos de nosotros evitamos tratar a fondo. De una manera muy sincera el autor nos transmite sus sentimientos, contratiempos, dudas y ambigüedades frente a la toma de posiciones, críticas a su trabajo por parte de miembros de la comunidad, peligros al transitar zonas con presencia de actores armados, y otras situaciones que se le presentaron en el desarrollo de su trabajo de campo y con las cuales muchos antropólogos se identificarán. No sólo se refiere al trabajo de campo realizado para este libro sino que nos cuenta experiencias anteriores vividas cuando realizaba su observación participante en una comunidad indígena en Perú y sus dificultades para lograr la confianza de la población, y los malentendidos que se presentaron. En este recorrido personal, el autor retoma reflexiones metodológicas que otros reconocidos antropólogos han hecho sobre el trabajo de campo, y entra a detallar discusiones sobre las notas de campo, el compromiso o no del antropólogo con las comunidades, la antropología aplicada, los talleres comunitarios como lugares para realizar trabajo de campo, la autoridad que se le confiere al investigador o la que éste considera que tiene, así como las decisiones que se deben tomar al escribir la etnografía. En la última parte del capítulo el autor plantea que va a llevar a cabo un trabajo colaborativo tanto con los miembros de las comunidades objeto de estudio como con antropólogos nacionales, como “una forma de investigación moral, comprometida e involucrada pero crítica” (p. 58), la cual también es objeto de discusión al señalar las limitaciones y ganancias que se pueden presentar con el uso de esta metodología, así como a quién beneficia, y la pone a consideración del lector presentando la transcripción de discusiones que tuvo con los dos investigadores indígenas del grupo de investigación en el que participó entre 1999 y 2001, lo cual enriquece aún más este capítulo de reflexión metodológica.
En general, el libro se convierte en una oportunidad para el autor, no sólo de reflexionar sobre su trabajo de investigación como antropólogo sino también como planificador y asesor del desarrollo, por cuanto pudo desempeñarse como consultor del Banco Mundial y de la FAO, entre otros organismos internacionales, lo cual le permite estar bien informado sobre las implicaciones de la implementación de programas de desarrollo, manejar la bibliografía académica al respecto y no sólo ser crítico sino aportar a las discusiones que se han adelantado y se siguen planteando en el tema de la antropología del desarrollo. Vale la pena terminar informando que una traducción del libro al español será publicada en agosto de 2010 por la editorial de la Universidad del Rosario de Bogotá.
María Clemencia Ramírez
Referências
Spivak, Gayatri Chakravorty 1988. “Can the Subaltern Speak?”, en Cary Nelson y Larry Grossberg (eds.), Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana, University of Illinois Press, pp. 271-313. [ Links ]
[IF]
Greening Brazil: environmental activism in state and Society – HOCHSTETLER; KECK (RBH)
HOCHSTETLER, Kathryn; KECK, Margaret E. Greening Brazil: environmental activism in state and Society. Durham (NC): Duke University Press, 2007. 304 p. Resenha de: SEDREZ, Lise. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.29, n.57, jun. 2009.
Com um estilo envolvente e farta documentação, Greening Brazil: environmental activism in state and society promete um estudo ao mesmo tempo amplo e detalhado do ativismo ambiental no Brasil. É uma promessa cumprida com garbo. Usando como fio condutor a transformação da agenda ambiental no Brasil, o livro analisa a interação entre o Estado brasileiro e a sociedade civil. As autoras Kathryn Hochstetler e Margaret Keck já estudam as instituições brasileiras e o movimento ambientalista há mais de duas décadas e, em Greening Brazil, colocam ao alcance do leitor a experiência e o insight acumulados ao longo dos anos, num trabalho ambicioso que sintetiza temas de governabilidade, história ambiental e conexões entre Estado e sociedade civil.
Em publicações anteriores, Hochstetler e Keck já tinham proposto modelos teóricos competentes sobre a gênese da moderna sociedade civil na América Latina. Neste novo livro, no entanto, as autoras se debruçam sobre os mecanismos concretos que deram forma aos processos de desenvolvimento de instituições ambientais, evidenciando ora as potencialidades e contradições desses processos, ora os agentes e alianças que os tornaram possíveis. Traçando narrativas locais e internacionais, Greening Brazil associa o contexto internacional de disputas e acordos ambientais às singularidades da história e da política brasileiras. Nesta perspectiva, as autoras corretamente sublinham a importância de trajetórias e alianças pessoais no funcionamento do Estado brasileiro, assim como o descompasso entre uma legislação ambiental avançada e sua implementação de fato, não tão avançada. Parte do dilema de base, segundo Hochstetler e Keck, se explica pelas constantes reestruturações a que as agências ambientais eram submetidas, as quais continuamente redefiniam o foco de ação para um ou outro aspecto da agenda ambiental. Esse processo de permanente recomeçar trouxe para a esfera pública elementos de incerteza e indefinição que os atores políticos precisavam levar em conta ao alocar esforços e recursos.
Para os leitores americanos, seu público alvo, Hochstetler e Keck dissecam os diversos níveis da burocracia brasileira e suas transformações ao longo dos anos, transpondo quando possível agências e títulos para os similares americanos. Não é uma tarefa menor, já que alguns – ou vários – aspectos desse sistema legal e administrativo são obscuros mesmo para brasileiros, e já que várias das transformações citadas no livro, como a expansão de direitos coletivos e a criação do Ministério Público, foram conquistas quase revolucionárias no processo de formação da sociedade civil no Brasil. Nessas análises, a contribuição de Hochstetler e Keck é valiosa não só para leitores interessados em meio ambiente e governabilidade, mas também para um público mais amplo que estude o funcionamento do Estado brasileiro.
As autoras organizaram o livro cronológica e tematicamente. Os primeiros três capítulos discutem o estabelecimento de agências ambientais governamentais e não governamentais desde 1950, identificando três fases (ou ondas) de ativismo ambiental. A primeira fase, influenciada por um nacionalismo desenvolvimentista que se prolonga até a década de 1970, deu origem às mais antigas organizações conservacionistas brasileiras e várias instituições de pesquisa ambiental, e formou a geração que criou as primeiras instituições ambientais governamentais. A segunda fase cobre o período de liberalização política que se inicia em 1974 e continua até meados dos anos 80. Nesse período emergiram organizações ambientalistas mais militantes, “socioambientalistas”, de certa forma inseridas no quadro mais amplo de pressões exercidas pela sociedade civil brasileira pela melhoria de condições sociais e por maior democracia. Um terceiro período, a partir da Constituição de 1988, caracteriza-se pelo desafio triplo de restauração democrática, crise econômica e aumento exponencial do contato com agências e ativistas internacionais, um movimento que continua até o presente.
Os últimos dois capítulos são desenvolvidos paralelamente a essa identificação das “três ondas” do ambientalismo brasileiro, em estudos de caso sobre florestas e ambiente urbano, os dois pólos que constituem, nem sempre harmonicamente, a base da agenda ambiental brasileira. É um fecho oportuno – e necessário. Se por um lado a questão da Amazônia foi e é fundamental para o ambientalismo brasileiro, por outro lado a partir de meados dos anos 80 cerca de 40% de todas as organizações ambientais no Brasil, governamentais ou não, eram voltadas para problemas ambientais urbanos – uma consequência da característica majoritariamente urbana de 80% da população brasileira, incluindo os ambientalistas.
Uma das contribuições de Greening Brasil é seu entendimento de políticas ambientais como inseridas no contexto político brasileiro maior, e não isoladas ou um fim em si mesmas. Nesse sentido, e diferentemente de experiências em outros países, as autoras ressaltam a importância da politização do ativismo ambiental – neutralidade política não era uma opção se o ambientalismo buscava se legitimar no quadro político brasileiro. Porém, não obstante a importância de atores domésticos, o livro enfatiza também o papel de atores transnacionais, brasileiros ou não. Talvez o papel da iniciativa privada, que em parte resistia à agenda ambiental, e em parte se apropriava desta para fins de relações públicas, tenha sido pouco desenvolvido no livro. E talvez algumas vezes o acompanhamento dos ativistas ao longo de décadas tenha sido menos frequente e evidenciado do que os leitores gostariam, haja vista a importância que as autoras dão às trajetórias pessoais no desenvolvimento de políticas ambientais públicas. Mas em geral, Greening Brazil é uma obra fundamental para a história do ambientalismo brasileiro, trazendo à luz fontes inestimáveis como entrevistas com Chico Mendes e Herbert de Souza, o Betinho. De fato, o longo envolvimento de Hochstetler e Keck no ambientalismo brasileiro as torna, tal qual seus entrevistados, atores da narrativa que construíram em seu livro.
Lise Sedrez – Professora Assistente de História da América Latina, California State University, Long Beach. 1250 Bellflower Boulevard, Long Beach, CA 90830-1601. E-mail: lsedrez@csulb.edu; www.sedrez.com.
[IF]The Cord Keepers. Khipus and Cultural Life in a Peruvian Village – SALOMON (C-RAC)
SALOMON, Frank. The Cord Keepers. Khipus and Cultural Life in a Peruvian Village. London: Duke University Press, 2004. 331p. Resenha de: PLATT, Tristan. Chungara – Revista de Antropología Chilena, Arica, v.39, n.2, p.285-286, dic. 2007.
Enderezando al vapor un torcido palo de aliso, un fabricante de varas en Tupicocha (un pueblo histórico en la precordillera limeña) explicó su procedimiento mediante una comparación. El etnógrafo traduce: “la ‘costumbre’ endereza lo que [Isaiah] Berlin llamó (siguiendo a Kant) la ‘madera torcida de la humanidad'”. Tales interpolaciones autoriales son características del estilo hermenéutico de Frank Salomon: busca la frase inglesa o la teoría noratlántica que mejor se ajusta a las intenciones lingüísticas o culturales andinas. Y la idea de “ajustarse” una cosa con otra expresa un ideal generalizado en la civilización andina, que Salomon hace suyo: así como las superficies irregulares deben ser raspadas o moldeadas para que puedan juntarse sin desigualdad, las diferentes ideas y formas lingüísticas deben encontrar su equivalencia mediante la traducción acertada, y los cuerpos campesinos deben recombinarse simétricamente en contextos sociales productivos mediante la propiciación del equilibrio y la participación equitativa. Tal estilo de cultura democrática busca acuerdos sobre una necesaria disciplina creativa: la equivalencia y la jerarquía están cada cual al servicio de la otra; los ideales compartidos de comportamiento social (“la ‘costumbre'”) canalizan el flujo errático de las inclinaciones individuales bajo los vigilantes ojos de las autoridades comunitarias elegidas cada año. La necesidad de reglamentar el servicio y la responsabilidad comunitarios, modelando de antemano la colaboración social y dejando constancia de ella después, ha sido, según el argumento de Salomon, un motor fundamental detrás del desarrollo del arte del khipu en Tupicocha. Este nuevo libro de Frank Salomon marca un hito en el estudio de los Andes y de la literacidad comparativa. En primer lugar, es una etnografía del uso y performance del khipu en una comunidad actual que, contra todo lo que podría esperarse, sigue poseyendo y manipulando en contextos ceremoniales un conjunto de estos enigmáticos “manojos de cuerdas anudadas” (como los llamaba un notario en el siglo XVI), uno (antes dos) para cada uno de los diez ayllus (grupos corporativos patrilineales) que conforman la comunidad. Y es el contexto del uso cultural lo que ha faltado, precisamente, en los análisis de los especímenes conservados en los museos. Así aprendemos, por ejemplo, que los quipo-camayos [sic] se envuelven alrededor de los cuerpos de las autoridades de los ayllus durante las fiestas de comienzos del año, indicando su continuidad con los sistemas significativos de los tejidos. Encarnando el proyecto colectivo de comunidad, sostienen y legitiman la autoridad de cada nuevo representante de ayllu.
El descubrimiento de khipus en plena acción en una moderna aldea andina es doblemente sorprendente, porque Tupicocha se sitúa en el centro del antiguo “archipiélago vertical” de Checa, uno de los cinco “miles” (waranqa) incaicos que conformaron Huarochiri (Bajo Yauyos). Todos se mencionan en el famoso “Manuscrito de Huarochiri”, escrito en quechua del siglo XVII temprano, que ya fue editado y traducido al inglés por Frank Salomon y George Urioste (Texas 1991 [1608]). Además, Tupicocha también posee archivos comunitarios y privados, e incluso 128 libros manuscritos que registran los acontecimientos de la vida comunitaria desde 1870 hasta el presente, desautorizando totalmente los antiguos estereotipos liberales, aún corrientes, sobre el “campesino analfabeto”. Estos libros serán objeto de un tercer trabajo sobre el crecimiento de la literacidad vernacular y las prácticas gráficas en Tupicocha, en cuanto la escritura alfabética sólo terminó reemplazando la literacidad de los khipus después de la guerra chilena del Pacífico. Muestran nuevamente que los programas modernos de alfabetización diseñados en ignorancia de las formas preexistentes de literacidad simplemente carecen de sentido (como ha argumentado Brian Street para el caso de Iran).
Salomon está consciente de la oportunidad y la responsabilidad que le ha sido asignada por este azar de la historia. Muestra cómo la comunidad entera se involucró en la investigación, especialmente el joven Nery Javier, encargado por su bisabuelo desde su lecho de muerte con la conservación del arte del khipu. Hoy, los guardianes de las cuerdas ya no las saben leer, y tampoco las construyen y reconstruyen para nuevos propósitos actuales; al mismo tiempo, han llegado a ser emblemáticos de la identidad tupicochana en el Perú de Toledo. Salomon ha intentado responder a las preocupaciones de los aldeanos, y también trabajar con ellos para producir una amplia reconsideración teórica del “problema de los khipus”.
Los resultados son emocionantes. Los khipus incaicos se sitúan al lado de otras formas semasiográfi-cas de inscripción (la semasiografía registra información independientemente del habla de cualquier idioma específico), empleadas por otros “Estados tempranos”, tales como el proto-Cuneiforme que, según Peter Da-merow, debería considerarse no como “un intento defectuoso de representar el habla, sino como intentos exitosos de representar conocimientos”. En el caso de los khipus, la iconicidad está siempre presente en la disposición de los conjuntos de datos que contienen, enunciando y “ajustándose” a la estructura de las acciones sociales. Así, en tiempos pasados fueron continuamente anudados y re-anudados en Tupicocha para actualizar determinados planes de acción; por ejemplo, la mobilización de equipos de trabajo colectivo. Las cuerdas pendientes se cambiaban de posición a lo largo de la cuerda principal (el nudo con que se ata cada cuerda es un simple hitch, fácilmente suelto para dejar pasar las cuerdas intermedias), o simplemente eran quitadas y reemplazadas; los khipus de Tupicocha están llenos de huellas de tales manejos (“rellenos, cosidos, la anudación de cuerdas pendientes por la mitad, y la superposición de cuerdas añadidas”): uno aprende a percibir el conjunto abierto de técnicas utilizadas por los dedos ágiles de los guardianes para relacionar y revisar información. La idea de una correspondencia exacta con una realidad emergente incluso da lugar al uso ritual de los khipus como oráculos (khipumancia). Y Salomon interpreta esta relación entre la estructura del khipu y la realidad no-linguística como evidencia para un “camino no tomado” en el Mundo Antiguo, que en una opción cultural de trascendental importancia ha preferido generalmente en-fatizar la “fijeza” y la posibilidad de una “equivalencia hablada” como rasgos definitorios de la “escritura”, en lugar de la modelación flexible y los ajustes constantes entre realidades materiales que encontramos en Tupicocha.
Las ideas claves de Salomon -simulación, modificación y constancia- pueden ser extendidas, por ejemplo, a las “secuencias de acciones” necesarias para cantar hazañas pasadas, estableciendo la secuencia temática de canciones dentro de una serie mayor. Precisamente esta función “historiográfica” es realizada hoy por las cuerdas anudadas utilizadas por algunos grupos amazónicos, por ejemplo, los Yagua del Perú, que aparentemente conmemoran batallas intertribales que remontan muchas décadas, e incluso siglos, antes del presente (Chaumeil 2005). ¿Acaso su funcionamiento puede echar luz sobre los khipus llamados “históricos” en las fuentes tempranas? Quizás sea prematuro ver las “estructuras elementales de la literacidad-ttfpu” en las prácticas amazónicas, pero a la luz de los hallazgos de Salomon es posible que las primeras cuerdas fuesen efectivamente desarrolladas independientemente, antes de atarse en grupos a una cuerda principal.
Entonces, si no podemos esperar saber todo lo que se esconde en los antiguos khipus, desprovistos de contexto, que yacen en los museos, podemos ahora preguntar cómo, por qué, y qué cosas podrían haber simulado, y a través de qué transiciones los ajustes colectivos al nivel local se transformaron en las “estadísticas frías” de la administración fiscal estatal. Leer el trabajo de Salomon es encontrar que, de repente, las puertas se han abierto tanto para el estudio de los khipus como para la teoría de la inscripción. En cuanto a los tupicochanos, el antropólogo ha merecido su confianza: son asombrosos la cautela y el rigor de la argumentación que conduce a la lectura experimental del khipu M-01. Pero el resultado es otro fruto más en la cornucopia ofrecida por este libro extraordinario, que nos enseña que, a nivel local, no es tanto que los khipus se refieren a aspectos de la vida social cotidiana según un código congruente con las estructuras del habla, sino más bien que la gente debía vivir los patrones sociales silenciosamente preencarnados por los khipus. La exploración de la iconicidad de los khipus como conjuntos de datos, utilizando las percepciones ofrecidas por Salomon, pueden todavía enseñarnos a mirar de otra manera lo que yace delante de nuestros ojos. Quizás resulte (para parafrasear el epígrafe sugerente de John Murra) que el arte del khipu “no está perdido: sólo ahora se está reencontrando”.
Referencias
Chaumeil, J.P. 2005 Mémoire nouée: les cordelettes á Noeuds en Amazonie. En Brésil Iridien. Les Arts des Amérindiens du Brésil. Paris, Galeries Nationales du Grand Palais (21 March-27 June).
Salomon, F. y G. Urioste 1991 [1608] The Huarochiri Manuscript. Texas.
Tristan Platt – University of St Andrews. Scotland, U.K. E-mail: tp@st-andrews.ac.uk
[IF]
The Fame of Gawa. A symbolic study of value transformation in a Massim (Papua New Guinea) society – MUNN (IA)
MUNN, Nancy D. The Fame of Gawa. A symbolic study of value transformation in a Massim (Papua New Guinea) society. Durham/London: Duke University Press, 1992. 331p. Reimpresión del original de 1986. Resenha de: MASSON,Laura E. Intersecciones en Antropología, Olavarría, n.4, ene./dic., 2003.
INTRODUCCIÓN
Mencionar el circuito Kula siempre fue para los antropólogos una referencia natural y obligatoria a Bronislaw Malinowski (1973 (1922)). Después de la publicación de The Fame of Gawa. A symbolic study of value transformation in a Massim (Papua New Guinea) society esta referencia debe hacerse extensiva al valioso y original aporte de Nancy Munn. La trascendencia de este libro, publicado originalmente hace casi dos décadas y aún no traducido al español, radica en que concentra varias preocupaciones contemporáneas de la antropología, sin duda poco discutidas en Argentina. Desde una lectura fenomenológica de la teoría de la práctica, The Fame of Gawa presenta una mirada diferente de los modelos de intercambio del clásico circuito Kula. Munn aborda aspectos tales como la construcción sociocultural del espacio y el tiempo, los problemas políticos y morales de la jerarquía y la igualdad, y la descripción de procesos de creación de valor en un espacio inter-islas. El análisis incorpora una perspectiva de género que reconoce la influencia de Annette Weiner (1976), quien renovó los estudios antropológicos de la región Massim e introdujo esta perspectiva a las discusiones sobre el kula. Mientras que Malinowski realiza su análisis a partir de la/s institución/es, Munn prefirió hacerlo partiendo del valor simbólico de las prácticas sociales. El relato se destaca por su coherencia interna. Así, su preocupación por la totalidad se refleja tanto en el análisis de la producción de valor en Gawa, como en la estrategia de construcción y presentación del argumento.
El libro se divide en cuatro partes. La primera está dedicada a la exposición del marco conceptual donde son definidos los conceptos claves para el desarrollo de un modelo antropológico sobre la creación y la transformación del valor en Gawa -pequeña isla del nordeste, de la región Massim de Papua Nueva Guinea-. El objetivo último de Munn es construir un modelo antropológico de la práctica como proceso simbólico partiendo del análisis de un caso etnográfico. Analiza la construcción del “mundo inter-islas Gawan” como parte de un proceso más amplio de creación de valor a través del cual los miembros de esa sociedad están comprometidos en la construcción y control de sí mismos y de su mundo social. En términos metodológicos la autora manifiesta moverse desde formas abiertas de acto (“mera facticidad”) a “relaciones internas” que dan formas significantes a los actos y especifican la naturaleza del valor producido. Dicho movimiento se da a través del análisis y explicación de significados culturales implícitos en las prácticas. Práctica (y/o acción) social son conceptos claves en la obra de Munn, lo cual resulta interesante en un análisis de porte estructuralista. Según Munn su trabajo “joins phenomenological and certain kinds of structuralist emphases frequently regarded as mutually exclusive”.
En la Parte II, Food transmission and spatiotemporal transformation, Munn se dedica a analizar la formación dialéctica del sistema simbólico de significados constituida a partir de determinadas prácticas sociales que tienen la capacidad de producir resultados, lo cual determina su valor o su proporción diferencial de potencia para crear un resultado. En el caso Gawa, este resultado sería la capacidad relativa de las prácticas para expandir el control espaciotemporal de los actores y de la comunidad como un todo. El acto creador de valor por excelencia es la transmisión de comida. Su opuesto, el consumo directo por parte del productor, no sólo reduce el tiempo de duración de la comida, sino quedestruye su potencial de creación de valor. A partir de esta dialéctica básica la autora analiza la relación de hospitalidad kula (skwayobwa) -considerada la base del intercambio kula-, el intercambio kula y el tipo de conversiones subjetivas posibles a partir de un acto de transmisión de comida, teniendo en cuenta que la persuasión es inherente al acto de dar comida. En las relaciones de hospitalidad, la comida es la persuasión no verbal y está en el centro de la relación. Mientras que en el intercambio kula el medio más importante de persuasión es el habla, actividad productiva necesaria para obtener “shells”. En este caso “habla” se opone a “comida”. La capacidad de persuadir y de tener un control más allá de si mismo, se refleja en el énfasis de la noción de recordar -los Gawans conectan el recuerdo con el acto de transmitir-.
Los intercambios kula crean, con sus viajes, un espacio-tiempo emergente que trasciende las transacciones inmediatas. Así, prácticas tales como hablar, recordar, olvidar, etc., son de vital importancia en la producción de un mundo común donde el resultado deseado depende de la habilidad de persuasión del dador. En el capítulo 5, Fame, Munn define a la fama como una conversión subjetiva positiva a través de una transacción particular, que deriva de un conocimiento externo de un otro distante a la transacción. Es un potencial de influencia sobre los actos de una tercera parte. Como código icónico y reflexivo la fama es una forma virtual de influencia, a través de la cual el actor se conoce a sí mismo, siendo conocido por otros. Este tipo de interpretaciones pone de manifiesto el carácter relacional del análisis de Munn, ejemplifica la coordinación de experiencias para la construcción de un mundo común inter-islas y apoya su supuesto de que la trama de significados constituye la existencia humana y que la realidad social es fundamentalmente simbólica.
Los valores positivos y negativos producidos en la tensión dialéctica del sistema simbólico en relación al consumo y transmisión de comida emerge en otros contextos bajo la forma de signos corporales denominados “qualisigns”. Existe una relación entre actos de comida y cualidades del cuerpo. Por ejemplo, comer mucho produce sueño. La pereza del cuerpo se convierte en un ícono de la negatividad de este espacio-tiempo intersubjetivo creado por el consumo como opuesto a la transmisión de comida. Esta relación entre los actos de comida y determinadas características son un reflejo de lo que la autora denomina un nexo subyacente de significados que es clave para entender la transformación del valor en Gawa y que actúa en diferentes contextos. La autora propone pensar el nexo (entire nexus) como una fórmula icónico-causal subyacente formada en la potencialidad del modelo de acción, el cual emplea tensiones dinámicas entre valores positivos y negativos en el proceso de formación del self y del self-other. Munn denomina a ese nexo relacional un patrón (template) o esquema generativo, intentando transmitir el sentido de una guía, una fórmula generativa que subyace y organiza significados en diferentes procesos o formaciones simbólicas abiertas, y que está disponible como una forma constructiva implícita para el manejo de la experiencia.
Partiendo del argumento de que este patrón gobierna tres ciclos de intercambios centrales, la Parte III del libro -“Exchange and the value template”- está dedicada al análisis de los intercambios matrimoniales, intercambios mortuorios y entretenimientos comunitarios, cada uno formando un modo particular de espacio-tiempo intersubjetivo. Para el último caso Munn analiza los dos entretenimientos comunitarios básicos: danza Drum y Comb, concentrándose primariamente en las formaciones simbólicas básicas de las transformaciones de valor positivas en ambas danzas puntualizando la manera en que los Gawans aseguran que éstas pueden ser socavadas por actos negativos. Por lo tanto estas prácticas están directamente ligadas a la demostración y mediación de jerarquía. Los intercambios mortuorios, por ejemplo, se caracterizan por los qualisignos de valor de los ritos, ítems del cuerpo decorado, directamente ligados al cuerpo de los participantes y en ciertas ocasiones intercambiados entre ellos. En ambos ciclos de intercambio, totalidad y jerarquía-igualdad son aspectos que aparecen implícitos en las prácticas, pero son puestos en evidencia con gran claridad en el Capítulo 6, dedicado al análisis de los intercambios matrimoniales. Los parientes del lado femenino dan comida, los parientes del lado masculino dan una canoa. La pareja nodal actúa como una unidad, es el tercer elemento que ofrece un lado diferente de los otros dos y hace de ellos una unidad (similaridad con el prerrequisito ternario del intercambio kula). A su vez el intercambio de la canoa debe ser considerado, según Munn, como parte del sistema kula inter-islas.
Las ideas de totalidad e igualdad están íntimamente relacionadas entre sí. La sociedad Gawa es fundamentalmente una sociedad igualitaria, donde cada individuo tiene autonomía, pero a su vez esta autonomía debe ser limitada a fin de que no ponga en peligro la igualdad. En este punto es donde juega un rol preponderante lasubversión del valor positivo simbolizada en las prácticas de brujería. Las brujas son identificadas con lo femenino, siendo una de las posibilidades de regular la jerarquía entre los géneros dentro del sistema Gawa. El patrón subyacente no sólo posee una tensión dialéctica entre valores positivos y negativos, sino que también tiene la posibilidad de subvertir un valor positivo en caso de que éste amenace el principio de igualdad.
El modelo totalizante presupone pares de opuestos que no se limitan a la elaboración de una lógica de oposiciones binarias como en el estructuralismo levistraussiano, sino que son concebidos desde una perspectiva Dumontiana de englobamiento del contrario y actúan dentro de una estructura generativa de valor. En este último aspecto es donde el aporte de Munn resulta más significativo. Las definiciones de género de las conchas kula, modelo de las relaciones políticas entre hombres y mujeres, son un buen ejemplo. El hombre debe influenciar a la mujer para ganar su consentimiento para los fines masculinos. El elemento femenino es visto como un lugar independiente de control que tiene que ser influenciado. En este contexto la “superordenación” del elemento femenino es evidente. Pero la polarización de género masculino y femenino es englobada por un orden más comprensivo. Desde que en el kula un collar debe ser convertido en brazalete y viceversa, cada objeto produce al otro, conteniendo su opuesto una potencialidad de él mismo. A través de la potencialización mutua en la circulación actual, las conchas crean una totalidad autoperpetuante.
Lo que trata de mostrar Munn en este proceso es la igualdad de los principios femenino y masculino cuyas asimetrías son resueltas en términos de la mutua necesidad y potencialización actual de cada uno en un proceso circular reversible. Munn logra dar una visión integral de la vida social de ese grupo, tratando la realidad como fundamentalmente simbólica y basada en la supuesta existencia de un esquema subyacente generativo que actúa en varios contextos del mundo Gawa. Al considerar a la existencia humana como una trama de significados, todas las prácticas y entidades incluidas en ella tienen la misma importancia analítica -sean materiales como comida o canoa, o inmateriales como fama- en tanto todas son prácticas significantes.
El modelo elaborado por Munn parece ponerse verdaderamente a prueba en el último capítulo del libro: “Didactic speech, consensus, and the control of witchcraft”, donde la autora admite, aunque no explícitamente, que la sociedad Gawa no es una mónada cerrada como parecía mostrar su análisis hasta este momento. En este capítulo Munn analiza un conflicto que se desata en la comunidad como consecuencia de la construcción de una escuela. En capítulos anteriores menciona la actuación dentro de la comunidad de padres pertenecientes a la Iglesia, pero sin especificar nada acerca de cómo se produjo la inserción de estas “nuevas autoridades” dentro de las prácticas religiosas de Gawa y qué significado adquirió la Iglesia en la creación de ese mundo simbólico (para una crítica acerca de los estudios antropológicos sobre cristiandad y religiones nativas ver Barker 1993). A pesar de que el conflicto presenta elementos que hasta ese momento no aparecían en el análisis y que son “externos” a ese todo integrado planteado por Munn, la explicación del mismo reproduce la lógica de análisis utilizada en otro tipo de prácticas en Gawa. El cambio sólo es concebido como una transformación de un estado posible a otro (de un estado negativo para uno positivo). El conflicto es explicado como un problema de coordinación espacio-temporal que repercute sobre los valores del esquema de producción de valor dominante en Gawa. Por lo tanto, el elemento dinámico –esquema generativo– y el énfasis en lo vivido se reducen a posibilidades de transformación, pero nunca de cambio. Plus ça change, plus c’ est la meme chose?
Referências
Barker, J. 1993. Christianity in Western Melanesian Ethnography. En: Conversion to Christianity: Historical and Antropological Perspectives on a Great Transformation, editado por Robert Hefner. University of California Press, Berkeley. [ Links ]
Malinowski, B. 1973 (1922) Los argonautas del Pacífico Occidental. Península, Barcelona. [ Links ]
Weiner A. 1976 Women of Value, Men on Renown. University of Texas Press, Austin. [ Links ]
Laura E. Masson – Departamento de Antropología Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Olavarría, Buenos Aires, Argentina. Av. Del Valle 3757, Olavarría (7400). E-mail: lmasson@soc.unicen.edu.ar
[IF]
Race/ Place/ and Medicine:The Idea of the Tropics in Nineteenth-Century Brazilian Medicine | Julyan G. Peard
Esse livro oportuno e bem escrito ilumina partes da ciência brasileira que até recentemente haviam permanecido esquecidas — tal como a Escola Tropicalista Bahiana que constitui o centro da pesquisa —, apesar mesmo da considerável bibliografia já produzida sobre a ciência e a medicina coloniais, quase sempre sinônimo de medicina tropical, que entretanto raramente consideraram os países latino-americanos pois já eram nações independentes nos períodos focalizados por essa historiografia.
Julyan Peard rejeita a antiga interpretação de que a ciência no Brasil era inexistente ou pouco significativa anteriormente ao século XX. Com uma respeitável coleção de fontes primárias e secundárias, ela conta aos leitores uma história diferente e agradável sobre a Escola Tropicalista Bahiana, que se iniciou previamente à revolução bacteriológica e à grande expansão colonial européia. Em suas palavras: “um grupo de médicos no século XIX no Brasil, visando adaptar a medicina ocidental para melhor atacar questões específicas desse país tropical, buscaram novas respostas para a velha questão de se as doenças de climas quentes seriam ou não distintas daquelas da Europa temperada. Em sua busca, usaram os instrumentos da própria medicina ocidental para se contrapor às idéias a respeito da fatalidade dos trópicos e de seus povos, e reivindicaram a competência brasileira”. Leia Mais
Negotiating national identity: immigrants/ minorities/ and the strugle for ethnicity in Brazil | Jeffrey Lesser
Negotiating national identity é o mais recente livro de Jeffrey Lesser, historiador norte-americano que construiu uma justificada reputação como especialista no tema da imigração, ocorrida entre finais do século XIX e primeira metade do XX, para o Brasil. Nesse livro, Lesser examina como imigrantes não-europeus e seus descendentes negociaram publicamente suas identidades como brasileiros. Examinando suas posições, expressas em língua portuguesa, Lesser mostra de que maneira e com que objetivos esses imigrantes e seus descendentes debateram com políticos e intelectuais brasileiros.
Assim, os agentes engajados neste debate são lideranças políticas e intelectuais, tanto brasileiras quanto imigrantes, que se debruçaram sobre uma variedade de temas e problemas. Os primeiros perguntavam-se sobre o quanto era desejável a imigração de determinadas populações para o Brasil, refletiam sobre a capacidade de assimilar determinadas populações, julgavam-nas do ponto de vista de raça e civilização etc. Para os últimos, esteve em jogo a defesa de um lugar positivo para si na economia e na sociedade brasileiras, as reformulações das noções de “brasilidade”, a valorização dos laços, reais ou imaginários, estabelecidos com o Brasil etc. Leia Mais
Millenarian vision, capitalist reality: Brazil’s Contestado Rebellion, 1912-1916 | Todd A. Diacon
Resenhista
Maria Amélia Alencar – Professora do Departamento de História da Universidade Federal de Goiás.
Referências desta Resenha
DIACON, Todd A. Millenarian vision, capitalist reality: Brazil’s Contestado Rebellion, 1912-1916. Durham and London: Duke University Press, 1995. Resenha de: ALENCAR, Maria Amélia. História Revista. Goiânia, v.2, n.1, p. 161-165, jan./jun.1997. Acesso apenas pelo link original [DR]




