Posts com a Tag ‘Cinema’
Povo em lágrimas, povo em armas | Georges Didi-Huberman
Georges Didi-Huberman | Imagem: Consulta Cinema
Um gesto de lamento. Uma mão crispada em luto torna-se uma mão levantada em riste. A lamúria converte-se em ato de revolta. Essa dinâmica, presente em Bronenosets Potyonkim (O Encouraçado Potemkin, URSS, 1925), é o motor que aciona a análise nas páginas do mais recente livro publicado em língua portuguesa de Georges Didi-Huberman. Classificar o livro é árdua tarefa, assim como talvez seja classificar seu escritor.
O autor já foi chamado de historiador de arte, teórico da arte, simplesmente historiador e, mais recentemente, filósofo. A obra em questão consiste em uma coletânea de ensaios sobre cinema-história, além de um compêndio de teoria-metodologia de análise da imagem, cujo objeto é o cinema de Serguei Eisenstein. A força motriz dessa reflexão é a dialética contida na sequência descrita nas linhas iniciais, retomada várias vezes durante a obra – movimento contido no próprio título: Povo em lágrimas, povo em armas. 2 Leia Mais
Steinbeck y México. Una mirada cinematográfica en la era de la hegemonía estadounidense | Adela Pineda Franco
A pesar de que existe una amplia bibliografía sobre el escritor estadounidense John Steinbeck, todavía no había un estudio especialmente dedicado a su relación con México. Steinbeck y México. Una mirada cinematográfica en la era de la hegemonía estadounidense hace una indudable aportación, en la medida en que las obras del escritor es ta do uni den se representan uno de los aspectos más importantes de las relaciones culturales entre México y Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Con una formación solvente en lo que a estudios culturales se refiere,1 Adela Pineda Franco, profesora de Literatura y Cine Latinoamericano en la Boston University presenta aquí una versión ampliada de un ensayo sobre el mismo tema publicado en 2016.2 El libro establece una relación cercana entre el cine, la literatura y la política en aquellos años. Por una parte, la manera en que la literatura de Steinbeck ofrece una visión sentimental de la gran depresión en Estados Unidos. Y por otra, las relaciones entre México y Estados Unidos en materia política a través de la cinematografía en los años cuarenta, destacando el papel del escritor estadounidense en las relaciones culturales entre México y Estados Unidos.
Steinbeck y México traza un análisis de la obra y trayectoria de John Steinbeck, partiendo de los años treinta y proyectándolo hasta los años sesenta. Traza un arco complejo que abarca momentos muy diferentes en la posición del escritor estadounidense: desde que era un escritor progresista cercano al cardenismo y crítico de la crisis económica del capitalismo en los años treinta, hasta la figura del defensor de la política de su país en la contención del comunismo en los años sesenta. Y a lo largo de este periplo, también una valoración de las relaciones de Estados Unidos con el cine y la literatura sobre la visión de lo social en años cruciales, que van desde la depresión económica a la Guerra Fría. En ese sentido, Steinbeck construyó en la comunidad indígena mexicana (La perla, ¡Viva Zapata!) una suerte de alternativa idílica a la modernidad y la sociedad de consumo que le confirió un carácter de “intelectual trasnacional”, comprometido a la vez contra el fascismo y el comunismo (p. 24). Leia Mais
De Hollywood a Aracaju: antinazismo e cinema durante a Segunda Guerra Mundial | Andreza Maynard
A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) é um tema bastante explorado pelas produções cinematográficas. Filmes sobre as batalhas contra o nazismo, os horrores dos campos de concentração e histórias de sobreviventes e personagens importantes do período são lançados, constantemente, conquistando o público e premiações como o Oscar e o Globo de Ouro. II O fato é que o cinema tem a capacidade de transportar os telespectadores para diferentes tempos e espaços, servindo como divertimento, fonte de informação e despertando a curiosidade e os sentidos.
Tais características estiveram presentes ao longo da história do cinema, destacadamente, durante a Segunda Guerra Mundial, quando inúmeras películas foram produzidas para retratar o horror da guerra e combater o nazismo. E é justamente disso que trata o livro De Hollywood a Aracaju (2021) da historiadora Andreza Maynard. III Fruto da sua tese de doutorado, a obra analisa a recepção dos filmes antinazistas em Aracaju durante a Segunda Guerra, discutindo “o processo de construção de sentido a respeito do conflito e dos inimigos do Brasil, os nazistas, durante os anos da Guerra” IV Leia Mais
L’Italia sullo schermo. Come il cinema ha raccontato l’identità nazionale | Gian Piero Brunetta
Gian Piero Brunetta, 2017 | Foto: Radio Buet.It
Dalla pubblicazione dei primi pioneristici lavori di Pierre Sorlin e Marc Ferro alla fine degli anni Settanta1, studiosi di diversa formazione si sono interrogati sui complessi legami che uniscono cinema e storia, alimentando un dibattito che anche in Italia ha prodotto risultati di grande valore scientifico2 e che ultimamente ha portato, almeno in parte, al superamento delle «antinomie ed interferenze tra questi due mondi»3. Tra i protagonisti di questa stagione di studi, Gian Piero Brunetta, emerito di storia e critica del cinema presso l’Università di Padova, è sicuramente quello che per primo ha tentato di instaurare un dialogo con gli storici per dimostrare l’importanza non secondaria del cinema quale luogo privilegiato per comprendere la storia del XX secolo. Lo testimoniano le numerose monografie sulla storia del cinema italiano in cui lo studioso ha affiancato ai suoi iniziali interessi per la critica e il linguaggio filmico la ricostruzione storiografica dei contesti produttivi, delle forme della fruizione e del ruolo culturale svolto dal cinema nella società4.
 In questo filone di ricerca si inserisce il volume in oggetto, nei fatti la rielaborazione di alcuni saggi pubblicati dall’autore nel corso della sua lunga carriera, opportunamente aggiornati ala luce dello stato dell’arte e integrati da scritti inediti. Pur caratterizzati da approcci analitici differenti i quindici capitoli del testo muovono dal comune tentativo di comprendere come il «cinema abbia letto la storia d’Italia, ne abbia saputo cogliere i caratteri identitari e le trasformazioni nel corso del tempo e come sia variato il suo uso pubblico da parte di soggetti diversi che si sono serviti del mezzo filmico per scopi molto differenti»5. L’autore, infatti, considera la storia un elemento strutturale del cinema italiano, che si differenzierebbe dalle altre cinematografie proprio per una più pronunciata e precoce vocazione a divenire narratore di eventi storici, colti in un passato, anche remoto, o rappresentati nel momento stesso del loro accadere, come nel caso paradigmatico del cinema neorealista. Tesi, questa, argomentata con chiarezza fin dalle prime pagine del volume, attraverso l’adozione di prospettive che tendono a inquadrare i temi trattati nel loro sviluppo diacronico e in una dimensione comparata, per cogliere le influenze e le interferenze tra il cinema italiano e le altre cinematografie nazionali o i nessi intertestuali tra le pellicole e altri prodotti culturali. Ampia la tipologia di fonti utilizzate: documentari e pellicole di fiction su tutte, ma anche articoli di riviste e periodici, monografie specialistiche, scritture autobiografiche e memorie; insomma, tutti quegli elementi che permettono allo storico di ricostruire «le forze e gli agenti contestuali» che allargano «in più direzioni le capacità significanti» della singola produzione filmica6. Leia Mais
In questo filone di ricerca si inserisce il volume in oggetto, nei fatti la rielaborazione di alcuni saggi pubblicati dall’autore nel corso della sua lunga carriera, opportunamente aggiornati ala luce dello stato dell’arte e integrati da scritti inediti. Pur caratterizzati da approcci analitici differenti i quindici capitoli del testo muovono dal comune tentativo di comprendere come il «cinema abbia letto la storia d’Italia, ne abbia saputo cogliere i caratteri identitari e le trasformazioni nel corso del tempo e come sia variato il suo uso pubblico da parte di soggetti diversi che si sono serviti del mezzo filmico per scopi molto differenti»5. L’autore, infatti, considera la storia un elemento strutturale del cinema italiano, che si differenzierebbe dalle altre cinematografie proprio per una più pronunciata e precoce vocazione a divenire narratore di eventi storici, colti in un passato, anche remoto, o rappresentati nel momento stesso del loro accadere, come nel caso paradigmatico del cinema neorealista. Tesi, questa, argomentata con chiarezza fin dalle prime pagine del volume, attraverso l’adozione di prospettive che tendono a inquadrare i temi trattati nel loro sviluppo diacronico e in una dimensione comparata, per cogliere le influenze e le interferenze tra il cinema italiano e le altre cinematografie nazionali o i nessi intertestuali tra le pellicole e altri prodotti culturali. Ampia la tipologia di fonti utilizzate: documentari e pellicole di fiction su tutte, ma anche articoli di riviste e periodici, monografie specialistiche, scritture autobiografiche e memorie; insomma, tutti quegli elementi che permettono allo storico di ricostruire «le forze e gli agenti contestuali» che allargano «in più direzioni le capacità significanti» della singola produzione filmica6. Leia Mais
A História vai ao Cinema: vinte filmes brasileiros comentados por historiadores | Jorge Ferreira e Maria de C. Soares
Para os irmãos Lumiére, o cinema seria uma curiosidade passageira. Reza a lenda que um dos inventores do cinematógrafo (1895), ou o pai dele, chegara a proferir: “o cinema é uma invenção sem futuro”. O palpite não vingou e, em pleno alvorecer do século XXI, a captação de imagens em movimento sobrevive muito bem, seja em fotogramas, seja nos seus avatares em novas tecnologias (do vídeo analógico aos processos digitais).
E o cinema não apenas teria um futuro, mas ainda deixaria, em sua secular existência, um rastro imensurável de registros desse próprio tempo, bem como de tempos mais ou menos remotos, bem ou mal reinterpretados em celulóide. Presentificando outras etapas da história, o cinem também tornou-se uma invenção com o olho (câmera) no passado. O problema é que os historiadores, em princípio, não perceberam isso. Leia Mais
De Hollywood a Aracaju: antinazismo e cinema durante a Segunda Guerra Mundial | Andreza Santos Cruz Maynard
Andreza Santos Cruz Maynard | Foto: Laís Cruz
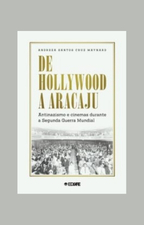 Nas últimas décadas, temos visto crescer o número de trabalhos que se dedicam à relação entre a história e o cinema. O filme, para além do entretenimento e do teor artístico que carrega, tem sido encarado pelos historiadores como fonte, ferramenta para o ensino de história, representação de um fato histórico e agente da história. Podemos mencionar, ainda, os estudos que realizam um diálogo entre o filme e outros meios de comunicação em massa, como a imprensa.
Nas últimas décadas, temos visto crescer o número de trabalhos que se dedicam à relação entre a história e o cinema. O filme, para além do entretenimento e do teor artístico que carrega, tem sido encarado pelos historiadores como fonte, ferramenta para o ensino de história, representação de um fato histórico e agente da história. Podemos mencionar, ainda, os estudos que realizam um diálogo entre o filme e outros meios de comunicação em massa, como a imprensa.
Tais possibilidades, somadas às potencialidades apresentadas por essa interação, ajudam a explicar o crescente interesse dos historiadores pelo campo e, consequentemente, o aumento no número de publicações sobre a temática. Na historiografia brasileira, de forma mais específica, uma obra recém-lançada que se coloca como mais uma contribuição para os estudos nessa área é De Hollywood a Aracaju: antinazismo e cinemas durante a Segunda Guerra Mundial, da historiadora Andreza Santos Cruz Maynard. Leia Mais
Luz, Câmera e História: práticas de ensino com o cinema | Rodrigo de Almeida Ferreira
Ao completar 125 anos, o cinema pode ser considerado como um bem consolidado campo do conhecimento humano. Reunindo ao mesmo tempo magia, técnica, crítica e deleite estético, os bens culturais constituídos mediante a arte cinematográfica, tornaram-se indústria a mobilizar profissionais e variados públicos, em suma, a ‘Sétima Arte’ consolidou-se como uma autêntica oficina de sonhos, a mobilizar gigantescas cifras orçamentárias e assistências contabilizadas aos milhões, no caso dos blockbusters, cenário ainda mais ampliado pelos modismos e produtos a estes vinculados.
Em todo caso, seja em uma portentosa produção hollywoodiana, ou mesmo, em um curta-metragem rodado com baixo orçamento, o cinema vem sendo considerado, há cerca de um século, como um excepcional subsídio a ser utilizado nos processos educativos. No caso específico da História, a obra assinada por Rodrigo de Almeida Ferreira tem como proposta pensar o ensino dessa disciplina, utilizando os filmes para estimular a educação do olhar a partir dos registros fílmicos proporcionados pelo cinema. Leia Mais
O triunfo da persuasão: Brasil/ Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial / Alexandre B. Valim
Bandeiras – Brasil x EUA
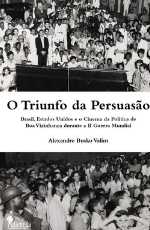 Na obra “O triunfo da persuasão: Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa- Vizinhança durante a II Guerra Mundial”, o autor Alexandre Busko Valim nos apresenta uma discussão sobre o uso do cinema na política de aproximação entre Brasil e Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Buscando estabelecer influência tanto no Brasil quanto em outras repúblicas da América Latina, os Estados Unidos desenvolveram a Política da Boa- Vizinhança, que foi aprofundada e inovou nos métodos de controle e dominação durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse novo quadro essa política era relevante pois visava garantir aos Estados Unidos: o potencial mercado latino-americano, o apoio do Brasil que possuía posição estratégica no cone sul durante o conflito bélico e por último – e importante – garantir o acesso a matérias primas essenciais para o esforço bélico dos Aliados.
Na obra “O triunfo da persuasão: Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa- Vizinhança durante a II Guerra Mundial”, o autor Alexandre Busko Valim nos apresenta uma discussão sobre o uso do cinema na política de aproximação entre Brasil e Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Buscando estabelecer influência tanto no Brasil quanto em outras repúblicas da América Latina, os Estados Unidos desenvolveram a Política da Boa- Vizinhança, que foi aprofundada e inovou nos métodos de controle e dominação durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse novo quadro essa política era relevante pois visava garantir aos Estados Unidos: o potencial mercado latino-americano, o apoio do Brasil que possuía posição estratégica no cone sul durante o conflito bélico e por último – e importante – garantir o acesso a matérias primas essenciais para o esforço bélico dos Aliados.
O objetivo de Valim, possuindo como base teórico-metodológica a História Social do Cinema, é analisar os usos do cinema que objetivava o estreitamento das relações entre Brasil e Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Uma das originalidades do livro é a abordagem escolhida pelo autor para tratar do tema; ele não busca fazer uma análise dos filmes produzidos, ou seja, reconhecer seus significados e representações, que é o comum dentro da bibliografia que trata do cinema na Política de Boa-Vizinhança. Indo além, busca se explicitar como se deu a estruturação da OCIAA (Office of the Coordinator of Interamerican Affairs) e a implantação das regionais no Brasil, e mais a frente à fundação da Brazilian Division (a sessão brasileira do Office). Abrangendo a parte burocrática da ação, analisando também o papel do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) no período. Focando sua discussão em apresentar como se deu a criação e o planejamento das atividades do Office no Brasil, analisando como os grupos dirigentes se decidiam, quais eram seus objetivos e suas ações, mais que isso, quais foram os entraves burocráticos encontrados no Brasil e quais foram as soluções realizadas. Chama atenção para a necessidade de se conhecer os processos de concretização do Office para dessa forma não colocarmos o período como uma mera consequência do imperialismo onipotente norte-americano.
Outro ponto original da obra se remete as fontes utilizadas pelo autor, sendo elas documentos depositados na National Archives em College Park, nos Estados Unidos (NARA II).
Essas fontes são um conjunto de memorandos, relatórios, cartas que circulavam entre as instituições (regionais, Brazilian Division, Office). O conteúdo delas variavam, desde aviso sobre decisões tomadas, relatórios qualitativos e quantitativos, preocupações compartilhadas pelos grupos, demandas, interesses, impasses e etc. Sendo assim, essas fontes são cruciais para se entender como se deu a idealização, organização e ação das atividades do Office no Brasil.
Utilizando o conceito de “zona de contato”, Valim também contribui originalmente ao propor uma análise onde observa os conflitos culturais existentes nos espaços sociais conjuntos construídos durante o contexto estudado. Dirigindo atenção a atores sociais que não possuíam destaque dentro das instituições oficiais, atores esses que foram peças chaves dentro da estruturação do Office e realização de suas atividades. Dessa forma, ele coloca sob o holofote estes que por muito foram ignorados pela historiografia do tema, mas que tiveram papel essencial no período.
Partindo para a estruturação da obra, tirando a introdução e as considerações finais, o livro apresenta seis capítulos no total, e em cada um deles os argumentos são articulados para com sua ideia principal. Na introdução são apresentados os objetivos gerais do livro, como também é explicitada qual metodologia será utilizada e qual documentação foi acessada para construção da obra. Em linhas gerais é abordado o contexto da Política da Boa-Vizinhança, suas bases e seus ideais, e também é apresentado um breve debate historiográfico sobre as produções que abordam esse período. Um breve histórico da criação do Office e da Motion Picture Division é exposto, além de apontar o porquê do interesse dos Estados Unidos na América Latina, em específico o Brasil. O autor segue e explicita os conceitos de persuasão e propaganda, e argumenta do porquê da escolha do cinema como instrumento de aproximação entre os países. Outro ponto importante abordado é sobre os entraves causados pelo governo brasileiro, no âmbito do DIP, que serão mais bem analisados nos capítulos seguintes.
No primeiro capítulo, intitulado “The Brazilian Division: a chegada do Office no Brasil”, o autor foca em apresentar como se deu a estruturação do Office no Brasil e a criação da Brazilian Division. Aponta as limitações legais encontradas no país e as ações tomadas para burlar o governo varguista que era lido possuindo um teor “muito nacionalista”, que não agradava o Office. Seguindo, é apresentado dados sobre quem seriam os responsáveis do Office, da Brazilian Division e das regionais instaladas. O capitulo é uma extensa explicação sobre a estrutura política do Office, suas divisões, cargos e tarefas; é a apresentação da parte técnica e burocrática do mesmo. O segundo capítulo, “Aliados precisam ter atitudes amigáveis: propaganda, oportunidade e lucro”, é desenvolvido a parte do embate entre a legislação brasileira e os desejos do Office, nesse caso, em relação à taxação dos filmes estrangeiros. São elencados quais eram as obrigatoriedades da Brazilian Division em relação à produção e divulgação dos filmes. Discorre-se sobre os esforços de se extinguir os filmes do Eixo. Por fim, ele pincela um pouco sobre a tentativa de se conseguir ajuda da Motion Picture Division para produzir filmes nacionais, e também sobre os esforços da Brazilian Division em treinar com eficácia os técnicos para produção e divulgação dos filmes.
Já o terceiro capítulo, intitulado “O show precisa continuar: o cinema da boa-vizinhança adentra o país” é focado em discutir sobre as dificuldades de expansão das exibições para o interior do Brasil. É explicada as dificuldades técnicas que envolviam disponibilidade de material, equipe treinada e transporte, por exemplo. Para, além disso, o capítulo aborda a recepção dos filmes no interior a partir de relatórios das equipes envolvidas. Aponta algumas situações onde ocorreram impasses com as autoridades locais no que tange permissão para as exibições, e debate sobre como esses embates eram retirados dos relatórios que eram enviados ao Offiice, numa tentativa de não manchar a atuação do mesmo no país o que poderia pôr em risco a continuação das suas atividades.
A argumentação sobre a recepção dos filmes pelo interior segue no quarto capítulo, “Acenando as cabeças para filmes extraordinários: os maiores hits do cinema da boavizinhança”.
É abordada a preocupação no quesito mensagem do filme vs. receptor, ou seja, a atenção dispendida em relação aos efeitos que as histórias dos filmes causavam no público, onde houve casos que não eram agradáveis porque não se identificavam com a realidade apresentada nas obras. Ainda nesse capitulo, é discutido sobre alguns requisitos relacionados a filmagens realizadas no Brasil, como por exemplo, o ponto de evitar pobres e negros nas cenas gravadas. Um pouco mais a frente, é abordado um pouco sobre a relação de Disney e a política da boa-vizinhança, abordando alguns filmes que o mesmo realizou no período diretamente relacionado a política de aproximação. Por fim, discute também a censura realizada pelo DIP aos filmes que seriam exibidos no país, as diretrizes para o cinema no Brasil, e elenca filmes proibidos que eram considerados simpáticos aos alemães e a URSS.
O quinto capítulo, “Caçando com os melhores cães: os projetos de cinema do Office”, a partir de três projetos chamados: William Murray Project, John Ford Project e o Production of 16mm in Brazil, o autor aborda as ideias do Office no que tange exibição e produção cinematográfica em âmbito nacional. Analisa toda a parte burocrática, que seria o orçamento, equipe técnica, parcerias privadas e públicas que permeavam essa empreitada de se investir na produção cinematográfica brasileira. Aponta também os argumentos daqueles que foram a favor e contra ao investimento estadunidense na indústria cinematográfica local e quais foram os desfechos. O sexto e último capítulo, chamado “Mais dramático que qualquer ficção as múltiplas fronteiras exploradas pelo cinema da boa-vizinhança”, analisa as ações para incentivar a produção da borracha para os esforços de guerra a partir da relação entre cinema e a “batalha da borracha”, além disso, também discute os estereótipos que associavam o Brasil a um local exótico e selvagem, e por último aborda novamente a discussão sobre a construção de uma indústria cinematográfica nacional a partir de investimentos norte-americanos.
Como é possível ver a partir das sínteses dos capítulos, o autor desenvolveu sua ideia principal de acordo com a evolução da obra. Utilizando as fontes da NARA II, Valim destrincha uma parte que até então não recebia muita atenção da bibliografia, que é a idealização e estabelecimento do Office no Brasil. As questões burocráticas que se desenrolaram, os impasses entre governo estadunidense e brasileiro. Salienta o embate entre ideais do governo varguista e os ideais propagados do ‘american way of life’, de liberdade e democracia pelos estadunidenses.
Para, além disso, destrincha a imagem estereotipada e até mesmo idealizada produzida sobre o Brasil, ressaltando inclusive o interesse do governo nacional nessa retratação que ignorava as desigualdades e mazelas sociais. Um fator interessante levantado na obra é sobre como em alguns casos funcionários estadunidenses se compadeceram mais pela causa brasileira e passaram então defendê-las, como por exemplo, dentro do projeto John Ford, onde os funcionários possuíam interesse de produzir filmes sobre a cultura do Brasil, sobre as músicas, o samba, mas foram inibidos porque isso ia de encontro com os interesses do Office.
A obra de Valim, lançada em 2017, se posiciona em um momento onde se faz muito necessário reconhecer a força e influência que os canais de comunicação possuem sobre a formulação da opinião pública. Como dito anteriormente, a obra não foca em analisar os signos representados nos filmes da época, mas se propõe a um estudo mais aprofundado sobre a natureza das atividades do Office e da sua relação com os grupos dirigentes do país. A partir de sua argumentação, é possível perceber como a Política da Boa-Vizinhança aprimorou os métodos de controle e dominação. “O Triunfo da Persuasão” não se mostra original apenas nos documentos que utiliza como fontes primárias, mas na abordagem que busca observar a relação entre dois países com poderes assimétricos, conseguindo, dessa forma, demonstrar as limitações da suposta onipotência norte-americana no contexto. Este livro se coloca enquanto leitura essencial para aqueles interessados em História Social do Cinema, sobre uso do cinema no contexto da aproximação do Brasil e dos Estados Unidos durante a Política da Boa- Vizinhança, além de abrir inúmeras possibilidades de pesquisas dentro da temática que aborda.
Carolina Machado dos Santos – Graduanda pela Universidade Federal Fluminense no curso de História (Licenciatura).
VALIM, Alexandre Busko. “O triunfo da persuasão: Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial”. 1. Ed. São Paulo: Alameda, 2017.Resenha de: SANTOS, Carolina Machado dos. Cinema e política da boa-vizinhança. Cantareira. [Niterói], v.34, p.675-678, jan./jun. 2021. Acessar publicação original [IF].
Grande Otelo: um intérprete do cinema e do racismo no Brasil (1917-1993) | Luís Felipe Kojima Hirano
Para a pensadora Lélia González (1984), o racismo é “a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira” (González, 1984, p.224) e “negro” o significante-mestre, aquele que “inaugura a ordem significante de nossa cultura” (González, 1984, p. 237). O livro que ora comento nos brinda com uma excelente análise da trajetória de um personagem emblemático para pensar as relações raciais ao longo do século XX no Brasil. Em especial, para verificar que se o sujeito neurótico sempre oculta o sintoma por meio de sua negação, então há muito a ser descortinado na rede de significantes dessa neurose cultural de que nos fala González (1984).
O movimento metodológico de Hirano (2019) para a análise do seu conjunto de dados, baseado em fontes históricas sobre o cinema, é digno de nota. O autor propõe lançar um olhar com enfoque antropológico a esses dados, baseando-se no descentramento do olhar (Hirano, 2019, p. 71), um dos pilares dessa disciplina. É feito, então, um triplo descentramento, quais sejam: 1) descentrar a interpretação usual do cinema brasileiro pelos cineastas, em sua maioria brancos; 2) analisar os filmes enfocando a performance de seus intérpretes, ainda que não obliterando a trama e a montagem; e 3) discutir as relações raciais no Brasil, em um campo profundamente marcado, conforme fica evidente a partir da leitura, pela presença estadunidense, que toma o branco como norma. Leia Mais
História das Américas através do cinema | Alexandre Guilherme da Cruz Alves Junior
Durante muito tempo, no campo da pesquisa em história, as fontes consideradas primordiais, ou mais fidedignas ao passado, eram os documentos oficiais expedidos pelos Estados ou governos instituídos. Essa foi uma prerrogativa da escola metódica francesa e da própria Razão na História (1837)1, de Hegel, durante os séculos XVIII e XIX. Por mais que os primeiros, representados por Langlois e Seignobos2, admitissem a possibilidade do uso da literatura (poesia épica, romances e obras de teatro) na pesquisa histórica, essa possibilidade tinha limites por se tratar, primordial e especificamente, da imaginação do autor da obra, ou seja, não era capaz de retratar a sua época como um todo.
Ao longo do século XX, a forma de abordar essas manifestações artísticas e culturais sofreu algumas modificações. A busca por parte de alguns historiadores em fazer outra história, além da história chamada de oficial, promoveu maior diversificação das fontes históricas, absorvendo, entre elas, as linguagens artísticas. A partir desse momento, vários historiadores se debruçaram sobre a literatura, a música e o teatro, publicando obras que validavam esses objetos como fontes históricas e forneciam metodologias para abordá-los. Leia Mais
Cultura, politecnia e imagem – ALBUQUERQUE et al (TES)
ALBURQUERQUE, Gregorio G. de; VELASQUES, Muza C. C; BATISTELLA, Renata Reis C. Cultura, politecnia e imagem. Rio de Janeiro: EPSJV, 2017. 318 pp. Resenha de: GOMES, Luiz Augusto de Oliveira. A materialidade da cultura: uma nova forma de ler o mundo. Revista Trabalho, Educação e Saúde, v.17, n.2, Rio de Janeiro, 2019.
O livro Cultura, politecnia e imagem,organizado por Gregorio Galvão de Albuquerque, Muza Clara Chaves Velasques e Renata Reis C. Batistella, publicado pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Fundação Oswaldo Cruz, apresenta um panorama ampliado do conceito de cultura a partir de três eixos de análise que se complementam: (1) Cultura, educação, trabalho e saúde; (2) Cultura, educação e imagem; e, (3) Cultura e cinema. Os 20 autores que assinam os 15 artigos do livro apresentam importantes contribuições para compreender a materialidade da cultura nos tempos atuais.
No eixo “Cultura, educação, trabalho e saúde”, ao debater cultura, os autores se fundamentam especialmente no materialismo histórico dialético para refletir sobre o conceito ampliado do termo. É interessante observar a defesa de uma concepção de cultura imbricada dialeticamente com todas as instâncias dos processos de produção da vida social, refutando a tradição idealista que busca na cultura algo puro e apartado do “reino dos conflitos e contradições” (p. 25). Além da crítica ao idealismo, é crucial destacar as reflexões acerca das obras de Eduard Palmer Thompson e Raymond Willians, pensadores da chamada nova esquerda britânica, para desconstruir a leitura de um marxismo dogmático e fundado no reducionismo econômico, que hierarquiza base/superestrutura e plasma a cultura no plano da ‘superestrutura’, desvinculada das relações sociais de produção (infraestrutura). Quanto às relações dialéticas entre estrutura e superestrutura, assim como Thompson (1979, p. 315) podemos dizer que “o que há são duas coisas que constituem as duas faces de uma mesma moeda”. Ao ter em conta os nexos entre economia e cultura, podemos perceber que a “dimensão cultural das sociedades são espaços dinâmicos permeados por conflitos de interesses” (p. 88), espaços onde estão presentes tanto o consenso quanto disputas por uma nova hegemonia. Essa constatação vai ao encontro das palavras de Thompson (1981, p. 190) de que “toda luta de classes é ao mesmo tempo uma luta acerca de valores”, valores esses que constituem a cultura, cuja base material deve ser investigada e considerada na análise do movimento do real.
É um desafio compreender o conceito de cultura não apenas como campo de consenso. Como nos informa o eixo “Cultura, educação, trabalho e saúde”, a cultura pode ser entendida como resultado das ações dos homens e mulheres sobre o mundo. Em última instância, “ela se torna o próprio ambiente do ser humano no qual ele é formado, apropriando-se de valores, crenças, objetos, conhecimentos” (p. 99).
A obra de Clifford Geertz, trabalhada em um dos artigos do livro, também contribui para o debate sobre cultura, principalmente por abordar os modos de vida e discursos dos grupos vulneráveis ou excluídos. A noção de comportamento humano de Geertz é uma ótima ponte para aproximar a antropologia da discussão a respeito da compreensão do processo saúde-doença. A autora do artigo afirma que a contribuição de Geertz e a sua antropologia “é muito favorável para a inclusão do ponto de vista dos pacientes e usuários dos serviços na análise das questões de saúde, principalmente no atual contexto, no qual o discurso médico é dominante” (p. 114).
No segundo eixo, intitulado “Cultura, educação e imagem”, os autores tratam da construção de conhecimento por meio das imagens. Esse eixo, em especial, nos favorece a compreensão das imagens como mediação em espaços formativos, sejam eles institucional (como a escola) ou qualquer outro espaço de educação dos sujeitos coletivos. Para isso, os autores buscam principalmente nas experiências em sala de aula mostrar como, por intermédio da cultura (em especial, da imagem), é possível outra leitura do mundo.
Com isso, concordamos com Kosik (1976) quando entende que compreender a vida para além da sociedade fetichizada − que toma a coisas no seu isolamento, adota a essência pelo fenômeno, a mediação pelo imediatismo−, é um exercício de apreensão da totalidade do cotidiano. Por isso, tendo em conta a pseudoconcreticidade com que o mundo se apresenta, os autores indicam que na sociedade capitalista, onde “o urbano passa a ser uma sucessão de imagens e sensações produzidas e reproduzidas pelos indivíduos que criam uma condição fragmentada da vida moderna” (p. 88), crianças, jovens e adultos buscam nas imagens divulgadas nas mídias (televisão e redes sociais) a construção de si mesmos e do mundo.
Na lógica do capital, a imagem exerce um papel importante na manutenção da hegemonia, impondo valores e transferindo os desejos da burguesia para a classe trabalhadora. Como constata um dos artigos, a “dissolução da forma burguesa mantém-se no contínuo da passividade dos sujeitos sociais, arraigando assim uma violência subjetiva terrorista, como reconhecer e alterar este mundo […] a colonização estética dos sentidos é perversa” (p. 160).
Sabemos que a educação é apropriada pelo capitalismo como formadora de consenso: “forma-mercadoria e forma estatal como princípio de organização da vida social, impregnando a subjetividade humana de práticas autorrepressivas no que diz respeito aos seus impulsos de felicidade e liberdade” (p. 170). A leitura do eixo “Cultura, educação e imagem” reforça que o “viés questionador, transformador e revolucionário da reflexão e da produção cultural podem possibilitar uma nova forma de ler do mundo” (p. 143). Os artigos nos ajudam a compreender que a imagem é uma potente ferramenta, constituindo-se como mediação tanto revolucionária quanto para manter o status quoda classe econômica e culturalmente dominante.
Por fim, no último eixo, “Cultura e cinema”, os autores nos convidam a conhecer a discussão acerca da cultura e da imagem com base em consistentes formulações teóricas que envolvem a produção do cinema e os seus nexos com as práticas escolares. Neste eixo, podemos destacar que é de grande importância a crítica direcionada às produções acadêmicas que corroboram para que a “análise de filmes seja percebida ainda como uma forma acessória de se atingir uma compreensão sobre a realidade social” (p. 231), ou seja, esse tipo de análise trata a produção do cinema como uma mera fonte de registro e que para compor uma análise da sociedade necessitam de outros tipos de fontes.
Em seus quatro artigos, o eixo “Cultura e cinema” procura demonstrar como a produção fílmica é uma fonte histórica de grande relevância para analisar a sociedade a partir de uma “concepção estético-política” (p. 232). Busca na interpretação do filme “Terra em Transe”, do diretor Glauber Rocha, elementos importantes para a leitura dos acontecimentos do golpe empresarial-militar de 1964 e as variadas interpretações do seu sentido nos dias atuais. O filme é “uma síntese devastadora do processo de luta de classes no Brasil e na América Latina dos anos 1960 como núcleo duro permeando todas as relações sociais reais, demole todos os discursos de legitimação dos projetos colonizadores” (p. 254). A produção em questão nos ajuda a compreender a potência do cinema na captação do real e de como a organização formal e estética em imagem e som nos auxilia na percepção das disputas de classe ocorridas no período.
A concepção de romper com um olhar naturalizado sobre a sociedade de classes é um dos intuitos das produções fílmicas alternativas, em especial na conturbada América Latina do século XX. Assim, o Nuevo Cine Latinoamericanomarcou o cinema latino-americano, buscando em produções militantes, conscientizar trabalhadores e trabalhadoras a sair das suas ‘zonas de conforto’. Essa concepção de cinema buscou possibilitar, como nos indica um dos artigos, “uma nova leitura do mundo, e uma nova forma de pensar a nossa realidade, características fundamentais para a transformação social” (p. 287).
Assim como os longas-metragens, os documentários também contribuem para narrar os conflitos de classe. Como sinaliza uma das autoras, o documentário tem o poder de relacionar a antropologia, a arte visual e a produção cinematográfica para contar uma história. Com isso, os documentários sustentam o “mito de origem de falarem a verdade” (p. 258). Todavia, o eixo nos leva a refletir: Qual verdade? Verdade para quem? O livro nos convida a encarar o documentário como um gênero de grande importância para a pesquisa social.
O rico debate teórico com base na materialidade da cultura alicerçada nas pesquisas dos autores, seja em sala de aula ou na análise de imagens e filmes, ajuda-nos a entender a profundidade do conceito de cultura e a sua potência como agente da transformação social. O livro nos elucida quanto à necessidade de que a classe trabalhadora se aproprie e interprete sua própria cultura, descolonizando-se da hegemonia cultural da burguesia, para assim buscar a sua emancipação plena.
O livro Cultura, politecnia e imagemé um prato cheio para quem busca superar a concepção idealista de cultura, compreendendo-a na sua totalidade, em diversos espaços-tempos históricos, tendo em conta as relações dialéticas entre economia, cultura e outras determinações sociais, e em especial as experiências coletivas da classe trabalhadora. Nos três eixos temáticos, o conjunto de autores desenvolve formulações teóricas com evidências empíricas de que a cultura e os processos educativos que a elegem como objeto de estudo e de compreensão da realidade podem fermentar os germes de projetos de transformação social.
Referências
KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. [ Links ]
THOMPSON, Edward P. Tradición, revuelta y cons- ciência de classe. Barcelona: Crítica, 1979. [ Links ]
THOMPSON, Edward P. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. [ Links ]
Luiz Augusto de Oliveira Gomes – Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação, Niterói, RJ, Brasil. E-mail: luiz.augusto1201@gmail.com
(P)
O Triunfo da persuasão: Brasil, Estados Unidos e a Política da Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial – VALIM (RTA)
VALIM, Alexandre Busko. O Triunfo da persuasão: Brasil, Estados Unidos e a Política da Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial. São Paulo: Ed. Alameda, 2017. Resenha de: CARNEIRO, Ana Marília. Cinematógrafos de guerra: cinema e propaganda estadunidense no Brasil durante a II Guerra Mundial. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.11, n.26, p.635-640, jan./abr., 2019.
A obra que temos em mãos trata de um tema caro às experiências bélicas do século XX: a propaganda como arma de guerra e instrumento de persuasão na formação de consenso em torno da hegemonia estadunidense na América Latina. Em contraste com a barbárie e a violência emergentes dos confrontos da II Guerra Mundial, a máquina de guerra mobilizada para conquistar mentes, corações e aliados em meio ao campo de batalha consistiu em uma das expressões mais extraordinárias e fascinantes da cultura contemporânea: o cinema.
O livro de Alexandre Busko Valim, O Triunfo da persuasão. Brasil, Estados Unidos e a Política da Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial, publicado em 2017, dedica-se ao estudo da dinâmica da produção e difusão da propaganda estadunidense por meio do cinema no Brasil, alvo estratégico e privilegiado da campanha dos aliados em meio ao turbulento cenário da II Guerra Mundial. Resultado de uma pesquisa de fôlego, a obra é amparada no valioso e robusto acervo de fontes documentais referentes ao Office of the Coordinator of Inter-American Affairs – Office, consultadas no National Archives dos Estados Unidos. Ainda pouco exploradas pela literatura dedicada às relações interamericanas, as fontes — e, sem dúvida, a habilidade do autor aliada a um fecundo diálogo com a bibliografia especializada — permitiram a construção de uma narrativa potente, permeada de relatos surpreendentes e informações impactantes.
Um dos importantes diferenciais do estudo de Alexandre Valim é sua perspectiva de análise: o autor se esquiva de uma abordagem mais tradicional fundamentada na análise fílmica e pensa o cinema — e a problemática histórica — munido de uma visão mais ampla, como um fenômeno que envolve diversas dimensões. Ou seja, o cinema, como objeto de estudo, deve ser compreendido como um conjunto de práticas sociais que escapa à simples análise das fontes visuais, conduzindo o pesquisador em direção a um tratamento mais abrangente da visualidade como uma dimensão importante da vida social e dos processos sociais (MENESES, 2003, p. 11).
Para além da compreensão do cinema como mero entretenimento e obra estética, um estudo mais denso do âmbito cinematográfico exige que o investigador esteja atento à capacidade de influência, persuasão e encantamento do público através do cinema, ao uso de filmes como veículos de difusão de determinadas políticas, valores e culturas, à análise das suas condições de produção, exibição e distribuição, além da complexa rede de sociabilidades e relações de poder envolvidas na sua realização. Todas essas questões estão presentes no texto de Alexandre Valim, que situa a análise da propaganda estadunidense por meio do cinema atrelada a uma contraofensiva de guerra na qual estava em jogo, para os Estados Unidos, a conquista de parceiros econômicos e aliados políticos na América Latina.
Criado em 1940, por determinação do presidente Franklin Roosevelt, para coordenar as relações comerciais e culturais entre os Estados Unidos e os países latino-americanos, o Office representou, de maneira emblemática, o notável esforço de mobilização da nascente indústria cultural em favor da manutenção da posição hegemônica dos Estados Unidos na América Latina durante a II Guerra Mundial. Dentre os múltiplos âmbitos de atuação do Office, Valim se debruça sobre as atividades de propaganda difundidas através do cinema, um empreendimento posto em marcha pela Divisão de Cinema do Office e pela primeira unidade do Office na América Latina, a Brazilian Division.
Os atores envolvidos nessa trama não pertencem somente ao quadro de funcionários da agência governamental estadunidense; ao longo das páginas, nos deparamos com sujeitos de alta performance como Walt Disney, Nelson Rockefeller, Carmen Miranda, Orson Welles, empresários dos grandes estúdios de cinema de Hollywood, embaixadores dos Estados Unidos e agentes do Departamento de Imprensa e Propaganda do presidente Getúlio Vargas. No entanto, é fundamental recordar: a propaganda possui um alvo privilegiado; nesse caso específico, a plateia. Essa é a audiência que deve ser persuadida.
Um dos plot points da obra é justamente o capítulo intitulado O Show Precisa Continuar: o cinema da boa vizinhança adentra o país. Nesta parte do texto são retratadas as diversas dificuldades e obstáculos enfrentados pelas equipes da Brazilian Division para realizar exibições de filmes nas pequenas cidades do interior do país. As incursões consistiam em verdadeiras sagas, e envolviam o deslocamento dos projetistas e seus pesados equipamentos através de estradas precárias, muitas vezes empregando o transporte de tração animal ou mesmo em lombos de mula, além de pequenos barcos e canoas. Às dificuldades de transporte em um país com as dimensões territoriais do Brasil somavam-se a falta de energia elétrica em muitas localidades, a inutilização dos filmes e projetores devido aos danos causados durante o transporte, às elevadas temperaturas ou à alta umidade, à impossibilidade de reposição de peças eventualmente danificadas durante as exibições, como lâmpadas, cabos, válvulas, transformadores. Todas essas adversidades de logística e transporte enfrentadas pela equipe da Brazilian Division nos ajudam a vislumbrar a dimensão da importância do projeto de disseminação em larga escala da propaganda estadunidense por meio do cinema.
A linguagem visual explorada neste capítulo é evocada de maneira recorrente: a partir de um dos projetos mais ousados experimentados no Brasil, as sessões de cinema realizadas em vagões de trens ou mesmo através dos Unit Mobiles, uma parceria com empresas do ramo farmacêutico que proporcionava automóveis adaptados com telas para exibir filmes, cinejornais e desenhos animados selecionados pela Brazilian Division e, ao mesmo tempo, comercializava, para o público, medicamentos como Leite de Magnésia, Melhoral e Pílulas de Vida do Dr. Ross. As impressionantes imagens fotográficas que acompanham o livro eternizaram as sessões de cinema a céu aberto realizadas em praças públicas de cidades do interior, penitenciárias, escolas, quartéis e até mesmo hospitais psiquiátricos. As exibições — sempre gratuitas — atingiam um amplo público espectador, proveniente não apenas da elite e da classe média, mas também das classes populares, composta muitas vezes por indivíduos que nunca haviam experimentado uma sessão de cinema e que permaneciam encantados por verem pela primeira vez um bombardeio de imagens em movimento.
E se o alvorecer do século XX foi iluminado por uma nova forma de linguagem visual, imagens em movimento difundidas pelos cinematográfos em escala mundial, é necessário refletir sobre o poder desse novo suporte e artefato cultural de gerar imaginários sociais e práticas representacionais. A pesquisa de Alexandre Valim não se debruça diretamente sobre o campo de recepção das películas estadunidenses entre o público brasileiro, entretanto, revela importantes aspectos: o primeiro, a existência de um pesado investimento em propaganda e na produção cinematográfica por parte do governo dos EUA; a grande capilaridade atingida no interior do Brasil através do projeto de popularização das exibições e a larga audiência alcançada, em grande medida formada por um público analfabeto. Certamente, não se deve tomar a esfera de influência do público, provocada pelos filmes de propaganda, de maneira mecânica e em via de mão única, afinal, a consciência não é uma tela em branco, e o campo da cultura é um campo de batalha, permeado por lutas e resistências. No entanto, como afirma Stuart Hall (2003, p. 240), as operações culturais estão ligadas aos mecanismos de hegemonia cultural em jogo, e há sempre posições estratégicas a serem conquistadas ou perdidas. E, como adverte Alexandre Valim (2017, p. 313), embora uma avaliação precisa sobre o cinema de propaganda no Brasil seja uma tarefa extremamente difícil de ser realizada, “o imenso v.de fontes produzidas pelas agências governamentais estadunidenses atuando em território brasileiro sugerem fortemente que esse impacto foi profundo e duradouro”.
Vale ressaltar: o cinema “não é somente um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens”1. O sucesso de público nas exibições e o grande alcance do projeto propagandístico era fruto de um intenso esforço por parte do pessoal da Brazilian Division, que envolvia a mobilização de uma complexa rede de contatos, negociações e acordos entre autoridades locais, políticos, militares, funcionários do DIP e mesmo entre a alta cúpula do Office, uma vez que “o intenso contato com a realidade brasileira por estadunidenses que estiveram no país fez com que, frequentemente, estes flexibilizassem diretrizes elaboradas em Washington em prol de perspectivas mais humanistas e solidárias” (VALIM, 2017, p. 312).
Se, por um lado, o autor destaca a importância de compreender a diversidade dessas relações, representações e práticas estabelecidas entre os segmentos estadunidenses e latino-americanos, por vezes contraditórias e divergentes, por outro, não hesita em ratificar o imperialismo midiático presente no programa de propaganda estadunidense para a América Latina que perpassa os vários circuitos de relações de poder, reproduzindo e atualizando antigos métodos de controle e dominação. uso do cinema como recurso de aproximação entre os Estados Unidos e o Brasil durante a II Guerra Mundial teve um impacto sem precedentes, e não serviu apenas como instrumento de convencimento e persuasão no campo político-ideológico ou no controle de um estratégico mercado fornecedor de matérias-primas. O American Way of Life difundido através da propaganda no cinema vendia também novos hábitos, estilos, modas, costumes e comportamentos que transformaram de maneira decisiva a sociedade brasileira. Através de uma linguagem simples, o livro de Alexandre Valim traz uma análise sofisticada envolvendo propaganda, cinema e guerra, uma tríade de elementos importantes para a compreensão do poder de persuasão que serve de munição à indústria cinematográfica até os dias de hoje.
Referências
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997.
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003.
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual, história visual. Balanço provisório, propostas cautelares. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 23, n. 45, 2003.
VALIM, Alexandre Busko. O Triunfo da persuasão: Brasil, Estados Unidos e a Política da Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial. São Paulo: Ed. Alameda, 2017. 1 A associação cinema-espetáculo foi apropriada de Guy Debord, para quem o espetáculo “não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens”. Cf. DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997, p. 12.
Ana Marília Carneiro – Doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Belo Horizonte, MG – BRASIL E-mail: anammc@gmail.com.
A monarquia no cinema brasileiro: Metodologia e análise de filmes históricos | Vitória Azevedo da Fonseca
A monarquia no cinema brasileiro: Metodologia e análise de filmes históricos. Jundiaí: Paco Editorial, 2017. A monarquia no cinema brasileiro: metodologia e análise de filmes históricos é um livro de autoria da historiadora brasileira Vitória Azevedo da Fonseca. Proveniente de sua dissertação de mestrado desenvolvida pela Universidade de Campinas, se propõe analisar dois filmes que tratam, sob diferentes perspectivas, o período monárquico brasileiro e o processo de independência do país. São eles: Independência ou Morte, de 1972, dirigido por Carlos Coimbra, e Carlota Joaquina, a princesa do Brasil, lançado em 1995, sob a direção de Carla Camurati.
A obra é dividida em quatro capítulos precedidos por uma apresentação assinada por Leandro Karnal, e encerrado com as considerações finais da autora e as referências. Inicialmente, Fonseca apresenta alguns métodos que devem ser levados em consideração ao propor uma análise de filmes históricos, destacando autores como Ismail Xavier, Jacques Aumont, Jean-Claude Bernadet, Marcel Martin, Marc Ferro e Marc Vernet, sem estabelecer um específico para seguir e optando pela mescla de metodologias. Seguindo a ideia proposta por Vanoye, a autora argumenta que a primeira medida a se fazer ao analisar uma película é descompô-la em partes, estabelecendo relações em seguida, para, dessa forma, compreender a estrutura narrativa construída (p. 10). Leia Mais
Entre a letra e a tela. Literatura, imprensa e cinema na América Latina (1896-1932) – GÁRATE (A-EN)
GÁRATE, Miriam. Entre a letra e a tela. Literatura, imprensa e cinema na América Latina (1896-1932). Rio de Janeiro: Papéis Selvagens, 2017. Resenha de: MORALES, Hernán. América Latina em alguns itinerários e cruzamentos. Alea, Rio de Janeiro, v.20 n.1, jan./apr. 2018.
Yo evito el testimonio real, porque me desagradan los confesionarios y esa objetividad eclesiástica del periodismo acusete. Pero tampoco podría negar mi origen y lo evoco en la escritura, travestido, multiplicado en un tornasol engañador. La verdad no me interesa: es paja estancada y filosófica. Como dice Serrat: la verdad no tiene remedio. (LEMEBEL In: SCHAFFER, 1998, p. 58)
(…) Deve ser coisa importante, pois ouvi a campainha tocar várias vezes, uma a caminho da porta e pelo menos três dentro do sonho. Vou regulando a vista, e começo a achar que conheço aquele rostro de um tempo distante e confuso. Ou senão cheguei dormindo ao olho mágico, e conheço aquele rosto quando ele ainda pertencia ao sonho. Tem a barba. Pode ser que eu já tenha visto aquele rosto sem barba, mas a barba é tão sólida e rigorosa que parece anterior ao rostro. (BUARQUE, 1991, p. 7)
Em um artigo publicado sob o título de La crónica, una mirada extrema2, que poderia servir como preâmbulo a esta resenha, Martín Caparrós reflete sobre esse gênero que complexifica não somente a literatura – mas as artes em geral – e em especial a literatura latino-americana, em função de tensões e desencontros da Modernidade. América é crônica, sustenta Caparrós, vinculando seu olhar a tensões assinaladas por Cornejo Polar, Rama, Pizarro e Santiago a propósito de um espaço de definição que alterna a adaptação entre o conhecido e o não-conhecido, evidenciando matrizes conflituosas. A crônica é um exercício recorrente de estranheza que marcou o processo identitário dos habitantes destas latitudes. Por isso as vozes que nela se manifestam “não mostram mas, antes, evocam, refletem, constroem, sugerem”, gerando um estado de crise. Trata-se de textualidades polimorfas que evidenciam as vantagens de recriar modos de contar e formas singulares de perceber o entorno, em um exercício que tem a intenção de “despertar” o leitor. São discursos nos quais o olhar se detém em um objeto configurado como busca, porque a escrita converte-se numa prática dos limites que transcende o foco jornalístico e consegue trazer para o primeiro plano o que normalmente fica oculto, o que não se vê à primeira vista e necessita ser nomeado. Parece tratar-se de uma reinvenção do espaço latino-americano que em alguns narradores contemporâneos (como Alma Gillermopietro, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Pedro Lemebel, Carlos Monsiváis, entre outros), torna-se uma obsessão, marcada pelo exercício político que supõe a confrontação entre o sujeito e seu entorno.
Por essa razão, não é estranho que Miriam Gárate recorra ao liminar expresso pela preposição “entre”, com o objetivo de estudar as relações fundadoras do cinematógrafo com a literatura e a imprensa na América Latina, propondo um olhar que se debruça sobre as crônicas que circularam no México, no Chile, no Brasil, no Peru e na Argentina, entre outros países, em finais do século XIX e princípios do XX. Ao longo de mais de 200 páginas, a autora oferece, por meio de uma ensaística impecável, sustentada com grande rigor crítico, uma abordagem das relações imbricadas no discurso de recepção do cinema, que privilegia o gênero crônica no período delimitado pelo título (1896-1932), evidenciando o interesse em revisar o impacto causado pelo novo espetáculo. A partir dessa perspectiva singular, Entre a letra e a tela conecta a literatura, a imprensa e o cinema revisitando o olhar perscrutador dos cronistas, reenviando ao endereçamento do olhar destacado por Caparrós enquanto característica fundamental da crônica por contraposição à notícia.
Através da “retórica do passeio” (RAMOS, 1989), o leitor é convidado a participar de um percurso que, na Introdução, demarca um posicionamento baseado no estudo minucioso da circulação dos modos de percepção do cinematógrafo, expressos em jornais e revistas das áreas geo-culturais recortadas. É um tipo de análise, segundo frisa Miriam Gárate, que toma distância a respeito da aproximação “literatura – cinema” com foco no problema da adaptação, tradicionalmente centrado no jogo entre “fidelidade/infidelidade”. Em vez disso, na viagem proposta, aborda-se um fenômeno que é simultaneamente jornalístico, estético e literário, cifrado pela crônica, esse gênero que, pode-se dizer, está na base do processo de formação cultural das nações americanas.
No primero capítulo, “Os escritores-cronistas vão ao cinematógrafo”, a forma de modelar os materiais se consolida através do substrato: retórica da viagem, por isso a referência a Ramos e o resgate de vozes centrais como as de Manuel González Prada (Peru), José Martí (Cuba), Manuel Gutierrez Nájera (México), Luis Urbina (México-Espanha), Coelho Neto (Brasil), Olavo Bilac (Brasil), Ruben Darío (Nicaragua), Amado Nervo (México), José Juan Tablada (México-EEUU), Enrique Gómez Carillo (Guatemala-França), João do Rio (Brasil), para mencionar somente alguns. Neles, Gárate observa a recriação de uma estilística que evidencia o deslocamento das crônicas do jornalístico para o literário, daí o entre-lugar, fato que também influi no nascimento de um novo profissional que se consolida ao mesmo tempo que os textos que recriam o impacto suscitado pelo cinematógrafo: o repórter. Destaca-se, nesse sentido, algo que já fora assinalado por outros estudiosos: “a cultura moderna foi ‘cinematográfica’ antes do cinema”; e talvez seja por esse motivo que o olhar dos cronistas pôde transitar rapidamente do assombro para a reflexão crítica.
Nas crônicas examinadas no primeiro capítulo, acompanhamos as primeiras viagens. “El cinematógrafo” (1896), de Urbina, e “Moléstia de época” (1906), de Olavo Bilac, descrevem a percepção do fenômeno cinematográfico por meio de construções discursivas que patenteiam o fascínio exercido, através de referências à “máquina milagrosa” ou ao “aparato prodigioso”, deslumbramento que se reitera na crônica do mexicano José Juan Tablada, “México sugestionado: el espectáculo de moda” (1906) e em “En el cine” (1913), de Ramón López Velarde. São essas considerações que desdobram, no segundo capítulo, as reflexões críticas sobre a linguagem cinematográfica, envolvendo relações com outros gêneros como o teatro e o romance.
Em “Os escritores-críticos se debruçam sobre o cinema”, segundo capítulo, Miriam Gárate enfatiza o interesse das primeiras críticas/crônicas pelo cinema narrativo e os diversos modos de lê-lo. Desponta, então, uma questão muito estudada – por isso a recuperação de vários teóricos do cinema, dentre os quais Béla Balázs -, de modo a desvelar como os filmes se constroem e as características da linguagem cinematográfica do período. Como afirma Gárate, “a linguagem cinematográfica transparente (Xavier, 1984) disputa com as outras artes a expressão de uma subjetividade inicialmente reservada [imaginariamente reservada] à palavra” (GÁRATE, 2017, p. 10). As relações com outras práticas artísticas como o teatro são evidencia disso. Em “Da ‘estética da ação’ à estética da subjetivação”, subtítulo de uma das seções do segundo capítulo, delineia-se um percurso que elucida as unidades imbricadas na linguagem em processo de construção e, simultaneamente, a individualização que afasta o cinema das outras artes: o primeiro plano, o enquadramento, a montagem. A autora contrapõe a visão preconceituosa de Urbina, para quem “o cinema jamais nutrirá a cultura nem aperfeiçoará o espírito como o faz o livro”, à perspectiva de Torres Bodet, para quem a câmera em A última gargalhada (1924) de Murnau é um “objeto pensante”, pois “sonha”, ou, nas palavras de Bálaz, dá forma a um “pensamento ótico”. O contraponto põe em cena o debate entre espetáculo/cultura e refrata as tensões descobertas nessa viagem.
O terceiro capítulo, “O retorno do pleito mimético”, recupera as discussões suscitadas a respeito das transformações nas práticas culturais e sociais produzidas pelo cinema. São relembrados aspectos negativos, percebidos pelos cronistas em relação à possível influência dos filmes que encenam crimes. Para alguns deles, “o efeito pernicioso do novo espetáculo reside na vivacidade das peripécias que mostram [ensinam] os meios e modos de delinquir” (GÁRATE, 2017, p. 99). Daí a proibição aos jovens de frequentar filmes que pudessem levá-los a copiar tais atos, defendida em numerosos escritos. As crônicas revelam em seus títulos essa crença arraigada. “Moralidad, criminología… Lo de siempre. La Razón contra el cinematógrafo” (1919). Repercutem, assim, frases dos próprios jornais, como: “Não acreditamos que a fita torne melhores ou piores os criminosos, mas sim acreditamos que lhes forneça lições e os prepare para o delito, dado que a exibição cinematográfica estimula e exalta a imaginação” (La Razón, 1919, apud GÁRATE, 2017, p. 100). Ao mesmo tempo, e com base no mesmo pressuposto mimético, o cinema se torna um meio de instrução através do qual se oferecem uma formação moral, uma escola do bom gosto e uma “educação pelo olhar”, como é possível ler na crônica de Horacio Quiroga, “El cine en la escuela: sus apologistas” (Caras y Caretas, 1920). Um fato que transforma algumas salas, como a Fémina, de Lima, em lugares destinados à instrução de garotas e senhoras, fenômeno referido em crônica recuperada por Ricardo Bedoya, estudioso do cinema peruano, citado por Gárate. Por outro lado, o cinema também se torna o espaço da sedução e das paixões, como atestam alguns escritos de Urbina (“El cine y el delito”, 1916), de Lima Barreto (“Amor, cinema e telefone”, 1920) ou de Francisco Zamora (“El cine y la moralidad”, 1919), todas amostragens dessa dúbia pulsão didática, que se evidencia ainda com mais clareza em “El cine y las costumbres” (1931), do argentino Roberto Arlt, ou nas menções aos “problemas entre os sexos” feitas pelo mexicano Carlos Nogueira Hope em “Vanidad de vanidades” (1919).
No capítulo “Os ‘latinos’ viajam a Hollywood”, a autora aborda a experiência de viagem à cidade cinematográfica por antonomásia como dado significativo que acompanha, entre os anos de 1920-1930, o desenvolvimento da cinematografia estadunidense. Para focar esse aspecto, são escolhidas as narrações “Una aventura de amor” (1918), publicada com o pseudônimo de Boy, “Miss Dorothy Phillips, mi esposa” (1919) de Horacio Quiroga, “Che Ferrati, inventor” (1923) de Carlos Nogueira Hope e “Hollywood: novela da vida real” (1932) de Olympio Guilherme. Sustenta Gárate:
são narrativas que se estruturam ao redor desse motivo [a viagem a Hollywood], assim como una série de outros tópicos comuns: o desvendamento das regras que vigoram nos grandes estúdios bem como de pormenores técnicos e truques de rodagem; o retrato de tipos que se consolidam por esses anos (a flapper, o latino sedutor, o rastaquera); a relação mimética das personagens com modelos propostos pelo cinema (aparência física, atitudes, sentimentos); o enredo amoroso (também ele estreitamente vinculado ao imaginário cinematográfico, o que resulta no entrelaçamento e no revezamento constantes dos registros da ‘vida’ e do ‘filme’); o vínculo afetivo espectador-estrela; o tema do doublê” (GÁRATE, 2017, p. 127).
Nos dois primeiros títulos (“Una aventura de amor” e “Miss Dorothy Phillips) , encena-se uma experiência que propicia o “cancelamento provisório da realidade imediata”, estabelecendo a viagem não apenas como deslocamento à capital hollywoodiana, mas como translação da vida diurna à da fantasia provocada pela escuridão da sala e pela construção da linguagem fílmica. Isso permite estabelecer uma analogia com o par vigília/sonho, desenvolvido pela autora com o auxílio das teorizações de Mauerhofer (1966), Jean-Louis Baudry (1970) e Christian Metz (1979).
As personagens que povoam esse conjunto de relatos cristalizam uma galeria de estereótipos que reenvia ao jogo instaurado entre ficcional e “real”. Nela, exibem-se os latinos que se lançaram à vida cinematográfica estadunidense: o pobre-diabo representado pelo argentino Guilhermo Grant, o mexicano Federico Granados no papel do latino fogoso, etc. Muitos deles são contemplados nesse quarto capítulo do livro, seguindo um percurso no qual a autora mostra como se configuram nas narrativas as operações que fazem parte da linguagem cinematográfica e implicam uma transferência de códigos para o texto escrito: o recurso gráfico à linha de pontos enquanto sucedâneo do corte/montagem invisível na narrativa de Quiroga, a fórmula fade in para intitular as palavras preliminares no romance de Guilherme, etc. Tais procedimentos são examinados ao longo de “Os latinos viajam a Hollywood” por meio de uma análise que evidencia a perspicácia com que Gárate consegue suturar ambas as linguagens.
Por fim, no quinto e último capítulo do livro, intitulado “Documentários de papel/Crônicas de celuloide”, a autora retoma a problemática demarcada inicialmente, com base na hipótese de que durante as últimas décadas do século XIX e princípios do XX, os escritores latino-americanos estabeleceram uma relação estreita e conflituosa com a imprensa tendo na crônica uma de suas manifestações mais significantes. Isso conduz Gárate a enfocar algumas realizações experimentais, entendidas como a cristalização vanguardista das relações exploradas ao longo de seu texto: as crônicas de Antônio de Alcântara Machado reunidas em Pathé-Baby (1926) e o filme de Alberto Cavalcanti, Rien que les heures (1926). A autora recupera, então, o eixo principal de seu percurso: a retórica do passeio, sustentando que a aparição do cinema propiciou uma triangulação entre imprensa, crônica e cinema, dando lugar ao nascimento de expressões híbridas tais como as Atualidades cinematográficas, as Cine-revistas e os Cine-jornais, por um lado, e a adoção de títulos como Kinetoscópio, Cinematógrafo, Vitascópio ou Cinema da vida em colunas cronísticas, por outro. Miriam Gárate também destaca o papel assumido pelo cinema clássico no século XX enquanto “máquina de contar histórias”, espécie de permutação ou troca de funções desempenhadas pela literatura do século XIX e pelo romance-folhetim. A exposição revela o interesse em desentranhar como se processa uma mudança radical nos textos da época, decorrente de deslocamentos nos âmbitos do jornalismo, da crônica, do romance e do cinema, sinalizando uma ruptura de categorias de gênero na qual primam as tensões. Por isso, compreende-se que Gárate se pergunte no final do volume, aludindo à imagem da “vendedora de jornais” estampada na capa do livro, e como um modo de ecoar sua reflexão, tentando descobrir o que está além da lente do olho mágico: “Rien que les heures: uma crônica de celuloide?”
Referências
BUARQUE, Chico. Estorvo. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1991. [ Links ]
CAPARRÓS, Martín. La crónica: una mirada extrema. Diario La Nación, setembro de 2007. Disponível em: <http://www.lanacion.com.ar/943086-la-cronica-una-mirada-extrema>. [ Links ]
GÁRATE, Miriam. Entre a letra e a tela. Literatura, imprensa e cinema na América Latina (1896-1932). Rio de Janeiro: Papéis Selvagens, 2017. [ Links ]
RAMOS, Julio. Desencuentros de la modernidad en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, 1989. [ Links ]
SCHAFFER, M. Pedro Lemebel. La yegua silenciada. Revista Hoy, n. 1072, fevereiro de 1998. Disponível em: <http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0044778.pdf>. [ Links ]
Notas
1 Resenha de: GÁRATE, Miriam. Entre a letra e a tela. Literatura, imprensa e cinema na América Latina (1896-1932). Rio de Janeiro: Papéis Selvagens, 2017.
2 Em: <http://www.lanacion.com.ar/943086-la-cronica-una-mirada-extrema>.
Hernán Morales. Professor na Universidad Nacional de Mar del Plata. Seus temas de pesquisa são a música e a literatura hispano-americana e brasileira, com uma ampla participação em livros e revistas acadêmicas da área. E-mail: hhjjmorales@gmail.com.
[IF]
El cine como recurso didáctico en la enseñanza virtualizada: Estudio y análisis de algunas obras fílmicas – ESCRIBANO (I-DCSGH)
ESCRIBANO, J. (ed.). El cine como recurso didáctico en la enseñanza virtualizada: Estudio y análisis de algunas obras fílmicas. El Ejido. Universidad de Almería, 2016. Resenha de: ILUNDAIN CHAMARRO, Javier. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.88, p.81-82, jul., 2017.
Uno de los grandes retos de la didáctica, al cual se enfrentan diariamente los docentes, es el de ser capaces de transmitir de forma simultáneamente atractiva y eficaz. En este sentido, el mundo actual nos ofrece un abanico casi infi nito de posibilidades de experimentación mediante el uso de las «viejas» y «nuevas» tecnologías. Sin embargo, solo a veces se abordan de forma sistematizada y son contadas las ocasiones en las que dicha experimentación se transmite y transfi ere a la comunidad científi ca.
El libro objeto de esta recensión se nos presenta como una propuesta de trabajo orientada a satisfacer unas necesidades educativas concretas mediante un recurso didáctico plenamente accesible a docentes y discentes: el cine.
La finalidad de esta publicación es pues ofrecer una herramienta de trabajo para docentes de diferentes áreas de las ciencias jurídicas, sociales y humanas. Este recurso puede tener una aplicación inmediata si seguimos de forma directa la propuesta, pero también puede servir de modelo para futuras intervenciones didácticas. Aunque en varias ocasiones se plantea como alumno objetivo a los estudiantes universitarios, lo cierto es que, con unas leves adaptaciones, la propuesta es aplicable también a alumnos de enseñanzas medias. De la misma manera, la idea rebasa las limitaciones de la enseñanza no presencial, pudiendo aplicarse estos modelos a la docencia presencial o semipresencial. El cine como recurso didáctico en la enseñanza virtualizada tiene un especial valor en la actualidad gracias a su accesibilidad a través de Internet. La nómina de películas incluida en esta monografía es muy variada en lo que a épocas, temáticas y géneros se refiere. Ello es una muestra tanto de la vigencia y validez para este propósito de cintas clásicas como de la posibilidad de trabajar con producciones recientes y, en principio, más cercanas al alumno objetivo.
La obra está compuesta de ocho colaboraciones de especialistas en diferentes ramas del saber. Cada uno de los capítulos se estructura de forma similar. Se presenta la obra mediante una fi cha técnica completa y una sinopsis argumental. A continuación, se elabora un comentario de la misma en el que se abordan las claves interpretativas de la película y se avanzan algunas refl exiones. Le sigue una propuesta de trabajo guiado en el que se plantea una serie de preguntas destinadas a orientar el análisis y la refl exión por parte del alumno. Finalmente se incluyen unas breves conclusiones y una fi lmografía complementaria, de gran utilidad para explorar los temas tratados en otras obras cinematográficas.
Rosa María Almansa inaugura la obra con un comentario sobre ¡Qué verde era mi valle! (John Ford, 1941) cuyo fi n es acercar al alumnado los cambios sociales y económicos vinculados a las transformaciones de la sociedad rural británica a principios del siglo xx. También la profesora Almansa se encarga del capítulo centrado en la realidad social, concretamente de las mujeres, en la Rusia soviética de la segunda mitad del siglo xx. En este caso ofrece un excelente modelo de comentario para Moscú no cree en las lágrimas (Vladimir Menshov, 1979). La fi gura del docente es una de las claves en El club de los emperadores (Michael Hoffman, 2002). Su análisis, a cargo de Raquel Gil Fernández, ahonda en el papel jugado por los maestros en la formación integral del alumnado. Juan Escribano, coordinador de la obra, propone Fast Food Nation (Richard Linklater, 2006) como ejemplo de análisis de la realidad laboral de los países enriquecidos, abordándola desde un punto de vista principalmente jurídico, pero con evidentes ramificaciones en los planos económico, político y social. También en el ámbito del derecho del trabajo se encuentra el estudio de María Dolores Santos sobre Pago justo (Nigel Cole, 2010). Aquí el núcleo es el conflicto originado en la discriminación retributiva por razones de sexo. Un clásico del cine alemán (M, el Vampiro de Düsseldorf, Fritz Lang, 1931) ha sido escogido por Federico Fernández-Crehuet para reflexionar sobre las bases de la justicia y el Estado contemporáneo. El profesor Fernández-Crehuet propone, además, un jugoso análisis de la estética del filme como vía para comprender su simbolismo. En la línea de la filosofía del derecho, Daniel J. García López señala Django desencadenado (Quentin Tarantino, 2012) para ofrecer un nuevo elemento de reflexión: los fundamentos del ejercicio de la justicia y la justificación de la esclavitud. Finalmente, el libro concluye con el análisis de Robin Hood (Ridley Scott, 2010) a cargo de Víctor Luque de Haro y Miguel Á. Luque Mateo. En este caso, la película es susceptible de una interpretación fiscal, como ejemplo del devenir histórico del sistema tributario y de su diversificación.
En definitiva, nos encontramos ante un recurso didáctico fundado en un acertado abordaje del cine como herramienta educativa. El modelo de análisis, aunque centrado en ciertas disciplinas sociales (historia contemporánea, didáctica de las ciencias sociales, derecho del trabajo, derecho financiero o filosofía del derecho), puede extenderse y aplicarse a otras áreas del saber, abriendo así un enorme abanico de posibilidades.
Juan Escribano Gutiérrez es doctor en Derecho, especialista en derecho del trabajo y profesor titular de la Universidad de Almería. Ha participado en diferentes proyectos de innovación docente y en proyectos I+D+i sobre áreas del derecho. A este respecto, destaca su papel activo en 2016 en el proyecto titulado: El cine como instrumento de adquisición de habilidades en la docencia impartida en régimen semipresencial.
Javier Ilundain Chamarro – E-mail: javier.ilundain@unir.net
[IF]12 hombres en pugna: Ni castigo/ ni perdón. El derecho a dudar | Eddy Chávez
Sin duda el mejor libro sobre cine y derecho hasta el momento. De hecho esa ha sido la misión del joven profesor Chávez, que ante cada nuevo proyecto piensa siempre en superar lo ya realizado con anterioridad, en orden de aparición: Eddy participó en “Cine, ética y argumentación judicial” (SCJN, México, 2013), después “Jóvenes abogados en el cine” (Grijley, Perú, 2014), y en el mismo año “Las elecciones en el Cine” (JNE, Perú) –en el que también estuvo involucrado Michell Samaniego Monzón- en 2015 sale el que ahora comentamos “12 hombres en pugna: Ni castigo, ni perdón. El derecho a dudar” (Grijley, Perú) el reto se ha cumplido, 12, es el segundo libro de la colección “Cine y Derecho” lo que refrenda el interés por el tema y la continuidad, de hecho, son ediciones que son esperadas con expectación por un público que se va consolidando, podemos hablar ya sin dudas, de un área temática con autonomía que se va profesionalizando, por ahora se trata de cursos periféricos o de profesores que utilizan el cine como recurso didáctico, pero estoy seguro que en muy poco tiempo veremos cursos lectivos dentro de la curricula regular sobre derecho y cine. Leia Mais
Aprender del cine: narrativa y didáctica – ALVES et al (RHH)
ALVES, Luís Alberto; GARCÍA GARCÍA, Francisco; ALVES, Pedro (Coord.). Aprender del cine: narrativa y didáctica. Madrid: Icono14 Editorial; Porto: CITCEM, 2014. 232p. * Resenha de: LIMA, Rui Guimarães. A didática do cinema nos processos de ensino-aprendizagem: teoria e práxis educativa. Revista História Hoje, v. 5, nº 9, p. 249-251 – 2016.
Publicada com a chancela editorial da associação científica “Icono14”, na sua coleção Estudios de Narrativa, em coedição com a Unidade de Investigação CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória”, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto), a obra Aprender del cine: narrativa y didáctica reúne um importante conjunto de estudos académicos assinados por conceituados especialistas dos dois países ibéricos, orbitando em torno de temas como a produção e narrativa cinematográficas, a receção fílmica, a sua pragmática e o estudo da sua aplicação em contextos educacionais, consubstanciando-se num relevante labor teórico e empírico, de caráter transdisciplinar, ao delimitar o seu objeto de estudo e perspetivar ainda futuras linhas de investigação e desenvolvimento.
Deste modo, podemos dividir em três partes o livro em análise. A primeira das quais, a qual designaremos das questões introdutórias, contém, além da “Nota de abertura” deste que é considerado, por Pedro Alves, como “o primeiro resultado impresso de um projeto internacional … que visa explorar teórica e empiricamente o potencial narrativo e fílmico no âmbito de contextos educativos” (p.11), um resumo biográfico dos nove autores que assinam os seus diversos capítulos. Na segunda parte, a obra desenvolve-se ao longo de seis capítulos nucleares, dois dos quais, nomeadamente os da autoria de Francisco García García (“El cine como ágora: saber y compartir las imágenes de um relato fílmico”) e de Mario Rajas (“Estrategias del discurso narrativo: participación activa del espectador en el relato cinematográfico”), centrando a sua análise a nível da produção cinematográfica, da sua linguagem específica e dos seus respetivos impactos; paralelamente, o texto deste último autor, juntamente com o capítulo redigido por Pedro Alves (“Pragmática del espectador en las narrativas fílmicas”), abordam, sob um ponto de vista teórico, as problemáticas associadas à receção cinematográfica do espetador; e ainda outros três capítulos, respetivamente da autoria de Pérez García e Muñoz Ruíz (“Análisis didáctico de narrativa audiovisual”), de Cláudia Ribeiro e Luís Alberto Alves (“Uso do Cinema na didática da História”), e de Tiago Reigada (“Relato de uma experiencia didática com o Cinema”) que, num prisma teórico-empírico e versando especificamente a disciplina de História, ilustram um rol de experiências de aplicação pedagógico-didática do cinema, bem como a sua origem e evolução histórica ao longo do século XX, designadamente em Portugal.
Por fim, a terceira e última parte da publicação, que apelidaremos de reflexões conclusivas, é constituída pelas “Notas conclusivas”, da responsabilidade de João Teixeira Lopes, proporcionando-nos um peculiar enfoque tendo por base a sociologia da arte, bem como pela “Contextualização histórica e prospetiva do projeto” que, integrado num programa de investigação internacional e considerando o cinema como um poderoso recurso ou ferramenta didática, incide sobre as potencialidades e as orientações relativas à sua utilização pedagógica em contexto de sala de aula, projeto científico esse que foi catapultado e tem vindo a ser dinamizado e implementado, em Portugal, pela Unidade de Investigação CITCEM, em parceria com a supracitada Associação Científica “Icono14”, com sede na capital espanhola.
Efetivamente, culminando na sua forma impressa um projeto já iniciado em 2012, então com a designação de “Cinema, Didática e Cultura”, esta publicação, ainda de acordo com Pedro Alves, um dos coordenadores desta edição, surge na sequência lógica da dinamização e produção de “vários seminários de reflexão … artigos científicos e teses de doutoramento centradas no objeto de estudo” (Alves, 2015, p.11). Em boa verdade, e sob um ponto de vista estritamente teórico, as referências bibliográficas elencadas no labor dos investigadores que participaram na produção deste livro acaba por constituir-se numa compilação extremamente atual do “estado da arte” neste campo de pesquisa, patenteando-se, numa apropriação da terminologia da “sétima arte”, como um autêntico “plano de pormenor” para a comunidade científica, para o público especializado ou para todos aqueles que nutrem particular interesse nas temáticas nele aportadas.
Portanto, e numa constante ao longo dos diversos capítulos da obra, os autores procedem à articulação teórico-prática do cinema como recurso didático, quer seja com base numa problematização de cariz mais teórico (Cf. García; Ruíz), quer seja através do debate histórico (Cf. Ribeiro; Alves) ou ainda da discussão com um cunho mais pragmático (por exemplo, através da descrição sumária de um estudo de caso, no âmbito da disciplina de História; Cf. Reigada).
Por conseguinte, a pesquisa e a investigação científica de variáveis que se correlacionem com a introdução, exploração e maximização da “sétima arte” em contextos educativos e enquanto recurso pedagógico-didático é, nos nossos dias, tanto mais premente quanto mais abundante é a proliferação da produção cinematográfica.
Em última análise, e como muito apropriadamente assinala outro dos coordenadores editoriais desta publicação, Luís Alberto Alves (2015, p.227), O desiderato é transformar o distanciamento que essa gramática e vocabulário próprios podem criar, num processo de aproximação gradual, sistemático, informado, didático, possível quando os ‘especialistas’ estão conscientes da realidade e quando o simples passatempo se pode transformar num verdadeiro espaço de aprendizagem.
Por fim, digno de registo é ainda o facto de esta publicação representar inequivocamente um marco na “luta contra o estigma da marginalização das investigações no domínio das ciências humanas e sociais, constituindo, por isso, uma prova evidente do ‘espirito de sobrevivência’ da vontade de investigar, contra os muros de natureza financeira que são erguidos de forma (in) esperada” (Alves, 2015, p.13).
Concluindo, e como brilhantemente sintetiza Pereira (2015, p.450), Fragmentos de investigações doutorais em conclusão ou repositórios de longas experiências de investigação académica sobre o tema, consoante os respectivos autores, cada artigo constitui um campo denso de problematização que, como em qualquer programa científico, desdobra cada resposta que encontra num novo nicho de perguntas e questões que se ergue.
Rui Guimarães Lima – Doutor em Ciências da Educação. Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” (CITCEM). Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP). Porto, Portugal. rglima@letras.up.pt.
O Cinema Vai à Guerra – TEIXEIRA DA SILVA; SHURSTER (DSSC)
TEIXEIRA DA SILVA, Francisco Carlos; LEÃO, Karl Shurster Sousa; LAPSKY, Igor (Org). O Cinema Vai à Guerra. Rio de Janeiro: Campus, 2015, 274 pp. Resenha de SANTIAGO JÚNIOR, Francisco das Chagas. Studi di Storia Contemporanea, n. 26, v. 2, 2016.
O Cinema vai à Guerra, libro curato da Francisco Carlos T. da Silva, Karl Schurster Leão e Igor Lapsky si inserisce nel solco della tradizione storiografica brasiliana attenta alla relazione fra storia e cinema. È importante contestualizzare il libro nel quadro degli studi storiografici sul cinema degli ultimi decenni. In Brasile, la storiografia si è approcciata al cinema a partire dal manuale A pesquisa histórica no Brasil, di José Honório Rodrigues, pubblicato nel 19521. Tuttavia, è stato solo a seguito della traduzione, nel 1976, del celebre testo di Marc Ferro, Cinema: uma contra análise da sociedade? nella raccolta collettanea História: novos problemas, curata da Jacques Le Goff e Pierre Nora, che ha preso avvio un movimento volto a dare maggior risalto ai film2. Nel 1988, il lavoro pionieristico Cinema e História do Brasil: propostas para uma história, scritto da Jean-Claude Bernardet e Alcides Freire Ramos, operò un’analisi di pellicole di fiction e documentari brasiliani, spesso alla luce della “storia del tempo presente” francese e prendendo in considerazione la proposta di Marc Ferro nel saggio già menzionato: l’uso del film come fonte storica; il film come rappresentazione della storia; il film come agente della storia3.
Negli anni Novanta il cinema, nella produzione accademica brasiliana, venne definitivamente considerato alla stregua di un oggetto storiografico. In quel decennio videro la luce le prime tesi specialistiche e di dottorato su questo tema e vennero pubblicate alcune traduzioni in lingua portoghese dei testi degli storici pionieri nello studio della relazione cinema-storia, come Marc Ferro, Pierre Sorlin e Robert Rosenstone. Tre gruppi di ricerca storiografica risultarono decisivi in questa rielaborazione: nelle università statali di San Paolo vennero realizzati i primi studi, tra cui spiccavano quelli di Alcides Freire Ramos, Cláudio Aguilar, Eduardo Morettin e Cristina Meneguello; dalle università di Rio de Janeiro vennero prodotti testi dedicati ai film storici e alle relazioni tra cinema e ideologie politiche nel XX secolo: qui si distinsero Mariza de Carvalho e Francisco Carlos T. da Silva; a Bahia, il laboratorio “Occhio della storia”, all’interno dell’Universidade Federal di Bahia, organizzò traduzioni e lavori di ricerca indirizzati allo studio dei film e alla realizzazione di recensioni di pellicole storiche, attribuendo una particolare attenzione alla rappresentazione cinematografica del passato, e qui si distinsero storici come Cristiane Nova e Jorge Nóvoa. Nel 1997, in un’importante raccolta collettanea venne pubblicato il testo História e imagem: os casos do cinema e da fotografia, scritto da Ciro Cardoso e Ana Maria Mauad, che in qualche modo ufficializzava il cinema come oggetto storiografico brasiliano4, concetto che venne riaffermato nel 2001, quando un gruppo di storici pubblicò la collettanea A história vai ao cinema5, curato da Jorge Ferreira e Mariza de Carvalho, dedicata esclusivamente a indagare la rappresentazione del passato nel cinema brasiliano6.
Il tema della guerra nel cinema non è nuovo né nello scenario internazionale, né in Brasile, non essendo, peraltro, monopolio della ricerca storica. La maggior parte delle monografie precedenti, infatti, sono state scritte – in ambito brasiliano – da studiosi o critici cinematografici. Nel caso degli studi storici in Brasile, il tema è stato considerato principalmente come una forma di rappresentazione del passato, dal momento che era spesso legato anche con l’affermazione della storia del tempo presente come campo di ricerca per gli storici. L’interesse per il tema si è esplicitato attraverso le principali raccolte miscellanee pubblicate nel primo decennio del secondo millennio: História e cinema: dimensões históricas do audiovisual, del 2005, che presenta una delle cinque sezioni del libro dedicata al tema, che comprende un articolo di Wagner Pinheiro Pereira presente anche in O cinema vai à guerra, e Cinematógrafo: um olhar sobre a história, del 2009, che dedica una delle sue tre parti alla traduzione di testi sulla Seconda guerra mondiale al cinema di ricercatori francesi del calibro di Silvye Lindperg e Jean-Pierre Bertin-Maghit7. Spicca il testo pionieristico di Francisco Carlos T. da Silva, Guerras e cinema: um encontro no tempo presente, pubblicato nel 20048. Quest’ultimo autore ha riunito assieme a Igor Lapsky e Karl Schurtzer una serie di ricercatori legati Laboratório de Estudos do Tempo Presente, la cui sede originaria era presso l’Universidade Federal di Rio de Janeiro, oltre ad altri centri accademici di tutto il Brasile, per comporre la raccolta miscellanea O cinema vai à guerra, dando continuità a una riflessione sull’appropriazione dell’esperienza storica della guerra da parte del cinema e potendo contare sull’infoltirsi delle fila degli storici studiosi di cinema, che dimostrano interesse nei confronti della costruzione visuale del passato, così come della nuova generazione di ricercatori dediti principalmente all’analisi della relazione tra cinema e storia, le cui tesi di dottorato sono state discusse dal 2000 in avanti.
O cinema vai à guerra è organizzato a partire dalla guerra intesa come topos della storia del tempo presente e della rappresentazione del passato (lontano e prossimo). Dal momento che i film su cui si concentrano i ricercatori sono legati a molteplici cinematografie nazionali (tra cui spicca quella nordamericana, ma anche quella francese, tedesca, spagnola, russa…), molti conflitti sono ricorrenti, principalmente quelli che hanno marcato il XX e il XXI secolo come la Prima e la Seconda guerra mondiale, la Guerra del Vietnam, oltre alla Guerra fredda e alla Guerra al terrorismo. Vengono discusse anche le guerre che hanno acquisito un carattere di (ri)fondazione nazionale, come la Guerra di secessione nordamericana e la Guerra civile spagnola.
Nella prospettiva secondo cui la narrazione cinematografica sarebbe «la principale concorrente della narrazione storica»9, i testi del volume riconoscono il ruolo del cinema nell’elaborazione visiva della coscienza storica dei secoli XX e XXI e del suo funzionamento come produttore di immagini del presente e del passato che finiscono per comporre la memoria delle comunità nazionali. Il cinema è un media all’interno sul quale si sviluppano dispute culturali e ideologiche dal momento che il film è «una modalità di rappresentazione, avallata dalla sua ampia ricezione popolare, della storia, uno dei molti modi di narrarla»10.
Si tratta, in totale di dodici capitoli: Gracilda Alves discute della relazione tra occidentalismo e orientalismo nel cinema in Cinema, guerra, civilização e barbárie; Rafael Araújo e Karl Schurster riflettono sulla rappresentazione delle guerre coloniali in Imperialismo e cinema; Carlos Leonardo Bahiense da Silva indaga come i traumi della guerra siano stati inseriti nelle trame dei film tedeschi degli anni Sessanta e nel cinema inglese dello stesso decennio in A grande guerra (1914-1918) no espelho in cui si tratta di shell shocks; il testo Guerra civil espanhola: o cinema do general Franco, di Wagner Pinheiro Pereira discute l’eredità del conflitto spagnolo così come l’uso franchista del cinema; Karl Schurster e Francisco Carlos T. da Silva in A segunda guerra mundial (1939-1945): heroísmo e tragédia trattano delle «narrazioni del disagio»11 a partire dalle pellicole contemporanee e successive al conflitto; il concetto di genocidio/sterminio e le sue rappresentazioni al cinema vengono discusse nel testo Cinema e genocídio no século XX: a análise dos grandes massacres étnicos, religiosos e sociais, di Carlos Leonard da Silva e Ricardo Pinto dos Santos; l’impegno del cinema nello sviluppo del pacifismo nel corso del XX secolo viene trattato nel capitolo Guerra e paz: pacifismo, gênero e identidade na tela di Francisco T. Carlos da Silva; l’inserimento della Guerra fredda nella vita quotidiana da parte delle cinematografie nordamericane e sovietica viene affrontato da Alexandre Busko Valim in Cinema e guerra fria: entre Hollywood e Moscou; la traumatica esperienza sociale del Vietnam per la società nordamericana trovo in A guerra do Vietnã (1965-1975): o trauma de uma geração, di Carlos Leonardo da Silva e Igor Lapsky un luogo di dibattito; infine, le rappresentazioni del terrorismo nel cinema americano sono oggetto del saggio A Guerra ao terror: o pós-guerra fria, di Igor Lapsky. La collettanea introduce tematiche eterodosse nel dibattito su guerra e cinema: il combattimento contro gli alieni nel capitolo A guerra entre mundos: não estamos sozinhos!, di Dilton e Andreza Maynard e il fallimento della società contemporanea negli immaginari post-bellici intesi come futuri distopici in Cinema e distopias: as guerras do futuro, di José Maria Gomes de Souza Neto.
Alcune problematiche-concetti percorrono molti o quasi tutti i testi: tra queste spiccano identità, allegoria e conflitto/guerra. Quest’ultimo permette di accostare alla dimensione bellica degli eventi storici canonici (le guerre mondiali, la Guerra fredda, la Guerra del Vietnam, la Guerra civile spagnola, etc.) prospettive di guerre sociali e civili immaginarie (distopie, guerre contro invasori spaziali) evidenziando un aspetto fondamentale della raccolta di saggi: la guerra è tanto la rappresentazione in film d’ambito definito, ad esempio Apocalipse Now12 o Va’ e vedi13, quanto un’esperienza immaginaria proiettata in film inaspettati come Blade Runner14. La raccolta rifugge dall’approccio più prevedibile del dibattito sui “film di guerra” – genere oltremodo presente nelle trattazione – e si sofferma sui molteplici usi simbolici della guerra fatti nelle pellicole. In quest’ottica, i testi non sistematizzano gli aspetti legati al fenomeno di istituzionalizzazione storica della guerra come tema e genere nelle diverse cinematografie nazionali analizzate. Da un lato questo denota un approccio trasversale al problema storico (la guerra) che dimostra come le pellicole furono, nei diversi contesti sociali, armi, mezzi catartici, forme di protesta, strumenti di propaganda, proiezioni delle inquietudini collettive e di altre sensibilità, allegorie politiche e così via. Si comprende perciò come la maggior parte dei capitoli non segua le tradizionali partizioni della cinematografia nazionale (sebbene gli Stati Uniti siano distinti), già oggetto di critica da parte di storici come Michelle Lagny15.
L’identità è un altro problema centrale, dal momento che permette di capire come le rappresentazioni della guerra siano connesse con processi storici come il colonialismo, l’imperialismo, il genocidio… La distinzione noi/loro ossia attraverso le categoria antitetiche di alleato/nemico, indigeno/straniero, fedele/traditore, terrestre/extraterrestre è una costante che permette di comprendere come le immagini della guerra mutino con il tempo. In alcuni passaggi emerge il riferimento a Edward Said, dal momento che l’intera raccolta di saggi è permeata da una problematizzazione dell’identità come esperienza storica legata ai giochi di potere prodotti dall’interazione dei centri capitalisti con le proprie periferie, dal momento che entrambi sono stati toccati dall’esperienza del colonialismo e dell’imperialismo. Questo permette molteplici interpretazioni della guerra al cinema, che diventa una finestra per indagare la cultura politica del XX e XXI secolo, facendo del ricorso alla lettura allegorica una delle principali chiavi analitiche degli autori – anche se metodologicamente non viene dichiarata o problematizzata –, che interpretano una serie di film ora come sintomi, ora come cause dei processi politici in cui si trovano compresi. Evidentemente, negli scenari politici caratterizzati dalla tensione politica, molti cineasti impiegarono l’allegoria nella narrazione cinematografica, espediente comune al cinema moderno, dal momento che permetteva la costruzione di «segni di una nuova coscienza storica»16 tipica della contemporaneità. In molti casi gli autori del libro seguono queste indicazioni (quando il film si presenta come allegorico); in altri considerano le pellicole come sintomatiche di altre situazioni che non gli sono proprie, la cui dimensione e il cui impatto storico possono essere comprese solamente quando le si inserisca nella prospettiva dell’interscambio fra il cinema e le comunità politiche in cui questo si è sviluppato.
Notas
1 RODRIGUES, José Honório, A Pesquisa histórica no Brasil, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1978.
2 FERRO, Marc, O filme: uma contra-análise da sociedade, in LE GOFF, Jacques, NORA, Pierre (org.), História: novos objetos, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1995, pp. 199-215.
3 RAMOS, Alcides Freire, BERNARDET, Jean-Claude, Cinema e história do Brasil, São Paulo, Contexto/EDUSP, 1988.
4 CARDOSO, Ciro, MAUAD, Ana Maria, História e imagem: os casos do cinema e da fotografia, in CARDOSO, Ciro, VAINFAS, Ronaldo (org.), Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia, Rio de Janeiro, Editora Campus, 1997.
5 CARVALHO, Mariza, FERREIRA, Jorge (org.), A história vai ao cinema: vinte filmes brasileiros comentados por historiadores, Rio de Janeiro, Record, 2001.
6 Per approfondire la nascita e il consolidamento della ricerca sul cinema nella storiografia brasiliana, si veda: SANTIAGO JR., Francisco das C. F., «Cinema e historiografia: trajetória de um objeto metodológico (1971-2010)», in História da historiografia, 8, 1/2012, pp. 151-173, URL: < http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/270/261 > [consultato il 3 marzo 2016]
7 CAPELATO, Maria Helena, MORETTIN, Eduardo, NAPOLITANO, Marcos, SALIBA, Elias (a cura di), História e cinema: dimensões históricas do audiovisual, São Paulo, Alameda, 2007; NÓVOA, Jorge, FRESSATO, Soleni Biscouto, FEIGELSON, Kristian (a cura di), Cinematógrafo: um olhar sobre a história, Salvador-São Paulo, EDUFBA -Editora UNESP, 2009.
8 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da, «Guerras e cinema: um conto do tempo presente», in Tempo, 16, 1/2004, pp. 93-114, URL: <http://www.historia.uff.br/tempo/site/?cat=44> [consultato il 3 marzo 2016.
9 SILVA, Francisco Carlos Teixeira, LEÃO, Karl Shurster Sousa, LAPSKY Igor (org.), O Cinema Vai à Guerra, Rio de Janeiro, Campus, 2015, p. XI.
10 Ibidem, p. XII.
11 Ibidem, p. 91.
12 COPPOLA, Francis F., Apocalypse Now, United Artists, Stati Uniti, 1979, 150’.
13 KLIMOV, Elem, Иди и смотри, Mosfilm-Belarusfilm, Unione Sovietica, 1985, 145’.
14 SCOTT, Ridley, Blade Runner, Warner Bros, Stati Uniti, 1982, 117’.
15 LAGNY, Michelle, Cine y historia: problemas y métodos en la investigación cinematográfica, Barcelona, Bosch, 1997.
16 XAVIER, Ismail, A alegoria histórica, in RAMOS, Fernão Pessoa (a cura di), Teoria contemporânea do cinema: pós- estruturalismo e filosofia analítica, São Paulo, SENAC, 2005, pp. 339-379, p. 362.
Francisco das Chagas F. Santiago Júnior si è addottorato in storia presso l’Universidade Federal Fluminense, Niterói/Brasil con una tesi sull’appropriazione delle religioni afro-brasiliane nel cinema del periodo del regime dittatoriale degli anni Settanta. Lavora sulla relazione fra storia e cinema a partire da differenti assi di ricerca: il cinema e l’afro-brasilianità, la negoziazione del patrimonio culturale all’interno del cinema brasiliano, l’uso del passato nel cinema nazionale. Ha pubblicato numerosi articoli sulla cultura visuale, la teoria dell’immagine e la metodologia della ricerca multimediale.
Encontros com Moçambique / Regiane A. Mattos, Matheus S. Pereira e Carolina G. Morais
“Encontros com Moçambique” é um livro fruto de apresentações e debates realizados durante a II Semana da África: Encontros com Moçambique, na PUC do Rio de Janeiro, entre os dias 21 e 23 de março de 2016. Se há uma década os colóquios e seminários reuniam pouco mais de uma dezena de pesquisadores interessados na grande área de História da África, abrangendo assim um amplo recorte temático e temporal de estudos, este livro é o retrato de como, hoje, encontramo-nos em um novo momento. Regiane Augusto de Mattos, Carolina Maíra Gomes Morais e Matheus Serva Pereira apostaram que seria possível organizar uma obra que reunisse pesquisas cujo tema principal fosse Moçambique. A investida não apenas se concretizou como é prova, como afirma Valdemir Zamparoni em seu prefácio à obra, de “um amadurecimento ímpar da área de estudos africanos”2 no Brasil.
Com a maioria dos trabalhos delimitados pelo período colonial ou que perpassam o período em sua análise, o livro conta com 10 artigos divididos em 3 unidades: Deslocamentos, conexões históricas e conflitos; Narrativas; e Agendas de um Moçambique contemporâneo. Na primeira parte, um ponto de união entre os textos são os fatores condicionantes e as consequências de deslocamentos, forçados ou não, em diferentes períodos históricos, além do uso de fontes oficiais, trabalho etnográfico ou registros de imprensa para as análises, com acurado rigor metodológico no uso da documentação.
O artigo de Regiane Mattos, “Aspectos translocais das relações políticas em Angoche no século XIX”, contempla as relações entre sociedades litorâneas e interioranas do norte de Moçambique, destacando os contatos não hierárquicos entre o sultanato de Angoche e as elites muçulmanas de outras localidades, em especial no Zanzibar. Mattos parte de um evento principal para orientar sua pesquisa e desafiar a interpretação tradicional da historiografia: a viagem do comandante militar de Angoche, Mussa Quanto, e seu parente sharif, em 1849. A autora, a partir desse deslocamento, avalia a formação de uma rede comercial e cultural no oceano Índico em consonância com o aumento da presença da religião muçulmana nesses territórios. Mais do que realizar a análise histórica de uma questão localmente específica, interessa a Mattos averiguar as conexões a partir da perspectiva da translocalidade, conceito desenvolvido pela historiadora Ulrike Freitag e central na abordagem proposta no artigo. Muito bem explicado no texto, o conceito ampara a pesquisa em seu objetivo de destacar as interconexões entre lugares e atores, abrindo espaços para ressignificações de aspectos globais em âmbito local.3
No artigo seguinte, “Algazarras ensurdecedoras: conflitos em torno da construção de um espaço urbano colonial (Lourenço Marques – 1900-1920)”, Matheus Serva Pereira aborda, a partir de notícias na imprensa local, a difícil relação entre o projeto urbano colonial português para Lourenço Marques, cuja área central de Maxaquene foi delimitada para a ocupação de famílias brancas europeias, e a insistência – e resistência – dos “batuques” da população local. O argumento de Serva Pereira é que, a despeito do projeto colonial urbano, do uso da violência física e simbólica no deslocamento forçado das comunidades para a periferia, as notícias veiculadas na imprensa da época põem em xeque o sucesso de tal empreitada. Pereira atesta que os batuques, como práticas culturais, revelam uma atuação “longe de passiva em relação as instituições criadas para regular e fiscalizar o perímetro urbano de Lourenço Marques”4, estabelecendo assim um diálogo estreito com as premissas teóricas de Frederick Cooper sobre a noção de resistência em espaços coloniais5. Do mesmo modo, o autor esforça-se em defender uma organização social não totalmente polarizada na cidade, ao recompor o espectro social dos batuques nas cantinas de Lourenço Marques, onde não era incomum a convivência, num mesmo espaço de diversão, de figuras oficialmente opostas na lógica colonial e urbana.6
Ainda sob a premissa dos deslocamentos e seus conflitos, o capítulo que encerra o primeiro conjunto de textos, “Saúde além das fronteiras: doenças, assistências e trabalho migratório ao sul de Moçambique (1930-1975)”, de Carolina Maíra Gomes Morais, analisa de que maneira a imigração de trabalhadores para a África do Sul, no período colonial, além de atender a uma demanda econômica, trouxe consequências sensíveis no âmbito da saúde e das relações pessoais em Moçambique. Para acessar as condições desse movimento migratório, Morais faz uso, sobretudo, de fontes oficiais de relatórios de inspetores administrativos e se questiona de que maneira se davam as relações entre medicina “oficial” e “tradicional”. Pela disponibilidade das fontes, há uma comprovação mais substancial em relação à atuação dos Serviços de Saúde do que ao recurso à medicina tradicional. Interessante é notar a fluidez de fronteiras entre Moçambique e África do Sul sugerida pela autora para os saberes e medicinas tradicionais, proporcionada pelo trabalho migratório, além da ampla modificação nas relações pessoais em Moçambique, quando do retorno dos trabalhadores.
Na segunda unidade do livro, composta por trabalhos de pesquisadores provindos de diferentes áreas do conhecimento, os artigos têm em comum o estudo de uma obra ou do conjunto da obra de moçambicanos. Nesta unidade, que traz fontes interessantes e pouco convencionais nas pesquisas sobre Moçambique, como a fotografia e o cinema, cumpre enfatizar como nota comum o superdimensionamento do contexto histórico nas abordagens. Nos trabalhos, o contexto é instrumentalizado de modo a legitimar as narrativas ficcional ou visual presentes na documentação, utilizada muitas vezes como mero exemplo comprobatório da realidade colonial. Não resta dúvida quanto ao esforço teórico de todos os textos da unidade, mas, de um modo geral, a metodologia utilizada para a análise da relação entre ficção e História, literatura e História e visualidade e História nesses trabalhos limitou o uso mais abrangente das fontes, negligenciando, em certa medida, as narrativas criativas das próprias obras como propositivas e autoras de discursos formadores do social.
Em “O cinema em Moçambique – história, memória e ideologia: análise dos filmes Chaimite, a queda do Império Vátua (1953) e Catembe: sete dias em Lourenço Marques (1965)”, Alex Santana França realiza uma interpretação sócio-histórica e comparativa entre os filmes Chamite… e Catembe…, ancorando-se na perspectiva teórica de Francis Vanoye. Com a análise sobre Chaimite, o autor demarca as principais características do cinema de propaganda portuguesa, que se dispunha a responder, na época, à crítica internacional sobre o colonialismo luso. Catembe…, ao mesmo tempo em que demonstra o empenho português em conformar uma imagem oficial das colônias, comprovado pelos diversos cortes impostos ao filme, é considerado pelo autor como um exemplo de crítica à colonização.
Em “Não Vamos Esquecer! A propósito da fotografia ‘Marca de gado em jovem pastor’ de Ricardo Rangel”, Isa Márcia Bandeira de Brito busca analisar uma imagem feita pelo fotógrafo moçambicano em 1973, na qual um menino havia sido ferido a ferro na testa por seu patrão, por ter deixado fugir um animal. O prisma da autora na interpretação da imagem, no entanto, não favorece uma análise aprofundada e complexa do objeto, já que toma a imagem como exemplo das relações de violência colonial de maneira generalizada e dicotomiza as relações colonizador/colonizado, enfoque do qual vem se distanciando a historiografia mais recente, amparada nos estudos pós-coloniais, como são exemplos trabalhos consagrados, como os de Frederick Cooper, Homi Bhabha e Mary Louise Pratt7. A autora, vale frisar, mobiliza uma bibliografia interessante para a teorização do objeto no campo das visualidades e o trabalho dimensiona possíveis significados simbólicos da fotografia.
Em “A poesia contestatória de Noémia de Sousa e a situação colonial em Moçambique (1948-1951)”, Gabriele de Novaes Santos se propõe a compreender como a imprensa se ofereceu como veículo para a poesia de contestação colonial da escritora moçambicana Noémia de Sousa. O trabalho de Gabriele Santos é ainda inicial e, portanto, muito promissor, uma vez que a autora abre, no próprio texto, possibilidades de pesquisa interessantes sobre a obra da moçambicana. Por fim, o texto que encerra Narrativas é de autoria de Fatime Samb, com o título “A mulher moçambicana e as práticas culturais”. Ainda no primeiro parágrafo, a autora atesta sua proposta de fazer uma análise sobre o livro Niketche: uma história de poligamia e sobre o papel da mulher na obra de Paulina Chiziane. Samb faz uma importante recapitulação sobre as relações de gênero em Moçambique e a posição social da mulher na “sociedade tradicional” moçambicana, além dos impactos da independência nas relações de gênero e atuação política feminina a partir do comando da Frelimo, um tema ainda pouco conhecido e abordado em pesquisas sobre Moçambique.
A terceira e última unidade do livro, Agendas de um Moçambique contemporâneo, é formada por três artigos, sendo que dois estão em profundo diálogo a respeito da inserção internacional moçambicana, e provêm de duas áreas de formação distintas: Administração e Antropologia. Elga Lessa de Almeida e Elsa Sousa Krayachete, em “Moçambique e a cooperação internacional para o desenvolvimento”, fazem um retrospecto sobre as relações bilaterais estabelecidas por Moçambique com seus parceiros internacionais, demarcando a diferença entre cooperações verticais e horizontais, estas firmadas por países em desenvolvimento, como África do Sul, China e Brasil. O estudo de Elsa de Almeida e Elga Krayachete e o de Fernanda Gallo, “(Des)encontros do Brasil com Moçambique: o caso da Vale em Moatize” complementam-se diante do leitor atento às investidas e consequências da presença brasileira no país. Com um interessantíssimo trabalho antropológico, Gallo busca a vivência da população diante das transformações provocadas pela chegada das empresas multinacionais, em especial a mineradora Vale, e pergunta-se se há alguma relação entre esses megaprojetos para o país e a retomada crescente dos conflitos com a Renamo e ataques a trens. A antropóloga, munindo-se das comprovações de seu trabalho de campo, torna evidente ao leitor o desrespeito das empresas sobre as relações das pessoas com seus locais de origem, ao decidirem, unilateralmente, os locais para reassentamento, por exemplo, e deixa às claras o descompasso entre o discurso oficial da solidariedade e a prática de maximização dos lucros das empresas estrangeiras no país.
O livro se encerra com o capítulo desafiador de Vera Fátima Gasparetto, no qual a autora se dispõe a discutir as possibilidades de uma pesquisa interdisciplinar feminista a partir de uma análise sobre a questão da veiculação da imagem feminina na mídia, comparando a atuação feminina sobre essa questão no Brasil e em Moçambique. A autora traz um panorama sobre a composição e atuação das mulheres em seus espaços de organização nos dois países, como o Fórum Mulher e a Rede Mulher e Mídia. De um ponto de vista feminista e das novas epistemologias no Sul, em diálogo com Boaventura de Sousa Santos, por exemplo, Gasparetto faz ainda uma crítica interna a algumas teorias feministas que essencializam africanas, fazendo do trabalho acadêmico também um trabalho militante na investida de produzir “[…] uma investigação interessada em conhecer a partir das mulheres, conceituadas como sujeitas conhecedoras e conhecíveis.”8
O livro sem dúvida é uma referência importante e necessária para quem deseja se aprofundar em alguns temas moçambicanos e os trabalhos são, em conjunto, uma contribuição valiosa que demonstra um país repleto de possibilidades de pesquisa e com múltiplas fontes possíveis para análise. Mostra-se especialmente interessante nessa obra organizada o diálogo bibliográfico entre os trabalhos e, sobretudo, os diferentes exercícios teóricos e metodológicos que ultrapassam as barreiras temáticas e configuram-se como inspiração aos pesquisadores leitores. Assuntos e referências atravessam alguns capítulos do livro, como o conceito de colonialidade de Aníbal Quijano9, mais profundamente abordado no artigo de Vera Gasparetto, a discussão de gênero, de trabalho e a noção de resistências, no plural, ao longo da história moçambicana. Esse é um livro que, sem dúvida, deve ser consultado para se conhecer mais e melhor sobre Moçambique.
Taciana Almeida Garrido de Resende – Doutoranda em História Social – USP. São Paulo, SP-Brasil. E-mail: tacianagarrido@gmail.com.
MATTOS, Regiane A. de; PEREIRA, Matheus Serva; MORAIS, Carolina Gomes (Org.). Encontros com Moçambique. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2016. 286p. Resenha de: RESENTE, Taciana Almeida Garrido. Desafios metodológicos, interdisciplinaridade, História: Encontros com Moçambique. Outros Tempos, São Luís, v.13, n.22, p.238-243, 2016. Acessar publicação original. [IF].
Pensar em não ver – escritos sobre as artes do visível (1979-2004) – DERRIDA (A-EN)
DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver – escritos sobre as artes do visível (1979-2004). Organização de Ginette Michaud, Joana Masó e Javier Bassas. Tradução de Marcelo Jacques de Moraes. Revisão técnica de João Camillo Penna. Florianópolis: Editora UFSC, 2012. Resenha de PIMENTEL, Davi Andrade, Alea, Rio de Janeiro, v.17 n.1, jan./june, 2015.
Gostaria de começar esta resenha pelo tom dado por Derrida a seus textos que compõem o livro Pensar em não ver. O tom é o modo pelo qual o escritor convida o leitor a participar de seu texto. O tom, por assim dizer, é um chamado que, segundo Derrida, ganha o contorno da palavra vem – é preciso dizer que essa palavra está desconstruída pelo escritor, está violentada, retomada, reprisada, maltratada para que possa significar o além-dela-mesma. No momento em que esses textos dizem vem, eles nos chamam a participar de uma experiência de escrita que retoma ou nos direciona a uma experiência sobre a arte visual em parceria com o escritor; experiência que se configura como um chamado que não nos diz vem por aqui ou por ali, que não nos garante nada e que nem mesmo nos faz uma promessa. É por nada prometer que cada momento de leitura desses textos se transforma em um acontecimento – ele próprio, o livro, é o acontecimento: “trata-se da viagem não programável, da viagem cuja cartografia não é desenhável, de uma viagem sem design, de uma viagem sem desígnio, sem meta e sem horizonte. A experiência, a meu ver, seria exatamente isso” (DERRIDA, 2012: 80). O vem é o tom de um chamado, é a experiência – esta, por sua vez, nos chega através da árdua tarefa do tradutor Marcelo Jacques de Moraes, com suas perdas e ganhos, tensionada entre a dívida e a criação, entre a língua a traduzir e a língua traduzida. Tarefa que faz ressoar o tom derridiano, um tom também a traduzir, já traduzido.
Desde o primeiro texto, “As artes espaciais: uma entrevista com Jacques Derrida”, o escritor expõe a importância do tom antes mesmo do conteúdo de seus textos, pois o tom é o que se apresenta primeiro no jogo de apostas da escritura, como também é a base para que esse jogo possa ser efetivamente jogado. O tom mantém com o texto e com o leitor uma relação de risco, de incitação, de excitação e de gozo, por isso a iniciativa de Derrida em pluralizar o tom, em escrever em vários tons, para que o seu texto não fique restrito a um só interlocutor: “Pergunto-me com quem estou falando, como vou jogar com o tom, o tom sendo precisamente o que informa e estabelece a relação” (DERRIDA, 2012: 42). Se não podemos negligenciar os suportes, os “debaixos” de uma obra de arte, como bem lembra Derrida no texto “Os debaixos da pintura, da escrita e do desenho: suporte, substância, sujeito, sequaz e suplício”, por ser o debaixo o suporte necessário para que a obra de arte possa ser tomada enquanto tal, não podemos negligenciar também o tom que age como suporte do texto apresentado pelo escritor, por todo e qualquer escritor: “qualquer que seja sua matéria, o corpo do suporte é uma parte indissociável da obra” (DERRIDA, 2012: 287).
Da composição dos textos derridianos de Pensar em não ver, o tom que se sobressai é o de uma certa familiaridade, ou melhor, de uma certa informalidade, no que essas duas palavras têm de um certo deixar-se à vontade, não apenas pelas entrevistas que recortam magistralmente o todo do livro, como costuras que reafirmam a relação entre escritor e leitor, mas, sobretudo, pelos textos corridos. Quando Derrida reflete sobre a pintura, a fotografia, o desenho, o teatro, a videoinstalação e o cinema, o tom dado a esses textos é o tom de uma familiaridade que rompe com a formalidade mais precisa que encontramos em outros textos seus. Tudo se passa como se o próprio Derrida estivesse em face do leitor para compartilhar com ele o seu pensamento sobre as artes do visível, sobre a sua potência impotente que a todo instante se faz presente quando lhe é pedido para falar/escrever sobre uma arte que não é a da escritura: “Estou muito feliz e honrado por me encontrar aqui, intimidado também porque, como os senhores verão, minha incompetência é real, e não é de modo algum por uma fórmula de polidez ou de modéstia que começo declarando-a, essa incompetência” (DERRIDA, 2012: 163).
Em Pensar em não ver, do convite do tom se passa ao convite em forma de pensamento que Derrida faz tão bem: “O pensamento é também pensável em um movimento pelo qual ele chama a vir, ele chama, ele nos chama” (DERRIDA, 2012: 75). Pensamento que convida a pensar a arte visual enquanto produto de uma invisibilidade que lhe é essencial. Derrida defende ao longo de seus 20 textos que a visibilidade tem como contraponto seu suporte invisível. Na verdade, o que nos é dado a ver é o invisível, não o visível. No texto “O Sacrifício”, dedicado ao teatro, Derrida diz: “Mas se, desde sempre, o invisível trabalha o visível, se, por exemplo, a visibilidade do visível – o que torna visível a coisa visível – não é visível, então uma certa noite vem cavar um abismo na própria apresentação do visível” (DERRIDA, 2012: 399). A própria luz que nos ilumina é invisível, a própria palavra que nos constitui homens é invisível, logo, somos todos feitos, desenhados, pintados, modelados, filmados a partir de nossa nudez invisível.
Do contorno invisível próprio a toda arte, Derrida elege a figura do cego como o modelo de sua concepção artística. No texto “Pensar em não ver”, o escritor compreende que, para existir o desenho, ou, de uma forma mais geral, para que a arte visual possa existir enquanto acontecimento singular e único, é preciso que metaforicamente o artista se cegue, é preciso que ele passe pelo processo do enceguecimento. Em uma das passagens mais brilhantes do livro, Derrida comenta que, por termos os olhos à frente de nossos rostos, temos o que chamamos de horizonte. Através do horizonte, vemos vir o que nos chega e, desse modo, podemos tanto afastar quanto acolher ou nos defender do que vem do fundo do horizonte. Se por um lado a visão nos protege, essa mesma visão faz com que o acontecimento, no sentido próprio do que surpreende, se neutralize, perca sua potencialidade enquanto violência, enquanto irrupção artística. Por essa razão, o acontecimento somente pode surgir quando não é mais possível ter o horizonte como perspectiva: “o movimento em que o desenho inventa, em que ele se inventa, é um momento em que o desenhista é de algum modo cego, em que ele não vê, ele não vê vir, ele é surpreendido pelo próprio traço que ele trilha, pela trilha do traço, ele está cego” (DERRIDA, 2012: 71).
É preciso estar cego, é preciso se entregar ao movimento estabelecido pelo lápis, pelo pincel ou pela câmera para que a arte possa surgir enquanto acontecimento. O gozo artístico provém dessa entrega, dessa suspensão da visão, dessa cegueira que aflora os demais sentidos, que aflora a sensibilidade do artista, que deixa por instantes os conceitos ou pré-conceitos que formulam o mundo visível para se entregar ao abismo de uma certa noite – entregar, palavra libidinosa que expõe o artista e nos expõe à arte desse artista. Em uma entrevista com Derrida, o artista Valerio Adami, no texto “Êxtase, crise. Entrevista com Roger Lesgards e Valerio Adami”, comenta o passo inicial de seu processo criador, que se assemelha em muitos aspectos ao processo de enceguecimento proposto por Derrida:
Apoio, então, o lápis no papel, faço um ponto e a mão se move: esse ponto se torna, portanto, linha, essa linha se torna o perfil de uma montanha… É um caminho para o maravilhamento, a descoberta, em relação direta com o instinto e a memória – a memória instintiva. A mão se move porque consigo realmente me esvaziar de tudo, deixando a ela a liberdade (DERRIDA, 2012: 239).
Poderíamos supor que, ao falar do desenho, Adami tocaria na questão da visão, mas o que lemos é exatamente a não-visão, a mão que se deixa livre, liberdade daqueles que somente têm a mão como suporte no mundo; nada mais intrínseco ao cego do que as mãos. Responde Adami a Derrida e Lesgards: “A mão sempre foi uma das minhas obsessões” (DERRIDA, 2012: 240). Da imagem dos cegos, somos direcionados por Derrida à imagem das palavras que constituem os textos de Pensar em não ver. As palavras, como disse acima, seguem um tom, elas próprias dão um tom particular aos textos presentes no livro.
As palavras deixam de ser meros transmissores para, elas também, se configurarem em objetos de arte. O modo como Derrida tece seu texto, o modo como ele trabalha a palavra, maltratando-a, violentando-a, faz dela um acontecimento: “O que faço com as palavras é fazê-las explodir para que o não verbal apareça no verbal” (DERRIDA, 2012: 39). Em muitos momentos, a relação que as palavras mantêm entre si faz delas imagem, elas produzem uma imagem, mas não no sentido corrente da relação do signo linguístico – a palavra derridiana vai além da reunião de morfemas para se desenhar em imagem, em palavra-imagem. Ao lermos determinadas passagens de Pensar em não ver, é como se estivéssemos diante de uma tela. Estamos, a bem da verdade, visualizando e não lendo, como nesta bela passagem do texto “Com o desígnio, o desenho”: “o desenhista, quando desenha um cego, quaisquer que sejam a variedade ou a complexidade da cena, está sempre desenhando a si mesmo, desenhando o que pode lhe acontecer, e, portanto, já está na dimensão alucinada do autorretrato” (DERRIDA, 2012: 174). Visualizo, antes de tudo, o autorretrato de um desenhista cego.
As palavras-imagens são retomadas por Derrida ao conversar sobre o filme em que participou, segundo ele, como ator: D’ailleurs, Derrida. No texto em que se discute sobre o filme, “Rastro e arquivo, imagem e arte. Diálogo”, o escritor comenta da participação da palavra, agora não mais a palavra escrita, mas sim a falada: “As falas estavam ali como imagens, feitas para serem, de algum modo, levadas pela necessidade do ritmo, do encadeamento, da consequência icônica […] Icônico quer dizer estruturado segundo a necessidade e a lei da imagem” (DERRIDA, 2012: 101). Semelhante com o que ocorre no filme, a palavra no texto derridiano destacado acima é tornada elemento icônico. Desse modo, ao refletir sobre o desenho, sobre o movimento do artista ao desenhar, Derrida comenta o desenho de Valerio Adami ou de François Loubrieu com um outro desenho – desenho provindo de sua escrita atravessada por palavras-imagens. Logo, o movimento que adquire o texto derridiano é de uma profusão de reflexos, de pinturas distendidas em palavras-imagens, desenhos que se assemelham a seus próprios desenhos de escrita, fotografias que recontam o negativo de sua escrita de imagem. Imagens e mais imagens, profusão de imagens en abyme.
O leitor provavelmente se demorará na leitura sobre as fotografias de Frédéric Brenner, não por ser o texto longo ou de difícil compreensão, não, não se trata disso. A dificuldade está na delicadeza a qual se expõe Derrida ao analisá-las. Fotografias de judeus, fotografias da memória. Diferente dos outros textos, o tom familiar, quase prosaico com o qual o escritor vai tecendo o seu pensamento sobre as questões da comunidade judaica, sobre suas próprias questões recalcadas ou veladas, produz um sentimento de falta, de perda, no leitor. Ao lermos o texto “[Revelações, e outros textos. Leituras das fotografias de Frédéric Brenner]”, quase que imediatamente nos colocamos no lugar do outro, do outro sem pátria, sem terra, do outro-sem, por assim dizer, quase esquecido e, por isso mesmo, afeito à memória, a velar a memória de um passado que ainda assombra, mas que, continuamente, se transforma em um passado esquecível, esquecido: “A melancolia do homem é visível. Será legível? Ela pode assinar a memória enlutada com aquilo que ele recorda e que ele ainda vela, mas ela pode também chorar a amnésia, o esquecimento daquilo mesmo que teria sido preciso velar para que se velasse – e que ameaça apagar-se no próximo sopro da história” (DERRIDA, 2012: 332).
O visível da fotografia dá a ver o invisível que se esconde por trás da figura conhecida de Jacques Derrida. Nesse texto, sabemos um pouco de sua infância, de seu prenome judeu, de sua mãe, de seu avô… estamos íntimos de Derrida, o que confere a familiaridade do tom. Do mesmo modo como nos identificamos com a falta judaica – “todos nós nos identificamos, universalmente, com uma minoria” (DERRIDA, 2012: 343) -, o escritor, sendo judeu, não poderia deixar de se identificar com as fotografias de Brenner: “Tento identificar, mas também me identificar, ao mesmo tempo em que persigo o limite de uma tentação tão irresistível, de uma compulsão como essa” (DERRIDA, 2012: 327). Identificação acordada com uma reflexão constante sobre a falta/perda que acomete(u) o povo judeu. Diáspora? Não significa somente a dispersão dos judeus pelo mundo – significa algo ainda mais profundo. Segundo Derrida, a diáspora afeta a partir do interior, “ela divide o corpo e a alma e a memória de cada comunidade” (DERRIDA, 2012: 323). É o sentimento de estar deslocado que afeta os judeus, nada lhes é mais autêntico. Mas não nos esqueçamos, como também os judeus não se esquecem, que nada nos é próprio, nem mesmo a nossa língua nos é própria:
Nós, nós todos, todos os seres vivos presentes, os seres vivos do passado e os espectros do futuro, nós todos, homens ou animais, não temos lugar próprio e terra bem-amada a não ser prometida, e prometida desde uma expropriação sem idade, mais velha do que todas as nossas memórias (DERRIDA, 2012: 341).
O visível fotográfico, ao trazer à tona o obscuro da memória de Derrida, dialoga com as perspectivas da invisibilidade com as quais o escritor trabalhou ao longo de seus textos de Pensar em não ver, não por acaso o título do livro carrega a marca da invisibilidade, ou, se quisermos, a marca da cegueira: não ver. A partir dos tons dos vários textos derridianos presentes neste livro, sobressai o pensamento de que a arte da visibilidade tem como suporte, base de sua contra-assinatura, a invisibilidade ou, como sugere Derrida, em “Aletheia“, a noite, o obscuro: “Nada é mais escuro do que a visibilidade da luz, nada é mais claro do que essa noite sem sol” (DERRIDA, 2012: 305). O que presenciamos ao ver uma obra é sua inscrição invisível. Em um desenho, em uma pintura, o que vemos é o traço diferencial que não mais existe, mas que persiste no rastro que se torna o desenho ou a pintura que observamos em um museu, em um livro, em qualquer lugar em que a arte esteja exposta. A arte visual é produzida a partir dos debaixos, de traços já inexistentes, do flash noturno que ilumina o invisível diante da máquina fotográfica. É nos debaixos que o efeito da arte é produzido – é lá, no debaixo, que se produz o desejo, a interdição, o gozo, a incitação, a excitação, a obra: “Quando se fica sem ar diante de um desenho ou de uma pintura, é porque não se vê nada; o que se vê essencialmente não é o que se vê, mas, imediatamente, a visibilidade. E, portanto, o invisível” (DERRIDA, 2012: 82).
Da leitura desses textos, o que resta para além da ideia da arte visual é o pensamento de que nós, seres humanos, somos constituídos de uma invisibilidade atordoante; não por menos, a arte, as artes do visível, tem como suporte a invisibilidade. A reflexão sobre as artes do visível é o grande mérito dos textos derridianos organizados com extrema precisão por Ginette Michaud, Joana Masó e Javier Bassas na elaboração do livro Pensar em não ver – mérito que a Editora UFSC considerou ao publicá-lo, oferecendo, assim, ao leitor brasileiro, a oportunidade de ter em mãos textos de Derrida raros sobre essas artes e somente agora traduzidos para o português.
Davi Andrade Pimentel – Doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Atua como pesquisador da obra do escritor francês Maurice Blanchot. É autor dos artigos: “Thomas – o primeiro blanchotiano” (Revista Letras Hoje, n. 48/ 2013), “O espectro de Kafka na narrativa Pena de Morte, de Maurice Blanchot” (Revista Gragoatá, n. 31/2011), “Rascunhos de um pensamento arrebatador: Maurice Blanchot” (Revista Todas as Letras, n. 12/2010), dentre outros. E-mail: davi_a_pimentel@yahoo.com.br. Endereço: Rua Leopoldo Miguez, n. 129, apto. 706, CEP.: 22060-020, Copacabana – Rio de Janeiro – RJ.
[IF]
L’histoire, pour quoi faire? – GRUZINSKI (DH)
GRUZINSKI, Serge. L’histoire, pour quoi faire? Paris: Fayard, 2015, 300p. Resenha de: NICOD, Michel. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.1, p.203-204, 2015.
Comment et avec quelles précautions enseigner l’histoire de la première mondialisation du xvie siècle? Cet ouvrage montre que, parmi les modes de représentation du passé, le recours à l’histoire est particulièrement adéquat pour élaborer une démarche critique, surtout lorsqu’il s’accompagne de l’utilisation de supports iconiques, tels le cinéma ou le jeu vidéo. Ces supports, en effet, facilitent en classe le travail de distanciation face aux conceptions spontanées.1 L’histoire, pour quoi faire? est l’aboutissement de vingt années de recherches menées par l’historien français Serge Gruzinski. Celui-ci y reprend ses thèmes favoris: la conquête de l’Amérique du Sud et du Mexique par les Portugais et les Espagnols au xvie siècle, le métissage et la rencontre des cultures qui s’ensuit, le rôle et la place de l’image en histoire.
L’auteur plaide pour une étude des regards que colonisateurs et colonisés se sont mutuellement jetés. Il nous entraîne à scruter de l’extérieur notre propre histoire, pour voir comment l’Europe s’est emparée du monde, non seulement avec les armes mais aussi avec ses représentations, ses cartes, sa géographie.
Dans les premiers chapitres, le livre nous invite à une analyse fine des modes de représentation du passé, des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques aux jeux vidéo, des feuilletons télévisuels aux superproductions des cinémas chinois ou américains, qui ont tous bien davantage d’audience que les historiens. L’auteur s’interroge sur le message véhiculé par ces superproductions qui mettent en scène des époques et des lieux différents. Or leurs reconstitutions stéréotypées n’apportent que rarement une réflexion critique. Il en est de même des jeux vidéo qui n’ont rien d’innocent.
Ils mettent trop souvent en scène des idéologies conservatrices exaltant le goût du pouvoir, l’opposition des barbares aux civilisés. Loin d’être des supports de cours idéaux, ils se prêtent néanmoins à une analyse critique.
Ainsi, l’ouvrage met en lumière les nombreux supports qui existent parallèlement aux récits des historiens. En le parcourant, le lecteur prend conscience du décentrement nécessaire à l’étude des sociétés, de l’importance de décloisonner, puis de reconnecter les différents domaines historiques.
L’auteur montre que c’est à partir du local, en l’occurrence de l’étude de l’Amazonie, que pourra s’étudier la globalisation. Cette dernière est au coeur du livre, où le présent se fait l’écho du passé: aujourd’hui au Brésil, par exemple, le trafic de DVD piratés a remplacé le trafic de produits tropicaux du xvie siècle.
En résumé, Serge Gruzinski met en relief la nécessité de poser d’autres questions, de chausser d’autres lunettes pour envisager le passé comme le futur. Selon lui, notre vision du monde est décalée par rapport aux questions actuelles, car les sociétés se mélangent: l’ailleurs est venu en Europe, tandis que celle-ci s’est étendue au monde. Ainsi, une culture de l’entre-deux, mélangée, fragile mais nécessaire, est apparue, celle des métis, passeurs de culture. Le livre en fait l’éloge tout en montrant sa fragilité.
Serge Gruzinski nous interpelle et nous bouscule par les rapprochements qu’il opère entre le xvie siècle et l’époque inquiète que nous vivons.
Son livre est une bonne introduction à ses recherches antérieures et à l’histoire des mentalités.
Il offre une réflexion enrichissante sur notre temps.
Son questionnement nourrit les réflexions de ses lecteurs en les invitant à se demander si nous ne construisons pas des passés afin de construire du sens, des repères pour affronter les « incertitudes du présent ».
Né en 1949, l’historien français Serge Gruzinski, directeur d’études à l’EHESS de Paris, enseigne l’histoire en France, aux États-Unis et au Brésil.
Il a notamment publié La pensee metisse, Paris: Fayard, 1999 ; Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris: La Martinière, 2004 ; L’aigle et le dragon, Paris: Fayard, 2012.
Michel Nicod
[IF]
Revolução em Película: uma reflexão sobre a relação Cinema-História e a Guerra Civil Espanhola – QUINSANI (CTP)
QUINSANI, Rafael Hansen. A Revolução em Película: uma reflexão sobre a relação Cinema-História e a Guerra Civil Espanhola. São José dos Pinhas: Estronho, 2014. Resenha de: DOMINGOS, Charles Sidarta Machado. A Guerra contra o esquecimento da Guerra. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão, n. 17, p. 74-78, set./out. 2014.
Tempo de mudanças substanciais na História da Humanidade, o Século XX foi um período repleto de disputas, sejam elas entre classes sociais, como a Revolução Russa, sejam elas de caráter ideológico, como a Guerra Fria. Se na primeira o socialismo saiu vencedor, ao forjar uma sociedade de modulações totalmente novas, na disputa da Guerra Fria o projeto de formação econômico-social capitalista sobressaiu-se em detrimento da proposta representada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Esse Século XX foi claramente cortado em sua metade. O conflito de maiores proporções de destruição, morte e terror que ocorreu em todo o desenvolvimento humano foi a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Esse conflito foi tão peculiar, porque único, que foi capaz de alicerçar uma aliança entre a vencedora da Revolução de 1917 e o bastião maior do capitalismo, os Estados Unidos da América (EUA). Uniram-se, a despeito de tudo o que mais acreditavam, pelo objetivo de enfrentar e vencer o Nazismo. Ao impingirem a derrota militar às forças do Eixo permitiram que a História se desenvolvesse como hoje a conhecemos.
Mas a Segunda Guerra Mundial não foi de todo uma novidade na experiência histórica. Trazia, em seu bojo, reminiscências extremamente próximas de um conflito que também se fez militar, que também se fez ideológico e que – como tão bem se reportou o jornalista Herbert Matthews2– dizimou metade de um país. Esse conflito foi a Guerra Civil Espanhola (1936-1939).
O “maior historiador nato de nosso tempo”,3 Eric Hobsbawm, afirma que “as disputas da década de 1930, travadas dentro dos Estados ou entre eles, eram portanto transnacionais. Em nenhuma parte isso foi mais evidente do que na Guerra Civil Espanhola de 1936-9, que se tornou a expressão exemplar desse confronto global”.4 Estavam em confronto, dentro do território espanhol, as forças que defendiam a República com seu projeto de um Estado laico, com desenvolvimento social, educação pública não confessional e reforma agrária versus o agrupamento de forças que tinha na Igreja Católica e no alto oficialato das Forças Armadas, com seu projeto de conservação social, de apoio aos latifundiários e de manutenção da ordem tradicional. O que conferia esse caráter transnacional e, porque não, de laboratório da Segunda Guerra Mundial, era o apoio dos fascistas, com seus mais de 70 mil soldados italianos e dos mais de 40 mil membros das Brigadas Internacionais, oriundos de 53 países, dentre eles a URSS, os EUA, a França, e inclusive do Brasil.
Mas as novas gerações, principalmente fora da Espanha, mas não só, quase não sabem disso, como atesta Eric Hobsbawm: “Hoje parece pertencer a um passado pré-histórico, mesmo na Espanha”.5 Passados pouco mais de 75 anos do conflito, vivemos “uma era de esquecimento”,6 um tempo no qual a experiência histórica parece estar perdendo o seu valor. Vivemos imersos no presente, reféns do imediatismo em todos os tipos de relações, até mesmo com nossa consciência. E isso representa um perigo, pois, se o passado deixa de ser um ponto de reflexão, o mesmo pode ocorrer ao futuro e, com isso, podemos perder a capacidade de perseguir projetos de vida, sociais ou individuais.
Mesmo em plena era de esquecimento, ainda há possibilidades de lembrança. E uma das mais eficientes se dá pela arte, em especial aquela que é a expressão artística por excelência do Século XX: o Cinema. Ao associá-lo com a História, temos, então, uma poderosa ferramenta de análise. É o que acontece no livro A Revolução em Película,7 do historiador Rafael Hansen Quinsani.
Nessa obra, o autor parte da premissa de que “nossa função [dos historiadores] continua sendo lembrar e tornar inteligível o que muitos (propositalmente ou não) esquecem.8 Quinsani, desse modo, demonstra a mesma preocupação de Judt, quer seja, combater o esquecimento, trazer a História para o centro da vida social. E ele faz isso com muita competência.
O livro está organizado a partir de uma Introdução ao tema, seguido de um capítulo teórico-metodológico intitulado Cinema-História. Na introdução, é realizada uma rápida historicização do Cinema. Em seguida, é evidenciado a forma como serão analisados os filmes elegidos para o estudo, todos relacionados com a Guerra Civil Espanhola. A introdução ainda traz uma importante reconstituição do conflito, a partir de suas bases materiais e ideológicas. No capítulo primeiro, é elaborada uma densa e consistente reflexão teórica-metodológica. A partir das noções de imagem, representação e ideologia, Rafael Hansen Quinsani perscruta o desenvolvimento da História ao longo do Século XX. Para tanto, toma mão de autores consagrados, como Marc Ferro, Roger Chartier e Michel Vovelle.
No capítulo intitulado Primeira Projeção: !Ay, Carmela! Arte, Guerra e o Início do Debate é abordado o filme !Ay, Carmela!, do diretor espanhol Carlos Saura, produzido em 1990. Além do filme, esse capítulo traz outras fontes que foram muito bem trabalhadas pelo autor, como algumas canções da época da Guerra Civil Espanhola e a peça de teatro homônima de autoria de José Sanchis Sinisterra. Essa triangulação de fontes produz um capítulo muito rico em termos de História da Cultura, pois Quinsani realiza, de forma acurada, a crítica externa e interna dos documentos escolhidos, realizando, inclusive, um debate muito interessante sobre a adaptação da literatura para o cinema.
O filme traz o impacto que os soldados italianos do regime fascista de Mussolini causaram na Guerra Civil Espanhola. Realiza uma potente crítica ao fascismo, ao demonstrar como os soldados italianos transformaram uma escola em prisão! E realiza, através da analise do autor, uma síntese da sociedade espanhola do período a partir de seus personagens principais: Os três personagens acabam compondo um só personagem que, no seu somatório de características, simboliza a Espanha daquele contexto. Carmela é o lado emotivo, sentimental, preocupado com os outros e direta em suas declarações, representa os combatentes e os simpatizantes da República, Paulino está disposto a sobreviver a qualquer custo, maleável a diferentes contextos, propício a se adaptar às exigências nacionalistas, e Gustavette é a jovem geração, silenciada pelas bombas, pelo terror já presente e que se estenderá sob os anos do Franquismo.9 Ainda é realizada pelo autor uma associação entre a personagem Carmela com as distintas representações da República, em especial com uma tela muita estimada por mim, A Liberdade Guiando os Povos, de Delacroix. Embora as batalhas típicas do conflito militarizado não estejam presentes na película, fica muito patente a forma pela qual a vida das pessoas foi modificada durante o conflito. E, mais além, como se deu a relação da cultura sob o regime de Franco.
A Segunda Projeção: Terra e Liberdade, o enfoque estrangeiro: as disputas e conflitos no interior do processo revolucionário, trabalha com o filme Terra e Liberdade, do cineasta britânico Ken Loach. É nessa película, de 1995, que fica mais em evidência o caráter internacional do conflito, “uma versão em miniatura de uma guerra europeia” de acordo com Hobsbawm.X A composição das Brigadas Internacionais, o apoio intensivo de Hitler e Mussolini aos nacionalistas espanhóis, o apoio e os limites estratégicos impostos por Stálin bem como a política de apaziguamento, para não dizer total omissão, do governo de Frente Popular de Léon Blum na França estão presentes nas análises feitas pelo autor.
Assim como no capítulo anterior, neste, Rafael Hansen Quinsani analisa detalhadamente também uma fonte literária, o famoso Lutando na Espanha, de George Orwell – que, assim como Ernest Hemingway participou da Guerra Civil Espanhola. Há uma polêmica, destacada por Quinsani, a respeito de Terra e Liberdade ser ou não baseado no livro de Orwell. Mesmo assim, muitas são as semelhanças entre o livro e o filme, e elas são deslindadas com elegância nesse capítulo.
Neste capítulo há uma excelente análise de História Política, na qual o autor esmiúça as divergências entre os grupos que defendem a República, sejam eles anarquistas, membros do Partido Comunista ou trotskistas vinculados ao Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM): Outra cena que explicita claramente a fragmentação da esquerda e faz uma crítica à centralização e à stalinização é aquela em que David, após deixar as milícias, ingressa no exército e acaba envolvido num combate com anarquistas durante os “eventos de maio de 1937”. No filme todo o contexto e os debates são sintetizados e condensados na cena em que anarquistas e comunistas estão frente a frente nos telhados de prédios vizinhos. Entre tiros esparsos e insultos mútuos, os referenciais históricos de cada grupo se fazem presente: “– Você deveria estar matando fascistas e não outros. –Ei, você, o sócio de Stalin. Em que divisão estava você? – A divisão de Karl Marx. E você é da Terceira Divisão? – Não, seu bastardo. Somos da Divisão de Durruti, o melhor”.XI Na Terceira Projeção: Libertárias. As milícias, o papel das mulheres e o auge do debate, a obra analisada é o filme Libertárias, do diretor Vicente Aranda, realizado quase simultaneamente ao filme de Ken Loach. O centro da análise empreendida por Quinsani é o protagonismo das mulheres na Guerra Civil Espanhola e no Cinema. Para tanto, o autor realiza uma eficiente síntese abarcando as décadas de 30 a 70 do século passado. Em relação a Guerra Civil, é elaborado um histórico sobre a emancipação feminina a partir da organização Mulheres Livres, fundada no mesmo ano em que o conflito se iniciou. Além disso, a análise remete a representação das mulheres protagonistas do filme: O mérito do filme de Aranda é fugir da dicotomia puta-miliciana presente no imaginário espanhol e inserir no front de batalhas personagens complexas e dotadas de diferentes visões de vida. Maria representa a mulher pura que aos poucos vai descobrindo elementos que estiveram ausentes em sua vida reclusa. Charo é uma prostituta que decide mudar de vida e é influenciada pelos valores anarquistas. Pilar é uma revolucionária determinada. Floren mistura sua ideologia anarquista com um espiritismo peculiar.XII Nesse capítulo, ainda são abordados o papel recalcitrante exercido na Espanha “por uma Igreja Católica que rejeitava tudo o que aconteceu no mundo desde Martinho Lutero”XIII e a dimensão do anarquista Buenaventura Durruti, para a Guerra Civil Espanhola.
Na conclusão, o autor compara os três filmes analisados. Para tanto, faz uso da aplicação do seu método histórico-cinematográfico, uma inédita – e sofisticada – classificação elaborada a partir de uma dedicada leitura da obra de Marc Ferro.
A riqueza da análise presente nesse livro demonstra um autor seguro sobre seu objeto de pesquisa. Além da apreciação de elementos cênicos – que muitas vezes passam despercebidos por espectadores menos atentos – passando pelo movimento das câmeras, até chegar a crítica externa das fontes, o que temos em mão é uma aula de História. E o melhor: uma aula ilustrada, pois o livro conta em seus três capítulos de análise, com 119 imagens reproduzidas dos filmes analisados, o que configura como uma das grandes jogadas desse livro, pois quando o autor se reporta a determinada passagem de um dos filmes analisados, na sequencia é possível conferir quase como se estivéssemos no Cinema.
A concepção de História de Quinsani está em consonância com Eric Hobsbawm para quem “o ofício dos historiadores é lembrar o que os outros esquecem”XIV e com Tony Judt, quando adverte à nossa sociedade de que “de todas as nossas ilusões contemporâneas a mais perigosa é a ideia de que vivemos em um tempo sem precedentes”XV. Ao analisar o filme de Ken Loach, o autor foi capaz de ler “que o filme busca educar às novas gerações e alertá-las do perigo do esquecimento”.XVI Pois bem, A Revolução em Película também cumpre esse papel.
Notas
2 MATTHEWS, Herbert. Metade da Espanha morreu: uma reavaliação da Guerra Civil Espanhola. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.
3 JUDT, Tony. Reflexões sobre um Século Esquecido (1901-2000). Rio de Janeiro: Objetiva, 2010, p. 149. Judt também observa que Hobsbawm é o “historiador mais conhecido do mundo”. Idem, p. 137.
4 HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos – O breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 157.
5 Idem, p. 161.
6 JUDT, op.cit., p. 13.
7 QUINSANI, Rafael Hansen. A Revolução em Película: uma reflexão sobre a relação Cinema-História e a Guerra Civil Espanhola. São José dos Pinhas: Estronho, 2014.
8 Idem, p. 10. Interpolações minhas.
9 Idem, p. 77.
10 HOBSBAWM, op.cit., p. 162.
11 QUINSANI, op.cit., p. 109.
12 Idem, p. 144.
13 HOBSBAWM, op.cit., p. 158.
14 Idem, p. 13.
15 JUDT, op.cit., p. 32-33.
16 QUINSANI, op.cit., p. 112.
Referências
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos – O breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
JUDT, Tony. Reflexões sobre um Século Esquecido (1901-2000). Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.
MATTHEWS, Herbert. Metade da Espanha morreu: uma reavaliação da Guerra Civil Espanhola. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.
QUINSANI, Rafael Hansen. A Revolução em Película: uma reflexão sobre a relação Cinema-História e a Guerra Civil Espanhola. São José dos Pinhas: Estronho, 2014.
Charles Sidarta Machado Domingos – Doutor em História pela UFRGS. Professor DIII-3 do IFSUL – Câmpus Charqueadas.
Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France? LBRIAND (Lc)
LBRIAND, Dominique. Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France ?, Canopé – CRDP Basse-Normandie, coll. « Ressources Formation », 2013, 234p. Resenha de: BESSON, Rémy. Dominique Briand, Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France ? Lectures, 25 fev. 2014.
Publié dans la collection « Ressources Formation » (Scérén-CRDP), Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France ? aborde des questions relatives aux usages sociaux des films en plaçant au centre de l’analyse les perceptions du passé partagées par les élèves. Pragmatique, Dominique Briand, professeur d’histoire à l’IUFM de Basse Normandie développe une analyse qui se situe à l’articulation entre une approche relevant du domaine de l’histoire par les films et une initiation à l’éducation aux images. Pour cela, il part du constat que les enfants et les adolescents évoluent quotidiennement dans un environnement médiatique diversifié (internet, télévision, cinéma, presse écrite, etc.). Il remarque que la place exercée par les films historiques est certainement supérieure pour eux, à celle de l’enseignement de l’histoire. Ainsi, le récit transmis à l’école est-il devenu second, depuis maintenant de nombreuses années. Selon l’auteur, il permet simplement d’amender, d’encadrer et de compléter une conception déjà établie par ailleurs. Des propositions méthodologiques afin de répondre aux défis posés aux enseignants par ce constat sont formulées tout au long du texte. En s’appuyant sur de nombreuses études de cas, portant principalement sur l’histoire des conflits du vingtième siècle (guerres mondiales et coloniales, entre autres), l’ouvrage cherche donc à déterminer comment le cinéma participe à la fixation de la mémoire collective/culturelle et en quoi il a conduit à une remise en cause du « roman national » transmis par les instituteurs de la Troisième République.
Si ce présupposé de départ est particulièrement intéressant, l’idée principale du livre – bien que reposant sur deux néologismes – est, elle, très classique. Selon l’auteur, la prise d’importance des représentations cinématographiques de l’histoire a conduit à des mésinterprétations du passé qui sont le ferment d’une confusion entre fait et fiction : la faction (pour reprendre le terme d’Antony Beevor, cité p. 36). À cela, il est possible d’opposer de manière presque positiviste une fréquentation encadrée de la fiction, c’est-à-dire réflexive et critique, la fréqtion (vocable proposé par l’auteur). Une telle conception du rôle de l’enseignant repose sur l’idée que les films véhiculent des représentations dangereuses, dont l’école doit préserver l’élève. La salle de classe est alors conçue comme un sanctuaire, un lieu de résistance, face à une prolifération incontrôlée de mésusages des images dans l’espace public (p. 38). Le professeur se trouve ainsi placé dans la position de l’évaluateur qui détermine si le film est assez « authentique » pour figurer dans le cadre d’un enseignement scolaire. Par exemple, Marie-Antoinette (Sofia Copolla, 2006) est retoqué, car il propose une vision du passé non fidèle à l’état des connaissances sur le sujet (p. 91).
Ces axes méthodologiques reposent sur une conception datée du rôle de l’historien face aux images. Pris dans cette perspective, celui-ci est avant tout un ardent rhéteur d’une récit « vrai », qui doit, à ce titre, s’opposer aux déformations induites par les choix visuels et scénaristiques des professionnels du cinéma. Le fait que l’histoire soit aussi une représentation du passé constitue une dimension qui n’est considérée qu’à la marge1. Cela s’explique, en partie, par le fait que la principale référence mobilisée dans la courte sous-partie introductive, « les historiens et l’histoire de France à l’écran » (p. 23-25), est Marc Ferro. Si cela conduit Briand à considérer les films comme des vecteurs de mémoire producteurs d’une contre-analyse de la société2, cela le mène aussi à manquer les développements méthodologiques postérieurs liés aux travaux de nombreux autres chercheurs (histoire culturelle du cinéma, réflexions sur les rapports entre récit historien et filmique, etc.3). Par exemple, l’auteur mobilise à plusieurs reprises4, l’idée selon laquelle un film porte autant sur la période contemporaine de sa réalisation, que sur celle qu’il représente, alors que ce point fait l’objet d’un consensus depuis le milieu des années 19705.
Cependant, critiquer cet ouvrage au seul regard d’un manque de prise en compte de l’historiographie contemporaine, revient à manquer son intérêt principal. En effet, dès qu’il abandonne une position de retrait et de surplomb, Briand propose de multiples clefs méthodologiques passionnantes pour les enseignants en histoire. Il teste alors ce qu’il identifie comme étant des potentiels didactiques du cinéma. Ainsi, si l’écriture de l’histoire par les chercheurs n’a pas été systématiquement mise en regard des modes de narration des films, cette comparaison est menée de manière particulière habile entre les films et les cours d’histoire. Les productions culturelles étudiées sont alors tour à tour considérées comme des documents permettant un accès au passé et comme des représentations complexes dont il s’agit d’avoir une approche sensible. Dans tous les cas, très attentif à la forme filmique donnée aux faits passés dans les films, l’auteur évite le piège qui consiste à critiquer les réalisateurs à l’aune de la méthodologie historienne. Il répète ainsi à plusieurs reprises que les cinéastes ne sont pas contraints par les normes en usage au sein de l’académie.
Passionné par les nombreuses productions qu’il analyse, il propose très rapidement de dépasser le seul face à face entre l’élève et le film. Il insiste sur la nécessite de prendre en compte l’amont (les conditions de production) et l’aval (leur réception) avec une égale rigueur. Il explique que pour comprendre comment un film a transformé la perception du passé d’une génération de Français, l’état de leurs connaissances sur le sujet abordé est à préciser. Ainsi, le film n’est pas seulement à considérer pour sa valeur artistique, mais aussi pour l’effet qu’il a pu avoir dans l’espace public. Prenant, l’exemple de La Marseillaise (Jean Renoir), il analyse finement les différences entre la réception du film en 1938 et la façon dont il est possible de le voir aujourd’hui (p. 88). De plus, dans l’un des chapitres les plus réussis du livre, Briand s’intéresse aux débats et polémiques provoqués par certains films. Il s’attarde alors particulièrement sur les aspects non consensuels de l’histoire de France et notamment sur la guerre d’Algérie (à travers le cas du film Hors-la-loi de Rachid Bouchareb, 2010). Il saisit parfaitement que le cinéma ne se limite pas à l’espace de la salle obscure et que son rôle social se joue tout autant dans ce qui en est dit a posteriori. Sans effectuer de remontée en généralité abusive, il s’attèle aussi à décrire en quoi l’étude des films permet d’initier les élèves à une histoire des représentations attentives aux différences et aux complémentarités entre histoire et mémoire. Il fait ainsi des films en général et de ceux de Bertrand Tavernier en particulier (Un dimanche à la campagne, La Princesse de Montpensier, Capitaine Conan et La Vie et rien d’autre, notamment), des objets exemplaires pour une réflexion sur la fabrique du passé.
Cet ouvrage est donc traversé par une tension entre une éducation aux images principalement développée sur un mode critique (parfois un peu caricatural) et une série d’analyses précises portant sur des films qui sont considérés comme utiles pour enseigner l’histoire. Cette distinction ne recoupe pas pour Briand l’opposition classique entre films d’art et d’essai (souvent survalorisés pour leurs qualités formelles) et films populaires (disqualifiés sur des critères purement esthétiques). Au contraire, en culturaliste accomplit, l’auteur choisit de faire porter ses analyses aussi bien sur des films désignés comme étant des « nanars », que sur des œuvres considérées comme appartenant au panthéon du 7ème art. Cette tension repose, en fait plus, sur le maintien d’une différence entre histoire par les images et histoire des images. Ce choix de l’auteur explique certaines des réserves exprimées précédemment. En effet, il s’avère que depuis une quinzaine d’années une histoire utilisant des sources visuelles comme documents ne peut plus se passer d’une étude précise des conditions de production et de diffusion de celles-ci. Les productions audiovisuelles ne sont plus actuellement considérées simplement comme des sources donnant un accès direct à quelque chose de l’ordre du passé, mais comme des formes polysémiques dont il est toujours nécessaire de mesurer la complexité6. Ce n’est qu’une fois ce travail fait sur les images comme objets, que dans un second temps, elles deviennent des documents pour une histoire portant sur autre chose. Il n’y a donc plus de distinction entre les deux approches. L’absence de prise en compte de cette réconciliation entre histoire des et par les images est peut-être ce qui empêche cet essai d’histoire avec le cinéma d’être pleinement concluant. Ces limites ayant été exprimées, il reste à inviter tous les passionnés d’histoire et de cinéma, les enseignants et les étudiants, à se précipiter sur les analyses et les tableaux de synthèse proposés dans cet ouvrage, car ils constituent des matériaux particulièrement riches pour tous ceux qui œuvrent à faire entrer le cinéma dans l’enseignement de l’histoire.
Notes
1 Cf. Antoine de Baecque et et Christian Delage (dir.), De l’histoire au cinéma, Paris et Bruxelles, Complexe, 1998.
2 Cf. Marc Ferro, « Le film, une contre-analyse de la société », Annales ESC, 1973, vol. 28, n°1, p. 109-124.
3 Cf. Pascal Dupuy, « Histoire et cinéma. Du cinéma à l’histoire », L’homme et la société, 2001/4, n°142, p. 91-107 ou Philippe Poirrier, « Le cinéma : de la source à l’objet culturel », dans Les enjeux de l’histoire culturelle, Seuil, 2004.
4 Notamment, p. 85 à travers l’exemple du film Danton (Andrzej Wajda, 1983) et des films de Gustage Kerven et Benoît Delépine (p. 142-143).
5 Pierre Sorlin, « Clio à l’écran, ou l’historien dans le noir », Revue d’histoire moderne et contemporaine, avril-juin 1974, p. 252-278.
6 Cette manière de faire s’inscrit plus largement dans un tournant historiographique qui concerne l’ensemble des productions culturelles.
Rémy Besson
[IF]A Revolução em Película: uma reflexão sobre a relação Cinema-História e a Guerra Civil Espanhola / Rafael H. Quinsani
Uma das grandes marcas do Século XX é a sua relação com a guerra. Não há como o historiador entender o Século XX –independentemente de sua posição social ou geográfica no mundo –se fechar os olhos para esse fenômeno sempre revestido de violência e de crueldade, pois a guerra é capaz de despertar o lado mais sombrio do ser humano. O maior historiador do (e sobre o) Século XX, Eric Hobsbawm, assim sinaliza a importância da guerra para esse século:
Não há como compreender o Breve Século XX sem ela. Ele foi marcado pela guerra. Viveu e pensou em termos de guerra mundial, mesmo quando os canhões se calavam e as bombas não explodiam. Sua história e, mais especificamente, a história de sua era inicial de colapso e catástrofe devem começar com a da guerra mundial de 31 anos [1].
Além da guerra, o Século XX é também o século por excelência do Cinema. É nesse século que ele se desenvolve tanto em suas técnicas quanto em suas temáticas. Inclusive, é nesse século que é utilizado também como elemento de propaganda, tanto de regimes políticos quanto de modos de vida.
O encontro entre a Guerra e o Cinema no Século XX, então, era só uma questão de tempo:
Assim, a guerra frequentou o cinema intensamente, desde suas origens, ora sob a forma de cinejornal –poucas vezes diferenciado da propaganda política de cunho nacionalista –ora como ficção, celebrando o heroísmo nacional e a tragédia grandiosa da guerra. Algumas vezes, o cinema assumiu, de modo claro, um papel fortemente pacifista, de combate e denúncia contra a guerra, pensada enquanto irrazão [2].
Quando Hobsbawm se reporta a uma guerra mundial de 31 anos, ele quer evidenciar que há um processo de continuidade entre 1914 e 1945. Imediatamente, podemos pensar que ele se refere à Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Mas podemos depreender que ele possa estar, também, se referindo a Guerra Civil Espanhola (1936-1939) dentro desse processo de continuidade. Afinal, não são poucos os historiadores que percebem o conflito da Espanha como um prelúdio da Segunda Guerra Mundial.
Um historiador que assim percebeu a Guerra Civil Espanhola, ressaltando seu caráter de “microcosmo global, pois sintetizava o radicalismo e a polarização de uma era” é Rafael Hansen Quinsani, emseu livro A Revolução em Película. [3] Logo na introdução, é realizada uma síntese eficiente do conflito entre republicanos e nacionalistas, capaz de permitir que mesmo o leitor não especialista na temática tenha uma boa noção do que representavam os dois projetos em disputa na Guerra Civil.
O autor examina, com uma riqueza de detalhes ímpar, a partir de seu método de análise histórico-cinematográficotrês filmes realizados na década de 1990: duas produções espanholas (!Ay, Carmela!, de Carlos Saura e Libertárias, de Vicente Aranda) e uma produção britânica (Terra e Liberdade, de Ken Loach). Muito mais que um historiador que comenta filmes, Quinsani, a partir de sua metodologia de trabalho, obtém uma nova forma de escrita da História, realizada a partir de três eixos articulados entre si: o cinema nahistória, a história nocinema e a história docinema. Para tanto, o autor examina alguns vestígios:
A anotação dos diálogos permitiu a análise do conteúdo histórico de cada fala e de cada personagem. Os diálogos mais irônicos de Libertárias e! Ay, Carmela! ocorrem pela formação dos cineastas espanhóis e pela maior incidência do caráter tragicômico na cultura espanhola como um todo. A anotação dos ângulos de câmera, os planos utilizados, os movimentos empregados e os recursos fotográficos presentes, permitiram o uso do plano geral para enquadrar ambientes naturais e coletividades humanas, como manifestações, reuniões e desfiles presentes nos três filmes. A alternância de planos médios e planos americanos é o que mais ocorre nos filmes. O uso do primeiro plano, o close-up, é empregado para destacar algum objeto (a carteira do Partido Comunista rasgada por David) ou alguma expressão facial (os olhos de Durruti). […] Libertárias, dentre os três, é o que mais apresenta movimentos de câmera, travellingse panorâmicas, ressaltando o caráter dinâmico da narrativa. !Ay, Carmela! também utiliza bastante movimento de câmera, mas concentrado em espaços fechados. Esta é a película que utiliza mais recursos de iluminação direcionados na composição dos personagens. O uso do claro-escuro é empregado em diversos momentos e diferencia-se do tom mais cru utilizado nos outros dois filmes. O emprego do som é utilizado de forma sincrônica à linguagem visual, sendo que algumas vezes ocorre uma transposição para o emprego ilustrativo. Somente Terra e Liberdadeutiliza narração em off, do próprio protagonista, destacando duas instâncias temporais e operando sobre o espectador uma dupla imersão: no passado representado, e no presente em que assiste a esta representação [4].
Assim como duas são também as críticas a serem realizadas perante todo e qualquer vestígio do passado: a crítica interna, capaz de avaliar o significado da fonte histórica; e a crítica externa, na qual se busca a melhor orientação acerca das condições de produção da fonte que “necessariamente está divulgando uma ‘mensagem’, uma interpretação da realidade, uma visão de mundo que pertence ao seu autor. Este é, por sua vez, o resultado de múltiplas e incontáveis relações sociais que remetem para a sociedade onde foi realizada a produção cinematográfica” [5].
Assim, é importante lembrarmos, que os três filmes são realizados na década de 1990, um período no qual a democracia voltou à Espanha após mais de 35 anos de ditadura franquista. [6] Em 1978, três anos após a morte de Francisco Franco, foi estabelecida a Monarquia Parlamentar. Quatro anos após, portanto em 1982, o Partido Socialista Operário Espanhol assumiu o poder político na Espanha. Desse período para cá, muito se debateu acerca da Guerra Civil Espanhola e do Franquismo naquela sociedade, e a produção dos filmes analisados certamente contribuiu para essas discussões. E isso não escapa ao autor, que é capaz de perceber todo o componente político que subjaz a época na qual as pessoas foram aos cinemas assistir !Ay, Carmela!, Terra e Liberdade e Libertárias:
A transição foi baseada numa anistia progressiva, onde o Franquismo se transformou e se adaptou à persistência das elites. A lei da Anistia deixou impunes os autores dos crimes de lesa humanidade, pois buscou silenciar o passado embasado numa hipótese de culpa coletiva [7].
A teoria dos dois demônios é muito propagada na sociedade: está fundamentada na noção –difundida pelos que deram o golpe –de que eventuais “excessos” cometidos pelas forças estatais se justificam em razão de evitar um “mal maior”, quase sempre associado com o comunismo. Não se menciona, no entanto, que houve o aparelhamento do Estado por longos anos de ditadura censurando obras da cultura e mesmo a imprensa, prendendo adversários que muitas vezes sequer desenvolviam atividades que poderiam ser consideradas “subversivas”, obtendo confissões à base de torturas, desaparecendo para sempre com pessoas que contestavam a força dos quartéis.
Que conste que o país em questão ainda é a Espanha. Por mais que eu esteja escrevendo essa resenha em março de 2014. E por mais que você, no Brasil, conheça bem de perto essa História!
Notas
- HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos–O breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 30.
- TEIXEIRA DA SILVA, Francisco Carlos. Guerras e Cinema: um encontro no tempo presente. In: Tempo. Revista do Departamento de História da UFF. Niterói: 7 Letras, Vol. 8, nº 16, 2004, p. 95.
- QUINSANI, Rafael Hansen. A Revolução em Película: uma reflexão sobre a relação Cinema-História e a Guerra Civil Espanhola. São José dos Pinhas: Estronho, 2014, p. 13.
- QUINSANI, op.cit., pp. 154-5. Interpolações minhas.
- GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos. Prefácio –História e Cinema, Noves Fora? In: GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos (org.). A Prova dos 9: a História Contemporânea no Cinema. Porto Alegre: EST, 2009, p. 11.
- Para entender as bases de sustentação de uma ditadura tão longa, o trabalho de Francisco Calero é bastante oportuno. CALERO, Francisco Sevillano. A “cultura da guerra” do “novo Estado” espanhol como princípio de legitimação política. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (orgs.). A Construção Social dos Regimes Autoritários: legitimidade, consenso e consentimento no século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, Vol. 1, pp. 257-282.
- QUINSANI, op. cit., p. 160.
Charles Sidarta Machado Domingos – Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSUL) – Campus Charqueadas
QUINSANI, Rafael Hansen. A Revolução em Película: uma reflexão sobre a relação Cinema-História e a Guerra Civil Espanhola. São José dos Pinhais: Estronho, 2014. 224p. Resenha de: DOMINGOS, Charles Sidarta Machado. História histórias. Brasília, v.2, n.3, p.191-194, 2014. Acessar publicação original. [IF]
Estudos Feministas e de Gênero / Cristina Stevens, Susane R. Oliveira e Valeska Zanello
Entre os dias 28 e 30 de maio de 2014 foi realizado na Universidade de Brasília (UnB) o II Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero: Articulações e Perspectivas. O evento, de caráter interdisciplinar, recebeu pesquisadoras/es de diversos lugares do país e contou com a apresentação de inúmeros trabalhos que tem como foco as mulheres, os feminismos, a sexualidade, as identidades e relações de gênero. Os trabalhos apresentados por professoras/es e pesquisadoras/es doutoras/es nas sessões de conferência e mesas redondas foram selecionados, avaliados e reunidos em um livro digital, organizado pelas professoras Cristina Stevens, Susane Rodrigues de Oliveira e Valeska Zanello. Este livro, intitulado Estudos Feministas e de Gênero: Articulações e Perspectivas, lançado em 2014 pela Editora Mulheres de Santa Catarina, contou também com o apoio da CAPES, da Universidade Livre Feminista e do CFEMEA. A obra está disponível gratuitamente para download, em formato PDF, no site do CFEMEA e do Colóquio (www.coloquiofeminista2014.com).
A realização desse Colóquio e, consequentemente, a publicação dessa obra, evidenciam que os questionamentos feitos pelos movimentos sociais continuam em vigor. Ao conquistar espaço no universo acadêmico, as reivindicações feitas por ativistas e simpatizantes encontram a oportunidade de não apenas contestar o que ocorre nas ruas e na vida cotidiana, mas também o que ocorre dentro das Universidades. Dessa forma, são apresentados novos pontos de vista e novos saberes que certamente contribuirão para a renovação das ciências. Os textos reunidos nessa coletânea seguem a tendência da intersecionalidade ao trabalhar, também, com questões raciais e de classe, tão discutidas atualmente pelos feminismos. Segundo as próprias organizadoras,
A surpreendente conclusão que podemos tirar a partir da leitura desses textos multifacetados é a de que as perspectivas feministas e de gênero nas produções acadêmico-culturais são bastante diversas em suas articulações com questões de raça, etnia, geração, sexualidade, religião, classe, dentre outras. Os textos que integram este livro incorporam novos idiomas críticos, visões políticas e ferramentas teórico-metodológicas na abordagem do binômio Feminismos-Gênero em áreas diversas como Antropologia, Artes, Cinema, Direito, Educação, Filosofia, Física, História, Literatura, Psicologia, Publicidade e Sociologia. Sem dúvida, os trabalhos são testemunhos positivos do dinamismo promissor desta relativamente recente área de estudos, experiências e práticas acadêmico-culturais [1].
O livro apresenta quarenta e sete capítulos e está dividido em sete partes, sendo elas: 1) Perspectivas feministas na pesquisa acadêmica; 2) Corpo, violência e saúde mental; 3) Mulheres e literatura: do medievo à contemporaneidade; 4) Educação, ciência e diferenças de gênero; 5) Imagens, cinema, mídia e publicidade; 6) Ações, direitos e políticas; 7) Identidades, experiências e narrativas.
A primeira parte da obra apresenta os textos de cinco conferencistas brasileiras que possuem larga experiência de pesquisa e produção intelectual feminista, são elas Débora Diniz, Susana Funck, Tania Swain, Sônia Felipe e Sandra Azerêdo. Débora Diniz apresenta as “Perspectivas e articulações de uma pesquisa feminista”. A autora defende que o gênero é um regime político que encontra na família sua instituição reprodutora e cuidadora. Diniz também recupera o conceito de patriarcado tratando-o como uma tecnologia moral. Segundo ela, é possível retomar esse conceito e ser sensível “às expressões locais de sua governança pelo presente histórico” [2]. Com isso, a autora propõe que toda pesquisa sobre gênero será feminista, uma vez que tal empreendimento é capaz de desafiar o regime político de sexagem dos corpos.
Susana Funck fala dos desafios atuais dos feminismos, com ênfase nos estudos literários e culturais e suas influências em outros campos do saber. Desse modo, a autora ressalta que, embora, muitas das agendas feministas já estejam incluídas nos estudos acadêmicos e nos movimentos sociais de grande parte das nações contemporâneas, suas metas de igualdade e diversidade ainda estão longe de serem alcançadas. Nesse sentido, observa que um dos maiores desafios talvez seja o de desmistificar a prática feminista como uma unanimidade monolítica e fazer valer as várias facetas da categoria gênero, perpassadas como são por vetores de raça, classe, nacionalidade, sexualidade, faixa etária e tantas outras diferenças.
A historiadora Tania NavarroSwain, em seu texto “Por falar em liberdade…”, analisa os dispositivos que se colocam em ação para sustentar a diferença sexual, os chamados subsistemas constitutivos do patriarcado. Segundo a autora, a diferença sexual, que é implantada no imaginário ena materialidade de corpos sexuados, constitui motor de ação patriarcal e exercício de poder. Assim, destaca que o patriarcado se impõe pela violência, pela persuasão/amor e por uma sexualidade que se impõe como centro identitário e de significação do ser.
A filósofa Sônia Felipe apresenta uma importante reflexão sobre o feminismo antiespecista. Nesse caso, o termo “especismo” pode ser compreendido como similar ao “machismo” e ao “racismo”. O termo foi elaborado pelo cientista e filósofo inglês Sir RichardRyder ainda o século XX para descrever a discriminação e exploração perpetradas pelos seres humanos contra outros animais sencientes. Para Ryder, usar, “abusar, explorar e matar animais para consumo e divertimento humano é uma forma de posicionar os seres humanos acima de todos os animais e de alimentar o padrão machista e racista que rege as relações de poder entre os humanos”. Por fim, Sônia Felipe propõe como opção ética uma perspectiva ecoanimalista do feminismo, afinal “Os machistas tratam as mulheres de forma especista: como animais. E as mulheres, incorporando e emulando o mesmo especismo, tratam os animais como matéria destituída de espírito, portanto, inferiores” [3].
Já a psicóloga Sandra Azeredo, no texto “O que é mesmo uma perspectiva feminista de gênero?”, destaca que o gênero, como uma categoria central na teorização feminista que problematiza as noções de sexo e sexualidade, tem necessariamente que incluir outras categorias, especialmente a categoria raça, em suas teorizações, de modo a contribuir para práticas de emancipação. No encerramento do texto a autora ressalta que
(…) uma perspectiva feminista de gênero significa partir da igualdade, nos abrindo para o encontro com as outras pessoas (inclusive os animais não humanos), com respeito, nos rendendo, mútua e voluntariamente, aos ditames da intersubjetividade [4].
A segunda parte do livro reúne os textos de Érica Silva, Gislene Silva, Valeska Zanello, Ionara Rabelo, Marcela Amaral, Ana Paula de Andrade, Gláucia Diniz e Cláudia Alves. Trata-se de estudos desenvolvidos no campo da psicologia e da literatura, sobre a saúde mental feminina. No texto “Gênero e loucura: o caso das mulheres que cumprem medida de segurança no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”, Érica Silva analisa os casos de dezesseis mulheres que cumprem medida de segurança no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A autora destaca a prevalência de mulheres pobres, de baixa escolaridade, negras e pardas que estão sob a tutela do Estado. Por terem algum transtorno mental –geralmente em decorrência do uso de álcool e/ou drogas –, elas são consideradas inimputáveis ou semi-inimputáveis pela Justiça e destinadas à Ala de Tratamento Psiquiátrico localizada na Penitenciária Feminina do Gama, ou ao tratamento ambulatorial na rede pública e privada de saúde. Silva faz importantes questionamentos sobre o tratamento dado a essas mulheres que se encontram em um contexto de marginalidade e invisibilidade na sociedade brasileira. Por sua vez, o texto de Ana Paula de Andrade tem o objetivo de problematizar os atravessamentos das questões de gênero na política pública de saúde mental em seus diferentes níveis. Já o texto “Saúde mental, mulheres e conjugalidade”, de Valeska Zanello, ao tratar do caso clínico de uma mulher internada em um hospital psiquiátrico, cujo sintoma que se destacou foi “choro imotivado”, busca apontar o que a chancela do diagnóstico psiquiátrico “depressão” escondia.
A terceira parte, “Mulheres e literatura: do medievo à contemporaneidade”, reúne textos de Cíntia Schwantes, Cristina Stevens, Janaina Gomes Fontes, Luciana Eleonora de Freitas Calado Deplagne, Virgínia Maria Vasconcelos Leal, Wiliam Alves Biserra e Nadilza Martins de Barros Moreira. O texto de Cristina Stevens avança, especialmente, no debate e reflexão sobre as representações literárias da violência contra as mulheres; focalizando a mudança radical de tratamento desta temática na contemporaneidade, quando as mulheres assumem a posição de sujeito dessas construções ficcionais e abordam o tema da violência como consequência da injusta dominação masculina na produção do conhecimento. Sobre as mulheres na literatura, Nadilza Moreira tece um esboço comparativo entre as obras de Nísia Floresta e Júlia Lopes de Almeida, ambas reconhecidas pelo pioneirismo na luta feminista ainda no século XIX. Em seu trabalho, Moreira vai elucidar que diversas mulheres do Brasil oitocentista se dedicavam à atividade intelectual e à escrita, inclusive resistindo às campanhas contrárias dos homens escritores que temiam a concorrência. Ao concluir, Moreira faz uma provocação: que mulheres como Nísia Floresta e Júlia Lopes de Almeida continuem sendo redescobertas pela Academia, pois elas “aguardam por mentes laboriosas, por pesquisadores desafiadores que queiram lhes dar a devida relevância, para colocá-las visíveis nas prateleiras da contemporaneidade” [5].
A participação feminina na educação e as questões de gênero nas ciências, especialmente nas disciplinas de física e história, são exploradas na quarta parte do livro. Diva Muniz, no texto “Memórias de uma menina bem comportada: sobre a experiência da alfabetização e a modelagem das diferenças”, apresenta uma análise de suas próprias experiências vividas na infância, nos anos cinquenta, no processo de alfabetização. Muniz revoluciona a narrativa historiográfica ao se colocar como sujeito da própria história, utilizando a própria memória para fazer considerações sobre todas as “tecnologias de gênero” que estiveram presentes em sua vida, bem como as formas de subversão e resistência à própria realidade. Assim escreve a autora,
Submetida a esse processo de disciplinarização escolar, fui sendo “fabricada” como menina educada e aluna aplicada aos estudos. Apesar e por conta desse processo, também me produzi como pessoa crítica, questionadora e independente e até mesmo impertinente. Afinal, somos assujeitadas às prescrições sociais e escolares, mas nunca de modo pleno: resistimos, negociamos, agenciamos outros termos, condições, posições e alianças; fazemos escolhas e recusas na constituição de nossas histórias e na configuração de nossas subjetividades [6].
Valéria Silva, com base nas teorias feministas, analisa as representações das mulheres nos livros didáticos escolares. Por sua vez, Susane Oliveira trata de questões relacionadas à inclusão da história das mulheres nos currículos escolares, atentando para as demandas dos movimentos feministas e delineando algumas propostas para a efetivação dessa inclusão, tendo em vista o potencial educativo da história das mulheres na promoção da cidadania e igualdade de gênero. A autora aponta que, para os avanços existentes ocorrerem, como no caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), foi necessária a mobilização dos movimentos sociais no processo. No caso do ensino da história,
Tais mudanças, somadas às inovações que ocorreram na historiografia e nas tendências pedagógicas na segunda metade do século XX, impuseram à história, enquanto disciplina escolar, um papel fundamental no reconhecimento e valorização das identidades e memórias de diferentes grupos sociais, especialmente daqueles que haviam sido marginalizados e/ou silenciados nos discursos históricos tradicionais, como as mulheres, os jovens, os trabalhadores, as crianças, os idosos, as etnias e minorias culturais [7].
Patrícia Lessa analisa os escritos da educadora Maria Lacerda de Moura, produzidos na primeira metade do século XX, cujas ideias sobre a libertação das mulheres e dos animais não humanos é bastante atual. O texto de Ademir Santana analisa a participação masculina no movimento feminista a partir de experiências na Física. Já Adriana Ibaldo versa sobre a desigualdade de gênero nas ciências exatas e a dificuldade que as mulheres precisam enfrentar para permanecerem na área. A autora apresenta dados sobre a produtividade feminina na física, que ainda é tímida –entre 6% e 25% –e relembra as situações cotidianas que podem levá-las à interrupção da carreira nos mais diversos níveis, como o machismo arraigado em ambientes majoritariamente masculinos e o estereótipo de que mulheres são inaptas às ciências exatas. Para a transformação desse cenário, a autora propõe medidas que incentivem o ingresso de jovens alunas aos cursos de física, como o projeto Atraindo meninas e jovens mulheres do Distrito Federal para a carreira em física, financiado pelo CNPq com foco em estudantes do Ensino Médio da rede escolar.
A quinta parte do livro, “Imagens, cinema, mídia e publicidade”, reúne oitos textos. O primeiro, de Maria Pereira analisa imagens de mulheres artistas no ocidente medieval. O texto de Maria Elizabeth Ribeiro Carneiro dedica-se às representações imagéticas de mulheres negras no Brasil oitocentista em “Corpos negros no/do feminino em três movimentos: um exercício de (des) construção” analisando três imagens da época: duas fotografias e um quadro. Em seu trabalho, Carneiro tece importantes considerações sobre a intersecionalidade entre gênero e raça e como os corpos das mulheres negras eram representados no século XIX. Suas palavras elucidam que no interior dessa maquinaria “política ocidental corpos negros e cativos exibem marcas de sexo-gênero e de raça, extraídas e significadas como diferenças construídas na arquitetura da dominação do patriarcado escravocrata” [8]. Os textos de Liliane Machado, Mônica Azeredo e Sulivan Barros analisam as perspectivas de gênero nas produções audiovisuais (filmes e documentários). Os textos de Sandra Machado, Ana Veloso e Cynthia debatem os processos sociais engendrados pela publicidade e propaganda que tornam as mulheres imagens-espetáculo, fetiches e objetos de consumo, impondo padrões de comportamento e preconceitos socioculturais que esvaziam o sentido político das contestações dos grupos feministas.
A sexta parte do livro apresenta seis textos que versam sobre direitos e políticas públicas para as mulheres, desenvolvidos pelas/os autoras/es Ela Wiecko, Soraia da Rosa Mendes, Wanda Miranda Silva, Camila de Souza Costa e Silva, Lourdes Maria Bandeira, Tânia Mara Almeida, Carmen Hein de Campos, Ana Liési Thurler, Sônia Marise Salles Carvalho, Nelson Inocêncio, Umberto Euzébio e José Zuchiwschi. Os textos, das oito primeiras autoras, abordam, teórica e empiricamente, estratégias atuais de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres brasileiras, a partir de um campo interdisciplinar de conhecimentos científicos, redes interinstitucionais e movimentos sociais. São discutidas abrangências e limitações na aplicação da Lei Maria da Penha frente a paradigmas, valores e práticas fundadas em representações sexistas, bem como em identidades essencializadas e referenciadas pela articulação de múltiplas desigualdades (grupos de mulheres indígenas, pobres, negras, dentre outros). Já o texto de autoria dos quatro últimos autores/as, mencionados acima, trata da proposta da Universidade de Brasília na criação da Diretoria da Diversidade no Decanato de Assuntos Comunitários, que propõe reforçar o direito à diferença e o respeito à diversidade na comunidade acadêmica.
Já a sétima e última parte da obra, intitulada “Identidade, experiências e narrativas”, reúne os textos de Águeda Aparecida da Cruz Borges, Juliana Eugênia Caixeta, Lia Scholze, Maria do Amparo de Sousa, Lia Scholze, Cláudia Costa Brochado, Gilberto Luiz Lima Barral e Tania Swain. O texto de encerramento, “Histórias feministas, história do possível”, de Tania Navarro Swain expõe uma crítica às narrativas historiográficas que muitas vezes silenciam e excluem a participação feminina na história. Sua proposta se baseia em resgatar as histórias que, apesar de possuírem vestígios materiais e simbólicos, foram negligenciadas pelos historiadores. Segundo ela, esses profissionais “enclausurados em um imaginário androcêntrico, não conseguem pensar e nem ver aquilo que se abre à pesquisa, um mundo onde o feminino atuava como sujeito político e de ação” [9].
Enfim, a obra Estudos feministas e de gênero: articulações e perspectivas reúne uma amostra bastante significativa da produção intelectual feminista que vem se desenvolvendo nas universidades brasileiras, nas mais diversas áreas de conhecimento. Trata-se de uma produção reveladora da dimensão política dos estudos feministas e de gênero, que contribui não só na denúncia e crítica às desigualdades de gênero presente nos mais diversos espaços sociais, mas também na renovação dos saberes, oferecendo novos horizontes de expectativas à produção científica.
Notas
- STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Estudos Feministas e de Gênero: Articulaçõese Perspectivas. Ilha de Santa Catarina: Editora Mulheres, 2014, p. 9.
- DINIZ, Débora. Perspectivas e articulações de uma pesquisa feminista. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 12.
- FELIPE, Sônia. A perspectiva ecoanimalista feminista antiespecista. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 59.
- AZEREDO, Sandra. O que é mesmo uma perspectiva feminista de gênero? In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 84.
- MOREIRA, Nadilza Martins de Barros. Os manuais femininos/feministas de Júlia Lopes de Almeida dialogam com “(…) uma alma brasileira” de Nísia Floresta: esboço comparativo. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 249.
- MUNIZ, Diva do Couto Gontijo. Memórias de uma menina bem comportada: sobre a experiência da alfabetização e a modelagem das diferenças. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 260.
- OLIVEIRA, Susane Rodrigues de. Ensino de história das mulheres: reivindicações, currículos e potencialidades pedagógicas. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 260.
- CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Corpos negros no/do feminino em três movimentos: um exercício de (des)construção. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 356.
- SWAIN, Tânia Navarro. Histórias feministas, história do possível. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Op. Cit., p. 613.
Ana Vitória Sampaio Castanheira Rocha – Doutoranda em História na Universidade de Brasília.
STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (org.). Estudos Feministas e de Gênero: Articulações e Perspectivas. Ilha de Santa Catarina: Editora Mulheres, 2014. 620p. Resenha de: História histórias. Brasília, v.2, n.4, p.200-206, 2014. Acessar publicação original. [IF]
De Atenas a Sidney: el cine y la televisión em los Juegos de verano | Juan Gabriel Tharrats
O registro dos Jogos Olímpicos é uma prática cultivada em todo mundo por profissionais e espectadores esportivos. As tentativas de eternizar momentos de superação dos atletas, das nações e do esporte enquanto prática cultural motiva o desenvolvimento de variadas estratégias para documentação. Neste sentido, destacam-se as formas de registros audiovisuais que acompanharam historicamente o nascimento dos Jogos Olímpicos da Era Moderna.
Inegavelmente, o cinema foi testemunho recorrente das transformações do esporte, e, apresentou registros de competições esportivas em produções desde sua origem em diversos países (Grã Bretanha, Austrália e Espanha) e com enfoque em diversas práticas esportivas (MONTIN, 2004). Leia Mais
Hollywood cinema and the real Los Angeles – SHIEL (EH)
SHIEL, Mark. Hollywood cinema and the real Los Angeles. Sn.: Reaktion Books, 2012. 336 p. Resenha de: VAZ DA COSTA, Maria Helena Braga. Em busca da realidade urbana: a construção hollywoodiana de Los Angeles. Estudos Históricos, v.26 n.51 Rio de Janeiro Jan./June 2013.
Nem o cinema hollywoodiano nem a cidade de Los Angeles podem ser entendidos separadamente, pois existe uma relação simbiótica no que diz respeito à grande influência da cidade na produção dos filmes em Hollywood e, ao mesmo tempo, à enorme participação dos filmes produzidos em Hollywood na formação e no desenvolvimento urbano de Los Angeles. Esta é a principal premissa do mais recente livro de Mark Shiel, Hollywood cinema and the real Los Angeles.
A premissa é confirmada à medida que o autor investiga, considera e traça as interações da Los Angeles vivenciada na realidade concreta, a cidade real, com as organizações e empresas responsáveis pelo famoso “movie business“, isto é, a relação entre a “cidade dos anjos” e os processos de produção, distribuição e exibição dos filmes ali produzidos, focando no período crucial da construção dos primeiros estúdios, ainda nos anos 1910, até o período do declínio do sistema de estúdios, 50 anos depois.
A premissa, apesar de dogmática e possivelmente discutível, não é arduamente defendida pelo autor. Contudo, Shiel defende o argumento de que Los Angeles foi sim determinante para o desenvolvimento da “fábrica de sonhos” hollywoodiana principalmente durante a primeira metade do século XX. Para tanto, ele traça a evolução do cinema de Hollywood em quatro capítulos que empregam o que ele chama de “uma forma espacial” (a spatial motif) para vincular determinados gêneros fílmicos dominantes em determinando período ao que estaria simultaneamente acontecendo na cidade de Los Angeles no contexto do seu desenvolvimento urbano e arquitetônico.
Acompanhando o crescimento e o desenvolvimento urbano de Los Angeles â“ que acabaria por se tornar uma das dez maiores (em território) cidades no contexto mundial â“, e relacionando-os às inúmeras fases pelas quais passou a indústria cinematográfica em Hollywood, Shiel pretende demonstrar como esta última contribuiu largamente tanto para o crescimento de Los Angeles como para as diversas crises no plano econômico, social, político e cultural que atingiram a cidade.
Tendo produtores e diretores pertencido e se engajado no contexto citadino em seu trabalho de produzir e dirigir filmes, seja no interior dos estúdios, seja em locações, a cidade de Los Angeles é um espaço permanentemente presente e por isso é percebida, entendida e discutida por Shiel como essencial para o “formato” dos filmes ali produzidos, que, distribuídos e assistidos em larga escala nacional e internacionalmente, acabaram por influenciar a maneira de ver e imaginar Los Angeles em todo o mundo.
O livro confere atenção ao cinema americano da primeira metade do século XX, mais particularmente às comédias (slapsticks) e sua forma de produção e ao filme noir, gênero essencialmente americano. Cada gênero é então explorado e comentado em suas especificidades enfatizando as peculiaridades da sua representação do espaço urbano e arquitetônico de Los Angeles bem como o estilo e a técnica empregados na filmagem e na produção em geral. Hollywood cinema and the real Los Angeles inclui muitas fotografias e novas evidências históricas proporcionando ao leitor uma experiência de visualização da “cidade dos anjos” a meu ver nunca vista anteriormente.
Mark Shiel apresenta ao leitor uma discussão e explicação realista sobre a maneira como a indústria cinematográfica em Hollywood ofereceu aos espectadores, em diversas partes do mundo, maneiras de ver e principalmente imaginar o espaço geográfico natural e construído de Los Angeles. Inovadoras são as formas pelas quais Shiel integra a discussão sobre os filmes e seu modo de produção aos modos, atitudes e entendimentos sobre como a indústria hollywoodiana “re-construiu” a cidade.
Los Angeles é uma cidade que condensa e articula diferentes ordens de paisagens: geográfica, geológica, cultural, econômica e política. É um lugar presente no mapa e na grande tela do cinema. Focando em um século de interações e divisões entre a cidade e o cinema que se desenvolveu no seu espaço geográfico, Mark Shiel introduz um novo tipo de ecologia urbana dos filmes, em que a paisagem e o ambiente construído ressoam aos brados na conjuntura do insistente sonho americano relacionado ao espaço e ao lugar, à vida, ao prazer e divertimento e ao local que permite que tudo atue em conjunto.
O argumento popular sobre Hollywood ter sido fundada para que os filmmakers pudessem escapar do agressivo reforço ao tipo de câmera produzido por Edison no lado leste dos EUA, que se considerou por muito tempo ser verdadeiro, parece ser no mínimo um exagero. Contudo, Shiel argumenta que há algumas evidências de verdade nessa história. Mas os produtores/diretores também se transferiram para Los Angeles por causa da qualidade do clima, que beneficiava seu trabalho oferecendo muitas horas de luz solar, e por causa da variedade oferecida pela paisagem â“ da costa do Pacífico às montanhas e ao deserto e às Missões Espanholas. Por volta de 1922, Los Angeles era responsável por 84% de toda a produção cinematográfica nos EUA, e poucos anos mais tarde foi descrita como “a harlot city â“ gaudy, flamboyant, richly scented, sensuous, noisy, jazzy“, como um “three-ring circus“.
À medida que Los Angeles começa a se tornar uma cidade, Mark Shiel explica, sua “forma” começa a afetar os filmes que ali eram produzidos e locados. Existe, contudo, um estranho lapso. Shiel relata o “mito” de Raymond Chandler “ter trazido” para o sul da California algo da estratificação por classe dos estilos arquitetônicos tão comuns em sua terra natal, a Inglaterra. Chandler, contudo, nasceu em Chicago e viveu em Nebraska até os 12 anos, e só então mudou-se para a Inglaterra. Retornou aos EUA aos 24 anos de idade e morou em Los Angeles até o fim da vida. Esse seria um pequeno erro se não presumisse que a Inglaterra “monopolizou” a visão de Chandler sobre a arquitetura como produtora de status em termos de classe social. De fato, Chandler poderia ter facilmente aprendido essa lição em Chicago, ou em casa, lendo livros como The great Gatsby. Em outras palavras, Shiel exagera de forma um tanto tendenciosa na tentativa de localizar o significado de Los Angeles em sua particularidade. O capítulo sobre o filme noir em Los Angeles faz um pouco mais do que apenas listar os filmes e reconhecer suas locações no espaço urbano: a Murder, my sweet, referenciado muitas vezes na Introdução, são dedicadas apenas poucas páginas no livro; a Sunset Boulevard, duas frases; clássicos noirs locados em Los Angeles como Out of the past, Mildred Pierce e Chinatown não são nem mencionados.
O primeiro capítulo se concentra nos “traços” que podem ser visualizados por meio das imagens da memória, da história, e do aparecimento e sobrevivência da produção cinematográfica no local no período de 1900-1920. O segundo capítulo faz um tipo de “navigation” pelas comédias slapstick dos anos 1920 aos 1930 e mostra a importância da cidade como locação para esse gênero fílmico. O terceiro sugere que o “simulacrum” nos ajuda a ler os filmes sobre os filmes dos anos 1930 em seu contexto na cidade e na sua representação da cidade. Finalmente, o livro termina com o seu mais longo capítulo, sobre os pontos de pressão geopolítica (geopolitical pressure points) nos filmes noirs dos anos 1940 e 1950, aliando-os ao anticomunismo, à caça às bruxas que imperava em Hollywood e aos levantes e revoltas da classe trabalhadora em Los Angeles.
É preciso que se diga que o livro em alguns momentos força determinados entendimentos de forma esquemática. Não fica claro, por exemplo, de que maneiras “traço” e “simulacro” são necessariamente “spatial motifs“. Não tenho muita certeza sobre o que Shiel pretende quando afirma que os filmes noirs representam Los Angeles como um “ponto de pressão geopolítico”. Também não tenho certeza se isso tem muita importância, mesmo no contexto do que pretende o livro. Contudo, postos em evidência em grande parte do capítulo, os spatial motifs são “usados” por Shiel para interpretar as correlações entre o filme, seu processo de produção e o desenvolvimento urbano. Eles são assim um traço da “navegação”, um conceito organizacional latente mais do que uma ativa ferramenta heurística.
É necessário destacar a força e a importância do livro de Mark Shiel, a meu ver consequência do seu profundo conhecimento sobre os filmes que representam Los Angeles e o contexto histórico e cultural da cidade. Tal característica torna este um trabalho de pesquisa acadêmico e interdisciplinar que deve ser inserido não apenas no contexto da área da história do cinema, mas também na dos estudos sociológicos sobre o desenvolvimento urbano no contexto de uma concepção ampla sobre a história americana.
A história do cinema americano, seus gêneros fílmicos e sua relação com a representação da cidade de Los Angeles nunca antes foram tão profundamente analisados como um fenômeno integrado no caso de Hollywood e Los Angeles. O livro de Mark Shiel é finalmente um excelente trabalho de pesquisa e uma importante contribuição para os estudos urbanos e a história cultural do cinema. É, portanto, indispensável aos estudiosos, principalmente da história cinematográfica americana e suas representações de Los Angeles.
Maria Helena Braga e Vaz da Costa – Pós-doutora em Cinema pelo International Institute, University of California at Los Angeles (UCLA), com apoio financeiro da CAPES, e coordenadora do Grupo de Pesquisa Linguagens da Cena: Imagem, Cultura e Representação. É bolsista CNPq (mhcosta@pq.cnpq.br).
Cinéma et turbulences politiques en Amérique Latine | Jimena P. Obregón Iturra e F. Adela Pinheda
El libro Cine y turbulencias políticas en América Latina1 es el producto de un Coloquio internacional realizado en la ciudad de Rennes, titulado “Imaginarios cinematográficos y turbulencias en las Américas: Revoluciones, revueltas, crisis”2, en febrero del 2011. Dicho Coloquio se llevó a cabo en sinergia con el Festival de cine Travelling, en el marco del año de México en Francia3. Fruto de este encuentro entre investigadores tanto latinoamericanos como franceses, surge una obra que aborda las relaciones entre cine y política en una visión a largo plazo, tomando diferentes países y periodos históricos.
En esta obra colectiva dialogan las miradas de distintos investigadores y se interroga sobre las producciones audiovisuales en América Latina, específicamente sobre cómo circulan los imaginarios cinematográficos y cómo éstos se relacionan con la realidad política de un continente. El concepto de “imaginario cinematográfico” es clave y central en el libro, en tanto herramienta conceptual a través de la cual se busca ahondar en las representaciones socioculturales y políticas que abundan en el espectro audiovisual de los distintos países considerados: México, Cuba, Colombia, Brasil y Chile por el lado Latinoamericano, pero también Estados Unidos/Hollywood en cuanto industria globalizante e Italia por el lado europeo. Leia Mais
História e documentário – MORETTIN (RBH)
MORETTIN, Eduardo; Napolitano, Marcos; Kornis, Mônica Almeida (Org.). História e documentário. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2012. 324p. Resenha de: MALAFAIA, Wolney Vianna. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.32, n.64, p.365-367, dez. 2012.
Nos últimos 15 anos, o audiovisual vem ocupando um espaço privilegiado na produção historiográfica, como objeto ou como fonte, principalmente na sua forma mais envolvente e instigadora: o cinema. E, dentro dessa forma, um gênero, por assim dizer, suscita preocupações no que diz respeito à sua análise, justamente por compartilhar com a história o tratamento dado às noções de verdade e realidade: o documentário.
Procurando enriquecer o debate instaurado em torno do uso do audiovisual, mais especificamente do documentário, como objeto ou fonte da história, Eduardo Morettin e Marcos Napolitano, professores da USP, e Mônica Almeida Kornis, da Fundação Getulio Vargas, organizaram História e documentário, contendo textos que, em seu conjunto, representam o resultado de pesquisas realizadas pelo grupo constituído junto ao CNPq e denominado “História e Audiovisual: circularidades e formas de comunicação”, coordenado pelos dois primeiros.
Salientam os organizadores, em sua apresentação, dois aspectos que justificariam a edição dessa obra coletiva: primeiramente, como já foi dito, a expansão da pesquisa histórica que privilegia o cinema como fonte e objeto, importando para o campo teórico dessa análise as preocupações concernentes à narrativa e à estética cinematográficas; em segundo lugar, o papel de protagonista que o documentário vem ocupando na produção cinematográfica nacional e, consequentemente, na pesquisa e na reflexão crítica acadêmicas, a partir de meados da década de 1990. Os trabalhos aqui apresentados refletem estas preocupações: a articulação da narrativa histórica com as peculiaridades da narrativa fílmica, e a representação do passado, trabalhando os conceitos de verdade e realidade, o que diz respeito à preocupação tanto do pesquisador quanto do documentarista.
Por causa dessa articulação geral, os textos formam um conjunto harmonioso, destacando-se afinidades entre alguns, no que diz respeito à fonte pesquisada ou ao tratamento teórico utilizado. Assim, os textos de Eduardo Morettin (“Dimensões históricas do documentário brasileiro no período silencioso”), e de Ismail Xavier (“Progresso, disciplina fabril e descontração operária: retóricas do documentário brasileiro silencioso”), ao abordar os primórdios da produção cinematográfica de caráter documental, lançam luzes sobre as diversas formas de utilização das imagens produzidas naquela época e a sua própria historicidade. Nesses dois textos encontramos uma análise que se preocupa com a distância entre o objetivo original da produção e os possíveis usos das imagens produzidas; essa distância é reveladora e possibilita a construção de variadas relações, que acabam por enriquecer o sentido dessas mesmas imagens.
Num segundo grupo, analisando documentários inspirados pela experiência imagética do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) do Estado Novo, temos os textos de Mônica Almeida Kornis (“Imagens do autoritarismo em tempos de democracia: estratégias de propaganda na campanha presidencial de Vargas de 1950”), Rodrigo Archangelo (“O Bandeirante da Tela: cenas políticas do adhemarismo em São Paulo – 1947-1956”), e Reinaldo Cardenuto (“O golpe no cinema: Jean Manzon à sombra do Ipês”). Nesses textos, destaca-se a preocupação com a articulação entre a propaganda política e uma determinada estética própria de cinema documentário inaugurada pelo DIP, mas enriquecida com a expansão dos meios de comunicação, como o rádio, e do próprio mercado exibidor cinematográfico, com um maior número de salas de cinema e o apogeu das comédias musicais populares, as chanchadas. Se, num primeiro momento, quando da campanha presidencial de Getúlio Vargas, encontramos uma estética ainda presa às propostas do DIP, num segundo momento, quando das campanhas de Adhemar de Barros, já verificamos uma sensível transição e, num terceiro momento, quando das produções de Jean Manzon, já percebemos a incorporação de recursos estilísticos próprios do cinema ficcional norte-americano e mesmo das chanchadas brasileiras.
Um terceiro grupo seria constituído pelos textos que trabalham imagens de arquivos. Marcos Napolitano (“Nunca é cedo para se fazer história: o documentário Jango, de Silvio Tendler – 1984″) e Rosane Kaminski (“Yndio do Brasil, de Silvio Back: história de imagens, história com imagens”) trabalham com produções nacionais, analisando filmes de dois profícuos cineastas: Silvio Tendler e Silvio Back; nos dois textos, a análise da narrativa cinematográfica é intermediada pela análise da narrativa histórica, pois os cineastas se preocupam em apresentar suas versões e conclusões, articulando imagens e discursos. Em outro texto, Henri Arraes Gervaiseau (“Imagens do passado: noções e usos contemporâneos”) analisa o documentário Videogramas de uma revolução, de Harun Farocki e Andrei Ujica, sobre a deposição do regime ditatorial de Nicolae Ceausescu, produzido em 1992, utilizando-se para tal das formulações teóricas de Georges Didi-Huberman, que privilegiam o momento da produção da imagem, a experiência de quem produz e sua relação com a imagem produzida, consagrando, assim, a noção de contemporaneidade, externa ao filme, mas cuja compreensão torna-se necessária para um melhor entendimento.
Ainda nesse terceiro grupo, os textos de Mariana Martins Villaça (“O ‘cine de combate’ da Cinemateca del Tercer Mundo – 1969-1973”) e Vicente Sanchez-Biosca (“A história e a providência: cinema e carisma na representação de Franco e José Antonio Primo de Rivera”) trabalham propostas antagônicas: a produção uruguaia voltada à revolução terceiro-mundista e a produção espanhola enaltecedora do fascismo ibérico; cada qual, falando do seu lugar, revela não só as opções ideológicas como as opções estilísticas que procuram apresentar suas propostas da forma mais convincente possível.
Por último, o texto de Fernando Seliprandy (“Instruções documentarizantes no filme O que é isso, companheiro?“), no qual o autor utiliza o conceito de ‘instruções documentarizantes’, formulado por Roger Odin, para analisar a produção de Bruno Barreto e o debate que a cercou. Aqui, mais uma vez, a noção de verdade, presente na narrativa fílmica e na narrativa histórica, é colocada em questão: a indução do espectador, levado a entender o filme como uma representação da realidade, é confrontada pela indução produzida por textos e análises críticas ao mesmo filme, os quais também se apresentam como reveladores daquilo que realmente teria acontecido.
Esse trabalho coletivo recusa a ambição de se constituir como uma referência de perspectivas rígidas sobre o papel dos documentários e cinejornais para os estudos históricos, propondo-se iniciar um debate sobre a rica relação desse gênero de cinema com a história. Considerando que esse debate há muito já foi iniciado, entendemos que História e documentário tem a função de enriquecê-lo e, mais do que isso, serve, sim, a despeito da modéstia de seus organizadores, como uma importante referência para aqueles que se interessam pela relação da história com o cinema, quer sejam pesquisadores ou não, mas, com certeza, todos que sejam encantados pela imagem em movimento.
Wolney Vianna Malafaia – Doutor em História, professor do Colégio Pedro II. Rua Piraúba, s/n – São Cristóvão. 20940-250 Rio de Janeiro – RJ – Brasil. E-mail: wolneymalafaia@ig.com.br
[IF]
Caipira sim, trouxa não. Representações da cultura popular no cinema de Mazzaropi | Soleni B. Fressato
O típico caipira brasileiro foi imortalizado nas telas do cinema pelo Jeca Tatu de Amácio Mazzaropi. Sucesso nas bilheterias dos cinemas brasileiros, as aventuras e desventuras de um caipira ingênuo e ao mesmo tempo malicioso e debochado divertiram numerosas platéias por quase três décadas. Mazzaropi produziu 32 películas entre os anos de 1952 e 1980, atuando como ator, roteirista e produtor. Seus primeiros filmes foram lançados pela Vera Cruz e posteriormente, em 1958, Mazzaropi fundou sua própria produtora – a PAM Filmes, tendo como carro chefe das suas produções o personagem do caipira Jeca, representado seja no contexto urbano ou rural. Não era a primeira vez que a figura do caipira era apropriada e recriada pelas artes; já fazia parte do imaginário brasileiro, por exemplo, o Jeca Tatu criado por Monteiro Lobato – que apesar de ser homônimo ao caipira de Mazzaropi, possuía características distintivas – e tantos outros “caipiras” que fizeram sucesso nos programas humorísticos radiofônicos.
A popularidade do Jeca nas telonas não significou um reconhecimento da crítica cinematográfica. Os filmes de Mazzaropi eram taxados como superficiais, com pouco valor estético e repleto de fórmulas repetitivas e piegas. Além disso, a representação de valores rurais em um contexto histórico de valorização da urbanização e da modernização brasileira colidiu com as percepções e interesses desenvolvimentistas de alguns setores da sociedade que tinham o anseio de extirpar a “cultura atrasada” dos caipiras. A falta de prestígio também é perceptível nas reflexões acadêmicas que ora resumiram-se ao ataque ao conservadorismo das produções de Mazzaropi, ora optaram pelo simples desprezo e ignorância.
Buscando romper com os silêncios e ponderações reducionistas em torno das películas de Mazzaropi, foi lançado recentemente o livro Caipira sim, trouxa não. Representações da cultura popular no cinema de Mazzaropi, fruto da tese de doutorado da historiadora e socióloga Soleni Biscouto Fressato. A autora, que é editora da revista eletrônica O Olho da História, desenvolve suas pesquisas em torno da temática cinema-história, abordando as obras cinematográficas como uma forma de representação do real e instrumento de análise sócio- históricas. O seu objetivo é entender como está representada a cultura popular rural no cinema de Mazzaropi e as relações que são estabelecidas com outras esferas socioculturais.
Soleni não recusa ou foge do conceito de cultura popular: ela o historiciza e o problematiza. Sua abordagem teórica, sustentada pelas reflexões introduzidas por Bakhtin em Cultura Popular na Idade Média, identifica a cultura de maneira plural e heterogênea. No processo de circularidade cultural – conceito chave para a interpretação da autora – as práticas culturais populares e hegemônicas se relacionam, se influenciam e ao mesmo tempo se contradizem. Há um fluxo de permeabilidade entre as culturas, o que impede a definição de cultura popular de maneira simplista, orientada pelo signo da pureza cultural. A cultura popular pode ser compreendida como espaço de contestação e resistência, ao mesmo tempo em que há concordância e subordinação.
Um dos meios de questionar e reagir às normas dominantes é a utilização do cômico e da paródia. Tais expressões foram exploradas por Mazzaropi ao representar as dimensões da cultura popular caipira como espaços de sátira e crítica às estruturas socioculturais dominantes. A comicidade não é apresentada apenas como uma ingênua válvula de escape das vicissitudes cotidianas. Torna-se, no cinema de Mazzaropi, uma forma sútil de crítica social.
É importante pontuar que em nenhum momento Soleni defende um suposto caráter revolucionário de Mazzaropi, apenas identifica que, por trás de posturas conservadoras, a filmografia pode apontar inúmeras contradições sociais nas quais estavam (e estão ainda) inseridos os homens do campo. Um pesquisador que tem a proposta de utilizar o cinema como forma de compreender as representações e discursos sobre a realidade deve analisar as imagens para além da intencionalidade do diretor e da produção técnica, apreendendo o dizível e o não dizível. O cinema, ao fazer uma contra- análise da sociedade, revela muito além do que inicialmente era a proposta da película, pois a arte nunca perde o vínculo com o real. Além de observar e descrever os aspectos do cotidiano caipira e os elementos centrais explorados por Mazzaropi na construção dos enredos e personagens, a autora averiguou, por exemplo, os silêncios, ausências e deturpações presentes nas obras.
Soleni analisa especialmente quatro películas: Chico Fumaça (1958), Chofer de praça (1958), Jeca Tatu (1959) e Tristeza do Jeca (1961). Sua abordagem, entretanto, não se deteve apenas a estas, uma vez que a autora trabalha com o conjunto das produções de Mazzaropi, buscando contextualizá-las historicamente. A análise do contexto social do país permite ao leitor perceber como o discurso das décadas de 50 e 60 do desenvolvimentismo nacionalista, que pregava a valorização da industrialização, do trabalho, da cidade e do progresso, se contrapunha totalmente ao caipira preguiçoso de Mazzaropi, considerado pela intelectualidade da época um símbolo do atraso e da ignorância.
A problemática da tradição versus modernidade – ainda tão atual! – foi abordada expressivamente nos filmes de Mazzaropi. A modernidade, que proporcionou a transformação do modo de vida caipira a partir do avanço das práticas e organizações capitalistas, não encantou o caipira. A autora aponta que, na cinematografia de Mazzaropi, quanto mais o país tornava-se urbano e desenvolvido, mais caipira ficava o personagem Jeca Tatu. A oposição cidade versus campo também foi bastante recorrente. Mesmo nos espaço das grandes cidades, o Jeca não se adaptava e os seus gestos, trejeitos e formas de se comportar destoavam dessa nova maneira de viver. A sua inaptidão aos novos códigos suscitava nos espectadores muitos risos e gargalhadas.
Mazzaropi tinha o compromisso de divertir e entreter o seu público. Queria fazer um cinema de fácil compreensão para os brasileiros. Contava histórias nas quais muitos espectadores poderiam se identificar, já que os problemas da modernidade estavam chegando para muitos migrantes que tiveram que abandonar o campo e ir para as cidades.
Caipira sim, trouxa não apresenta ainda o contexto da produção cinematográfica da época, destacando o surgimento e o declínio da Vera Cruz, a fundação da Atlântida e a história da chanchada no Brasil. Por fim, a autora traça comparações entre o Cinema Novo e as produções de Mazzaropi. A proposta do Cinema Novo era promover a reflexão crítica com seriedade a partir de películas ricas em simbologias e elementos de contestação. Tal concepção acreditava que outras formas de fazer cinema, como o cinema de Mazzaropi, eram apenas formas de alienação. Soleni ainda discorre sobre as diferentes visões sobre o campesinato expressas nos filmes de Glauber Rocha e de Mazzaropi, comentando as diferentes maneiras de tecer críticas sociais a partir do uso do cinema.
A pesquisa de Soleni Biscouto Fressato pode abrir caminhos para outros estudos e reflexões sobre as obras de Mazzaropi, principalmente aquelas que se proponham a realizar uma análise sobre a recepção dos seus filmes – aspecto não aprofundado no livro. Acredito, contudo, que a maior contribuição da obra – além de resgatar o cinema de Mazzaropi para as novas gerações que o desconhecem – se insere na utilização do cinema como uma ferramenta de compreensão das contradições da realidade social. Soleni defende que o cinema age como um pesquisador inconsciente das diversas dimensões sociais, construindo até mesmo hipóteses sobre determinados aspectos do real. Deste modo, os estudiosos que ignoram ou desprezam as interpretações cinematográficas desconhecem o grande potencial analítico do cinema.
Ao terminar a leitura do livro percebo que o Brasil do Jeca Tatu de Mazzaropi não está tão distante do Brasil contemporâneo. Um Brasil no qual o discurso do progresso e da modernização ainda impera. Um Brasil repleto de Jecas expropriados que sobrevivem precariamente em um espaço rural cada vez mais mecanizado, ou que têm de ir para as cidades nas quais não existem nem ao menos os empregos de Chofer de praça. Jecas que agora precisam de Bolsa Família para viver – e que milagrosamente sobrevivem. Jecas que criam (e recriarão) suas formas de resistir, se adaptar e reagir sem abdicar totalmente de suas manifestações culturais. Cientistas sociais: aprendei com os nossos Jecas, que apesar de tudo, não abandonaram o riso, o deboche e a crítica.
Catarina Cerqueira de Freitas Santos – Mestranda em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. E-mail: catarinacerqueira@yahoo.com.br
FRESSATO, Soleni Biscouto. Caipira sim, trouxa não. Representações da cultura popular no cinema de Mazzaropi. Resenha de: SANTOS, Catarina Cerqueira de Freitas. O deboche caipira nas telas do cinema em “Caipira sim, trouxa não”. Aedos. Porto Alegre, v.4, n.10, p.169-172, jan. / jul., 2012. Acessar publicação original [DR]
A Tela Global: mídias culturais e cinema na era hipermoderna | Gilles Lipovetsky e Jean Serroy
Para o filósofo francês Gilles Lipovetsky vivemos já a era hipermoderna, dividida entre a cultura do excesso (o hedonismo de massas) e o elogio da moderação (valorização da saúde, dos direitos humanos, dos afetos, da consciência ambiental etc.). Vivemos não o fim da modernidade – o que o termo pós-moderno parece acusar – mas o aprofundamento do tripé que sempre caracterizou a modernidade: o mercado, o indivíduo e a escalada técnico-científica.
Com efeito, o avanço vertiginoso da globalização e das novas tecnologias de comunicação de massa, a partir da segunda metade do século XX, bem como da legitimidade dos prazeres do consumo, revolucionaram o cotidiano das massas. Decerto, a leveza do ser e os gozos privados da ordem do efêmero e da sedução das coisas, instaurados através da reestruturação da cultura de massas pela lógica da moda – isto é, o mercado organizado pelo efêmero, sedução e novidade permanente – conferiu legitimidade aos valores hedonistas e psicologistas, à renovação contínua, direito à felicidade individual e ao presentismo social [2]. Ou seja, as causas da derrocada do otimismo iluminista (o progresso ilimitado da razão) não se encontram apenas nas decepções comunistas e nas guerras do século XX, mas também em causas positivas da economia do consumo de massas, passando nós de um futurismo social (característico de uma primeira modernidade, nas teleologias de futuro paradisíaco encarnadas nas promessas revolucionárias) a um aqui-agora, e ao correspondente imperativo do carpe diem [3].
Esta concepção geral sobre a atualidade, supracitada, que já era tratada por Lipovetsky em “O Império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas” e seria sintetizada em “Os Tempos Hipermodernos”, é agora estendida em direção à análise da proliferação de telas e de uma cultura telânica, que não deixa de ter efeitos existenciais, contígua à era hipermoderna, de individualização crescente. Assim, rompendo com as especialidades entediantes das ciências humanas, Jean Serroy (estudioso do cinema) e Gilles Lipovetsky, um verdadeiro outsider dentro da academia, por suas ideias e temáticas, vêm com Tela Global tratar da extensão quase onipresente e certamente hiperespetacular das telas, pois se o século XX foi o século do cinema, sua segunda metade e o século XXI anunciam a era do tudo-tela.
Destarte, numa passagem que integra o último livro aos precedentes, os autores afirmam:
A mutação hipermoderna se caracteriza por envolver, num movimento sincrônico e global, as tecnologias e os meios de comunicação, a economia e a cultura, o consumo e a estética. O cinema obedece à mesma dinâmica. É no momento em que se afirmam o hipercapitalismo, a hipermídia e o hiperconsumo globalizados que o cinema inicia, precisamente, sua carreira de tela global. (p.23)
Vivemos assim uma mediocracia (de mídia, no plural do latim media), ou ecranocracia (ecrã é como usualmente chama-se tela, no português de Portugal), um poder telânico que se imiscui até nas esferas mais banais do cotidiano dos indivíduos comuns.
Como salientam os autores,
A expressão ‘tela ou ecrâ global’ deve ser entendida em vários sentidos. Em sua significação mais ampla, ela remete ao novo poder planetário da ecranosfera, ao estado generalizado de tela possibilitado pelas novas tecnologias da informação e da comunicação (p. 23),
tais como TV, VHS e depois DVD, videoclipe, celular com internet WAP e já WiFi, computador, videogame, câmeras pessoais e/ou de vigilância, publicidade, conversação online, o saber digitalizado, arte digital, telas de ambiente, PCTV, TV que acessa a internet, os recentes Tablets etc.
Na vida inteira, as nossas relações com o mundo e com os outros são cada vez mais mediatizadas através de telas (…). Se convém falar de tela global é também em razão do espantoso destino do cinema, que perdeu sua antiga posição hegemônica e que, confrontado à televisão e ao novo império informático, parece um tipo de expressão ultrapassada pelas telas eletrônicas. (pp. 23-5)
As estatísticas de diminuição do número de salas de cinema traduziriam isto, ou seja, um apregoado (por alguns observadores) “fim do cinema” ou “pós-cinema”.
É contra essa ideia que Lipovetsky e Serroy escrevem o livro. Aqui se encontra, portanto, a tese central da obra, pois é “no momento em que o cinema não é mais a mídia predominante de outrora que triunfa, paradoxalmente, seu dispositivo próprio, não material, é claro, mas imaginário: o do grande espetáculo, o da transformação em imagem, do star-system” (p. 25), isto é, o sistema de constituição de estrelas, que se na era de ouro do cinema eram inacessíveis e idealizadas, hoje são celebridades mais people e em muito maior número, quer dizer, democratizadas num certo sentido.
Deste modo, em vez do “fim do cinema”, o que “vivemos [é] a expansão do espírito cinema em nossa cultura hipermoderna, um espírito que fagocita a cultura telânica, que se encontra nas transmissões esportivas” (p. 23), por exemplo, com suas multicâmeras e zooms, slow motion, igualmente nos reality shows com sua filmagem do cotidiano de pessoas comuns, na cinefilia narcísica que os celulares e câmeras digitais proporcionaram, até mesmo nas violências que são filmadas pelos próprios agentes, e tudo isso é reencontrado (na interatividade, nos downloads) pela tela do computador, que dá acesso ao mundo pela internet. Uma cinemania generalizada, portanto. Uma cinevisão do mundo, por conseguinte.
O cinema como mundo e o mundo como cinema, pois aqui, mais do que nunca, é a vida que imita a arte. E é importante lembrarmos que o cinema é em si mesmo uma arte compósita, que funde fotografia, música, representação, poesia, espaço e tempo etc (p. 302). O cinema que, outrossim, é arte para além da evasão: tem a função social de criar vínculo humano (reunir os espectadores numa mesma sala) e que já foi chamado por isso de “a catedral do século”, e grande força de aculturação que forjou a modernidade, bem como se transformando em vetor de debates, mesmo politizados, especialmente no gênero dos documentários (pp. 301-3). Em vez do declínio do cinema, o que assistimos atualmente é seu auge, o tudo-cinema: “A época hipermoderna consagra o cinema sem fronteiras, a cinemania democrática de todos e feita por todos. Longe da morte proclamada do cinema, o nascimento de um espírito cinema que anima o mundo” (p. 27).
Para finalizar, uma questão profunda debatida pelos autores é a denúncia comum de que essa crescente “espetacularização” nos despojaria da verdadeira vida, nos levaria à desrealização do mundo (a imersão completa no mundo das imagens/fantasia), que o processo de cinematização induziria ao controle dos comportamentos, ao empobrecimento das existências, à derrocada da razão, à padronização da cultura (p. 309); alienados ficaríamos, em suma. Ainda que os autores aceitem a existência de uma tendência superficializante e de certa padronização dos produtos culturais, eles não subscrevem, no todo, esta visão apocalíptica. Assim,
O que o universo telânico trouxe ao homem hipermoderno é menos, como se afirma com frequência, o reinado da alienação do que uma nova capacidade de recuo crítico, de distanciamento irônico, de julgamento e de desejos estéticos (…). Nenhuma derrocada da cultura da singularidade no reinado da barbárie estética, mas também nenhum triunfo daquilo que [Paul] Valéry chamava o ‘valor espírito’. Nenhum filme catástrofe, mas também nenhum happy end. (p.310).
Notas
2. Gilles Lipovetsky. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: Cia das Letras, 1989. pp. 257-60.
3. Gilles Lipovetsky. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Barcarolla, 2004. pp.51-65.
Walter Luiz de Andrade Neves – Mestre em História pela UFRuralRJ. Doutorando do PPGHIS-UFRJ.
LIPOVETSKY, Gilles & SERROY, Jean. A Tela Global: mídias culturais e cinema na era hipermoderna. Porto Alegre: Sulina, 2009. 326p. Resenha de: NEVES, Walter Luiz de Andrade. Aedos. Porto Alegre, v.10, n.4, p.173-175, jan. jun. 2012. Acessar publicação original [DR]
A história nos filmes / Os filmes na história – ROSENSTONE (HH)
ROSENSTONE, Robert. A história nos filmes / Os filmes na história. São Paulo: Paz e Terra, 2010, 264 p. Resenha de: VIANNA, Alexander Martins. Filme, história e narrativa. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 7, p.301-304, nov./dez. 2011.
Em 2010, foi lançado o livro de Robert Rosenstone A história nos filmes / Os filmes na história pela editora Paz e Terra. Trata-se de uma reunião das reflexões recentes deste autor sobre a relação entre cinema e história, assim como, uma autorreflexão sobre a sua própria trajetória no tema, havendo instrutivas autocríticas, que são muito significativas sobre a evolução do campo, além de serem muito bem- humoradas. Ao final, há uma relação interessante da produção bibliográfica (predominantemente norte-americana) sobre o tema, que serve como bom medidor da evolução do debate neste campo.
Há considerações pertinentes de ordem teórica e metodológica que firmam a incorporação do debate crítico da “virada linguística” em história, demonstrando como isso afetou (ou deveria afetar) a discussão sobre o filme como fonte histórica e a relação entre narrativa e fato histórico. Além disso, Rosenstone considera, oportunamente, o componente emocional específico de significação da associação som/imagem e performance que caracteriza os “filmes históricos” enquanto mídia, distinguindo a sua forma de narrativa dos “livros acadêmicos de História” enquanto mídia. Por tudo isso, penso que esta obra é, atualmente, um bom ponto de partida teórico e metodológico para quem pretenda discutir e analisar o filme como fonte de época (e como narrativa sobre uma época), com cujo aporte me identifico intelectualmente há uma década.
Ao longo do livro, a intenção recorrente de Rosenstone é demonstrar que o gênero “filme histórico” tem tanto valor (enquanto narrativa sobre o passado) quanto os livros acadêmicos, pois ambos seriam formas midiáticas distintas de propor regimes de verdade sobre o passado. Aliás, Rosenstone lembra que, atualmente, a maioria das pessoas têm visões sobre o passado muito mais marcadas pelo que conheceram através de filmes do que por livros e, portanto, a recepção e a difusão de ideias de passado através de “filmes históricos” definem um status tão importante para a sua narrativa sobre o passado que não pode ser negligenciada pelos “acadêmicos”.
No entanto, se a “virada linguística” foi um marco intelectual importante para o historiador introduzir um componente autoanalítico em (ou adquirir uma consciência metanarrativa a respeito de) seus escritos sobre o passado, Rosenstone lembra que isso é mais recorrente nos livros acadêmicos de história do que em filmes “de história”. Filmes que são conscientemente metanarrativos ou metacríticos em relação ao regime dramático de narração acabam alcançando uma audiência muito diminuta de intelectuais. Portanto, são as narrativas dramáticas que predominam nas produções cinematográficas “sobre história”, ou seja, são elas que alcançam públicos mais amplos e difundem “cânones de passado”. Rosenstone propõe que este tipo de produção cinematográfica seja estudado sem preconceito, devendo o historiador estar atento à sua forma, sentido e regimes narrativos enquanto mídia, em vez de pretender ser normativo sobre qual deveria ser a “forma correta” de narrativa de passado.
Há nisso um pressuposto metodológico importante que serve para qualquer trabalho com fontes históricas (imagéticas ou não): para se entender como um “filme histórico” dá a ver um “tema histórico”, devemos ter um profundo conhecimento do “campo institucional” ou “regimes de gosto e verdades” que definem a sua abordagem em sua época de produção, de modo a entender as escolhas de produtores, roteiristas e diretores. No caso específico de Rosenstone, “tema histórico” se confunde com o gênero que ele analisa: “dramas e documentários históricos”. No entanto, tal pressuposto metodológico pode ser ampliado para qualquer tipo de filme, já que são a pergunta e os interesses temáticos do historiador que transformam um filme em fonte pertinente para análises históricas, desde que este tenha capacidade para responder as suas perguntas.
Em todo caso, devemos estar atento ao modo como as perguntas são feitas e como são respondidas, ou seja, a “virada linguística” foi fundamental para o historiador incluir em sua narrativa um componente autoanalítico, de modo a superar a “ingenuidade positivista”. Afinal, conscientemente ou não, lembra Rosenstone, livros e filmes “de história” expressam ou propõem teses morais a partir de regimes específicos de narrativas e das regularidades internas dos materiais utilizados. No entanto, geralmente no filme fica mais evidente que suas narrativas (dramáticas) têm o interesse de acionar na audiência determinadas emoções, que nos dizem muito a respeito do “campo” em que se inscreve, ou em relação ao qual pretende se diferir, ao tratar de um tema ou conjunto de temas.
Disso decorre outro pressuposto metodológico importante: a intencionalidade do diretor/roteirista, embora importante, não deve ser necessariamente predominante para a análise de um filme, pois este deve ser estudado como “obra acabada” vinculada a um habitus de produção, ou seja, o filme deve ser entendido como o “resultado” de um campo de trabalho coletivo e, portanto, deve-se considerar que há uma negociação permanente na construção de significados que somente termina quando a obra é finalmente editada. Por exemplo, quem cuida da edição de som pode inserir entendimento (emocional e cognitivo) ou criar efeito de condensação temática que não fora necessariamente previsto pelo diretor, roteirista e consultor histórico (no caso de “filmes históricos”), mas com o qual puderam concordar a posteriori, dando novo ângulo de entendimento para cenas, tramas e caracterização de personagens. Enfim, conhecer a forma e o sentido da produção de um filme é importante, pois isso interfere – devido ao seu regime próprio de narrativa, interesses e valores – em como o filme é apresentado à audiência.
Nesses termos, quando se analisa um filme, analisa-se um “resultado” que provoca/propõe ideias e valores através de emoções e teses morais. Afinal, para funcionar a partir de suas próprias regularidades internas enquanto mídia, a narrativa fílmica (dramática ou não) necessariamente precisa de teses morais, tal como os livros de história também o fazem a partir de seu regime próprio de narrativa. Tais teses morais podem identificar a posição de um artefato cultural num campo temático de debate.
Enfim, qualquer produção do cinema somente pode ser opção como fonte para estudo histórico quando o historiador se prontificar a conhecer profundamente o campo social e institucional de ideias, gostos, interesses e valores que interferem nas escolhas de uma produção, o que implica também em conhecer os regimes de verdades sobre os temas abarcados no filme, ou seja, o chão de debates intelectuais, políticos, culturais, sociais etc, em que se insere, ou em relação ao qual pretende se diferir.
Por outro lado, analisar um filme é também reduzi-lo, pois é reconduzi-lo do écran à página, sendo que esta não pode traduzir perfeitamente em palavras aquilo que associa som, imagem e performance para produzir efeitos emocionais para teses morais. Todavia, este é o paradoxo da narrativa histórica sobre qualquer objeto, e não somente para o caso da análise de filmes, pois, como lembra Rosenstone, uma narrativa não pode traduzir um “evento” sem imperfeitamente reduzi-lo – e narrar um evento é também produzi-lo.
Referências
BOURDIEU, Pierre. A distinção. São Paulo: Edusp, 2008.
________________. Ce que parler veut dire. Paris: Arthème Fayard, 1982.
DÉLAGE, Christian. Cinéma, histoire: la réappropriation des récits. Vertigo, n.
16, p.13-23, 1997.
JENKINS, Keith. A história repensada. São Paulo: Contexto, 2001.
LaCAPRA, Dominick. Soundings in critical theory. Ithaca/London: Cornell University Press, 1989.
ROSENSTONE, Robert. JFK: historical fact/historical film. American Historical Review, vol. 97, n. 2, p.506-511, 1995.
SAHLINS, Marshall. Metáforas históricas e realidades míticas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
TOEWS, John E. Intellectual history after the linguistic turn: the autonomy of meaning and the irreducibility of experience. American Historical Review, vol. 92, n.4, p. 879-907, 1987.
WHITE, Hayden. Meta-história. São Paulo: Edusp, 2008.
Alexander Martins Vianna Professor adjunto Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro alexvianna1974@hotmail.com Rua Barão de Mesquita, 463/305 – Tijuca 20540-001 – Rio de Janeiro – RJ Brasil.
A Idade Média no cinema – MACEDO; MONGELLI (CTP)
MACEDO, José Rivair; MONGELLI, Lênia Márcia. (Org.). A Idade Média no cinema. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009. Resenha de; PRATA, Rafael Costa. A Idade Média no Cinema, de José Rivair Macedo e Lênia Márcia Mongelli. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão, n. 05 – 05 de outubro de 2011.
Em 28 de dezembro de 1895, os irmãos Lumiere projetavam no porão de um salão de café em Paris, seus primeiros rolos de filmes compostos por imagens do cotidiano da sociedade francesa de outrora. Pouco tempo depois, em 1899, George Meliès, encenava “para a câmera cenas históricas recentes, como em L´affaire Dreyfus”.2 Conforme Rosenstone:
Os primeiros filmes históricos dramáticos não eram concebidos como investigações serias a respeito do significado dos acontecimentos passados. Eram momentos nacionais breves, muitas vezes não mais do que encenações teatrais que a platéia facilmente reconheceria (…).3
Contudo, “no final da década de 1910, houve o surgimento de uma outra tradição de filmes históricos que não hesitam em fazer perguntas e apresentar interpretações serias sobre o significado do passado”.4 Com isso, o Cinema começa a ganhar força, suscitando assim intensos debates envolvendo a apropriação do conhecimento histórico produzido pelo saber erudito por parte do campo cinematográfico.
Esses debates, em grande parte surgiam em decorrência de que o Cinema até então era visto pelo saber erudito como uma arte voltada às camadas populares, um entretenimento pueril despossuído de qualquer tipo de responsabilidade metodológica e histórica. Nascido nos porões de um café em Paris e reduzida a um publico muitas vezes formado pela classe operaria, o Cinema amargou por muito tempo ter de levar esse fardo adiante.
Esse muro foi sendo lentamente derrubado quando a partir da terceira geração dos Annales, historiadores como Pierre Nora e Marc Ferro, imbuídos da necessária defesa do alargamento das fontes históricas, criaram “um clima que permitiu que os acadêmicos passassem a levar a cultura popular mais a serio e começassem a observar mais de perto a relação entre filme e conhecimento histórico”.5 Não obstante, será então curiosamente o período histórico convenientemente denominado como Idade Média, marcado por uma gama de preconceitos e legendas negras edificadas historicamente pelos humanistas e posteriormente pelos iluministas do século XVIII, esta, a “Idade das Trevas” ou “Longa Noite de Mil anos”, o momento histórico mais procurado para as ambientações cinematográficas.
Procurando refletir como se dá tais relações, é que a obra “A Idade Média no Cinema” aparece com grande importância dentro do polêmico e conturbado cenário das relações entre o Cinema e os seus usos do saber histórico. Lançada em 2009 pelo Ateliê editorial, e de organização dos medievalistas, José Rivair de Macedo (UFRGS) e Lênia Márcia Mongelli (USP), tal obra nasceu curiosamente como fruto de inúmeras palestras, congressos e seminários realizados a partir do primeiro semestre do ano de 2001, quando, encabeçadas pela ABREM,6 foram realizadas em todo o país, lotando universidades, e outros centros de estudo, sempre levando daqueles locais, a certeza de que seria necessário se aventurar mais ainda sobre a temática a fim de responder aos inúmeros questionamentos que daqueles ambientes emergiam em profusão.
Partindo destas premissas, a obra então nos leva a uma importante reflexão acerca das representações incidentes sobre o Medievo no campo cinematográfico, principalmente quando “o que está em discussão é a necessária distinção entre uma Idade Média propriamente histórica, objeto de estudo dos medievalistas, e uma Idade Média vista em retrospectiva, isto é, uma certa idéia do passado medieval visto pela posteridade”.7 A proposta metodológica é a mais sensata possível, haja vista que todos os articulistas ao desviarem o seu olhar a estas apropriações cinematográficas, não procuram esquecer-se da linguagem, das subjetividades e objetivos, que são próprios ao Cinema, que devem ser entendidos, para se evitar os eternos choques entre ambos os campos.
Não é de se surpreender, portanto, que grandes obras de reconstituição histórica, feitas com consultoria de renomados historiadores, acabam sendo repudiadas por estes mesmos durante sua produção por diversos motivos apontados. Tal situação pode ser vista com clareza a partir de dois paradigmas clássicos ocorridos durante as filmagens da película de destaque, “O Nome da Rosa”, quando o renomado medievalista Jacques Le Goff, convidado para atuar como consultor histórico, acabou abandonando seu ofício durante a produção do filme e pediu para não ter seu nome posto nos créditos da obra, ao discordar em absoluto das decisões tomadas pelo cineasta Jacques Annaud durante o andamento da produção fílmica. Outro caso talvez mais significativo do que pode resultar tais choques, aconteceu durante a produção do filme “O Retorno de Martin Guerre”, no ano de 1982, quando a também consultora histórica contratada para a obra, a historiadora Natalie Zemon Davis, também discordara da recriação feita pelo cineasta Daniel Vigne, e indo mais além, em 1987, cinco anos após então, lança uma obra homônima ao filme, onde demostra toda a sua insatisfação e as diferenças de leituras ocorridas entre ela e o cineasta.
Em geral, A Idade Média que acaba aparecendo nas telas do Cinema, não é mais do que um mero espelho das angustias, sofrimentos e desejos da contemporaneidade, que encontram numa Idade Média sonhada ou fantasiosa, campo propicio como subterfugio ou como fuga da realidade. Um Medievo de Bruxas, de princesas e cavaleiros encantados e envoltos na mais pura magia do amor cortês e da coragem, cavalgando em meio aos perigos de uma floresta onde residem magos e outras figuras estranhas. O Medievo será “inapelavelmente, a Idade Média do fantástico e da religião, do Graal e do amor, das grandes guerras e das heroínas como Joana D`arc”.8 Daí é que:
É no âmbito da Medievalidade [conceito cunhado pelo mesmo e de fundamental importância no decorrer da obra], e não da historicidade medieval, que o cinema alusivo a Idade Média deve ser pensado.9 (…) As motivações da Medievalidade encontram-se estreitamente ligadas aos problemas atuais: os dilemas éticos do herói, a fidelidade aos princípios morais do individuo em relação ao grupo, a prevalência do bem sobre o mal.10
Sobre o aspecto temporal e temático: Áreas ou períodos da Idade Média aparecem com maior frequência no cinema do século XX. Não seria demais insistir no fato de que, comparativamente, os temas medievais que mais interessam aos cineastas digam respeito aos séculos posteriores ao XI, poucos filmes tendo abordado a Alta Idade Média (séculos V – X). Enquanto determinados temas (como a peste, as Cruzadas, os Vikings, as guerras, as querelas dinásticas) e determinados personagens (como Joana D´arc, Robin Hood, Henrique V, o Rei Arthur) são reiteradamente retratados, a partir de diversos ângulos ou pontos de vista.XI Para concluir, além destas e outras reflexões, esta significativa obra nos traz ainda seis ensaios independentes, que procuram manter a coesão ideológica sobre filmes renomados ambientados na Idade Média, procurando discutir como tais obras constroem e se utilizam deste tão procurado Medievo.
“A Idade Média no Cinema”é uma obra fundamental e que consegue contribuir em muito para o estudo da relação Cinema – História, demonstrando como o bom relacionamento entre os campos não precisa ser necessariamente uma utópica relação amorosa, mas uma compreensão de suas particulares dimensões, construções simbólicas e signos, que respeitadas, podem e muito contribuir para a construção do conhecimento histórico em todas as suas dimensões.
Notas
2 ROSENSTONE, Robert. A História nos filmes, os filmes na História, São Paulo: Paz e Terra, 2010. p.27.
3 Idem, p.29.
4 Idem.
5 Idem, p.40-41.
6 ABREM – Associação brasileira de estudos medievais.
7 MACEDO, José Rivair. Introdução – Cinema e Idade Média: perspectivas de abordagem. In: MACEDO, José Rivair; MONGELLI, Lênia Márcia. (Org.). A Idade Média no cinema. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009. p.14.
8 PEREIRA, Nilton Mullet. Imagens da Idade Média na Cultura escolar. AEDOS, vol.2, No. 2, 2009, p.4.
9 MACEDO, José Rivair. Introdução – Cinema e Idade Média: perspectivas de abordagem. In: MACEDO, José Rivair; MONGELLI, Lênia Márcia. (Org.). A Idade Média no cinema. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009. p.18.
10 Idem, p.47.
11 Idem, p.46-47.
Referência
MACEDO, José Rivair ; MONGELLI, L. M. (Orgs.) . A Idade Média no Cinema. 1ªed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009. v. 01. 268 p .
Rafael Costa Prata – Graduando em História pela Universidade Federal de Sergipe. E-mail: rafaelcostaprata@hotmail.com.
Voz na luz: psicanálise e cinema – GUIMARÃES (CTP)
GUIMARÃES, Dinara Machado. Voz na luz: psicanálise e cinema. Rio de Janeiro: Garamond, 2005. 185 p. Resenha de: NASCIMENTO, Cristhianne Lopes. Voz na Luz: Psicanálise e Cinema de Dinara Machado Guimarães. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão, n. 04 – 04 de julho de 2011.
A psicanalista Dinara Guimarães propõe uma ideia inovadora ao investigar o cinema a partir da voz. Por o cinema ser uma arte sempre associada ao olhar, este livro amplia a concepção dos recursos sonoros e vocais das produções cinematográficas quando relacionados com a psicanálise. E esta particularidade já se apresenta no Prefácio quando o cineasta Cacá Diegues define que “a voz deste livro é a voz que o cineasta escuta”.2 Em sua obra, O vazio iluminado, a autora trabalha o olhar no cinema sustentado pela ideia de um vazio que também dá passagem para a criação da concepção voz na luz. Assim, como existia uma separação entre olhar e vê em sua primeira obra, esta traz como foco uma separação entre a voz e aquilo que se diz.
Desse modo, Dinara Guimarães nos apresenta “o cinema como uma arte que materializa uma voz moral na consciência humana”.3 E, com isso, permite uma análise do processo de criação tendo como base a teoria da psicanálise e a teoria do cinema. Para tanto, a autora divide sua obra em duas partes compostas por várias sequências: a primeira é o início da passagem do olhar para a voz (a) sonora; a voz de supereu de Sigmund Freud; a voz como objeto de pulsação invocante de Jacques Lacan; a voz na triangulação entre as categorias do Real, do Simbólico e do Imaginário; e a segunda parte consolida o encontro entre o cinema e a psicanálise assumindo o cinema como voz (a) sonora, uma voz silenciosa passando deste o surrealismo francês, os movimentos de vanguarda americana experimental, nouvelle vague francesa, neorrealismo italiano, até o cinema brasileiro e cinema contemporâneo. Por fim, as considerações finais que ressaltam o caminho percorrido e a voz transpassável pela tela desviada que ainda é seu grande enigma.
No primeiro plano já encontramos uma nomenclatura alternativa utilizada pela autora: a classificação cinema mudo e falado da abordagem tradicional é denominada por cinema silencioso e sonoro, e, ambos são detentores de voz. Isso quer dizer que o cinema mudo possui uma voz silenciosa. E, por isso, “o cinema combina a voz e a presença invisível do enunciador”.4 A partir desta assertiva, Dinara Guimarães define os princípios psicanalíticos que lhe é fundamental – o objeto a e o objeto da pulsão de ouvir, invocante – para chegar à construção do objeto e do método. Tendo como referencial Lacan e Freud, respectivamente. Logo, o cinema é construído pela voz (a) sonora por ser uma arte basicamente de representação de imagem. A voz, caracteristicamente errante, ao converter-se na fala cerca o lugar vazio, o vácuo de onde surge a voz ou o inverso disto, a voz silenciosa. Ou seja, o cinema tem uma voz silenciosa que ressoa por se tratar de outra dimensão da voz, a dimensão do instante de escutar. Por isso, segundo a autora, o cinema é chamado de “voz na luz”.
Nesse momento, a autora nos expõe os vários mecanismos de invenção criativa dos artistas sem nenhuma intenção de interpretá-los. Para tanto, percorre o campo teórico da psicanálise através da decupagem de três registros: o Real incorporado à ordem do “impossível” lógico; o Simbólico como uma lei ordenadora da estrutura que é a linguagem; e o Imaginário como registro das representações mediado por esta lei ordenadora. Onde cada um deles ganha três dimensões que articulam sobre um vazio que Lacan deposita os objetos a e, um dos objetos de desejo nomeado por ele, é a voz.
Dinara Guimarães destaca o pouco momento em que Freud compara a voz com a instância moral do supereu (ou superego) que seria uma voz da consciência ou a, também, chamada consciência moral. Já as abordagens de Lacan são bem exploradas por ela. Sua abordagem da voz se dá no desejo do sujeito e no desejo do Outro, portanto, um lugar dos significantes, marcado pelo registro Real. Então, Lacan é o primeiro a conceituar a voz como um objeto e “constrói o objeto a para marcar o ponto de escape da simbolização na estrutura de linguagem”.5 Pois, para ele o Real pode ser trabalhado excluído do Imaginário e do Simbólico e, consequentemente, enfatiza a ação criadora da palavra. E passa a evidenciar o Real como pura ausência, porém, o objeto a é o ponto de convergência entre o Real, o Simbólico e o Imaginário, determinando o lugar vazio estruturante da voz. Ao definir esta linha argumentativa, a autora desfila exemplos para demonstrar a escuta do cinema que ultrapassa a sonoridade acústica da tela para atingir a liberdade de uma voz que ecoa além da imagem.
Finalizando a primeira parte, Dinara Guimarães nos apresenta o conceito de voz acusmática presente em Michel Chion. A voz humana, segundo ele, é parcial e direcional, mas ouvimos de todos os lados despertando os sentidos a partir da orelha. Por isso, uma voz acusmática seria o som que se escuta sem saber de onde vêm. Produzida em um espaço extra-campo, mas não significa fora do filme. A voz ressoa pela “presença suposta”, quer dizer que é de alguém presente „fora-de-cena‟.
Na segunda parte, a autora define voz (a) sonora e voz sonora e depois a representação moral da voz (a) sonora em algumas projeções cinematográficas. A interface cinema e psicanálise se dá, para a autora, no encontro entre a psicanálise in-tensão e a psicanálise ex-tensão e, assim, constrói-se a voz iluminada. Para desvelar esta voz, é necessário escandir a voz (a) sonora, pois, ao destacar, separar a voz ela surge como objeto-causa do desejo. Dessa maneira, o sujeito se encontra como objeto e se faz voz, pois esta voz localizada dentro e fora do campo auditivo constituindo-se em Outro. Dinara Guimarães, então, apenas relaciona com o cinema a abordagem da voz do desejo do Outro que Lacan trabalha em relação à literatura.
Outro ponto, escandido pela autora, é a relação entre a voz e o olhar. “A voz e o olhar se opõem. A voz ressoa à distância da imagem, e o olhar fixa a imagem”.6 E a lógica de operação da fantasia tem relação com o enquadramento do olhar e da voz na tela por que o sujeito encena para ver e ouvir a realidade da sua subjetividade.
Com isso, a autora se distancia cada vez mais dos pensamentos tradicionais que compreendem a voz no sentido de um conjunto de sons emitidos pelo aparelho fonador. Restringindo a voz ao âmbito da percepção auditiva proposta pela fonoaudiologia e pela psicologia da Gestalt. E, também, o cinema sonoro limita-se a ter um único recurso técnico, a voz.
E esses conceitos estão presentes nas novas propostas artísticas do cinema vanguardista para, com isso, tentar atingir um novo sentido. Pois, a autora coloca a voz na luz do cinema como a reflexão da consciência moral, a instância crítica e vigilante. É uma voz que traz consigo um ideal estético preenchido por várias vozes escutadas por todos os lados e sentidos. David Wark Griffith, Fritz Lang, Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, Maya Deren, Alain Resnais, Roberto Rossellini, Federico Fellini, Jean-Luc Godard, Carlos Reichenbach, Cacá Diegues, Krzystof Kieslowski, Luc Besson e outros são as vozes da moralidade destacada pela autora corroborando com os ideais apresentados ao longo de sua obra.
O cinema só se constrói enquanto voz pelo prazer de escutar pelas vozes do desejo. A escuta do cinema traz à luz a voz do comando de presença invisível, pois, cinema é voz: a voz distante da fonte sonoro-vocal, a voz da memória, a voz do espectro sonoro, a voz fantasmática, a voz inspiradora e a voz paranóica. Finalizando, a autora afirma que o que se escuta no cinema é a voz do silêncio. Assim, como um escrito, a voz entoa ao espectador uma linguagem, portanto, vinda do interior, silenciosa, dita em pensamentos ou vinda do exterior, invisível, ela antecipará o olhar. Pois, estará em algum lugar e em lugar nenhum, possível de ser vista e escutada, mas sempre fadada a errar.
Com esta conclusão, Dinara Guimarães, nos proporciona uma sobrecarga de conceitos da teoria da psicanálise, mas por vários momentos nos fica devendo maiores esclarecimento a cerca da teoria do cinema. Porque ao desfilar suas várias vozes (a) sonoras nas projeções cinematográficas encontramos termos do cinema extremamente técnicos que impossibilitam a interface desejada entre cinema e psicanálise com maior clareza. Embora, consiga falar com enorme poder dessas duas “ciências”.
Referência
GUIMARÃES, Dinara Machado. Voz na luz: psicanálise e cinema. Rio de Janeiro: Garamond, 2005. 185 p.
Notas
2 p. 07
3 p. 15
4 p. 17.
5 p. 33.
6 p. 67.
Cristhianne Lopes do Nascimento – Mestranda em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC/GO
A concepção materialista da História do Cinema | Nildo Viana
Nas últimas décadas se alargaram no campo das Ciências Humanas e Sociais as discussões acerca da utilização do Cinema não apenas como um produto social, mas também como um produtor de sentidos sociais. A partir dessa perspectiva, muitos trabalhos vêm propondo a superação de concepções puramente formalistas, descritivas e estéticas realizadas ao longo do século XX. É nesse contexto que se situa A concepção materialista da História do Cinema, do sociólogo e filósofo Nildo Viana.
Atualmente professor da Universidade Federal de Goiás – UFG, Viana possui diversas publicações marcadas pela multidisciplinaridade. Todavia, há um elemento comum que perpassa grande parte de seus textos e que pode ser entendido como o eixo norteador de suas reflexões: a concepção materialista, pautada na idéia de totalidade e de luta de classes. No que diz respeito ao cinema, destaco também o livro Como assistir um filme?, publicado no mesmo ano de 2009 e cujo enfoque segue a mesma direção.
O livro é organizado e dividido em quatro capítulos, além de apresentação e considerações finais. O primeiro capítulo, História e Cinema, apresenta as abordagens historiográficas mais difundidas e aplicadas a uma “historiografia do cinema”. Viana dialoga, sobretudo, com os trabalhos de Marc Ferro, criticando sua (falta de) base metodológica, que teria conduzido Ferro a um “fetichismo do cinema”. Outro teórico do Cinema que também desperta a desconfiança de Viana é Siegfried Kracauer, este acusado de padecer de um psicologismo que não dá conta de explicar o fenômeno do Cinema. Ao tecer críticas aos dois teóricos, o autor discute sobre diversos pressupostos de teorias ligadas ao cinema, como, por exemplo, a teoria do reflexo, do mesmo Kracauer, e o realismo socialista de Eisenstein.
No segundo capítulo, Pseudomarxismo, formalismo e História do Cinema, o autor procura apontar por que grande parte dos pesquisadores recai numa visão elitista e esteticista do cinema, cuja origem encontrar-se-ia na ideologia leninista. Da mesma forma, critica os aportes metodológicos de orientação estruturalista (formalista), buscando exemplos na obra de Jean-Claude Bernardet.
O capítulo seguinte, História do Cinema e materialismo histórico, apresenta os pressupostos materialistas que, segundo o autor, devem nortear os estudos sobre Cinema, onde o reconhecimento da produção social do filme é o ponto de partida. Viana aponta, então, algumas determinações que regem a produção social de um filme e que deveriam ser pensadas dialeticamente em uma totalidade concreta, e não metafísica: o capital cinematográfico (sua determinação fundamental, segundo o autor), o filme como mercadoria, o cinema como instrumento político (intervenção estatal), a mensagem, a esfera cinematográfica e a produção do filme.
Por fim, Nildo Viana procura apresentar a aplicabilidade de sua metodologia no capítulo intitulado Expressionismo Alemão: Cinema e luta de classes na tela. Retomando a discussão com Kracauer e acrescentando agora Lotte Eisner, procura combater concepções formalistas, que entendem como expressionistas todos os filmes que possuem determinadas características, bem como outras análises que reafirmam lugares-comuns referentes a esse movimento artístico. Algumas críticas de Viana são, de fato, pertinentes e possivelmente encontram acolhida por parte de historiadores que trabalham com o Cinema em uma perspectiva social e historicista. Contudo, não há como deixar de observar alguns aspectos que fragilizam o texto.
A primeira constatação desconfortável no texto de Viana refere-se às omissões. Por exemplo, o fato de o autor dialogar com Marc Ferro e passar ao largo da contribuição de Pierre Sorlin – que discute exatamente os aspectos silenciados por Ferro, que não escapa da crítica de Viana por essas lacunas –, provoca certa desconfiança. Não passa despercebida, também, a ausência de alguns historiadores que notadamente procuraram pensar o cinema como um fenômeno social. Ora, desde a década de 1950, essa direção já vinha sendo apontada por estudiosos como Robert Mandrou e Robert Sklar, que também não ganham visibilidade na discussão.
Talvez mais desconfortável ainda seja o fato de Viana não dialogar com a produção historiográfica atual. Sua análise basicamente congela-se nos anos 1980 e 1990, e encolhe-se frente a estudos de grande relevância, como os de Robert Rosenstone, Douglas Kellner, Jacques Aumont, Christian Delage, Anthony Aldgate, Jeffrey Richards e Arthur Marwick.
Da mesma forma, Nildo Viana não abre espaço para as abordagens endógenas da História do Cinema. O único historiador brasileiro citado é Antônio Costa, que publica em 1987, de modo que recaímos novamente na resistência de Viana em estabelecer diálogos com a historiografia do século XXI. Autores como Ismail Xavier, Ciro Flamarion Cardoso, Eduardo Morettin, dentre outros, certamente enriqueceriam as reflexões de Viana.
No que diz respeito aos aportes teórico-metodológicos, algumas ressalvas também se impõem. Ao propor uma História do Cinema pautada na concepção materialista, o autor deixa transparecer apriorismos que desembocam numa forma nociva de fetichismo, não do Cinema, como nos historiadores que critica, mas do capital. Postula a inescapabilidade da História do Cinema ao capitalismo e de preceitos sob orientação do materialismo histórico como única saída para a até então inelutável história descritiva do Cinema. Aliás, o já mencionado caráter não dialógico de Viana, quando deixa de refletir sobre os estudos de importantes teóricos de História e Cinema e História do Cinema, pode também ser explicado por esse fetichismo do capital no qual ele recai, onde ficam à sombra quaisquer outros trabalhos que não os que levem em conta a luta de classes, o capital e a idéia de totalidade.
Contudo, através da leitura de A concepção materialista da História do Cinema, a despeito de uma série de aspectos que requerem algum cuidado, é possível vislumbrar mais do que o que fazer, como fazer. O estudo que Nildo Viana faz acerca do Expressionismo Alemão no cinema, ainda que breve, é estruturalmente coerente, principalmente no sentido de romper com algumas mitologias.
Não que se considere essa metodologia inovadora ou original. Inúmeros trabalhos anteriores ao de Viana, que procuraram abordar o Cinema como produto e, principalmente, produtor de sentidos sociais, foram significativamente mais longe em termos teóricos e metodológicos. Ora, a utilização do materialismo histórico e de seus pressupostos teóricos para se pensar o Cinema está na ordem do métier dos historiadores que buscam estabelecer relações entre os filmes e a sociedade que os produz.
Entretanto, nos tempos de hoje, a publicação de uma obra notadamente marxista me parecerá sempre um ato corajoso. O materialismo histórico vem padecendo de uma dose de desprestígio em face à História Cultural, admita-se. Nesse sentido, a obra de Viana procura recolocar e demonstrar, ainda que de modo sucinto e às vezes problemático, a potencialidade desse tipo de abordagem – mas que, evidentemente, pode ser muito mais expressiva quando se dialoga com a historiografia do século XXI, repleta de fluxos e polifonias. Viana, porém, ainda não atravessou essa avenida.
Bianca Melyna Filgueira – Mestranda do PPG em História da UFSC. E-mail: bi_hst@yahoo.com.br
VIANA, Nildo. A concepção materialista da História do Cinema. Porto Alegre: Asterisco, 2009. Resenha de: FILGUEIRA, Bianca Melyna. O fetichismo virou contra o feiticeiro. Aedos. Porto Alegre, v.3, n.8, p.232-235, jan. / jun., 2011. Acessar publicação original [DR]
De Hitchcock a Greenaway, pela história da filosofia. Novas reflexões sobre cinema e filosofia – CABRERA (FU)
CABRERA, J. De Hitchcock a Greenaway, pela história da filosofia. Novas reflexões sobre cinema e filosofia. São Paulo: Nankin Editorial, 2007. Resenha de: KUSSLER, Leonardo Marques. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.12, n.1, p.87-89, jan./abr., 2011
Nesta segunda obra que aborda a temática de cinema e filosofia, Cabrera retoma alguns pontos de seu livro anterior (Cabrera, 2006) que geraram muitas dúvidas e mal-entendimentos, pressupondo que não se faz necessário demonstrar novamente o cinema em seu enlace com a filosofia, e sim, mostrar as repercussões acerca do que o cinema mostrou da natureza filosófica, diz o autor. Para tanto, Cabrera distingue dois momentos do livro: um primeiro, mais teórico com esclarecimentos e definições mais específicas dos conceitos de seu primeiro livro, e um segundo, que trata de novas reflexões do autor com análises e reflexões sobre novos filmes.
O autor retoma o conceito de páthos e sua presença no âmbito filosófico — sua importância ante os sistemas tradicionais (intelectualistas nas palavras do autor) de filosofia na tentativa de justificar a afetividade como parte de um modo de compreensão — e, especialmente, sua participação no momento filosófico do cinema. A grande crítica refere-se às tradicionais vertentes intelectualistas filosóficas, que entendem a compreensão somente como algo proposicional e apático, conforme Cabrera, totalmente desligada do páthos, da afetividade. A ideia de Cabrera parte do crédito que ele dá à possibilidade de conceber ideias não necessariamente nessa redoma intelectualista, que reduz a capacidade de composições de ideias ao meramente racional, duro, sem a dimensão da afetividade. O autor quer mostrar que, com a afetividade, é possível uma nova raiz de concepções ideáticas composta não só pela razão hard, mas também pela companhia do caráter afetivo, numa logopatia, diz Cabrera, onde esta carga afetiva seria um meio pelo qual seria possível conceber conceitos. Alguns filósofos, segundo ele, arriscaram-se a trazer o elemento pático na formulação de sua filosofia, tais como Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche e Heidegger. Tais pensadores levaram a linguagem ao extremo de sua capacidade expressiva, buscando um movimento que fugisse da construção argumentativa linear. Por meio da escrita em aforismos e de poesias, diz Cabrera, tais autores fizeram críticas ao momento de expressão máxima — e também de limite — da linguagem, ao se darem conta que não conseguiam dizer tudo através dos referenciais da linguagem tradicional.
O cinema, na visão de Cabrera, seria um novo meio de se passar conceitos através de imagens. Tais conceitos não seriam simples imagens, visto que fariam tremer o espectador justamente por portarem o elemento afetivo. Da imagem “[…] não interessa somente sua eventual função de ‘auxiliares’ das ideias, mas a capacidade de interagir com elas modificando seu sentido, intensificando sua compreensão” (Cabrera, 2007, p.16). As imagens do cinema, ou cinematográficas, não se compõem pela simples representação gráfica em movimento, mas também por tudo que não aparece, ou seja, pelos sons, pelos ruídos, por todos os efeitos de câmera que em conjunto com as ideias podem representar ou descrever a realidade de uma forma mais rica. Na visão apática, própria dos filósofos intelectualistas, é omitida a dimensão afetiva, impactante da imagem, bem como sua carga de referência potencial, diz o autor. O cinema tem esta capacidade de moldar a imagem e potencializá-la no momento de impacto. O filme pode apresentar asserções de verdade, ou pretensões de verdade ou falsidade, pois, ao se pôr na função de provedor de conceitos, obviamente pode ter algum tipo de assertividade, embora não no sentido proposicional, mas situacional. Os conceitos-imagem, por meio de outros dispositivos, ligam-se a uma assertividade de tipo situacional que, no cinema, são “[…] algo semelhante às proposições para a filosofia escrita: um lugar onde os conceitos interagem e se desdobram” (Cabrera, 2007, p.19). O cinema, à medida que mostra alguns elementos, oculta outros, sendo por isso “[…] tão bipolar quanto a proposição, arriscando-se à falsidade e à inadequação” (Cabrera, 2007, p.21). O autor defende que a imagem não é facilmente saturada, pelo contrário, sua riqueza consiste em uma inquietante incompletude, um lado de sombra que deixa de mostrar. O cinema tem sua própria capacidade de comunicar-se de acordo com sua linguagem particular, “ele é uma linguagem porque dispõe de recursos para fazer afirmações, ou seja, para predicar algo acerca de algo” (Cabrera, 2007, p.22). O autor ainda ressalta que a assertividade das imagens não exclui o fictício, o fantástico, pois, os conceitos-imagem, ao contrário dos conceitos-ideia, não temem trazer sua própria verdade por intermédio do extraordinário, do implausível. Os impactos emocionais que os filmes causam nos espectadores fazem-nos perceber mais claramente a temática que o filme apresenta. Ao observar os conceitos-imagem de um filme, podemos compará-los com os de um outro filme que trata do mesmo assunto e filtrar de acordo com a melhor compreensão e gosto pessoal. Podemos simplesmente gostar do conteúdo do filme e rejeitar a tese imagética que ele carrega consigo. “Existem realidades às quais temos melhor acesso pelo auxílio de algum impacto emocional, mas uma vez que se teve o acesso e se compreende do que se trata, pode perfeitamente rejeitar-se” (Cabrera, 2007, p.27). O interessante a ressaltar nesta última parte descrita é o caráter filosófico do não enterrar a ideia refutada, pois, tal como na filosofia não se pode enterrar uma ideia refutada, o mesmo se dá no âmbito cinematográfico, pois parece atrelado à análise de conceitos, que são reformuláveis, como na filosofia. Uma nota de Cabrera explica que não necessariamente temos que explicar filosoficamente as coisas de um modo duro, apático, senão por um caráter mais aberto que leve de volta à essência reflexiva e inconclusiva filosófica, diz o autor, pois dispomos de inúmeros tipos de linguagens que expõem conceitos.
A segunda parte do livro apresenta alguns exercícios filosóficos e analíticos de filmes, tal como no primeiro livro, carregando títulos no mínimo provocativos, como por exemplo: “Kant na lista de Schindler?”, ou “Schelling, Amadeus e o pior diretor de cinema de todos os tempos”, ou então “Schopenhauer e Roberto Benigni. A vida é bela: análise de uma frase absurda e de um filme deplorável”. Aqui, Cabrera tenta colocar em prática suas teses desenvolvidas anteriormente e demonstrar a importância do caráter filosófico, de fato, nos filmes, no momento em que as problemáticas do cinema se tocam com as da filosofia — não necessariamente confluindo-se.
Por último, o autor destaca, de forma bem-humorada, o problema da tradução de títulos do cinema para a língua portuguesa, dividindo os tipos de tradução e comparando o nível de alteração do original para o traduzido. É importante ressaltar a defesa do autor ante os ataques críticos que recebeu em seu primeiro livro, o que mostra que sua pretensão se dá pela simples exposição de suas concepções, sem “pontos finais”, mas como alternativas somente. Enfim, sem dúvida, apesar das críticas, trata-se de um ótimo livro, que traz questões antigas sob uma nova perspectiva de pensar, com caráter transdisciplinar e contemporâneo.
Referências
CABRERA, J. 2006. O cinema pensa. Rio de Janeiro, Rocco, 399 p.
Leonardo Marques Kussler – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS, Brasil. E-mail: leonardo.kussler@gmail.com
[DR]
Cinematógrafo: um olhar sobre a história | Jorge Nóvoa e Soleni Biscouto Fressato
O cinema é a arte da luz, da imagem e do movimento, é a arte da expressão audiovisual. Geertz nos ensina que é difícil falar de arte, pois, “a arte parece existir em um mundo próprio, que o discurso não pode alcançar” [1] e este preceito é válido para o cinema, conhecido como a sétima arte. Analisar uma arte que envolve imagem e movimento é uma tarefa complexa, pois “aquilo que vimos, ou que imaginamos ter visto, parece ser tão maior e tão mais importante que o que logramos expressar com nossa balbucia, que nossas palavras soam vazias, cheias de ar, até falsas.” [2] A imagem é captada e projetada por meio de um processo mecânico, através do olhar e do veículo condutor da câmera. A mensagem audiovisual é composta dentro de determinados parâmetros e preceitos da construção cinematográfica, na maioria das vezes de forma narrativa. Como observa Bertoni e Montagnoli:
Elementos que trabalham com a expressividade da câmera, com os detalhes, com as mudanças de planos, os enquadramentos, o som, a possibilidade de sugestão daquilo que está dentro e fora do quadro; mas também com o corte que direciona a visão do espectador, com a articulação da montagem, a característica minimal do cinema, com a irrealidade construída. Enfim, todo esse conjunto de elementos e de procedimentos, traça a característica de construção fundamental da linguagem e da estética do cinema.[3] Leia Mais
Cinematógrafo: um olhar sobre a história | Jorge Nóvoa, Soleni Biscouto Fressato e Kristian Feigelson
O cinema é a arte da luz, da imagem e do movimento, é a arte da expressão audiovisual. Geertz nos ensina que é difícil falar de arte, pois, “a arte parece existir em um mundo próprio, que o discurso não pode alcançar” [1] e este preceito é válido para o cinema, conhecido como a sétima arte. Analisar uma arte que envolve imagem e movimento é uma tarefa complexa, pois “aquilo que vimos, ou que imaginamos ter visto, parece ser tão maior e tão mais importante que o que logramos expressar com nossa balbucia, que nossas palavras soam vazias, cheias de ar, até falsas.” [2] A imagem é captada e projetada por meio de um processo mecânico, através do olhar e do veículo condutor da câmera. A mensagem audiovisual é composta dentro de determinados parâmetros e preceitos da construção cinematográfica, na maioria das vezes de forma narrativa. Como observa Bertoni e Montagnoli:
Elementos que trabalham com a expressividade da câmera, com os detalhes, com as mudanças de planos, os enquadramentos, o som, a possibilidade de sugestão daquilo que está dentro e fora do quadro; mas também com o corte que direciona a visão do espectador, com a articulação da montagem, a característica minimal do cinema, com a irrealidade construída. Enfim, todo esse conjunto de elementos e de procedimentos, traça a característica de construção fundamental da linguagem e da estética do cinema.[3] Leia Mais
A história nos filmes, os filmes na história – ROSENSTONE (RBH)
ROSENSTONE, Robert. A história nos filmes, os filmes na história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. 262p. Resenha de: SANTIAGO JÚNIOR, Francisco das Chagas Fernandes. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30, no.60, 2010.
Há pouco mais de dez anos, quando comecei a pesquisar sobre a relação história e cinema, havia pouca coisa publicada no Brasil: pouquíssimas obras traduzidas, alguns textos introdutórios teórico-metodológicos e uns poucos artigos. Lembro que, mesmo para um pesquisador iniciante, as considerações dos historiadores sobre o cinema e os filmes pareciam travadas, até “medrosas”, quando não hostis à reflexão histórica contida na imagem fílmica. Considerei, na época, que devia ser um “mal brasileiro”, que nos Estados Unidos e na França os historiadores já haviam resolvido algumas das questões referentes à existência da visão cinematográfica da história. A falta de traduções e a qualidade das reflexões seriam reflexos de nosso provincianismo.1 Estava enganado.
O novo livro do historiador canadense Robert Rosenstone, A história nos filmes, os filmes na história, lançado no Brasil em 2010, trouxe velhas questões sobre a visão cinematográfica da história para o primeiro plano. O texto oferece um painel das dificuldades que os historiadores criam quando lidam com cinema. Esta resenha pretende expor a importância do livro e, ao mesmo tempo, apontar a “hesitação” que ainda acompanha a reflexão sobre as relações entre história e cinema.
Rosenstone era um historiador das revoluções sociais quando, desenvolvendo um trabalho sobre o jornalista John Reed,2 tornou-se “consultor histórico” (numa época em que essa expressão não tinha significado firmado) na realização da cinebiografia Reds (1981), sobre a vida do autor de Os dez dias que abalaram o mundo. Foi quando o canadense começou a se inteirar das discussões sobre cinema e história. Seus trabalhos posteriores tornaram-se conhecidos no Brasil por meio de algumas poucas traduções em periódicos como Olho da História,3 e pelos comentários de estudiosos como Mônica Almeida Kornis, Cristiane Nova e Jorge Nóvoa.4 A história nos filmes, os filmes na história é a primeira tradução brasileira de uma obra completa desse importante e polêmico autor.5
Embora o livro chegue com atraso, como quase sempre ocorre com publicações sobre o tema no Brasil, o que surpreende é perceber que em 2006, quando History on Film/Film on History foi publicado nos Estados Unidos, Rosenstone ainda se via obrigado a defender a legitimidade das interpretações cinematográficas da história. Hoje, em dissertações, teses, artigos e capítulos de livros, o filme é tido como importante temática do campo historiográfico, mas a leitura cinematográfica da história parece ter sido tragada, segundo o autor, pela associação do filme com o que os historiadores escreviam em seus escritos. A tese subjacente do canadense é que a “correspondência” à fidelidade histórica viciou a reflexão historiográfica sobre cinema.
Incorporando contribuições de Hayden White, Rosenstone se apresenta como historiador pós-moderno interessado na renovação da narrativa e das perspectivas teóricas da historiografia por meio da incorporação de novos estilos de argumentação e escrita. Porém, em vez de qualquer defesa do relativismo sua ideia é demonstrar como a existência de diferentes discursos sobre o passado (como os presentes nas películas), mais do que dinamitar verdades, criam versões alternativas da história.
O livro visa compreender se é possível um filme oferecer uma reflexão histórica comparável à da historiografia, se um cineasta pode ser considerado um historiador e se o cinema é uma forma alternativa de articular o passado. Na sua perspectiva, assim como o conhecimento histórico possui regras, estilos e investigação específicos, a mídia visual também tem seus próprios critérios e circunstâncias de produção da história – ao historiador cabe reconhecer a existência, legitimidade, diferença e influência das representações da história produzidas pelas fitas.
O volume é composto de nove ensaios dedicados a vários tópicos. Após um capítulo breve de introdução, o segundo texto realiza preciosa revisão bibliográfica sobre como, na comunidade histórica norte-americana (e um pouco na francesa), a representação cinematográfica da histórica começou a ser pensada pelos historiadores. O início do livro é dedicado a evidenciar a formação de um campo de investigação que teria surgido comprometido com a preocupação dos historiadores em relação à fidelidade histórica nos filmes. A maioria dos textos resenhados tende a recusar às fitas a possibilidade de articular reflexões históricas (exceção principalmente de Marc Ferro e Natalie Zemon Davis). Rosenstone aponta que é preciso reconhecer que o filme, diferente da historiografia, não possui a fidelidade entre suas regras de produção, mas isso não prejudica a capacidade fílmica de condensar, nas suas formas plásticas, a história. O autor defende o entendimento das “regras de interação do longa-metragem dramático com os vestígios do passado – e começar a vislumbrar o que isso acrescenta ao nosso entendimento histórico”.6
O canadense lembra que a película trabalha por invenções, condensações, compressões, alterações e deslocamentos de elementos do passado para montar a própria interpretação do passado. Esse raciocínio conduz todas as reflexões do livro nos capítulos seguintes, explorando a construção de interpretações cinematográficas do passado nos dramas comerciais, dramas inovadores, cinebiografias, documentários etc. Talvez o capítulo mais instigante seja o sétimo, com o tema do cineasta como historiador. Refletindo sobre realizadores como Oliver Stone, o historiador ressalta que alguns cineastas obcecados e oprimidos pela pressão do passado “continuam voltando a tratar do assunto fazendo filmes históricos, não como fonte simples de escapismo ou entretenimento, mas como uma maneira de entender como as questões e os problemas levantados continuam vivos para nós no presente” (p.172-174). Não seria difícil encontrar tal qualidade de realizador no Brasil, de Silvio Tendler a Carlos Diegues, demonstrando que a memória e a história envolvem questionamentos sociais atuantes no cinema também.
Para defender sua tese, Rosenstone opera dois deslocamentos: primeiro distingue o filme histórico do filme cuja trama se ambienta em um período histórico qualquer (os dramas de época), afirmando que aquele constrói interpretações sobre a história que rivalizam com a da historiografia. Segundo, evidencia que as películas, de fato, lidam com os vestígios do passado de maneira singular. A representação cinematográfica da história não é uma questão de fidelidade ao passado, mas de uma forma midiática que cria com aquele sua própria relação.
A história nos filmes, os filmes na história, porém, não conclui a reflexão iniciada. Preocupado com a construção da legitimidade do objeto, deixa seu discurso num nível superficial, executando um livro importante, mas que rejeita o passo seguinte a ser tomado. Para defender que a questão da “história nos filmes” diz respeito à forma como a linguagem visual lida com o passado, Rosenstone acaba reduzindo a relação com o passado e seus vestígios à construção de interpretações articuláveis num enredo – aqui se vê seu débito com
o conceito de “historiofotia” de Hayden White, grosso modo a representação da história no discurso imagético e fílmico (p.44). Entretanto, o que fica evidente em seu texto é que compreender como o cinema se relaciona com o passado e o constrói é passível de se tornar um tópico da própria teoria da história, envolvendo além das interpretações enredadas, a configuração de orientações na experiência do tempo.
Se o objetivo da teoria da história é refletir sobre o que os historiadores fazem quando fazem história,7 o livro de Rosenstone hesita ao não explorar a relação do campo historiográfico com o campo cinematográfico no que se refere à construção de relações com os vestígios do passado e com a concepção de passado e de tempo. Esse tema tem sido explorado por teóricos do cinema, mas ignorado pela maioria dos historiadores.8 O canadense até menciona a questão rapidamente, mas logo abandona o assunto (p.233).
Obviamente, não era o objetivo do autor aprofundar os quesitos aqui levantados. Ao final da leitura de A história nos filmes, os filmes na história fica o desejo pela constituição de um tópico de investigação que contemple as relações do campo historiográfico com as formas visuais de experimentações, orientações e interpretações socialmente atuantes do passado, principalmente quando alimentadas pela energia investigativa de espíritos como Oliver Stone, Sergei Eisenstein ou Silvio Tendler. Elas apontam relações diretas com a indagação do tempo histórico numa perspectiva visual, a maneira pela qual ocorre a distinção entre passado e futuro em sua relação com o presente, dos quais nos falam teóricos como Reinhart Koselleck.9
Hoje há uma considerável reflexão sobre os filmes como fonte e meio de pesquisa, no entanto, a proeza maior de Rosenstone é apontar a inclusão, entre os tópicos da teoria da história (e não apenas da metodologia) de uma sistematização da relação história-cinema-passado. Essa importante reflexão, que já gerou excelentes frutos na problematização literatura-história, ainda aguarda desenvolvimento para o cinema. Estaria essa lacuna relacionada com a dificuldade dos historiadores em enfrentar o que significa ter concorrentes nas construções da memória e da história sociais, quando estes são poderosos como as mídias visuais das quais o cinema é apenas um exemplo? A questão fica em aberto.
Notas
1 FERRO, Marc. Cinema e história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993, [ Links ] era praticamente a única tradução significativa, embora houvesse textos nacionais. Outras obras importantes permanecem longe do mercado editorial, desde textos de Rosenstone e Ferro até Michel Lagny, Pierre Sorlin, Natalie Zemon Davis, Tom Gunning, Andre Gaudreault, Richard Allen, Thomas Elsaesser etc.
2 ROSENSTONE, Robert. Romantic revolutionary: a biography of John Reed. New York: Alfred A. Knopf, 1975. [ Links ]
3 ROSENSTONE, Robert. História em imagens, história em palavras: reflexões sobre as possibilidades de plasmar a história em imagens. O olho da história, Salvador, v.1, n.5, p.105-116, 1997. [ Links ]
4 Ver KORNIS, Mônica Almeida. História e cinema: um debate metodológico. Estudos históricos, Rio de Janeiro, v.5, n.10, p.237-250, 1992; [ Links ] NOVA, Cristiane. O cinema e o conhecimento da história. O olho da história, Salvador, v.2, n.3, p.217-234, 1996; [ Links ] NOVA, Cristiane. A história diante dos desafios imagéticos. Projeto história, São Paulo: PUC/SP, v.21, p.141-162, 2000. [ Links ]
5 Em 2009 foi traduzido mais um artigo: ROSENSTONE, Robert. Oliver Stone: historiador da América recente. In: FEIGELSON, Kristian; FRESSATO, Soleni Biscouto; NOVOA, Jorge (Org.). Cinematógrafo: um olhar sobre a história. São Paulo: Ed. Unesp; Salvador: Ed. UFBA, 2009, p.393-408. [ Links ]
6 ROSENSTONE, Robert. A história nos filmes, os filmes na história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010, p.54. [ Links ]
7 Alusão ao título da dissertação: ASSIS, Arthur O. A. O que fazem os historiadores quando fazem história? A teoria da história de Jörn Rüsen e Do Império à República, de Sérgio Buarque de Holanda. Dissertação (Mestrado) – UnB. Brasília, 2004. [ Links ] Ver, ainda, RÜSEN, Jörn. A razão histórica: teoria da história, os fundamentos da ciência histórica. Brasília: Ed. UnB, 2001. [ Links ]
8 Exemplar nesse sentido é a reflexão algo pessimista de JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1997. O autor cita Jameson rapidamente na página 23. [ Links ]
9 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-RIO, 2006. [ Links ]
Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Departamento de História. BR 101, Km 01, Lagoa Nova. 59078-970 Natal – RN. santiago.jr@gmail.com.
O cinema pensa – CABRERA (FU)
CABRERA, J. O cinema pensa. Rio de Janeiro: Rocco, 2006. Resenha de: PORTELLA, Sergio; KUSSLER, Leonardo. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.10, n.1, p.118-120, Jan./abr., 2009.
Seria critério de afirmação de um bom texto filosófico a estrita aceitação por uma comunidade especializada, logo, seu igual distanciamento ao público “leigo”, incapaz e indiferente às reflexões do filósofo? O ensaio intitulado O cinema pensa do professor Julio Cabrera, argentino radicado no Brasil e “apátrida” confesso, poria em xeque este critério. Seja pela linguagem complacente ao leitor ou pela tomada de objetos que fariam qualquer um desejar conhecer mais Platão, Hegel, etc., quais sejam, bons e inteligentes filmes, Cabrera não por isso relega em sua obra o delineamento de figuras conceituais e teorias filosóficas.
Tão reais quanto o rei, estas teorias mesmo brotariam da vivacidade cabível à filosofia do renomado filósofo analítico cujo pensamento “sempre oscilou entre análise e existência”. A filosofia não careceu da invenção do cinematógrafo para se constituir, isso é fato, mas também não deve se considerar uma prática cultural avessa às demais produções humanas. Esse alargamento da definição de filosofia, aliás, nem sequer esperou o cinema para se afirmar. O livro inicia com uma introdução teórica intitulada Cinema e filosofia: para uma crítica da razão logopática, onde Cabrera identifica no itinerário do pensamento ocidental, de Platão a Deleuze, duas posturas opostas acerca do otimismo reservado à linguagem escrita na exposição do problema filosófico. Seriam, primeiramente, os chamados filósofos apáticos aqueles que privilegiam a exposição proposicional linear da filosofia. Aristóteles, Kant e Wittgenstein seriam exemplares para esta filosofia que se caracteriza pela pretensão de exaurir lógico-analiticamente a compreensão racional do mundo. Contrariamente, os então chamados filósofos páticos, Platão, Hegel, Nietzsche e Heidegger, p.ex., admitiriam a pertinência de um elemento afetivo no “acesso [filosófico] ao mundo”. Este componente seria responsável pela capacidade de “desalojar” o ponto em análise de suas bases habituais de sustentação, sem, contudo, findar relações com o caráter cognitivo originariamente pretendido pela filosofia. “O emocional não desaloja o racional: redefine-o” bem expressa a “razão logopática”. O elemento afetivo comporia um “impacto emocional” que, proporcionando a emersão daquilo que até então se manteve velado na compreensão racional do mundo, facilitaria a empresa do filósofo de “traduzir” o problema, logo, mantendo seu valor epistêmico mediante os assim chamados “conceitos-ideias”.
Os conceitos-ideias teriam, não obstante seu longo histórico prévio ao surgimento do cinema, encontrado neste sua mais adequada expressão. Suas variadas formas percorreram o aforismo, a frase especulativa, o poema filosófico e a biografia para, ao cabo, encontrarem nos “conceitos-imagem” do cinema a “superpotencialização” dos seus elementos constitutivos. São, num todo, experiências [não experimentos] do caráter “existencial” do pensamento enquanto especulação sobre os limites da linguagem propositiva filosófica acerca do real. Justamente este é o sentido dado por Cabrera à “experiência do filme”, indescritível, somente experienciável. “As imagens parecem vincular conceitos e explorar o humano de maneiras mais perturbadoras que a lógica e ética escritas”. O valor conceitual de um filme reside nas “proposições imagéticas” por ele instauradas, incompatíveis à condição epistêmica prévia à sua experiência dado que nela emerge a sensibilidade condizente ao caso cinematográfico. Pois a “verdade” é então compreendida no horizonte de uma universalidade cuja manifestação não exclui as demais, como “possibilidades” cuja atualização remete ao contexto e ao caso face ao qual o expectador é colocado. Trata-se não do “acontece necessariamente, mas… [do que] poderia acontecer a qualquer um”. A riqueza conceitual de um filme é justamente dada a partir da forma como estas possibilidades são pressupostas e encontram seu desfecho, o que se dá mediante unidades iconográficas expressas ou postas em paralelo ao roteiro (a partida de xadrez do cavaleiro Antonius Block com a Morte em O sétimo selo – Det Sjunde Inseglet, do sueco leitor de Kierkegaard Ingmar Bergman, apresentaria uma tecitura sintática análoga aos episódios como compreendidos e vividos em um primeiro plano do roteiro pelo protagonista, expressando sua insuficiência em articular a realidade conforme seu saber e querer particulares face ao destino inevitável). Por conseguinte, o filme num todo se tornaria um único argumento cujo termo consequente residiria em premissas as quais é impossível isolar num tempo só seu, logo, numa temporalidade que só em seu desfecho reencontra o timer do projetor.
Postos os devidos referenciais teóricos, o autor propõe quatorze exercícios nos quais demonstra a articulação entre “conceitos-ideias” e “conceitos-imagem” e o cinema pensante que daí resulta. Os temas são clara e prazerosamente apresentados, de modo a contentar cinéfilos e filósofos num mesmo discurso. De Heidegger e a serenidade e Antonini e o tédio, somos mesmo convencidos de não compreender a profundidade de Platoon, de Oliver Stone, sem ler Platão por ele mesmo. A emocionalidade da guerra não se presta à tradução conceitual exaustiva pela filosofia política, requer mesmo o choque imagético trazido pela violência do filme, a convicção do testemunho como experiência subjetiva, único aporte às impressões do real. Neste e noutros casos de títulos provocantes (São Tomás e o bebê de Rosimery ou Hegel, Paris Texas), o fio de conduta é sempre a permanência essencial velada da verdade face à abordagem puramente abstrata racional da linguagem escrita.
A sequência da obra, capítulo intitulado O cinema pensa, divide-se em dois momentos. No primeiro, as relações apresentadas no ensaio inicial e desenvolvidas nos exercícios são retomadas numa perspectiva detidamente filosófica, ao passo que, no segundo, são evocadas as teorias de cinema que ocasionam o diálogo cinema e filosofia cujo sentido é justificar a afirmação basilar de que O cinema pensa, dando sentido à obra como um todo. Pois, como proposta de uma “introdução à filosofia através dos filmes”, um cinema pensante e uma filosofia mediante imagens em movimento não dispensariam uma definição de filosofia que propriamente os conjugasse. Contudo, assumidamente, a obra de Cabrera lança maior atenção a esta em detrimento daquele, fazendo um uso filosófico do cinema que dispensa uma maior construção cinematográfica da filosofia. Claro, a “problematicidade intrínseca da imagem” sustenta a metáfora de que O cinema pensa, o “acesso ao mundo” mediante a universalidade e pretensão de verdade da experiência pática comportadas pelo cinema. Mas esta relação unilateral entre cinema e filosofia, “filósofos cinematográficos” mas não “diretores filósofos”, dispensaria de todo o caráter intencional da estrutura de produção dos filmes?
A pergunta seria facilmente respondida pela alegação de tal não ser a finalidade de Cabrera (à filosofia importa o pathos do cinema, seu “componente afetivo”; os conceitos-imagem têm sua definição claramente delimitada na afirmação de que “não são categorias estéticas”). Mas tal resposta não eliminaria a questão de saber se o “impacto” provocado não teria sido intencionalmente causado no expectador (o cinema enquanto “linguagem”), o que, além de devolver o “estético” ao pático, lançaria luz à admissão de um caráter lógico-ordenador pressuposto ao caso apresentado pelo filme. Este decorreria não mais com base na “possibilidade” afirmada, mas mediante a “necessidade” negada. A afirmação do filme como um único conceito-imagem composto inferencialmente a partir de estruturas iconográficas impróprias ao isolamento funcional ao longo do seu desenvolvimento no roteiro ruiria. A unidade obtida se afirmaria a partir de um metassistema [lógico, ordenador] pressuposto à sistematização dos elementos objetivos [manifestos], qual seja, a linguagem utilizada pela direção na estruturação do filme. Um ponto a reforçar este argumento se revela no fato de que nenhum dos exercícios propostos pelo autor incide a um filme distinto da estrutura cinematográfica clássica (mesmo De Sica mantém-se num plano narrativo, sem falar em Quentin Tarantino ou Tim Burton), logo, uma suposta impositividade teórica dada com base numa falácia de generalização na proposta da obra. Ou se veria que somente alguns filmes se prestam à logopatia, dado o silêncio de Cabrera a um maior aprofundamento em teorias do cinema? Ou seja, andaria a logopatia de mãos dadas com roteiristas? Pois, ou dá-se o mero uso didático do cinema pela filosofia, ou admite-se uma delimitação funcional dos elementos iconográficos na unidade da obra cinematográfica como condição ao “impacto emocional”, o que, entendemos, requereria ajustes junto à própria definição de filosofia admitida pelo autor no âmago da sua obra O cinema pensa. A construção teórica de uma “filosofia cinematográfica” estaria, assim, suportada pela afirmação de um “cinema filosófico”, afirmação esta que ainda permanece aguardada pelo leitor.
Sergio Portella – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E-mail: sgportella@yahoo.com
Leonardo Kussler – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E-mail: leonardo.kussler@gmail.com
[DR]
Cinematógrafo: um olhar sobre a história | Jorge Nóvoa, Soleni Biscouto Fressato e Kristian Feigelson
Faz quinze anos desde a publicação de um texto fundamental para os estudos da relação cinema-história no Brasil, “Apologia da relação cinema-história”, escrito pelo professor Jorge Nóvoa, e publicado no primeiro número da Revista de História Contemporânea O Olho da História. O texto é, como o próprio título sugere, uma defesa da importância do cinema para a História e para os historiadores, por sua condição de documento histórico, por seu valor enquanto fonte de conhecimento histórico e como agente da história. Diante do preconceito, do ceticismo e até do despreparo de muitos profissionais do métier, o texto configurou-se como um instrumento de combate em torno da idéia de que os filmes podem e devem ser tratados como documentos para a investigação historiográfica, prenhes de significados, sentidos e informações sobre diversos processos sócio-humanos. Quem optou por arriscar-se nesse tipo de estudo, sempre teve em Apologia um apoio mais do que necessário para justificar o interesse por compreender os impactos da sétima arte sobre a elaboração de conhecimentos, comportamentos e afetos na contemporaneidade. Leia Mais
Cinéma-École: aller-retour – NOURRISSON (CC)
NOURRISSON, Didier; JEUNET, Paul. Cinéma-École: aller-retour. SaintÉtienne: Publications de l’Université de SaintÉtienne, 2001. 280p. Resenha de: HEIMBERG, Heimberg. Le cartable de Clio – Revue romande et tessinoise sur les didactiques de l’histoire, Lausanne, n.3, p.326-327, 2003.
Les Actes du colloque « Cinéma-École: allerretour », qui s’est tenu à Saint-Étienne du 23 au 25 novembre 2000, évoquent à la fois les images de l’école au cinéma et le cinéma dans l’enseignement. La manière dont les films ont représenté l’école a souvent été négative ; c’était un lieu à éviter où se développait la délinquance. Mais si le cinéma a d’abord été un moyen pédagogique au potentiel énorme, il est aujourd’hui devenu un moyen de communication, mais aussi une partie nouvelle de ce monde que les élèves doivent apprendre à lire pour pouvoir mettre à distance ce qu’ils constatent et ce qu’ils ressentent.
L’un des éléments originaux de ce cinéma scolaire est constitué par les films fixes, des images dont la succession peut rythmer une séquence d’enseignement. Une collection disloquée de ces films a été retrouvée fortuitement dans les anciennes douches d’une école primaire stéphanoise. Mais le cinéma scolaire n’est pas seulement un moyen pédagogique. L’histoire scolaire, notamment, a dû intégrer l’apport des œuvres cinématographiques pour l’évocation de certains événements. Évelyne Hery a cependant souligné l’ampleur de la méfiance des maîtres d’histoires à l’égard des films, au moins jusqu’aux années 70.
La ville de Saint-Étienne manifeste de l’intérêt pour l’histoire du cinéma, scolaire en particulier. C’est aussi dans cette ville qu’a été retrouvé, un peu miraculeusement, un film muet que l’on croyait perdu: Le tour de France par deux enfants de Louis de Carbonnat, tourné en 1923 à partir du livre écrit en 1877 par G. Bruno (en réalité Augustine Tuillerie). Ainsi a-t-il pu être projeté pendant ce colloque.
Charles Heimberg – Institut de Formation des Maîtres (IFMES), Genève.
[IF]Das Ráísel der Vergangenheit / Paul Ricoeur
As questões da apreensão da multiplicidade cultural do mundo contemporâneo e da compreensão de sua complexidade histórica e social são objeto da série “Conferências de Essen sobre Ciências da Cultura”, promovida e editada pelo Instituto de Ciências da Cultura.
Este Instituto, fundado em 1988 e sediado na cidade de Essen (Alemanha) é integrante do Centro de Ciências da Renânia do Norte/Vestfália. O Instituto (conhecido por sua sigla KWI, homólogo do Institute for Advanced Studies de Princeton ou do Wissenschaftskolleg de Berlim) é uma instituição pública, voltada para a pesquisa científica realizada mediante projetos de investigação dedicados aos problemas da sociedade e da cultura marcadas pelo desenvolvimento científico, pela sofisticação tecnológica e pela industrialização. Os projetos são desenvolvidos por grupos de estudo interdisciplinares, com temas vinculados à pesquisa fundamental no campo das ciências da cultura. O arco temático dos projetos apoiados pelo Instituto vincula-se aos problemas atuais de orientação das sociedades modernas no contexto internacional e intercultural.
Pesquisas dessa natureza não atraem facilmente a atenção do público. Seus resultados, contudo, são habitualmente incorporados pelas próprias ciências setoriais e continuam a surtir efeitos nelas e por intermédio delas. A interdisciplinaridade e o trabalho em grupo dos especialistas são uma condição importante para o êxito desse tipo de projeto. No entanto, o KWI considera ser também incumbência sua fundamentar a necessidade e a relevância de suas atividades e fazê-las perceber pelo grande público. Isso ocorre de forma multifacetada: conferências, mesas redondas, debates públicos, cursos de extensão.
A série de livros das “Conferências” publica textos escolhidos do programa de conferências do Instituto. Esses textos se originam em palestras abertas ao grande público, e ao especializado, elaboradas e completadas para os fins de publicação. O amplo leque temático documenta a amplitude e o alcance das questões ligadas às ciências da cultura, assim como o fascínio das constelações interdisciplinares de pontos de vista, perspectivas e estratégias de argumentação. Cada conferência representa, por si, uma faceta desse leque.
Cada uma é um componente do vasto complexo de abordagens do conhecimento, no qual as experiências do homem consigo mesmo e com seu mundo são interpretadas, as interpretações são refletidas e transformadas em orientações práticas, para afinal serem incorporadas nas mais diversas formas de determinações de sentido, em função das quais o homem age e interage com os outros.
A pesquisa em ciências da cultura requer distanciamento da atualidade do cotidiano imediato, independência com relação às lutas pelo poder e atitude crítica com respeito às polêmicas e dos conflitos de pessoas. A aparente ausência de aplicação prática imediata não raro traz à pesquisa básica e às ciências humanas a fama de serem um luxo, um desperdício. No entanto, o pragmatismo imediatista da pressão tecnológica — que decorre muito mais da lógica econômica da lucratividade — exige justamente que se desenvolvam reflexões que se libertem a prisão “dourada” em que os resultados “imediatos” parecem ser o máximo dos máximos. O longo prazo, a profundidade do alcance, a multiplicidade das perspectivas — esses e outros fatores fazem das ciências da cultura as que apreendem, descrevem, analisam, interpretam e explicam os complexos códigos de sentido — as estruturas de significado — que produzem, consolidam e reproduzem a(s) cultura(s). A ciência da cultura torna-se assim, ela mesma, um fator ativo da cultura como patrimônio coletivo e imaterial da sociedade. Ela desempenha o papel relevante de pensamento crítico e de diretriz interpretativa para a orientação — aí sim — prática do agir humano em todos os campos. A série de “Conferências” busca, assim, na apresentação de seu editor principal, Jórn Rüsen (Presidente do KWI), dar forma concreta a essa tarefa constante da crítica científica e social.
Da série estão disponíveis, até o final de 2003, doze pequenos volumes:
- Friedrich Kambartel. Pbilosophie und politische Òkonomie. Gõttingen: Wallstein Verlag, 1998 (3-89244-332-7) 85 p.
- Paul Ricoeur. Das Ráísel der Vergangenheit. Erinnern — Vergessen — Vençiben. 1998 (3-89244-333-5) 156 p.
- Klaus E. Müller. Die fünfte Dimension. So^iale Raum^eit und Gescbichtsverstàdnis inprimordialen Ku/turen. 1999(3-89244-348-3) 158 p.
- Jürgen Straub. Veriehen, Kritik, Anerkennung. Das Eigene und das Fremde in der Erkenntnisbildung interpretativer Wissenscbaften. 1999(3-89244-366-1) 95p.
- Burkhard Liebsch. Moralische Spielràume. Menschbeit und Anderheit, Zugehorigkeit und Identitãt. 1999 (3-89244-383-1) 128 p.
- Helwig Schmidt-Glinzer. Wir und China — China und wir. Kulturelle Identitãt im Zeitalter der Globalisierung. 2000 (3-89244-426-9) 101 p.
- Hans Schleier. Historisches Denken in der Krise der Kultur. Fachhistorie, Kulturgescbichte undAnfànge der Kulturwissenschaften in Deutschland. 2000 (3- 89244-427-7) 127 p.
- Gertrud Koch. Medien der Kultur. Film: Beivegungin derLatenç. (3.89244- 428-5). no prelo 9. Rolf Wiggerhaus. Wittgenstein und Adorno. Zwei Spielarten modernen Phi/osophierens. 2000 (3-89244-429-3) 143 p.
- Bernhard Waldenfels. VerfremdungderModerne. Phãnomenologische Ansãtze. 2001 (3-89244-459-5) 162 p.
- Hans-Ulrich Wehler. Historisches Denken am Ende des 20. Jahrhunderts. 1945-2000. 2001 (3-89244-430-7) 108 p.
- Ludwig Amman. Die Geburt des Islam. Historische Innovation und Offenbarung. 2001 (3-89244-460-9) 111 p.
Seus títulos representam efetivamente a variedade de perspecdvas que compõem o espectro ilimitado das questões culturais: Kambartel preconiza a crítica filosófica da economia política, sustentando a necessidade de ampliação da economia social de mercado (vol. 1); o respeitado filósofo Paul Ricoeur relembra um enigma amiúde negligenciado pela tecnologia da pesquisa: o passado só subsiste na memória e em seus vestígios, lidar com ela é questão de lembrar, esquecer, perdoar (vol. 2); como ecoando Ricoeur, o antropólogo Klaus Müller reforça a tese da memória na concepção de história, de origem, de pertencimento e de constituição do espaço social nas sociedades originárias (vol. 3).
Jürgen Straub, professor de comunicação intercultural, aborda a compreensão, a crítica e o reconhecimento: imagens de si e do outro nas ciências que recorrem à interpretação — um problema espinhoso, sobretudo para a interface entre história e psicologia social (vol. 4); Liebsch, professor de filosofia em Bochum, reflete sobre os campos — virtuais — do agir moral como espaço de relacionamento entre afirmação de si e reconhecimento da alteridade — com os problemas decorrentes da “etnicização” dos grupos e subgrupos nas sociedades (vol. 5). Como transparece ao longo de todos os volumes desta série, a referência de origem é a perspectiva cultural européia e o “déficit” de conhecimento e de compreensão da outras culturas [inclusive levando- se em conta a história colonial e seus efeitos perversos] — assim, a alteridade “radical” da cultura chinesa e a contraposição a ela histórica cultural européia, forçada pela globalização, e a impossibilidade de se entronizar novamente uma cultura hegemônica ocupam a reflexão de Schmidt-Glintzer, um dos maiores sinólogos alemães e diretor da famosa Biblioteca do Duque Augusto, em Wolfenbüttel (vol. 6).
A diversificação do tecido cultural da sociedade abriu, também para os historiadores, a crise da identidade em sua especialidade e a instrumentalização da historiografia para projetos políticos passou a ser problematizada. Hans Schleier os primórdios das ciências da cultura na Alemanha e o papel da ciência da história no contexto da crise da cultura contemporânea, a partir da experiência da desconstrução e da reconstrução alemãs entre 1880 e 1930 (vol. 7). O fenômeno da mídia — em particular da crítica social no cinema — e seu impacto na concepção do pertencimento social é o tema estudado por Gertrud Koch, professora de cinema em Berlim, ainda a ser publicado (vol.8). Wittgenstein e Adorno como representantes de dois formatos de crítica filosófica no século 20: a analítica, formal, que não se manifesta sobre o inverificável, e a dialética, engajada, que não admite que não se manifeste sobre o inefável e o subentendido são os objetos de Rolf Wiggerhaus, filósofo e jornalista (vol. 9). Bernhard Waldenfels, professor de filosofia prática e fenomenologia em Bochum, desenvolve uma forte e consistente crítica à alienação do projeto (incompleto) da modernidade por causa de seu individualismo pretensioso que concebe o global como projeção de si — e por isso mesmo compromete a racionalidade como faculdade do indivíduo e como liame do coletivo (vol. 10). O historiador Hans-Ulrich Wehler, um dos chefes de fila da escola de história social de Bielefeld, faz um balanço comparativo dos resultados obtidos pela reflexão historiográfica na segunda metade do século 20 — por exemplo, acerca do caráter “ocidental” das grandes conquistas políticas, como o estado de direito e o sistema parlamentar e eleitoral universal —, e os parcos efeitos que esses conhecimentos tiveram, até o presente, sobre a crítica social, política, econômica e cultural do mundo contemporâneo (vol. 11). O contraste inquietador que as culturas não-européias provocam nas sociedades de feitura européia é uma espécie de enigma adicional que intriga e mesmo atemoriza a “matriz” européia. A longa experiência das sociedades européias (ocidentais) e da norte-americana de ver as demais sociedades ser-lhes submissas ou ao menos delas discípulas, leva Ludwig Ammann, especialista em islamismo e jornalista, a sistematizar as circunstâncias do nascimento do islã (o aparecimento de Maomé e de sua pregação do monoteísmo, à maneira de um messias) e o choque que provoca nas tribos politeístas árabes e nas respectivas relações sociais, ao enunciar a necessidade da conversão como o sentido de uma missão transcendental instituída por revelação divina — e de como foi possível o fenômeno da islamização das culturas árabes a partir do século 7o (vol. 12).
Duas reflexões se impõem, diante da variedade e da complexidade dos temas abordados pelos textos da série. A primeira é relativa ao caráter pioneiro de abrir espaço de discussão e de contraponto, no âmbito de culturas tradicionalmente avançadas e extremamente seguras e cheias de si, como a alemã. Essa iniciativa do KWI se entende bem pela forma característica de Jõrn Rüsen de conceber o papel da reflexão histórica como um dos fatores relevantes na interculturalidade da comunicação social. Trata-se de uma contribuição de importância tanto para incrementar o arejamento do debate público e científico alemão e europeu como para resistir à crescente intolerância para com o outro e o diferente, que distorce as relações intra- e intersociais, em um mundo cada vez mais marcado pela produção e pela circulação ilimitada de informações. Essa abertura científica e cultural protagonizada pelo KWI reveste-se de duas qualidades adicionais: coragem pública e exemplaridade.
A segunda reflexão refere-se à utilidade de publicações desta natureza para sociedades multiculturais, como a brasileira. A dupla constatação de que há fissuras (bem-vindas) na torre de marfim do eurocentrismo e de que se toma consciência da necessidade de apreender o outro não para reduzi-lo a si é uma perspectiva alvissareira de fecundação da ciência pratica no Brasil. A história é um eixo de constituição da identidade que incorpora, à luz de estudos críticos como os desta série “Conferências sobre Ciências da Cultura”, a dimensão do processamento intelectual e cultural da diversidade como integrantes dialéticos do retorno a si mediante a afirmação do outro, e não por sua eliminação. A leitura historiográfica da cultura e da sociedade pode enriquecer-se com os pontos de vista da interculturalidade, superando assim a constante tentação do nombrilismo nacionalista.
Estevão C. de Rezende Martins – Universidade de Brasília.
RICOEUR, Paul. Das Ráísel der Vergangenheit. Erinnern — Vergessen — Vençiben. 1998. 156p. Resenha de: MARTINS, Estevão C. de Rezende. Cultura, multiculturalismo e os desafios da compreensão histórica. Textos de História, Brasília, v.10, n. 1/2, p.225-230, 2002. Acessar publicação original. [IF].
A História vai ao Cinema: vinte filmes brasileiros comentados por historiadores / Jorge Ferreira
Para os irmãos Lumiére, o cinema seria uma curiosidade passageira. Reza a lenda que um dos inventores do cinematógrafo (1895), ou o pai dele, chegara a proferir: “o cinema é uma invenção sem futuro”. O palpite não vingou e, em pleno alvorecer do século XXI, a captação de imagens em movimento sobrevive muito bem, seja em fotogramas, seja nos seus avatares em novas tecnologias (do vídeo analógico aos processos digitais).
E o cinema não apenas teria um futuro, mas ainda deixaria, em sua secular existência, um rastro imensurável de registros desse próprio tempo, bem como de tempos mais ou menos remotos, bem ou mal reinterpretados em celulóide. Presentificando outras etapas da história, o cinem também tornou-se uma invenção com o olho (câmera) no passado. O problema é que os historiadores, em princípio, não perceberam isso.
A História, que aperfeiçoa seus métodos antes de surgir o cinematógrafo, prefere ignorá-lo, como lembra Marc Ferro, acrescentando: “a linguagem do cinema revela-se ininteligível e, como a dos sonhos, é de interpretação incerta”. Mais prudente, naquele campo do conhecimento, seria manter a tradição documental da palavra escrita. Além de tudo, em sua fase heróica, era o cinema uma curiosidade inculta, destinada portanto à “ralé”. Os elitistas não o levariam a sério. Muitas décadas depois, mesmo mudando-se esse conceito, ainda haveria resistência dos historiadores para se valer do filme, seja ficcional ou mesmo documental, como fonte. Ferro foi um dos profissionais desse campo a apontar a legitimidade do material cinematográfico junto aos estudiosos.
No Brasil, os historiadores seguiram o descompasso de seus pares estrangeiros no trato com o cinema. Mas o audio-visual tanto cresceu em nossas vidas (com a televisão e o videocassete), que logo se impôs como suporte pedagógico. Várias disciplinas o acolheram em salas de aula, impondo aos professores a urgente necessidade de se melhor compreender o que até então era “mera diversão”.
O livro A História vai ao Cinema, organizado por Jorge Ferreira e Mariza de Carvalho Soares, é um rico e estimulante passo do pensamento acadêmico para se compreender uma manifestação artística que já tinha ido à História desde seu surgimento em fins do século XIX.
Não se trata de um compêndio que teoriza sobre tais relações entre as duas matérias apreensoras do tempo (o diretor Sílvio Tendler, na introdução, apenas esboça algo nesse sentido).
A coletânea em pauta reúne vinte filmes brasileiros, cada um deles analisado por um historiador. A seleção dos títulos teve critério um tanto elástico. Incidiu sobre fitas lançadas entre 1976 e 1998 – de “Dona Flor e seus dois Maridos” a “Central do Brasil”. A ênfase em filmes de sucesso comercial, ou de boa ressonância junto à crônica especializada, coincidentemente ou não, redundou em filmes associados a uma idéia de “bom gosto” artístico – o que implica na exclusão não justificada de produções absurdamente populares, como as comédias de Mazzaropi, dos Trapalhões ou do ciclo pornochanchadeiro (dois terços do que se produziu em cinema brasileiro, nos anos 70, eram filmes eróticos). Se tais filmes não foram sucesso de crítica (de resto, algo subjetivo), foram avalizados pelo público. Além do mais, a pornochanchada esteve no centro das discussões daquela década, seja associada ao “pão e circo” imposto pela ditadura, seja por suas supostas “transgressões” sexuais num período de liberação dos costumes, particularmente da mulher – assunto que, por si só, legitimaria uma observação mais ampla das relações basilares entre obras como “Dona Flor…” e “Xica da Silva” e esses filmes de menor extração.
A compreensão, pelo prisma da História, de obras fílmicas requer que se aventure um pouco na própria história do cinema – no caso, o brasileiro. Assim, à guisa de exemplo, é pertinente, na análise de “Marvada Carne”, a observação da ancestralidade do personagem Nhô Quim, que hoje mantém os “poucos mesmos artefatos da cultura material dos bandeirantes paulistas”.[1] Mas o mesmo tipo caipira – e todo esse filme de André Klotzel – é também uma citação do cinema caipira de Mazzaropi, inclusive contando no elenco com a presença de Geny Prado, veterana atriz de seus populares filmes. A cultura remota, sem dúvida, ressoa nos personagens e em seu mundo rural. Mas a cultura imediata do cinema também está, mais conscientemente, arrisco dizer, na construção da obra, que visa tocar no imaginário de amplo público, emocionando-o de algum modo.
O processo cinematográfico, por injunções comerciais, implica em se agrupar filmes em gêneros reconhecíveis. As tramas, os tipos humanos (heróis e vilões) etc. se repetem, bem como as formatações narrativas de pura imagem. Estas tendem a ser recorrentes (o uso dos planos, os movimentos de câmera, a montagem e seu ritmo, a cor etc.). Produzem discursos em consonância com o roteiro meramente literário. Às vezes, porém, deliberadamente ou não, há dissonâncias entre o que é verbalizado na tela e a montagem audiovisual adotada. Na análise de “Pra frente Brasil” cita-se o modelo thriller norte-americano para o filme político, fórmula esta difundida por Costa Gavras.[2] A comparação procede, mas seria também pertinente observar que tal modelo redunda na espetacularização da trama política, engolida pelo ilusionismo hollywoodiano, não surtindo maior efeito nas platéias que só se interessam na “ação pela ação”. Roberto Farias, o diretor, sobretudo está, com seu filme, ajustando-se a uma solicitação comercial num momento em que a abertura política supostamente aceitaria filmes dessa natureza. Farias opta pela linguagem conservadora plenamente adequada à “ideologia” que adota: a do mercado. Da chanchada ao ensaio do Cinema Novo, passando por filmes modernosos sobre Roberto Carlos, o cineasta sempre se guia por caminhos que devem ser também lembrados na análise da obra em pauta. Essa contextualização de cultura cinematográfica e sua adequação ao plano lingüístico não são elementos desprezíveis numa análise envolvendo História e Cinema.
Concorde-se ou não com toda a opinião e abordagem de tantos estudiosos, o livro em questão é, desde já, uma referência obrigatória para se estudar aqueles dois campos do conhecimento. Os autores são especialistas dos temas retratados nos filmes em foco. Alguns podem ter mais familiaridade ou não no trato da linguagem cinematográfica. O projeto editorial assemelha-se ao livro Passado Imperfeito – A História no Cinema (Record, 1997), organizado por Marc C. Carnes, em que historiadores e outros especialistas rastreiam e criticam a história da humanidade expressa em filmes europeus e notadamente hollywoodianos. Ressalvas aqui cabem também no que tange às especificidades do meio cinematográfico, mas o resultado é sempre estimulante. Num outro ângulo dessa aproximação cinema-história, cabe lembrar que os criadores audiovisuais precisam também mergulhar no que há de específico e mais avançado noutras áreas do conhecimento. Há um atraso brutal em relação ao saber, haja vista os resultados medíocres de tantos filmes. “Canudos”, de Sérgio Rezende (que também se baseia no romance O Rei do Cangaço, de Manuel Benício, e não somente traduz Euclides da Cunha), é exemplo desse mau resultado. Um fracasso artístico, inclusive, o que me faz discordar de que seja “bom cinema”, como se lê no texto.[3] O formato do espetáculo comercial de gênero “épico guerreiro”, implica na redução do fenômeno messiânico a uma sucessão de batalhas mal realizadas.
O Nordeste, com esse filme e outros como “Cabra Marcado para Morrer”, “O Homem que virou Suco”, “Central do Brasil” etc. é um tema recorrente na cinematografia brasileira, herança da redescoberta do Brasil via Cinema Novo dos anos 60. Mas outros temas, nessa antologia, se cruzam em vários filmes. Assim, vemos o problema das migrações tanto em “Aleluia Gretchen”, “Quatrilho”, “Gaijin” e “Lição de Amor” quanto em “O Homem que virou Suco” e “Cabra Marcado para Morrer” – esse último diretamente ligado a outro subtema: o Brasil pré e pós-64, ao lado de “Jango”. Temos, enfim, um amplo espectro de possibilidades de análises, por vários ângulos, inclusive com filmes cujo tema histórico situado no passado mais remoto é, de fato, uma crítica ao Brasil contemporâneo, como se observa em “Xica da Silva, por exemplo. Adotemos, pois, esse livro como suporte para discussões mais aprofundadas sobre nosso imaginário histórico, sem esquecer a perspectiva de fazermos “a história audiovisual da história”, como propôs o sociólogo Gilberto Vasconcelos em recente estudo sobre Glauber Rocha.
Notas
1. ALMEIDA, Jayme de. Marvada Carne: uma comédia caipira épica. In: p. 195.
2. BATALHA, Cláudio H. Pra frente Brasil: o retorno do cinema político. In: p. 137.
3. HERMANN, Jacqueline. Imagens de Canudos. In: p. 246.
Firmino Holanda – Universidade Federal do Ceará.
FERREIRA, Jorge; SOARES, Maria de C. (Orgs.) A História vai ao Cinema: vinte filmes brasileiros comentados por historiadores. Rio de Janeiro: Record, 2001. Resenha de: HOLANDA Firmino (Res), Revista Trajetos, Fortaleza, v.1, n.1, 2001. Acessar publicação original. [IF].





