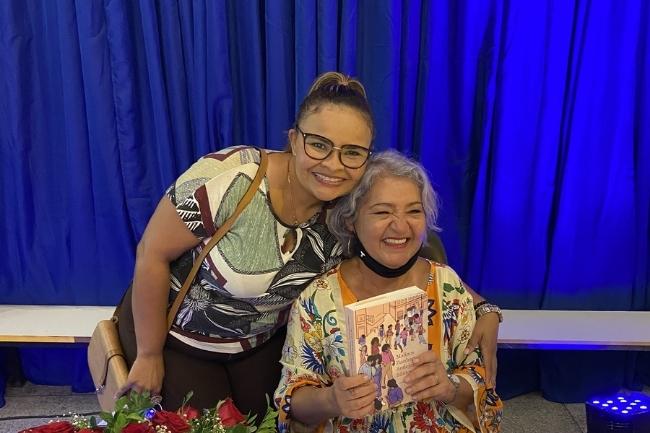Posts com a Tag ‘Autobiografia’
Malinos, zuadentos, andejos e sibites: o Aribé nos anos 70 e 80 | Teresa Cristina Cerqueira da Graça
Andrea Moura e Tereza Cristina Cerqueira da Graça | Imagem: Pra Você Saber
Alguns personagens malignos, barulhentos, errantes, atrevidos e habitantes do bairro Siqueira Campos, na cidade de Aracaju (SE) são o objeto do novo livro de Tereza Cristina Cerqueira da Graça. Essa é a mensagem, traduzida em português culto, que o pitoresco título quer transmitir. Trata-se de uma memória de pessoas para registro da memória de uma pessoa, que é Teresa Cristina Cerqueira da Graça, historiadora da cultura, “malina”, “zuadenta”, “andeja”, “sibite” e moradora do bairro Aribé (oficialmente, Siqueira Campos), durante dois terços de sua vida.
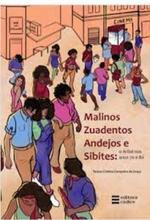 É livro desafiador para os nossos tempos acelerados. Quinhentas e três páginas. Uma semana de leitura para quem dedica um turno diário. Lourival Santana foi feliz em seu prefácio. Escreveu pouco, usou convenções – “relato de memórias”, “acurada pesquisa histórica” sobre o “cotidiano de Aracaju”, baseado “em fontes primárias”, escrito em “estilo simples”, que incorporou o depoimento de “quase 120 pessoas”, “trouxe de volta objeto brincadeiras, lugares, cenários e pessoas”, vai “encher os olhos e a alma da geração da época” e despertar a “curiosidade dos jovens do presente”. Leia Mais
É livro desafiador para os nossos tempos acelerados. Quinhentas e três páginas. Uma semana de leitura para quem dedica um turno diário. Lourival Santana foi feliz em seu prefácio. Escreveu pouco, usou convenções – “relato de memórias”, “acurada pesquisa histórica” sobre o “cotidiano de Aracaju”, baseado “em fontes primárias”, escrito em “estilo simples”, que incorporou o depoimento de “quase 120 pessoas”, “trouxe de volta objeto brincadeiras, lugares, cenários e pessoas”, vai “encher os olhos e a alma da geração da época” e despertar a “curiosidade dos jovens do presente”. Leia Mais
Écrire ses memóires: astuces et conseils pour transformer ses souvenirs en un livre | Marie -Gaëlle Le Perff || Aspectos teóricos de la autobiografia | Edgar Velásquez Rivera
Marie-Gaëlle Le Perff e Edgar Velásquez Rivera | Imagens: Narrovita e Proclama
Dois manuais recentes sobre a elaboração de autobiografias foram lançados em línguas francesa e espanhola com abordagens e destinatários diferenciados. Não apresentam inovações na área, mas vale a pena submetê-los à crítica como indicador da bibliografia circulante para o interessado na temática. Eles são: Écrire ses memóires: astuces et conseils pour transformer ses souvenirs en un livre, de Marie-Gaëlle Le Perff, e Aspectos teóricos de la autobiografia, de Edgar Velásquez Rivera.
Écrire ses mémoires é um singelo manual introdutório às artes dos escritos de vida (biografias, autobiografias e memórias). Foi publicado em 2020 com a meta de auxiliar pessoas comuns a escreverem suas lembranças, por si mesmas, dando a conhecer questões e conceitos típicos da investigação do gênero e da publicação independente. Sua autora, Marie-Gaëlle Le Perff, é formada em Jornalismo (Paris 7) e Biologia (Poitiers) e se apresenta como redatora da revista Vie Chrétienne, biógrafa familiar e especialista na cobertura de assuntos da saúde. Leia Mais
A autobiografia de Martin Luther King | Clayborne Carson e Martin Luther King
Em função de sua influência midiática global, as recentes manifestações estadunidenses, pautadas primordialmente no antirracismo, ressuscitaram o debate sobre discriminação racial nas imprensas espalhadas pelo mundo. Seja para criticar a raiva dos manifestantes, representada pela destruição de símbolos escravistas, como estátuas de senhores de escravos, por exemplo, ou para apoiar a causa da população negra, opiniões têm sido levantadas sobre esses episódios sociais. Entretanto, se engana quem pensa que tais demandas e reivindicações são totalmente novas no âmbito social dos Estados Unidos da América. Não é de hoje que esse ativismo urgente reúne milhares de atuantes em seu centro e milhões de espectadores em seu entorno.
No cerne dessa questão, importantes lideranças negras se consolidaram como catalisadores de mudanças sociais no continente americano. Dentre elas, destaca-se o inesquecível pastor batista Martin Luther King Jr (1929- 1968), reconhecido por lutar em prol da universalização dos espaços sociais. Nascido no ápice da Grande Depressão, o menino da classe média de Atlanta, desde cedo, nutria um forte sentimento contra o sistema segregacionista que vigorava nos Estados Unidos. Acusado de ser negro1, inevitavelmente enveredou pelos caminhos militantes do pai2 e, em poucos anos, tornou-se a liderança central do movimento por direitos civis na América do Norte, questionando a predominância exclusivamente branca nos espaços sociais de seu país. Leia Mais
Lila em Moçambique | Adréia Prestes
A obra, que tenho o prazer de resenhar, “Lila em Moçambique”, de Andréia Prestes, com ilustrações de Camilo Martins, foi publicada em maio de 2020, com prefácio de Renato Nogueira, agradecimentos à escritora Sonia Rosa, a poetisa Maria Santiago e a professora Sandra Portugal, aos familiares e amigos que a motivaram trazer essa experiência de sua infância e de seus irmãos, filhos do casal Rosa e João Massena. A trajetória da família da autora que passou pela experiência do exílio, primeiro em Moscou, depois em Moçambique, tornou-se inspiração para essa obra que iremos conhecer um pouco melhor.
A autora vai narrar a história de Lila, a irmã mais velha, a quem ela dedica a obra (juntamente com seus filhos João e Rita), em sua busca em contar as memórias da infância. Leia Mais
Vivendo autobiograficamente: a construção de nossa identidade narrativa – EAKIN (FH)
EAKIN, Paul John. Vivendo autobiograficamente: a construção de nossa identidade narrativa. São Paulo: Letra e Voz, 2019. Resenha de: MOREIRA, Igor Lemos. Pensar a autobiografia entre história, identidade e narrativa. Faces da História, Assis, v.6, n.2, p.566-572, jul./dez., 2019.
As discussões a respeito das relações entre identidades e narrativas são recorrentes nas Ciências Humanas e Sociais. Desde a virada linguística no século XX, os estudos em diferentes áreas do conhecimento como a história, a crítica literária, a psicanálise e a antropologia têm procurado compreender estruturas, práticas e processos que envolvem o ato narrativo, destacando constantemente sua relação com a formação de identidades/identificações e representações. Publicada em 2019, a obra Vivendo autobiograficamente: A construção de nossa identidade narrativa, do pesquisador estadunidense Paul John Eakin, contribui para o aperfeiçoamento das discussões sobre identidades e narrativas em áreas de estudos como práticas biográficas, cultura escrita e narrações contemporâneas.
Paul John Eakin é graduado em História e Literatura pela Universidade de Harvard, onde também cursou seu mestrado e doutorado. Especialista na área de autobiografias, é professor emérito da Indiana University, onde ocupou a cadeira Ruth N. Halls de Inglês. A obra, publicada originalmente pela Cornell University, foi lançada no Brasil pela editora Letra e Voz, sendo a primeira tradução para português de um trabalho do autor. O livro está estruturado com uma introdução e quatro capítulos, apresentando os seguintes eixos centrais: os processos de narrativa sobre si; a consciência autobiográfica; a construção identitária por meio das narrativas; e autobiográfica, memória e rememoração.
O primeiro capítulo, “Falando sobre nós mesmos: as regras do jogo”, parte das discussões sobre as narrativas de “si” na contemporaneidade, ao analisar articulações analisando articulações entre autobiografias e mídias (com destaque a programas televisivos como Oprah). Partindo de vasta revisão bibliográfica e passando por autores como Oliver Sacks, Eakin discute e identifica alguns processos envolvidos nas narrativas autorreferênciais construtivas de cada indivíduo. Entre os temas que gravitam este capítulo estão: os efeitos/elaborações de acontecimentos atuantes na constituição das subjetividades; as “regras” que constituem o ato narrativo e a identidade narrativa, que para o autor é algo característico de todo sujeito; a ideia de efeito de verdade, permitindo ao(a) leitor(a) observar um breve panorama da densidade de discussões que perpassam o debate sobre autobiografias. Neste capítulo, a discussão realizada destaca que “[…] quando se trata de nossas identidades, a narrativa não é simplesmente sobre o eu, mas sim de maneira profunda, parte constituinte do eu.” (EAKIN, 2019, p. 18, grifo do autor) A respeito desta discussão é interessante apontar que, na perspectiva do autor, a construção autobiográfica é um processo que lida com diferentes dimensões temporais de passados e experiências vividas, para além de ser um ato sempre do “tempo presente”, ou seja, do momento de elaboração da narrativa. Essa construção no presente é o que manifesta, ou representa, as identidades dos sujeitos que a constituem a partir de suas vivências, memórias, lembranças e projeções de futuro. Dentro desta chave é possível aproximar os atos narrativos da elaboração de acontecimentos (narração de fatos) que rompem com as temporalidades, sendo uma questão em comum entre o autor e as discussões de François Dosse (2013). Para o historiador francês, a elaboração de um acontecimento é sempre uma produção atual, do momento de comunicação, que articula uma forma de significação acerca da experiência, sem a qual o evento não existiria.
Eakin (2019) aproxima-se dessa leitura ao considerar que esses processos, muitas vezes, levam a incluir experiências coletivas, que nem sempre são frutos de vivências pessoais. Para exemplificar, o autor destaca o 11 de setembro de 2001, uma vez que inaugurou a possibilidade de ter civis como personagens do acontecimento, o que atesta “o desejo de pessoas comuns enxergarem por si mesmas o que aconteceu naquele dia” (EAKIN, 2019, p. 20). Ao analisar esse evento, Dosse (2013) observa o papel das mídias que fabricaram instantaneamente o acontecimento, ao mesmo tempo que o historicizavam. Nesse caso, Dosse e Eakin concordam que um acontecimento testemunhado, direta ou indiretamente, é fundamental na elaboração das identificações, relação possível através das narrativas que permitem ao sujeito inserir-se em contextos que não necessariamente tenha vivido ou experienciado diretamente.
Outro elemento central no capítulo, e que perpassa o restante da obra, é a noção de identidade narrativa e sua relação com a construção de histórias de vida e trajetórias. Para o autor, a identidade, elaborada a partir de identificações, é fruto de construções narrativas entendidas “[…] de um modo inescapável e profundo, elas são o que somos, pelo menos enquanto atores posicionados dentro do sistema de identidade narrativa que estrutura nossos arranjos sociais atuais.” (EAKIN, 2019, p. 10, grifo do autor). Nesta interpretação, a identidade narrativa envolve a estruturação de uma forma de construção autobiográfica que molda o sujeito, reestruturando o passado em uma perspectiva linear e progressiva dos fatos.
A perspectiva do autor enquadra-se no fato de a identidade narrativa ser acumuladora de mais elementos com o passar dos anos, resultado de uma construção da história dos sujeitos, constantemente resignificada. Esse processo estrutura uma narração intencionalmente progressiva sobre a trajetória do sujeito, sempre promovida pelo individualismo. Eakin (2019) destaca que as falhas na memória, vistas como esquecimentos, impactam diretamente na constituição dos relatos autobiográficos, fragilizando a construção dessa identidade narrativa. Essa relação pode ser vista dentro da noção de ipseidade de Paul Ricouer (1991), na qual os sujeitos moldam constantemente o passado de acordo com aquilo que os jogos entre memória e esquecimento permitem e não apenas o que a experiência vivida ou apreendida possibilita relatar1.
No capítulo seguinte, intitulado “Consciência autobiográfica: corpo, cérebro, eu e narrativa”, o autor analisa produções literárias e autobiográficas nas últimas décadas, discutindo como tem se elaborado diferentes formas de identidade narrativa no tempo. Partindo da compreensão de que tais obras são consumidas constantemente, na medida em que existe um desejo das sociedades contemporâneas pela identificação com um outro e pelo consumo de memórias, o autor propõe entender o lugar da ficção e da história no ato de “relatar a si mesmo”. Ao afirmar que “[…] a memória e a imaginação conspiram para reconstruir a verdade do passado” (EAKIN, 2019, p. 76), Eakin destaca que as memórias são perpassadas constantemente pela tensão entre ficção, verossimilhança e “verdade”.
Nos estudos historiográficos sobre autobiografias2 é importante, muito mais que a verdade dos fatos narrados, compreender os diferentes modos como indivíduos pensaram e sentiram os fatos de suas vidas. Enquanto o historiador e/ou biógrafo finda um compromisso com os fatos ocorridos ao narrar uma trajetória, o autobiógrafo tem sua lealdade associada ao “eu”/sujeito construído. Deste modo, a autobiografia apresenta-se como espaço de tensões e o historiador e/ou pesquisador dedicado ao seu estudo necessita de atenção redobrada para observar que a principal relação não se dá na verossimilhança, mas sim com o efeito da linguagem que representa um sujeito, que almeja determinado fim. Um elemento central para compreender esse efeito de linguagem é a noção de corpo, pois não somente é o espaço em que o “eu” habita, como também é o que permite o indivíduo sentir e experienciar a vida.
Nesse sentido, é possível perceber que o principal argumento do autor centra-se na ideia de que a autobiografia está necessariamente associada à espetaculização dos indivíduos, ou seja, seu local é não apenas o presente, mas também o seu destinatário, “o outro”. Artiéres (1998), ao debater os processos de arquivamento do eu nas sociedades contemporâneas por meio das práticas de guarda e constituição de acervos pessoais, problematiza essa questão de maneira semelhante a Eakin. Ambos os autores, ao discutirem os processos autobiográficos, tencionam as relações temporais para além apenas de destacar o ato de escrita no presente ou sua intencionalidade futura. Dentro dessa perspectiva, construir uma autobiografia é elaborar uma narrativa sobre si e sobre um tempo não linear, apesar de sua sistematização geralmente ser, como forma de orientação e constituição das identidades.
O terceiro capítulo, “Trabalho identitário: pessoas fabricando histórias”, inicia uma segunda parte do livro no qual o autor procura construir breves relatos de estudos de caso. É possível perceber que Eakin divide seus estudos de caso em torno de dois grupos principais de documentações: (1) Obras autobiográficas e literárias de grande recepção, publicadas na idade moderna e na contemporaneidade; (2) Relatos de vidas cotidianas e de pessoas “ordinárias”. Para o primeiro caso de estudo, o autor retoma relatos autobiográficos desde o século XVIII e XIX, como os depoimentos recolhidos por Henry Mayhew (1881-1841), para debater as diferentes operações e processos que envolvem as autobiografias nos séculos XX e XXI.
Tomando o final da Idade Moderna francesa como ponto de partida, o autor historiciza a emergência das práticas de relatar a si mesmo e das autobiografias. Para Eakin (2019), apesar de os relatos escritos serem predominantemente ligados às elites, ainda assim é possível mapear a construção de narrativas autobiográficas através de leituras a contrapelo, como fez Mayhew. Embrenhando-se pelo que pode ser considerado um exercício de busca pela compreensão dos estratos de tempo (KOSELLECK, 2014), apesar de essa dessa relação não ser mencionada, Paul Eakin afirma que esse processo foi intensificado com a emergência dos meios digitais, criando sociedades cada vez mais narradoras de si. Redes sociais, a exemplo do Facebook e o MySpace foram fundamentais para lançar a centelha que favorece a alteração da identidade, uma vez que propiciam a mudança não somente de construções narrativas, mas também cria-se a necessidade constante do on-line, o que causa profunda sensação de aceleração do tempo e a consequente efemeridade da elaboração de uma identidade narrativa.
Nesse capítulo, o segundo conjunto de fontes utilizadas são os relatos do cotidiano de sujeitos considerados, pelo autor, como “comuns” ou “ordinários”. Diferentemente de uma análise exclusiva sobre como o cotidiano é narrado por esses sujeitos a partir dos livros autobiográficos, Eakin (2019, p. 114) afirma que seu interesse é compreender que a “atividade de construir eus e histórias de vida consiste ainda em mais uma prática cotidiana”, perspectiva elaborada através dos estudos de Michel de Certeau.
Michel de Certeau (2009) entende que o cotidiano é constantemente elaborado por meio de dinâmicas entre estruturas socioculturais e práticas individuais e (re)inventivas. Eakin analisa de que modo as práticas de relatar o cotidiano são elaboradas, dimensionando o consumo destas narrativas. Uma das ocorrências analisadas, e talvez o mais intrigante dos estudos de caso, é o do próprio pai do pesquisador, no qual, para além de pensar nos impactos da figura paterna na construção da identidade narrativa, discute de que maneira ele o influenciou a se interessar por autobiografias. Partindo dessa relação, o autor discute suas próprias narrativas autobiográficas, interrogando-se sobre a maneira como “modelos” de histórias e os relacionamentos interpessoais influenciam na constituição de identidades.
A discussão sobre o pai do autor prossegue no capítulo seguinte da obra, quando Eakin passa a realizar um relato autobiográfico. Em “Vivendo autobiograficamente”, capítulo que dá nome à obra, o autor mergulha em uma escrita autobiográfica sobre si e sua identidade narrativa. Se até essa altura do livro houve a discussão dos aspectos teóricos e metodológicos, bem como a realização de estudos de caso e a historicização de algumas práticas, o último capítulo apresenta o autor problematizando seu exercício cotidiano. Em sua leitura é possível perceber uma provocação intencional a quem “[…] se propõe a usar esse material como fonte para uma análise social deve perguntar […] de onde é que provem o entendimento de um indivíduo acerca do eu e da história de vida” (EAKIN, 2019, p. 130). Nesse sentido, para analisar autobiografias, Eakin diz que a experiência é fundamental para compreender suas práticas.
O autor utiliza a sua trajetória para refletir sobre o perfil adaptativo da história, dependendo sempre do narrador/elaborador, seu contexto e sua intencionalidade. Através dessa perspectiva, Eakin (2019, p. 158) defende que “[…] o discurso autobiográfico tem um papel decisivo no regime de responsabilização social que rege nossas vidas, e, nesse sentido, pode-se dizer que nossas identidades são socialmente construídas e reguladas”. Dentro dessa constatação é perceptível a centralidade do eu e de suas intenções, em que se pode considerar a narrativa como instrumento de legitimação de poder e de um determinado status ou lugar social no qual seu comunicante se insere. Essa questão pode ser interpretada através de outras perspectivas contemporâneas das ciências humanas que não citadas por Eakin, como, por exemplo, os conceitos de lócus de enunciação (GLISSANT, 2011). Nessa articulação, não apenas o passado mobilizado no presente da narração, mas também a categoria e diferentes noções de futuro são aspectos centrais.
É particularmente interessante observar que, ao chegar ao último capítulo da obra, o(a) leitor(a) tenha sido conduzido a perceber a forma de organização dos temas intensamente problematizados. Partindo inicialmente de uma discussão teórica sobre as questões autobiográficas, o autor procurou definir seus conceitos norteadores, abordando também suas historicidades, para aplicá-los em estudos de caso e, por fim, produzir sua própria identidade narrativa. Tal estratégia cria um espaço para que o(a) leitor(a) mobilize as discussões do próprio teórico, percebendo os processos apontados e também sua tese principal: a de que é impossível fugir da narrativa, pois a elaboração de identidades é um processo de construção de histórias no presente a partir de suas relações com o tempo.
Referências
ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 11, n. 21, p. 9-34, jan./jun. 1998.
BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes (Org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2006. p. 183-191.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
DOSSE, François. Renascimento do acontecimento. São Paulo: EdUNESP, 2013.
GLISSANT, Édouard. Teorias. In: GLISSANT, Édouard (Org.). Poética da relação. Portugal: Porto Editora, 2011. p. 127-170.
KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo: estudos sobre a História. Rio de Janeiro: Contraponto, Ed. PUC-RJ, 2014.
RICOEUR, Paul. O si-mesmo como um outro. Campinas: Papirus, 1991.
Notas
1 Essa discussão encontra-se no texto de Pierre Bourdieu (2006) sobre a “Ilusão Biográfica”, conceito mobilizado pelo sociólogo para alertar aos pesquisadores na área de biografias e trajetórias, assim como os biógrafos, a respeito dos perigos da linearidade e das construções teleológicas da narrativa de vida de sujeitos. Em função da proximidade com os indivíduos biografados, e o processo de pesquisa que permite ao biógrafo conhecer na maioria dos casos o desfecho de sua obra antes mesmo de iniciar sua narrativa, Bourdieu reafirma a necessidade de problematização das trajetórias, compreendendo os processos, percursos e enfrentamentos que marcam a vida dos indivíduos.
Igor Lemos Moreira – Doutorando em História pelo programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina (PPGH-UDESC), na linha de pesquisa Linguagens e Identificações. Bolsista PROMOP/UDESC, estado de Santa Catarina (SC), Brasil. Mestre e Graduado em História (Licenciatura) pela mesma instituição. Integrante do Laboratório de Imagem e Som. E-mail: igorlemoreira@gmail.com.
[IF]Conversas que tive comigo | Nelson Mandela
Não me lembro qual foi a primeira vez que ouvi falar de Mandela. Talvez em algum filme de histórias de grandes líderes políticos que se tornaram “imortais” por seus feitos. Mandela foi muito mais que um grande líder político. O livro Conversas que tive comigo mostra com profundidade o Nelson Mandela (como é conhecido em todo mundo), Madiba, Tata, Rolihlahla alguns de seus nomes conhecido pelo povo da África. Nasceu na cidade de Transkei, África do Sul, em 18 de julho de 1918 e morreu numa quinta-feira no dia 05 de dezembro de 2013, aos 95 anos. Ele lutou contra o regime de segregação racial, o Apartheid, em seu país. O regime, como se sabe, negava aos africanos, o direito de viver livres em seu próprio território tradicional. O livro é constituído de escritos de Mandela, em sua maioria, nos quase 28 anos de sua vida que foi preso político.
A obra traz informações inéditas escritas de próprio punho. Uma delas é o fato de que Mandela, tinha o hábito de escrever o que para ele era importante em: visitas, reuniões e momentos de angústia. Relata que esses escritos eram uma forma de arquivar. Conhecíamos o líder político, o lutador incansável pelos direitos humanos, o homem que deu a volta por cima, mas sabia-se pouco sobre o Mandela escritor.
O fato é que ao perceber que os destinatários das inúmeras cartas que escrevia na prisão não respondiam, começou escrever para si, com a intenção de arquivar o cotidiano (SONTAG, 2004). Suas cartas eram escritas com cópias, que ele guardava. De 05 de agosto 1962, quando foi preso e condenado à prisão perpétua, ficou em reclusão até 1990, e escreveu, nesse período, centenas de cartas. Nela, além de questões políticas, estão demonstrados elementos de sua vida cotidiana como a preocupação com a mãe, os filhos, a esposa e os diversos companheiros de luta.
As cartas publicadas no livro não obedecem a uma cronologia. A obra está organizada em capítulos que retratam sua vida antes, durante e até liberdade; as cartas e anotações foram editadas e formam os textos dos capítulos.
Mandela foi preso pela primeira vez por desobediência às regras segregacionistas impostas pelo Estado. No livro, afirma que foi por usar um banheiro reservado exclusivamente para brancos. Em uma carta datada de 27 de dezembro de 1984 à sua esposa Winnie Mandela , afirma: “você sabe perfeitamente bem que passamos essa última parte de nossa vida na prisão exatamente por que nos opomos à ideia mesma de assentamentos separados, que nos torna estrangeiros em nosso próprio pais…” (MANDELA, p. 66.)
A obra de mais de 400 páginas se aproxima do que hoje chamaríamos de uma visão de colonial. Fala da necessidade de aprender da cultura Ocidental. Mas isso não fez com que abandonasse as línguas e a costumes tradicionais da África do Sul. Mandela era um Thembu, pertencia à casa real e sua vida pública o forçara a se afastar das suas tradições, mas nunca abandonara seus valores
“(…) Claro que não podemos viver sem a cultura ocidental, e então tive duas vias de influência cultural. Mas acho que seria injusto dizer que é uma peculiaridade minha, porque muitos dos nossos tiveram as mesmas influências… Hoje me sinto mais à vontade com o inglês, devido aos muitos anos que passei aqui e passei na prisão, por isso perdi contato com a literatura xhosa. Uma das coisas que estou ansioso para fazer quando me aposentar é poder ler a literatura que eu quiser, literatura africana (…) (MANDELA, 2010, p. 30).
Preocupado com quem governaria a África e com as mudanças que aconteceria, arriscava em seus escritos opinar qual seria o governo “ideal” para seu povo. Relata que enviou seus filhos e filhos de outros líderes para estudar fora do continente, mas defendia que um governante tinha que ser filho da África, e que ele deveria vivenciar seus costumes e cultura.
Atribui à colonização, aos erros das lideranças políticas africanas:
“Um corpo letrado de líderes tradicionais com boa formação terá toda probabilidade de aceitar o processo democrático. O complexo de inferioridade que os leva a se aferrar desesperadamente a as formas feudais de administração irá, no seu devido tempo, desaparecer”. (MANDELA, 2010, p. 35).
A democracia poderia ser construída com formação sólida das lideranças tradicionais que, assim, superariam o complexo de colonizado. (Memmi, 2007). Com isso afirma que…
“A civilização ocidental não apagou totalmente minha origem africana, e não esqueci meus dias de infância, quando nos reuníamos em torno dos mais velhos para ouvir a riqueza de sua sabedoria e experiência. Era o costume dos nossos antepassados, e na escola tradicional em que crescemos. Ainda hoje respeito os mais velhos da nossa comunidade e gosto de conversa com eles sobre os velhos tempos, quando tínhamos nosso próprio governo e vivíamos em liberdade.” (MANDELA, 2010, p. 43).
Das cartas aos cadernos de anotações buscou registrar sua indignação por não ter liberdade. Essa que não era pelo fato de estar preso, mas sim de ver seu povo restrito dentro de sua própria terra.
Ver os africanos, negros e indianos, serem obrigado a viver na pobreza, na miséria buscando trabalho nas fazendas de colonizadores dentro de seu próprio pais era o que levava a lutar, não só por sua liberdade, mas pela liberdade de todos. E culpa o colonialismo a isso. Como podemos perceber no trecho que a obra traz que e parte inédita de sua autobiografia.
“A pilhagem de terras de nativos, exploração de suas riquezas minerais e outras matérias-primas brutas, o confinamento de seu povo a áreas específicas, e a restrição de seus movimentos foram, com notáveis exceções, as pedras fundamentais do colonialismo por todo o país”. (MANDELA, 2010, p. 369).
Em suma, fala que houve aprendizados e não só momentos de dores durante sua vida na prisão. O respeito pelos outros povos e culturas diferentes, o tratar bem a quem lhe ofendia. Tristeza de não poder participar da vida de seus filhos. Ele fala da morte de primogênito Thembekile (13 de junho de 1969 na Cidade do Cabo), que quando foi preso o filho ainda era uma criança e que ele Mandela não esteve presente na cerimônia de seu casamento e nem poderia se fazer presente na da sua morte, pois o governo negara seu pedido como negou de ir a da sua mãe. Despedir dos seus entes em cerimônias que levava dias era algo de muito valor para ele, pois fazia parte de sua cultura, e essa é umas das dores mais agudas pelas quais passara. Mandela afirma que o ano de 1962 foi o pior de sua vida, pois além da perda de seu filho, de quem não pode acompanhar o crescimento, perdeu sua mãe e sua mulher havia sido presa.
A obra além de trazer esses escritos, mostra o cotidiano de um preso político que se opunha o multirracialismo e exigia uma sociedade não racializada. Em conversas com Richard Stengel, afirma: “estamos lutando por uma sociedade em que as pessoas parem de pensar em termos de cor… Não é uma questão de raça, é uma questão de ideias,” mostrando que ele advogava por uma sociedade desracializada.
As cartas e anotações mostram ao leitor o quanto Mandela foi engajado na luta contra o regime segregacionista sul africano, mesmo enfrentando momentos de muita dor. Durante todos os anos da prisão, ele sonhava com uma sociedade livre e democráti ca. Democracia que o elegeu presidente, sendo o primeiro homem negro a governar o seu país pela vontade da minoria em 1994.
Referências
MANDELA, Nelson. Conversas que tive comigo. São Paulo: Editora Rocco, 2010
MEMMI, Albert. Retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
SONTAG, S. Sobre fotografia. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2004.
Josiel Santos – Universidade Federal do Tocantins.
MANDELA, Nelson. Conversas que tive comigo. São Paulo: Editora Rocco, 2010. Resenha de: SANTOS, Josiel. O que Tata escreveu. Revista Brasileira do Caribe. São Luís, v. 20, n. 38, p. 130- 133, jan./jun., 2019. Acessar publicação original [DR]
Ecce Homo: a autobiografia como gênero filosófico – MURICY (CN)
MURICY, Katia. Ecce Homo: a autobiografia como gênero filosófico. Coleção Pequena Biblioteca de Ensaios, Rio de Janeiro: Zazie Edições, 2017. 39p. Resenha de: ZATTONI, Romano S. Cadernos Nietzsche, São Paulo, v.39 n.3 set./dez. 2018.
Nesse ensaio, Katia Muricy busca estabelecer uma reflexão acerca do valor filosófico de escritos de natureza autobiográfica, tomando como obra central para sua interpretação o texto nietzschiano de Ecce Homo. Trata-se do endereçamento a uma certa lacuna na pesquisa Nietzsche, no que se refere a esse texto do fim de 1888, a qual foi comumente encarada pejorativamente na recepção da obra do filósofo como um escrito de loucura.
Antes de se dedicar de forma mais direta à obra de Nietzsche, a autora engendra um pano de fundo histórico-filosófico a partir do qual é possível conceber a própria proveniência da noção de autobiografia, primeiramente como gênero literário. Trata-se de uma tarefa que se depara de início com a notável fluidez de sentido que essa espécie de texto pode demonstrar. Se tomada em seu sentido mais amplo, ou seja, como a menção de si mesmo no texto em seu nível mais ordinário, pode-se dizer que se trata de um ato que existe desde o início da escrita, contudo, sob um critério mais estreito, poderia ser compreendida como um empreendimento de autonarrativa que tem origem bem específica na Europa ocidental no século XIX, em paralelo com o que poderíamos chamar de a origem da noção contemporânea de indivíduo. Diante desse cenário, a autora toma como fio condutor para sua investigação o trabalho foucaultiano de genealogia do ato de escrita de si, sobretudo em sua relação com o fazer filosófico.1
São diversas as paradas que a autora realiza em seu traçado acerca do ato de escrita de si na história da filosofia, a começar pelas variações que a escrita de si toma nos primeiros séculos da era cristã no Ocidente, nomeadamente, os chamados hupomnêmata (anotações e memorandos para serem lidos pelo autor posteriormente) e as correspondências. Chama a atenção nesse âmbito o caráter etopoiético atribuído por Plutarco a escrita de si, no que se refere ao cuidado de si e fundação de um ethos próprio. Destaca-se também os trabalhos confessionais dos quais as Confissões de Agostinho tomam o lugar mais representativo, em uma modalidade na qual a escrita de si transfigura-se em um ato de louvor.
Na passagem para a filosofia moderna, seria possível identificar um ponto de quebra com relação ao valor filosófico da escrita de si, sobretudo no que se refere ao advento do pensamento cartesiano e as consequentes mudanças na concepção do que seria um sujeito. Com Descartes, aprofunda-se a certeza do que seria o eu da consciência, de modo que, a partir de sua existência, se fundam todas as outras certezas do espírito. Poderia-se supor que isso significaria o aumento da presença do eu no discurso filosófico, contudo, a argumentação da autora afirma justamente o contrário, pois o conceito de eu cartesiano, destilado pelo método da dúvida, estaria depurado de suas vivências que são em última instância o substrato da autobiografia. Para a autora isso se deve à retirada do corpo da cena filosófica:
Se o corpo é mera res extensa, desprovido de interesse no âmbito do pensamento, o cogito, desencarnado, é uma impossibilidade biográfica – seria o que a vida do cogito? Ficção tão improvável, da perspectiva cartesiana, quanto um relato do corpo, que só pode existir, para além do automatismo de máquina, insuflado pela consciência que detém uma incontestável autonomia, livre de qualquer condicionamento exterior. (p. 12)
Embora a autora veja no pensamento cético de Hume uma oposição ao caráter autoevidente do eu unificado, a recepção desse tema no século XIX estaria mais demarcada pela influência do pensamento de Kant. O filósofo alemão restaura a primazia do sujeito, desta vez longe da concepção de uma substância distinta, mas sim na fundação de um sujeito cognoscente, condição para a objetividade do conhecimento filosófico. O caráter não-empírico desse sujeito – um eu transcendental – manteria afastada da filosofia a dimensão da vida concreta.
De forma geral, esse é o cenário de despersonalização do exercício filosófico com o qual Nietzsche se depara, e contra o qual irá opor-se tanto teoricamente, ao afirmar que o pensamento é uma espécie de confissão pessoal do autor, quanto literariamente, ao escrever um texto autobiográfico como Ecce Homo. Para a autora, a pessoalidade seria o “testemunho de um regime de instintos do qual a filosofia é forma” (p. 14), e de acordo com sua interpretação, a presença dos instintos no exercício filosófico de Nietzsche não representa uma desvantagem ou demérito de seu pensamento, pelo contrário, é a implicação do corpo no pensamento que funda a possibilidade de transformação do próprio ethos.
Paradoxalmente, a incorporação da pessoalidade na filosofia nietzschiana representa uma desestabilização da unidade do sujeito moderno, em prol de uma hierarquia de multiplicidades instintuais, que no limite representa o próprio conceito de corpo para Nietzsche. Diante desse raciocínio, a autora realiza uma interessante aproximação com o pensamento de Montaigne, ao afirmar que esse movimento de construção da narrativa de si já estava relacionado com uma certa perda da identidade estabilizada do sujeito. Em seus ensaios, Montaigne se demonstra cético com relação ao fato de que seu eu pode ser encontrado por meio do puro discernimento. A mudança em si está sempre presente, portanto, escrever sobre si é um exercício que exige palavras rápidas, que não resistam ou se surpreendam com o acaso de encontrar-se onde não se era esperado. Nas palavras da autora, para Montaigne “o eu é uma multiplicidade de percepções cambiantes e contraditórias que exige a prontidão dessa escrita rápida para ser fixado provisoriamente nas palavras que o constituem e o dessubstancializam”. (p. 21)
Essa tese central para a autora, a de que a identidade se despedaça no exercício autobiográfico, parece encaminhar-se ao longo de seu ensaio para a proposição do que se poderia chamar de um paradoxo da autoria. Em Ecce Homo, por exemplo, por um lado há a presença constante do pronome eu, que transmite a ideia de um autor unificado, entretanto, as diversas e heterogêneas aparições e contextos desse eu implicam na ideia de que ele não pode ser previsto ou compreendido fora de transformação. De fato, a noção de eu em Ecce Homo é compreendida pela autora a partir da insígnia da ficção. Trata-se de uma construção narrativa que exprime “unificação a partir de uma exterioridade múltipla” (p. 31), e que de certa forma dissolve a dicotomia entre a estabilidade do ser e a transitoriedade do devir ao exprimi-las em simultâneo. Em última instância, é essa afirmação simultânea de ser e devir que se faz presente no subtítulo de Ecce Homo: “como tornar-se o que se é”. Em paralelo poderia-se adicionar aqui também a noção de amor fati, que poderia ser compreendida como o ato de imprimir de intenção o que foi contigente, em um ato de natureza interpretativa.
Para a autora, afirmar a multiplicidade do eu não significa compreendê-lo em uma espécie de desagregação absolutamente transitória. Trata-se de uma multiplicidade que se apresenta como organização hierárquica entre os instintos, cujas relações de domínio se referem diretamente ao que Nietzsche formula em seu conceito de “vontade de poder”. A estrutura instintual que compõe a noção de sujeito para Nietzsche se aproxima justamente ao que a autora se refere em seu ensaio como o conceito de corpo, que seria o “‘fio condutor’, a primeira forma de organização. Nele a diversidade simultaneamente se revela e se organiza sem conflitos, segundo suas necessidades e seus objetivos” (p. 33).
É nesse ponto que a autora engendra outra aproximação importante de Nietzsche com a tradição filosófica, mais precisamente com o pensamento estóico e epicurista. Trata-se da retomada do processo de escrita de si como technê tou biou, no qual a escrita – e também a leitura – se endereçam a um trabalho de elaboração das próprias vivências e de trabalho dos próprios instintos. Esse aspecto denota-se sobretudo no capítulo “Por que sou tão inteligente” de Ecce Homo, no qual alimentação, o clima, os livros, etc., são temas considerados por Nietzsche como “inconcebivelmente mais importantes do que tudo o que até agora tomou-se como importante” (EH/EH, Por que sou tão inteligente, KSA 6.295-296), ou seja, embora se tratem de “pequenas coisas” são fundamentais para o filosofar. Nas palavras de Katia Muricy, “a consideração dessa esfera do privado irá constituir não uma ética, mas uma minuciosa dietética” (p. 37). O ensaio termina de modo a afirmar o valor filosófico do escrito autobiográfico, dando ênfase ao fato de que se trata de um gênero privilegiado para a abordagem de temas relacionados ao exercício ético do “cuidado de si”.
Do ponto de vista formal, se trata de um ensaio que não se fundamenta no modus operandi estritamente acadêmico de fundamentação de hipóteses a partir de uma densa e exaustiva trama de citações, seja de artigos exegéticos ou mesmo de textos do próprio Nietzsche. As hipóteses dispostas no ensaio muitas vezes fundamentam-se na alusão à experiencia mesma de escrita de si, e não somente na interlocução com outros textos que tratam do tema; esse fato, aliado a performatividade estética do texto, possibilita outros modos de interação com o leitor, que não somente o da argumentação. A reflexão sobre a autobiografia é acompanhada da intenção literária de criação de cenários nos quais é possível imaginar Nietzsche em sua face efêmera e cotidiana, sentado na escrivaninha de sua casa, tomando seu sorvete, etc. Esse movimento literário da autora pode ser compreendido como o lançar mão de recursos ficcionais semelhantes aos utilizados por Nietzsche na construção performática de sua obra. Para além da veracidade possível desse tipo de narrativa, trata-se de um recurso muito interessante para promover justamente a atmosfera à qual o texto autobiográfico procura transmitir, qual seja: a pessoalidade na filosofia.
Referências
FOUCAULT, Michel. Dits et écrits, V. Paris: Gallimard, 1994 [ Links ]
MURICY, Katia. Ecce Homo: a autobiografia como gênero filosófico. Rio de Janeiro: Zazie Edições, 2017 [ Links ]
NIETZSCHE, Friedrich W. Ecce homo ou como alguém se torna o que é. São Paulo: Companhia das Letras, 1995 [ Links ]
Notas
1Trata-se da investigação presente no ensaio “L’Écriture de soi” presente em FOUCAULT, Michel. Dits et écrits, V. Paris: Gallimard, [1994].
Romano S. Zattoni – Doutorando em Filosofia pela UFPR, Curitiba, Paraná, RS, Brasil. E-mail: romanozattoni@gmail.com
Guerras de papel: Francisco de Paula Santander e Simón Bolívar, das peças autobiográficas à relação epistolar (1826-1837) | FAbiana de Souza Fredrigo
Com a passagem de dois séculos desde a deflagração, em 1810, dos processos históricos que se estenderam até 1824 e culminaram na emancipação das colônias hispano-americanas, vêm ocorrendo em vários países da América Latina “celebrações” do bicentenário de suas respectivas independências políticas. Por meio dessas efemérides, os calendários acabam nos impondo, periodicamente, seus temas e fatos históricos de forma implacável, fornecendo sempre, felizmente, a possibilidade de um novo olhar para um “mesmo” passado. Na esteira dessas celebrações, o grande público de cada uma dessas nações tem tido e terá à disposição, certamente, um acesso maior às sínteses históricas, cronológicas e factuais a respeito das independências nacionais. Surge, assim, a oportunidade, embora menor do que se poderia esperar, para o necessário debate sobre o significado, em pleno século XXI, desses acontecimentos que marcaram indelevelmente os perfis, os limites e as possibilidades de novos Estados nacionais latino-americanos que começariam a ser formados a partir das primeiras décadas do século XIX, quando a própria ideia de América Latina sequer existia. Leia Mais
“Vida de uma família judia” e outros escritos autobiográficos – STEIN (RFA)
STEIN, E. “Vida de uma família judia” e outros escritos autobiográficos. São Paulo: Paulus, 2017. Resenha de: FILHO, Juvenal Savian. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v.29, n.48, p.965-970, set./dez, 2017.
A Editora Paulus acaba de lançar a coleção brasileira Obras de Edith Stein com a publicação do primeiro volume, intitulado “Vida de uma família judia” e outros escritos autobiográficos, traduzido por Maria do Carmo Ventura Vollny e Renato Kirchner.
O texto-base da tradução é o volume 1 da edição crítica alemã das obras completas de Edith Stein (Edith Stein Gesamtausgabe — ESGA), publicado em 2002 pela Editora Herder, de Friburgo na Brisgóvia.
No volume 1, a edição crítica organizou sete textos classificados como “biográficos”: o primeiro é a “Vida de uma família judia”, seguido de outros menores, entre eles uma consagração e uma oração, que são considerados “biográficos” por causa da circunstância em que foram escritos: a Segunda Guerra Mundial. Com efeito, o fato de a consagração e a oração serem dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus mostram o vínculo com o momento histórico vivido por Edith Stein, pois desde o fim do século XIX a devoção ao Sagrado Coração de Jesus esteve especialmente ligada, na Europa, a contextos de guerra.
Os sete textos de Edith Stein editados como biográficos são:
(1) “Vida de uma família judia” (“Aus dem Leben einer jüdischen Familie”);
(2) “Uma contribuição para a Crônica do Carmelo de Colônia” (“Ein Beitrag zur Chronik des Kölner Karmel”);
(3) “Curriculum Vitae” (“Inaugural-Lebenslauf”);
(4) “Peça humorística [para a festa de casamento de Erna Stein e Hans Biberstein]” (“Festgedicht”);
(5) “Texto de Consagração [ao Sagrado Coração de Jesus]” (“Weihetext”);
(6) “Oração [ao Sagrado Coração de Jesus]” (“Gebet”);
(7) “Testamento” (“Testament”).
A respeito do surgimento e da redação dos textos, os leitores encontrarão na abertura de cada um deles informações históricas oferecidas pelos editores alemães. Cabe aqui, porém, uma rápida apresentação do texto “Vida de uma família judia”, sobre o qual há poucos dados nos comentários dos editores alemães.
Edith Stein deu o título “Vida de uma família judia” a um conjunto de dez textos menores, atribuindo um título apenas aos dois primeiros (os outros títulos foram apostos pelos editores, com base em expressões usadas por Edith Stein):
(I) Lembranças de minha mãe (Aus den Erinnerungen meiner Mutter);
(II) História de nossa família: as duas irmãs mais novas (Aus unserer Familiengeschichte: Die beiden Jüngsten);
(III) [Preocupações e tensões na família (Von Sorgen und Zerwürfnissen in der Familie)];
(IV) [O desenvolvimento das duas irmãs mais jovens (Vom Werdegang der beiden Jüngsten)];
(V) [Os anos de estudo em Breslávia (Von den Studienjahren in Breslau)];
(VI) [Diário dos corações de duas jovens (Aus dem Tagebuch zweier Mädchenherzen
(VII) [Anos de estudo em Gotinga (Von den Studienjahren in Göttingen)];
(VIII) [Serviço no Hospital Militar de Weisskirchen na Morávia (Aus dem Lazarettdienst in Mährisch-Weißkirchen)];
(IX) [Encontros exteriores e decisões interiores (Von Begegnungen und inneren Entscheidungen)];
(X) [O exame rigorosum em Friburgo (Vom Rigorosum in Freiburg)].
Como Edith Stein explica na Introdução por ela aposta no início do manuscrito, sua narrativa é composta parcialmente de memórias que sua mãe lhe transmitiu (Parte I) e parcialmente de lembranças que ela mesma reconstituiu (Partes II-X). Assim, apesar de seu desejo de ser fiel aos fatos, Edith Stein reconhece que sua narrativa não pode ser tomada como um retrato direto de sua família, mas como um conjunto de sentidos que ela recolhe na escrita e que provêm seja das memórias de sua mãe seja das suas próprias. Não é por acaso que o título por ela dado ao manuscrito inicia-se pelas partículas alemãs Aus dem…, indicando sua intenção de escrever não “a” vida de sua família e “a” sua vida mesma, mas os sentidos que podem ser atualizados pela leitura das memórias “biográficas”.
A esse propósito, convém insistir que os escritos reunidos neste livro e classificados como “biográficos” ou “autobiográficos” transcendem consideravelmente o gênero literário da biografia e da autobiografia. Diferentemente de outros pensadores modernos que escreveram suas autobiografias (como Rousseau, por exemplo, ou Simone de Beauvoir, entre outros), Edith Stein não redige apenas uma série de registros a título de documentação da memória de sua família e da sua própria. Ela identifica nessas memórias uma trama de sentidos determinados por valores (como a amizade, a justiça, a lealdade, o amor, a fé, a honestidade etc.), pretendendo oferecer aos leitores a possibilidade de também ver essa trama e deixar-se influenciar por ela. Dessa perspectiva, a “Vida de uma família judia” e os escritos autobiográficos de Edith Stein aproximam-se mais do estilo antigo que se observa em Agostinho de Hipona, por exemplo, e menos em narrativas centradas no sujeito individual, típicas da Modernidade e da Contemporaneidade. Com efeito, a “autobiografia” de Agostinho (Confissões) é a apresentação do itinerário pelo qual o indivíduo Aurélio Agostinho, bem datado no tempo e situado no espaço, chega a universalizar-se, quer dizer, a encarnar, ao seu modo, o sentido absoluto que ele encontra e que mostra ter agido desde o início não apenas da narrativa, mas de toda a existência do autor. Os leitores têm diante de si um caminho que eles também podem percorrer, a fim de encontrar e encarnar o mesmo sentido absoluto. Assim também, a narrativa da “Vida de uma família judia” e os outros escritos “autobiográficos” de Edith Stein contêm mais do que um simples registro de acontecimentos familiares e pessoais, porque apresentam quadros nos quais se observa a ação do sentido absoluto que Edith Stein havia encontrado no momento em que escrevia e que ela percebia ter agido desde o início de sua vida e da vida de sua família: a Providência Divina ou o ordenamento sagrado que faz a História encaminhar-se sempre para o bem, malgrado a presença multifacetada do sofrimento e da dor. Dessa perspectiva, é interessante notar que, se em Filosofia Edith Stein procede a um acionamento de estilos clássicos — antigos e medievais — para lançar luz sobre temáticas fenomenológicas, também em seus escritos “autobiográficos” ela recupera um tipo clássico de narrativa biográfica em que o universal é o verdadeiro sujeito, e não o particular.
Edith Stein iniciou a redação da “Vida de uma família judia” em 1933, ano em que os nazistas chegaram ao poder. Ela teve de deixar o Instituto Alemão de Pedagogia Científica de Münster, onde lecionava, o que a motivou a servir-se daquela ocasião para seguir o chamado interior que sentia desde 1921, quando foi batizada depois de sua conversão à fé cristã: entrar no Carmelo. A vida na clausura não significava para ela uma ruptura com o mundo, menos ainda um gesto egoísta de sobrevivência em meio ao horror: ela era movida a um só tempo por sua vocação monástica e por uma sólida convicção de que permaneceria profundamente unida à sua família, ao povo judeu, à Europa e enfim a toda a Humanidade. Como ela afirma em uma carta dirigida a Fritz Kaufmann, em 14 de maio de 1934, quem entra no Carmelo não se distancia das pessoas, pois sua existência se converte em benefício para elas, uma vez que o papel das carmelitas é permanecer diante de Deus, orando por todos.
Ao ser aceita no Carmelo de Colônia, Edith Stein residiu durante um mês na hospedaria do mosteiro, fora da clausura. Em seguida, foi à casa de sua família, em Breslávia, para despedir-se antes de retornar definitivamente para o Carmelo. Foi a ocasião da visita à sua família que lhe permitiu recolher as memórias de sua mãe e iniciar a redação da primeira parte da “Vida de uma família judia”. O motivo imediato de sua escrita, para além de um simples registro — como já foi dito —, foi o desejo de retratar a vida de uma família judia semelhante à imensa maioria das famílias alemãs, desmentindo, assim, a caricatura que os nazistas impunham aos judeus. Mais do que um desejo, tratava-se de um dever para Edith Stein, contribuindo para o fim do ódio racial entre os jovens, como ela diz na Introdução: “É para essa juventude e exatamente para ela que devemos dar testemunho, nós que crescemos no judaísmo”.
Em agosto de 1933, Edith Stein começa a reunir os elementos que lhe permitirão compor a sua narrativa. Em 14 de outubro do mesmo ano, ela passa a viver na clausura do Carmelo de Colônia e obtém autorização dos superiores para continuar a redação, mas em abril de 1935 teve de interrompê-la a pedido dos mesmos superiores, que insistiam para que ela retomasse o trabalho intitulado Potência e ato (escrito em poucos meses para o concurso de uma cátedra na Universidade de Friburgo, em 1931-1932), que acabou sendo transformado na obra maior Ser finito e eterno. Quando Edith Stein faz essa primeira interrupção, em 1935, o manuscrito da “Vida de uma família judia” contava com mais de mil páginas. No dia 7 de janeiro de 1939, já no Carmelo de Echt, na Holanda, Edith Stein retoma a redação, não produzindo, porém, mais do que quatorze folhas. No dia 27 de abril de 1939, Edith Stein interrompe definitivamente a redação. Em 1940, quando a Holanda foi invadida pelos nazistas, Edith Stein enterrou seu manuscrito na clausura do mosteiro. Uma das irmãs o desenterrou e escondeu em um lugar mais seguro, de modo que o manuscrito permaneceu no Carmelo de Echt até 1945. Após a guerra, ele foi entregue ao Arquivo Carmelita de Bruxelas e hoje se encontra no Arquivo Edith Stein de Colônia, contando com 1086 páginas escritas à mão, mais 51 datilografadas. Por fim, acontecimentos de diferentes naturezas (principalmente ligados à Segunda Guerra Mundial) fizeram que o manuscrito ficasse incompleto: foram perdidas 32 páginas do capítulo III.
Por fim, vale chamar a atenção para o fato de que a redação de Edith Stein não segue necessariamente uma linearidade cronológica, de modo que cada parte da “Vida de uma família judia” tem sua unidade própria. Por exemplo, no capítulo III, embora sua narrativa se concentre em 1902, Edith Stein deixa-se levar por lembranças familiares que saltam para 1920. Depois, ela retorna a 1905 no capítulo seguinte.
Idas e vindas temporais marcam, então, a narrativa steiniana do início ao fim, reproduzindo o movimento mesmo com que as unidades de sentido formam uma unidade maior no fluxo constante que compõe a trama da consciência individual. A redação de Edith Stein é, por isso, no sentido mais nobre do termo, uma redação humilde, posta consciente e deliberadamente ao serviço do Lógos ou Sentido que ela encontra em sua odisseia pessoal. Ler esses textos é, em definitivo, muito mais do que pôr-se em contato com uma narrativa “biográfica”; é entrar em um território onde ressoam as palavras do Êxodo: Retira tuas sandálias, pois o lugar onde pisas é uma terra santa! (Ex 3,6).
Juvenal Savian Filho – Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. Doutor em Filosofia. E-mail: juvenal.savian@unifesp.br
[DR]
Écrire sa vie: du pacte au patrimoine autobiographique | Philippe Lejeune
Em 120 páginas, Philippe Lejeune propõe ao leitor uma espécie de retrospectiva acadêmica de mais de 40 anos de trabalho. Pode parecer radical, mas é exatamente esse o percurso sugerido pelas quatro conferências e por uma entrevista, selecionadas para compor o pequeno livro. É, pois, uma versão sintética de suas maiores descobertas que aborda a transformação de um hobby em militância. Nesse volume, os leitores são convidados a descobrir os anseios desse pesquisador, os seus desafios e as conquistas que o tornaram, pouco a pouco, o “papa da autobiografia”.
Respeitando o “estilo Lejeune de se escrever”, em que encontramos sua própria figura multiplicada pelos papéis de pesquisador, professor, praticante de diários, crítico e outros (COELHO-PACE, 2012), a leitura é conduzida por uma espécie de “pesquisador autobiógrafo” que se permite dizer “eu”, pois já não fala da autobiografia como um objeto distante, mas como parte de si mesmo e de suas vivências. Assim, nesse tom confessional, seus textos tentam, também, aproximar-nos desse universo simples e místico que é a escrita de si. Leia Mais
A vista particular | Ricardo Lísias
Centro de Livre Expressão (CLE), intervenção na Praça da Sé, em São Paulo, intitulada Páginas Escolhidas, um dos pré-eventos que anunciavam o Evento de Fim de Década, 1979.
A arte como intervenção é uma questão antiga, embora siga atual e relevante. E a literatura desempenha um papel muito especial nesse debate. Se o paradigma da ficção realista vem fazendo água há tanto tempo, é porque modernamente não caberia mais, à literatura, reproduzir com fidelidade o mundo. Ninguém hoje defende o romance como grande mural da sociedade burguesa, como se lhe coubesse, exclusivamente, desvendar o drama do sujeito num mundo individualizado. De forma diversa, o escritor moderno instaura, em pleno gozo do caráter artificial de sua produção, um outro mundo, encravando-o no que cotidianamente chamamos de realidade. Resta lembrar que o “modernamente”, aqui, refere-se a um projeto mais que centenário de literatura moderna. Ou talvez se trate de uma potência ainda mais antiga, que aponta para os primeiros tempos do que orgulhosamente chamamos de era moderna. Mesmo evitando a mitologia dos momentos fundacionais, é difícil escapar da ideia de que Cervantes terá sido um dos primeiros autores a brincar livremente com as traves do próprio artifício literário, vendo nelas uma espécie de prisão fantástica, invenção que ameaça tomar o sujeito para transformá-lo em outra coisa. Ninguém escapa do mundo ficcional moderno: nem os personagens, nem o escritor, que se torna, ele mesmo, personagem.
O trabalho minucioso diante dos limites da ficção não é novo para Ricardo Lísias. Mas está claro, ao menos para o autor, que o rótulo da “autoficção” é insuficiente para compreender sua prosa. Para além do debate sobre a autobiografia, o que está em questão, no caso de Lísias, não é a contaminação do texto pela “realidade” vivida pelo autor, mas sim a possibilidade de se inventar um mundo completamente diferente do nosso, embora, ao mesmo tempo, incrivelmente próximo e passível de reconhecimento. É como se identificássemos cada milímetro do que é narrado, enquanto somos levados, sub-repticiamente, a um universo de absurdos que nos faz pensar que o que vemos através das lentes da ficção não é real. Ou será real? Leia Mais
O alfaiate de Ulm: uma possível história do Partido Comunista Italiano – MAGRI (RBH)
MAGRI, Lucio. O alfaiate de Ulm: uma possível história do Partido Comunista Italiano. Boitempo, São Paulo: 2014. 415p. Resenha de: POMAR, Valter. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.
O alfaiate de Ulm é a última obra de Lucio Magri (1932-2011), intelectual comunista italiano e um dos responsáveis pela criação de Il Manifesto, periódico lançado em 1969 e que segue sendo publicado (http://ilmanifesto.info/).
O alfaiate de Ulm pode ser lido em várias claves: relato autobiográfico e testamento político, panorama do século XX, ensaio sobre a história e as perspectivas do movimento comunista italiano (especialmente o apêndice, um documento de 1987 intitulado “Uma nova identidade comunista”).
O movimento comunista da Itália tem gênese histórica distinta, onde confluem as características próprias daquele país, o impacto da revolução russa de 1917, a luta contra o fascismo e as batalhas da Guerra Fria.
Nesse contexto, o Partido Comunista não foi apenas uma organização política: foi também uma instituição cultural com imenso enraizamento na classe trabalhadora, na juventude e na intelectualidade, que teve na obra de Antonio Gramsci sua feição teórica mais conhecida e reconhecida.
Apesar disso tudo – ou por causa disso tudo, como fica claro da leitura de O alfaite de Ulm – o Partido Comunista Italiano cometeu suicídio em 1989.
Diferente das pequenas seitas militantes, que conseguem sobreviver em condições variadas e inóspitas, os partidos de massa parecem sobreviver apenas em determinadas condições. E como demonstra Lucio Magri, várias das condições que tornaram possível a existência de um forte comunismo reformista italiano e europeu desapareceram com a União Soviética e com a reestruturação capitalista simultânea à ofensiva neoliberal.
Dito de outra forma, a força das duas grandes famílias da esquerda europeia (o reformismo social-democrata e o reformismo comunista), assim como o brilho dos grupos de ultraesquerda que viviam à sombra daquele duplo reformismo, dependiam das condições “político-ecológicas” existentes na Europa enquanto durou a chamada bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos.
Quando esse conflito cessou, com a vitória dos Estados Unidos, a social-democracia experimentou uma deriva neoliberal, e o reformismo comunista, uma deriva social-democratizante.
Claro que esse não foi um processo uniforme. Uma das qualidades de O alfaiate de Ulm é apresentar uma interpretação do que teria ocorrido no caso italiano. Vale destacar esta palavra: interpretação. Há muitas outras interpretações, e sempre haverá o que estudar acerca das desventuras em série que atingiram o movimento comunista, o conjunto da esquerda e da classe trabalhadora, especialmente na Europa dos anos 1980 e 1990. A Itália constitui caso destacado, em boa medida pelo fato de lá estar baseado o tantas vezes denominado de maior partido comunista do Ocidente.
O alfaiate de Ulm pode ser lido com muito proveito por quem tem interesse em compreender os dilemas da classe trabalhadora, da esquerda brasileira e especialmente do Partido dos Trabalhadores.
Época e circunstâncias muito diferentes, obviamente. A começar pelo fato de que as variáveis internacionais que fortaleciam o reformismo social-democrata e comunista na Europa produziam efeitos muito distintos na América Latina e no Caribe, inclusive no Brasil.
Isso ajuda a entender por que, na mesma época em que o PCI cometia suicídio, abandonando suas tradições e até mesmo seu nome, o Partido dos Trabalhadores estava convertendo-se em força hegemônica na esquerda brasileira.
Guardadas essas diferenças, é impossível não enxergar certas semelhanças entre os dilemas vividos pelo Partido Comunista Italiano nos anos 1970 e 1980 e os impasses vividos mais de 20 anos depois pelo Partido dos Trabalhadores brasileiro.
Os dilemas do PCI são descritos detalhadamente em O alfaiate de Ulm. Segundo Lucio Magri, a “peculiaridade do PCI … era a de ser um ‘partido de massas’ que ‘fazia política’ e agia no país, mas também se instalava nas instituições e as usava para conseguir resultados e construir alianças” (p.333).
Magri demonstra que a atuação na institucionalidade não foi apenas uma estratégia. Mais do que isso, converteu o PCI em parte estrutural do Estado italiano, naquilo que Magri chama de um “elemento constitutivo de uma via democrática. Uma medalha que, no entanto, tinha um reverso” (p.333).
Esse “reverso”, que soa tão familiar aos que acompanham as vicissitudes atuais da esquerda brasileira, é assim apresentado por Lucio Magri:
Não me refiro apenas ou sobretudo às tentações do parlamentarismo, à obsessão de chegar a todo custo ao governo, mas a um processo mais lento. No decorrer das décadas, e em particular em uma fase de grande transformação social e cultural, um partido de massas é mais do que necessário, assim como sua capacidade de se colocar problemas de governo. Mas, por essa mesma transformação, ele é molecularmente modificado em sua própria composição material. (p.333)
Talvez esteja nisto a maior contribuição de O alfaiate de Ulm: essa abordagem profundamente histórica da vida de um partido político, ou seja, a compreensão de que a história de um partido só pode ser adequadamente compreendida como parte da história de uma sociedade, enquanto processo integrado entre as opções estritamente políticas, as tradições culturais e as relações sociais mais profundas, num ambiente nacional e internacional determinado.
A descrição que Lucio Magri faz do processo de seleção e promoção dos dirigentes partidários fala por si:
a formação de novas gerações, mesmo entre as classes subalternas, ocorria sobretudo na escola de massas e mais ainda por intermédio da indústria cultural; os estilos de vida e os consumos envolviam toda a sociedade, inclusive os que não tinham acesso a eles, mas alimentam a esperança de tê-lo; as “casamatas” do poder político cresciam em importância, mas descentralizavam-se e favoreciam aqueles que ocupavam as sedes; a classe política, mesmo quando permanecia na oposição e incorrupta, à medida que a histeria anticomunista diminuía, criava relações cotidianas de amizade, amálgama, hábitos e linguagem com a classe dirigente. (p.333)
Essa “mescla de costumes” da “classe política” com a “classe dirigente”, como sabemos, não é uma peculiaridade italiana. Tampouco seus efeitos organizativos, assim descritos por Magri:
as seções não estavam mais acostumadas a funcionar como sede de trabalho das massas, de formação cotidiana de quadros; eram extraordinariamente ativas apenas na organização das festas do Unità, e mais ainda nos períodos de eleição nacional e local; as células nos locais de trabalho eram poucas e delegavam quase tudo ao sindicato. Nos grupos dirigentes, a distribuição dos papéis havia mudado muito: o maior peso e a seleção dos melhores haviam se transferido das funções políticas para as funções administrativas (municípios, regiões e organizações paralelas, como as cooperativas). Portanto, mais competência e menos paixão política, mais pragmatismo e horizonte político mais limitado. Os intelectuais sentiam-se estimulados para o debate, mas sua participação na organização política havia declinado e o próprio debate entre eles era frequentemente eclético. A exceção era o setor feminino, em que um vínculo direto entre cúpula e base criava uma agitação fecunda. (p.334)
Noutras palavras, Lucio Magri descreve como as transformações “moleculares” causaram uma metamorfose no Partido Comunista: pouco a pouco foi deixando de ser um fator de subversão, transformando-se em peça importante na engrenagem do Estado e da política italiana. Uma peça diferente das outras, como demonstraria a Operação Mãos Limpas, a qual confirmaria que o PCI soubera resistir à corrupção sistêmica. Mas uma peça da engrenagem, como demonstra o fato de o PCI não ter sobrevivido ao colapso da estrutura política italiana.
Nesse sentido, a interpretação feita por Lucio Magri parece demonstrar que o Partido Comunista Italiano não foi vítima do fracasso, mas sim do sucesso da “estratégia” que alguns denominaram, na Itália e aqui no Brasil, de “melhorista”.
Essa estratégia não apenas melhorou a vida da classe trabalhadora italiana, como converteu o comunismo numa força influente e vista como ameaçadora pela classe dominante e pelos Estados Unidos, que atuaram tanto aberta quanto secretamente para evitar o êxito da aliança entre o PCI e a Democracia Cristã. Lucio Magri trata dessas operações, especialmente visíveis no caso Aldo Moro.
Bloqueado pela direita, o PCI tentou – sob a direção de Berlinguer – uma saída pela esquerda. Os capítulos que tratam dessa fase são talvez os mais interessantes de O alfaiate de Ulm, em parte por discutirem se a história poderia ter seguido um caminho diferente.
Como sabemos, entretanto, não foi isso o que ocorreu. Ao longo dos anos 1970 e 1980, alteraram-se profundamente os parâmetros dentro dos quais se movera a política no pós-Segunda Guerra Mundial, tanto na Itália quanto no mundo. O PCI não conseguiria chegar ao poder nos marcos daqueles parâmetros em vias de desaparecimento. Não conseguiria tampouco defendê-los frente à ofensiva neoliberal e à crise do socialismo. Nem conseguiria sobreviver para atuar nas novas condições.
Lucio Magri descreve, num tom profundamente autocrítico e em certo momento impiedoso consigo mesmo, as opções feitas pela maioria dirigente do PCI, que levaram à mudança do nome e das tradições políticas e culturais do Partido. Mostra como havia energias vivas na base militante do comunismo italiano, energias que não foram suficientes para dar vida ao projeto da Refundação Comunista.
Enfim, pelo que descreve, pelas conclusões a que chega e pelas perguntas que deixa, O alfaiate de Ulm de Lucio Magri é leitura mais do que relevante para os que têm interesse em compreender os dilemas atuais do Partido dos Trabalhadores e do conjunto da esquerda e os rumos da política brasileira neste terceiro milênio.
Valter Pomar – Doutor em História Econômica, Universidade de São Paulo (USP). Professor de economia política internacional no Bacharelado de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Universidade Federal do ABC. São Bernardo do Campo, SP, Brasil. E-mail: pomar.valter@gmail.com.
[IF]
La nueva educación: Los retos y desafíos de un maestro de hoy – BONA (I-DCSGH)
BONA, C. La nueva educación: Los retos y desafíos de un maestro de hoy. Barcelona: Plaza & Janés, 2015. Resenha de: GARCÍA ANDRÉS, Joaquín. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.84, p.83-84, jul., 2016.
Esta estimulante autobiografía profesional del maestro aragonés César Bona (Ainzón, 1971) resume sus últimos seis años como docente en la escuela pública que, recogidos inicialmente en un vídeo, le permitieron optar al premio Global Teacher Prize, lo que le supuso ser seleccionado entre los cincuenta mejores docentes del mundo el pasado año.
Como desde un primer momento el autor explica con un lenguaje claro, fl uido, directo y ameno, en estas páginas sólo encontraremos «ideas sencillas y básicas que a veces se nos olvidan» y que, en consecuencia, no necesariamente han de resultar novedosas pero sí renovadoras. Por eso mismo gozan de un valor muy singular, en la medida en que devuelven al primer plano de las necesidades educativas ideas «viejas» para esa escuela «nueva» a la que se aspira. De hecho las páginas están salpicadas de aforismos y extractos del propio texto que resumen en pocas palabras su forma de entender la enseñanza, al tiempo que facilitan una rápida lectura. Ya sólo los títulos de cada uno de sus breves capítulos delatan de un modo didáctico sus ideas esenciales respecto a la educación, como por ejemplo: «Salir de uno mismo y hacerse preguntas», «De los libros a la acción», «Deberes y a dormir» o «Somos emociones». Puede decirse que el elenco de frases memorables es ciertamente amplio, tanto como orientador.
Partiendo de una concepción funcional de la escuela, orientada a facilitar la vida y no la mera consecución de unos objetivos de evaluación, su premisa esencial radica en confi ar en el poder de los alumnos, en su imaginación, creatividad y curiosidad. Unas características que, a su vez, Bona asume como condiciones básicas que deberían compartir los docentes, a quienes exhorta a transformarse en personas curiosas, con deseos de aprender de todo lo que nos rodea. De ahí que una de las motivaciones que, aprovechando su proyección mediática, le han llevado a desvelar públicamente sus pensamientos, concepciones y convicciones sea, precisamente, la de invitar al lector a redescubrir que la esencia de la profesión docente no radica tanto en tener vocación y conocimientos como en saberlos compartir. Ideas sobre el sentido de las tareas, el fomento de la lectura, el trabajo en escuelas unitarias, el papel de las familias, la formación docente o la educación emocional, son algunos ejemplos de sus inquietudes y preocupaciones.
Pero también las hay sobre la organización y la gestión del aula, la convivencia, la disciplina o la participación activa. A lo largo de este personal periplo y a través de algunas de sus experiencias más singulares y llamativas, podremos conocer de primera mano –y aprender con ello– proyectos y actividades innovadoras, algunas ciertamente evocadoras, como sus llamadas «historias surrealistas», desde la considerable valoración que el propio Bona otorga a esta dimensión de la imaginación humana. Pese a la singularidad de cada una de ellas, en todas es posible advertir el fermento común que las alimenta: la actitud, muy particularmente la del respeto, pero también la de la autoexigencia y la autocrítica, tanto de los estudiantes como, sobre todo, de sus profesores.
Sin lugar a dudas la palabra actitud es una de las que más se repite, siempre en clave positiva y en torno al esfuerzo, la tolerancia y la pasión por lo que se hace, a ser posible de una forma contagiosa.
Porque, según sus propias palabras, «nuestra actitud, la forma de ver las cosas y cómo las conduzcamos a la hora de sentir y vivir toda experiencia en nuestra compañía les marcará para siempre» (p. 65).
No en vano, de nuestra profesión salen todas las demás y, en tal sentido, considera que los docentes somos unos privilegiados que tenemos al alcance la posibilidad de convivir con la imaginación, la ilusión y la inspiración, la que nos proporciona nuestro alumnado, y de las que podemos obtener nuevas e inspiradoras ideas. Un privilegio del que nace una responsabilidad recíproca: la de estimular la creatividad y la curiosidad.
En connivencia con la actitud, otros dos pilares esenciales en torno a los cuales este maestro hace pivotar su práctica escolar son la sensibilidad y la empatía, invitando al lector a meterse en la piel de los aprendices y hacer que se sientan importantes; porque lo son. Así lo evidencian experiencias como la realización de un cortometraje mudo que logró reconciliar a dos familias enfrentadas del pueblo en el que ejercía, o la creación de una sociedad protectora de animales para evitar la actuación de animales vivos en el circo, que ha sido amadrinada por la primatóloga Jane Goodall, entre muchas otras.
Siguiendo su consejo, «cualquier cosa puede inspirarte, una canción, una línea mal dibujada, una frase, un dibujo: en eso radica la maravilla, en mirar todo a nuestro alrededor como una oportunidad para crear» (p. 163). Espero que estas últimas palabras sirvan de aliento para provocar el interés por este libro, cuya lectura es tan fácil, tan provechosa e inspiradora como recomendable. En definitiva, un libro como su autor: sobresaliente.
Joaquín García Andrés – E-mail: jgandres@ubu.es
[IF]Pesquisa (Auto)Biográfica | ABPAB | 2016
A Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica (Salvador, 2016-) é um periódico quadrimestral, publicado pela Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica (BIOgraph), que tem por principal objetivo a publicação de artigos acadêmico-científicos inéditos, que aprofundem e sistematizem a pesquisa empírica com fontes biográficas e autobiográficas, assim como de caráter epistemológico, teórico-metodológico, visando a fomentar e promover o intercâmbio entre pesquisadores brasileiros e de outros países, no âmbito do movimento biográfico internacional, como política de socialização de estudos vinculados à pesquisa (auto)biográfica em Educação.
Periodicidade quadrimestral.
Acesso livre.
ISSN 2525-426X
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Uma vida humana – COSTA (RFMC)
COSTA, Uriel da. Uma vida humana. Tradução, posfácio e notas de João Alberto da Costa Pinto. Goiânia: Editora da Universidade de Goiás, 2015. Resenha de: RUFINONI, Priscila Rossinetti. Revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, Brasília, v.3, p. 171-175, n.2, 2015.
Entre dois anjos: Gabriel-Uriel da Costa
O pequeno livro que a UFG dá a público, na tradução de João Alberto da Costa Pinto, em edição do selo Todo Tipo, é um documento estranho da história da filosofia. Escrito provavelmente em 1640, em latim, com o título Exemplar humanae vitae, trata-se não apenas de um opúsculo de debate teológico, ou canônico, mas da suposta carta de um suicida que, após o desenlace fatal, foi reproduzida por cultores e detratores do judaísmo. Não temos, portanto, o texto pela mão de Uriel, mas citado por outrem. Na encruzilhada de um opúsculo confessional, embora apócrifo, o texto quer dar forma a uma vida, concedendo-lhe, não necessariamente essência, mas o sentido natural de uma conclusão honrada. Assim, não é exatamente a carta de um suicida. Aliás, como bem atenta Cecília Michaëlis de Vasconcelos, o vocábulo “suicida”, de origem francesa e posterior ao acontecido, não se aplica aqui tão certamente quanto o próprio latino homicidium sui, ou o grego eutanásia (VASCONCELOS, 1922: 56).
Que não se espere, entretanto, texto apressado, escrito no calor da hora, ou composição retórica confessional. Apesar de sabermos, por comentadores e pelo próprio Uriel da Costa, que este conhecia e compunha bem em latim, ou seja, que era versado na arte da escrita, não se trata de uma peça de retórica confessional, composta sob essas regras (cf MORDOCH, 2011: 23). Bem composto, claro e conciso nos detalhes narrativos, o opúsculo é antes uma exposição de ideias, um testamento intelectual. A tradução da UFG, ao apostar nesse sentido, concede ao texto uma espécie de ardor desapaixonado, cujo contraste com a tradução da edição de Braga, por exemplo, nos leva a aquilatar as escolhas do tradutor. Compare-se os dois trechos finais. Na edição de Braga, em tradução de Castelo Branco Chaves, com acento mais quente, pelo uso de fórmulas como “vão espetáculo”, “que vosso coração pese na balança” e “demônios”:
Tal é a verídica narração da minha vida. A personagem que representei no vão espetáculo do mundo, durante esta pobre vida, expu-la aos vossos olhos. E agora, filhos dos homens, que vossa justiça julgue, sem que vosso coração pese na balança. Acima de tudo, pronunciai uma sentença livre e conforme a verdade. É isso que incumbe aos homens dignos de tal nome. Se a narração da minha vida vos oferece alguma coisa que mereça a vossa comiseração, reconhecei a miséria da condição humana e chorai, lembrando-vos que vós próprios dela participai. E para que tudo fique dito, revelarei que em Portugal, como cristão, me chamava Gabriel da Costa, e entre judeus (e que demónios me conduziu para eles?), Uriel. (COSTA, 1995: 584)
E o mesmo parágrafo final, na presente edição brasileira, contida no uso dos termos e metáforas:
Aqui tendes a verdadeira história da minha vida e a personagem que no teatro do mundo tem interpretado ao longo de uma honesta e sempre insegura vida está aqui apresentado diante de vós. Julgai-me agora corretamente, filhos dos homens e sem emoção alguma, emitam então uma sentença verdadeira, isto é um julgamento particularmente digno dos homens que realmente merecem esse nome. E, se alguma coisa encontrardes que vos arraste á comiseração, e deplorai a miserável condição humana da qual também sois participantes. E para que nada falte nesse julgamento, meu nome, o nome cristão que tive em Portugal era Gabriel da Costa. Entre judeus, oxalá nunca os tivesse encontrado, foi ligeiramente modificado, fui chamado Uriel. (COSTA, 2015: 33)
O texto traz a narrativa dessa vida exemplar, tornada destino pela eutanásia, um todo fechado que se abre ao juízo do leitor. Narra-se a vida de Gabriel da Costa, nascido no Porto, de pai cristão novo. Faz questão de frisar, este narrador Gabriel, que o pai era bom cristão. Também o narrador, criado nos evangelhos, era cristão devoto, não seguia o rito apenas pela necessidade formal de todo converso, necessidade provavelmente comum entre a comunidade de comerciantes judeus a que a família dos Costas pertencia, ditos em Portugal “gente da nação” ou “homens de negócio”. Gabriel estudou direito canônico, foi jurista, como bem explica Cecília Michaëlis, não necessariamente uma advogado formado, mas estudante de direito, especialmente direito canônico, com idas e vindas pela Universidade de Coimbra, atestando, talvez, já as indecisões e dúvidas que o moveriam durante sua vida. Cecília Michaëlis, em sua biografia, prefere então chamá-lo “canonista”, ou seja, estudioso das leis religiosas. O próprio Uriel, por sua vez, em seu texto Exame das tradições farisaicas, se diz “jurista hebreu”. Nesse contexto antes de tudo acadêmico, é a comparação racional entre os evangelhos, com suas minúcias intrincadas, e a clareza da lei mosaica original, que leva o cristão à reconversão ao judaísmo. Ou seja, a volta ao judaísmo original não se dá, pelo menos segundo a carta, por qualquer atavismo ou por resquícios da antiga prática religiosa arraigada à vida familiar. Segundo o texto, não eram os Costas, como se diria à época, judaizantes, acusação que levaria à condenação, anos depois, de outro famoso escritor judeu de língua portuguesa, o dramaturgo brasileiro Antônio José da Silva, dito “o judeu”.
Não se descartam, evidentemente, outras hipóteses, não contempladas pelo racionalismo piedoso desse Uriel narrador: os irmãos também o seguem na reconversão ao judaísmo, movidos quem sabe pelas facilidades da vida religiosa e do comércio na comunidade judaica livre de Amsterdã. Sabe-se das dificuldades dos judeus conversos na Península ibérica, exilar-se e reconverter-se não deve ter sido incomum na Europa do século XVII (cf MORDOCH, 2011: 14). O fato é que no texto de Uriel, não se elencam problemas pessoais ou de negócios, sabemos por este apenas que emigrou com a mãe, seus irmãos e irmã, após a morte de seu pai que lhe fez então chefe da família. Das intenções dos irmãos, das dificuldades, dos debates familiares, das relações cotidianas com as tradições judaizantes (ou não), quase nenhuma menção. Não há nem mesmo menção ao desfecho da vida de sua mãe, Branca Dinis da Costa ou Sara da Costa, também excomungada por segui-lo. Não há pois muito de uma confissão pessoal, de biografia no sentido lato, da narrativa dos atos de uma pessoa e de seus haveres com a fortuna. Assim que chegou a Amsterdã com a família, só nos dá notícia de que continuou seu trabalho canônico de pesquisar e estudar a fundo as leis divinas.
Mas, a religião judaica, após anos de cismas e êxodos, também havia se tornado outra, permeada de apêndices à lei mosaica, de leis convencionais de tradição oral, de hierarquias e mesmo preconceitos quanto às origens dos judeus. Na sua breve apresentação de Espinosa, Marilena Chauí nos dá um fino relato das divergências histórico/canônicas em voga na Amsterdã do século XVII. Dividiam-se em classes sefarditas de sangue ibérico e os demais judeus não ibéricos, dividiam-se marranos e não-marranos, divisões que davam cor político-social às querelas religiosas entre racionalistas e materialistas, cultores da lei mosaica original, e os fariseus, ligados à lei oral e rabínica:
Dividia-se por fim, religiosa e teologicamente, entre fundamentalistas tradicionais e deístas racionais, e entre talmudistas e cabalistas místicos. A divisão religiosa recobria e dominava as divergência socais e políticas, dadas as peculiaridades de uma comunidade que não possuía autonomia política, e não constituía propriamente um Estado e cujos costumes eram regulados pela religião e por tradições teocráticas. (CHAUÍ, 1995: 16)
No livro ora comentado, o tradutor, João Alberto da Costa Pinto, professor de História da UFG, também expõe em perspectiva histórica os vários cismas, as sinagogas, enfim o lugar no qual aportou esse Gabriel-Uriel cristão novo ex-converso. O posfácio e as notas de João Alberto da Costa Pinto, esclarecedores, têm ainda o mérito de facultar ao leitor uma bibliografia acessível, no mais das vezes de viés histórico. Talvez por essa escolha histórica não conste da publicação remissão à também acessível apresentação de Espinosa, aqui citada. Entre as lembranças dignas de nota, o tradutor remete ao livro da escritora portuguesa Agustina Bessa-Luís, Um Bicho da terra, biografia romanceada do nosso escritor. 1 Apenas um senão quanto à remissão às demais obras de Uriel da Costa: é difícil saber, pelo posfácio ou pelas notas, se há outras obras que escaparam, como esta, da perseguição e da fogueira2 , e a menção ao livro no qual estão compilados capítulos das obras de Uriel, de Samuel da Silva, não consta da bibliografia final. Há um texto que vem referido como Costa, 1995, na página 39, mas tal referência também não se encontra listada na bibliografia. Acreditamos tratar-se do volume publicado em Braga que citamos. Outra questão sobre as obras de que sentimos falta seria uma discussão sobre o estatuto apócrifo do Exemplar (c f MORDOCH, 2011). Apenas detalhes fáceis de se corrigirem numa próxima edição, como uma e outra gralha tipográfica.
Mas voltemos ao embate entre Uriel e os fariseus seus contemporâneos, tal como aparece no texto. Logo o autor percebe que as leis farisaicas, contras as quais escreve, muito se afastaram da original lei mosaica, sendo portanto leis históricas e humanas, como aquelas dos evangelhos que havia renegado em Portugal; e, no seu estudo incansável, mesmo os livros sagrados, as leis originais, se lhe afiguram eivados de contradições, humanas, demasiado humanas. A única lei a que podemos conceder divindade é a lei natural. O autor do testamento o diz com todas as letras. Não é difícil trazer à memória as preocupações de Espinosa com a historicidade muitas vezes imagética da Bíblia e da própria língua sagrada, o hebraico, premida entre a possibilidade de uma exposição geométrica e a experiência dialetal do falante (SANTIAGO, 2013).
O resto da história, muito já se comentou. Uriel é condenado várias vezes, em Hamburgo, Veneza e Amsterdã, – fatos aos quais o narrador também não acrescenta detalhe em sua Vitae – é separado da comunidade, apartado dos irmãos, impedido de contrair um segundo casamento e constituir uma família. Em 1640, diante da sinagoga, e talvez dos olhos de um menino chamado Bento Espinosa, todos o dizem, o homem se retrata, lê a infame confissão que para ele escreveram, é açoitado, pisoteado. Em seguida, apesar de reaproximado da comunidade, prefere tirar a própria vida. Por que teria aceitado tal humilhação, se na confissão final não há a mais mínima sombra quanto a suas convicções? Por atavismos lusitanos, como sugerem uns, por covardia, como querem outros? Seria, por outro lado, o texto apócrifo eivado de apêndices posteriores, estranhos à pena do Uriel histórico? 3
Não é o caso de se condenar ainda outras vezes o autor. Longe do homem, fiquemos com a letra. Quando Uriel aceita, ao fim de longos 7 anos, depois de uma condenação anterior de mais 15 anos, passar pela humilhação da confissão na sinagoga, talvez o tenha feito em nome de suas convicções, conforme a confissão deixa entrever. Em nome daquela lei divina, natural, que une em laços afetivos pai e filhos, irmãos, amigos e amantes, uma lei simples, para a qual nenhum deus poderia solicitar o absurdo do sacrifício de Abraão; supremo sacrifício ao qual condenaram o próprio Uriel por anos, o de ser espicaçado pelos irmãos e amigos. Uma lei de afetos, forte, firme, lei de bicho da terra, lei sem Bem e Mal, que não condenaria nem mesmo o ódio que alguns creditam a Uriel contra seu denunciante4. Esses afetos tornariam uma sociedade coesa, feliz; essa lei faria viver livre o cidadão, mais que qualquer fariseu ou cristão, ao permitir “proclamar-se simplesmente homem”. Nas palavras do próprio narrador:
Afirmo que essa lei é comum e inata para todo os homens, pelo fato mesmo de serem todos humanos. Ela liga todos entre si com mútuo amor impedindo divisões que é a causa original de todo ódio e dos maiores males. Ela é a mestra do bem viver porque distingue o justo do injusto, o abominável do belo.(COSTA, 2015: 26)
O comentário de João Alberto da Costa Pinto, no livro da UFG, aponta por fim para a filiação materialista dessa lei vislumbrada por Uriel. Ideias que serão, ao cabo de alguns anos, o fermento para renovadores como Espinosa, para as ideias de um deísmo ético, que frutificariam ainda nos séculos seguintes. Sejam ou não totalmente autorais, as ideias do Exemplar ainda assim refazem o fundo movediço das mudanças em curso. A edição da UFG é bem-vinda ao reapresentar ao público brasileiro esse documento estranho, cruel, signo vivo tanto do racionalismo cristalino do século XVII, como da turva intolerância, capaz de sobreviver mesmo nas sociedades mais livres.
Notas
1 Não deixa de ser notável, como escreve Mordoch, que Uriel da Costa tenha mais vida na ficção que no debate filosófico. São dignos de nota, além do romance de Agustina Bessa-Luís, a peça de Karl Gutzkow, Uriel Akosta, de 1846, e o interesse de Goethe pelo Exemplar.
2 Sabemos que se encontrou em Copenhague um exemplar único do Exames das tradições farisaicas, e que alguns capítulos de outra obra, destruída ou não publicada, principalmente a parte sobre a imortalidade da alma, foram compilados, com função de crítica, por Samuel da Silva. Assim, há apenas um texto que podemos creditar totalmente a da Costa: o exemplar de Copenhague, escrito em português
3 Neste sentido, escreve Mordoch: “Mas foi o famoso Exemplar Humanae Vitae o grande impulsionador dos estudos sobre Uriel da Costa. A já mencionada problemática quanto ao caráter semi-apócrifo dessa obra não impediu que a pesquisa o atribuísse a da Costa e, de fato, a leitura do Exame das tradições aponta coincidências que corroboram a autoria do Exemplar atribuída a da Costa. Alguns trechos específicos despertaram a desconfiança de que o Exemplar recebeu enxertos apócrifos, entre eles a descrição da cerimônia do erem (excomunhão) ou, de maneira geral, o modo como a narrativa tenta representar Uriel da Costa quase como um Cristo moderno”. (MORDOCH, 2011:8)
4 Cecília Michaëlis comenta os rumores de que Uriel teria atentado contra o primo que o denunciara e só então se suicidado, num ato de furor. Para a autora, os documentos nos quais assentam tal denuncia são espúrios e servem mais para abrandar o papel da sinagoga no desfecho da vida de Uriel
Referências
CHAUÍ, Marilena. Espinosa, uma filosofia da liberdade. São Paulo: Ática, 1995.
COSTA, Uriel da. Exame das tradições farisaicas, acrescido com Samuel da Silva, Tratado imortalidade da alma. Introdução, notas e carta genealógica por H. P. Salomon e I.S. D. Sassoon. Braga: Edições APPACDM, Distrital Braga, 1995.
MORDOCH, Gabriel. A Língua e o discurso do Exame das tradições phariseas de Uriel da Costa. Dissertação de mestrado. Universidade de Jerusalém, 2011.
SANTIAGO, Homero. “O Compêndio de gramática hebraica de Espinosa”. In: Trans/form/ação. Marília, nº 36, vol 2, 2013, p. 26-44.
VASCONCELOS, Cecília Michaëlis. Uriel da Costa. Notas relativas à sua vida e às suas obras. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1922 (Separata da Revista da Universidade de Coimbra, vol. VIII, nº 144).
Priscila Rossinetti Rufinoni – Professora adjunta – UnB.
Uma Arqueologia da Memória Social. Autobiografia de um Moleque de Fábrica | José de Souza Martins
O escritor da obra supracitada é um conhecidíssimo intelectual brasileiro, dono de um privilegiado currículo como professor de sociologia e pesquisador. José de Souza Martins aposentou-se como professor da Universidade de São Paulo (USP) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – em 2003, mas continua na ativa enquanto pesquisador e escritor. Talvez a obra mais conhecida deste sociólogo seja O Poder do Atraso1 (HUCITEC, 1994). Mas, além desta, são mais de vinte publicações desde o primeiro livro, quando José de Souza Martins tinha 18 anos e ainda era trabalhador numa fábrica de cerâmica em São Paulo.
A obra, aqui resenhada, é o seu mais recente livro e recebido (por essa sua leitora) com grata alegria, pois se trata de uma “escrita de si”, sensível, em que o autor articula trajetória pessoal, familiar, por meio de sua concepção de cultura, coletiva ou social. José de Souza Martins nos entrega, publicamente, sentimentos, segreda impressões sobre outros e sobre si mesmo em um “despudor” paradoxal, ou seja, maravilhoso e respeitoso. Ao terminar de ler, ficamos com a impressão de que, em alguma medida, a memória narrada por ele a nós também pertence (ou pelo menos, não é estranha a boa parte dos brasileiros que viveram o século XX).
Minha geração é a dos filhos da Era Vargas, a geração dos que viveram a grande e complicada transição do Brasil pós-escravista do café para o Brasil da grande indústria; a geração das crianças e adolescentes que nasceram para o trabalho precoce, de diferentes modos, segundo a situação social de cada um, presas do labirinto da transição social. (MARTINS, 1994, p. 447)
A obra em apreço se divide em 14 partes, tendo ainda um prólogo e uma conclusão, em que, numa teia intrincada de fatos e acontecimentos, José de Souza Martins vai desvendando a trama das memórias de sua família (portugueses, espanhóis e certa descendência muçulmana), “expulsa” da Europa pela pobreza, para trabalhar no Brasil na lavoura do café em São Paulo. O Sociólogo saiu à cata de saber quem é, comboiando o sentimento de ausência deixada com a morte do pai, quando o autor ainda tinha cinco anos de idade, comboiando silêncios em torno de curiosidades do mundo da infância não respondidas na época. E acrescenta ainda:
Nós que procedemos do grande e ignorado mundo dos pobres, seres residuais da sociedade tradicional e pré-moderna que foi largando suas gentes por caminhos e veredas da transição para o mundo moderno, nascemos coadjuvantes da trama da vida, no meio do drama que já estava sendo encenado. Nossas pressas pessoais só têm sentido na lentidão do acontecer histórico. (MARTINS, 1994, p. 443)
A narrativa de José de Souza Martins combina com as possíveis análises sobre “o ato de narrar”, como nas dimensões traçadas por Paul Ricouer,2 sendo que, para o filósofo, o vivido só faz sentido quando narrado, pois a narração apresenta uma compreensão desse mesmo vivido a quem narra, mas também a quem lê/escuta.
E, é assim que não falta na narrativa autobiográfica de Martins a análise acadêmica de seu autor, seus preceitos teóricos, metodológicos, suas visões de mundo. Nessa construção criativa, a todo o momento, José Martins coloca os trajetos pessoais dentro de uma perspectiva do social, o “eu” é ao mesmo tempo o “nós” e, nesse rico processo, nos explica a lenta ascensão familiar e assevera categoricamente:
Ninguém subia na vida sozinho […] O progresso individual como marco da modernização e das possibilidades pessoais na sociedade industrial é ficção. Só família, nunca sozinhas, ligadas a grupos sociais e instituições, como a vizinhança e, eventualmente, uma igreja, qualquer que seja ela. Sem essas referencias, a vida fica muito complicada (MARTINS, 1994, p. 281)
Retomamos, outrossim, Paul Ricoeur3 nas palavras do professor mineiro José Carlos Reis,4 no que concerne ao seu entendimento sobre a narrativa ricoueriana: “a necessidade em mim e fora de mim não é só percebida, representada, mas assumida como minha situação, minha condição desejante no mundo”. (REIS, 2011, p. 259) É assim, que nos parece, que o Sociólogo narra a sua história; ele cria, simultaneamente, uma teia social que denuncia e anuncia as suas próprias ideias para o futuro, diz-nos qual a sua “condição desejante no mundo”.
Esta narrativa autobiográfica é […] uma narrativa etnográfica, um documento e uma explicação, um entendimento do que se passou na formação da classe trabalhadora no Brasil, na perspectiva do testemunho e da experiência pessoal […] O passado não está tão longe assim. (MARTINS, 1994, p. 441)
É um Sociólogo militante. Ao narrar a sua trajetória, parece, ele mesmo, não acreditar que tenha chegado tão longe do destino posto ao “moleque de fábrica” que, ao nascer, foi levantado ao alto pelos braços do pai e vaticinado por este como futuro trabalhador de carpintaria. Tal história, contada muitas vezes por familiares, foi lembrada no momento do juramento em 1993 ao assumir a Cátedra Simón Bolívar da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Escreve:
Descobriríamos, então, que favelas, cortiços, bairros operários, vilarejos rurais, habitações isoladas da roça, estão cheios de crianças promissoras, que só precisam de uma oportunidade, como a que eu tive, para irem além dos limites sociais de seu nascimento. Certamente há, até mesmo, gênios potenciais nesses lugares do supostamente negativo. (MARTINS, 1994, p. 453)
A narrativa começa em um lugarejo em Portugal, em 1974, quando, já pesquisador, participa de um evento naquele país e decide, por conta própria, viajar para o interior com o objetivo de conhecer a cidade de nascimento do pai. Ao chegar ao vilarejo, realiza a primeira das descobertas que exibirá ao longo do enredo do livro: seu pai era filho de padre. Descobre-se, em meio a uma história de tabus, e compreende o silêncio dos familiares: “silêncio constrangedor”, “envergonhado”. E, nesse ponto da narração, mais precisamente na página 56 da obra em destaque, ele expõe a fotografia do avô padre, no caixão de morte e nos deixa comovidos, confidenciando: “foi assim que conheci meu avô”. (MARTINS, 1994, p. 57)
A partir daí, José de Souza Martins desenrola uma narrativa que apresenta os dois lados da família (paterna e materna), por meio de encontros com pessoas e objetos. Sua família se constrói no que o sociólogo diz ser um mundo de “certo realismo fantástico da cultura e nas mentalidades populares”; (MARTINS, 1994, p. 10) são pessoas (o autor, igualmente) que atravessaram o século XX, no limiar de representações de mundos díspares: o industrial e o artesanal; o urbano e o rural; o letrado e o analfabeto.
Trajetórias inseridas na problemática dos des-territorializados que são os migrantes (os simples, os pobres, os corridos), que perdem as referências de espaço e tempo coletivos e têm que refazer-se cultural e socialmente para darem conta de novas demandas. José Martins de Souza reflete:
A cronologia dos simples estende-se pelo longo e lento tempo da formação da sociedade moderna, o tempo que nos junta e nos separa. Por isso, o voltar atrás para compreender o incompreensível agora e o possível adiante. Bem pensadas as coisas, é a finitude que dá sentido ao que começa na vida e na história. (MARTINS, 1994, p. 10)
A história do pobre ganha sentido na história lenta e de longa duração, ocorrida no cotidiano do trabalho; o cientista social a desenha por meio das suas próprias experiências e de familiares no quadro, denominado pelo professor, como da cultura popular. Como no exemplo da avó materna, da qual ouvia a crônica familiar que chegava até o século XVIII: memórias dela e de outros que a mesma ouvira contar ou ouvira dizer.
Encontra, o autor, dimensões culturais do cotidiano, como a divisão do mundo do trabalho por gênero, mulher na cozinha e homem na roça; o trabalho infantil, dado certo na aprendizagem do pobre; os laços de compadrio, entre fazendeiros e colonos, na Europa e depois no Brasil, esticados para o paternalismo nas relações operário e patrão, já no mundo da fábrica e do urbano. É o escritor de Poder do Atraso (1994) nos alertando na sua condição de “desejante” para a continuidade de uma Sociedade e Estado, marcados pelo mando dos donos da terra e mantendo-se conservadora e clientelista na transição do mundo rural para o urbano.
Lembra-nos do “infanticídio involuntário” comum na vida dos pobres, exemplifica com um caso da própria mãe, que “furtara” o remédio para vermes reservado à irmã, pois o dinheiro só dava para comprar o purgante para uma das filhas. Na sequência, o autor divaga contando-nos, quando aluno do curso de Ciências Sociais e trabalhava no setor de pesquisas de mercado de uma grande empresa de leite em pó, teve evidências que o leite de um programa social destinado ao Nordeste do Brasil às crianças pobres, acabava consumido pelo marido/pai, com o argumento que era ele que trabalhava, portanto a necessidade de priorizá-lo com o melhor alimento.
Enfim, a obra de José de Souza Martins se propõe a ser uma autobiografia de uma criança e de um jovem, pois a narrativa se encerra pouco depois da sua saída da fábrica para tentar uma educação distante do mundo do operariado. Escreve-nos: “memórias de operários, sobretudo de operários-crianças, são certamente raras, se é que existem”. (MARTINS, 1994, p. 448) Alguns trabalhos hoje vêm problematizando a “invisibilidade” da criança e do jovem nas pesquisas acadêmicas, como de Helena Abramo e Lúcia Rabello Castro, ambas da psicologia. As Ciências Sociais também tem se interessado pelo tema, inclusive com a presença de simpósios temáticos e cursos de curta duração, em encontros da área e exemplificamos com o trabalho organizado pela historiadora Mary Del Priori (1999) “História da Criança no Brasil”.
É inegável que, entre os muitos aspectos na obra de José de Souza Martins que podem chamar a curiosidade ou a atenção privilegiada do leitor, salientei dois, que me comoveram mais fortemente na leitura desta obra: os aspectos relacionados à própria narrativa de si do autor e a sua perspectiva de dar visibilidade a uma fase da vida do ser humano considerada “nublada”, tanto no que diz respeito à historiografia quanto na experiência de vida de cada um de nós.
Mas, existem ainda outros aspectos significativos no livro do sociólogo que merecem ser conferidos por diferentes leitores, como é caso das grandes personagens que surgem página a página como o avô postiço, o próprio pai, sua tia Anna e tantos outros; e, principalmente, o próprio autor: o “moleque de fábrica” com sua astúcia diária.
Notas
1. MARTINS, J. S. O Poder do Atraso. São Paulo: Hucitec, 1994.
2. RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa. SP: Martins Fontes, 2010.
3. ______. Op. Cit., 2010.
4 REIS, José Carlos. História da “Consciência Histórica“ Ocidental Contemporânea. Belo Horizonte: Autentica, 2011, p. 259.
Ivaneide Barbosa Ulisses – Universidade Federal de Minas Gerais / Universidade Estadual do Ceará.
MARTINS, José de Souza. Uma Arqueologia da Memória Social. Autobiografia de um Moleque de Fábrica. São Paulo: Ateliêr Editorial, 2011. Resenha de: ULISSES, Ivaneide Barbosa. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.30, n.1, jan./jun. 2012. Acessar publicação original [DR]
Uma Arqueologia da Memória Social. Autobiografia de um Moleque de Fábrica | José de Souza Martins
O escritor da obra supracitada é um conhecidíssimo intelectual brasileiro, dono de um privilegiado currículo como professor de sociologia e pesquisador. José de Souza Martins aposentou-se como professor da Universidade de São Paulo (USP) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – em 2003, mas continua na ativa enquanto pesquisador e escritor. Talvez a obra mais conhecida deste sociólogo seja o “O Poder do Atraso” (MARTINS, 1994). Mas, além desta, são mais de vinte publicações desde o primeiro livro, quando José de Souza Martins tinha 18 anos e ainda era trabalhador numa fábrica de cerâmica em São Paulo.
A obra, aqui resenhada, é o seu mais recente livro e recebido (por essa, sua leitora) com grata alegria, pois se trata de uma “escrita de si”, sensível, em que o autor articula trajetória pessoal, familiar, por meio de sua concepção de cultura, cultura coletiva ou social. José de Souza Martins nos entrega, publicamente, sentimentos, segreda impressões sobre outros e sobre si mesmo em um “despudor” paradoxal, ou seja, maravilhoso e respeitoso. Ao terminar de ler, ficamos com a impressão de que, em alguma medida, a memória narrada por ele, a nós também pertence (ou pelo menos, não é estranha a boa parte dos brasileiros que viveram o século XX).
Minha geração é a dos filhos da Era Vargas, a geração dos que viveram a grande e complicada transição do Brasil pós-escravista do café para o Brasil da grande indústria; a geração das crianças e adolescentes que nasceram para o trabalho precoce, de diferentes modos, segundo a situação social de cada um, presas do labirinto da transição social (MARTINS, 1994, p. 447).
A obra, em apreço, se divide em 14 partes, tendo ainda um prólogo e uma conclusão, em que, numa teia intrincada de fatos e acontecimentos, José de Souza Martins vai desvendando a trama das memórias de sua família (portugueses, espanhóis e certa descendência muçulmana), “expulsa” da Europa pela pobreza, para trabalhar no Brasil na lavoura do café em São Paulo. O Sociólogo saiu à cata de saber quem é comboiando o sentimento de ausência deixada com a morte do pai, quando o autor ainda tinha cinco anos de idade, comboiando silêncios em torno de curiosidades do mundo da infância não respondidas na época. E acrescenta ainda:
Nós que procedemos do grande e ignorado mundo dos pobres, seres residuais da sociedade tradicional e pré-moderna que foi largando suas gentes por caminhos e veredas da transição para o mundo moderno, nascemos coadjuvantes da trama da vida, no meio do drama que já estava sendo encenado. Nossas pressas pessoais só têm sentido na lentidão do acontecer histórico (MARTINS, 1994, p. 443)
A narrativa de José de Souza Martins combina com as possíveis análises sobre “o ato de narrar”, como nas dimensões traçadas por Paul Ricouer (2010), sendo que para o filósofo, o vivido só faz sentido quando narrado, pois a narração apresenta uma compreensão desse mesmo vivido a quem narra, mas também a quem lê/ escuta.
E, é assim, que não falta na narrativa autobiográfica de Martins a análise acadêmica de seu autor, seus preceitos teóricos, metodológicos, suas visões de mundo. Nessa construção criativa, a todo o momento, José Martins coloca os trajetos pessoais dentro de uma perspectiva do social, o “eu” é ao mesmo tempo o “nós”, e nesse rico processo, nos explica a lenta ascensão familiar e assevera categoricamente:
Ninguém subia na vida sozinho […] O progresso individual como marco da modernização e das possibilidades pessoais na sociedade industrial é ficção. Só família, nunca sozinhas, ligadas a grupos sociais e instituições, como a vizinhança e, eventualmente, uma igreja, qualquer que seja ela. Sem essas referencias, a vida fica muito complicada (MARTINS, 1994, p. 281)
Retomamos, outrossim, Paul Ricoeur (2010) nas palavras do professor mineiro José Carlos Reis, no que concerne ao seu entendimento sobre a narrativa ricoueriana: “A necessidade em mim e fora de mim não é só percebida, representada, mas assumida como minha situação, minha condição desejante no mundo” (REIS, 2011, p. 259). É assim, que nos parece, que o Sociólogo narra a sua história; ele cria, simultaneamente, uma teia social que denúncia e anuncia as suas próprias ideias para o futuro, diz-nos qual a sua “condição desejante no mundo”.
Esta narrativa autobiográfica é […] uma narrativa etnográfica, um documento e uma explicação, um entendimento do que se passou na formação da classe trabalhadora no Brasil, na perspectiva do testemunho e da experiência pessoal […] O passado não está tão longe assim […] (MARTINS, 1994, p. 441)
É um Sociólogo militante. Ao narrar a sua trajetória, parece, ele mesmo, não acreditar que tenha chegado tão longe do destino posto ao “moleque de fábrica”, que ao nascer foi levantado ao alto pelos braços do pai e vaticinado por este como futuro trabalhador de carpintaria. Tal história, contada muitas vezes por familiares, foi lembrada no momento do juramento em 1993 ao assumir a Cátedra Simón Bolivar da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Escreve:
Descobriríamos, então, que favelas, cortiços, bairros operários, vilarejos rurais, habitações isoladas da roça, estão cheios de crianças promissoras, que só precisam de uma oportunidade, como a que eu tive, para irem além dos limites sociais de seu nascimento. Certamente há, até mesmo, gênios potenciais nesses lugares do supostamente negativo (MARTINS, 1994, p. 453)
A narrativa começa em um lugarejo em Portugal, em 1974, quando já pesquisador, participa de um evento naquele país, decide, por conta própria, viajar para o interior, com o objetivo de conhecer a cidade de nascimento do pai. Ao chegar ao vilarejo, realiza a primeira das descobertas que exibirá ao longo do enredo do livro: seu pai era filho de padre. Descobre-se, em meio a uma história de tabus, e compreende o silêncio dos familiares: “silêncio constrangedor”, “envergonhado”. E, nesse ponto da narração, mais precisamente na página 56 da obra em destaque, ele expõe a fotografia do avô padre, no caixão de morte e nos deixa comovidos confidenciando: “foi assim que conheci meu avô” (MARTINS, 1994, p. 57).
A partir daí, José de Souza Martins, desenrola uma narrativa que apresenta os dois lados da família (paterna e materna), por meio de encontros com pessoas e objetos. Sua família se constrói no que o sociólogo diz ser um mundo de “[…] certo realismo fantástico da cultura e nas mentalidades populares” (MARTINS, 1994, p. 10); são pessoas (o autor, igualmente) que atravessam o século XX, no limiar de representações de mundos díspares: o industrial e o artesanal; o urbano e o rural; o letrado e o analfabeto.
Trajetórias inseridas na problemática dos des-territorializados que são os migrantes (os simples, os pobres, os corridos), que perdem as referências de espaço e tempo coletivos e têm que refazer-se cultural e socialmente para darem conta de novas demandas. José Martins de Souza reflete:
A cronologia dos simples estende-se pelo longo e lento tempo da formação da sociedade moderna, o tempo que nos junta e nos separa. Por isso, o voltar atrás para compreender o incompreensível agora e o possível adiante. Bem pensadas as coisas, é a finitude que dá sentido ao que começa na vida e na história (MARTINS, 1994, p. 10)
A história do pobre ganha sentido na história lenta e de longa duração, ocorrida no cotidiano do trabalho; o cientista social a desenha por meio das suas próprias experiências e de familiares no quadro, denominado pelo professor, como da cultura popular. Como no exemplo, da avó materna, da qual ouvia a crônica familiar que chegava até o século XVIII, memórias dela e de outros que a mesma ouvira contar ou ouvira dizer.
Encontra, o autor, dimensões culturais do cotidiano como a divisão do mundo do trabalho por gênero, mulher na cozinha e homem na roça. O trabalho infantil, dado certo na aprendizagem do pobre. Os laços de compadrio, entre fazendeiros e colonos, na Europa e depois no Brasil, esticados para o paternalismo nas relações operário e patrão, já no mundo da fábrica e do urbano. É o escritor de “Poder do Atraso” (1994) nos alertando na sua condição de “desejante” para a continuidade de uma Sociedade e Estado marcados pelo mando dos donos da terra e mantendo-se conservadora e clientelista na transição do mundo rural para o urbano.
Lembra-nos do “infanticídio involuntário” comum na vida dos pobres, exemplifica com um caso da própria mãe, que “furtara” o remédio para vermes reservado à irmã, pois o dinheiro só dava para comprar o purgante para uma das filhas. Na sequência, o autor divaga contando-nos, quando aluno do curso de Ciências Sociais e trabalhava no setor de pesquisas de mercado de uma grande empresa de leite em pó, teve evidências que o leite de um programa social destinado ao Nordeste do Brasil às crianças pobres, acabava consumido pelo marido/pai, com o argumento que era ele que trabalhava, portanto a necessidade de priorizá-lo com o melhor alimento.
Enfim, a obra de José de Souza Martins se propõe a ser uma autobiografia de uma criança e de um jovem, pois a narrativa se encerra pouco depois da sua saída da fábrica para tentar uma educação distante do mundo do operariado, escreve-nos, “Memórias de operários, sobretudo de operários-crianças, são certamente raras, se é que existem” (MARTINS, 1994, p. 448). Alguns trabalhos hoje vêm problematizando a “invisibilidade” da criança e do jovem nas pesquisas acadêmicas como de Helena Abramo e Lúcia Rabello Castro, ambas da psicologia. As Ciências Sociais também tem se interessado pelo tema, inclusive com a presença de simpósios temáticos e cursos de curta duração, em encontros da área e exemplificamos com o trabalho organizado pela historiadora Mary Del Priori “História da Criança no Brasil” (1999).
É inegável que, entre os muitos aspectos na obra de José de Souza Martins que podem chamar a curiosidade ou a atenção privilegiada do leitor, salientei dois, que me comoveram mais fortemente na leitura desta obra: os aspectos relacionados à própria narrativa de si do autor e a sua perspectiva de dar visibilidade a uma fase da vida do ser humano considerada “nublada”, tanto no que diz respeito à historiografia quanto na experiência de vida de cada um de nós.
Mas, existem ainda outros aspectos significativos no livro do sociólogo que merecem ser conferidos por diferentes leitores, como é caso das grandes personagens que surgem página a página como o avô postiço, o próprio pai, sua tia Anna e tantos outros; mas também o próprio autor o “moleque de fábrica” com sua astúcia diária.
Referências
MARTINS, J. S. O Poder do Atraso. São Paulo: Hucitec, 1994.
MARTINS, J. S. Uma Arqueologia da Memória Social. Autobiografia de um Moleque de Fábrica. São Paulo: Ateliêr Editorial, 2011, p. 57.
REIS, José Carlos. História da “Consciência Histórica“ Ocidental Contemporânea. Belo Horizonte: Autentica, 2011, p. 259.
RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa. SP: Martins Fontes, 2010.
Ivaneide Barbosa Ulisses – Doutorada em História/UFMG. E-mail: ivaulisses@yahoo.com.br
MARTINS, José de Souza. Uma Arqueologia da Memória Social. Autobiografia de um Moleque de Fábrica. São Paulo: Ateliêr Editorial, 2011. Resenha de: ULISSES, Ivaneide Barbosa. “Foi assim que conheci meu avô…”: autobiografia da criança que nascerá para ser carpinteiro. Caminhos da História. Montes Claros, v. 17, n.1-2, p.241-245, 2012. Acessar publicação original [DR]
Autobiografia – KELSEN (NE-C)
KELSEN, Hans. Autobiografia. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho Mendes Neto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011. Resenha de: BATALHA, Carlos Eduardo. O jurista como verdadeiro teórico do Estado. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n.91, Nov, 2011.
Não parece datada a afirmação de que “ocupa-se uma posição no espaço jurídico conforme se está mais perto ou mais longe de Hans Kelsen”1. Ainda hoje diversos juristas referem-se ao autor da Teoria pura do Direito como uma espécie de símbolo, ao mesmo tempo central e superior, para a compreensão do Direito.
Contemporâneo de uma geração de intelectuais austríacos que se destacaram para além do contexto europeu, Kelsen estudou e lecionou na Universidade de Viena no começo do século XX. Dirigiu-se à Alemanha em 1930, mas sua origem judaica e sua imagem pública como redator e guardião judicial da primeira Constituição democrática da Áustria o tornaram vulnerável à perseguição nazista. Após buscar refúgio em outros países, chegou aos Estados Unidos em 1940, onde se estabeleceu e se aposentou como professor da Universidade da Califórnia, vindo a falecer em 1973. No Brasil, sua obra tornou-se referência a partir da elaboração da Constituição de 19342, e, por volta de 1950, foi aqui consolidada no campo da Filosofia do Direito, ganhando lugar cativo em manuais e monografias dedicados às questões da justiça, da ciência do Direito e da estrutura do ordenamento jurídico3.
Tão ampla foi a recepção das concepções kelsenianas que ela própria acabou por se tornar objeto de discussão. Ao menos desde 1970, tanto herdeiros quanto críticos de Kelsen têm se preocupado com a reavaliação da apropriação de sua teoria. De modo geral, é possível dizer que esse reexame tem sido marcado por três atitudes distintas. Por um lado, tem-se a revisão dos fundamentos da Teoria pura do Direito, seja reconsiderando os vínculos de Kelsen com o neokantismo, seja promovendo sua aproximação com o neopositivismo lógico e a filosofia analítica. Por outro lado, há a atualização do horizonte de inserção da obra de Kelsen, na busca por sua integração ao debate contemporâneo sobre a jurisdição e o papel da interpretação na determinação do direito. Há também, por fim, a denúncia da trivialização do pensamento kelseniano, decorrente da simplificação e da distorção de suas ideias para fazê-las circular no dia a dia dos juristas como uma espécie de “senso comum teórico”4.
Como resultado desse reexame, várias sutilezas do pensamento de Kelsen obtiveram reconhecimento. Vê-se agora com maior clareza o equívoco de atribuir a ele “a redução do direito à lei”, “a existência de um direito sem moral”, “a desconsideração da dimensão humana e seus valores”, ou de acusá-lo de “ter colocado no mesmo nível as normas de um Estado totalitário e as de um Estado democrático”. Contudo, ainda há muitos outros aspectos de sua obra a serem revistos, atualizados e descobertos.
A recente publicação da tradução brasileira da autobiografia escrita por Kelsen em 1947 coloca em evidência alguns desses aspectos. Acompanhada de uma “autoapresentação” — elaborada em 1927 como explicação da gênese intelectual da Teoria pura do Direito —, a autobiografia ultrapassa tanto o testemunho pessoal quanto a condição de museu dos conceitos kelsenianos. Por meio de rigorosa seleção de episódios, Kelsen enfatiza elementos que o debate filosófico-jurídico no Brasil muitas vezes considerou secundários. Nesse sentido, ainda que por contraste, sua autobiografia nos auxilia a traçar os caminhos pelos quais sua teoria foi aqui incorporada à Filosofia do Direito. Ao mesmo tempo, ela também nos ajuda a entender melhor os limites de nossa apropriação da Teoria pura do Direito.
Como se sabe, o ambiente que recepcionou a obra de Kelsen no Brasil começou a se configurar antes mesmo da criação dos primeiros cursos jurídicos nacionais. Ao longo do século XVIII, um pequeno grupo da sociedade brasileira já se dirigia à metrópole portuguesa para realizar estudos superiores em Direito. E o debate intelectual que ali se encontrava não era exatamente o moderno confronto entre a tradição romano-canônica e a nova orientação do direito racional. Enquanto as concepções jusnaturalistas assumiram pela Europa uma função crítica e revolucionária, as reformas pombalinas incorporaram o discurso jusnaturalista para articular ortodoxia religiosa e manutenção do poder real em Portugal. Difundia-se um jusnaturalismo pela via do catolicismo, a serviço do Estado nacional, da centralização administrativa e das prerrogativas da monarquia. Essa perspectiva encontra-se claramente delineada no Tratado de Direito Natural escrito pelo futuro inconfidente Tomás Antônio Gonzaga5. Elaborado como tese para concurso na Faculdade de Leis de Coimbra, esse tratado examinava as concepções propostas por Grotius, Pufendorf e Thomasius para submetê-las à crítica, assentando, em primeiro lugar, a origem divina de imutáveis princípios necessários para o Direito natural e civil. Tal associação entre jusnaturalismo e filosofia católica nunca deixou de compor o quadro da Filosofia do Direito no Brasil, seja no século XIX, por meio de obras marcadas por certo ecletismo espiritualista, seja no século XX, com o empenho de diversos juristas na restauração da tradição escolástica6.
No entanto, com a criação dos cursos jurídicos em São Paulo e Olinda, após a Independência, surgiram condições para que trabalhos doutrinários introduzissem elementos característicos da modernidade na determinação do Direito. A defesa de limitações constitucionais ao poder governamental, assegurando áreas de autonomia à vida privada, fez com que instituições e princípios próprios do Estado liberal começassem a ser empregados na compreensão da estrutura legal do país. A divulgação do liberalismo veio acompanhada da importação de teorias ligadas ao iluminismo francês e ao idealismo alemão, com especial atenção para a filosofia de Immanuel Kant, lida por intermédio das obras de Karl Krause e Ludwig Noiré. O que se assimilou do kantismo, porém, não foi suficiente para apreender seu projeto de filosofia crítica. Fala-se em “filosofia transcendental”, “apriorismo” e “coisa em si mesma”, menciona-se a combinação de liberdade e coerção no domínio do Direito, mas o criticismo não é mais que um “ponto intermediário” entre as atitudes dogmáticas e céticas, de modo a conciliar a tradição escolástica com os valores emergentes das revoluções burguesas. Também havia dificuldades práticas para consolidar a compreensão liberal da ordem jurídica como um sistema impessoal, fundamentado em princípios gerais e aplicado segundo critérios objetivos. O aparato jurídico então existente não deixava de ser considerado, em sua aplicação, como um instrumento manipulável, a serviço de arranjos pessoais, trocas de favores e relações orientadas por critérios de lealdade. O que se desenvolve a partir da criação das academias de Direito é, portanto, a percepção da distância — quando não do desencontro e da contraposição — entre as “diretrizes básicas” da formação jurídica nacional e as “necessidades reais” da vida social, gerando um debate, que se torna recorrente no ensino jurídico do país, sobre a relação entre “as leis abstratas e formais” e “a prática concreta e material” do Direito7.
Nesse contexto, a referência a Kant acabou por adquirir novos contornos a partir da segunda metade do século XIX. Os ensaios e estudos do germanista Tobias Barreto articularam a inserção do Direito no âmbito da cultura e essa perspectiva o levou a negar a universalidade do fenômeno jurídico, em face da historicidade do ser humano. Influenciado pela obra de Rudolf von Ihering, Barreto acabou por atribuir maior peso às noções de finalidade e valor, como elementos definidores do próprio homem. Com isso, encaminhou-se para a substituição do jusnaturalismo por um humanismo (que depois repercutirá no culturalismo de Miguel Reale). Além disso, o que se destaca na filosofia do direito de Barreto é sua vinculação às teorias evolucionistas de Ernest Haeckel. Graças a essas teorias, sua recepção do pensamento de Kant e Ihering resultou em um naturalismo evolucionista, que não só abriu os estudos jurídicos brasileiros para o campo sociológico, como também propagou por aqui a definição do Direito em função da coação.
Esse naturalismo evolucionista ainda não correspondia, porém, à afirmação do método positivo como base para o conhecimento jurídico. Tobias Barreto chega a mencionar Augusto Comte em alguns ensaios, mas ao longo do século XIX as obras jurídicas nacionais ainda se inseriam no domínio das belles-lettres. O desenvolvimento dos estudos científicos no Brasil ocorreu inicialmente entre engenheiros, médicos e militares. E o movimento positivista obteve maior repercussão quando essas categorias profissionais alcançaram a posição de “nova burguesia” do país, a partir de 18708. Para os juristas, essa situação somente começou a se alterar com o debate entre Pedro Lessa (inclinado ao positivismo e ao naturalismo spenceriano) e João Mendes Júnior (herdeiro da tradição escolástica), que colocou a questão da Ciência no centro da Filosofia do Direito. Depois, já na primeira metade do século XX, o problema recebeu atenção particular (e orientação assumidamente positivista) de Pontes de Miranda, que manteve alguns elementos do pensamento de Ihering, mas os incorporou em uma concepção de ciência jurídica como ciência causal, não finalista, para assim aproximar o “processo de revelação científica da norma” à metodologia das ciências naturais e comprovar valores “com os números das estatísticas e com as realidades da vida”9. Foi nesse contexto que as diferentes linhas do debate filosófico-jurídico no Brasil acabaram por articular uma versão peculiar da contraposição entre compreensões jusnaturalistas (ainda orientadas pela tradição escolástica) e enfoques positivistas (aqui vinculados a um naturalismo evolucionista).
A recepção brasileira da teoria kelseniana ocorreu a partir dessa contraposição. Enquanto Kelsen era identificado como “niilista político” na edição de 1939 da Meyers Konversations-Lexikon, uma das principais enciclopédias alemãs (que expressava então o discurso nacional-socialista)10, sua obra era caracterizada entre nós como “apogeu da corrente do positivismo jurídico” e “ponto culminante da escola técnico-jurídica”11. A Teoria pura do Direito foi situada, antes de tudo, como oposição ao jusnaturalismo. Uma vez inserida na polêmica com a tradição do Direito natural, a preocupação kelseniana de delimitar, com exatidão, o objeto da ciência jurídica transformou-se em um programa de “reducionismo”. Devido à sua recusa sistemática a ultrapassar o Direito positivo na construção do conhecimento jurídico, Kelsen seria o mais típico defensor da redução simplificadora do Direito à norma jurídica, afirmando que “não há outro Direito além do Direito positivo” e que este “não é mais do que seriação gradativa de normas”12.
Na condição primordial de positivista reducionista, Kelsen não chega a ser igualado a outros teóricos então presentes no cenário nacional. Nota-se, por exemplo, que sua teoria diverge da proposta de Pontes de Miranda quanto à utilização da causalidade como nexo necessário para formulação da ciência jurídica. A importância atribuída à categoria da imputação nunca deixou de ser reconhecida. Contudo, a peculiaridade kelseniana que impressiona os juristas brasileiros de imediato parece ser a oposição entre ser e dever ser. Essa oposição os leva muitas vezes a entender que o estudo do Direito estaria todo no domínio do dever ser, “não existindo ponto de contato” com o “ser”. O neokantismo em Kelsen deixaria o jurista “desconectado do direito enquanto ser”, no plano da pura normatividade lógica, separando de modo tão radical realidade natural e norma jurídica que isso o levaria a “separar não menos radicalmente o social e o jurídico”. A identificação do elemento formal do Direito (sua normatividade) implicaria “sacrifício ou esquecimento” pelos juristas da própria realidade do Direito, deixada para o estudo exclusivo dos cientistas sociais. O positivismo reducionista seria, na verdade, puro normativismo.
O “purismo”, porém, não se esgota nesse “desligamento” da realidade. Ele também é entendido desde o início como “ausência de juízos de valor”, tendo em vista a criação de condições para descrição “objetiva” da realidade jurídica. Essa leitura da pureza metodológica de Kelsen pode ser vinculada ao célebre debate alemão, ocorrido no início do século XX, sobre a importância de distinguir conhecimento e valor no âmbito das ciências sociais13. Mas o que dela se retira na recepção brasileira é a defesa de uma completa subjetividade de todos os juízos de valor. Por meio de uma confusão entre “relativização dos conteúdos normativos”, “relativismo moral” e “ceticismo”, entende-se que Kelsen teria introduzido na ciência jurídica “o desprezo pela concepção do Direito como realização da ideia de justiça”, relegando a moral e a política ao “plano da ideologia”. Desse modo, o positivismo teria como fruto o relativismo dos valores, a começar pelo valor da justiça.
No lugar dos valores, o fundamento do fenômeno jurídico estaria deslocado na teoria de Kelsen para uma norma hipotética, de caráter lógico-transcendental e validade pressuposta, que obrigaria o pensador do Direito a tomar como o primeiro de uma série hierárquica um enunciado prescritivo posto, tornando possível pensar um conjunto de normas juridicamente válidas como um ordenamento (uma unidade sistêmica) sem recorrer a elementos “metajurídicos”, “extrapositivos” ou “não científicos”. Não é estranho, pois, que o debate em torno do positivismo de Kelsen sempre acabe por dedicar muitas páginas à teoria da norma fundamental. Também não deve espantar que, entre diversas questões levantadas por essa teoria, o problema da relação entre validade e eficácia receba grande destaque entre os juristas brasileiros. Trata-se, pois, de um recorte que assume o puro normativismo e o relativismo para colocar Kelsen em oposição direta ao discurso jusnaturalista, que, por meio de uma teoria da justiça, dedicava-se à identificação absoluta dos pressupostos éticos e políticos do Direito positivo.
A leitura das memórias de Kelsen nos permite, todavia, ir além dos limites desse recorte. A começar pela curiosa carência de menções aos temas mais discutidos entre nós. Não há nenhum destaque para a formulação da concepção de norma fundamental ou mesmo para a discussão da relação entre validade e eficácia. A respeito da discussão do papel dos juízos de valor ocorrida entre os sociólogos alemães, também não há indicação alguma. Kelsen apenas cita de passagem um contato tardio com Max Weber, reconhecendo que demorou a se familiarizar com seus escritos, pois, mesmo no período em que estudou em Heidelberg, não frequentou o círculo mais próximo do sociólogo14. Na autobiografia, o enfoque empírico-relativista surge tão somente como pressuposto da compreensão da contraposição entre formas autocráticas e democráticas de governo15. E a elaboração de uma teoria sistemática do positivismo jurídico, ligada à crítica do Direito natural, não aparece como ponto de partida. Tal teoria teve como marco a publicação de As bases filosóficas da doutrina do Direito natural e do positivismo jurídico em 1928 e somente foi desenvolvida após a mudança para a Alemanha em 193016. Foi nesse período que a preocupação com a ideia de justiça tornou-se parte das investigações científicas de Kelsen, que passou a se dedicar à redação de uma história da teoria do Direito natural sob a forma de uma “sociologia da crença na alma” como “crítica fundamental de toda a metafísica”17. Em seu autorretrato, Kelsen explicita que sua “estrela-guia desde o início” foi a filosofia de Kant18. Por isso, encontra-se já em suas primeiras obras o recurso à oposição entre ser e dever ser. A pureza não se reduz à defesa de um “puro normativismo”. Ela está ligada a outras questões.
Para que se tenha uma boa medida dessas questões, merece atenção a narrativa feita por Kelsen das dificuldades enfrentadas durante o período em que atuou na Corte Constitucional que ele mesmo projetara19. Ocupando mais de dez páginas no centro da autobiografia, essa narrativa jamais caracteriza a atividade de magistrado como simples função técnica. Diante das dúvidas interpretativas decorrentes de um Código Civil com princípios contraditórios sobre a possibilidade de dissolução do vínculo matrimonial20 e dos problemas sociais decorrentes dos tribunais que começaram a declarar de ofício a invalidade dos mesmos casamentos cuja celebração tinha sido autorizada por órgãos administrativos do Estado21, a atuação dos magistrados da Corte tinha em vista tanto a preservação do direito existente quanto a manutenção da autoridade do Estado baseada nesse direito. Sua decisão, assim, foi
determinada não apenas por sua prática em adotada em casos de conflito de competência, mas também pelo esforço de restaurar a autoridade do Estado ameaçada pelo conflito aberto entre os tribunais e as autoridades administrativas.22
Esse e outros episódios reforçam a percepção de que o significado da obra de Kelsen não se deixa apreender por meio da contraposição esquemática entre jusnaturalismo e positivismo jurídico. Por toda a autobiografia (e também na “autoapresentação”) parece claro que a reflexão kelseniana está enraizada em outro debate, relativo à unidade política e à crise da teoria geral do Estado23. Antes da Primeira Guerra Mundial, ela se dedica a ressaltar que a “vontade do Estado” não poderia ser uma entidade fisicamente real como a vontade dos indivíduos, mas apenas uma expressão antropomórfica do dever ser do ordenamento estatal24. De modo próximo a Windelband, que tomou a filosofia kantiana como base para atribuir aos valores uma existência própria, não psicológica, estruturada como a dimensão de “validade do dever ser”, Kelsen opera a transição da teoria geral do Estado para o plano da “validade objetiva”, apartado da esfera subjetivista do psicologismo. Com isso, alcança um duplo resultado: por um lado, identifica o significado não psicológico e exclusivamente normativo do conceito de vontade específico para a teoria do Direito; por outro lado, compreende que os problemas da teoria geral do Estado “mostravam ser problemas de validade e produção de um ordenamento normativo coercitivo”25. Formula, então, sua tese da identidade do Estado com o direito positivo, que é a verdadeira base tanto para a proposição da unidade entre Estado e Direito quanto para a defesa de que Direito é somente Direito positivo26. Em suas palavras,
A questão decisiva com relação à essência do Estado me parecia ser o que constitui a unidade na multiplicidade dos indivíduos que compõem essa comunidade. E não pude encontrar outra resposta cientificamente fundamentada a essa questão senão a de que é um ordenamento jurídico específico que constitui essa unidade, e de que todas as tentativas de fundamentar essa unidade de modo metajurídico, ou seja, sociológico, devem ser consideradas fracassadas.27
Após a Primeira Guerra, quando a crise prática e téorica da unidade política se agrava, a reflexão kelseniana encaminha-se para a discussão das tendências anarquistas da teoria marxista do Estado, a defesa do parlamentarismo ante quaisquer ditaduras e a compreensão da ideologia libertária da democracia por meio de um duplo contraste: por um lado, o confronto entre essa ideologia e a realidade social, entendida esta como o sentido efetivo dos ordenamentos jurídicos positivos tidos como democráticos; por outro lado, o confronto entre ideologia democrática e a situação psicológica dos indivíduos submetidos aos ordenamentos jurídico-democráticos28. Não abandona, porém, a tese fundamental de que o Estado, do ponto de vista de sua essência, é um ordenamento jurídico relativamente centralizado. Com essa tese, o poder deixa de ser um fenômeno quase natural para se tornar um fenômeno jurídico. A coerção jurídica é vista agora como um poder autorizado e as prescrições somente possuem significado jurídico se emanam de uma instância que foi autorizada dentro de uma ordem escalonada de normas produzidas juridicamente. A criação legislativa é aplicação do direito, da mesma forma que uma decisão judicial é continuação (ainda que formal) do processo jurídico de produção do direito. Isso permite a Kelsen algo mais do que se opor à tradição jusnaturalista: com a concepção de autorização, torna-se possível também rejeitar influentes teorias imperativistas do Direito (por exemplo, as teorias de Hobbes e Austin), que associavam o fenômeno jurídico aos comandos de um soberano juridicamente ilimitado29.
No que diz respeito ao “purismo” proposto por Kelsen, sua autobiografia deixa claro que essa proposta foi se constituindo aos poucos, por meio de diferentes atitudes metodológicas30. Inicialmente, a teoria pura se caracterizava pelo objetivo central de determinar a relação precisa (e não a desconexão) entre o dever ser (da norma jurídica) e o ser (da realidade natural) no conceito de Direito31. A purificação das doutrinas jurídicas correspondia basicamente à tarefa de encontrar, entre os dois extremos dessa relação, “o meio-termo correto”. Assim sendo, ela operava por meio da substituição de postulados metafísicos por categorias transcendentais como condições da experiência, acompanhada pela transformação das oposições entre direito objetivo/direito subjetivo, direito público/direito privado, Estado/Direito, antes consideradas absolutas (por serem “qualitativas e transistemáticas”), em diferenças relativas (de caráter “quantitativo e intrasistemático”). Somente mais tarde, Kelsen se dirigiu à crítica da tendência ideológica de dar aparência de justiça ao Direito positivo32. A pureza revelou-se então como exigência de despolitização33. Foi assim que a Teoria pura do Direito acabou por desenvolver seu caráter “radicalmente realista”, que se manifesta na recusa à valoração do Direito positivo34.
A autobiografia também indica que o projeto de purificação se adequa à preocupação de Kelsen com o desencontro entre conhecimento e ação, ou seja, com a difícil relação entre teoria e prática. Essa preocupação aparece em tantos momentos que se tem a impressão de que ela é a legítima constante de todas as fases da Teoria pura do Direito. Ela aparece, por exemplo, de modo discreto, na lembrança dos episódios ligados à questão do equilíbrio europeu. Ao final da Primeira Guerra, Kelsen se vê envolvido nas negociações entre o governo austríaco e o movimento nacionalista tcheco, quando ainda pretendia-se conciliar a formação de novos Estados nacionais, fundados no direito de autodeterminação dos povos, com a manutenção do bloco austro-húngaro no centro da Europa35. Em outro contexto, às vésperas da Segunda Guerra, acompanha a resistência do governo tchecoslovaco em admitir que os movimentos separatistas dos sudetos e dos eslovacos ampliavam suas forças em face do progressivo desmoronamento do sistema internacional estruturado em Versalhes. Kelsen foi consultado oficialmente em ambas as situações. E sugeriu diretamente aos dirigentes políticos que as dificuldades decorrentes das demandas por autonomia nacional fossem contornadas com a formação de um Estado federado. Suas propostas, porém, não tiveram condições de passar para o plano da ação: quando foram levadas em consideração, “era tarde demais” — repete o jurista — e acabaram por perecer diante de outros eventos históricos36.
Em outros momentos, a preocupação com a relação entre conhecimento e ação é enunciada diretamente. Na narrativa dos fatos que conduziram à sua nomeação para o cargo de professor ordinário em Viena37, bem como nos episódios da promoção de Leo Strisower à posição de professor catedrático38 e da aprovação da livre-docência do marxista Max Adler39, Kelsen expressa com clareza sua orientação geral de que o conhecimento científico deve permanecer independente da ação política. Por um lado, entende que “um professor e pesquisador não deve se filiar a partido nenhum”. Por outro lado, defende que a filiação a um partido político não poderia ser um motivo para excluir pessoas da carreira acadêmica, “à condição de que seus trabalhos tivessem a qualidade científica necessária”. A expressão dessas diretrizes é também a oportunidade para que Kelsen assinale:
pessoalmente, tenho toda simpatia por um partido socialista e ao mesmo tempo democrático, e nunca dissimulei essa simpatia. Porém, mais forte do que essa simpatia era e é minha necessidade de independência partidária na minha profissão. O que eu não concedo ao Estado — o direito de limitar a liberdade da pesquisa e da expressão do pensamento — eu não posso conceder a um partido político por meio da submissão voluntária à sua disciplina.40
Ao final de suas memórias, Kelsen retoma mais uma vez sua preocupação, ao registrar as peculiaridades da formação jurídica norte-americana. Nesse contexto, destaca que as faculdades de Direito estadunidenses, com seus cursos profissionalizantes, não apresentam interesse por uma teoria científica do Direito. Chega a pensar que talvez o Direito como objeto de conhecimento científico estaria mais bem localizado no âmbito de uma faculdade de Filosofia, História ou Ciências Sociais. Entretanto, também assinala que em Viena seus professores de Direito público (Edmund Bernatzik e Adolf Menzel) lhe pareciam pouco ou nada interessados em problemas téorico-jurídicos41. E afirma: durante todos os anos como professor no departamento de Ciência Política na Universidade da Califórnia, em Berkeley, não encontrou um único aluno que quisesse se especializar em teoria do Direito ou mesmo em Direito internacional42. Nesses termos, Kelsen parece concluir que no Direito não há interesse por Ciência, da mesma forma que na Ciência não há interesse por Direito.
Todas as preocupações, porém, não fazem com que a conclusão geral trazida por estas memórias seja qualquer espécie de “derradeira negativa”. Ainda que Kelsen tenha afirmado que “a relatividade dos valores experimentei em minha própria carne”43, sua autobiografia não se apresenta, ao final, como um conjunto de lições de relativismo. Se é certo que o lugar da justiça não é preenchido no interior da Teoria pura do Direito, não é adequado, porém, esquecer que seu autor aproveita todas as oportunidades para assumir e defender o valor da independência. Não apenas sob a forma de liberdade científica ou política, mas também, na autobiografia, como independência dos magistrados e das instituições jurídicas. O episódio que levou a seu afastamento da Corte Constitucional austríaca serve para registro e reafirmação da importância desse valor44. Relembrando situações nas quais o problema da relação entre teoria e prática se tornou evidente, Kelsen não se abstém de expressar sua convicção de que a verdade e as formas jurídicas constituem o campo apropriado para a construção de uma teoria do Estado. Em meio às artes de governar, o jurista é revelado como o mais apropriado teórico do Estado, não apenas por formular o discurso da soberania, mas principalmente por manifestá-lo como supremacia do ordenamento jurídico e, em especial, da Constituição. E, se o jurista é o verdadeiro teórico do Estado, seu positivismo jurídico transforma-se, socialmente, em um projeto de Estado de Direito. Conclusão menos niilista não poderia existir. Resta à Filosofia do Direito no Brasil dar a esse projeto a devida atenção.
Notas
1 Cf. REALE, Miguel. Teoria tridimensional do Direito. 5. ed. rev. e aum. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 118. [ Links ]
2 Cf. ALENCAR, Ana Valderez A. N. “A competência do Senado Federal para suspender a execução dos atos declarados constitucionais”. Revista de Informação Legislativa, v. 15, n. 57, jan.-mar.1978, pp. 239- [ Links ]43; Prutsch, Ursula. “Instrumentalisierung deutschsprachiger Wissenschafter zur Modernisierung Brasiliens in den dreißiger und vierziger Jahren”. In: Lechner, Manfred; Seiler, Dietmar (orgs.). Zeitgeschichte.at. 4. österreichischer Zeitgeschichtetag’ 99. Innsbruck: Studienverlag, 1999, pp. 361- [ Links ]69.
3 Cf., em particular, ABREU, João Leitão de. A validade da ordem jurídica. Porto Alegre: Globo, 1964, pp. 49-71 e 125- [ Links ]71.
4 Para a primeira atitude, temos como exemplo obras de Sônia Broglia Mendes, Fernando Pavan Baptista e Henrique Smidt Simon. Para a segunda atitude, consideramos os trabalhos de Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz Streck. Já a atitude de denúncia foi aqui caracterizada segundo a obra de Luís Alberto Warat.
5 Cf. MACHADO, Lourival Gomes. Tomás Antônio Gonzaga e o direito natural. Rio de Janeiro: mec, [ Links ] 1953; Grinberg, Keila. “Interpretação e Direito natural”. In: Gonzaga, Tomás Antônio. Tratado de Direito natural. São Paulo: Martins Fontes, 2004, pp. VII- [ Links ]XXXV.
6 Cf. PAUPÉRIO, A. Machado. A Filosofia do Direito e do Estado e suas maiores correntes. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, pp. 153- [ Links ]6.
7 Cf. FERRAZ Jr., Tercio S. “A Filosofia do Direito no Brasil”. Revista Brasileira de Filosofia, v. 45, n. 197, 2000, pp. 14- [ Links ]6.
8 Cf. COSTA, João Cruz. Contribuição à história das ideias no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956, pp. 138- [ Links ]46.
9 Cf. FERRAZ Jr., “A Filosofia do Direito no Brasil”, op. cit., p. 24; NADEr, Paulo. Filosofia do Direito. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, pp. 278- [ Links ]81.
10 ENGLARD, Izhak. “Nazi criticism against the normativist theory of Hans Kelsen: its intellectual basis and post-modern tendencies“. Israel Law Review, n. 32, 1998, p. [ Links ] 183.
11 A expressão aparece na tese escrita por Miguel Reale entre 1939 e 1940, para concurso à cátedra da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Cf. Reale, Miguel. Fundamentos do Direito. 3. ed. fac-símile. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, pp. 151 e 157. [ Links ]
12 A ênfase na caracterização de Kelsen como positivista estrito ou pleno pode ser encontrada em vários autores. Aqui tomamos por base, além da tese de Miguel Reale, obras de Alysson Leandro Mascaro, Aurélio Wander Bastos, Eduardo C. B. Bittar, Fábio Ulhoa Coelho, Paulo Dourado de Gusmão e Paulo Nader.
13 Cf. LOSANO, Mario. Introdução. In: KELSEN, Hans. O problema da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1998, pp. x- [ Links ]xv.
14 Idem, ibidem, p. 49.
15 Idem, ibidem, p. 32.
16 Kelsen, Hans. Autobiografia, p. 97. [ Links ]
17 Idem, ibidem, p. 98.
18 Idem, ibidem, p. 25.
19 Idem, ibidem, pp. 81-93.
20 Idem, ibidem, p. 84.
21 Idem, ibidem, p. 87.
22 Idem, ibidem, p. 90.
23 BERCOVICI, Gilberto. “Carl Schmitt e a tentativa de uma revolução conservadora”. In: ALMEIDA, Jorge; Bader, Wolfgang. Pensamento alemão no século XX — Grandes protagonistas e recepção das obras no Brasil. Vol. I. São Paulo: Cosac Naify, 2009, pp. 69- [ Links ]72. Nesse sentido, as origens da obra de Kelsen estão ligadas à sua crítica à teoria do Estado de Georg Jellinek. Cf. Dias, Gabriel Nogueira. Positivismo jurídico e Teoria geral do Direito na obra de Hans Kelsen. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 116-23 e 137- [ Links ]40.
24 Kelsen, Autobiografia, op. cit., p. 25.
25 Idem, ibidem, p. 31.
26 Idem, ibidem, p. 28.
27 Idem, ibidem, p. 72.
28 Idem, ibidem, pp. 32-33.
29 Cf. HÖFFE, Ofried. Justiça política — Fundamentação de uma filosofia crítica do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2001, pp. 127- [ Links ]31.
30 KELSEN, Autobiografia, op. cit., p. 43.
31 Idem, ibidem, p. 29.
32 Idem, ibidem, p. 25.
33 Idem, ibidem, p. 27.
34 Cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 6. ed. Coimbra: Arménio Amado, 1984, pp. 161 e 292; [ Links ] Kelsen, Hans. O problema da justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. [ Links ] 70.
35 KELSEN, Autobiografia, op. cit., pp. 60-4.
36 Idem, ibidem, pp. 104-5.
37 Idem, ibidem, p. 69-70.
38 Idem, ibidem, p. 73.
39 Idem, ibidem, p. 74.
40 Idem, ibidem, p. 71.
41 Idem, ibidem, p. 51.
42 Idem, ibidem, p. 108.
43 Cf. KELSEN, Hans. Testimonio radiofônico — Radio Bremen, 1958. Revista de investigaciones juridicas, México, n. 27, 2003, p. [ Links ] 142.
[44] KELSEN, Autobiografia, op. cit., p. 92.
Carlos Eduardo Batalha – Professor titular de Filosofia Jurídica da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e membro do núcleo Direito e Democracia do Cebrap.
Agonie terminée, agonie interminable – BLANCHOT (A-EN)
BLANCHOT, Maurice. Agonie terminée, agonie interminable. [Agonia terminada, agonia interminável]. Paris: Editora Galilée, 2011. Resenha de: PENNA, João Camilo. Alea, Rio de Janeiro, v.13 n.2 July/Dec, 2011.
“A experiência da morte – esta pura impossibilidade – seria a condição, o fim e a origem, ou quem sabe o imperativo categórico (o ‘é preciso’ incondicionado) da literatura como do pensamento”. Essa frase resume o livro póstumo de Philippe Lacoue-Labarthe (1940-2007), Agonie terminée, agonie interminable. Sur Maurice Blanchot, que chega agora à forma de volume, graças ao trabalho de Aristide Bianchi e Leonid Kharlamov. O livro fora anunciado na Amazon.com e .fr desde 2004, mas fora deixado incompleto, ou “interminado”, como diz o próprio título, pelo autor em vida. A publicação coincide com a abertura do arquivo de Lacoue-Labarthe no IMEC (Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine), onde estão depositados os arquivos de muitos dos grandes escritores franceses contemporâneos. O livro é composto de textos heterogêneos, três conferências, dois textos encomendados, um outro mais antigo, da série de prosas Frases (Phrases), coligidas em volume em 2000 (Paris: Christian Bourgois). Pelas notas deixadas em seus arquivos, pode-se reconstituir o formato que teria o livro se concluído, o que nos permite deduzir-lhe o escopo. A apresentação dos dois editores faz o trabalho de recomposição do todo, citando notas de seminários, correspondência, anotações esparsas do autor para si próprio, e não chegam propriamente a preencher-lhe as lacunas, mas dão uma medida do contorno fantasmático do que seria a obra, caso Lacoue-Labarthe tivesse podido concluí-la. Os editores dão um passo adiante com relação ao todo, de maneira discreta mas firme, demonstrando que em parte Lacoue-Labarthe deixou o livro incompleto não apenas pela doença que o matou, mas por dúvidas essenciais com relação ao objeto de sua investigação, que de alguma maneira o título agônico, mais uma vez, nomeia.
Todos os textos que compõem o volume, no estado possível em que foi deixado pelo autor após sua morte, giram diretamente em torno de Maurice Blanchot, mais especialmente em torno de dois textos de caráter autobiográfico, ou testemunhal, mesmo que o primeiro termo faça problema e o segundo fuja ao tema que interessa a Lacoue-Labarthe. Os dois textos são: o pequeno fragmento “Uma cena primitiva?” (“Une scène primitive?“), publicado pela primeira vez em 1976, em uma revista editada por Lacoue-Labarthe,*1 e depois incluído, em versão ligeiramente modificada, com uma série de outros fragmentos de que ele é como que a condição de possibilidade, em A escrita do desastre (L’Écriture du désastre. Paris: Gallimard, 1980); e o segundo é O instante de minha morte (L’Instant de ma mort. Paris: Gallimard, 2002). Os dois textos não têm aparentemente nada em comum. O primeiro relata um episódio de infância: um menino “de sete ou talvez oito anos”, olhando pela janela, e subitamente encarando o céu, reconhecendo-o como vazio – “o céu, o mesmo céu, de repente aberto, negro absolutamente e vazio absolutamente” – e fazendo a revelação determinante para o resto de sua vida, resumida na seguinte frase: “nada é o que há e antes de mais nada nada além” (“rien est ce qu’il y a et d’abord rien au-délà “). O que doravante fará o menino viver “no segredo”: “Ele nunca mais chorará”. O segundo relata um episódio ocorrido no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, com um “jovem”, no interior da França, quando, preso por um pelotão da SS, escapa por um acaso da sorte de ser fuzilado. A experiência da quase morte é vivida como um êxtase, “uma espécie de beatitude”, uma revelação da leveza (ele “experimentou então um sentimento de extraodinária leveza”). Essa experiência e o sentimento inanalisável que provocou no jovem o marcarão para sempre, transformando o resto de sua vida em uma espécie de resto póstumo: “nem felicidade, nem infelicidade. Nem ausência de temor e talvez já o passo além [le pas au-delà : ao mesmo tempo ‘passo além’ e ‘nada além’]”.
O que têm os dois textos em comum além do aspecto, como já disse, problematicamente autobiográfico, disfarçado pelo uso da terceira pessoa? Duas coisas. Em primeiro lugar, trata-se em ambos os casos de experiências, mas de experiências paradoxais, “experiências sem experiência”, para usar uma expressão de Blanchot, em que nada propriamente é experimentado ou em que precisamente o “nada” é experimentado, e sobretudo em que a impossível experiência da morte é, por assim dizer, vivida enquanto quase morte, simulacro da morte. Em ambos os casos, temos uma espécie de êxtase vazio, sem objeto, beirando a revelação mística, como mística negativa, revelação ateia do vazio dos céus no primeiro, e, no segundo, como dádiva da vida, vivida, a partir da experiência crucial que se conta, como sobrevivência, sobrevida ou segunda vida, de tal modo que se inverte a fórmula consensual: a vida é que é a consequência da morte, esta sendo a íntima condição daquela. Teríamos aqui dois exemplares do que Lacoue-Labarthe chama de “a escrita póstuma” de Blanchot.
Em segundo lugar, e aqui tocamos no cerne da hipótese de Lacoue-Labarthe, os dos textos situam-se no contexto do programa rigoroso estabelecido pelo “último Blanchot” de desmitologização ou de desconstrução do mitológico, do sagrado ou da religião. A hipótese é formulada de maneira mais clara quando Lacoue-Labarthe lê a referência lacônica a André Malraux, no final de O instante de minha morte. O “jovem” teria se encontrado pouco tempo depois do incidente do quase fuzilamento com André Malraux em Paris, que lhe relata a perda de um manuscrito, em um incidente com um pelotão SS. Na invasão ao Castelo em que morava o “jovem”, a propriedade da tradicional família de Blanchot, em Quain, o SS teria encontrado também um “grosso manuscrito”, talvez “planos de guerra”. O texto sugere a junção entre os dois manuscritos (o do “jovem” e o de Malraux), nos fazendo pensar, com Lacoue-Labarthe, que eles fossem quem sabe o mesmo. O fundo do problema, no entanto, está na motivação dessa referência a Malraux no texto de Blanchot. Lacoue-Labarthe desentranha um episódio narrado nas Antimemórias de Malraux. Ele teria passado por um quase fuzilamento semelhante ao de Blanchot, e exatamente na mesma época, fato que Malraux aparentemente ignorava. Após ser preso com documentos falsos, perto de Gramat, e interrogado pela Gestapo, Malraux fora colocado diante de um pelotão de fuzilamento que, no entanto, não o executa. O paralelo entre os dois simulacros de execução aponta, na verdade, segundo Lacoue-Labarthe, para uma oposição entre duas políticas da escrita, que Blanchot visaria demonstrar: a sua e a de Malraux. A operação romanesco-memorialística de Malraux contém uma intensa mitologização, enquanto a de Blanchot se construiria como negação do mitológico.
Lacoue-Labarthe analisa a bela cena de renascimento para a vida, como repetição da origem do mundo, também em Le Miroir des limbes, nas Antimemórias, em termos que lembram os de Blanchot, embora carregados de uma mitologia inteiramente ausente do texto de Blanchot.
Eu sabia agora o que significavam os mitos antigos dos seres arrancados aos mortos. Eu quase não me lembrava da morte; o que eu levava comigo era a descoberta de um segredo bastante simples, intransmissível e sagrado.
Assim, talvez, Deus olhou o primeiro homem…*2
A oposição de procedimento literário se completa por uma oposição política, Blanchot tendo se contraposto resolutamente às posições defendidas pelo Malraux-homem de estado a partir do final dos anos 1950.
A conclusão de Lacoue-Labarthe é que aqui justamente se situaria o cerne do paradoxo banchotiano: a escrita antimitológica não deixa de conter sua parte de mitologização, nem que seja a mitologia da falta de mitologia. De maneira essencial, Blanchot teria encarnado mais do que ninguém o mito do escritor e da escrita moderna. Afinal, é ele quem coloca em O espaço literário a escrita sob a égide do mito de Orfeu, ou seja, da descida aos infernos, a nékuia, inscrita nas Geórgicas de Virgílio, e que encontra o seu modelo na Odisseia de Homero, na descida de Ulisses aos infernos. Esta travessia da morte é precisamente a matriz da cena do quase fuzilamento de Malraux, Blanchot e, é claro, de Dostoievski, que Malraux não deixa de citar em suas Antimemórias. A nékuia remeteria a um rito iniciático quem sabe universal, e que teria como complemento esta outra cena paradigmática, também originada em Homero, desta vez na Ilíada, a da ira, com todos os harmônicos políticos contidos nela: a ira contra a injustiça, fonte de toda a protestação política, como a do jovem Marx.
A desmitologização programática de Blanchot não deixa de conter a sua parte de mitologia. A cena do nascimento depois da morte, a “leveza”, a “beatitude”, e a alegria que sucede à travessia da morte retomam uma tópica que aparece em uma certa literatura francesa: ela aparece no ensaio “De l’exercitation” de Montaigne e na segunda rêverie de Rousseau. Em ambos os casos, trata-se de voltar literalmente da experiência da quase morte. A citação consistindo no método da mitologização, contra a qual alertava Blanchot, sem querer nem poder de todo recusá-la.
As duas cenas paradigmáticas que resumem a literatura ocidental, ou o Ocidente enquanto literatura, a nékuia e a da ira, do protesto e da revolta, enfeixariam a relação essencial entre mitologia e política, sacrifício e política, formulados de modo matricial na modernidade pela sequência que se abre com o terror jacobino (1792-1794) e a Festa do Ser Supremo (1794). A recusa à mitologia tem uma importância essencial no programa político-literário de Blanchot, no que toca o nazismo, e este acontecimento que divide o século XX, o extermínio dos judeus da Europa. Pois, segundo Blanchot: “No judeu, no ‘mito do judeu’, o que Hitler quer aniquilar é precisamente o homem liberto de mitos”. Afirmação polêmica, questionada por Derrida (onde há religião há sempre uma parte de sacrifício e sagrado), que assinala a judeofilia de Blanchot. É em torno desta cena político-literária, ou mitológico-política, que se divide também a vocação política de Blanchot: sua dupla “conversão” à direita nacionalista no início dos anos 1930, e à esquerda, ao que parece, após o encontro de Georges Bataille, em 1940.
O livro de Lacoue-Labarthe deixa todas essas questões em aberto. Em seu estado póstumo de fragmento inacabado, ele instala de forma definitiva a questão ético-política que ocupou a vida de seu autor: a afirmação de que “é a remitologização que traz sozinha a responsabilidade do mal”. Aqui ele retorna a todos os seus temas e autores prediletos: Bataille, Hölderlin, Rousseau, Freud e, sobretudo, Blanchot. É, portanto, em torno do motivo do póstumo e da morte que se fecha o ciclo literário e essa vida. Em torno mais precisamente desta revelação: a de que a morte é a condição de possiblidade, no sentido transcendental, kantiano, da vida.
1 (Première Livraison, nº 4, Mathieu Bénézet e Philippe Lacoue-Labarthe (eds.). Paris-Strasbourg, fevereiro-março, 1976.)
2 (Malraux. André. “Antimémoires, III, 2, Oeuvres complètes, volume III. Paris: Éditions Gallimard, 1966, p. 240. Minha tradução.)
João Camillo Penna – Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
[IF]Memórias e narrativas (auto) biográficas – GOMES; SCHMIDT (RBH)
GOMES, Ângela M. de Castro; SCHMIDT, Benito Bisso (Org.). Memórias e narrativas (auto) biográficas. Rio de Janeiro: Ed. FGV; Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2009. 278p. Resenha de: SILVA, Weder Ferreira. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.31, n.61, 2011.
O entusiasmo dos historiadores pela pesquisa no campo das narrativas biográficas e autobiográficas vem ganhando destaque nas publicações recentes no Brasil e no mundo. Um breve passar de olhos em catálogos de editoras e em estantes de livrarias atesta que o país experimenta grande aumento de publicações de caráter biográfico e autobiográfico – a título de exemplo citemos apenas O retorno de Martin Guerre, de Natalie Z. Davis (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987) e D. Pedro II, de José Murilo de Carvalho (São Paulo: Companhia das Letras, 2007).
Esse entusiasmo dos pesquisadores do campo das ciências sociais se deve ao fato de que o contato com fontes primárias, documentos, papéis, cartas, bilhetes e fotografias é capaz de revelar parcelas desconhecidas ou até então invisíveis da história e do mundo social vivenciado tanto por homens e mulheres ‘comuns’ quanto por personagens de maior relevo na história. Essa sensação é fortalecida quando o material foge aos rigores institucionais da produção documental, às características seriais e ao formato burocrático, e tem uma origem privada, um caráter pessoal, conferindo a impressão de que se está tomando contato com aspectos muito íntimos da história de seus personagens. O acesso a tais fontes tem a força de simular o transporte no tempo, a imersão na experiência diretamente vivida, sem mediações.1 Paralelamente a esse movimento, é importante ressaltar que é cada vez maior o interesse do leitor por certo gênero de escritos – uma escrita de si – que inclui diários, cartas, biografias e autobiografias, independentemente de serem memórias ou entrevistas de trajetórias de vida, por exemplo.
Como apontou Giovanni Levi, nosso fascínio de arquivistas pelas descrições impossíveis de corroborar por falta de registros documentais alimenta não só a renovação da história narrativa, como também o interesse por novos tipos de fontes – nas quais se poderiam descobrir indícios esparsos dos atos e das palavras da vida cotidiana dos atores sociais.2 É nesse mesmo movimento historiográfico que se enquadra a publicação do livro Memórias e narrativas (auto)biográficas, organizado por Ângela de Castro Gomes e por Benito Bisso Schmidt.
O conjunto de textos apresentado no livro constitui significativo exemplo de como os chamados escritos de si ou autorreferenciais vêm ganhando terreno no campo da historiografia, ilustrando, assim, as várias possibilidades e os resultados de pesquisas que utilizam tais escritos como fonte de investigação histórica. Nesse sentido, o livro Memórias e narrativas (auto)biográficas apresenta ao leitor uma nova possibilidade heurística para os arquivos privados. De acordo com os organizadores do livro, “a atenção de muitos historiadores voltou-se para os arquivos privados, nos quais passaram a procurar não apenas rastros das ações e ideias de seus personagens, mas também a forma pela qual eles constituíram a si mesmos, à medida que selecionavam e guardavam seus documentos e, assim, propunham um sentido para suas vidas” (p.7).
Na esteira das transformações pelas quais a historiografia passou desde a década de 1980, a biografia, isto é, o indivíduo, emerge como tema relevante para a compreensão não apenas do social, mas também de questões ligadas à ‘invenção’ de si. Essas novas abordagens passam a ocupar espaço privilegiado no conhecimento histórico, suscitando, com isso, reflexões sobre o espaço privado e o público, sobre o individual e o coletivo e sobre as formas narrativas e analíticas da escrita da história. Daí a importância dos acervos pessoais como elementos para a compreensão da ‘superfície social’ em que age o indivíduo numa multiplicidade de campos, a cada momento. Nos textos que compõem o livro é possível observar que as narrativas autobiográficas evidenciam de forma clara como a trajetória de um indivíduo varia no tempo, o que atesta, mais uma vez, aquilo que Pierre Bourdieu chamou de ilusão biográfica – a ilusão de uma linearidade e coerência do indivíduo.3 Dito isto, cabe ainda ressaltar a proposição de Paul Ricoeur, para quem a história de vida de indivíduo não cessa de ser refigurada por todas as histórias verídicas ou fictícias que um sujeito conta de si mesmo. Essa refiguração faz da própria vida um tecido de histórias narradas.4
Os textos que integram o livro em questão estão dispostos em quatro partes. A primeira – “O historiador entre a história e a memória” – compõe-se de um artigo de Sabina Loriga em que a autora aborda ‘as porosas fronteiras’ entre história e memória. Com base na obra A memória, a história, o esquecimento, de Paul Ricoeur (Campinas: Ed. Unicamp, 2007), a historiadora tece considerações sobre as múltiplas relações estabelecidas entre a história e a memória. Nesse sentido, o texto de Loriga antecipa o contexto historiográfico em que se situam os artigos subsequentes da obra.
Na segunda parte do livro, Ângela de Castro Gomes, Haike Roselane Kleber da Silva, Yonissa Marmitt Wadi e Keila Rodrigues de Souza abordam facetas das trajetórias de indivíduos com base nas correspondências que trocaram. Ao leitor, ficará evidente que a documentação epistolar permite ‘decompor’ a vida de indivíduos aproximando-se da sua esfera privada de atuação. Ao investigarem a troca de correspondência entre figuras de relevo da política e da intelectualidade da Primeira República, as cartas de germanistas no Brasil e bilhetes de pessoas que cometeram autoviolência, os autores tecem reflexões sobre a construção do ‘Eu’, demonstrando que as escritas de si também se constituem em lugares de memória.
Na sequência, Joseli Maria Nunes Mendonça, Benito Bisso Schmidt e Gisele Venâncio ocupam-se em investigar como determinados atores sociais construíram suas imagens por meio de narrativas autobiográficas. Essas análises são reveladoras para pensar as estratégias utilizadas de forma consciente ou não – no processo de construção de si mesmo. Nesse espectro de análise é possível notar as disputas, os silêncios, as hipérboles, enfim, as oscilações das narrativas que pretendem ‘forjar’ uma imagem de si projetadas para a posteridade.
Por fim, os artigos de Márcia de Almeida Gonçalves, Bruno Barreto Gomide, Marcelo Timotheo da Costa e Maria Elena Bernardes têm como objeto de análise as produções biográficas e autobiográficas que pretenderam traçar um sentido social e existencial para as trajetórias de notáveis intelectuais e políticos brasileiros dos séculos XIX e XX. No capítulo que encerra o livro, Maria Elena Bernardes faz uma incursão à instigante trajetória de vida da escritora e militante comunista Laura Brandão. Nessa biografia, como que em um jogo de escalas, a autora articula aspectos da vida da militante com elementos mais amplos da história do Brasil e mundial, revelando, assim, as potencialidades que a biografia pode oferecer ao campo do ofício do historiador.
Não obstante a diversidade dos objetos e de enfoques, os artigos que compõem a obra Memórias e narrativas (auto)biográficas podem ser conectados um ao outro formando, assim, um ‘hipertexto’ que se constitui em importante contribuição para o campo da historiografia que se ocupa em investigar a multiplicidade de temas relacionados aos fenômenos da lembrança, do esquecimento e da produção do ‘eu’.
Notas
1 HEYMANN, Luciana Quillet. Indivíduo, memória e resíduo histórico: uma reflexão sobre arquivos pessoais e o caso Filinto Muller. Estudos Históricos, Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, v.19, p.41, 1997. [ Links ]
2 LEVI, Giovanni. Usos da biografia. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína. Usos e abusos da história oral. 8.ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006. p.169. [ Links ]
3 BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA; AMADO, 2006, p.183-191. [ Links ]
4 RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Campinas (SP): Papirus, 1997. t 3. p.425. [ Links ]
Weder Ferreira Silva – Doutorando em História Social pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Largo de São Francisco de Paula, nº 1, sala 205. Centro. 20051-070 Rio de Janeiro – RJ – Brasil. E-mail: wedhistoria@yahoo.com.br.
[IF]Minha guerra alheia – COLASANTI (S-RH)
COLASANTI, Marina. Minha guerra alheia. Rio de Janeiro: Record, 2010. 286 p. Resenha de: ABRANTES, Alômia. “O mosaico falhado de memória”: composições da infância e da guerra. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [23] jul./dez. 2010
No fluxo da produção de biografias e autobiografias lançadas no Brasil, Marina Colasanti, conhecida e premiada escritora, surpreende-nos com um livro de memórias sobre a sua infância vivida em meio a conflitos bélicos, em especial, no cenário italiano da II Guerra Mundial.
Poderíamos apressadamente pensar que trata-se de mais um trabalho de memória sobre um conflito reiteradamente narrado por tantos escritores, inspirador de tantas obras literárias e cinematográficas, mas “Minha Guerra Alheia”, além da marca sensível comum à escrita da autora, insinua um fazer escriturístico que ressoa nas inquietações de quem se debruça sobre a reflexão acerca da produção da memória, da escrita de si, e da relação destas com a história. Leia Mais
Textos autobiográficos e outros escritos – ROUSSEAU (CEFP)
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Textos autobiográficos e outros escritos. Tradução de Fúlvia M. L. Moretto. São Paulo: Editora da Unesp, 2009. Resenha de: CARVALHO NETO, Filino. . Cadernos de Ética e Filosofia Política, São Paulo, v.16, n.1, p.228-232, 2010.
Acesso permitido somente pelo link original
O filho eterno – TEZZA (REF)
TEZZA, Cristovão. O filho eterno. Rio de Janeiro: Record, 2007. Resenha de: CRISTOVÃO, Tezza. O filho eterno: uma leitura desejante. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v.17, n.1 Jan./Apr. 2009.
O romance O filho eterno, de Cristovão Tezza, conta a história do amadurecimento de um homem com o nascimento de seu primeiro filho, uma criança com Síndrome de Down. A crítica literária de língua inglesa, sempre preocupada em ‘fichar’ um romance, chama esse gênero literário de coming-of-age novel ou bildungsroman. No entanto, na orelha do livro somos informados de que o escritor, Cristovão Tezza, baseia a história em sua própria vida, logo, um romance autobiográfico: “Num livro corajoso, Cristovão Tezza expõe as dificuldades, inúmeras, e as saborosas pequenas vitórias de criar um filho com síndrome de Down”. Folheando as primeiras páginas encontramos as epígrafes:
Queremos dizer a verdade e, no entanto, não dizemos a verdade. Descrevemos algo buscando fidelidade à verdade e, no entanto, o descrito é outra coisa que não a verdade.1
Um filho é como um espelho no qual o pai se vê, e, para o filho, o pai é por sua vez um espelho no qual ele se vê no futuro.2
A primeira fala sobre ‘verdade’ e a impossibilidade de a verdade ser apreendida mesmo quando a intenção é revelar a verdade. A segunda fala sobre ser pai e ser filho. Antes mesmo de iniciar a leitura, somos informados de que o romance tem como ponto de partida as memórias do escritor Cristovão Tezza, e, ele mesmo, na epígrafe, deixa claro que memórias são essas. Uma história baseada em fatos reais que não tem pretensão de ser a verdade. É a história do relacionamento de pai e filho – e, pela orelha do livro, somos informados de que se trata de um relacionamento com “dificuldades, inúmeras, e as saborosas pequenas vitórias”. Além disso, trata-se de um “livro corajoso” – o escritor é considerado corajoso ao relatar parte de sua vida, ao expor sua família e sua intimidade. Porém, confesso que me incomoda adjetivar o livro (e o escritor) de “corajoso”, pois “ser corajoso” me remete a livros com relatos (dramáticos) de histórias pessoais – “histórias de coragem e conquistas” – bem nos moldes do mote (ou mantra?) da propaganda política do governo: “sou brasileiro e não desisto nunca”. Talvez só eu tenha feito essa relação mental (que foi automática e com uma pitada de arrogância, admito), mas, de qualquer maneira, ler “livro corajoso” na orelha não me impediu, nem me desanimou, de ler o livro – a epígrafe me deu a impressão de que não se tratava de mais um “relato de coragem e determinação”. Claro que essa orelha foi escrita com propósitos comerciais, afinal, toda história e todo filme “baseados em fatos reais” encontram um certo apelo público. A ideia de alguém que viveu momentos difíceis e superou, ou que não superou, mas o final infeliz nos ensina a valorizar a vida e os momentos felizes. Coincidentemente, enquanto eu lia o livro e comentava, durante um almoço com uma amiga, a resposta dela foi: “Ah sei! Vi uma entrevista do autor e esse é o livro que ele escreveu sobre o filho com Down né? Anotei pra comprar. É uma história bonita?”. Respondi: “Bonita? Hmm… define ‘bonita'” (ela não quis ou não soube ou não vinha ao caso naquele almoço). Na hora, eu me lembrei do texto “O valor“, de Antoine Compagnon,3 e, automaticamente, vários outros textos foram pipocando na minha cabeça, textos sobre belo, estilo, estética, conceito de literário etc., como o do Ítalo Moriconi, “Circuitos contemporâneos do literário (indicações de pesquisa)”.4
Essa conversa apresenta parte da reflexão de Moriconi sobre o conceito de literário na atualidade. Para Moriconi, o processo material de criação da obra literária (ou obra de ficção), bem como a personalidade e a vida do autor desempenham papel determinante na divulgação, recepção de obras literárias (e artísticas) contemporâneas. Poderíamos aqui citar a presença do website do escritor Cristovão Tezza na orelha da contracapa do livro, após a breve informação biográfica. O culto à personalidade do autor e como esta aparece na obra estão implícitos nesse novo detalhe de algumas edições recentes. Como se, sob o aval da editora Record, o leitor obtivesse o endereço eletrônico de “um website oficial” – aos moldes de personalidades tornadas celebridades no mundo virtual, com inúmeros websites de fãs e com o respeitado website oficial.
Se na esfera pública clássica, pré-midiática, o autor era um “ser de papel” (como dele disse Barthes), ser virtual no sentido original da palavra virtual e não no sentido de virtual on line, hoje esse autor está disponível para apresentar seus materiais de trabalho, de tal maneira que a esfera do específico estético incorporou o making of como elemento de consideração. […] Considero que textos de depoimentos de artistas e de entrevistas sobre suas trajetórias biomateriais constituem corpus que fazem parte do conceito de literário atualmente. É que faz parte da definição de arte e literatura o objeto que se coloca em cena como representação do processo material de criação, como simulacro de uma situação de enunciação.5
Dispersa parcialmente da conversa, comecei a pensar sobre o meu adjetivo para aquela narrativa, aquele texto de ficção, texto literário, romance, romance autobiográfico. Sentei na frente do computador e comecei a escrever minha resenha. Meu adjetivo: sincero. Um livro sincero, um narrador sincero, uma história sincera. Sem pieguice, sem conquistas descritas em tom meloso, sem lágrimas fáceis de “histórias bonitas” – mas lágrimas sinceras de confissões que podem ser recebidas como um soco no estômago. A subversão de expectativas sociais em relação à paternidade: logo no início temos um pai que deseja secretamente a morte do filho assim que ele nasce. Durante todo o livro o leitor é confrontado com desejos e pensamentos ‘egoístas’ de um personagem, e esses fazem o leitor, a todo momento, pensar em seus desejos íntimos e secretos. A coragem aqui aparece nas revelações secas e cruéis dos desejos mais secretos de um personagem que não procura se redimir. E isso, para mim como leitora, é a força do romance. A preocupação do personagem em não se conformar, em não fazer parte de um sistema e em não ser mais um “idiota” é refletida na narrativa, que em nenhum momento se conforma aos moldes das narrativas “corajosas”.
O filho eterno é uma narrativa seca de desencantamento, em terceira pessoa, onde os personagens não têm nome, com exceção do filho, Felipe, e são chamados de “ele”, “o pai”, “a mulher”, “a mãe”, “a filha”, “a irmã”. Mesmo Felipe frequentemente aparece como “o filho” em contraposição ao “pai”. Não encontramos o lugar-comum, o apelo ao sentimento de pena e empatia, e, acredito, ser isso uma das qualidades de uma história que prende o leitor por não fornecer respostas e soluções óbvias, pelo contrário, a surpresa é uma constante durante a leitura. Percorremos a trajetória do personagem pai e, dentro de sua história, acompanhamos a trajetória do personagem filho, Felipe. O treinamento neurológico nos primeiros anos de vida do filho é contrastado com o ‘treinamento’ do pai em relação às tentativas de publicar seus livros e as recusas das editoras:
Eu também estou em treinamento, ele pensa, lembrando mais uma recusa de editora. A vida real começa a puxá-lo com violência para o chão, e ele ri imaginando-se no lugar do filho, coordenando braços e pernas para ficar em pé no mundo com um pouco mais de segurança (p. 130).
O crescimento e o desenvolvimento do filho são percebidos pelo pai nas representações de papéis sociais que o filho se esforça em cumprir (p. 211). Ao mesmo tempo, o pai descobre a alegria que a rotina traz e a tranquilidade conquistada com papéis sociais como “o professor universitário”, “o escritor”.
“O pai começa a descobrir sinais de maturidade no seu Peter Pan e eles existem, mas sempre como representação” (p. 218). O espelho no qual ambos, pai e filho, se veem é o espelho que reflete a representação dos papéis sociais. A percepção de mimetismo social no filho não está muito distante dos papéis que o pai é solicitado a cumprir socialmente na universidade, na família, na escola do filho, no campeonato de natação e na apresentação de teatro do filho. A dificuldade do pai é tão grande quanto a dificuldade do filho. A criança que vive eternamente no presente aprende a responder ao que é solicitado dela socialmente. O pai provisório, que só pensava em viver o presente, também aprende. E aqui é revelado o escritor por trás da narrativa. A sutileza ao contar os episódios na vida do pai e do filho é alcançda no contar da história, pois não há momentos de avaliação e reflexão em que paralelos são explicitamente estabelecidos. Esse trabalho é reservado ao leitor. E nesse momento me veio à cabeça um texto do qual eu gosto muito: “Freud’s Masterplot”, de Peter Brooks.6
Nesse texto, Brooks cria uma “teoria da narrativa” baseada no que ele chama de “teoria da vida”, criada por Freud em Além do princípio do prazer e baseada na leitura de Lacan dos conceitos freudianos de condensação e deslocamento, com seus análogos na linguagem, metáfora e metonímia, respectivamente. Se viver é a separação entre o nascimento e a morte, o meio da narrativa é o que separa o início do fim (sendo ambos, a morte e o fim, já presentes no nascimento e no início do texto). Sendo assim, resta ao indivíduo e ao leitor percorrer esse caminho árduo e prazeroso, evitando atalhos. Para Brooks, o meio do texto (o texto em si) é o local onde alguma forma de energia textual é ativada pelo leitor na interação entre leitor e texto. Na ficção, o perigo dos atalhos e da “morte repentina” é tarefa do escritor criador da narrativa e do leitor, que precisa ligar as redes metonímicas para alcançar a metáfora. Acredito que há no romance de Tezza essa preocupação em não deixar o leitor “morrer de repente”, ou, como indaga Roland Barthes sobre o prazer de ler, não abandonar o texto. E chego ao Barthes.
Em “Da leitura”, Barthes questiona a existência de um prazer de leitura, um prazer de ler, e conclui que existem, pelo menos, “três vias pelas quais a Imagem de leitura pode capturar o sujeito-leitor”: a) o estabelecimento de uma relação fetichista entre o leitor e o texto; b) “o prazer metonímico de toda narração”; e c) a leitura como condutora do desejo de escrever, desejo de Escritura.7 A leitura de O filho eterno foi, para mim, uma leitura permeada pelos três desejos destacados por Barthes. Como sujeito-leitor, passei de um “dever de leitura” para as vias assinaladas por Barthes, e, pessoalmente, foi o “prazer metonímico” da narrativa de Cristovão Tezza que tornou a leitura especial, uma “leitura desejante”.
Notas
1 Thomas BERNHARD apud Cristovão TEZZA.
2 Søren KIERKEGAARD apud TEZZA.
3 Antoine Compagnon, 2001.
4 Ítalo MORICONI, 2006.
5 Ítalo MORICONI, 2006, p. 161-162.
6 Peter BROOKS, 2007.
7 Roland BARTHES, 1988, p. 49.
Referências
BARTHES, Roland. “Da leitura”. In: ______. O rumor da língua. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 43-52. [ Links ]
BROOKS, Peter. “Freud’s Masterplot”. In: RICHTER, David H. (Ed.). The Critical Tradition. Boston: Bedford; St. Martin’s, 2007. p. 1161-1171. [ Links ]
COMPAGNON, Antoine. “O valor”. In: ______. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Belo Horizonte: UFMG, 2001. p. 225-255. [ Links ]
MORICONI, Ítalo. “Circuitos contemporâneos do literário (indicações de pesquisa)”. Revista Gragoatá, Niterói, n. 20, p. 147-163, 1. sem. 2006. [ Links ]
Marina Barbosa de Almeida – Universidade Federal de Santa Catarina
A misteriosa chama da Rainha Loana. Romance ilustrado | Umberto Eco
ECO, Umberto. A misteriosa chama da Rainha Loana. Romance ilustrado. Rio de Janeiro: Record, 2005. Resenha de: NEVES, Lucilia de Almeida. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.24, n.1, p.307-311, jan./jun. 2006.
El discurso de Gertrudis Gómez de Avellaneda: Identidad femenina y otredad | Brígida Pastor
A emergência das mulheres à condição de objeto e sujeito da história é um fato relativamente novo entre aqueles que se dedicam ao estudo e compreensão do passado humano. O recente e progressivo interesse pelo estudo das mulheres, nessa dupla acepção, enfrenta, entretanto, um grave desafio, representado pela escassez de fontes e vestígios acerca do passado feminino, produzidos pelas próprias mulheres, na medida em que as representações que dispomos sobre elas têm sido histórica e majoritariamente oriundas de fontes e discursos masculinos. Diante de tal quadro de escassez de fontes e de uma crescente preocupação interdisciplinar capaz de dar conta das diversas e complexas dimensões desse objeto, destacam-se, como uma das poucas e privilegiadas formas de expressão desse universo feminino, as obras literárias escritas por mulheres e que, em maior ou menor medida, abordam direta ou indiretamente a própria condição feminina. Tais obras literárias ganham ainda maior relevo quando geradas em contextos históricos de sociedades patriarcais nos quais as idéias do que hoje poderíamos chamar de feminismo não contavam ainda com quaisquer outras possibilidades alternativas de expressão. Esse é o caso, por exemplo, do contexto da produção literária de uma das mais importantes escritoras do meio cubano-espanhol do século XIX, a cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873).
A propósito, um rico e instigante conjunto de ensaios sobre o discurso feminista de Gómez de Avellaneda, que partem da análise dos principais escritos pessoais—memórias, autobiografia e epistolário—e de algumas obras ficção literária da escritora cubana, encontram-se no livro El discurso de Gertrudis Gómez de Avellaneda: identidad femenina y otredad (Alicante, Espanha: Universidad de Alicante, 2002, 158p.), da investigadora espanhola Dra. Brígida Pastor, professora de letras hispânicas da Universidade de Glasgow, Escócia.
O primeiro ensaio desse livro, intitulado “La expresión feminista en la Cuba del siglo XIX: La mujer escritora”, divide-se em duas partes. Na primeira, a professora Pastor procura demonstrar como algumas características da sociedade cubana do século XIX exerciam uma forte repressão nas mulheres em geral e, em particular, como tal repressão repercutia no desenvolvimento das idéias liberais e feministas de um tipo especial de mulher que se forjou naquele momento: a mulher escritora e intelectual. Para a autora, algumas peculiaridades caracterizaram o feminismo hispano-americano: significou uma ameaça à tradição, uma negação dos valores da família e das convenções sociais. Exatamente por tal característica, esse feminismo se deparou com a forte resistência de uma arraigada cultura patriarcal, o que contribuiu para postergar o processo de emancipação da mulher, especialmente em Cuba. Por outro lado, em que pese a educação e a igreja católica terem fortalecido a cultura da submissão, mesmo nessas condições adversas algumas mulheres de status privilegiado, aspirando seu reconhecimento intelectual, se rebelaram contra essa sociedade discriminadora e patriarcal por meio da escrita. Contudo, conforme demonstra a autora, os escritos e a rebeldia dessas mulheres se viram limitados por sua própria condição cultural, refletindo o conflito entre a sua vocação literária e o seu papel de esposas e mães. Além do mais, essas mulheres se defrontaram com as barreiras impostas por um mundo literário de domínio exclusivamente masculino no qual a feminilidade e a intelectualidade eram tidas como inconciliáveis.
Na segunda parte desse primeiro ensaio, Brígida Pastor destaca ainda como a escritora cubana iniciou de forma pioneira o debate feminista tanto em Cuba como na Espanha. A partir da análise da autobiografia, das memórias e do epistolário de Avellaneda, Pastor demonstra como as suas idéias feministas emergiam de forma recorrente nas abordagens de temas como o do casamento, da educação e da marginalização da mulher, ressaltando como a escritora cubana combatia veementemente todas as convenções e imposições sociais no âmbito de cada uma dessas esferas. A autora destaca como Avellaneda já denunciava, em meados do século XIX, a prática do casamento forçado e a própria instituição do casamento, a desigualdade entre a educação de homens e mulheres e, ainda, a discriminação sofrida pela mulher dentro do mundo literário e da sociedade em geral. Tais preocupações feministas, ao serem expressas publicamente por Avellaneda, lhe renderam perseguições e discriminações por parte das autoridades e do meio social cubano, sendo que algumas de suas obras literárias foram proibidas sob a alegação de que portavam idéias subversivas ao sistema escravista, bem como idéias que atentavam contra a moral e os costumes da época. Gómez de Avellaneda converteu-se, assim, segundo Pastor, numa vítima dos próprios códigos sociais discriminatórios que atacava, numa exceção entre as demais mulheres escritoras de sua época, por ter radicalizado e levado mais adiante que aquelas a bandeira feminista, com a crítica contundente dos valores discriminatórios e excludentes da sociedade patriarcal cubana.
Sob o título “Autobiografia y discurso estratégico: la escritura ginocrítica”, o segundo ensaio do livro se propõe a demonstrar que várias das estratégias narrativas empregadas na elaboração das cartas autobiográficas de Gómez de Avellaneda encontram-se limitadas pelos recursos teóricos que estavam ao alcance da mulher cubana daquela época para expressar sua identidade em uma cultura patriarcal. O termo “ginocrítica” designaria, no caso específico, algo como a abertura dos textos escritos por mulheres para as distintas formas femininas de analisá-los. O grande desafio e objetivo de Avellaneda, segundo Brígida Pastor, seria inventar, pela escrita, uma identidade genuinamente feminina, alternativa à identidade cultural do sistema patriarcal. Ou, mais precisamente, seria transformar a mulher, de objeto, desprovida de linguagem própria, em sujeito, com linguagem e direito próprios. Mas, para tanto, era necessário enfrentar, quase sempre de forma contraditória, os rígidos parâmetros que a sociedade impunha à mulher. Avellaneda enfrentará esse desafio por meio de sua própria pessoa, no âmbito privado—o único então que lhe era permitido—, em sua Autobiografia y cartas.
Tais textos expressam, ao mesmo tempo, segundo Pastor, os conflitos da própria escritora com as normas da sociedade e como a força dessas mesmas normas praticamente impede Avellaneda de reagir e libertar-se totalmente delas por sua própria conta. Em outras palavras, expõem o dilema da escritora cubana que, embora inserida numa sociedade que considerava a mulher objeto, assumiu abertamente o desafio de revelar-se em sua linguagem como sujeito autônomo e essencialmente feminino. Em seu afã de apresentar-se como uma mulher diferente, a escritora acaba por se mostrar como um ser dividido, em constante tensão e contradição com as convenções sociais que a perseguiam e limitavam. Tal fenômeno foi denominado por algumas teóricas feministas de “ansiedade de autoria”, como um sintoma do medo que as escritoras do século XIX experimentaram ao se atreverem a adentrarem no âmbito do mundo masculino.
O primeiro romance de Gómez de Avellaneda, intitulado Sab, de 1841, que narra o caso de um amor impossível de um mulato escravo (Sab) por uma mulher branca, é o foco central do terceiro ensaio do livro, “Discurso de marginación híbrida: género y esclavitud en Sab”. Nele a doutora Pastor pretende demonstrar, distanciandose de algumas outras interpretações críticas dessa obra, que o propósito principal de Avellaneda não foi o de narrar uma história de amor mais ou menos conflitiva e nem o de apresentar uma denúncia premeditada contra a escravidão, mas sim o de afirmar sua ideologia feminista, estabelecendo o paralelismo entre a situação de escravidão da raça negra e o estado de marginalização da mulher branca no seio da sociedade burguesa. Ou seja, com este romance a escritora cubana procurou, de acordo com a autora, estabelecer uma analogia entre a posição dos escravos e a da mulher, constituindo-se um discurso de marginalização híbrida que vincula a posição e a condição social da mulher com a representação do “outro”, nesse caso o escravo. Uma construção híbrida em razão de que esse escravo negro, embora do sexo masculino, é apresentado como um personagem sexualmente ambíguo, uma mescla de masculino e feminino, na medida em que se identifica com a condição social da mulher e questiona, ainda que de forma indireta, os valores patriarcais. Mas também porque esse escravo, na verdade, não é totalmente branco, nem completamente negro, sendo mais uma mescla de branco e negro e de africano e europeu. Por tudo isso, trata-se, segundo Pastor, de um personagem que desafia o discurso masculino dominante. Ainda que Avellaneda não tenha sido obcecada pelo ideal abolicionista, o personagem do escravo teria sido mais um meio ou um instrumento do qual a autora se serviu para proclamar os direitos da mulher e seu desejo de igualdade social.
Dividido entre duas realidades sociais, o escravo Sab não pertencia a nenhuma: se encontrava, como as mulheres, à margem da sociedade, em uma posição de subordinação, carente de poder e de voz própria.
Por fim, no quarto e último ensaio do livro, intitulado “Discurso identitario femenino em Dos Mujeres”, Brígida Pastor analisa outro romance de Avellaneda, Dos Mujeres (1842). Para a autora, este romance, mais do que uma simples crítica à instituição do casamento, representa um dos primeiros discursos feministas em língua castelhana que ataca as convenções sociais que discriminam e oprimem a mulher. A obra narra a história de duas mulheres (Luisa e Catalina) que representam os estereótipos bipolares comuns na sociedade patriarcal cubana: de um lado a mulher “anjo”, tradicional, submissa, carente de toda identidade própria, perfil que caracteriza a maioria das mulheres nesse contexto; e, de outro, a mulher intelectual, culta e liberada, rebelde, pouco convencional, tida pela sociedade como um “monstro”. Para a autora, com esse romance, Avellaneda, identificando-se claramente com a personagem intelectual e transgressora, oferece duas imagens diferentes da mulher do século XIX em sua constante batalha pela expressão de sua própria identidade feminina. Em que pese as diferenças óbvias entre esses dois estereótipos de mulheres, ao longo da narrativa Avellaneda faz com que ambas as personagens terminem por buscar, contraditoriamente, suas respectivas identidades genuinamente femininas.
Com esses quatro ensaios de crítica literária, a professora Brígida Pastor—com a autoridade de uma das mais respeitadas especialistas na obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda—nos brinda com um conjunto de reveladoras imagens da realidade feminina do contexto sócio-cultural hispano-americano do século XIX. Analisando e confrontando, de forma minuciosa e crítica, os escritos públicos e privados daquela que foi sem dúvida uma das mais importantes escritoras do mundo hispano-americano do século XIX, Pastor revela, com uma invejável sensibilidade e requinte de detalhes, os traços fundamentais que caracterizaram e marcaram o discurso feminista de Avellaneda. Assim, este livro constitui mais um bom exemplo de como a literatura, sobretudo quando esta constitui uma das raras alternativas e possibilidades de expressão das mulheres sobre suas próprias condições de vida, pode se constituir numa riquíssima via ou caminho para se compreender esse intrincado, complexo e contraditório universo feminino. Tendo como veículo e instrumento a obra literária de Avellaneda, o que Brígida Pastor capta e nos revela é, no fundo, a experiência reprimida e encoberta vivida pelas mulheres cubanas em meados do século XIX e, sobretudo, as entranhas e contradições de um mundo social discriminador e excludente, no qual praticamente todas as suas representações eram limitadas e moldadas por uma arraigada cultura patriarcal e discriminadora.
Eugênio Rezende de Carvalho – Universidade Federal de Goiás.
PASTOR, Brígida. El discurso de Gertrudis Gómez de Avellaneda: Identidad femenina y otredad. (Cuadernos de América sin nombre, Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti, 6). Alicante: Universidad de Alicante, 2002, 158 p. Resenha de: CARVALHO, Eugênio Rezende de. Revista Brasileira do Caribe, São Luís, v.6, n.11, p.285-291, jul./dez., 2005. Acessar publicação original. [IF]
Tempos interessantes. Uma vida no século XX – HOBSBAWM (RIHGB)
HOBSBAWM, Eric. Tempos interessantes. Uma vida no século XX. São Paulo: companhia das Letras, 2002. Resenha de: RODRIGUES, Lêda Boechat. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v.164, n.418, p.219-223, jan./mar., 2003.
Lêda Boechat Rodrigues – Sócia emérita do IHGB.
[IF]Ursula Suárez (1666- 1749). Relación autobiográfica | Academia Chilena de la Historia
Resenhista
Rene Salinas Meza – Universidad de Chile.
Referências desta Resenha
ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA. Ursula Suárez (1666- 1749). Relación autobiográfica. Santiago: Biblioteca Antigua Chilena, 1984. Resenha de: MEZA, Rene Salinas. Cuadernos de Historia. Santiago, n.4, p. 199-200, julio, 1984.