Posts com a Tag ‘Aprendizagem Histórica’
4. A compreensão por camadas – Kieran Egan
Kieran Egan | Imagem: Wikipédia
Na semana passada, vimos um filósofo da história ou um filósofo da educação pautando uma ideia de ser humano e, consequentemente, uma teoria da aprendizagem que também pode ser classificada como Teoria da produção de sentido. Hoje faremos o mesmo exercício com o filósofo irlandês, radicado no Canadá, Kieran Egan. Vamos fazê-lo, comparando o que dizem os dois autores acerca de narrativa, fins do componente curricular história, estrutura mental dos alunos e tipologias da consciência.
4.1. Narrativa como fim e como meio para o componente curricular história
Para Jörn Rüsen e Kieran Egan, a narrativa é objeto básico no planejamento dos professores de História. A produção de sentido se faz narrativamente. Quando chegamos a falar o “Eu entendi”, nós acabamos de efetuar uma operação narrativa. Nós acabamos de articular presente, passado e futuro (não necessariamente nessa mesma ordem).
Nos dois autores, contudo, narrativa possui status diferente. Em Rüsen, narrar é o fim (ou, na pior das hipóteses, o meio-fim). Consequentemente, aprender significa capacitar-se a usar habilidades mentais, empregando conhecimento histórico escolar para domar o acontecido perturbador e orientar-se na vida prática. Em Egan, narrar é meio. Consequentemente, aprender significa (na perspectiva do aluno) interiorizar (também) conhecimento histórico escolar, envolvido por emoção e imaginação proporcionadas pelo enredamento de determinados acontecimentos.
Em Rüsen, aprender historicamente não é, necessariamente, interiorizar conteúdos histórico-escolares substantivos (conceitos, generalizações, fatos e processos – traduzidos em nome de coisas, pessoas, lugares tempos e ações). É fazer uso deles de modo narrativo para orientar-se na vida prática. Com essa posição, Rüsen pode ser posto ao lado dos professores de História que defendem o desenvolvimento de habilidades (historiadoras, inclusive) como a principal meta para o componente curricular história em todas as etapas do tempo escolar, pensado em situações de escala, como é o caso da Base Nacional Curricular Comum – BNCC.
Em Egan, aprender historicamente é, necessariamente, interiorizar conteúdos históricos escolares substantivos. É apreendê-los de modo mais durável e significativo (empregando a narrativa). Com essa posição, portanto, Egan pode ser posto ao lado da maioria dos professores que, por tradição e estratégia de sobrevivência, defendem a apreensão de conteúdo histórico-escolares substantivos como a principal meta do componente curricular história em todas as etapas do tempo escolar, seja em situações comunicativas de escala, seja em situações comunicativas limitadas à apenas uma sala de aula.
4.2. Estruturas mentais
Além do papel da narrativa e dos fins do ensino escolar de História, Rüsen e Egan teorizam sobre a estrutura mental dos alunos e as resultantes da dinâmica dessa estrutura ao longo do tempo. Aqui, as diferenças se ampliam.
Rüsen opera com universais antropológicos e Egan também. Rüsen entende a mente do ser humano típico como estruturada em habilidades de rememorar, interpretar, orientar e estimular. Egan entende a mente do ser humano típico como orientada por habilidades macro de raciocinar e imaginar, atribuindo à segunda o maior papel na aprendizagem. Ele afirma que o narrar, o contar piadas e o gesticular também são universais antropológicos (ferramentas de comunicação transcultural).
O fato de Egan atribuir maior relevância à capacidade imaginativa o coloca em situação diametralmente oposta a Rüsen – que reforça o caráter cognitivo/racional da operação de aprendizagem e a natureza cognitivo/racional do conteúdo substantivo do componente curricular história (para combater a indiferenciação entre historiografia e literatura). Aí também está a diferença de Egan em relação a Jean Piaget, que reforça o caráter lógico e lógico/matemático da operação escolar de aprender. Este abandono da capacidade imaginativa do ser humano em situações de aprendizagem escolar, segundo Egan, é erro antigo que atravessou séculos e foi mantido na teoria de Piaget.
Observando o comportamento das crianças e jovens em idade escolar, Egan sugere aos professores que respeitem as diferentes compreensões típicas das faixas etárias dos alunos e que as empreguem como ferramentas estimulantes das emoções e, consequentemente, da capacidade de imaginação. (Tudo que se conhece está envolto em emoções).
Como vocês verão adiante, Egan entende aprendizagem como fenômeno realizável em diferentes dimensões, legitimando, por exemplo, a aprendizagem lógica (Egan, 1986, p.291-202) e a aprendizagem genética professáveis por piagetianos e rüsenianos. Egan, porém, alerta que a intelecção como fenômeno lógico/racional é apenas um possível final de outras etapas de aprendizagem. Para que a intelecção seja atingida, as outras formas de aprender ou as outras formas de os alunos atribuírem sentido ao mundo que os cercam devem ser experimentadas.
Essas etapas anteriores da aprendizagem escolar explicitam uma filosofia especulativa da História e, simultaneamente, uma Teoria do desenvolvimento humano. São etapas anteriores da socialização da espécie humana, pré-existentes ao modo moderno (científico) de atribuir sentido. Cada uma dessas etapas civilizacionais oferece um conjunto de ferramentas cognitivas à espécie humana e, correlatamente, às etapas do ensino escolar e disciplinar. A exemplo de vários teóricos da educação dos séculos XIX e XX, incluindo o próprio Rüsen, essa filosofia da História e essa Teoria do desenvolvimento humano replicam a hipótese da filogênese e da ontogênese dos humanos.
Assim, para as crianças que vivem a correlata cultura oral (uma das hipotéticas etapas da humanidade, espelhada em uma hipotética etapa da vida de um aluno), as ferramentas são:
- categorias de binários opostos (crianças que vivem estágio de cultura oral, em geral, pensam a partir de binários contrários, a exemplo de “bom/mau, valente/covarde, seguro/perigoso, quente/frio, etc);
- personagens fantásticos (o conteúdo do pensamento das crianças é formado por criaturas que mesclam natureza/cultura);
- narrativas (crianças chegam ao sentido das coisas após ouvirem ou construírem uma narrativa).
Para as crianças que já são alfabetizadas (situadas em uma etapa hipoteticamente correlata a uma etapa da história da humanidade), as ferramentas são:
- Coisas e personagens que desafiam a realidade (o “mais exótico, o mais estranho e o mais bizarro”);
- A autoidentificação com heróis e heroínas do presente (“heróis, heroínas, estrelas de cinema, astros de futebol”; e
- A busca dos detalhes extremos da realidade (o gosto e o habito de colecionar coisas)
Para encerrar essa série de comparações, vejamos o que Egan e Rüsen declaram sobre os resultados da mente em trabalho, ou seja, sobre como como os dois filósofos significam a expressão “consciência histórica”.
4.3. A mente em ação: tipologias de consciência e de compreensão históricas
À primeira vista, as duas concepções são bastante semelhantes. Ambos abordam experiência temporal da espécie humana e dos indivíduos humanos, associando filogênese e ontogênese. Para Rüsen, a trajetória da humanidade pode ser periodizada (tipicamente) em quatro momentos (em 2015, ele alterou para três momentos):
- período de consciência tradicional,
- período de consciência exemplar,
- período de consciência crítica e
- período de consciência genética.
Para Egan, a trajetória da humanidade pode ser periodizada (também, tipicamente) em quatro momentos:
- período de “compreensão” mítica ou dramática,
- período da compreensão romântica,
- período da compreensão filosófica (por padrões/estruturas) e
- período da compreensão irônica (por detalhes/científica). (Egan, 2017, p.26).
Observem que, nessa comparação, as palavras “consciência histórica” (Rüsen) e “compreensão histórica” (Egan) expressam significados idênticos acerca de espécie humana. Em ambos os autores, podemos conceber a espécie como o ente que modificou sua forma de se relacionar com o tempo (de explicar a mudança/permanência das coisas) em quatro etapas, nos últimos dois milênios.
Também nos dois autores, essa modificação na forma de se relacionar com o tempo expressa um sentido de progresso.
Em ambos o melhoramento é capturado pela historiografia de cada época que, observada linearmente e em seu conjunto, representa um progresso: escritas da história tradicional, exemplar, crítica e genética (em Rüsen) e escritas da história mítica, romântica, filosófica e científica (em Egan).
Observem, por fim, que as palavras “consciência histórica” (Rüsen) e “compreensão histórica” (Egan), nesta comparação, expressam significados idênticos acerca do indivíduo humano. Em ambos a vida do indivíduo é (tipicamente) uma abreviação da vida da espécie humana. Se a espécie experimenta quatro períodos, os indivíduos também experimentarão quatro períodos em seu desenvolvimento.
Como desdobramento dessa abordagem filo/ontogenética da espécie e do indivíduo, idênticos significados de formação de pessoas na escola (ou socialização) foram gerados: a educação escolar deve respeitar essa progressão.
Assim, o currículo da escola e, particularmente, os planejadores do componente curricular história devem considerar que diferentes e sequências consciências (Rüsen) ou de compreensões (Egan) históricas estruturam planos de curso que podem durar quatro, oito ou até 12 anos.
Rüsen e Egan, contudo, se diferenciam nos usos dessa abordagem onto/filogenética de espécie e de indivíduo quando o assunto é o proveito que oferecem à uma estrutura para os tipos de consciência (Rüsen) ou os tipos de compreensão (Egan).
Para Rüsen, o ensino de história, comprometido com um mundo globalizado e não etnocêntrico, deve fazer o aluno migrar de uma consciência pré-científica (tradicional ou exemplar) para uma consciência do tipo genético. Egan, ao contrário, aconselha que os professores de história não vejam os correlatos tipos pré-científicos (do não citado Rüsen) como um obstáculo à socialização via escola. Ele sugere efetivamente o contrário: os tipos mítico, romântico e filosófico são auxiliares à constituição de sentido ao modo científico.
Para Egan, complementamos, esses tipos pré-científicos não são auxiliares (e benéficos) à constituição de sentido sobre o mundo que cerca o aluno apenas por obediência à lei biogenética fundamental (a abordagem filo/ontognética). Professores de história devem tirar proveito dessas formas de compreensão porque elas envolvem os alunos emocionalmente e estimulam a sua imaginação. E a imaginação, como vimos, é uma capacidade secularmente abandonada pelos teóricos da educação, psicólogos da aprendizagem e formuladores de currículo para a escolarização infantil/primária/secundária no ocidente (graças à hegemonia das teses, por exemplo, de Piaget).
4.4. Da aprendizagem histórica à aprendizagem de qualquer componente curricular
Nas duas primeiras décadas deste século, a tese da aprendizagem como camadas de compreensão foi difundida e traduzida como um novo modo de planejar currículos e um estoque de técnicas de ensino e de aprendizagem significativos. A expressão mais usada, porém, deixou de ser a “compreensão em camadas”, ganhando relevo a ideia de “educação imaginativa”.
Em livro do mesmo título, Egan replicou os três fundamentos da sua proposta. O primeiro foi extraído do pensamento de L. S. Vygotsky: as crianças dão sentido ao mundo por imitação dos mais velhos ou dos adultos e, adiante, empregam as antigas ferramentas como meios para “melhorar seu poder de pensamento e ampliar sua compreensão” (Vygotsky).
O segundo princípio foi extraído da experiência das culturas orais (como destacamos no início desta aula): determinadas ferramentas cognitivas de produção de sentido nas culturas orais (como a narrativa) podem ser usadas para a apropriação de conteúdo disciplinar de modo prazeroso e estimulante.
O último princípio resulta de sua própria pesquisa na Simon Frase University: as ferramentas cognitivas na educação escolar são desenvolvidas simultaneamente (são interdependentes) como “caixas de ferramenta”, a exemplo da “oralidade e da alfabetização”. (Egan, 2018, pos. 211).
Em uma das suas entrevistas de divulgação, contudo, podemos perceber a permanência da sua tipologia da compreensão em camadas. Ele afirma que as principais habilidades envolvidas na aprendizagem humana são a imaginação e a emoção (ideia de ser humano). A aprendizagem “significativa” seria o processo e a resultante da mobilização da imaginação e da emoção do aluno por meio situações de ensino que replicassem situações nas quais o conhecimento ensinado foi elaborado.
A aprendizagem, nesse sentido, é sempre histórica porque mediada por uma narrativa sobre a construção do objeto do conhecimento, transformado em conteúdo disciplinar. O princípio educacional é o seguinte: Se todo o conhecimento no currículo “é produto das esperanças, medos e paixões humanas […] temos que incorporar, em primeiro lugar, aquelas esperanças, sentimentos e paixões que estiveram envolvidos em sua elaboração ou no uso que alguém lhe dá nos dias de hoje” (Egan, 2017, p.26).
As ferramentas cognitivas que medeiam esse tipo de aprendizagem também foram modificadas ao longo da sua obra. Umas foram abandonadas (Egan, 2005, pos. 127-157) e outras permaneceram no livro mais recente (Egan; Judson, 2018). A ferramenta que conhecemos como “passado – tempo verbal”, porém, conservou-se como um dos principais instrumentos de produção de sentido. Ela amplia a nossa capacidade de comunicação, segundo Egan (2005, pos.157).
A taxonomia das camadas de produção de sentido foi acrescida de mais um tipo: o somático ou compreensão corporal, efetuada por gestos e sons. (Egan, 2017, p.50). Assim, pautado por sequências paralelas de desenvolvimento social e individual (filogenético e ontogenético), Egan pressupõe que o aprender se constitui no desenvolvimento e na mobilização de cinco “ferramentas cognitivas” partilhadas pelos seres de todas as culturas. São as compreensões: somática, mítica, romântica, filosófica e irônica.
Ao comparar essas proposições com as de Rüsen, percebemos que Egan também propõe uma estrutura mental a ser privilegiada (emoção e imaginação) e cinco formas de mobilização dessa estrutura mental (somática, mítica, romântica, filosófica e irônica). (Egan, 2017, p.27).
Em contrapartida, admite certa crítica à ideia de que se desenvolver é adquirir e acumular melhoramento. O processo de aprender a ser uma pessoa é também um processo de perdas de determinados valores benéficos à espécie. (Egan, 2017. p.28).
4.5. Planejando as aulas de história para o ensino fundamental
Pelo esquema a seguir, aplicar diretamente as teses de Egan sobre aprendizagem e aprendizagem no componente curricular história nos anos finais do ensino fundamental, por exemplo, significa adotar alguns dos seus princípios[1] de aprendizagem, como guias organizadores do currículo, apresentados no quadro 1 em sequência progressiva.
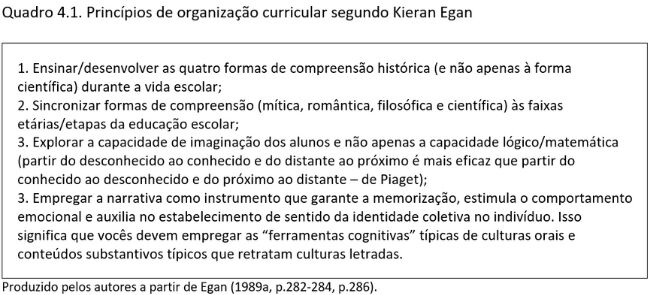
Seguindo os princípios acima, ao invés de programar expectativas de aprendizagem para o ano letivo, o bimestre, a unidade ou a aula, vocês devem planejar situações nas quais determinadas narrativas reais serão contadas.
Assim, para os primeiros anos da escolarização, ao invés de concentrar o ano, o bimestre, a unidade ou a aula no desenvolvimento de uma, duas ou mais habilidades, vocês devem criar situações nas quais os tópicos (que agregam conceitos, generalizações, fatos e processos) prescritos pela coordenação de História, pelo Projeto político Pedagógico da Escola, Currículo municipal ou mesmo a BNCC sejam explorados como narrativas, a partir de um modelo de planejamento que estimule emoções no aluno e/ou que o envolva emocionalmente com o conteúdo prescrito.
Egan fornece esse roteiro em quatro passos que são (em nossa compreensão) as principais metas de um ensino imaginativo: apreender a importância de um tema histórico, identificar binários opostos potenciais, enredar binários opostos e encontrar a melhor maneira (um desfecho) de os alunos produzirem o sentido antecipado (a importância do tema).
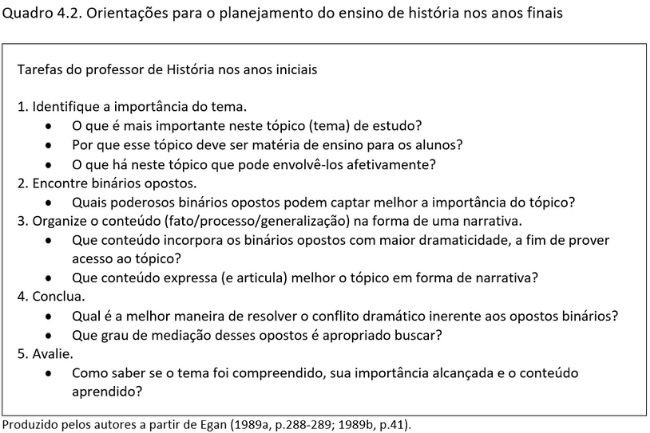
Para os anos finais do ensino fundamental a orientação se repete. Vocês devem identificar o valor de um tema histórico (relativo aos fins do componente, do PPP etc.), identificar binários opostos potenciais, enredar acontecimentos em binários opostos e encontrar a melhor resolução para a tensão provocada pelos binários opostos, de modo que os alunos produzam sentido próximo ao valor que vocês estabelecem sobre o tema em estudo.
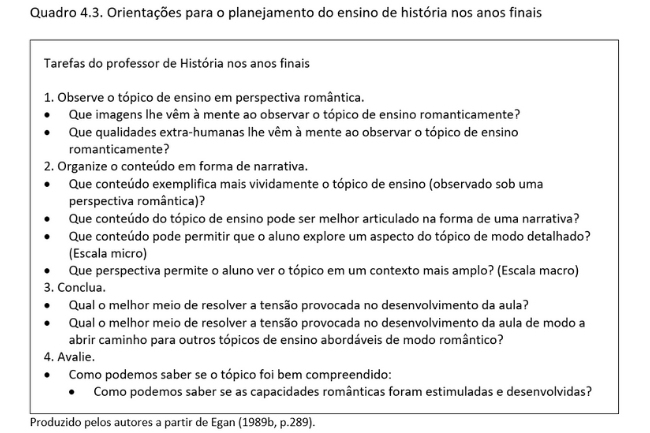
4.6. Defeitos de Egan
É fácil por defeito na Teoria da aprendizagem histórica de Egan depois de perceber as ambiguidades e incoerências das teorias do desenvolvimento, da educação e da aprendizagem de Rüsen. Para os profissionais da história com formação inicial encerrada nos últimos 30 anos é ainda mais fácil, considerando os “sacrilégios” cometidos por filosofias especulativas da história às epistemologias históricas constituídas no mesmo período. Assim, os principais senões são, novamente, situados no progressivismo que atravessa as ideias de humanidade e ser humano. Grande problema, contudo, para quem questiona o antropocentrismo da sua teoria, está no fato de essa crítica (fundada, por exemplo, na antiantropologia de M. Foucault) não vir acompanhada de um substituto para esse antropocentrismo.
No que diz respeito ao forte apelo à especulação fundamentada no par filogênese/ontogênese, na qual se baseia Egan para explicar o desenvolvimento de indivíduos (e de indivíduos-alunos), a crítica deve ser endereçada, principalmente, aos profissionais que não compreendem o par categorial como logicamente deveria ser compreendido hoje: uma hipótese heurística.
Outro flanco aberto da sua teoria da aprendizagem histórica (assim a consideramos) está no acréscimo recente de mais uma camada de compreensão (somática). Esse evento, de certo modo, enfraquece o emprego do par filogênese/ontogênese, fortemente enraizado em certa ideia de processo civilizatório. Que etapa da vida da humanidade representaria essa camada inferior (ou primeira)?
Notas
[1] Piaget chega a ver obstáculos na aprendizagem conceitual (abstrata), típica de determinados componentes curriculares, dada a limitação das crianças que operam sobre o concreto. Para Egan, o princípio extraído da experiência das culturas orais é o seguinte: a produção de sentido depende da experimentação de emoções. A consequência desse princípio é, também, a seguinte: ensinar é “presentar o tema, extraindo seu significado emocional e ponto em marcha a imaginação dos alunos” (Egan, 2018, pos.575), é evocar emoções dos alunos, análogas às emoções experimentadas pelos personagens da história narrada. (Egan, 2018, pos.503) e aprender é reter (de memória) significativamente ou reter o objeto de aprendizagem experimentando medos, ansiedades, prazeres, curiosidades, incertezas etc. Visitar um lugar de ocorrência de determinado fato, ler o relato de viagem ou investigar a biografia de um dos personagens, até contar a história da palavra que dá nome ao acontecimento, estruturar uma narrativa sobre “opostos binários” (fortaleza e fraqueza, segurança e vulnerabilidade etc.) e formar imagens mentais a partir de palavras lidas ou ouvidas, recolher e usar metáforas relativas ao tempo, contar piadas ou zoar, tudo isso é estratégia geradora de emoções e estimuladora da aprendizagem de conteúdo abstrato. (Egan, 2018, pos. 575).
Referências
EGAN, Kieran. An imaginative appproach to teaching. San Francisco: Jossey-Bass, 2005.
EGAN, Kieran. Education and Psychology: Plato, Piaget and scientific Psychology. London: Routledge, 2012. Primeira edição em 1983.
EGAN, Kieran. Teaching as story telling: an alternative approach to teaching and curriculum in the elementary school. Chicago: University of Chicago Press 1989a. Primeira edição em 1986.
EGAN, Kieran; JUDSON, Gillian. Educación imaginativa: Herramientas cognitivas para el aula. Madrid: Narcea, sd.
EGAN, Kirien. Layers of historical understanding. Theory & research in Social Education, n.17, v.4, p.280-294, 1989b.
GRIMALDO, Adriana. Entrevista a Kieran Egan. In.: BOULLOSA, Pablo et. al. Educación imaginativa: Una aproximación a Kieran Egan. Madrid: Morata, 2017. p.23-32.
Avaliação diagnóstica
Leiam o texto de síntese e alguns trechos dos textos originais e preencham o formulário abaixo que registra as principais dificuldades de leitura e orientam a preleção do professor.
1. Sobre o texto síntese “Aprendizagem geral e aprendizagens disciplinares”:
- Li e não entendi a seguinte passagem: _____________________________
- Li e quero comentar a seguinte declaração com a qual concordo/discordo: ___________________________
2. Sobre o texto do autor-objeto da aula desta semana:
- Li e não entendi a seguinte passagem: ________________________________
- Li e quero comentar a seguinte declaração com a qual concordo/discordo: _____________________________
Acesse aqui o formulário para responder a esta avaliação diagnóstica.
Próxima aula
Na próxima aula, continuaremos a exposição de propostas de aprendizagens reivindicadas por pesquisadores estrangeiros. Discutiremos as principais categorias formuladas por Kieran Egan, extraídas de textos como: An imaginative appproach to teaching (2005) e Layers of historical understanding (1989).
Para citar este texto
FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Margarida Maria Dias. A compreensão por camadas – Kieran Egan. São Cristóvão, 11 ago. 2022. Disponível em <https://www.resenhacritica.com.br/a-cursos/3-aprendizagem-historica-na-teoria-da-historia-de-jorn-rusen/>.
3. Aprendizagem histórica como atos integrados de experimentar o passado, interpretar o passado, orientar-se e estimular-se a agir na vida prática – Jörn Rüsen
Jörn Rüsen | Imagem: Wikipédia
Iniciamos esta aula, lembrando os objetivos deste curso, ao abordar a Teoria da História de Rüsen: colher conceitos e proposições da Teoria da História de Rüsen que subsidiem projetos de aprendizagem histórica de vocês no PROFHISTÓRIA. Não vamos estudar as bases do pensamento de Rüsen ou explorar os seus acertos e contradições. Uma boa visão geral da obra de Rüsen e da sua apropriação no Brasil está na própria apresentação da Teoria da História – “A obra de Jörn Rüsen e a sua relevância” –, escrita por Estevão Martins, Maria Auxiliadora Schmidt e Arthur Assis, e no artigo de Wiliam Baron – “A Teoria da História de Jörn Rüsen e os seus principais comentadores”.
Na aula 1, admitimos que Rüsen pode ser classificado como teórico geral da Educação e não, exclusivamente, como teórico de uma aprendizagem disciplinar histórica. Vamos tentar convencê-los sobre a razoabilidade dessa proposição, apresentando os usos dominantes que ele faz da expressão “aprendizagem histórica” na última versão da sua Teoria da História (2015).
3.1. Rüsen é o mais conhecido pedagogo do ensino de história
Rüsen pode ser considerado o teórico de uma aprendizagem geral no momento que ele estabelece uma ideia dominante de mente humana (para além da marginal mente freudiana). Ele afirma que o homem é detentor de quatro habilidades mentais: experimentar e interpretar o acontecido, orientar-se e estimular-se a agir na vida prática. Esses poderes mentais capacitam o homem a viver.
Se tais habilidades são fundamentais à produção de sentido (sentido com o significado de racionalização dos acontecimentos que desorganizam a vida humana), elas devem ser potencializadas nos processos de formação de pessoas. O que a escola, o sindicato, o museu, o terreiro de Candomblé, o acampamento do MST, a catequese e o culto da Igreja Universal devem promover, segundo o esquema de Rüsen, é o desenvolvimento integrado dessas habilidades. Essa seria a finalidade a ser cumprida por todas as disciplinas ou saberes que circulam nesses espaços de formação. É nesse sentido que entendemos Rüsen como o teórico de uma aprendizagem geral.
Mas Rüsen não se limita a teorizar sobre o a natureza da humanidade (caráter de ser/estar humano), isto é: a manipulação do passado mediante quatro operações mentais. Ele também teoriza sobre as formas que resultam dessa manipulação do passado: a consciência tradicional, a consciência exemplar, a consciência genética e a consciência crítica.
Cada uma delas, como dito, representa uma atitude em relação ao passado: explicando o acontecido a partir das origens, explicando o acontecido dentro de regras de exemplaridade, explicando o acontecido a partir das suas próprias circunstâncias (temporais) que marcam o ocorrido (tempo).
Além de tipificá-las, Rüsen põe as quatro formas em sucessão, explicando hipoteticamente como o ser humano evolui em termos de espécie e como o ser humano evolui em termos individuais (ontogênese).
Com esse procedimento hipotético, ele esboça uma história da Humanidade (escala em milênios) e fornece elementos para que os professores esbocem uma história dos indivíduos (escala em décadas). É nesse sentido que entendemos Rüsen como um teórico do desenvolvimento humano. Ele escalona etapas ideais típicas para a evolução da humanidade e as replica na evolução de uma pessoa.
A conclusão desse primeiro momento didático é desconcertante para muitos de nós: Rüsen, tido como um Teórico da História ciência/disciplina é, na verdade, o nosso mais famoso pedagogo quando o assunto é “aprendizagem histórica”.
3.2. A aprendizagem histórica é fornecida pela Teoria da História
Aprendizagem histórica é uma capacidade: a capacidade de pensar historicamente. Do ponto de vista de um domínio de pesquisa – a Didática da História –, aprendizagem histórica pode ser definida como o conjunto de “operações” e “formas” de lidar com o passado ou de produzir sentido (Rüsen, 2015, p.248-249).
As operações de aprendizagem são habilidades mentais que possibilitam ao ser humano lidar com o passado ou produzir sentido. Aprender historicamente significa, então, mobilizar as habilidades de experimentar, interpretar, orientar e motivar. Hipoteticamente, todos os humanos possuem esses poderes de reconhecer a distância presente/passado (experimentar), de explicar a razão do passado (interpretar), de planejar e executar uma ação remediadora (orientar-se e estimular-se na vida prática).
As formas da aprendizagem, por seu turno, são modelos de lidar com o passado ou produzir sentido. Aprender historicamente significa, nesse aspecto, lidar com o passado ou produzir sentido de modo tradicional, exemplar ou genético.
Essas operações mentais e esses modelos de lidar com o passado são objetos fornecidos ao domínio da Didática da História por um domínio de pesquisa chamado Teoria da História. A Teoria da História de Rüsen fundamenta, assim, a parte “teórica” da aprendizagem histórica – a configuração quadripartite da mente – e a parte prática da aprendizagem histórica – a configuração quadripartite da evolução da mente.
3.3. A Teoria da História de Rüsen não é exclusivamente Epistemologia da História
Antes de passar para as condições de possibilidade de uma aprendizagem histórica no âmbito da disciplina escolar história, é importante deixarmos claro que a Teoria da História de Rüsen não é, exclusivamente, uma Epistemologia da História.
Um dos grandes trunfos da Teoria da História de Rüsen, lançada (em português) no início da década passada, foi reconhecer o caráter pragmático do conhecimento histórico produzido cientificamente e compreender teoria e prática da aprendizagem histórica como objetos de trabalho dos historiadores.
Ocorre que, por bastante tempo, compreendemos a trilogia de Rüsen, exclusivamente, como Epistemologia histórica, ou seja, como um discurso que estabelecia os “procedimentos intelectuais do pensamento histórico” (no sentido de processo de produção do conhecimento histórico-científico). Em outras palavras, compreendemos a trilogia de Rüsen como veiculadora da matriz disciplinar (carências, concepções, métodos, formas de representação e orientação para o agir).
É provável que tenhamos agido assim por causa da nossa aversão às filosofias especulativas da História, mas sabemos, agora, que o próprio Rüsen é um filósofo especulativo da história, já que pergunta, exatamente, pelo sentido da vida. O fato é que essa leitura da Teoria como exclusiva Epistemologia da História nos levou a raciocinar da seguinte maneira: Se a Teoria da História oferece os fundamentos da Ciência da História e da Didática da História, as decisões sobre a aprendizagem histórica escolar devem ser balizadas pela disciplina formativa Teoria da História (supostamente, espelho do domínio de pesquisa “Teoria da História”) que justifica a História como Ciência. Estaria criado, enfim, o cordão umbilical entre o ensino de história como domínio de pesquisa e os vários domínios nos quais a História é reconhecida como ciência.
Ocorre que as coisas não são tão claras quanto aparentam nas nossas ligeiras reflexões no cotidiano do “ensino” de Teoria da História e de Didática da História. A Teoria da História de Rüsen (no sentido de corpo de conceitos, valores e procedimentos formulados) não é, exclusivamente, uma Teoria justificadora da cientificidade da História-ciência. A Teoria da História de Rüsen é, ao menos nas primeiras páginas do capítulo 2 da sua principal e mais recente publicação, uma teoria do sentido histórico, ou seja, uma Teoria de como os seres humanos racionalizam, compreendem e explicam as rupturas cotidianas (dor, infelicidade e morte) (p.4-42). A Teoria da História de Rüsen é uma teoria de como o ser humano sente e pensa as “perturbações” exteriores que desorganizam a sua vida. A Teoria da História de Rüsen é uma teoria de como os homens vivem – de como os homens pensam: é uma teoria do pensamento histórico, inclusive, no seu sentido mais estreito (considerando as habilidades mentais reiteradamente utilizadas).
Rüsen não é de todo coerente ao significar a expressão “pensamento histórico”. Mas podemos afirmar que, no início da argumentação sobre “Os fundamentos do pensamento histórico”, o adjetivo “histórico” da expressão “Teoria da História” não descende da História-ciência. O “histórico” vem de narrativa (acontecimentos em sucessão, que formam um enredo). O “Pensamento histórico” não é “histórico” por causa da Ciência da História. O “pensamento histórico” é “histórico” porque se realiza como narrativa. É por isso que concluímos esse terceiro momento didático da aula afirmando: A Epistemologia histórica de Rüsen é tão dependente da Teoria da História de Rüsen quanto a clássica Didática da História, hoje respeitada em quase todos os estados do Brasil.
3.4. Aprendizagens históricas mitigadas
Esta aula, como avisamos, foi montada sobre dois capítulos da Teoria da História de Rüsen. Assim procedemos para evitar as intermináveis discussões sobre as dubiedades de conceitos empregados por Rüsen, referentes às relações entre a Teoria da História e a Ciência Histórica e entre a Teoria da História e a Didática da História. Contudo, mesmo no livro de 2015, há variações nos usos de “Pensamento histórico” e de “História”, por exemplo. Isso nos obriga a concluir que as contribuições rüsenianas para projetos de aprendizagem histórica são também dispersas.
3.4.1. Aprender é empregar as habilidades universais do ser humano
Rüsen apresenta mais de uma versão para o seu ser humano típico: ele pode aparecer como ego/superego/id e como estruturado em dimensões ética e religiosa, por exemplo. Mas fiquemos com a tipologia dominante: a que entende um humano típico como constituído pelas habilidades de experimentar, interpretar, orientar e motivar.
Quem quer assumir Jörn Rüsen como orientador principal do seu projeto de aprendizagem deve construir seus objetivos de aprendizagem usando essas quatro expressões como verbos principais: experimentar, interpretar, orientar e motivar. O uso deles, certamente, deverá obedecer à demanda implícita nos objetivos educacionais de aula/unidade etc. porque (não é demais lembrar) a divisão quadripartite é tipológica e, consequentemente, didática. Assim, no planejamento de uma atividade, o aluno mobilizará duas, três ou todas essas habilidades mentais de uma só vez.
Essa orientação vale para o preparo de atividades em sala de aula, para o planejamento de exposições em museus, para a edição de filmes, montagem em história em quadrinhos e, sobretudo, para a construção dos textos principais dos livros didáticos de história. Ao mobilizar de modo integrado tais habilidades – ao articular presente/passado/futuro – o aluno desenvolverá (mesmo que não seja nomeada) a chamada competência narrativa.
3.4.2. Aprender é elevar a consciência ao estágio genético
Estimular o emprego equilibrado dessas habilidades, porém, não tipificará tão facilmente o seu projeto como rüseniano. Até aqui, tratamos de habilidades. Para serem rüsenianos, vocês devem construir os objetivos da disciplina escolar História a partir da teleologia (ou utopia/ou proposição de fins para a vida etc.) professada por Rüsen – a construção de um humanismo intercultural. As finalidades centrais da História ensinada serão, portanto, a constituição da consciência genética do aluno.
Rüsen apresenta a sua tipologia de estágios e também de progressão como uma hipótese para explicar o desenvolvimento dos humanos e o desenvolvimento da consciência de cada indivíduo, durante a infância e a juventude. A hipótese sobre o desenvolvimento humano é transformada em projeto curricular, quando ele afirma que a consciência compatível com o mundo moderno é a consciência genética. A consciência exemplar (explicar o ocorrido e orientar-se na vida prática por meio de regras extraídas em passados longínquos) é o pensar histórico dos tempos pré-modernos, ou seja, anteriores ao século XVIII.
Assim, para quem quer tipificar o seu projeto de aprendizagem histórica como rüseniano, é fundamental planejar um currículo que privilegie a articulação das quatro habilidades mentais do aluno como finalidades menos abstratas para o componente curricular História, que traduzem a finalidade mais abstrata de formar para o humanismo intercultural. Os alunos devem, então, desenvolver a capacidade de dar respostas às perturbações da sua vida e do seu grupo de modo genético, ou seja, que cada ocorrência deva ser compreendida a partir das circunstâncias temporais que as geraram. Em uma frase: desenvolver as habilidades do pensamento histórico para que os alunos convivam em ambiente de alteridade (em diferentes tempos e diferentes espaços).
3.4.3. Aprender é se apropriar de uma moderna história da Humanidade
Ainda que não tenham optado por construir objetivos educacionais e estabelecer as finalidades da história escolar a partir da utopia rüseniana, vocês podem tangencialmente se alinhar à sua ideia de aprendizagem histórica, modificando o critério de escolha dos conteúdos substantivos.
Dentro de uma proposta de humanismo intercultural (antagônica ao humanismo eurocêntrico), vocês podem privilegiar o ensino de “toda a história” da humanidade. Vocês objetarão que isso já vem sendo feito nos livros didáticos de História. Mas Rüsen, provavelmente, responderia: “vem sendo feito de modo disperso. O livro didático de vocês apresenta uma história em migalhas, principalmente, para os últimos dois séculos.”
Ao contrário dessa dispersão, Rüsen propõe que ensinemos uma história da Humanidade com um fio condutor: os direitos humanos e civis (para melhor intelecção, pensem que Rüsen está a propor uma história monotemática). Essa trajetória enfatiza a ideia de “continuidade histórica” e justifica, inclusive, a tarefa presente dos professores de história: sociabilizar a geração jovem, obviamente, a partir dos valores e práticas da geração madura. A tipologia rüseniana da consciência histórica pode bem ser a estrutura dessa nova história total, que culminaria com “a ideia de dignidade humana”.
No segundo livro sobre a obra de Rüsen (organizado pela professora Schmidt), que trata de aprendizagem histórica, Rüsen apresenta a sua sugestão de ensino de (ou por meio dos) Direitos Humanos. Na palestra que proferiu no mesmo ano de lançamento do Teoria da História, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Rüsen explicitamente reivindicou o uso da História Universal e da Filosofia da História como disciplinas fundamentais ao domínio da Didática da História.
3.5. Um defeito na teoria de Rüsen
Como qualquer atribuição de valor, a crítica historiográfica à Teoria da História de Rüsen é perspectivada (repetição necessária) em valores. Assim, não vai ser difícil encontrar quem classifique a sua obra como não original, ambígua, lacunar, confusa e excessivamente esquemática.
As diferentes perspectivas de história, Teoria da História, ensino de História, aprendizagem histórica, por exemplo (fundamentadas em categorias de experiência, de E. P. Thompson, ou de rizoma, de Gilles Deleuze e Félix Guattari) também explicam a detecção de erros rüsenianos. O emprego fragmentado da sua teoria, focando, por exemplo, nos significados rüsenianos de “consciência histórica”, “didática da história”, “aprendizado histórico”, “narrativa histórica”, “formação histórica” e “identidade” é uma terceira fonte para detecção dos erros. A quarta é a variação do status da “Didática da História” diante da “Teoria da História”: disciplina formativa, domínio de pesquisa, ciência autônoma etc.? (Freitas, 2022).
Das várias possibilidades de se encontrar erros na teoria rüseniana, destacamos a que nos parece impactar mais diretamente nos planejamentos da aprendizagem histórica na escolarização básica: as insuficiências da sua proposta de formação para a vivência intercultural. Quem mais longe enxergou o núcleo dessa limitação foi a professora Ana Carolina Pereira. Pelo raciocínio que faz dos pressupostos kantianos da sua teoria (cosmopolitismo e humanismo), Pereira nos induz a perceber que a ideia rüseniana de humanidade (unidade na diversidade cultural humana) sob o argumento de que vai combater o etnocentrismo o que faz, de fato, é reforçar o etnocentrismo direcionado às comunidades indígenas, por exemplo.
O mal de raiz está na ideia essencialista de humanidade tomada de Kant. Para os Yawalapíti Araweté, ao contrário, a “condição de humanidade é estendida a outras formas de vida animal, além do ser humano” (Pereira, 2021, p.200).[i] Assim, “diferentemente da concepção kantiana de fenômeno para quem o ponto de vista cria o objeto, para o pensamento ameríndio é o ponto de vista o que cria o sujeito. E se é o sujeito quem tem alma, é capaz de um ponto de vista que tem um corpo.(p.201).
Essa ideia ameríndia de constituição do sujeito contrasta com a ideia rüseniana de constituição de um sujeito universal, com vantagens para a concepção ameríndia, na qual a humanidade seria relacional e perspectivada, dificultando (e, até, extinguindo), portanto, a existência de etnocentrismos.
Em resumo, a proposta de construir, via ensino de História, uma sociedade que preza a alteridade rüseniana (ontologia ocidental com base em Kant) seria potencialmente menos profícua que a proposta de humanidade sugerida por ontologias ameríndias. Numa interpretação extensiva desse argumento, poderíamos incluir ontologias africanas no planejamento das aprendizagens se, é claro, a nossa finalidade para a componente curricular História estivesse pautada pela construção de respeito ao outro em escala global.
3.6. Exemplo de defeito no uso da teoria de Rüsen
A professora Joceneide Cunha (UNEB/Eunápolis) nos enviou uma dissertação: O ensino de história da África e da cultura afro-brasileira: uma proposta de ação decolonial em conexão com a didática da história. (Pinon, 2020).
Não queremos avaliar a relevância do problema. Não queremos avaliar os resultados do trabalho. Queremos apenas comentar alguns ruídos que o emprego da Teoria da História de Rüsen podem desencadear quando assumida na introdução de uma dissertação.
A meta do trabalho é “desfazer as ideias inferiorizadoras e marginalizantes que foram impostas à África [e apresentadas aos alunos paraenses]; romper com a ideia de que a África é um espaço homogêneo…”. Para tanto, são efetuadas conexões entre a “Didática da História” de corte rüseniano e o “pensamento pós-colonial”. Afirma o autor:
“A didática da História nos ajudou a compreender como os discentes pensam historicamente a África e suas relações com o Brasil, para definir os objetivos de aprendizagem [para levantar os conhecimentos prévios dos alunos]; já o pensamento decolonial fundamentou a prática de ensino insurgente necessária para a concretização dos objetivos de aprendizagem [desfazer as representações estereotipadas dos alunos sobre África e africanos, mediante a substituição dos acontecimentos e processos constituintes da Idade Média pelos acontecimentos e processos constituintes dos “reinos e impérios africanos que eram bastante avançados neste período medieval]” (p.31).
Diante do exposto, questionamos: qual é o ruído provocado por essas conexões? Se a ideia é modificar as representações estereotipadas sobre África e africanos, construir e/ou apresentar narrativas que provincianizem a Europa, inclusive, não há necessidade de usar o Rüsen da didática da história (operações mentais e formas de consciência). Basta usar o Rüsen da matriz disciplinar (dos elementos que justificam a história como ciência).
Se a ideia é radicalizar (tomar a pedagogia decolonial como orientação para o planejamento do ensino de história), o combate ao eurocentrismo e ao etnocentrismo não devem ser feitos com o “humanismo intercultural” de Rüsen, que não radicaliza no sentido proposto.
Se a ideia é radicalizar epistemologicamente (fazer com que os alunos aprendam “a desaprender” o iluminismo eurocêntrico, de Kant, por exemplo), a opção rüseniana não é o melhor guia porque a Teoria da História de Rüsen está longe de representar uma nova epistemologia como pensado por muitos que aderem a determinado pensamento que prega a “destruição da colonialidade do poder, do saber e do ser”.
Como livrar o texto desse ruído? Novamente, três possibilidades nos ocorrem no momento (30 de setembro de 2020): 1. alterando a introdução e abolindo a conexão com a didática de Rüsen. A ênfase do trabalho deve recair sobre a pedagogia decolonial; alterando a introdução e abolindo a pedagogia decolonial. A ênfase do trabalho deve recair sobre o levantamento dos conhecimentos prévios (sem Rüsen) e as consequentes estratégias de modificação das representações sobre África e africanos (identidades/alteridades, construção de autoimagem etc.). e 3. alterando a introdução e assumindo Rüsen integralmente, como orientador de uma nova maneira de pensar África, africanos e cultura afro-brasileira: usando a consciência genética como fim do componente curricular história (que apela para o respeito às diferenças) e reforçando ou instituindo uma cultura dos direitos humanos.
Agradecemos à professora Joceneide Cunha pela oportunidade que nos ofereceu de refletir imediatamente sobre um problema que lhe é caro.
Nota
[i] “[…] o eu constitui-se como o espaco de autoidentificacao humana, ao passo que ao outro sao atribuídos os qualitativos de animalidade ou espiritualidade, conforme o caso. Assim, por exemplo, a onca ocuparia para o amerindio o estatuto de espirito, uma vez que e um predador do ser-humano propriamente dito, ao passo que o porco do mato apresentar-se-ia para o humano propriamente dito como um animal, em razao de sua condicao de presa.” (Pereira, 2022, p.202).
Referências
BAROM, Wilian Carlos Cipriani. A teoria da história de Jörn Rüsen no Brasil e seus principais comentadores. Revista História Hoje, v. 4, nº 8, p. 223-246 – 2015. Disponível https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/200.
MARTINS, Estevão Chaves de Rezende Martins; SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos; ASSIS, Arthur Alfaix. A obra de Jörn Rüsen e sua relevância – Introdução à edição brasileira. In: RÜSEN, Jörn. Teoria da História: Uma teoria da história como ciência. Tradução de Estevão C. de Rezende Martins. Revisão técnica de Arthur Alfaix Assis. Curitiba: Editora da UFPR, 2015. p.11-18.
RÜSEN, Jörn. Teoria da História: Uma teoria da história como ciência. Tradução de Estevão C. de Rezende Martins. Revisão técnica de Arthur Alfaix Assis. Curitiba: Editora da UFPR, 2015.
PEREIRA, Ana Carolina B. O “formalismo teleológico” em Jörn Rüsen: perspectivas sobre a interculturalidade. In: OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de; SANTIAGO JÚNIOR, Francisco das Chagas Fernandes; LIMA, Caio Rodrigo Carvalho. Jörn Rüsen: teoria, historiografia, didática Ananindeua: Cabana, 2022. p.184-208.
FREITAS, A recepção da Teoria da História de Jörn Rüsen em periódicos brasileiros especializados (2001-2015). In: OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de; SANTIAGO JÚNIOR, Francisco das Chagas Fernandes; LIMA, Caio Rodrigo Carvalho. Jörn Rüsen: teoria, historiografia, didática. Ananindeua: Cabana, 2022. p.137-166.
Avaliação diagnóstica
Leiam o texto de síntese e alguns trechos dos textos originais e preencham o formulário abaixo que registra as principais dificuldades de leitura e orientam a preleção do professor.
1. Sobre o texto síntese “Aprendizagem geral e aprendizagens disciplinares”:
- Li e não entendi a seguinte passagem: _____________________________
- Li e quero comentar a seguinte declaração com a qual concordo/discordo: ___________________________
2. Sobre o texto do autor-objeto da aula desta semana:
- Li e não entendi a seguinte passagem: ________________________________
- Li e quero comentar a seguinte declaração com a qual concordo/discordo: _____________________________
Acesse aqui o formulário para responder a esta avaliação diagnóstica.
Próxima aula
Na próxima aula, continuaremos a exposição de propostas de aprendizagens reivindicadas por pesquisadores estrangeiros. Discutiremos as principais categorias formuladas por Kieran Egan, extraídas de textos como: An imaginative appproach to teaching (2005) e Layers of historical understanding (1989).
Para citar este texto
FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Margarida Maria Dias. Aprendizagem histórica como atos integrados de experimentar o passado, interpretar o passado, orientar-se e estimular-se a agir na vida prática – Jörn Rüsen. São Cristóvão, 07 ago. 2022. Disponível em <https://www.resenhacritica.com.br/a-cursos/3-aprendizagem-historica-na-teoria-da-historia-de-jorn-rusen/>.
2. Aprendizagem histórica (?) como prática de libertação – Paulo Freire
Paulo Freire | Imagem: Outras Palavras
Freire dispensa apresentações, no Brasil e fora dele. Autor de dezenas de ensaios publicados em livros, o recifense Paulo Reglus Neves Freire (1921/1997) é reconhecido como o criador de uma “filosofia educacional e um método de investigação e pesquisa ancorados numa antropologia e numa teoria do conhecimento” (Gadotti, 2012, 460). É o intelectual brasileiro mais citado no exterior, em frequência semelhante aos principais textos escritos por Thomas Kuhn e de Karl Marx. (Santana, 2019, p.13-15). Sua obra mais conhecida – Pedagogia do oprimido – vendeu entre 800.000 e 1.000.000 de exemplares em 200 edições e em 57 línguas, no período de 50 anos (Santana; Souza, 2019). Sua apropriação, inclusive no Brasil, é tão elástica que é frequentemente assemelhada a abordagens diferentes em termos de produção de sentido: a epistemologia construtivista de Jean Piaget, a Teoria da História de Jörn Rüsen e a epistemologia pós-colonial de Frantz Fanon, Albert Memmi e Eduard Said. (Lima, 2011, p.14-18; Becker, 2017, p.10-12).
Nesta aula, não queremos identificar as fontes da sua Filosofia da Educação e de sua Pedagogia. Não queremos apontar contradições e fragilidades das suas combinações teóricas e do emprego de categorias. Nos interessam as suas proposições sobre a educação e a aprendizagem. Como explicitamos na aula 1, o retorno a Freire é uma tentativa de apontar as possibilidades de emprego e as limitações das teses de Freire para a construção de teorias da aprendizagem disciplinar histórica. Cumpriremos a tarefa, elencando quatro significados de aprendizagem, quatro possibilidades de proveito desses significados para a construção de projetos de aprendizagem histórica e, por fim, quatro dificuldades de emprego das proposições de Freire no nosso tempo presente.
2.1. Aprendizagens freirianas
Ao pé-da-letra, a palavra “aprendizagem” e os respectivos termos lematizados (“aprender” e “aprendido”) não são categorias para Freire, nos limites do nosso corpus (Ver referências abaixo). Tais palavras, em geral, tem uso ordinário, a exemplo de: [“nossa democracia aprendeu”]. Isso podemos afirmar quando comparamos a frequência com a qual Freire emprega os termos “aprender”, frente aos termos “educação”, “educar”, “pedagogia”, “conhecer”, “ensinar” e “estudar”.
Também ao pé-da-letra, a perspectiva de análise de Freire é dominantemente a do professor. Considerando que a tarefa que apresentamos para vocês foi a extração de significados explícitos ou implícitos de aprendizagem e de aprendizagem histórica em seus livros e, ainda, considerando que lançamos mão de um conceito típico-ideal para cumprir a tarefa, destacamos quatro significados de aprendizagem constatados nos sete títulos analisados, mas sempre da perspectiva de um imaginado aluno.
Um inventário detalhado das coisas que realizam a aprendizagem freiriana vocês encontraram na própria obra do autor, a partir dos seus específicos interesses. Encarem, portanto, os quatro tópicos como uma escolha didática, de dois professores que se organizam para falar durante 50 minutos.
Aprender é internalizar conhecimentos e habilidades do convívio democrático
O primeiro significado de aprendizagem é o de processo simultâneo de responsabilização do sujeito por sua realidade local/nacional e de tomada de decisões a respeito. Aprendizagem é mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento pode ser traduzida como o ato de internalizar a responsabilização pelo entorno e a tomada de decisão.
Esta definição pode ser explicada a partir de duas motivações: o caráter holístico do discurso de Freire sobre educação (sua Filosofia da Educação) e os resultados da análise de conjuntura da realidade política nacional dos anos finais da década de 50 do século passado.
Para o Freire de 1959 (professor e administrador do Serviço Social da Indústria e autor de Educação e atualidade brasileira), a educação é o processo de humanização do homem. É um processo de elevação de seu comportamento predominantemente “natural”, “passional” ou “acrítico” para um comportamento predominantemente histórico, racional ou crítico.
Por esses parâmetros, o povo brasileiro enfrenta um problema histórico: a assimetria entre as necessidades de participação política provocado pelo “surto” democrático proveniente da industrialização, e a “inexperiência democrática” desse mesmo povo, cultivada por quatro séculos de colonização exploratória.
Com o significado de Teoria apresentado na aula 1, podemos concluir que o aprender em Freire é sinônimo de educar. E se o seu propósito é garantir desenvolvimento econômico e participação popular na política nacional, aprender é interiorizar (individual e coletivamente) conhecimentos e habilidades típicas do convívio democrático. Aprender é transformar hábitos democráticos em valores primordiais para a vida nacional. A aprendizagem escolar, enfim, é um processo de substituição dos comportamentos típicos de sociedades autoritárias por comportamentos típicos de sociedades democráticas. (Freire, 1959, p.62).
Aprender é elevar-se da consciência acrítica à consciência crítica
Outra variante de aprendizagem está nos textos do Paulo Freire exilado de 1967 (Educação como prática de liberdade) que se ocupa com o povo brasileiro do pós-golpe de 1964 e com o homem do “terceiro mundo”. Neste contexto, educação é o instrumento que auxilia o homem brasileiro a “inserir-se no processo, criticamente”; “ajudá-lo a ajudar-se […] fazê-lo agente de sua própria recuperação […] pô-lo numa postura conscientemente crítica diante dos seus [novos] problemas”; propor “ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre suas responsabilidades, sobre seu papel no novo clima cultural da época de transição” (Freire, 1967, p.56-57). Em resumo: Freire quer que o homem (e o povo) brasileiro transporte-se da consciência “intransitivada” para a consciência “transitiva”, superando o estado da consciência “transitiva ingênua”, mas evitando a disseminação da consciência alienada, típica das determinações industrialistas.
Dentro desse objetivo, o aprender pode ser definido como o ato de tomar para si a responsabilidade pela resolução dos problemas locais e nacionais de modo intelectual e experiencial. Dizendo de modo mais abstrato, aprender é realizar a “vocação da pessoa em ser sujeito” (p.57). Aprender, enfim, é tornar-se protagonista de sua vida social.
Aprender é conhecer os determinantes da opressão.
Um ano depois, Freire complementa o Educação como prática de liberdade, publicando a Pedagogia do Oprimido (1968). A ideia de homem se mantém: ser finito, incompleto, vocacionado à liberdade e topologicamente caracterizado pelas capacidades de sensibilidade, razão e ação. Educar é, então, promover o desenvolvimento simultâneo das capacidades de pensar e agir. Isso significa que a sua Pedagogia, diferentemente das que estão em curso, compreende o aprender como mobilizar, simultaneamente, um pensamento e uma ação. Sua pedagogia é assumida como simultaneamente teórica e prática.
Na Pedagogia do Oprimido, Freire também detalha a coisa a ser aprendida ou o objeto manipulado pelo professor diante dos alunos. Quem ensina comunica algo e esse algo é o conteúdo. Até aqui, nada vemos de diferente das pedagogias dominantes. Mas Freire destaca: o conteúdo, como instrumento de libertação, deve informar sobre os determinantes da opressão. Por essa razão, conteúdo deve ser colhido no entorno da vida mesma do aluno. Assim, de tarefa solitária da Pedagogia, a seleção de conteúdo passa a preencher quase todas as etapas método freiriano de alfabetizar adultos: 1. investigar da “consciência real” dos educandos (modos de pensar, agir e sentir, na comunidade); 2. codificar o resultado da investigação em “temas geradores” (que põem os educandos em situações limites); 3. problematizar esses temas mediante a apresentação das situações-limite codificadas e o questionamento das respostas dos educandos a essas situações-limite; e 4. Produzir material didático e programa. (Freire, 1969)
Para o Paulo Freire de 1992, então secretário de Educação do município de São Paulo, a tarefa não é mais democratizar a escola como meio de cultivar o desenvolvimento econômico e de suprir a “inexperiência democrática” do povo. Sua meta, agora, é instrumentalizar a escola para manter as práticas democráticas recuperadas recentemente. A afirmação da liberdade como vocação permanece. É necessário fugir aos extremos da “tirania da autoridade” e da “tirania da liberdade”. No entanto, diante das decepções provocadas pelos políticos no novo regime democrático (supomos), outro “imperativo existencial e histórico” (ontológico) deve ser defendido: a esperança de efetivação dessa liberdade.
Aqui, em Pedagogia da Esperança, a aprendizagem como mudança de comportamento (do autoritário ou assistencialista ao democrático ou participante) é mantida, junto à ideia corrente de aprendizagem como “apropriação” ou “apreensão” de um “conteúdo” por parte do aluno. A diferença está no fado de que Freire põe os verbos “apropriar-se” e “apreender” na dependência dos fins educacionais: aprender conscientemente.
Isso não é pouco para o nosso tempo. Agindo dessa maneira, Freire reitera um dos argumentos basilares do planejamento educacional que vigora há três séculos (para ficarmos com as ideias de educação na modernidade): se educar é formar pessoas, deve o professor refletir o tempo inteiro sobre o as estratégias e conteúdo que podem viabilizar a formação da pessoa idealizada. Ensinar e selecionar coisas somente se justificam quando estão relacionados ao cumprimento de um fim (ainda que utópico).
Aprender é interpretar e generalizar
Nos anos seguintes, esse desdobramento da aprendizagem em habilidades, conhecimentos e valores é mais frequente. Em Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa (1996), Freire situa o ensinar como historicamente posterior ao aprender e detalha operações do aprender docente, entre as quais estão as habilidades de: investigar, criticar, refletir sobre sua prática, tomar decisões conscientes e agir com liberdade e autoridade. (Freire, 1996, p.12).
É, porém, no clássico Professora sim, Tia não, um manual de formação de professores menos orgânico que o Pedagogia da autonomia, onde encontramos o último detalhamento das coisas que traduzem a sua ideia freiriana de aprender. Aqui, ela está implícita na ideia de estudar, que é dever ético de todo professor em formação e em atuação. Para o autor, aprendizagem é mudança, da “experiência sensorial que caracteriza a cotidianidade à generalização que se opera na linguagem escolar e desta ao concreto tangível” (Freire, 2015, p.61).
Em passagens próximas ele se refere ao “aprender” como sinônimo de “conhecer” e o conhecer como “ler”, “observar” e “reconhecer as relações entre objetos”. Para persuadir o leitor sobre a assertividade dessa definição ele metaforiza essa passagem com algumas imagens: “leitura anterior do mundo” e “leitura da palavra”; estar dentro e estar fora da coisa a ser conhecida; estar perto e estar distante da coisa a ser conhecida; e, por fim, compreender a coisa pelos sentidos e compreender a coisa pela razão.
Todas essas metáforas são coroadas com o exemplo da nordestina que, interrogada sobre a imagem de um oleiro, que migrou da resposta sensorial – vejo o artefato com forma de sobrevivência daquele homem – para a resposta generalizadora típica da “experiência escolar” – vejo o artefato como uma expressão de cultura. (Freire, 2015, p.63)
2.2. Aprendizagens freirianas e aprendizagem histórica
Pelos exemplos acima, é fácil perceber que Paulo Freire não pensou aprendizagens disciplinares. Isso significa que, objetivamente, não encontramos “a” teoria da aprendizagem histórica esboçada por Freire nos livros citados aqui. Consequentemente, profissionais interessados na elaboração de uma teoria da aprendizagem histórica de tons freirianos devem se aventurar a construí-la, partindo (dos) ou chegando aos insumos ele oferece. E esses insumos são as prescrições sobre conhecimentos e habilidades necessárias aos alunos, taxonomia da consciência humana, habilidades conjugadas do ensinar e do aprender,
Conhecimentos e habilidades
Em Educação e atualidade brasileira colhemos a primeira ideia de conteúdo constituinte de uma disciplina escolar história. Se a sua ideia de aprender história é a de um processo de mudança do comportamento do aluno dos anos iniciais do Ensino Fundamental, sob fins de responsabilização, engajamento e protagonismo individual e social do seu aluno, vocês podem projetar planos de ensino, nos quais os alunos possam:
- Conhecer história social local/regional e o modo como ele mesmo aprende;
- Desenvolver junto aos alunos as habilidades de investigar e discutir causas e soluções para os problemas locais;
- Desenvolver junto aos alunos o hábito de trabalhar em grupo ou colaborativamente;
- Desenvolver junto aos alunos o hábito de se engajar em projetos para a resolução de problemas locais/regionais/nacionais, empregando métodos científicos.
O que listamos acima é uma transferência contrafactual do que Freire quis dizer quando prescreveu saberes locais/regionais como conteúdo substantivo, o desenvolvimento de habilidades metacognitivas, o engajamento, o aprendizado ativo, o cultivo da solidariedade social e da autonomia.
Tipificação de consciências
Em Pedagogia como prática da liberdade Freire potencialmente disponibiliza uma ferramenta de avaliação e de planejamento: a tipologia da consciência humana. Usando este quadro, você pode, teoricamente, identificar o estágio de consciência de indivíduos ou de grupos, planejar uma proposta de intervenção, considerando etapas de progressão e, por fim, e avaliar os resultados dessa mesma proposta de intervenção.
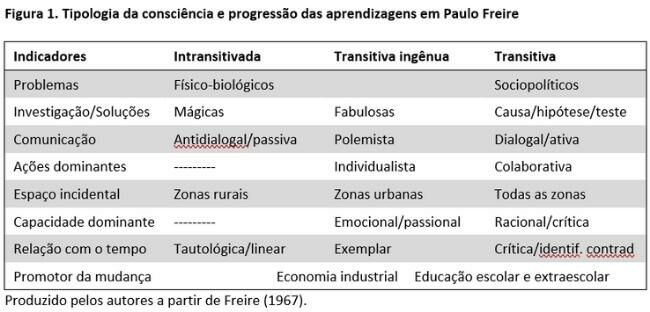
Observem a coluna de indicadores. Percebam que cada item corresponde ao que Freire entende como variável básica que explica as suas hipóteses sobre aprendizagem. Eles referem-se às ideias de ciência, comunicação, habilidades e capacidades individuais. Eles referem-se, por fim, ao lugar espaço/temporal onde viceja cada uma das consciências em análise.
Habilidades conjugadas do ensinar e do aprender
Ainda em Pedagogia como prática da liberdade, vocês podem encontrar insumos para a instituição de finalidades da disciplina escolar história, no interior de currículos prescritos, como a Base Nacional Comum Curricular ou os Planos e Programas estabelecidos pelas secretarias estaduais e municipais de Educação. Partindo da ideia de que ensinar é “dialogar com o analfabeto sobre situações concretas” (Freire, 1967, p.110), um possível plano de curso para o ensino de História na Educação de Jovens e Adultos poderia ganhar a configuração que se segue.
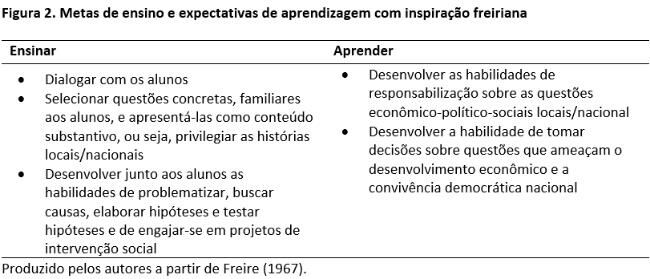
Habilidades e conhecimentos necessários à atuação docente
Na Pedagogia do Oprimido, também há indicações para a construção de currículos prescritos, destinados especificamente à formação de professores. A organização do trabalho pedagógico pensado por Freire para a alfabetização de adultos é fonte para a programação de um curso de formação inicial ou continuada a partir de quatro conjuntos de habilidades e conhecimentos.
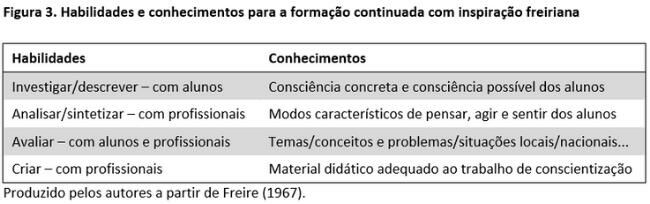
Em suma, o quadro acima sugere que um curso de formação habilite o professor de História para construir o conteúdo disciplinar (investigar, selecionar e avaliar) a partir da realidade concreta do aluno, ao mesmo tempo em que deve conhecer o estado (ou a natureza) da consciência do aluno (acrítica/ingênua/crítica) e o estado (ou a natureza) da consciência possível de ser alcançada com a disciplina história.
Um conceito metahistórico
Em Pedagogia da Esperança, uma das atitudes inspiradoras para o Ensino de história está na reflexão de Freire sobre a ideia de tempo que deve ser incutida nas mentes dos alunos. Se antes da ditadura militar ele se ocupava de definir “presente”, agora ele se preocupa com a ideia de “futuro”.
Essa ideia pode orientar a escolha de finalidades e do conteúdo para a disciplina escolar história. Para ele, três opções estavam postas: a posição reacionária do futuro como repetição do presente, a posição revolucionária, do futuro como “progresso inexorável” e a sua própria visão – o futuro como possibilidade, inclusive para fazermos do modo como “mais ou menos” o desejamos.
Um princípio ético
Outra atitude inspiradora ao ensino de história, também comunicada em Pedagogia da Esperança, está na proposição freiriana de que o educador democrático deve explicitar a sua posição política (ser honesto). Freire enfatiza a ideia de que o educador deve selecionar conteúdo pragmático (relacionado ao fim – consciência – e à realidade do aluno).
Para o ensino de história, esse princípio ético desencadeia duas atitudes polêmicas nos nossos dias. Significa que um aluno de história deve ter desenvolvida a sua atitude de tomar posição, de explicitá-la e de defendê-la. Significa, ainda, que um futuro professor de história deve aprender a selecionar conteúdo substantivo e a se apropriar desse conteúdo selecionado sob os critérios da familiaridade e do pragmatismo. Nesse sentido, verdadeiro é o conhecimento histórico que serve à conscientização sobre a opressão, a liberdade e a esperança de transformação.
3. Limitações do uso de Freire no nosso tempo presente
Buscar aprendizagens históricas nas obras de Freire, evidentemente, implica em aceitar as suas limitações. Para manter a simetria, vamos destacar quatro delas: as dificuldades de incorporação dos usos que fez das palavras “história” e “historicidade” e “tempo” e “Estado”.
Homem e educação
A ideia dominante de homem (de ser humano) em Freire é largamente devedora do esclarecimento kantiano. Viver segundo a sua razão é um projeto a ser seguido por todos. Mas, o que fazer com aqueles que entre nós discordam da ideia de que estamos fadados ao progresso e de que todos os povos fazem parte de um corpo chamado civilização ou humanidade, esses colegas podem vir a ser professores de história freirianos?
Deus e liberdade
A ideia dominante de homem (de ser humano) em Freire também é marginalmente devedora do deísmo cristão. Deus liberta. Consequentemente, a religião não é um obstáculo ao cumprimento da vocação do homem. Mas, como ficam os leitores críticos da modernidade, os professores existencialistas, os agnósticos e os ateus, os leitores de F. Nietzshe, por exemplo, que veem no Deus cristão um dos maiores impedimentos à liberdade dos sujeitos?
História e historicidade
Freire não se refere à história ciência ou à história disciplina escolar. Mas os teóricos da aprendizagem histórica do nosso tempo levam em consideração a relação necessária entre ciência da história e história disciplina escolar. Freire aborda história como Filosofia especulativa da História, ou seja, Freire não explora as condições de possibilidade do conhecimento do passado, não discute os modos de legitimação das proposições históricas. O seu pragmatismo sobre a verdade está, de certo modo, na contramão do pensamento dominante atual.
Freire também emprega, ao modo de muitos historiadores, a palavra “historicidade”. Ocorre que a invenção do termo e a sua transformação em categoria (o caráter de estar no tempo) não foram criações de historiadores. Elas são anteriores ao estabelecimento da história como ciência. Aqui, novamente, Freire a emprega sob o ponto de vista de um filósofo (especulativo) da educação.
Estado e tempo
Não obstante a inspiração freiriana ser compatível com determinados estados de coisas da nossa conjuntura política, é necessário perceber as diferenças. Para Freire, a teoria da aprendizagem comunicada na Pedagogia do oprimido é uma das duas etapas do processo de libertação do homem. É o momento pré-revolucionário e não estatal. Nós, ao contrário, vivemos um período estatista, onde a oferta formal da educação escolar básica e pública não é seletiva e autoritária como nos anos da ditadura militar pós-1964. Que lugar atribuir ao Estado na prescrição de programas de ensino?
No uso da Pedagogia da Esperança outra dificuldade deve ser enfrentada. Quem não professa o tempo histórico como realizado pela dialética hegeliana da oposição entre contrários em uma mesma relação pode dizer-se freiriano? Freire afirma: “os momentos que vivemos ou são instantes de um processo anteriormente iniciado ou inauguram um novo processo de qualquer forma referido a algo passado.” O presente ou a síntese, guarda os germes responsáveis pela destruição do presente já passado. Essa proposição desconsidera as ideias de que o passado é para muitos historiadores uma representação móvel e uma invenção do presente e não o contrário.
Referências
BECKER, Fernando. Paulo Freire e Jean Piaget: teoria e prática. Revista Eletrônica de Psicologia e Epistemologia Genéticas. V.9, Número Especial, 2017.
FREIRE, Paulo Reglus Neves. Educação e atualidade brasileira. Tese de concurso para a cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belass Artes de Pernambuco. Recife: [Edição do autor], 1959.139 p.
FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 5ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. [?]: EGA, 1996.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. [1992]. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido [1968]. 17ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 50 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. Resenha de: GADOTTI, Moacir. Por que continuar lendo Pedagogia do Oprimido? Revista de Políticas Públicas, São Luís, v.16, n.2, p.459-461, jul./dez. 2012.
FREIRE, Paulo. Professora, sim; Tia, não: Cartas a quem ousa ensinar [1993]. 24ed.Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.
FREITAS, Ana Lúcia Souza de. Ensinar e aprender. In: STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides; ZITHKOSKI, Jaime José (Orgs.). Dicionário Paulo Freire. 2ed.Belo Horizonte: Autêntica, s.d., p.246-251.
LIMA, José Gllauco Smith Avenlino de. Paulo Freire e a Pedagogia do oprimido (Afinidades pós-coloniais). Recife, 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
SANTANA, Otacilio Antunes; SOUZA, Suzana Carvalho de. Pedagogia do oprimido como referência: 50 anos de dados geohistóricos (1968-2017). Revista História da Educação, v.23, 2019.
Avaliação diagnóstica
Leiam o texto de síntese e alguns trechos dos textos originais e preencham o formulário abaixo que registra as principais dificuldades de leitura e orientam a preleção do professor.
1. Sobre o texto síntese “Aprendizagem geral e aprendizagens disciplinares”:
- Li e não entendi a seguinte passagem: _____________________________
- Li e quero comentar a seguinte declaração com a qual concordo/discordo: ___________________________
2. Sobre o texto do autor-objeto da aula desta semana:
- Li e não entendi a seguinte passagem: ________________________________
- Li e quero comentar a seguinte declaração com a qual concordo/discordo: _____________________________
Acesse aqui o formulário para responder a esta avaliação diagnóstica.
Próxima aula
Na próxima aula, iniciaremos a exposição de propostas de aprendizagens reivindicadas por pesquisadores estrangeiros. Abriremos a discussão com as principais categorias formuladas por Jörn Rüsen, extraídas, principalmente, do livro Teoria da História: Uma teoria da história como ciência.
Para citar este texto
FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. Aprendizagem e aprendizagem histórica em Paulo Freire. São Cristóvão, 2020. Disponível em <https://www.resenhacritica.com.br/a-cursos/aula-1-aprendizagem-geral-e-aprendizagens-disciplinares/>
1 – Aprendizagem geral e aprendizagens disciplinares
Lev Semyonovich Vigotski | Imagem: Wikipédia
Vamos iniciar este curso apresentando uma limitação do tema e uma definição operatória para “aprendizagem”. Adiante, apresentaremos as três proposições que são o conteúdo desta primeira aula:
- Podemos tipificar aprendizagem como “aprendizagens universais” e “aprendizagens disciplinares”;
- Toda aprendizagem disciplinar traz em sua base uma ideia de aprendizagem universal, mas é raro que uma teoria universalista da aprendizagem faça considerações sobre aprendizagens disciplinares;
- Existem tantas aprendizagens históricas quantas forem as noções que professemos sobre finalidades da formação escolar, finalidades da disciplina escolar história, ideias de epistemologia histórica e modos de uso de aprendizagem universalista e aprendizagens disciplinares.
1.1 Definição ideal-típica de aprendizagem
A limitação do tema ou pressuposto obrigatório para a compreensão desta aula é a experiência iluminista (germano/francesa) educacional. A maioria dos autores que leio sobre “aprendizagem” parte da premissa de que existe um “ser humano”, dotado de três capacidades macro, cujas mais referidas são: razão, sentimento e vontade.[1] Observem que os conceitos de cultura que vocês mais empregam, de E. Durkheim e R. Chartier, estão fundados nessa tríade topológica: modos padronizados de pensar, agir e sentir. O ser humano é (ou tem o poder do) pensamento, sentimento e vontade. Nessa acepção, cultura é pensamento, sentimento e vontade padronizados. O bebê não nasce humano: ele torna-se humano com a formação social (escolar, inclusive), desses modos de pensar, agir e sentir padronizados. Em síntese, nossa escola e o nosso aprender disciplinar são modernos (não são pós-modernos).
A definição ideal típica d e aprendizagem (universalista ou disciplinar)deste curso é inspirada no pensamento de R. Gagné, que escreveu, em 1965, sobre os significados do processo da aprendizagem, sobre a coisa que se aprende e o meio de verificação do aprendido. Para ele, a aprendizagem é um processo de modificação das capacidades de fazer algo, de pensar sobre algo ou de agir sobre algo.[2] Sabemos que aprendemos ao comparar a ação, o pensamento ou o sentimento manifestado antes e depois da situação de aprendizagem.[3]
Para formular essa ideia de aprendizagem, Gagné tomava por base as teorias de B. F. Skinner (mudança de comportamento) e de J. Piaget (assimilação/equilibração). Trinta anos depois, C. Cool, conhecido teórico dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), se amparava em L. S. Vigotysky (conscientização/assimilação) e D. Ausubel (relação entre o desconhecido e o familiar) mas comunicava uma ideia estruturalmente idêntica à de Gagné: o ser humano possuiria capacidades universais de saber coisas, fazer coisas e sentir coisas. Assim, aprender seria adquirir ou desenvolver essas capacidades ou, ainda, atribuir “significado pessoal” às coisas que lhe eram apresentadas por seus pais ou professores, por exemplo. (Alemany et al, 2000, p.298-299).
1.2. Aprendizagens universais e aprendizagens disciplinares
Podemos dizer que os dois compendiadores de teorias da aprendizagem (Gagné e Coll) dizem a mesma coisa a partir de pressupostos diferentes. Mas não é só isso. Coll levanta o problema da relação entre essas capacidades macro (ou poderes/faculdades) e esse algo referido até aqui, que ele nomeia por “conteúdo” e que nós designamos como às vezes como “disciplina”, “conhecimento” e/ou “saber” escolar.
O manual espanhol faz mais. Em primeiro lugar, ele sugere que as teorias, digamos, gerais da aprendizagem (de Piaget, Vigotsky, Skiner e Ausubel, por exemplo), estabelecem relações diferenciadas com o que no livro é designado de “conteúdo”. Para Skinner o conteúdo tem pouco peso, enquanto para Vigotsky os conhecimentos disciplinares escolares têm importância imensa. Ainda para Vigotsky, os conhecimentos disciplinares e os saberes da experiência de grupos condicionam, digamos, o desenvolvimento humano e a aprendizagem dialeticamente.
Os colegas de Coll, Isabel Alemany, Teresa Majós e Enric Giménez desenvolvem essa preocupação de Vigotsky com os conteúdos e, consequentemente, os definem e apontam as suas contribuições para o cumprimento das metas do currículo prescrito espanhol. Conteúdos designam coisas como fatos, conceitos, princípios, procedimentos, atitudes, valores e normas. Observem que essa taxonomia (não produzida pelos próprios) das capacidades humanas guarda correlações com aquela topologia triádica da qual tratamos no início do tópico anterior, vejam o esquema:
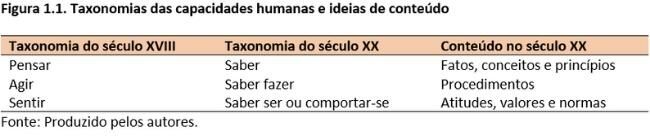
E o mais importante para nós: essa taxonomia nos dá a oportunidade de reconhecer as diferenças de conteúdo entre disciplinas sob o ponto de vista das coisas que as realizam. A história escolar, por exemplo: vocês seriam capazes de identificar quais tipos de conteúdo caracterizariam a disciplina escolar praticada na sua instituição?
Se a resposta for positiva, provavelmente, vocês concluirão que aprender na disciplina escolar História (aprender dominantemente fatos e conceitos) é diferente de aprender na disciplina escolar Desenho (aprender, dominantemente, procedimentos de corte psicomotor). E essa conclusão nos leva à primeira proposição desta aula: existem concepções de aprendizagem de abrangência geral – designadas como Teorias da aprendizagem – e existem concepções de aprendizagem de abrangência limitada a determinado grupo de princípios prescritos por uma corporação escolar ou universitária – designadas como aprendizagens disciplinares.
1.3. Aprendizagens gerais no interior de aprendizagens disciplinares
Há três décadas vivenciamos um conflito entre pesquisadores do ensino de História. De um lado estão os que defendem a Pedagogia como produtora dos significados de aprendizagem em geral e, consequentemente, orientadoras da aprendizagem em História. Do outro estão os Historiadores que defendem certa Teoria da História fundada em certo Método Histórico como produtores do significado de aprendizagem histórica.
Neste curso, gostaria de convencê-los de que o conflito é pouco sustentável em termos teóricos porque toda aprendizagem disciplinar traz em sua base uma ideia de aprendizagem universal, embora pouquíssimas teorias universalistas de aprendizagem façam considerações sobre aprendizagens disciplinares. Vamos dar exemplos bem conhecidos, extraídos da experiência de Piaget e de J. Rüsen.
Piaget entende a aprendizagem como processo de aquisição de conhecimento ou, como ele mesmo expressa, de “incorporação do universo a si próprio” (compreensão e explicação do real pelo ser humano). As coisas que realizam esse processo são o desequilíbrio (necessidade) que mobiliza o sujeito (criança ou adulto) a agir (interesse) para satisfazer certa demanda da vida prática (equilíbrio). A aprendizagem é, assim, uma “sequência de compensações ativas do sujeito em resposta às perturbações exteriores”. (Piaget; Inhelder, 1990). As habilidades que realizam essas coisas são o imitar, jogar, lembrar e comunicar; o seriar, classificar, ordenar, combinar, estabelecer proporções e previsões.
Quanto pensa as possibilidades de adquirir conhecimento sobre o passado ou (como podemos parafrasear) a explicação do acontecido, Piaget emprega essas proposições sobre a aprendizagem geral e conclui ser impossível, em determinada idade, os alunos compreenderem determinado produto de determinada ciência histórica tal e qual os adultos historiadores comumente a compreendem. (Atentem para esse modelo que será empregado adiante por especialistas no ensino de história: 1. a compreensão ideal é a explicação sobre a realidade efetuada pelos humanos adultos especializados na ciência de referência; 2. O processo de compreender é uma progressão situada entre os extremos da (digamos) imagem deturpada do real e da imagem perfeita do real). Isso é o que afirma Piaget. Mas, o que faz Rüsen?
Rüsen produz um significado para a aprendizagem disciplinar histórica: processo de aquisição das habilidades de rememorar o passado, interpretar o passado e de orientar-se na vida prática. Todos nós estamos convictos de que essa é uma significação particular de aprendizagem, mas efetivamente ela não é. Vejam que ele teoriza sobre o “humano”. Ele imagina um humano ideal e, portanto, universal. Todo ser humano, segundo Rüsen, rememora, interpreta e age para dar sentido à sua vida diante das adversidades experimentadas no tempo. Ao expressar o “todo” ele cria uma ideia de aprendizagem universal. Ao expressar o pensar historicamente, aprender história, migrar de uma consciência a outra, ele está aplicando uma ideia de aprendizagem geral, baseada nas operações de rememorar, interpretar, orientar-se e estimular-se a agir (que ele mesmo inventou) em oposição à aprendizagem baseada nas operações de assimilação/equilibração pensadas por Piaget.
Com os exemplos de Rüsen e de Piaget, podemos concluir que a aprendizagem disciplinar, em geral, conserva significados produzidos para a aprendizagem universal (o caso de Rüsen), mas nem sempre as aprendizagens universais conservam significados provenientes das aprendizagens disciplinares, embora, na maioria dos casos, orientem o planejamento das aprendizagens disciplinares (o caso de Piaget).
1.4. Aprendizagens históricas para diferentes currículos, disciplinas e epistemologias
A terceira e última proposição que queremos defender é a de que existem tantas aprendizagens históricas quantas forem as noções que professemos sobre finalidades da formação escolar, finalidades da disciplina escolar história, princípios de Epistemologia histórica e modos de usar aprendizagens universalistas e aprendizagens disciplinares. Se a situação de ensino exige uma aprendizagem diferenciada – perspectivas de gênero, perspectivas decoloniais etc. – você deve construir uma ideia de aprendizagem histórica compatível.
Um exemplo do que defendemos está na significação de aprendizagem que os autores de coletâneas sobre aprendizagem histórica apresentam. A abordagem de Coll é por demais limitada para o nosso curso porque comunica uma ideia restrita de conhecimento disciplinar. É importante ressaltar que os próprios produtores de conteúdos disciplinares já partem de teorias gerais da aprendizagem. Isso nos faz concluir que não haveria, a priori, uma distinção entre os dois tipos de conhecimento e, consequentemente, dois tipos de aprendizagem como sugere o título desta aula. Mas ela nos estimula a sofisticar ainda mais o tema, sugerindo que: o modo de aprender conteúdos disciplinares (a aprendizagem disciplinar) depende da finalidade prescrita para o currículo em determinada escola (formar para que?), da ideia de aprendizagem da qual essa finalidade lança mão (modificar comportamento exterior, descobrir coisas, relacionar coisas ou resolver problemas na vida prática?), do significado de disciplina escolar (mais conhecimentos, mais habilidades, mais valores ou mais atitudes?).
Seguindo tal raciocínio, em síntese, não teríamos um conflito entre aprendizagem em geral e aprendizagem disciplinar, simplesmente porque as aprendizagens disciplinares já estariam condicionadas por aprendizagens gerais desde o seu nascedouro. Dizendo de outro modo, quem diz “aprendizagem histórica é...” diz também que “aprendizagem histórica” está na confluência entre certa concepção de ciência Histórica e certa concepção de aprendizagem geral.
Assim, o conflito que vivenciamos no dia a dia, como profissionais do ensino de história, não se dá entre teorias da aprendizagem (em geral) e teorias da aprendizagem disciplinar (em História). Consequentemente, o conflito que vivenciamos no dia a dia não está entre a vontade de poder dos profissionais da Pedagogia e a vontade de poder dos profissionais da História.
Quando Jörn Rüsen afirma que a aprendizagem histórica é a aquisição/desenvolvimento das competências de experimentar o passado, interpretar o passado, orientar-se para a ação e estimular-se a agir na vida prática ele não está apenas comunicando uma teoria da aprendizagem histórica: ele está, simultaneamente, apresentando uma teoria da aprendizagem universalista, divergente da aprendizagem (universalista) comunicada por Piaget (assimilação, equilibração etc.). Com isso queremos afirmar que se você quer usar Rüsen como um teórico da aprendizagem disciplinar você deverá reconhecer que ele também está impondo uma teoria da aprendizagem universalista.
O exemplo com sinal contrário demonstra o que estamos a afirmar. Se você quer usar Paulo Freire como teórico da aprendizagem disciplinar (histórica), você deve estar consciente de que ele pouco se refere ao conhecimento disciplinar (História, inclusive) e, efetivamente, o que faz é impor uma teoria da aprendizagem universalista.
A aprendizagem histórica de Rüsen é construída a partir de pressupostos de uma epistemologia da história e de uma teoria da aprendizagem geral, enquanto a aprendizagem geral de Freire é construída a partir de pressupostos de uma teoria geral do conhecimento e de nenhuma epistemologia das ciências de referência (salvo as categorias gerais de certa concepção de Filosofia).
1.5. Tornar-se teórico da aprendizagem histórica
No mercado das ideias, as aprendizagens gerais e as aprendizagens disciplinares são combinadas são combinadas em diferentes proporções e aplicadas em diferentes escalas, adequáveis a apenas uma sala de aula ou promovidas à política pública de toda um país. No Palgrave Handbook of research in historical culture and education (), aprender história é narrar histórias, adquirir conceitos históricos, ler como historiador e raciocinar historicamente; no New directions in assessing historical thinking, aprender história é desenvolver a consciência histórica, desenvolver competências de escrever história, desenvolver o pensamento histórico e desenvolver a consciência histórica para o pensar historicamente; no The Wiley international handbook of History Teaching and learning, aprender história é pensar historicamente, raciocinar historicamente, desenvolver a consciência histórica, desenvolver a empatia histórica, desenvolver a agência histórica e desenvolver a concepção de história global; e, por fim, no Epistemologias e ensino da História, aprender história é desenvolver e mobilizar habilidades de conhecer, fazer, viver com os outros e ser, é ampliar qualitativamente a interpretação sobre o passado, é desenvolver e mobilizar a capacidade de compreender/comunicar-se com o outro (empatia), desenvolver e mobilizar a capacidade de interpretar o passado a partir de múltiplas perspectivas, entre outras. Sejamos livres para combinar ideias de aprendizagem gerais e ideias de aprendizagem situadas na História e criar teorias que respondam às nossas específicas demandas. Este curso foi planejado com essa intenção: fazer de cada pesquisador um teórico da aprendizagem histórica. Mas, para construir teorias da aprendizagem histórica é importante conhecer as virtudes e limitações de cada teórico em circulação e as possíveis situações nas quais podem ser empregados. Isso é o que faremos neste curso.
Referências
CARRETERO, Mario; BERGER, Stefan; GREVER, Maria (Ed.). Palgrave handbook of research in historical culture and education. London: Palgrave Macmillan, 2017.
ERCIKAN, Kadriye; SEIXAS, Peter. New directions in assessing historical thinking. London: Routledge, 2015.
GAGNÉ, Robert M. Como se realiza a aprendizagem. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1976. [Primeira edição em inglês – 1965].
METZGER, Scott Alan; HARRIS, Lauren McArthur (Ed.). The Wiley international handbook of history Teaching and learning. Hoboken: Wiley Blackwell, 2018.
PIAGET, Jean; INHELDER, Bärbel. A Psicologia da criança. 11 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.
RIBEIRO, Cláudia Pinto; VIEIRA, Helena; BARCA, Isabel; ALVES, Luís Alberto Marques; PINTO, Maria Helena; GAGO, Marília (Coord.). Epistemologias e ensino da história. Porto: CITCEM, 2017.
SALVADOR, César Coll et. al. A teoria genética da aprendizagem. In: Psicologia do ensino. Porto Alegre: Artmed: 2000. pp. 249-257.
SALVADOR, César Coll et. al. Psicologia do ensino. Porto Alegre: Artmed: 2000.
Notas
[1] Se vocês pensam que uma reflexão crítica ao iluminismo (kantiano, por exemplo) é uma heresia, lembrem das ideias Michel Foucault, tratando a subjetividade como um atravessamento de linguagens. Lembrem-se de crítica à ideia ser humano autônomo (de Kant) e antropocentrização da ciência histórica. [2] “A aprendizagem é uma modificação na disposição ou na capacidade do homem. [...]Manifesta-se como uma alteração no comportamento [...] A modificação pode ser, e o é frequentemente, um aumento de capacidade para alguns tipos de performance [o que ele faz, realiza ou executa]. Pode consistir, também, em alteração de disposição, chamada, conforme o caso, atitude, interesse ou valor [o que o sujeito da aprendizagem pensa ou sente].
[...] e infere-se que a aprendizagem ocorreu, comparando-se o comportamento possível antes de o indivíduo ser colocado em uma ‘situação de aprendizagem’ e o comportamento apresentado após esta circunstância.” (Gagné, 1976, p.3). [3] Tomamos as definições como operacionais, repetimos. Então, não busquem condená-las pelo uso de termos como “comportamento” e “performance”. Nós as empregamos sem os significados atribuídos por F. B. Skinner, por exemplo. Pensem, aqui, no ano genérico de I. Kant.Avaliação diagnóstica
Leiam o texto de síntese e alguns trechos dos textos originais e preencham o formulário abaixo que registra as principais dificuldades de leitura e orientam a preleção do professor.
1. Sobre o texto síntese “Aprendizagem geral e aprendizagens disciplinares”:
- Li e não entendi a seguinte passagem: _____________________________
- Li e quero comentar a seguinte declaração com a qual concordo/discordo: ___________________________
2. Sobre o texto do autor-objeto da aula desta semana:
- Li e não entendi a seguinte passagem: ________________________________
- Li e quero comentar a seguinte declaração com a qual concordo/discordo: _____________________________
Acesse aqui o formulário para responder a esta avaliação diagnóstica.
Próxima aula
Na próxima aula, iniciaremos a exposição de propostas de aprendizagens reivindicadas por pesquisadores brasileiros. Abriremos a discussão com as principais categorias formuladas por Paulo Freire, extraídas de textos como: Educação e mudança; Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo; Conscientização: teoria e prática da libertação; e Pedagogia da esperança.
Para citar este texto
FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. Aprendizagem geral e aprendizagens disciplinares. São Cristóvão, 2020. Disponível em <https://www.resenhacritica.com.br/a-cursos/aula-1-aprendizagem-geral-e-aprendizagens-disciplinares/>
Aprendizagem histórica
Jean Piaget | Imagem: Wikipédia
Colegas, bom dia!
Bem-vindos ao curso sobre as ideias de "aprendizagem histórica". Espero que todos estejam com saúde e assim permaneçam durante o curso. Segue visão geral do curso, contendo objetivos, estratégias de avaliação, conteúdo e calendário.
Trata-se de uma releitura de um curso de extensão ministrado em 2020, com a professora Margarida Maria Dias de Oliveira, acrescido de textos de Isabel Barca e, principalmente, de atividades e escritos dirigidos á construção de aprendizagens históricas adequadas ao que se convenciona chamar de educação histórica ou ensino de história em perspectiva decolonial. Nos próximos dias, postarei os links para todo o material necessário ao desenvolvimento do curso.
Problema/Objetivo
O curso dá a conhecer Este curso explora sete possibilidades de resposta. Seu objetivo é dar a conhecer definições circulantes e apresentar possibilidades de construção de outros significados para aprendizagem histórica.
Conteúdo programático e calendário
- V Visões do Mundo Contemporâneo: 80 anos do Brasil na II Guerra (15/08/2020)
- Aprendizagem geral e aprendizagens disciplinares – I. Freitas e M. Oliveira/Brasil (23/08/2020)
- Aprendizagem histórica como prática de libertação – P. Freire/Brasil (30/08/2020)
- Aprendizagem histórica como atos integrados de experimentar o passado, interpretar o passado, orientar-se e estimular-se a agir na vida prática – J. Rüsen/Alemanha (20/09/2020)
- Aprendizagem histórica como compreensão por camadas – K. Egan/Canadá (27/09/2020)
- Aprendizagem histórica como internalização de conhecimentos e habilidades, mediada por interações sociais – M. Carretero e J. Pozo/Espanha (04/10/2020)*
- Aprendizagem histórica como domínio dos meios de leitura utilizados pelos historiadores – S. Wineburg/EUA (11/10/2020)
- Aprendizagem histórica como manipulação de uma estrutura temporária de conhecimento histórico – P. Lee e J. Howson/Inglaterra (18/10/2022)*
- Aprendizagem histórica como mobilização de habilidades e conceitos próprios da Ciência da História – I. Barca/Portugal (25/10/2022)
- Aprendizagem histórica e perspectivas decoloniais: impasses e possibilidades (01/11/2022)*
- Aprendizagem histórica e perspectivas decoloniais: impasses e possibilidades (11/10/2022)
- Avaliação – Produção de texto que situa a intervenção didática dos mestrandos nos quadros conceituais da aprendizagem e/ou da aprendizagem histórica.
- Avaliação – Produção de texto que situa a intervenção didática dos mestrandos nos quadros conceituais da aprendizagem e/ou da aprendizagem histórica.
- Avaliação – Produção de texto que situa a intervenção didática dos mestrandos nos quadros conceituais da aprendizagem e/ou da aprendizagem histórica.
- Avaliação – Produção de texto que situa a intervenção didática dos mestrandos nos quadros conceituais da aprendizagem e/ou da aprendizagem histórica.
Metodologia
O curso será desenvolvido mediante leituras dos textos disponibilizados e exposições de 1h30 de duração. A cada encontro, o professor apresenta sumariamente as ideias do autor acerca da aprendizagem histórica e, em seguida, responde a questões suscitadas pela leitura. As questões devem ser formuladas previamente e comunicadas em formulário específico. Isso não impede que outras questões sejam formuladas durante a fala do professor.
Os textos são sínteses das proposições de cada teórico da aprendizagem. São um instrumento didático para o bom gerenciamento do tempo, estímulo à leitura do original. Nada substitui, portanto, o contato dos alunos com os textos dos autores examinados, que estarão disponíveis, junto às sínteses do professor.
Além dos textos para a leitura, o curso disponibiliza vídeos didáticos, curtos e sintéticos sobre o tema/autor em discussão durante a aula. A maioria deles serve apenas como estimulante à leitura dos originais. Interprete-os, sempre, criticamente, comparando-os com os textos originais.
Avaliação
Os créditos serão adquiridos mediante entrega e exposição de um texto dissertativo autoral, informando a ideia de aprendizagem mobilizada pelo mestrando em sua intervenção pedagógica a ser realizada como “produto” do PROFHISTÓRIA. Os textos devem medir entre 400 palavras e 600 palavras (inclusas as referências bibliográficas).
Bibliografia básica
Semana 2
- FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. Aprendizagem geral e aprendizagens disciplinares. São Cristóvão, 2020. Disponível em <https://www.resenhacritica.com.br/a-cursos/aula-1-aprendizagem-geral-e-aprendizagens-disciplinares/>
- PIAGET, Jean. Psicologia da criança e ensino da História. In: Sobre a pedagogia: textos inéditos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998.
Semana 3
- FREIRE, Paulo, Educação e mudança. 12 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979.
- FREIRE, Paulo. Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978 [1977].
- FREIRE, Paulo. Conscientização: Teoria e Prática da Libertação, São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997 [1992].
Semana 4
- RÜSEN, Jörn. Aprendizagem histórica: fundamentos e paradigmas. Curitiba: W.A. Editores, 2012. (Com a contribuição de Ingetraud Rüsen).
- RÜSEN, Jörn. Jörn Rüsen e o ensino de história. Curitiba: Editora da UFPR, 2010. (Organização de Maria Auxiliadora Smith, Isabel Barca e Estevão de Rezende Martins).
Semana 5
- EGAN, Kieran. Layers of historical understanding. Theory & Research in Social Education. [s.n], n. 17, v. 4, p. 280-294.
Semana 6
- CARRETERO, Mario. Perspectivas disciplinares, cognitivas e didáticas no ensino das Ciencias Sociais e da Historia. In: Construir e ensinar as Ciências Sociais e a História. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. p. 16-29.
- CARRETERO, Mario; POZO, Juan Ignacio; ASENSIO, Mikel. Problemas y perspectivas em la enseñanza de las Ciencias Sociales: uma concepción cognitiva. In: La enseñanza de las Ciencias Sociales. Madrid: Visor, 1989. p. 13-29.
Semana 7
- WINEBURG, Samuel S. Historical thinking and other unnatural acts: chartering the future of teaching the past. Philadelphia: Temple University Press, 2000.
- WINEBURG, Samuel S.; MARTIN, Daisy; MONTE-SANO, Chauncey. Reading like a historian: teaching literacy in middle and high school history classrooms. New York: Teachers College, 2013.
Semana 8
- ASHBY, Rosalyn. Desenvolvendo um conceito de evidência histórica: as ideias dos estudantes sobre testar afirmações factuais singulares (Developing a concepto of historical evidence: students’ ideas about testing singular factual claims). Educar, Curitiba, Especial, p. 151-170, 2006.
- ASHBY, Rosalyn; LEE, Peter; SHEMILT, Denis. Putting principles into practice: teaching and planning. In: DONOVAN, M. S.; BRANDSFORD, J. D. How students learn: history in the classroom. Comitee on How people learn, A targeted Report for Teachers. Washington: National Research Council/The National Academies Press, 2005. p. 79-178.
- HOWSON, Jonatham; SHEMILT, Denis. Frameworks of knowledge. In: DAVIES, Ian. Debates in teaching history. London/New York: Routledge, 2011. p. 73-83.
- LEE, Peter. Em direção a um conceito de literacia histórica [Towards a concepto of historical literacy]. Educar. Curitiba, Especial, p. 131-150, 2006.
- LEE, Peter. Putting principles into practice: understanding history. In: DONOVAN, M. S.; BRANDSFORD, J. D. How students learn: history in the classroom. Comitee on how people learn, a targeted Report for Teachers. Washington: National Research Council/The National Academies Press, 2005. p. 31-77.
Semana 9
- BARCA, Isabel. Desafios para ensinar a pensar historicamente. Revista Territórios & Fronteiras. Cuiabá, v.14, n.2, ago./dez., 2021. Disponível em <https://periodicoscientificos.ufmt.br/territoriosefronteiras/index.php/v03n02/article/view/1159>.
- BARCA, Isabel. El enfoque de la educación histórica: líneas y (re)interpretaciones. In: Educación histórica para el siglo XXI: principios epistemológicos y metodológicos. MARTÍN, Nilson Javier Ibagón; VEGA, Rafael Silva; DELGADO, Adriana Santos; GIL, Robin Castro. Cali: Universidad ICESI; Universidad del Vale, 2021.
- BARCA, Isabel. Educação Histórica: uma nova área de investigação. Revista da FAculdade de Letras. Porto, v.2, p.13-21, 2001. Disponível em < https://ojs.letras.up.pt/index.php/historia/article/view/5126/4784>.
Semanas 10/11
- Releitura dos textos e produção de comunicação.
Semana 12
- Apresentação de uma comunicação escrita/oral sobre deia de aprendizagem empregada nos projetos/produtos de dissertação
- Modelo de Comunicação
Why Learn History (When It’s Already on Your Phone) – WINEBURG (TH-JM)
WINEBURG, Sam. Why Learn History (When It’s Already on Your Phone). Chicago: The University of Chicago Press. 2018. 241p. Resenha de: FISCHER, Fritz. Teaching History – A Journal of Methods, v.45, n.2, p.50-52, 2020.
In discussing the role of his most recent project in history education, Sam Wineburg insists “nor can I say as we approach six million downloads that our work has ‘changed the field”(137). All of us who teach and research in the field of history education would beg to differ. Wineburg’s seminal work on historical thinking over the past three decades has changed how we think about teaching history. Over his lengthy and productive career, Professor Wineburg has changed the field, and for the better.
His most recent book, Why Learn History (When It’s Already on your Phone), provides a “greatest hits” examination of his work. Some chapters rework his previous writings, while others move into new territory. Such an organizational choice results in a choppy structure. While many chapters illustrate Wineburg’s insights, others ironically reflect his weakness as an historian. Despite its flaws, the book provides important new insights in the field of history education.
Wineburg’s discussions of his most recent projects at Stanford are informative and fascinating. He provides thought-provoking ruminations on the valuable websites, “Reading Like a Historian” and “Beyond the Bubble.” His mind-bending analysis of the differences between science and history education posits that the past, unlike science, “bequeaths jagged fragments that thwart most attempts to form a complete picture.” He concludes that “parsimony in historical explanation often flirts with superficial reductionism”(109). Such articulate nuggets, sprinkled throughout Why Learn History, force the reader to put the book down for valuable self-reflection.
Wineburg is at his best when providing windows into new thoughts on teaching and learning in history. One example comes in Wineburg’s examination of newly popular quick-fix courses in media literacy as the antidote to “fake news.” Arguing that such courses are insufficient, Wineburg insists on “a fundamental reorientation of the curriculum.” He then poses a number of brilliant and provocative questions, concluding that if we are to avoid the victory of tyranny, students must have a deep understanding of how to ask and answer historical questions (158). The book’s biggest strength is Wineburg’s ability to push the envelope regarding the purposes and methods of teaching history in the K-12 curriculum.
However, in this book Wineburg acts as a historian and at times falls short. The early chapters recount a variety of battles over history education in the past 30 years, battles in which Wineburg himself has been a consistent historical actor. In discussing the testing and standards movement, Wineburg recounts many of his earlier criticisms to great effect. In his chapter, “Committing Zinns,” Wineburg rightly criticizes Howard Zinn for lack of context, ahistorical cherry picking, and asking “yes-type” questions. My book, The Memory Hole: The U.S. History Curriculum Under Siege (2013), criticizes Zinn for the same failings.
Yet in other chapters Wineburg returns to earlier topics but fails to live up to his own standards. Wineburg commits his own “Zinn” in the chapter on the Teaching American History (TAH) professional development program. Wineburg begins with the supposition that the TAH program failed—a view reflecting his initial opposition to the program due to its political roots in outdated dogmas about learning history. He concludes with the argument that the program had “no national impact” (47).
The formal assessment programs for TAH were a disaster, and some of the programs failed. But Wineburg’s outline is incomplete and inaccurate. In fact, many of the programs moved far beyond the “sit and get” model of historical content knowledge he criticizes. I participated in more than two dozen professional development workshops for the National Council for History Education (NCHE) that went far beyond “putting the knowledge into the heads of teachers who would in turn pour it in the heads of students”(37). Teachers were not typically “left alone to work amongst themselves” (44). They engaged in multiple discussions and interactive activities—often based on Wineburg’s own work. These programs changed the way they taught and the way their students learned. Wineburg knows about these very programs— he was on the Board of NCHE—but neglects to discuss them. Wineburg ignores too much and asks too many “yes-type questions” that support his conclusion that the program was an utter failure.
Wineburg also fails to explore the TAH program’s impact on professional development goals in history education. He rightly commends the work of a committee convened by the American Historical Association in 2002 that crafted the “Benchmarks for Professional Development in History Education“ (48), but does not consider that those who wrote that document (myself included) drew ideas from work in the TAH program.
We also owed our ideas to the work Sam Wineburg. Uneven as it may be, this book provides an invaluable reminder of the value of historical thinking and of the ways in which this thinking might help students navigate a challenging civic landscape. In the end, Wineburg’s work always forces the reader to think and reflect on how to improve the teaching and learning of history. In a world where so much that is written on education is not helpful to teachers, his insights make this book a valuable read.
Fritz Fischer – University of Northern Colorado.
[IF]
Los jóvenes frente a la Historia: Aprendizaje y enseñanza en escuelas secundarias – AMÉZOLA; CERRI (CA-HE)
De AMÉZOLA, Gonzalo; CERRI, Luis Fernando (coords). Los jóvenes frente a la Historia: Aprendizaje y enseñanza en escuelas secundarias. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2018. 211 p. Resenha de: ROCHA, Milagros. Clío & Asociados. La historia enseñada. La Platat, v.27, p.141-143, Julio-Diciembre 2018.
Un volumen interesante se suma para seguir pensando la enseñanza de la historia. En esta oportunidad, se pone en superficie una investigación realizada en varios países de América Latina que nos desafía a reflexionar en escalas no sólo propias y locales, sino más amplias.
Esta obra se materializa producto de un recorrido previo y orquestado a partir de un conjunto de trabajos que son resultado del proyecto de indagación “Los jóvenes y la historia en el Mercosur”, llevado adelante por investigadores de distintas Universidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, bajo la coordinación general del profesor Luis Fernando Cerri (Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil).
Durante agosto de 2012 y mayo de 2013 se llevan a cabo encuestas dirigidas a estudiantes de entre 15 y 16 años de edad y a docentes de esas mismas escuelas. Se tomaron como referencia 7 tipos de instituciones educativas: pública de excelencia, pública central, pública periférica, rural, privada laica, privada religiosa y privada alternativa, ubicadas éstas en diferentes ciudades de los países nombrados anteriormente (págs. 9-11). Esto arroja una muestra (no probabilística) de 4 mil cuestionarios de alumnos y 300 de profesores. Por su parte mencionamos que la edad de los estudiantes no resulta ociosa puesto que éstos se encuentran finalizando su educación obligatoria y por tanto tuvieron acceso a un abanico importante de contenidos históricos (los cuestionarios se pueden observar detenidamente en el Anexo del libro, págs. 183-206). Asimismo cabe destacar que este proyecto hunde sus raíces de inspiración en el proyecto Youth and History, desarrollado en Europa a partir de 1994, con base en la red European Standing Conference of History Teachers Associations, Euroclio, el cual exploró sobre la calidad, características y resultados de la enseñanza de la historia, la conciencia histórica y las actitudes políticas de los jóvenes europeos.
Producto de este camino transitado este libro compendia una multiplicidad de voces de diversa procedencia y localía: estudiantes y profesores interpelados por los modos de aprender y enseñar la disciplina. Se suma a esta disímil composición el tono de los distintos autores1 que van entramando, al calor de las categorías de conciencia histórica2 y conciencia política, 7 capítulos.
El primero de éstos titulado, “Contenidos y métodos en el aprendizaje histórico en Argentina, después de dos décadas de reformas educativas”, coloca en autoría a los coordinadores del libro, los profesores Gonzalo de Amézola (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) y Luis Fernando Cerri (Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil). Los autores recortan dentro de este amplio espectro que les ofrece las encuestas, la enseñanza y el aprendizaje de la historia en Argentina. El capítulo versa por diversos tópicos, entre ellos: las políticas públicas educacionales del país anclando en el campo curricular de historia, las políticas y métodos de enseñanza, los medios de acceso al conocimiento histórico, las representaciones predominantes sobre algunos contenidos aprendidos. Se alude a que la enseñanza de la historia, en las escuelas secundarias argentinas, se mantienen sin grandes alteraciones por 100 años, deteniéndose ésta en acontecimientos políticos universales, y en el plano nacional, recuperando ese ideal patriótico, desplegando prácticas explicativas y aprendizajes memorísticos. Se menciona la Ley Federal de Educación de 1993 y la Ley de Educación Nacional de 2006, señalando cambios y continuidades de índole estructural como de contenidos, para concluir preguntando en qué medida dichas modificaciones impactan/ron en las prácticas pedagógicas. Los cruces estadísticos, a nivel geográfico, les permite a los autores comenzar a construir reflexiones provisorias donde poder analizar el impacto de esas reformas educativas en las aulas, en lo enseñado y aprendido; arrojando como resultado temporal una combinación de innovaciones de bajo impacto sustentadas en una fuerte tradición en las prácticas pedagógicas.
El segundo apartado denominado: “Entre el desconocimiento juvenil y las nuevas demandas de ejemplaridad. Las representaciones sobre los héroes en la Argentina actual”, tiene por autoras a dos mujeres, Mariela Coudannes Aguirre y María Clara Ruiz, docentes e investigadoras de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. El mismo teje su argumento y problematización en torno a la pregunta 33 del cuestionario que refiere a: “Escribe debajo el nombre de 3 héroes de tu país en orden de importancia”. Toman como cruce de análisis a escuelas de gestión estatal y privadas, en Argentina. Los resultados recabados se articulan con un despliegue teórico que contribuye a una mayor profundización (aparecen puntos de contactos con el capítulo anterior respecto a ese peso de la tradición, ese ideal patriótico corporizado en sujetos varones de bronce que todavía, y paradójicamente, sobreviven). Esas figuras heroicas construidas desde la historiografía y las escuelas argentinas que todavía persisten (entre ellos San Martín, Belgrano) se tensan ante la invisibilidad de ciertos sujetos históricos, los “personajes del interior” y el lugar de las mujeres en la historia enseñada, en manuales escolares y en las representaciones en la vía pública. Quedan en la periferia de estos listados: Perón, Eva Perón, Maradona, Favaloro, entre otrxs. Las autoras también advierten que la pregunta no permite relevar si se identifican con sus respuestas de modo afectivo o racional. A partir de este “podio” el capítulo despierta preguntas para re-pensar no sólo la historia enseñada, y aprendida, sino también el lugar simbólico e historiográfico que todavía ocupa la historia de los “grandes hombres”.
El siguiente capítulo escrito por María Cristina Garriga, Viviana Pappier (Universidad Nacional de La Plata) y Valeria Morras (Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional de Quilmes) titulado: “La conciencia histórica en jóvenes de la Provincia de Buenos Aires” construye, a partir de indagar en las respuestas de los jóvenes estudiantes, la relación que establecen éstos con el pasado, presente y futuro. Bajo el soporte teórico que explicitan se traza una línea de indagación cuantitativa tendiente a problematizar el modo en que estos jóvenes interpretan: la historia y su sentido, el pasado, presente y el/su futuro, es decir, un entrecruzamiento entre esas 2 esferas a las que alude Rüsen (1992) externa-social y la interna que interpela la subjetividad del individuo. En este marco se seleccionar las preguntas: ¿qué significa la historia para vos?, ¿cómo pensás que era la vida en tu país hace 40 años?, ¿cómo pensás que será la vida en tu país dentro de 40 años?, ¿cómo pensás que será tu vida dentro de 40 años? y las respuestas obtenidas en escuelas públicas y privadas de ciertas ciudades argentinas como: La Plata, Quilmes, General Sarmiento y Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires). Asimismo las autoras plantean que este análisis puede enriquecerse, a su vez, a partir de introducir elementos cualitativos para pensar la conciencia histórica en diálogo con la enseñanza de la historia.
Desde un análisis que recorta la mirada en la Provincia de Buenos Aires se pasa, posteriormente, a un capítulo que pone en el centro de la escena a jóvenes de la Provincia de La Pampa, específicamente, la ciudad de Santa Rosa. Éste tiene como autores a María Claudia García, Gabriel Gregoire y Laura Sánchez (de la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina) quienes lo titulan: “Una mirada local: los jóvenes de Santa Rosa. Cultura histórica /cultura política”. El capítulo explora las actitudes políticas de los jóvenes de dicha ciudad y de la localidad de Toay, tras la idea de indagar qué representaciones tienen los jóvenes sobre: la política, religión y el tiempo en clave de conciencia histórica. Los autores incorporan a su vez ciertos cruces con los datos relevados a nivel nacional y los demás países latinoamericanos que participan del proyecto. Por último, mencionamos que los autores tensionan los resultados planteando, por ejemplo, cómo esa concepción de historia que se interioriza interviene, también, en la formación política y cómo a su vez esto les resulta ajeno a sus modos de participación política.
El capítulo de Virginia Cuesta y Cecilia Linare (ambas docentes de la Universidad Nacional de La Plata) toman de referencia otra escala de análisis, como bien anticipa el título: “Los jóvenes, la enseñanza de la Historia y su mirada frente a los procesos de integración regional”. Las autoras se enfocan en relevar, por un lado, cómo los jóvenes se vinculan con la enseñanza de la historia en Latinoamérica en relación con las historias nacionales, y por otro, qué piensan sobre el integracionismo regional latinoamericano, pos conformación del Mercosur. En función de esta propuesta de abordaje se sirven de la pregunta 18 de la encuesta la cual refiere al interés acerca de la historia local, regional, nacional, latinoamericana y la historia del resto del mundo exceptuando América Latina. Además presentan un análisis sobre el regionalismo en el Cono Sur, los propósitos y las políticas educativas que los países poseen respecto al integracionismo latinoamericano y la enseñanza de contenidos vinculados. De esta manera cimentan aportes significativos para sondear qué intereses tienen esos estudiantes sobre las distintas dimensiones de la historia y sobre su enseñanza.
El sexto trabajo escrito por Gonzalo de Amézola, presenta: “Veinte años de dictadura. La enseñanza de la última dictadura militar (1976-1983) en las escuelas secundarias de Argentina”. Un panorama general sobre: las políticas de memoria, las tensiones o inconvenientes de enseñar estos contenidos, el abordaje y lugar que estos contenidos ocupan en los diseños curriculares en el marco de las dos últimas reformas educativas (1993 y 2006), su tratamiento en manuales escolares, y su consecuente pregunta, qué piensan los estudiantes. El artículo alza información de las encuestas realizadas en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, respecto a qué asocian estos jóvenes cuando piensan en los gobiernos militares, en la democracia, en los “nuevos derechos”, entre otras, Esto posibilita construir conclusiones parciales dadas no sólo desde el propio proceso histórico de cada país, y su particular forma de enseñanza, sino también enriquecer los resultados a la luz de una mirada comparada.
El libro cierra con las voces de los docentes a través de un artículo elaborado por María Paula González (Universidad Nacional de General Sarmiento) que se titula: “La historia escolar y los profesores. Una mirada desde el Mercosur”. En función de 288 encuestas a docentes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se estructura el texto presentando un perfil general que toma de referencia: la formación docente, la antigüedad profesional, sus perspectivas, preferencias y participación políticas y religiosas, asimismo se reflexiona sobre el propio oficio docente respondiendo, por ejemplo, la importancia de la Historia para lxs estudiantes, el tiempo de preparación de las clases, cuestiones de salario, entre otras. Nuevamente aparece esta idea de reflexionar sobre la práctica y la formación docente desde una mirada nacional que se complejiza a través de la perspectiva comparada.
En definitiva, una producción que levanta y amplifica preguntas que nos interpela como docentes. Sin duda un volumen que deja un importante antecedente desde el cual anclar para seguir pensando nuestra práctica profesional desde lo personal, como colectivo y en una dimensiones local y latinoamericana. En suma, de manera subterránea, se puede observar la idea de que bajo el ejercicio continuo de nutrir los interrogantes: qué, cómo y para qué enseñar historia en la escuela es que podremos convocar a estos jóvenes estudiantes a pensar el pasado, presente y el/su futuro.
Notas
1 El libro presenta un pequeño recorrido académico de los autores (págs. 207-210) a fin de conocer sus trayectorias, áreas de trabajo e investigación.
2 El concepto de conciencia histórica acuñado por el historiador y filósofo alemán Jörn Rüsen (1992) es entendido por éste en tanto relación mediada entre el pasado y presente que habilita pensar el futuro. Creencias, valores que estructuran el pensamiento humano.
Milagros Rocha – Universidad Nacional de La Plata. E-mail: milagrosmrocha@gmail.com
Faire apprendre l’histoire: pratiques et fondements d’une didactique de l’enquête en classe secondaire – JADOULLE (DH)
JADOULLE, Jean-Louis. Faire apprendre l’histoire: pratiques et fondements d’une didactique de l’enquête en classe secondaire. Resenha de: NICOD, Michel. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.2, p.159-160, 2016.
Comment enseigner l’histoire en 2016, avec quelle méthode ? Quelles démarches ? Et sur quels fondements ? Plusieurs chercheurs s’efforcent de répondre à ces questions depuis plus de 25 ans. Un ouvrage remarquable de Jean-Louis Jadoulle met en valeur une synthèse qui couronne ces travaux sur la didactique d’histoire.
Son livre se destine, en premier lieu, aux didacticiens et aux enseignants formateurs, puis aux enseignants en histoire, qui profiteront d’une table des matières développée, d’une écriture soignée au service d’une analyse pointue des différents objets sur lesquels repose, depuis 20 ans, la didactique en histoire.
À cette maîtrise fine de la didactique, Jadoulle ajoute son expérience personnelle en Belgique, tant par son enseignement universitaire, l’édition de deux collections de manuels d’histoire que par des enquêtes menées sur les pratiques enseignantes.
Dès lors, l’ambition de son ouvrage est annoncée dès sa première page ; proposer une « mise au point théorique », brève, puis des « pistes d’action opérationnelles », détaillées, illustrées d’exemples de travaux d’élèves, d’enseignants en formation et de plans d’études. L’auteur y relève la tension existant entre les travaux de recherche et les programmes scolaires. Ces tensions relèvent des questions fondamentales telles que: les attentes sociales face à la matière à enseigner aux élèves ; l’ouverture aux autres cultures, la question de l’identité, celle de la transmission du patrimoine aux jeunes générations…
Pour illustrer ses propos, Jadoulle défend et expose la démarche d’enseignement de l’histoire basé sur l’enquête historique à laquelle l’élève est invité à s’exercer. Ainsi, cette pratique permet à l’élève un réel exercice d’acquisition de compétences. Il devient l’acteur de ses apprentissages, alors même que, selon l’auteur, les pratiques de nombreux enseignants persistent selon le modèle transmissif1.
Pratique dont la subsistance peut être complémentaire au modèle d’une didactique de l’enquête.
Précisons que les attentes de l’auteur envers les enseignants sont élevées:
- Une connaissance affinée des ressources documentaires pour disposer de textes riches, complexes, mais accessibles à la compréhension des élèves.
- Une planification fine quant à l’élaboration des tâches à demander aux élèves leur permettant de développer la compétence visée par l’enseignant.
Pour ce faire, l’auteur structure sa réflexion en trois parties:
- Dans la première, il définit les objets de l’histoire enseignée tels que l’identification des acteurs, les causes et les conséquences des faits historiques…
- Dans la seconde, la plus développée, il détaille les objets et les étapes nécessaires pour l’élaboration d’une séquence d’histoire. Il insiste sur la mise en place de la phase de démarrage de la séquence, sur la place des concepts, sur la temporalité, sur les compétences, et finalement sur l’évaluation. Dès lors, l’évaluation des compétences de l’élève doit être le corollaire de la démarche d’enquête suivie pendant les cours.
En effet, l’auteur accorde une large place à la notion de compétence – 70 pages sur 400 – dans lesquelles il défend une optique « situationnelle ». Il propose ainsi de concevoir une « famille de situations » aux caractéristiques semblables dans lesquelles la compétence de l’élève peut s’exercer. Le choix de cette « famille de situations » permet aux enseignants des évaluations comparables des compétences des élèves. Or, cette pratique pourrait restreindre, en soi, la liberté des enseignants et susciter leurs réserves.
- Et finalement, la troisième partie est consacrée aux finalités, aux fondements épistémologiques et éducatifs de l’enseignement de l’histoire où la « didactique de l’enquête » trouve sa justification dans la démarche des historiens. L’auteur s’appuie ici sur les travaux des historiens, notamment P. Veyne, M. Certeau, H.-I. Marrou et A. Prost.
L’ouvrage remarquable de Jadoulle se distingue par sa qualité d’analyse des sujets abordés, n’esquivant aucun des débats et des difficultés soulevés par la tension existante entre les chercheurs, les enseignants et les attentes de la société. Simples d’accès pour le lecteur et structurés dans leur déroulement, les chapitres comportent de nombreux schémas, extraits de plans d’études, et travaux d’élèves ou préparations des leçons par les enseignants. Par ailleurs, de nombreuses synthèses avec présentations des controverses ponctuent les chapitres et éveillent le plaisir du lecteur.
Jadoulle invite son lecteur à partager le fruit de ses réflexions par une pensée aiguisée, colorée de rencontres à l’occasion d’enquêtes menées et d’échanges riches avec les enseignants, en ayant le souci d’outiller les élèves et les enseignants face aux attentes actuelles et futures de notre société.
[NotaS]
1 Modèle « transmissif » signifie que l’élève reçoit passivement le savoir émis par l’enseignant.174 | Didactica Historica 2 / 2016
Jean-Louis Jadoulle – Professeur à l’Université de Liège, est directeur de plusieurs collections de manuels scolaires d’histoire et auteur de nombreux articles en didactique de l’histoire.
[IF]
Aprender e ensinar história nos anos finais da escolarização básica – FREITAS (RHH)
Itamar Freitas | Foto: Adilson Andrade/ASCOM/UFS
Existem bons manuais de introdução ao ensino de História disponíveis no mercado editorial brasileiro. Em geral, essas publicações tratam de questões curriculares e metodológicas destinadas à formação básica dos aspirantes à docência. Em primeiro momento, o título, Aprender e ensinar história nos anos finais da escolarização básica, passa a impressão de se tratar de mais um manual dedicado ao ensino disciplinarizado de História, especialmente à fase atendida por professores especialistas dentro do sistema educacional brasileiro.
Contudo, os interlocutores diretos do livro de Itamar Freitas não são, na verdade, os iniciantes, mas os formadores de professores, esses profissionais híbridos, pesquisadores e docentes das fronteiras entre a História e a Educação, em geral lotados nas cadeiras de Didática, Metodologia ou Prática de Ensino dos cursos de Licenciatura em História. Leia Mais
Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France? LBRIAND (Lc)
LBRIAND, Dominique. Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France ?, Canopé – CRDP Basse-Normandie, coll. « Ressources Formation », 2013, 234p. Resenha de: BESSON, Rémy. Dominique Briand, Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France ? Lectures, 25 fev. 2014.
Publié dans la collection « Ressources Formation » (Scérén-CRDP), Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France ? aborde des questions relatives aux usages sociaux des films en plaçant au centre de l’analyse les perceptions du passé partagées par les élèves. Pragmatique, Dominique Briand, professeur d’histoire à l’IUFM de Basse Normandie développe une analyse qui se situe à l’articulation entre une approche relevant du domaine de l’histoire par les films et une initiation à l’éducation aux images. Pour cela, il part du constat que les enfants et les adolescents évoluent quotidiennement dans un environnement médiatique diversifié (internet, télévision, cinéma, presse écrite, etc.). Il remarque que la place exercée par les films historiques est certainement supérieure pour eux, à celle de l’enseignement de l’histoire. Ainsi, le récit transmis à l’école est-il devenu second, depuis maintenant de nombreuses années. Selon l’auteur, il permet simplement d’amender, d’encadrer et de compléter une conception déjà établie par ailleurs. Des propositions méthodologiques afin de répondre aux défis posés aux enseignants par ce constat sont formulées tout au long du texte. En s’appuyant sur de nombreuses études de cas, portant principalement sur l’histoire des conflits du vingtième siècle (guerres mondiales et coloniales, entre autres), l’ouvrage cherche donc à déterminer comment le cinéma participe à la fixation de la mémoire collective/culturelle et en quoi il a conduit à une remise en cause du « roman national » transmis par les instituteurs de la Troisième République.
Si ce présupposé de départ est particulièrement intéressant, l’idée principale du livre – bien que reposant sur deux néologismes – est, elle, très classique. Selon l’auteur, la prise d’importance des représentations cinématographiques de l’histoire a conduit à des mésinterprétations du passé qui sont le ferment d’une confusion entre fait et fiction : la faction (pour reprendre le terme d’Antony Beevor, cité p. 36). À cela, il est possible d’opposer de manière presque positiviste une fréquentation encadrée de la fiction, c’est-à-dire réflexive et critique, la fréqtion (vocable proposé par l’auteur). Une telle conception du rôle de l’enseignant repose sur l’idée que les films véhiculent des représentations dangereuses, dont l’école doit préserver l’élève. La salle de classe est alors conçue comme un sanctuaire, un lieu de résistance, face à une prolifération incontrôlée de mésusages des images dans l’espace public (p. 38). Le professeur se trouve ainsi placé dans la position de l’évaluateur qui détermine si le film est assez « authentique » pour figurer dans le cadre d’un enseignement scolaire. Par exemple, Marie-Antoinette (Sofia Copolla, 2006) est retoqué, car il propose une vision du passé non fidèle à l’état des connaissances sur le sujet (p. 91).
Ces axes méthodologiques reposent sur une conception datée du rôle de l’historien face aux images. Pris dans cette perspective, celui-ci est avant tout un ardent rhéteur d’une récit « vrai », qui doit, à ce titre, s’opposer aux déformations induites par les choix visuels et scénaristiques des professionnels du cinéma. Le fait que l’histoire soit aussi une représentation du passé constitue une dimension qui n’est considérée qu’à la marge1. Cela s’explique, en partie, par le fait que la principale référence mobilisée dans la courte sous-partie introductive, « les historiens et l’histoire de France à l’écran » (p. 23-25), est Marc Ferro. Si cela conduit Briand à considérer les films comme des vecteurs de mémoire producteurs d’une contre-analyse de la société2, cela le mène aussi à manquer les développements méthodologiques postérieurs liés aux travaux de nombreux autres chercheurs (histoire culturelle du cinéma, réflexions sur les rapports entre récit historien et filmique, etc.3). Par exemple, l’auteur mobilise à plusieurs reprises4, l’idée selon laquelle un film porte autant sur la période contemporaine de sa réalisation, que sur celle qu’il représente, alors que ce point fait l’objet d’un consensus depuis le milieu des années 19705.
Cependant, critiquer cet ouvrage au seul regard d’un manque de prise en compte de l’historiographie contemporaine, revient à manquer son intérêt principal. En effet, dès qu’il abandonne une position de retrait et de surplomb, Briand propose de multiples clefs méthodologiques passionnantes pour les enseignants en histoire. Il teste alors ce qu’il identifie comme étant des potentiels didactiques du cinéma. Ainsi, si l’écriture de l’histoire par les chercheurs n’a pas été systématiquement mise en regard des modes de narration des films, cette comparaison est menée de manière particulière habile entre les films et les cours d’histoire. Les productions culturelles étudiées sont alors tour à tour considérées comme des documents permettant un accès au passé et comme des représentations complexes dont il s’agit d’avoir une approche sensible. Dans tous les cas, très attentif à la forme filmique donnée aux faits passés dans les films, l’auteur évite le piège qui consiste à critiquer les réalisateurs à l’aune de la méthodologie historienne. Il répète ainsi à plusieurs reprises que les cinéastes ne sont pas contraints par les normes en usage au sein de l’académie.
Passionné par les nombreuses productions qu’il analyse, il propose très rapidement de dépasser le seul face à face entre l’élève et le film. Il insiste sur la nécessite de prendre en compte l’amont (les conditions de production) et l’aval (leur réception) avec une égale rigueur. Il explique que pour comprendre comment un film a transformé la perception du passé d’une génération de Français, l’état de leurs connaissances sur le sujet abordé est à préciser. Ainsi, le film n’est pas seulement à considérer pour sa valeur artistique, mais aussi pour l’effet qu’il a pu avoir dans l’espace public. Prenant, l’exemple de La Marseillaise (Jean Renoir), il analyse finement les différences entre la réception du film en 1938 et la façon dont il est possible de le voir aujourd’hui (p. 88). De plus, dans l’un des chapitres les plus réussis du livre, Briand s’intéresse aux débats et polémiques provoqués par certains films. Il s’attarde alors particulièrement sur les aspects non consensuels de l’histoire de France et notamment sur la guerre d’Algérie (à travers le cas du film Hors-la-loi de Rachid Bouchareb, 2010). Il saisit parfaitement que le cinéma ne se limite pas à l’espace de la salle obscure et que son rôle social se joue tout autant dans ce qui en est dit a posteriori. Sans effectuer de remontée en généralité abusive, il s’attèle aussi à décrire en quoi l’étude des films permet d’initier les élèves à une histoire des représentations attentives aux différences et aux complémentarités entre histoire et mémoire. Il fait ainsi des films en général et de ceux de Bertrand Tavernier en particulier (Un dimanche à la campagne, La Princesse de Montpensier, Capitaine Conan et La Vie et rien d’autre, notamment), des objets exemplaires pour une réflexion sur la fabrique du passé.
Cet ouvrage est donc traversé par une tension entre une éducation aux images principalement développée sur un mode critique (parfois un peu caricatural) et une série d’analyses précises portant sur des films qui sont considérés comme utiles pour enseigner l’histoire. Cette distinction ne recoupe pas pour Briand l’opposition classique entre films d’art et d’essai (souvent survalorisés pour leurs qualités formelles) et films populaires (disqualifiés sur des critères purement esthétiques). Au contraire, en culturaliste accomplit, l’auteur choisit de faire porter ses analyses aussi bien sur des films désignés comme étant des « nanars », que sur des œuvres considérées comme appartenant au panthéon du 7ème art. Cette tension repose, en fait plus, sur le maintien d’une différence entre histoire par les images et histoire des images. Ce choix de l’auteur explique certaines des réserves exprimées précédemment. En effet, il s’avère que depuis une quinzaine d’années une histoire utilisant des sources visuelles comme documents ne peut plus se passer d’une étude précise des conditions de production et de diffusion de celles-ci. Les productions audiovisuelles ne sont plus actuellement considérées simplement comme des sources donnant un accès direct à quelque chose de l’ordre du passé, mais comme des formes polysémiques dont il est toujours nécessaire de mesurer la complexité6. Ce n’est qu’une fois ce travail fait sur les images comme objets, que dans un second temps, elles deviennent des documents pour une histoire portant sur autre chose. Il n’y a donc plus de distinction entre les deux approches. L’absence de prise en compte de cette réconciliation entre histoire des et par les images est peut-être ce qui empêche cet essai d’histoire avec le cinéma d’être pleinement concluant. Ces limites ayant été exprimées, il reste à inviter tous les passionnés d’histoire et de cinéma, les enseignants et les étudiants, à se précipiter sur les analyses et les tableaux de synthèse proposés dans cet ouvrage, car ils constituent des matériaux particulièrement riches pour tous ceux qui œuvrent à faire entrer le cinéma dans l’enseignement de l’histoire.
Notes
1 Cf. Antoine de Baecque et et Christian Delage (dir.), De l’histoire au cinéma, Paris et Bruxelles, Complexe, 1998.
2 Cf. Marc Ferro, « Le film, une contre-analyse de la société », Annales ESC, 1973, vol. 28, n°1, p. 109-124.
3 Cf. Pascal Dupuy, « Histoire et cinéma. Du cinéma à l’histoire », L’homme et la société, 2001/4, n°142, p. 91-107 ou Philippe Poirrier, « Le cinéma : de la source à l’objet culturel », dans Les enjeux de l’histoire culturelle, Seuil, 2004.
4 Notamment, p. 85 à travers l’exemple du film Danton (Andrzej Wajda, 1983) et des films de Gustage Kerven et Benoît Delépine (p. 142-143).
5 Pierre Sorlin, « Clio à l’écran, ou l’historien dans le noir », Revue d’histoire moderne et contemporaine, avril-juin 1974, p. 252-278.
6 Cette manière de faire s’inscrit plus largement dans un tournant historiographique qui concerne l’ensemble des productions culturelles.
Rémy Besson
[IF]
Pensar históricamente en tiempos de globalización – LÓPEZ FACAL et al (I-DCSGH)
LÓPEZ FACAL, R., et al. (coords.). Pensar históricamente en tiempos de globalización. Universidad de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, 2011. Resenha de: BARRIGA, Elvira. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.73, p.114-116, abr. 2013.
El libro Pensar históricamente en tiempos de globalización son las Actas del I Congreso Internacional sobre Enseñanza de la Historia celebrado en Santiago de Compostela entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2010.
Las conferencias y debates, expuestos a lo largo del evento, tenían como objetivo retratar la situación y las transformaciones de la enseñanza y el aprendizaje de la historia por parte de los investigadores y el profesorado del área de ciencias sociales.
La publicación está dividida en dos partes. En la primera, destacan algunos textos de autores extranjeros y españoles: Charles Heimberg (Suiza); Maria Repoussi (Grecia); Stéphane Lévesque (Canadá); F. Javier Merchán Iglesias (España); Gonzalo de Amézola (Argentina), Mostafa Hassani Idrissi (Marruecos) y Verena Radkau García (Alemania). Mientras que en la segunda parte se nos presentan los resúmenes de las comunicaciones, estructuradas en tres secciones diferenciadas: enseñanza y aprendizaje de la historia y las ciencias sociales; experiencias y propuestas para la enseñanza de la historia, y, por último, genealogía, presente y futuro de la enseñanza de la historia.
Para finalizar, la recopilación se complementa con un CD que reúne todas las comunicaciones presentadas con formato pdf en texto completo.
La edición del libro está a cargo de Ramón López Facal, Luis Velasco Martínez, Víctor Santidrián Arias y Xosé Armas Castro. El primero de ellos, profesor titular de didáctica de ciencias sociales en la Universidad de Santiago de Compostela, abre el volumen con el capítulo «Pensar históricamente en España en tiempos de globalización: La investigación e innovación en la enseñanza de la historia». Ramón López Facal pone de manifiesto el desgaste de la enseñanza tradicional en el sistema educativo y la oportunidad de repensar mejoras para alcanzar una nueva sociedad que actualmente está calificada en situación de crisis.
Maria Repoussi inicia su discurso recordando el novedoso resurgir de las investigaciones en las actividades de la didáctica de la historia, y nos señala su veloz progreso en el ámbito teórico y práctico. Para seguir avanzando sugiere la necesidad de aclarar conceptos básicos y no descuidar el cooperar internacionalmente.
El modelo multicultural canadiense es un ejemplo de integración, como se indica. Stéphane Lévesque apunta a la idea de que el alumnado se siente más conectado a la historia cuando ésta es analizada de forma personal e íntima, y se le invita a experimentar mediante la participación, dejando de lado las divisiones lingüísticas, étnicas o culturales.
F. Javier Merchán Iglesias examina las experiencias innovadoras, los cambios desarrollados en el sistema y los métodos empleados para enseñar historia en la etapa 1970-2010. Enlazando con otra de sus aportaciones, nos pone de relieve el uso práctico del libro de texto durante la enseñanza en las aulas de historia. De las propuestas de cambio e innovación se desprende un gran sobreesfuerzo y dificultades para el profesional. El autor nos invita a preguntarnos: «¿Por qué se requiere más esfuerzo, siendo que en otros campos de la actividad humana la innovación contribuye precisamente a facilitar el trabajo?».
Son especialmente significativas las reflexiones de Verena Radkau García sobre cómo ha de responder la enseñanza de la historia al estímulo de la sociedad de la inmigración. La didáctica de la historia alemana se desarrolla tratando de aproximarse a dos objetivos básicos: aprender a manejar «lo ajeno» y ubicarse a sí mismo dentro de una situación de heterogeneidad y diversidad.
De la obra se extraen varias conclusiones, fruto de las conferencias y mesas redondas que tuvieron como objetivo dar respuesta a problemas a partir de las investigaciones e innovaciones en el aula. Por un lado, se contribuye a la organización de la diversidad de trabajos sobre la materia de didáctica de la historia en ámbitos de investigación. Por otro, se identifican las aportaciones más destacadas en metodología y práctica del estudio profundo de esta apasionante materia.
Uno de los temas recurrentes por los autores es el desconocimiento de lo que realmente se realiza en las aulas, a pesar de que los resultados de las investigaciones reflejen que tan sólo un pequeño porcentaje de los docentes llevan a cabo innovaciones en las mismas. Enseñar historia pasa por impartirla desde una perspectiva integradora y renovadora.
Como consecuencia, se nos advierte que debemos estar alerta para evitar que en tiempos de globalización se avance en el camino hacia la historización y universalización de los hechos históricos gratuitos, alejados de un aprendizaje histórico significativo.
En definitiva, el volumen es muy aconsejable ya que nos explica de manera interesante las principales líneas de investigación y debates actuales. A su vez reubica al lector, ya sea investigador o profesional, a afrontar el futuro con los conocimientos necesarios, proporcionando una amplia y detallada bibliografía, con el objetivo de conseguir una nueva y mejor sociedad.
Elvira Barriga
[IF]
Sobre Ontens | Unespar/UERJ | 2007
Sobre Ontens (Rio de Janeiro, 2007-) é uma revista brasileira multicampi, incorporando em seu conselho Editorial e Científico professores de várias instituições brasileiras. Nossa linha editorial busca publicar textos em Aprendizagem Histórica, Ensino de História e História do Ensino.
Desde 2015 a revista Sobre Ontens promove também a publicação de livros digitais. Nosso periódico é divulgado, produzido e gerenciado pelo LAPHIS – Laboratório de Aprendizagem Histórica [Unespar] e Projeto Orientalismo [Uerj].
Mail: sobreontens@gmail.com
Periodicidade [semestral].
Acesso livre.
ISSN 2176-1876
ISSN-L 2176-1876
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Knowing Teaching & Learning History – STEARNS et al (CSS)
STEARNS, Peter N.; SEIXAS, Peter; WINEBURG, Sam. Editors. Knowing Teaching & Learning History. New York: New York University Press, 2000. 482p. Resenha de: BRADLEY, Jon G. Canadian Social Studies, v.37, n.2, 2003.
So much a comma can imply. The front cover of this marvelous compilation boldly proclaims a title written as: Knowing Teaching Learning History. The inside fore pieces, on the other hand, perhaps more conventionally, dictate the title as: Knowing, Teaching, and Learning History. How do these little commas challenge the first impressions of what might be contained within the pages?
Often linguistically defined as separating inseparables, the comma is a powerful stop within the English language. Connoting a definite pause, commas draw attention to the separated and un-separated words/phrases and, consequently, focus attention and make clear inferences. Therefore, is the title actually Knowing Teaching as the cover proclaims or Knowing, Teaching as the fore pieces maintain? To some, this may seem akin to debating how many angels dance on the head of a pin; to others, thankfully, this is a major linguistic issue that grounds the main thrust and orientation of the volume.
Mindful of English academic Francis Macdonald Cornford’s (1874-1943) protestations, one has to be extremely careful when engaging in what he playfully terms the comma hunt. While commenting on the place and power of academic meetings, he sarcastically notes that another sport which wastes unlimited time is comma-hunting. Once start a comma and the whole pack will be off, full cry, especially if they have had a literary training (Cornford, 1922, p. 21).
Published in conjunction with the American Historical Association, this book emanates in large measure from what the authors categorize as the American congressional History Wars of the mid-1990’s (for but one example, consult History on Trial, 1997). As so often happens in matters related to curriculum, politicians – and those ever so plentiful outside experts – debated the kind and degree of history that should be taught in the schools of the United States. Knowing Teaching and Learning History seeks to establish a sort of contemporary pedagogical playing field on which this continuing educational and philosophical struggle may take place.
Canada, like many other countries caught up in the immediacy of the current technological revolution, is not immune from similar gigantic contests. The public reaction to various cross-Canada and widely reported surveys that generally show Canadian youngsters to be quite ignorant of their Country’s history often leads to short bursts of parliamentary indignation and tabloid media sentiments of the need to revitalize low-key Canadian nationalism(s).
More recently, Granatstein’s small polemic, Who Killed Canadian History? (1998), has likewise produced a less strident but equally rough ground-swell in Canadian academic and educational circles regarding the manner and way that history, as a separate and distinct discipline, is taught at various levels of the Canadian educational system. Political debate has followed and various foundations and other organizations espousing various points-of-view have established themselves in the interest of finding the true route to historical comprehension.
Cries have been raised across North America, for example, regarding the kind of history that is taught, the orientation of history and its purported goals, the place of history within the overall curriculum package and even that most dreadful of all terms, standards, for the teaching – and evaluating – of history. Some alarmists have even suggested that the teachers (of course, classroom teachers are usually blamed for all of society’s ills at one time or another) are the main culprits and it is their general lack of training that contributes to poor student showing on various tests and skills dealing with historical knowledge.
For academics and educators who reside north of that geographically invisible but intellectually physical forty-ninth parallel, the book’s subtitle of National and International Perspectives is immediately appealing. Notwithstanding the commonalties amongst children and adolescents as well as the difficulties inherent in the teaching and learning of history in this day and age of immediate gratification and ten second sound bites, the joy of seeing a touch of Canadian content in this essentially American tome is most pleasurable.
Ever mindful of English dramatist Alan Bennett’s (1985) pithy remark that Standards always are out of date. That is what makes them standards (Act II), one can view the almost five hundred pages of Knowing as a most compelling, eclectic, and wide ranging view of the teaching and learning of history in elementary and secondary classrooms. The chapters are arranged into four clumps aptly noted as: (1) Current Issues in History Education; (2) Changes Needed to Advance Good History Teaching; (3) Research on Teaching and Learning in History; and, (4) Models for Teaching. The twenty-two chapters in Knowing touch upon just about every facet connected to the teaching and the knowing of history. Far from being an exercise in American navel gazing, the editors have done a fine job in bringing a variety of other world and professional views to the issues at hand. As well as cogent pieces by Peter Seixas of UBC and Desmond Morton of McGill, there are a number of relevant articles by authors from England as well as Europe.
While this geographic sprinkling does indeed provide for differing views, the editors have not shied away from internal professional debates either. Although unpopular in some academic circles, Diane Ravitch does raise concerns about the training of classroom teachers. Furthermore, the place and role of elementary education in laying the foundation to future scholastic endeavors is clearly evident as there are a number of articles which address the need for historical themes as well as a sense of history to be honoured and strengthened with younger learners. Finally, there is a wonderful collection of articles concluding the volume that deal with research implications and the most effective mediums for the teaching of history.
Knowing Teaching and Learning History is definitely required reading by anyone who is interested in the manner in which history (at whatever level) is taught. True, there are some particular geographic situations and specific examples that may or may not be directly or immediately applicable to the broad Canadian scene but, on the whole, each and every article in Knowing explores a unique dimension on the wide landscape that is history. In my view, there was not a single chapter that did not resonate with a conviction and a desire to see the teaching and the knowing of history rejuvenated.
Unfortunately, many people (and that may well include elementary and secondary teachers) contend that history is somehow settled. Too many classroom practitioners believe that it is an old story that cannot be added to and needs no new interpretations. Notwithstanding the forceful assurances of conservative commentator Rush Limbaugh, the teaching and learning of history at all levels of the educational system is complex and layered. Wouldn’t it be nice if
History is real simple. You know what history is? It’s what happened. History is what happened, and history ought to be nothing more than the quest to find out what happened (Limbaugh cited in Nash, Crabtree, and Dunn, 1997, page 6).
Knowing Teaching and Learning History explores the complexity of teaching and knowing and learning history at a myriad of levels. This is not a static voyage; rather, it is one that will take the interested reader on a wonderful journey of discovery and reexamination. In many ways, this is a very positive and uplifting volume. While difficulties and problems are accurately noted and contextualized, the overarching sense that emanates from the book is that history is alive and well in classrooms around the world. Captured within its pages, Knowing provides an educational framework that anchors the discipline and centers its impact upon society.
References
Bennett, A. (1985). Forty Years On and Other Plays. London: Faber and Faber.
Cornford, F.M. (1922). Microcosmographia Academica. Cambridge: Bowes and Bowes Publishers.
Granatstein, J. L. (1998). Who Killed Canadian History? Toronto: HarperCollins.
Nash, G.B., Crabtree, C. Dunn, R.E. (1997). History on Trial: Culture Wars and the Teaching of the Past. New York: Alfred A. Knopf.
Jon G. Bradley – Faculty of Education. McGill University. Montreal, Quebec.
[IF]
Knowing, teaching and learning History: National and international perspectives – STEARNS et al (ECS)
STEARNS, Peter N.; SEIXAS, Peter; WINEBURG, Sam (eds.). Knowing, teaching and learning History: National and international perspectives. New York: University Press. 2000. 475p. Resenha de: RODRÍGUEZ, A. Ernesto Gómez. Enseñanza de las Ciencias Sociales, v.1, p.113-114, 2002.
Pronunciarse sobre los requisitos que confieren calidad a la enseñanza de la historia es, sin duda alguna, una complicada cuestión que precisa de la concurrencia de múltiples y variadas opiniones; pues bien, ésta es una de las características a destacar de la obra que comentamos: la confluencia de autores procedentes de campos tan dispares –psicólogos e investigadores de la educación, historiadores, didactas y profesores de historia– que aportan numerosas e interesantes ideas sobre cómo ha de entenderse su enseñanza en unos momentos de cambios sociales y culturales tan profundos.
Las aportaciones se debatieron en la conferencia de la American Historical Association celebrada en Pittsburgh en 1997 y más tarde fueron recogidas en un texto que se estructura en cuatro partes y en el que se hace una reflexión sobre la enseñanza de la historia, entendida ésta como una asignatura independiente en el currículo escolar. A pesar de la distancia, es una obra perfectamente adecuada para abordar su enseñanza tanto en nuestra ESO como en la secundaria postobligatoria, una etapa bastante abandonada por las editoriales españolas, quizás porque los pasados debates se centraron, sobre todo, en torno a la cuestión de ciencias sociales o geografía e historia.
En la primera parte, titulada «Cuestiones actuales de la enseñanza de la historia» se aborda, desde siete colaboraciones pertenecientes a diferentes contextos –Canadá, EEUU, Gran Bretaña, Estonia–, las cuestiones de qué es la historia y cómo debería enseñarse. Entre ellas destacan la de Seixas, que analiza la naturaleza del conocimiento histórico, sopesando los pros y los contras de tres corrientes a través de las cuales el profesorado maneja conflictivas interpretaciones de los acontecimientos históricos: la memoria colectiva, la orientación disciplinar y la orientación postmoderna. Por su parte, James Wertsch analiza las diferencias entre los conceptos de maestría y apropiación, al objeto de responder a la cuestión de si se pueden simultanear valores y conocimientos en la enseñanza de la historia. Desde la experiencia escolar canadiense, Morton, plantea la necesidad de reflexionar profundamente antes de aplicar soluciones simplistas que abogan por una explotación del pasado para solucionar los problemas políticos contemporáneos.
Ante la incapacidad del alumnado inglés para construir un mapa coherente del pasado, Shemilt no tiene más remedio que reconocer cierto fracaso del Schools History Project, a pesar de que su currículo se articulaba y estructuraba, esencialmente, para lograr esa orientación.
Como conclusión general de esta sección, hay que reconocer que, a pesar de la profundidad de las reflexiones, resulta imposible establecer el consenso entre ellas.
La segunda parte ofrece menos utilidad para el caso español, al centrarse en problemas y cuestiones específicamente norteamericanos; en líneas generales, argumenta la necesidad de introducir cambios en la enseñanza de la historia. La historiadora Ravith, muy implicada en las conservadoras reformas curriculares de los años noventa, responsabiliza de la mala calidad de la historia que se enseña a la mala formación histórica del profesorado, sin entrar en otras circunstancias. Otro capítulo analiza un programa piloto universitario destinado a la formación del profesorado de historia, subrayando la necesaria e imprescindible colaboración entre los departamentos de Historia y de Educación. El tercero versa sobre la reforma de la enseñanza de la historia emprendida en un distrito escolar californiano, cuyo éxito se justifica en que se basa en el desarrollo profesional de los docentes y en la intervención activa y coordinada de departamententos universitarios de contenidos y de educación.
La tercera parte se dedica a «La investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la historia» y la integran siete colaboraciones de conocidos didactas y psicólogos educativos, aunque algunas de ellas –las de Leinhart y von Borries– parecen fuera de contexto. Los británicos Lee y Ashby exponen los resultados de un proyecto curricular destinado a incrementar la comprensión de la historia entre el alumnado de 7 a 14 años, y sus conclusiones confirman que el aprendizaje histórico resulta mucho más complicado y variado de lo que tradicionalmente se creía. Por su parte, la didacta Levstik establece comparaciones entre la forma de percibir la historia por unos alumnos y la distinta percepción de sus profesores y de profesores en formación. La cuestión más interesante es que, mientras que los primeros se muestran bastante sensibilizados por abordar las cuestiones conflictivas de la historia del país, los segundos muestran una marcada tendencia a dejar aparcados los aspectos más candentes de la historia y reflejan una profunda despreocupación hacia aquellos temas que realmente suscitan la participación cívica. Finalmente, Wineburg destaca, a través de los datos proporcionados por un estudio longitudinal, que en la actualidad la escuela no es más que uno de los muchos espacios donde se puede enseñar y aprender la historia en la sociedad moderna.
Los seis capítulos de la quinta y última parte tratan la cuestión de «los modelos de enseñanza» mediante informes de experiencias destinadas a mejorar el rendimiento del alumnado; unas experiencias que parten desde distintas interpretaciones de lo que constituiría el conocimiento y la comprensión histórica y que pretenden constatar la viabilidad y la eficacia de las técnicas educativas que se aplican.
Las tres aportaciones más interesantes son las de Gutiérrez que, narra su experiencia en una high school californiana con elevada población «marginal». Básicamente, esta autora percibe la comprensión histórica en términos de desarrollo personal y de capacitación del alumnado para participar de manera efectiva en la comunidad democrática. Bain desarrolla un planteamiento más academicista y expone su experiencia docente centrada en la adquisición de estrategias cognitivas dirigidas a desarrollar la habilidad del alumnado en el manejo de recursos históricos variados. Por último, Boix-Mansilla relata una experiencia encaminada a revisar algunas cuestiones sociales problemáticas actuales a la luz de acontecimientos ya históricos, pretendiendo y fomentando una interpretación e intervención valorativa del alumnado. En síntesis, estos modelos de enseñanza pueden servir para animar al profesorado en la búsqueda de nuevas fórmulas educativas.
En general, pese a los desequilibrios que se aprecian en ella, podemos valorar positivamente esta obra que, como señalan sus editores, en un campo acosado por serios problemas e incertidumbres, sugiere nuevas vías para discutir sobre cuál y cómo debería ser la aportación de la historia a la educación.
Ernesto Gómez Rodríguez – UMA.
[IF]
Knowing, Teaching & Learning History – STEARNS et al (CC)
STEARNS, Peter. SEIXAS, Peter; WINEBURG, Sam Wineburg (éd.). Knowing, Teaching & Learning History. New York: University Press, 2000. 482p. Resenha de: Philippe Haeberli. Le cartable de Clio – Revue romande et tessinoise sur les didactiques de l’histoire, Lausanne, n.2, p.284-288, 2002.
Publié en association avec l’American Historical Association, cet ouvrage de près de 500 pages est issu d’un congrès tenu à la Carnegie Mellon University en novembre 1998. Il réunit une vingtaine de communications d’un panel de chercheurs anglo-saxons venus d’horizons différents (éducation, enseignement, histoire, psychologie, sociologie, sciences cognitives, sciences politiques…) et s’intéressant aux développements récents de la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage de l’histoire. La volonté des éditeurs Peter Stearns, historien, Peter Seixas, spécialiste en plan d’études (curriculum) et ancien enseignant d’histoire au secondaire et Sam Wineburg, psychologue spécialisé dans les problèmes d’éducation, est de combler avec cet ouvrage une lacune, estimant que les historiens n’ont pas donné d’écho suffisant à l’intérêt grandissant du public américain pour la question de l’histoire à l’école. En effet, dès 1995 et la mise en débat au Congrès américain, on a assisté à une médiatisation croissante outreatlantique de la question de l’histoire à l’école. Des pratiques dans lesquelles des historiens non-professionnels évoquent, narrent ou utilisent des représentations du passé (commémorations, expositions, fictions, films…), l’enseignement scolaire de l’histoire reste, de l’avis des éditeurs, le parent pauvre de la recherche historique.
La question qui sert de fil rouge à l’ensemble des communications tourne autour de la fonction attribuée à l’histoire à l’école: cette dernière estelle principalement un héritage non-critique destiné à transmettre une certaine version du passé ou la version élémentaire de la discipline historique au sein de laquelle la dimension critique domine et que certains pourront développer plus tard à l’université? Les auteurs démontrent tout au long de l’ouvrage que la question de l’enseignement de l’histoire ne se réduit pas aux débats à propos des faits historiques à enseigner ou des identités à mettre en lumière, mais qu’il existe des compétences étroitement liées à la pratique de l’histoire qui constituent une base indispensable à l’exercice de la critique et qui, à ce titre, doivent être enseignées aux élèves.
L’approche sur laquelle l’ensemble des contributeurs s’accordent est épistémologique et culturelle. La séparation entre le contenu et les processus d’apprentissage est considérée comme artificielle et dangereuse. Il est entendu pour tous que le processus de communiquer des connaissances sur le passé est, avant tout, un acte qui charrie des messages implicites sur ce que signifie « être historique » dans une société moderne. Pour paraphraser le philosophe américain de l’histoire Hayden White, il y a énormément de contenu dans la forme. D’un acte purement technique, l’acte d’enseigner est considéré comme un acte culturel où se posent les questions de la nature du savoir, du rôle de l’élève et de l’enseignant dans la production de l’histoire. La classe peut ainsi devenir un des lieux du débat démocratique autour de la question de la signification de l’histoire.
La didactique de l’histoire étant un champ récent, elle cherche encore sa légitimité. Les auteurs énoncent trois références possibles: la ’révolution cognitive’ dans l’apprentissage et l’enseignement, comme l’a dénommée Howard Gardner, grâce à laquelle on est passé d’une pédagogie centrée sur les comportements à une attention particulière attribuée à la signification et au sens donnés aux actes d’enseignement; l’ouverture des débats historiographiques aux différents groupes minoritaires composant la société américaine; un intérêt accru pour les questions de conscience historique, de mémoire collective, et de présentation publique de l’histoire.
L’ouvrage se découpe en quatre parties et les articles sont classés par thèmes de la manière suivante:
1° Les choix, les croyances et la compréhension
Quelle histoire doit être enseignée? L’enseignement de l’histoire implique des choix de contenu. Sur quels critères opérer ces choix? Deux historiens, Gary B. Nash et Ross E. Dunn font la suggestion suivante: soit les choix sont dûment explicités par les enseignants (comme c’est le cas dans le domaine de la recherche historique), soit ils font l’objet de discussions entre enseignants et élèves. Voilà pour la forme. Sur le fond, Nash et Dunn défendent la thèse que le contenu devrait être celui d’une histoire mondiale libérée des questions identitaires et de la recherche des origines. L’important étant pour eux les questions épistémologiques liées à cette histoire. Citant l’historienne Marylin Waldmann, Dunn finit son article par ces mots: «I think we need to stop arguing over which books to read or which cultures to study and start talking about which questions to ask » (p. 137).
2° Représentations partagées
Quel rôle pour l’histoire dans le projet identitaire? Dans quelle mesure les croyances à propos du passé influencent-elles le citoyen dans la compréhension qu’il a de lui-même et du monde qui l’entoure? James V. Wertsch, psychologue, apporte des éléments de réponse à ces questions. Il a pu conclure de ses recherches sur la conscience historique menées en Estonie qu’il existe deux actes mentaux de nature différente dans les jugements sur le passé. La croyance et le savoir (’belief ’ et ’knowledge’). Il observe que les gens stockent dans leur mémoire des constructions souvent très élaborées d’histoire officielle tout en continuant à croire profondément des récits alternatifs, voire contraires sur le passé.
Chose intéressante, les croyances même si elles sont souvent plus incohérentes que les connaissances, contribuent, selon Wertsch, beaucoup plus que ces dernières, à la constitution de l’identité et des conceptions politiques ou morales de la personne. Roy Rosenzweig a mené quant à lui une étude sur les représentations et l’utilisation des adultes américains à propos du passé dont les conclusions se montrent plutôt positives quant à l’importance accordée à l’histoire comme instrument de dialogue entre le passé et le présent. Enquête de même nature, mais effectuée de l’autre côté de l’Atlantique, l’enquête Youth and History dirigée par Bodo Von Borries, ancien enseignant reconverti dans la recherche en éducation, réalisée auprès de 32’000 jeunes en Europe et au Moyen Orient, démontre une certaine ignorance des méthodes d’enseignement ’ouvertes’ et ’centrées sur l’élève’ issues de 25 ans de réforme scolaire, autant chez les élèves que chez les enseignants interrogés. Empiriquement, les méthodes traditionnelles de l’enseignement de l’histoire semblent même donner des résultats supérieurs aux méthodes nouvelles selon les standards de l’enquête. Ces résultats exigent, selon von Borries, un réexamen de la légitimation théorique et normative de ces nouvelles méthodes d’enseignement de l’histoire. Linda S. Levstik décrit le décalage entre les attentes des élèves sur les aspects négatifs de l’histoire nationale (en l’occurrence américaine) et les réticences des enseignants à aborder des sujets et récits historiques polémiques, diviseurs ou même alternatifs pour la raison qu’ils n’ont rien à voir avec la formation identitaire des élèves. De manière générale, les questions relatives aux conceptions que les élèves peuvent avoir sur la méthode historique (quelle source historique croire? comment se comporter devant des sources conflictuelles? la nature réelle de l’argument historique?) sont discutées par la majorité des intervenants. Elles font l’objet de belles controverses et soulèvent une question pertinente: comment aborder dans la classe les différences de conceptions sur la manière d’étudier le passé? James F. Voss et Jennifer Wiley cherchent à répondre à deux questions liées intimement à l’écriture de l’histoire: présenter des segments de textes historiques séparément (textes multiples) produit-il de meilleures performances que de présenter le segment comme un seul texte? Et écrire un essai argumentatif sur un sujet historique produit-il des performances supérieures à écrire un autre type d’essai, comme le texte narratif? Dans un article surprenant, Sam Wineburg se demande quelles représentations du passé les jeunes acquièrent à travers les médias, la culture populaire, l’église et la vie familiale et comment ils les acquièrent. Son postulat de base est celui de la micro-histoire: il faut aller voir si les théories sociologiques générales se vérifient dans les représentations des individus. Autre interrogation plutôt provocatrice soulevée par Wineburg: et si les représentations produits par les médias et la culture populaire peuplaient la conscience historique américaine plutôt que celles issues du contenu des cours d’histoire à l’école? Son opinion sur la question est pour le moins atypique:
« Rather than pretending that we can do away with popular culture – confiscate videos, banish grunge rock and rap music, magnetize Nintendo games, and unplug MTV and the Movie Channel-we might well try to understand how these forces shape historical consciousness and how they might be used, rather than spurned or simply ignored, to advance student’s historical understanding » (p. 323).
Peter Lee et Rosalyn Ashby estiment que la progression des représentations des élèves à propos de la discipline historique est une donnée importante à prendre en compte par les enseignants et les programmes. Ils cherchent ainsi à déterminer les différences de compréhension de l’histoire comme forme de savoir qu’il peut exister entre des enfants de 7 ans et des enfants de 14 ans. Leur enquête à laquelle ont participé 500 élèves anglais porte sur ce qu’ils appellent les idées de second-ordre (concepts de preuve, de changement, d’explication ou de récit historique) par opposition à l’histoire substantive qui concerne le contenu historique proprement dit. Les questions qui ont intéressé Lee et Ashby sont par exemple: qu’est-ce qu’un savoir à propos du passé? Quel genre de problèmes aborde l’histoire? Comment expliquer les différences dans les récits historiques? Comment expliquer les différences d’opinion entre auteurs?
3° Entre mémoire collective et histoire critique
La tension entre passé critique et passé utilisable est développée dans un certain nombre de communications. La question du but politique visé par l’enseignement de l’histoire est alors clairement posée. Peter Seixas expose et critique une alternative au choix cornélien entre mémoire collective et histoire critique, à savoir la perspective post-moderniste de l’histoire inspiré des écrits de Michel Foucault pour la rejeter en mettant le doigt sur les dangers de nihilisme et de relativisme extrême qu’entraîne cette position.
4° Recommandations pour des réformes (modèles pour enseigner)
Certains auteurs, praticiens, proposent des innovations qui pourraient servir de modèles pour la classe. Robert B. Bain, enseignant d’histoire à l’école secondaire pendant 26 ans, montre comment les sciences cognitives et la psychologie culturelle lui ont été utiles pour développer des nouvelles techniques d’apprentissage. Veronika Boix-Mansilla s’intéresse plus particulièrement à la relation passé-présent. Elle dénonce la subordination de l’histoire à des valeurs aussi respectables soient-elles (démocratie, droits de l’homme, identité nationale) et la transformation de l’histoire en leçons de morale ou en dogmes servant à diriger les comportements dans le présent. Elle suggère que les liens que font les élèves entre des événements historiques et des événements actuels sont souvent simplistes, quand ils ne sont pas faux. En utilisant une étude où les élèves devaient appliquer ce qu’ils savaient de l’Holocauste pour expliquer le génocide rwandais de 1994, BoixMansilla illustre sa suggestion. Peter Stearns identifie et discute des activités particulières à l’analyse historique rencontrées par des élèves de l’Université dans son cours sur l’histoire mondiale dont la comparaison interculturelle, la vérification de théorie et l’explication du changement en histoire. Il relève et souligne que ces activités requièrent certains savoirs que les enseignants secondaires négligent ou qu’ils considèrent comme déjà acquis par les élèves. Psychologue et linguiste, Charles A. Perfetti propose un outil informatique s’inspirant de recherches dans le domaine des sciences cognitives pour aider les élèves de secondaire à faire des liens entre différents documents historiques traitant du même sujet, partant, pour enseigner l’histoire à l’aide d’une multiplicité de documents. Quant à Diane Ravitch, historienne de l’éducation, elle considère qu’un des enjeux clés pour une réforme réside dans la formation des enseignants chez qui il existe, selon elle, trop souvent des lacunes dans le savoir historique. Or, remarque-t-elle, comment des enseignants à qui il manque les connaissances de base peuvent-ils enseigner ce qu’ils ne savent pas aux élèves? Le contenu d’un cours académique réservé aux enseignants historiens pose problème. Sur quel aspect du futur métier de l’enseignant mettre l’accent? G. Williamson et McDiarmid, tous deux professeurs d’histoire, et Peter Vinten-Johansen, professeur d’éducation, ont tenté de mettre en commun leur savoir au service des futurs enseignants dans un cours de méthodes d’enseignement historiques donné à l’Université de Michigan.
Nous retiendrons de cet ouvrage trois aspects susceptibles de nourrir la réflexion sur l’enseignement et l’apprentissage de l’histoire. L’approche pluridisciplinaire et en particulier la participation importante de chercheurs issus de la psychologie semblent enrichir le traitement et les réponses à des questions aussi complexes et hétérogènes que celles posées par l’enseignement et l’apprentissage de l’histoire ; même si les compétences liées à la pratique de l’histoire et notamment le développement d’un sens critique chez l’élève se révèlent prioritaires pour les auteurs, ils n’en oublient pas moins la question du contenu enseigné. Celui-ci fait l’objet d’une réelle réflexion et de discussions sérieuses, entre autres autour de la dimension identitaire de l’enseignement de l’histoire ; enfin, cet ouvrage démontre ce qu’une collaboration entre chercheurs et praticiens peut apporter comme résultats fructueux.
Philippe Haeberli – Université de Genève.
[IF]
Un siècle de leçons d’histoire. L’histoire enseignée au lycée 1870-1970 – HERRY
HERY Evelyne. Un siècle de leçons d’histoire. L’histoire enseignée au lycée 1870-1970. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 1999, 437p. Resenha de: BUGNAR, Pierre-Philippe. Le cartable de Clio – Revue romande et tessinoise sur les didactiques de l’histoire, Lausanne, n.1, p.222, 2001.
L’auteure dépiste les vieux habitus de l’histoire enseignée – cours magistral, résumé, leçon apprise et récitée, interrogation orale… –, érigés en autant de rituels indécrottables, un dépistage qui confère à l’immobilisme de la discipline une visibilité éclatante. Toute cette économie traditionnelle tranche fortement avec la noblesse et l’ambition des finalités qu’assignent les instructions officielles contemporaines à un tel enseignement. L’analyse des pratiques révèle donc une ankylose que dénonçait déjà Durkheim au début du XXe siècle ou Daumier, plus tôt encore, dans ses caricatures.
Il faut maintenant se demander si le « tour- nant critique » des années 1960, qui marque bien le terme amont de l’étude, a vraiment permis d’opérer la « libération» tant atten- due pour l’enseignement de la discipline des sciences humaines la plus engoncée peut- être dans un système suranné, produisant si peu d’apprentissages durables eu égard aux résultats escomptés (finalités sociales, disci- plinaires…) et aux moyens alloués (dotation horaire, manuels…).
Le cartable de Clio reviendra dans un pro- chain numéro sur cette recherche impor- tante pour la compréhension des habitus de l’enseignement de l’histoire au secondaire.
Pierre-Philippe Bugnard – Université de Fribourg – Sciences de l’éducation.
[IF]
Enseñanza y aprendizaje de la historia – PLUCKROSE (RTDCS)
PLUCKROSE Henry. Enseñanza y aprendizaje de la historia. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Colección: Pedagogía, Ediciones Morata, 1993. 223p. Resenha de: PRESAS, María Isabel. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, v.1, n.1, p.37, ene.,1996.
En esta obra el autor hace un planteamiento de cómo debería enfocarse la enseñanza y el aprendizaje de la historia en alumnos de primaria. Expone Pluckrose que la historia realiza una aportación polifacética al curriculum escolar, como es: el conocimiento (fechas, datos, acontecimientos), la apreciación (de los conceptos específicos, mediadores del entendimiento de los valores cruciales de la sociedad), y las destrezas (capacidades de indagar y analizar el modo en que un historiador examina e interpreta el material).
Igualmente, establece una serie de metas que buscan proporcionar un contexto sobre el cual evaluar métodos, estrategias y recursos propuestos, así mismo, servir de marco a objetivos que contribuyan al desarrollo de conocimientos, actitudes y valores. De tal manera centra su análisis en los elementos, que según su juicio, deben ser considerados en la planificación del curriculum de historia.
Por último, Pluckrose recomienda a los educadores de esta disciplina que procedan con cuidado en la selección de textos, “debemos, dice, esforzarnos por evitar el uso de material que encamine a los alumnos hacia un fin predeterminado …”. Y concluye, que la enseñanza de la historia no tiene razón de ser si sólo promovemos la existencia de un conocimiento heredado y aceptado, un conjunto de hechos no discutibles que es necesario memorizar.
María Isabel Presas
[IF]








