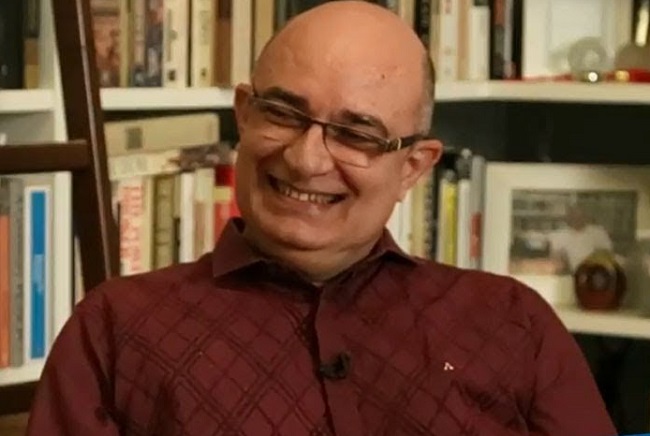Posts com a Tag ‘ALBUQUERQUE JÚNIOR Durval Muniz de (Aut)’
O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
Os temas, nós que somos praticantes do ofício, já os conhecemos: o tempo e as temporalidades, o arquivo, o estatuto do documento e do testemunho, as biografias, o patrimônio, a memória e os usos do passado. Porém, para quem é leitor(a) de Durval Muniz Albuquerque Júnior, sabe que esse historiador costuma sempre inaugurar um modo outro de pensar e de fazer história. Em O tecelão dos Tempos (novos ensaios de teoria da história), somos interpelados por uma escrita vibrante, erudita, irônica, alegre, debochada e, acima de tudo, proliferante. Não se trata da repetição monótona de velhas tópicas: “trata-se de uma repetição diferencial: as ideias colocadas em novas situações tornam-se outras” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 17).
O livro possui três eixos. No primeiro deles, estão os textos que abordam a escrita da história. No segundo, o autor trata dos diferentes usos do passado. No terceiro, a temática é o ensino de história. Ao todo são catorze capítulos, os quais podem ser lidos em sequência ou de forma aleatória. Quer dizer que o livro é um amontoado de capítulos desconexos? Não. O ponto é que o que unifica todos é o gesto experimental e crítico. O autor ensaia historiografias. O que nos é apresentado é um conjunto de ideias-teste a partir do vocabulário conceitual e das metodologias que compõem o repertório da historiografia. Experimentos que Durval Muniz realiza enquanto historiador de ofício, enquanto professor, enquanto leitor e apreciador da arte histórica. Não foi sem motivo, portanto, que escolheu o estilo ensaístico de exposição. Leia Mais
O Tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da história | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz. O Tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da história. São Paulo: Intermeios, 2019. Resenha de: MAYER, Milena Santos. Revista Expedições, Morrinhos, v. 11, jan./dez. 2020.
“Os textos aqui reunidos formam uma constelação simultaneamente erudita e polêmica, ferina e generosa, que pode ser lida de trás para frente, de frente para trás, com pés calçados no presente, com olhos no passado ou como um projeto de história futura” (CEZAR, 2019, p.12). É assim que o historiador Temístocles Cezar apresenta o livro “O Tecelão dos Tempos “publicado no ano de 2019 pela Editora Intermeios. Publicados anteriormente em outros livros ou revistas acadêmicas, os escritos são frutos de análises, pesquisas e apresentações do historiador Durval Muniz Albuquerque Junior em conferências, aulas magnas ou seminários. O autor de “A Invenção do Nordeste e Outras Artes” (1999), “Nordestino: Uma Invenção do Falo – Uma História do Gênero Masculino” (2003) e “História: A Arte de Inventar o Passado” (2007), dentre outros, apresenta a nova publicação rebatendo críticas e comentando a repercussão que o livro de 2007, dedicado também à teoria, que causou entre os colegas da academia.
Segundo Durval, as críticas iniciaram pelo próprio título, uma vez que os termos arte e invenção sugerem um debate polêmico e recorrente no campo da história diante da busca por uma cientificidade. Além das questões teóricas, o autor foi avaliado em relação a forma em que o texto foi construído e apresentado. Por esse motivo, o historiador dedica a apresentação do novo livro para rebater as críticas, justificar e argumentar o uso do ensaio como gênero de escrita. Para ele é possível produzir conhecimento histórico preocupando-se também com a forma e com a estética da narrativa. No decorrer da leitura é possível perceber a intenção em reforçar o entendimento de que o trabalho do historiador é um trabalho de escrita e que, portanto, a forma dessa escrita é essencial e um desafio constante. “Sem a reflexão crítica sobre a arte da narrativa não há ciência possível na historiografia” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2019, p. 16). Leia Mais
O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
ALBUQUERQUE Jr, Durval Muniz de. O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História. São Paulo: Intermeios, 2019. 276 p. Resenha de: SOUZA, Vitória Diniz de. A História como tecido e o historiador como tecelão das temporalidades. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.508-514, jan./jun., 2020.
A historiografia está em constante transformação, por isso, certas tendências foram sendo esquecidas com o tempo e outras surgiram para formular novas maneiras de produzir história. O livro do historiador Durval Albuquerque Júnior, O Tecelão dos Tempos, nos convida a refletir sobre a escrita da história e a inventar novos usos e sentidos para o passado. Essa sua obra pode ser encarada como um manifesto para os historiadores/as repensarem a sua prática e a abandonarem certos convencionalismos que marcam a tradição historiográfica.
O “Prefácio” é escrito por Temístocles Cezar, que define o livro como uma “constelação simultaneamente erudita e polêmica, ferina e generosa, que pode ser lida de trás para frente, de frente para trás, com os pés descalços no presente, com olhos no passado ou como projeto de uma história futura” (CEZAR, 2019, p. 12). Sendo essa uma boa descrição de como esses textos se entrelaçam e convidam seus leitores a mergulharem em polêmicas discussões sobre a história e o seu estatuto hoje. De fato, a escolha do estilo ensaístico na escrita desse livro é ousada, principalmente, pela liberdade que esse gênero possibilita para quem escreve. Estilo narrativo que foi preterido pela historiografia por muito tempo, em especial, no Brasil. Nesse caso, o ensaio é uma maneira interessante para se iniciar discussões, aprofundá-las, mas sem as amarras conclusivas que certos textos exigem, como os artigos.
Essa obra está dividida em três partes, a escrita da história, usos do passado e o ensino de história, que estão organizadas de maneira sistemática, a partir das temáticas discutidas nos ensaios, articulando-se em uma diversidade de discussões que se interligam em diferentes momentos. Causando uma sensação de fazerem parte de uma mesma narrativa, com início, meio e fim, mesmo que não tenham sido escritas em ordem cronológica, ou que não sejam lidas na ordem apresentada. Por outro lado, pela sua heterogeneidade, cada capítulo inicia uma discussão independente das outras e rica em si mesma. Na primeira parte, “A escrita da história”, inicia a discussão sobre o trabalho do historiador e o estatuto da história enquanto disciplina, problematizando sobre o lugar do arquivo e sobre a prática historiadora – da análise documental ao seu processo de escrita. Enquanto isso, em “Usos do passado”, propõe reflexões sobre passado, memória, patrimônio, comemorações, traumas e esquecimentos. Dessa maneira, possui um olhar criativo sobre esses conceitos tão caros a história, como também, conceitualiza-os, explicitando seus significados e usos, e propondo uma (re)apropriação deles. Na terceira parte do livro, “O ensino de história”, centraliza as discussões acerca da disciplina histórica e o ensino da história na Educação Básica. Demonstrando que além de um erudito e pesquisador, ele também é professor, defendendo a necessidade de um ensino de história que se reinvente dada a situação atual da educação escolar.
Dando início, no capítulo que dá nome ao livro, “O tecelão dos tempos: o historiador como artesão das temporalidades”, defende as razões para que o trabalho do profissional da história seja considerado como de um artesão, pois […]a história nasce como este trabalho artesanal, paciente, meticuloso, diuturno, solitário, infindável que se faz sobre os restos, sobre os rastros, sobre os monumentos que nos legaram os homens que nos antecederam que, como esfinges, pedem deciframento, solicitam compreensão e sentido (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 30).
As metáforas enriquecem o texto de maneira que o leitor pode compreender a atividade do historiador a partir da comparação com outros ofícios. Mas também, oferece ao profissional uma reflexão sobre a sua prática, principalmente, sobre a sua escrita que, muitas vezes, se vê enrijecida por um texto acadêmico sem vivacidade. Em certo momento, o autor compara o trabalho do historiador com o de um cozinheiro do tempo “aquele que traz para nossos lábios a possibilidade de experimentarmos, mesmo que diferencialmente, os sabores, saberes e odores de outras gentes, de outros lugares, de outras formas de vida social e cultural” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 32).
Em seguida, no capítulo “O passado, como falo?: o corpo sensível como um ausente na escrita da história”, ele faz uma defesa da colocação do corpo, do sensível, das dores, dos sofrimentos, dos afetos, dos sentimentos como lugares para a história. A partir dessa perspectiva, ele aponta para a necessidade de se discutir novas maneiras de expressar as sensibilidades na narrativa histórica, criando novas estratégias que possam expressar na própria pele do texto essa presença, ignorada e mutilada das narrativas acadêmicas. Um corpo que é erótico, que sente afetos, raiva, desejo, rompendo, dessa maneira, com o pudor que cerca a historiografia.
As sensibilidades é um dos temas mais recorrentes ao longo dos capítulos, sendo que em “A poética do arquivo: as múltiplas camadas semiológicas e temporais implicadas na prática da pesquisa histórica”, Durval Albuquerque Júnior critica os historiadores e sua técnica de análise, afirmando que na busca pela informação, o pesquisador pode até se emocionar, pode até ser profundamente afetado pelo contato com a materialidade, mas pouco o leva em conta na hora da sua análise. Essa repressão à dimensão artística da pesquisa histórica leva a dificuldade que os profissionais da história têm de perceber, de lidar, de incorporar, no momento da interpretação, os signos emitidos pela própria escrita do documento. Em suma, a natureza da linguagem é ignorada, seus efeitos e dimensões são apenas transformados em dados. Para o autor o “trabalho do historiador é semiológico, ou seja, constitui-se na decifração, leitura e atribuição de sentido para os signos que são emitidos por sua documentação” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 64). Sendo assim, é preciso enxergar no documento as camadas do tempo, suas marcas, sua historicidade, sua materialidade, significados e sentidos que perpassem não apenas o racional, mas também, o emocional, o artístico.
A questão da poética na escrita da história se destaca no capítulo “Raros e rotos, restos, rastros e rostos: os arquivos e documentos como condição de possibilidade do discurso historiográfico”, no qual Durval Albuquerque Júnior une dois campos diferentes que causam polêmicas entre os historiadores, a ficção e a escrita da história. Inspirado em uma pesquisa do biógrafo Guilherme de Castilho sobre o poeta Antônio Nobre, ele cria um conto fictício no qual personifica os documentos como personagens da história. Instigando o leitor a estar curioso sobre o destino das cartas e dos postais que esse poeta enviou para o também escritor Alberto de Oliveira. O mais interessante é como consegue articular questões teóricas e metodológicas da pesquisa histórica em uma narrativa ficcional, provocando o leitor e sensibilizando-o a imaginar as fontes e sua trajetória. Assim, a subversão do gênero que ele propõe ao construir um texto de história por meio da ficção é uma das inovações mais interessantes desse livro.
A discussão sobre história e ficção é polêmica, tendo sido abordada por uma vasta produção historiográfica. Nesse contexto, diferentes perspectivas acerca do estatuto da história enquanto uma “verdade” entram em conflito. Como é o caso emblemático do historiador Carlo Ginzburg com a historiografia considerada “pós-moderna”. No capítulo “O caçador de bruxas: Carlo Ginzburg e a análise historiográfica como inquisição e suspeição do outro”, Durval Albuquerque Júnior critica o posicionamento de Carlo Ginzburg em relação as suas discordâncias no meio acadêmico. Visto que, Ginzburg é considerado um dos maiores “inimigos” da historiografia “pós-moderna”, entrando em conflito com nomes como os de Michel Foucault e Hayden White. Sendo que, o historiador italiano chegava a transmitir, em certos momentos, xingamentos e ofensas contra aqueles de quem discordava. Durval Albuquerque Júnior critica o seu posicionamento e manifesta as razões pelas quais Carlo Ginzburg utiliza de um procedimento retórico estratégico do discurso inquisitorial e judiciário: a submissão da variedade de formas de pensar a um só conceito, em um só esquema explicativo, que simplifica, caricaturiza e estereotipa aquelas que são consideradas diferentes. Procedimento que o próprio Ginzburg criticou em seus trabalhos, como em Andarilhos do Bem (1988), O Queijo e os Vermes (1987), entre outros. É preciso reconhecer que a dita “historiografia pós-moderna” não se qualifica enquanto uma corrente de pensamento homogênea e coerente, na verdade, ela se apresenta mais como uma diversidade de perspectivas, métodos e teorias divergentes entre si que se aproximam menos pela uniformidade que pelo rompimento com a tradição moderna que marca a história. Para Durval Albuquerque Júnior, Ginzburg utilizava essa estratégia para reduzir em inimigo todos aqueles de quem discordava.
A seguir, as reflexões acerca do passado e da memória e de seus usos no presente ganham forma na segunda parte do livro. Como é o caso do oitavo capítulo, “As sombras brancas: trauma, esquecimento e usos do passado”, no qual o autor faz referência a literatura luso-africana e algumas reflexões proporcionadas pelas obras dos autores José Saramago, Eduardo Agualusa e José Gil em relação a memória, identidade e esquecimento. Com efeito, Durval Albuquerque Júnior discute sobre a questão do trauma na história portuguesa, que apesar de todo o processo de ser uma cidade histórica que constantemente exibe os símbolos e marcas do passado, ao mesmo tempo, ignora ou esquece dos traumas vivenciados, seja a experiência salazariana, como também, o processo de colonização exploratória nos países africanos, asiáticos e americano, como é o caso do Brasil. Para o autor, é função dos historiadores expor o sangue derramado e o “cheiro de carne calcinada” e clamar por justiça. Sendo assim, a história deve ser o trabalho com o trauma para que esse deixe de alimentar a paralisia e o branco psíquico e histórico, em referência a cegueira branca do livro Ensaio sobre a Cegueira (1995), de José Saramago.
Uma discussão semelhante se segue no nono capítulo, “A necessária presença do outro, mas qual outro?: reflexões acerca das relações entre história, memória e comemoração”, no qual Durval Albuquerque Júnior elabora acerca de como as comemorações e datas históricas são encaradas pela historiografia hoje, sobre as quais há um consenso de que precisam ser problematizadas, sendo as versões oficiais alvo de críticas que se transformaram em uma densa produção historiográfica. Ele conclui sobre a importância de “fazer da comemoração profanação e não culto, fazer da comemoração divertimento e não solenidade, fazer da comemoração momento de reinvenção do passado e não de cristalização e de estereotipização do que se passou” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 190). Seguindo essa perspectiva, no décimo capítulo, “Entregar (entregar-se ao) o passado de corpo e língua: reflexões em torno do ofício do historiador”, ele traz também para o debate a questão da “verdade” e do negacionismo histórico que tem sido uma ferramenta recorrente dos grupos de extrema direita no Brasil para desqualificar o conhecimento produzido pela história. Dessa maneira, recomenda maneiras para combatê-lo, como, por exemplo, através do uso da imaginação, da linguagem e da narrativa para emocionar, sensibilizar sobre os sofrimentos, corpos e tragédias ocorridas no passado, como é o caso do Holocausto e da Escravidão. Para o autor, esse é o meio mais eficaz para que as pessoas consigam ser afetadas pelo conhecimento histórico e possam aprender com ele.
Na terceira parte do livro, o foco da discussão foi o ensino de história. Assim, no capítulo “Regimes de historicidade: como se alimentar de narrativas temporais através do ensino de história”, o historiador paraibano estabeleceu um paralelo em termos de comparação entre regimes de historicidade e regimes alimentares. Levantando questionamentos sobre a qualidade do que os alunos estão sendo alimentados nas aulas de história e apontando para a necessidade de aulas mais atrativas, lúdicas, saborosas, sem, no entanto, perder a qualidade, a crítica e a historicidade. Nesse sentido, defende que os professores devem contar histórias que sejam realmente interessantes e que afetem, de fato, os alunos. Sendo responsabilidade dos docentes, ensiná-los a terem uma relação saudável com o tempo, com a diferença e com a alteridade. Nessa proposta de um ensino mais criativo, no décimo segundo capítulo, “Por um ensino que deforme: o futuro da prática docente no campo da história”, o autor provoca o leitor/professor a desconstruir sua visão de escola e da atividade docente, proporcionando uma prática que realmente revolucione. Ele discute sobre o estatuto da escola atualmente e sua “crise” enquanto instituição formadora. Um ensino que deforme é aquele que “investe na desconstrução do próprio ensino escolarizado, rotinizado, massificado, disciplinado, sem criatividade, monótono” (ALBUQUERQUE, 2019, p. 240).
No último capítulo, “De lagarta a borboleta: possíveis contribuições do pensamento de Michel Foucault para a pesquisa no campo do ensino da história”, tece críticas acerca do uso da obra de Michel Foucault na área da educação que se centralizam apenas na escola como instituição disciplinar e que não exploram outros olhares sobre a suas obras. Dessa maneira, ele lista uma série de recomendações para os pesquisadores na área de ensino de história para explorarem a obra de Michel Foucault de outra maneira, uma pesquisa que não repita o que já foi dito, mas que seja inventiva, ousada, evitando assim, certo dogmatismo.
Durval Albuquerque Júnior é um crítico da historiografia e tem uma extensa carreira. Em O Tecelão dos Tempos, ele reúne quatorze ensaios escritos ao longo dos anos, o que explica a variedade de discussões. Esse é um livro instigante que considero a melhor produção desse historiador até o momento. Ele possui uma escrita fluída, clara e objetiva, sendo uma preocupação recorrente a explicitação sobre o significado de conceitos e ideias discutidas, para assim evitar mal-entendidos. Esse livro deveria ser lido acompanhado de outra obra desse autor, História: a arte de inventar o passado, publicada em 2007, no qual ele faz outras duras críticas a produção histórica. Obra polêmica que causou desconforto por parte dos pares acadêmicos, questão tocada por ele na introdução.
Uma das marcas da sua escrita é a presença de inúmeros referenciais teóricos, citados e retomados em diversos momentos do texto. Pela clareza do texto, é uma obra tanto para os mais experientes em teoria da história, como também para os iniciantes. Pelo fato de serem ensaios, as discussões não se encerram nos capítulos, sendo interessante para o leitor procurar as obras citadas ao longo do texto e aprofundar esses assuntos individualmente. Assim, esse exercício contribui para a melhor compreensão dos assuntos abordados e para a visão de outras perspectivas.
De fato, o historiador é como um tecelão, que tece as tramas do tempo, compondo um tecido que, nesse caso, é a narrativa histórica. Sendo também, inclusive, cozinheiro, responsável por produzir sabores, delícias e dissabores no tempo. Portanto, fica a recomendação dessa obra tão rica de discussões pertinentes aos amantes da história e que também se dedicam a produzi-la. Durval Albuquerque Júnior além de historiador, é um poeta, que apesar de não escrever poesias, escreve uma história poética, sensível, afetiva, que emociona e nos faz relembrar dos prazeres de se produzir história.
Referências
ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz de. História: a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da História. Bauru: Edusc, 2007.
ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz de. O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História. São Paulo: Intermeios, 2019.
CEZAR, Temístocles. Prefácio. In: ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz. O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História. São Paulo: Intermeios, 2019, p. 09-12.
GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
GINZBURG, Carlo. Os Andarilhos do Bem: feitiçarias e cultos agrários nos séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
Vitória Diniz de Souza – Graduação em História pela UEPB, Guarabira-PB, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação UFRN, Natal-RN. Bolsista de Mestrado do CNPq. E-mail: vitoria4218@gmail.com.
[IF]A feira dos mitos: a fabricação do folclore e da cultura popular (nordeste 1920 – 1950) / Durval M. Albuquerque Jr.
Podemos considerar Luiz Gonzaga como um dos muitos inventores do Nordeste, demonstrado em suas canções como lugar de tradições, do homem sertanejo sofredor em sua peleja cotidiana, enfrentando a seca, labutando na roça, lutando contra as agouras da vida. Esse mesmo sertanejo que se diverte e se encontra nos espaços das feiras nordestinas, um dos principais lugares de sociabilidade do homem nordestino, do comércio, da compra e venda “de tudo que há no mundo” e que “nela tem pra vender”.
Essa imagem caricata do Nordeste e do homem nordestino é refletida no último livro do historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior, A feira dos mitos: a fabricação do folclore e da cultura popular (Nordeste 1920 – 1930)3, vencedor do concurso Silvio Romero 2012 IPHAN/Conselho Nacional do Folclore e Cultura Popular.4 Atualmente, o autor é colaborador da Universidade Federal de Pernambuco e professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Ao contrário do que se vê, se diz e se mostra, o autor propõe novas chaves de leituras e pesquisa sobre o Nordeste, espaço construído e delimitado já discutidos em outras obras.5 Como um lugar inventado a partir de um discurso que se repete hoje nos diversos meios de comunicação ao retratar, por exemplo, o Festival de Quadrilhas Juninas do Nordeste, ou Festival de Quadrilhas Juninas da Rede Globo Nordeste, ou ainda o Nordestão de Quadrilha, só para citar alguns casos, em que se representa a cultura legitimada por um discurso fabricador da imagem nordestina.
Em imagens, signos, são mitos de um lugar fabricado a partir do discurso de agentes que assumiram um posicionamento referente ao seu espaço regional. Conforme o estudo de Durval Muniz, que também teve motivos iniciais a partir de sua própria trajetória biográfica, ao trabalhar durante a adolescência em uma feira na cidade de Campina Grande no estado da Paraíba, e como homenagem a sua terra natal, por intermédio das reminiscências do espaço da feira como lócus privilegiado das muitas formas e significados elaborados sobre a cultura nordestina. A feira “da balburdia, do falario […] do aglomerado de pessoas, pela multiplicidade de vozes […] do mercado dos mais disparatados artefatos para serem consumidos” (p. 24) como cantado pelo rei do baião, Luiz Gonzaga.
Munido de um vasto referencial teórico,6 as questões sobre a fabricação do folclore e da cultura no nordeste, em um recorte temporal que não se restringe apenas as décadas de 1920 a 1950, mas que margeiam por temporalidades anteriores, num processo que se construiu desde o final do século XIX, época da crise dos setores agrários e a quebra do sistema escravista para o regime de trabalho livre no Brasil. Essa será umas das teses propostas por Albuquerque que pensa as manifestações folclóricas, os conceitos de cultura não como algo dado, mas como algo construído, desta forma, critica amplamente a historiografia que aborda o folclore e a cultura popular que “tende-se a confundir o conceito e a coisa, o conceito e a materialidade, o conceito e a empiricidade, o conceito e a forma” (p. 27).
Para Durval é necessário perceber a diferença entre conceitos e formas para se proceder a análise da operação discursiva que articula um e outro. Deste modo recorre aos estudos de Derrida (Pensar a desconstrução) e Foucault (Arqueologia do saber) para questionar a ingenuidade dos historiadores que faz com que normalmente confundam as empiricidades com os conceitos que as significam.
O livro é dividido em seis capítulos. No primeiro, “condições históricas de emergência”, o autor faz um inventário do processo de constituição cultural nordestina, como um novo objeto que será construído a partir de práticas e discursos, sejam eles da elite ou dos segmentos das camadas tidas como populares.
Ao delimitar o final do século XIX e início do XX como marco de profundas mudanças sociais no Brasil, surge nesse momento os primeiros usos da noção de cultura nordestina. Com o surgimento da sociedade burguesa e todas as distinções dos modos de vida que esta proporcionou, apresentando novos padrões de comportamento, nasce então uma “nostalgia pelo retorno a essa ordem social, vista como menos violenta, como mais harmônica e mais justa, e será partilhada por setores das camadas populares e das elites letradas, o que contribui para o encontro entre eles e com esse encontro a emergência da ideia de folclore ou de cultura popular” (p. 44).
As relações entre o regional e o nacional a partir da cultura legitimam-se quando o Estado Nacional assume com políticas econômicas as manifestações identitárias de cada região, sobretudo, se tomarmos como exemplo a partir do Estado Novo na década de 1930 e a criação de órgãos de proteção do patrimônio nacional.
No segundo capítulo aborda os mitos de origem da cultura nordestina interligada à construção da ideia de cultura brasileira quando se pensou um projeto de constituição da nação. Para o mito de origem do folclore ou da cultura nordestinos, e ao que parece o autor não faz distinção dos conceitos, toma como base a produção de folcloristas regionais. Uma bibliografia que aponta as primeiras obras que trataram da cultura nordestina ainda no século XIX, como as de Juvenal Galeno, Couto de Magalhães e Celso de Magalhães.
Os mitos de origem para os estudos de folclore e cultura popular estiveram atrelados a duas tradições influenciadoras nos estudos de folclore nordestino. Uma de inspiração romântica que, segundo o autor, estabeleceu a relação entre a cultura nacional e cultura popular, dando origem ao conceito de povo. No Brasil, Durval Muniz aponta o folclorista Juvenal Galeno como um dos precursores ao fazer uma genealogia dos estudos em torno da cultura nordestina. A segunda tem como representante Silvio Romero, de características positivista e evolucionista. Tais paradigmas tiveram grande recepção ao longo da produção folclórica no Brasil, tendo sido esses intelectuais os primeiros a fazerem uma releitura da bibliografia internacional, adaptando-as às pesquisas locais sobre a cultura do povo.
Tais tradições foram marcantes ao produzirem constante material para a elaboração da noção de cultura nordestina. A temática será retomada e explorada nos capítulos 04 e 05 quando o autor faz um levantamento dos dados biográficos dos produtores dessas obras e as fontes utilizadas como legítimas para a fabricação do folclore.
Os Acontecimentos no capítulo três referem-se aos casos e acasos dos primeiros autores que empregaram a denominação “Nordeste”, “Nordestino”. É importante destacar que o livro de Durval Muniz insere-se no contexto de análise da cultura escrita, por isso, não foge de suas interpretações do processo de fabricação da cultura nordestina, os procedimentos que, através da literatura regional, definiriam temáticas desta cultura.
É no processo de construção das obras e seus usos que o autor se debruça ao analisar os contextos de produção do livro do folclorista Leonardo Mota, publicado em 1921, com o subtítulo “poesia e linguagem do sertão cearense” e que em edição posterior a obra é apresentada como “poesia e linguagem do sertão nordestino”. Enquanto análise histórica, é preciso reconstruir as variações que diferenciam os espaços legíveis, ou seja, as formas discursivas e materiais, as leituras compreendidas como práticas concretas e como procedimento de interpretação7.
Ao tomar como análise a produção da obra de Leonardo Mota, Durval demonstra as variações que implicaram na ideia de nordeste incorporada nas obras dos folcloristas. A mudança do subtítulo deu-se, segundo Albuquerque, após encontros e debates que se firmaram em torno do Centro Regionalista do Nordeste criado no Recife durante a década de 1920 e que passou a disseminar essas questões. Outro autor é Gustavo Barroso e também o sergipano João Ribeiro que adota em livro publicado a denominação “Norte” para se referir ao que seria o espaço da região como um todo e, explicitamente, refira-se a “Nordeste” para designar a área de ocorrência das secas (p. 106).
Deste modo, percebemos o folclore em seu momento de fabricação, como algo inventado pelo próprio folclorista, num processo de (re) invenção, de criação (p.115). Ao citar diversos acontecimentos que dão conta da fabricação do folclore enquanto elemento constituinte de uma cultura nordestina, demonstrada a partir de autores regionalistas, onde definem seu lócus de atuação no espaço nordestino, para Durval Muniz, é “entre os anos 20 e 30 do século passado, que a emergência da ideia da existência de um folclore nordestino, de uma cultura nordestina, se afirma paulatinamente, até se tornar uma verdade inquestionável, um fato do qual ninguém mais escapa” (p. 117). O autor, assim, demonstra “genealogias de atitudes, práticas, ditos e escritos que vão paulatinamente dando forma a este novo objeto para o saber que é: o folclore nordestino, a cultura do Nordeste, mais tarde nomeados de cultura popular nordestina” (p. 117).
No capítulo 4, Os inventores, é lançado um ensaio de prosopografia dos letrados que adotaram os conceitos de folclore e de Nordeste. A prosopografia, segundo Giovanni Levi, ocorre nos casos em que as biografias individuais “ilustram os comportamentos ou as aparências ligadas às condições sociais estatisticamente mais frequentes”.8 Nesse capítulo, podemos perceber os laços de cooperação entre os folcloristas que adotaram a noção de folclore nordestino, ao passo em que fora analisado de modo geral “as atitudes e trajetórias individuais que terminam por configurar uma ação coletiva” (p.120).
O autor contextualiza com base nos estudos foucaultianos dos “pontos de cruzamento […] das redes de relações pessoais, sociais, culturais, políticas e intelectuais” (p. 121), ao buscar nos traços ou dados biográficos uma imagem de conjunto dos folcloristas responsáveis pela fabricação do folclore e cultura nordestinos.
A discussão inicialmente toma como base os quatro autores considerados pioneiros quanto ao tema do folclore do Nordeste: Gustavo Barroso, Leonardo Mota, José Rodrigues de Carvalho e Luís da Câmara Cascudo, buscando traçar um “perfil de conjunto”. Em seguida, confronta com os traços biográficos dos intelectuais que viveram anteriormente a estes citados, interessados pelo popular, que foram posteriormente por eles utilizados e citados como os precursores dos estudos do folclore nordestino, sendo eles Juvenal Galeno, Celso de Magalhães, Silvio Romero e Pereira da Costa. Por último, traça os dados daqueles que deram continuidade ao trabalho, reafirmando e reatualizando o conceito de cultura nordestina, como Ademar Vidal, Théo Brandão, Veríssimo de Melo e Mário Souto Maio, contemporâneos no século XX.
Os inventores da cultura nordestina, os chamados pioneiros têm em comum suas trajetórias o pertencimento às elites sociais e políticas de seus Estados, articulados por vínculos de parentesco e/ou compadrio com as oligarquias dominantes nestes espaços, demonstrando logo em seguida o perfil dos intelectuais inspiradores desse grupo, elementos de contato e de continuidade, seja pela formação seja pelo pertencimento do mesmo grupo social, político e cultural.
Já aqueles que se interessaram pelas formas e matérias de expressão das camadas populares e serviram de inspiração para os pioneiros, Juvenal Galeno, Celso de Magalhães, Silvio Romero e Pereira da Costa, têm como ponto comum o pertencimento à elite agrária decadente, onde em seus perfis elitistas demonstram um interesse inicialmente pelo estudo do popular. O autor coloca que os discípulos ou seguidores dos pioneiros foram os responsáveis por ampliarem, reafirmarem e darem legitimidade ao folclore nordestino, são eles: Ademar Vidal, Théo Brandão, Veríssimo de Melo e Mário Souto Maior. Estes acabaram por assumir a tarefa de elaborar o que seria o folclore e a cultura popular de seus Estados, “ao mesmo tempo em que vão inseri-los no interior da identidade regional nordestina […] estes folcloristas assumirão a tarefa de incorporar o folclore de sua terra natal no interior do que seria a cultura regional ou nacional”. Esse era o contexto de produção do folclore, ao passo que instituições foram criadas com parâmetros de nacionalização de uma cultura integradora9.
Durval Muniz a partir dessa prosopografia busca visualizar o lugar social de produção do discurso acerca da cultura nordestina. O autor ao selecionar os folcloristas limita a fabricação do folclore e da cultura popular nordestina aos espaços de sociabilidades desses intelectuais, particularizando em seus estados, como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas. Talvez isso se justifique pelo acesso às fontes produzidas por eles, em grande parte produtores de uma vasta obra sobre a cultura popular. Apesar disso, o estudo abre possibilidades de se ampliar as discussões com base em novas pesquisas sobre os estados não contemplados ao longo do livro.
No sexto e último capítulo, o autor discorre sobre as trajetórias de alguns agentes populares que contribuíram também para a emergência do que seria a cultura nordestina. Ao visitar essas trajetórias, como a de Leandro Gomes de Barros, considerado o primeiro cordelista nordestino e o primeiro produtor de folhetos a viver do seu ofício, e a de João Martins de Athayde, outro ícone da poesia popular, ao montar uma tipografia e imprimir seus próprios versos, o autor considera-os parte de uma importante “indústria de folhetos”, resultante do processo de mudança capitalista emergente na sociedade do final do século XIX e início do XX, onde aproveitaram as oportunidades mercantis da cultura, para sua subsistência. A prática desses homens, que não faziam parte da elite decadente, demonstra, segundo o autor, como sendo “atividades que criam o novo, utilizando-se de e remanejando um arquivo de matérias e formas de expressão que conhecem e que está à disposição desses agentes culturais, a partir do aproveitamento das condições novas oferecidas pela sociedade urbana de mercado” (p. 201).
Deste modo, são ressignificados a própria noção de “popular” e “povo” que, para Albuquerque, acaba se tornando complexa quando se leva em conta somente o público para o qual eram dirigidos os folhetos ou cordéis, seus preços, temas, mas ao adotar, por exemplo, a condição ou origem social de seus produtores e/ou editores, “a noção de popular já não será tão adequado” (p. 217). Para o autor, isso é um reflexo da emergência de uma classe média baixa “fruto do declínio de setores das antigas elites rurais ou da ascensão de dados indivíduos das camadas populares […] nomeadas de tradicionais, folclóricas […] que gozarão de maior espaço de ação […] onde suas habilidades estarão voltadas para o sustento (p. 218), como é o caso de Leandro Gomes de Barros, João Martins de Athayde e tantos outros de que não se tem um estudo específico.
Por fim, ao concluir um trabalho que deixa em aberto várias chaves de leitura e pesquisa, o autor lança uma crítica ferrenha aos estudiosos da cultura popular, sejam eles acadêmicos ou os próprios folcloristas. Durval Muniz critica o que ele chama de “síndrome de resgate” existente nos estudos de cultura popular ou organizações de grupos e manifestações classificadas como folclóricas, onde imperam a noção de resgatar das tradições, sem ao menos se fazer a crítica à volta ao passado através de manifestações populares no presente, tidas e entendidas por aquele como seriam praticadas anteriormente. A prática dessas manifestações no presente, tomada como a possibilidade de retorno do tempo, para Durval Muniz, é o principal mito com que opera essa síndrome.
Embora a crítica deste estudo esteja voltada às interpretações que se fazem do folclore e da cultura popular nordestina, o autor as reconhece como importante, pois permite a reflexão de todo o processo de fabricação da cultura, das práticas e operações as quais dão origem e significados e, consequentemente, implicam diversas formas de seu uso. Como último exemplo, podemos retornar ao rei do baião, como um de muitos que ao longo do século XX tornou-se um propagandeador da cultura nordestina fabricada pelos pioneiros e seguidores apontados ao longo da Feira dos mitos. Um livro indicado para os estudos sobre cultura escrita, sobretudo, do ponto de vista teórico-metodológica, onde o autor refaz os caminhos da pesquisa e seus métodos de análise, é fundamental para repensarmos os conceitos em torno do Nordeste. De maneira impactante, põem em questão estereótipos, “verdades” construídas.
Notas
- ALMEIDA, Onildo. A Feira de Caruaru In: Luiz Gonzaga. LP, 1957.
- ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A feira dos mitos: a fabricação do folclore e da cultura popular (nordeste 1920 – 1950). São Paulo: Intermeios, 2013, 246 p.
- O Concurso instituído no ano de 1959 foi idealizado com o propósito de estimular a produção de conhecimento científico sobre os diversos temas do folclore e da cultura popular. Lançado anualmente por edital confere ao primeiro e segundo colocados prêmios pagos em dinheiro, prevendo-se, ainda, até três menções honrosas, selecionadas por comissão de especialistas indicados pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Disponível em: < http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=52> Acesso em: 29 junh. 2014.
- ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Falas de astúcia e de angústia: a seca no imaginário nordestino – de problema à solução (1877 – 1920). Campinas: Unicamp, 1988 (Dissertação de Mestrado em História); A invenção do Nordeste e outras artes. 5 ed. São Paulo: Cortez; Recife: Massangana, 2011.
- Jaques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Michel de Certeau, Reinhart Koselleck e outros.
- CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII. Brasília: Editora UNB, 1994.
- LEVI, Giovanni. Usos da Biografia. In: FERREIRA, Marieta de Morais; AMADO, Janaína (Orgs.). Usos e abusos da História oral. 8 ed. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2006, p. 168-169.
- Para mais detalhes sobre o processo de institucionalização dos folcloristas, cf. ORTIZ, Renato. Cultura Popular: Românticos e Folcloristas. Editora Olho d’água, S.D; VILHENA, Luís Rodolfo. Projeto e Missão: o movimento folclórico brasileiro (1947–1964). Rio de Janeiro: FUNARTE: Fundação Getúlio Vargas, 1997.
Valério Rosa de Negreiros – Mestrando em História Social. Universidade Federal Fluminense (UFF). Niterói. Rio de Janeiro. Brasil. valerionegreiros@yahoo.com.br.
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A feira dos mitos: a fabricação do folclore e da cultura popular (nordeste 1920 – 1950). São Paulo: Intermeios, 2013, 246 p. Resenha de: NEGREIROS, Valério Rosa de. Outros Tempos, São Luís, v.11, n.18, p.318-324, 2014. Acessar publicação original. [IF].
A invenção do Nordeste e outras artes – ALBUQUERQUE JÚNIOR (RTF)
ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 4 ed. Recife: FJN; Ed. Massangana; São Paulo: Cortez, 2009. 340 p. Resenha de: MARTINELLO, André Souza. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 5, n. 1, jul-dez., 2011.
“O Nordeste, assim como o Brasil, não são recortes naturais, políticos ou econômicos apenas, mas, principalmente, construções imagético-discursivas, constelações de sentido.” Durval Muniz de Albuquerque Jr. (1999, p.307).
No ano de 2009 tivemos uma década da publicação da tese de doutoramento em História, defendida por Durval Muniz de Albuquerque Junior na Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP. Torna-se oportuno trazer novamente ao debate algumas abordagens e temáticas lançadas pelo autor, na obra intitulada: “A Invenção do Nordeste e outras artes”. Como registra a primeira edição do livro, o historiador recebeu com essa pesquisa, no concurso promovido pela Fundação Joaquim Nabuco, a classificação de melhor trabalho de História no Concurso Nelson Chaves de Teses sobre o Norte e Nordeste brasileiro, no ano de 1996. Nesses últimos dez anos, desde a publicação da premiada pesquisa, Durval tem se tornado autor cada vez mais conhecido e se destacado no campo da historiografia brasileira e das ciências humanas de maneira geral; entre suas obras mais recentes, uma aborda a pesquisa, a escrita e as teorias da História, “História: arte de inventar o passado”, publicado pela Edusc (em 2007)1 e um livro da série “Preconceitos” da Cortez editora: “O preconceito contra a origem geográfica e de lugar.” (2007)2 De maneira geral, pode-se dizer que Durval tem-se preocupado com temas que envolvam o pensamento e a utilização das reflexões de Michel Foucault, por vezes relacionada à escrita da História, e também outra temática de seus textos está no que poderia ser denominado de História dos Espaços. Além de fazer parte do corpo docente do Departamento de um Programa de Pós-Graduação concentrado na abordagem “História e Espaço” na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Durval vem realizando pesquisas e publicando trabalhos articulando literatura, (crítica à) identidade regional, discursos constitutivos de espaços, regionalismos e vínculos territoriais, como fez, por exemplo, no Encontro Nacional de História-ANPUH realizado em 2007, na conferência intitulada: “O Tempo, o Vento e o Evento: história, espaços e deslocamentos nas narrativas de formação do território brasileiro”.3 Leitor assíduo (e conhecedor) da literatura brasileira, em “A invenção do Nordeste”, Durval se lança a compreensão de como ao longo do tempo, obras e diferentes autores, de épocas e escolas diversas, descreveram o Nordeste brasileiro e inscreveram essa região no país. Mas a literatura que Durval se utiliza como fonte, não é apenas aquela entendida como “ficcional”, como romances ou novelas, mas inclui textos (sociológicos) de Gilberto Freyre, por exemplo. Quais formas, nomeações e descrições constituíram o Nordeste brasileiro? Passando por João Cabral de Melo Neto, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Guimarães Rosa, Rachel de Quiroz; e “outras artes”, subtítulo do livro, também são utilizadas por Durval, com intenção de apontar em um conjunto diverso de massa documental como se identificaram determinadas representações no e do nordeste, seja literatura ou não. Luiz Gonzaga, Candido Portinari, Glauber Rocha, Di Cavalcanti, Dorival Caymmi, José Lins do Rego, Josué de Castro, Luis da Camara Cascudo e Euclides da Cunha.
O que há em comum nesse conjunto tão variado de personagens descritos nesse livro está justamente, na forma peculiar com que cada um realizou suas obras, de maneira a constituir (e inventar) a nordestinização de uma parte do Brasil, como um espaço Outro em relação ao centro-sul, centro-oeste ou norte do país: p.311) “[…] o Nordeste quase sempre não é o Nordeste tal como ele é, mas é o Nordeste tal como foi nordestinizado.” A idéia principal presente no livro, parece apontar a constituição do nordeste enquanto espaço da negação, o Outro do sul maravilha que se construía em alteridade e paralelo, cada vez colocado mais distante do sul. É como se ao longo do tempo tivesse ocorrido um constante e profundo afastamento das regiões nordeste e sul, afastamento que foi se constituindo por diversos olhares, interpretações e sentidos.
Vários apelos e constatações de artistas, escritores, nordestinos e intelectuais do país, formaram uma geografia do nordeste; justifica Durval da sua opção em abordar algumas fontes por ele eleita como vozes privilegiadas e edificadoras de determinados espaços e características como sendo nordestinas. A busca por uma distinção por parte do sul, em relação ao nordeste, também contribuiu na invenção desse último. p.307) “O Nordeste, na verdade, está em toda parte desta região, do país, e em lugar nenhum, porque ele é uma cristalização de estereótipos que são subjetivados como característicos do ser nordestino e do Nordeste.” Linguagens constituíram uma forma espacial de sentidos e de uma comunidade imaginada, (p.23) as diversas formas de comunicação, cinema, literatura, teatro, pintura, música, produção acadêmica, poesia são exemplos de linguagens que não apenas representam o real, como instituem o mesmo. Enquanto alguns propuseram fórmulas de alterações das realidades sócio-ambientais nordestinas, para resgatá-las de certa condição de atraso ou subdesenvolvimento, outros cantavam a tristeza da seca e suas conseqüências, como a partida dessa região sofrida. Para quem emigrou, o nordeste torna-se um espaço da saudade, com embalo de muitas melodias, poesias, danças e tradições inventadas para o constantemente lembrar o que é ser nordestino.
Poesias tratavam de registrar a sensação de ter de migrar forçosamente em direção a outros espaços, o exterior, o longínquo, o fora dali; já no cinema e na pintura, pensava-se estar documentando a realidade das condições de retirantes, da natureza agreste, tórrida e cada vez mais inabitável ou desumana. Todos, diz o autor, construíram argumentação que levou a nordestinização de um espaço que está pretensamente localizado ao nordeste de um Outro. Se há uma referência como sendo a central, torna-se assim viável a visualização de um nordeste. Ou seja, a constituição, ao longo de mais de duzentos anos, do nordeste e dos nordestinos (o espaço como gente), foram vistos e caracterizados como um problema: (p.20) “O que podemos encontrar de comum entre todos os discursos, vozes e imagens […] é a estratégia da estereotipização.” As artes que mapearam ou apresentavam o nordeste como temática, tornaramse monumentos que atuaram na constante alimentação de imagens que nos chegam até aos nossos dias, como tradutoras e representantes do nordeste e de uma identidade de nordestino, seja ela física (corporal), lingüística (sotaque, expressões), econômica, moral e social. Há um conjunto variado de categorias e formas, nas quais se tornam possíveis encontrar e apontar características de nordestinos e do espaço desse povo, e isso pode ser observado nos diferentes produtores de sentidos que Durval traz em cena para falar dessa região ou criá-la como uma região, no sentido de ser homogênea, ter uma mesma identidade, uma mesma história e expressar uma única cultura, por isso, é que o autor afirma que se trata de uma invenção, entre outras, pela criação de uma imagem homogênea de uma parte do Brasil.
Não devemos esquecer também que anteriormente a essa obra de Durval, a doutora em Ciência Política, Iná Elias de Castro, havia apontado, analisando, entre outras documentações, discursos de políticos eleitos e representantes de Estados do nordeste no Congresso Nacional, entre 1946 e 1985, o processo de construção e cristalização do Nordeste como em posição de constante necessidade, frente às demais regiões do país. Inclusive, muitas das críticas e questões levantadas por Durval, já haviam sido lançadas por Iná de Castro em 1992 na obra “O Mito da Necessidade.
Discursos e práticas do regionalismo nordestino”,4 o que sugere possíveis (e quem sabe, interessantes) possibilidades de comparação entre a tese defendida na História por Durval e na Ciência Política por Iná. É claro que utilizando fontes e documentação diferentes, por si própria, já nos sugerem resultados não propriamente semelhantes, somado a isso à perspectiva disciplinares e o referencial teórico diferente mobilizado por ambos. Iná também buscou dialogar com aspectos e obras sobre regionalismos, e Durval deixa claro que sua intenção está mais por se afastar dessa temática e aproximar sua análise a instituições e construções de identidades. É claro que ainda há outras possibilidades de comparação, utilização e iniciação do debate das críticas presentes sobre interpretações do nordeste brasileiro. Principalmente quando se publica recentemente, novas re-edições do livro “A Invenção do Nordeste”.
1 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. História: a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história. Bauru (SP): Edusc, 2007.
2 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. Preconceito contra a origem geográfica e de lugar: as fronteiras da discórdia. São Paulo: Cortez, 2007.
3 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. “O Tempo, o Vento e o Evento: história, espaços e deslocamentos nas narrativas de formação do território brasileiro”. Conferência realizada XXIV Simpósio Nacional de História – ANPUH, História e Multidisciplinariedade: territórios e deslocamentos, julho 2007. Disponível em http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/docentes/durval/artigos/otempo ovento o evento.pdf.
André Souza Martinello – Universidade Federal de Santa Catarina.
Nos destinos de fronteira: história, espaços e identidade regional – ALBUQUERQUE JR (HH)
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Nos destinos de fronteira: história, espaços e identidade regional. Recife: Bagaço, 2008, 514 p. Resenha de: VIDAL e SOUZA, Candice. O Nordeste: algumas narrativas de lugares, gentes e modos de vida. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 6, p.228-233, março 2011.
Para os analistas dos discursos sobre a nação (historiadores, antropólogos ou sociólogos), a primeira tarefa é compreender sobre que lugares e formas sociais o autor do texto ou imagem sobre o Brasil ou alguma de suas partes está se referindo. As fronteiras internas da nação, sua caracterização geográfica e sociológica, sua explicação histórica, são marcadas exemplarmente nos textos do pensamento social brasileiro ou na vasta literatura referida a locais de fato existentes Brasil afora (LIMA 1999; VIDAL E SOUZA 1997; IBGE 2009; SENA 2003; COSTA 2003).
O historiador Durval Muniz de Albuquerque Jr., há muito tempo, explora a invenção discursiva da região Nordeste, procurando capturar os cenários históricos e os modos de apresentação das vozes dos políticos, dos literatos, dos historiadores e dos estudiosos da cultura popular (cf. ALBUQUERQUE JR.
1988 e 2001). A coletânea em questão reúne ensaios que incidem sobre a mesma temática das formas e processos de construção das “dizibilidades e visibilidades” do Nordeste. O ponto de partida interpretativo mantém-se em torno de Michel Foucault, o qual formula os objetos e o léxico empregado na análise de falas e de imagens presentes em romances, biografias, ensaios e fotografias. Certamente, a demarcação coerente do campo de análise e das referências de apoio bibliográfico é uma qualidade constante nos ensaios. Além disso, como se pretende enfatizar posteriormente, essa fixidez impede que outras perspectivas contemporâneas sobre as narrativas das identidades nacionais ou regionais sejam incorporadas e submetidas ao debate acerca dos “poderes e saberes”. Do mesmo modo, a insistência sobre a especificidade da construção da região Nordeste afasta o autor da comparação com as formas de narrar outras regiões brasileiras, exercício fundamental para a compreensão dos mecanismos de invenção das fronteiras intranacionais e dos significados em torno da produção de alteridades/outridades.
Os vinte e dois ensaios que compõem a coletânea são distribuídos em três partes: “História e Espaços”, “História e Identidade Regional”, “História, Espaço e Gênero”. As abordagens apresentadas, em cada um deles, são diversas quanto à temática específica (o espaço como objeto da história, a visão tropicalista do Nordeste, a história regional, o Nordeste de Câmara Cascudo e Gilberto Freyre, os romances de José Lins do Rêgo e a representação da mudança, as imagens de gênero formuladas nos textos etc.), mas são reiterativas quanto ao ponto de vista interpretativo. Como os ensaios apresentam graus variados de elaboração das discussões, faltam as indicações sobre a data da primeira publicação, sobre o formato da primeira versão, como parâmetro para compreensão da “temporalidade” do pensamento do autor.
Sustenta-se que a articulação dos ensaios está ligada às seguintes ideias, apresentadas por Durval Muniz de Albuquerque Jr.: Existe uma realidade múltipla de vidas, histórias, práticas e costumes no que hoje chamamos Nordeste. É o apagamento desta multiplicidade, no entanto, que permitiu se pensar esta unidade imagético-discursiva. Por isso, o que me interessa aqui não é este Nordeste “real”, ou questionar a correspondência entre representação e realidade, mas sim, a produção desta constelação de regularidades práticas e discursivas que institui, faz ver e possibilita dizer esta região até hoje. Na produção discursiva sobre o Nordeste, este é menos um lugar que um topos, um conjunto de referências, uma coleção de características, um arquivo de imagens e textos (ALBUQUERQUE JR. 2008, p. 129, grifos do autor).
A gênese da nomeação da região, genericamente chamada de Norte, até as primeiras décadas do século XX, é acompanhada pelo autor em diversos eventos, falas e textos. Nessa demarcação do Nordeste, intelectuais como Gilberto Freyre, Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira, Ariano Suassuna, José Lins do Rêgo e outros tantos são considerados como caracterizadores do Nordeste em seus aspectos históricos, sociais, culturais e geográficos. É notável que apenas seis estados sejam tomados como o núcleo da identidade nordestina (Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe), tal como nomeia a convocação de Joaquim Inojosa no Congresso Regionalista do Recife, realizado em 1926 (ALBUQUERQUE JR. 2008, p. 140). Percebe-se que em Pernambuco a centralidade simbólica de sua capital (no sentido de SHILS 1992) e da sua civilização, em torno do engenho, serão o cenário modelar dessa configuração geo-simbólica, em torno do qual gravitam as representações sobre o sertão da seca, do banditismo, do messianismo e da religiosidade popular.
O material analisado pelo autor narra sobre os aspectos históricos, os costumes e as paisagens desses estados. Mesmo que ele mencione visões alternativas de outros intelectuais sobre a região, como, por exemplo, Djacir Menezes em seu livro “O Outro Nordeste” (1937), a produção ensaística ou literária dedicada a falar do Nordeste através das sub-regiões excluídas nas narrativas mestras ou situada nos estados excluídos na definição do centro da identidade nordestina não é pesquisada ou explorada pelo autor. Se a intenção é elaborar uma crítica das formas de representação do Nordeste, as fontes empíricas da análise deveriam incluir o discurso das margens da região, representativo de outras visões dos intelectuais sobre o seu lugar. Desse modo, o historiador crítico não escapa das fronteiras impostas pelo campo intelectual que ele pretende pôr em revista.
Quando analisa os textos de Câmara Cascudo sobre o Rio Grande do Norte e seu sertão, Durval Muniz oferece pistas sobre essas possibilidades de investigação da heterogeneidade das representações acerca do Nordeste quando observa: Chamou-nos a atenção como, em muitos de seus textos, Cascudo vai fazer esta aproximação entre a história do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte e como vai procurar diferenciá-las da história de Pernambuco. […] Na base desta definição poderia estar a vinculação de Cascudo a um lugar de fala distinto daquele de onde foi enunciado inicialmente o discurso regionalista nordestino e de onde foi inventado o Nordeste. […] Se o Nordeste, elaborado pelas elites pernambucanas, teve São Paulo como o espaço outro, o espaço do qual se diferenciar, o Nordeste das elites cearenses, das elites norte-rio-grandenses e das elites paraibanas, talvez em menor grau, deveria se diferenciar do Nordeste elaborado pelas elites pernambucanas […] (ALBUQUERQUE JR. 2008, p.190).
Possivelmente, a incorporação das discussões sobre identidades nacionais e narrativas que se engloba, hoje, sob a denominação de estudos pós-coloniais e subalternos permitiria escapar e ir além da desconstrução foucaultiana das representações regionalistas. Ainda que seja válido compreender a solidificação de modos de falar e de ver um povo e um lugar e a sua clara vivacidade e plasticidade no presente, a consciência das relações de exclusão e subalternização no interior das representações do Nordeste só pode contribuir para o confronto com as falas autorizadas se as vozes de pensadores “menores” também forem colocadas em cena.
As dinâmicas complexas do campo intelectual, as filiações, as linhas de entendimento dos processos históricos e sociais que se movem de acordo com os contextos de enfrentamento dos debates (Para quem se fala? Com quem interage?), sugerem que o analista precisa situar os sujeitos da fala e sobre quem ele fala. Se essa exigência para o esclarecimento do leitor cumprese para autores como Luís da Câmara Cascudo, Gilberto Freyre ou José Lins do Rêgo, quando se dirige aos historiadores do regional, destaca-se, contudo, que tal indicação é imprecisa e genérica. Em vários momentos, o autor faz menção à história regional como a reprodução e a legitimação de formas tradicionais de compreender o Nordeste. No entanto, suspeita-se que a prática da pesquisa histórica chamada de regional persiste como contraposição à invisibilidade que se produz em relação a eventos locais no âmbito de uma história “nacional”. Não se faz história regional apenas no Nordeste e o abandono da denominação “regional” não anula as características de hierarquização do campo historiográfico quanto aos objetos e aos locais de ensino e pesquisa. O autor coloca-se contra essas autolimitações de objeto e perspectiva: […] achamos que devemos questionar a chamada ‘História regional’, porque por mais que se diga crítica do regionalismo, do discurso regionalista, está presa ao seu campo de dizibilidade. […] Ao invés de questionar a própria ideia de região, sua identidade e a teia de poder que a instituiu, ela questiona apenas determinadas elaborações da região, pretendendo encontrar a verdadeira (ALBUQUERQUE JR., 2008, p. 223).
Há pertinência relativa na observação do autor, mas ela pode ser vista como demasiado extensiva e sem referência temporal: toda a história local se faz de modo tão acrítico quanto aos efeitos de produção da realidade estudada? Quais obras e quais historiadores podem ser nomeados como parte da operação de busca da “verdadeira” região? Para esse momento da coletânea e em outros, a indicação precisa do ponto de vista, com citações diretas, por exemplo, do discurso analisado, poderia nuançar polarizações como a que aparece no ensaio sobre tradicionalistas e tropicalistas e suas formas de falar a respeito do Nordeste.
As fronteiras espaciais imaginadas, pelos mais diversos atores do campo intelectual, mais ou menos próximos do seu polo elitizado, são o ponto de reflexão mais instigante do livro. A insistência em trazer o espaço como problema da pesquisa histórica e não como um dado óbvio, um cenário no qual os acontecimentos humanos desenrolam-se, aparece na primeira parte do livro e reaparece em inúmeras passagens. Nesse aspecto, a articulação entre espaço e gênero, trabalhada na terceira parte, surpreende quanto às possibilidades de leitura de trabalhos já visitados, ora relidos sob a perspectiva de gênero.
Notavelmente articulada como constructo em torno da masculinidade, as ideias sobre o Nordeste e o nordestino colocam à margem o feminino, mas mantém em seu subtexto a presença do homossexual masculino, o contraponto forte aos exemplos de macheza e de virilidade tão associados ao sertão. Segundo o autor, “nas fronteiras que traçam os limites do ser nordestino não está inscrita a possibilidade de ser homossexual” (ALBUQUERQUE JR. 2008, p. 446). De fato, nenhum constructo sobre a região ou a nação, simbolicamente dependente das ideias de reprodução e continuidade, assenta-se sobre a tese de uma fundação homossexual de um lugar. No entanto, outras representações da região reconhecem a presença e a participação feminina, mesmo em condição englobada pelo masculino, na formação das características distintivas de um grupo (cf. a noção de “matriarcado mineiro” em VIDAL E SOUZA & BOTELHO 2001).
Na configuração das nações e de suas regiões, importa conhecer sobre a nomeação das alteridades e das descontinuidades internas, do mesmo modo que a imputação da fronteira externa. Especialmente no caso da interpretação do pensamento social, a pluralização das leituras é o antídoto contra a repetição dos modos de ver tradicionais por meio da própria análise sociológica. Outra perspectiva interessante é a de captar as comparações entre regiões efetivadas dentro das obras (cf. sobre os arranjos de família em VIDAL E SOUZA & BOTELHO 2001). Na miríade de discursos letrados sobre as regionalidades brasileiras é notável, certamente, a invenção do Nordeste; ainda que poderosa e duradoura, pode ser comparada em seus mecanismos discursivos e representacionais, assim como na sociologia de seus enunciadores e contextos de enunciação, com a goianidade, a mineiridade, o norte-mineiro, o paulista etc.
O tom geral da coletânea trata os discursos regionais como visões conservadoras. No entanto, essa compreensão uniformiza a intencionalidade dos autores individuais, como no caso de Josué de Castro, cuja abordagem sobre a fome no Nordeste tem uma visão transformadora. E, ao me colocar como parte do mesmo “nós” que o autor se inclui, lanço dúvidas sobre a validade política da destruição das identidades regionais e suas imagens hoje, quando é exatamente uma visão turística e elitista do Nordeste que quer ocultar a persistência do Nordeste da fome, da desigualdade aberrante, dos corpos mutilados e dos aleijões gerados pela pobreza denunciados em algumas falas e imagens analisadas pelo autor. O reconhecimento disso deve ser proclamado agora mais para dentro do que para plateias externas. O desejo do autor é destruir os regionalismos, “colocando no horizonte a possibilidade de vivermos sem estas prisões identitárias” (ALBUQUERQUE JR. 2008, p. 29). O olhar para o presente, no entanto, demonstra como a máquina de produção de estereótipos estigmatizantes sobre o Nordeste e os nordestinos está em franca atividade, assim como os sentimentos de pertencimento vinculados a lugares não desapareceram do horizonte dos grupos sociais. O projeto da interpretação do presente pela história ou pelas ciências sociais deve ser movido pelos universos representacionais e práticos dos sujeitos concretos. A relevância dos mundos construídos é dada pela sua própria existência e por sua disseminação, trata-se de fenômenos que inquietam o espírito investigativo.
Nesse impulso, seria proveitoso que o ímpeto desconstrucionista dessa coletânea se expandisse para temas e materiais atuais de formulação da identidade nordestina e que a colocasse em diálogo com formas positivas e destrutivas de formulação das fronteiras entre grupos que se registra no Brasil e alhures. Estabelece-se, assim, o dilema de quem analisa a nação ou a região: abdicar de pensar o que há em nome do dever ser.
Referências
ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A Invenção do Nordeste e outras artes. São Paulo: Cortez; Recife: Massangana, 2001.
ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. Falas de astúcia e de angústia: a seca no imaginário nordestino – de problema à solução (1877-1920).
Campinas: UNICAMP, 1988 (Dissertação de mestrado em História).
ATLAS DAS REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS DE REGIÕES BRASILEIRAS. Sertões Brasileiros I, vol. 2. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
COSTA, João Batista de Almeida. Mineiros e baianeiros: englobamento, exclusão e resistência. Brasília: Departamento de Antropologia/ UnB, 2003. (Tese de doutorado em Antropologia Social).
LIMA, Nísia Trindade. Um sertão chamado Brasil. Rio de Janeiro: REVAN/ IUPERJ, 1999.
SENA, Custódia Selma. Interpretações dualistas do Brasil. Goiânia: Editora UFG, 2003.
SHILS, Edward. Centro e Periferia. Lisboa: Difel, 1992.
VIDAL E SOUZA, Candice. A pátria geográfica. Sertão e litoral no pensamento social brasileiro. Goiânia: Editora UFG, 1997.
VIDAL E SOUZA, Candice e BOTELHO, Tarcísio R. Modelos nacionais e regionais de família no pensamento social brasileiro. Estudos Feministas Vol 9, n. 2: p. 414-433, 2001.
Filme, história e narrativa Film, history and narrative ROSENSTONE, Robert. A história nos filmes / Os filmes na história. São Paulo: Paz e Terra, 2010, 264 p.
Candice Vidal e Souza – Professora Adjunta Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais candice.vidal@yahoo.com.br Av. Itaú, 505, Prédio Emaús, 3º andar – Dom Bosco 30730-280 – Belo Horizonte – MG Brasil Enviado em: 14/2/2011 Aprovado em: 24/3/2011 228 As formas de narrar a nacionalidade brasileira, em variadas modalidades de representação, (ensaísmo, cinema, artes visuais e literatura) convergem na apresentação de diferenças e descontinuidades internas à nação. De fato, no esforço de diversos intérpretes do Brasil, nota-se a ideia da fragmentação, da pluralidade cultural, ambiental, socioeconômica. As inquietações intelectuais e políticas geradas por essa diversidade ocupam muito mais os intelectuais fixados em pensar a nação do que a eventual reflexão comparativa com outras nações.
História: a arte de inventar o passado | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
O livro História: a arte de inventar o passado, do Doutor em História Social Durval Muniz de Albuquerque Júnior, professor Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, reúne em dezesseis capítulos artigos anteriormente publicados em periódicos. Os textos, que discutem as mudanças dos paradigmas na ciência histórica, estão divididos em três partes: a primeira aborda a relação entre história e literatura; a segunda apresenta as contribuições de Foucault para a história e a última traz alguns aspectos sobre o trabalho do historiador.
Uma ideia que perpassa todo o livro é a da “invenção”. Segundo o autor, a própria utilização desta palavra já indica mudanças no campo histórico, simbolizando que o historiador não trabalha com verdades e que, quando lida com as suas fontes, não se desvencilha de sua subjetividade. Se pensarmos a história do prisma da invenção, nos afastaremos das categorias homogeneizantes e universais, pensando a ciência como uma construção. Leia Mais
História: a arte de inventar o passado | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
Durval Muniz Albuquerque Jr. Foto: TV Afiada /
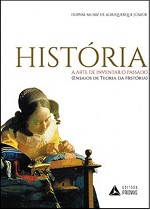 O livro História: A arte de inventar o passado, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, é a reunião de 16 artigos do autor sobre a escrita da história, ou mais precisamente, sobre o ofício do historiador na contemporaneidade.
O livro História: A arte de inventar o passado, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, é a reunião de 16 artigos do autor sobre a escrita da história, ou mais precisamente, sobre o ofício do historiador na contemporaneidade.
O livro foi dividido em três partes: na primeira parte, o autor estabelece as relações da história com a literatura e o lugar (ou lugares) que os mesmos ocupam; na segunda parte, dedica-se a refletir sobre as idéias de Michel Foucault e sua pertinência para o trabalho historiográfico e na terceira parte, Durval agrupou seis ensaios, que embora tenham temas diferentes, têm como eixo a reflexão sobre a escrita (ou escritas) da história.
O autor abre o livro com uma belíssima introdução na qual primeiramente fala da recorrência cada vez maior da palavra invenção em várias áreas do saber e de como essa assinala uma mudança paradigmática. A partir daí, o autor estabelece uma analogia entre o ofício do historiador e “a terceira margem do rio”1 do conto de Guimarães Rosa. Segundo Durval, entre as celeumas criadas em torno da História Social versus História Cultural, localizando a História Social ao lado da materialidade, da objetividade, da realidade do fato histórico e a História Cultural ao lado do simulacro e do discurso, o historiador, com a ajuda da literatura, deveria se posicionar em uma terceira via, uma terceira margem. Leia Mais
História: a arte de inventar o passado – Durval M. Albuquerque Jr
Os historiadores brasileiros não têm a tradição de publicar obras que versem sobre discussões teórico-metodológicas. Nas últimas décadas, o número de pesquisas históricas cresceu vertiginosamente, em todas as regiões do país, porém, esse crescimento não foi acompanhado na mesma proporção pelas pesquisas focadas em torno das questões atinentes ao processo de produção do conhecimento da disciplina. Isto é, no mínimo, preocupante, pois o ofício do historiador jamais pode prescindir da dimensão epistemológica. O fazer histórico engloba a etapa empírica (que consiste no trabalho de coleta e cotejamento das fontes) e a etapa epistemológica (que consiste na interpretação das fontes coligidas, a partir do diálogo com a historiografia especializada e à luz dos instrumentos conceituais e pressupostos teóricos). Não basta descrever e narrar os fatos; deve-se interpretá-los, explicá-los, a partir de problemas e hipóteses de pesquisa e tendo em vista categorias analíticas e correntes historiográficas. São justamente as questões epistemológicas da historiografia contemporânea o tema central do livro História: a arte de inventar o passado, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Leia Mais
História. A arte de inventar o passado: ensaios de teoria da história – Durval M. Albuquerque Jr.
Era de profissão encantador de palavras.
Manoel de Barros[1]
Durval Muniz de Albuquerque Júnior é de profissão historiador, o que não o impede de ser também um ‘encantador’ de palavras. História. A arte de inventar o passado, seu último livro, é uma coletânea de artigos sobre teoria da história articulados a partir de uma temática central: as diferentes formas de se pensar e de se escrever a história. Tarefa em geral árdua, ela é aqui tratada de modo rigoroso mas, ao mesmo tempo, sem a severidade de quem apenas quer dar lições. Como Michelet, Durval Muniz em vez de simplesmente redigir, escreve.[2] Escrita audaciosa, provocativa, criativa e elegante, não diria, contudo, que ele escreva com uma “linguagem de em dia-de-semana”, como suplica um ‘famigerado’ personagem de Guimarães Rosa.[3] Mas que ele nos conduz para o terreno ‘nebuloso’ e ‘temerário’ da arte literária, disso, não tenho dúvida. Cuidado, historiadores! Durval Muniz, tal como Foucault, é um desses ‘sujeitos’ perturbadores da boa ordem científica, desses que se colocam entre o sono dogmático e a vigília epistemológica ‘só’ para provocar a polêmica.
Prefaciada por um historiador da história, Manoel Salgado Guimarães, que ressalta o papel da obra no conjunto da produção historiográfica brasileira recente e o percurso intelectual do autor, o livro divide-se em três partes: na primeira é discutida a relação entre história e literatura; após, uma seção inteira dedicada à obra de Michel Foucault; e, por fim, uma reunião de artigos variados. Esses textos, quase todos curtos — o que não subtrai sua capacidade argumentativa —, são antecedidos por uma introdução na qual Durval Muniz procura problematizar e inserir no contexto contemporâneo a noção-chave do título — ‘invenção’: “A História possui objetos e sujeitos porque os fabrica, inventa-os, assim como o rio inventa o seu curso e suas margens ao passar. Mas estes objetos e sujeitos também inventam a história, da mesma forma que as margens constituem parte inseparável do rio, que o inventa”, explica-nos ele com auxílio de uma analogia baseada em conto das Primeiras estórias.[4]
Ainda nessa parte introdutória, o autor debruça-se sobre outros aspectos relacionados à questão, entre os quais a divisão artificial entre a perspectiva cultural e a social. Eu gostaria de chamar atenção, entretanto, para uma outra dimensão que pode passar desapercebida em uma primeira ou rápida leitura: a da ‘evidência’ da história; ‘evidência’, palavra mais próxima da retórica e da filosofia que da história. Para Durval Muniz a idéia de que “os fatos se impõem ao historiador como evidência” é uma falácia, na medida em que ele dissimula o trabalho de construção não apenas do documento histórico mas também da própria escrita da história (p.32, 35). O autor inscreve-se assim em um momento reflexivo que a própria disciplina vem atravessando na última década, como bem demonstra um livro recente de François Hartog, cujo objetivo também é o de questionar a suposta evidência da história.[5]
Os artigos que compõem a primeira parte podem ser lidos como uma tentativa de fraturar a clássica oposição entre literatura e história. O autor busca dissolver a certeza manifesta do ‘evidente’ desencontro entre literatos e historiadores: “meu objetivo não será separar a História da Literatura, não será encontrar seus limites e suas fronteiras, mas articulá-las, pensar uma com a outra” (p.44). De Clarice Lispector, passando pela hilária dupla Bouvard e Pécuchet, de Flaubert, pelo sisudo Kafka, chegando ao desconcertante poeta Manoel de Barros, Durval Muniz atinge plenamente seu propósito: ele os articula e os pensa, e de forma extremamente inovadora. Não imaginemos, entretanto, que estejamos diante de um “culto ao texto”, isto é, que nada existiria fora dele, que a realidade textual seria a promotora incontestável de toda a revelação e verdade sobre as coisas pretéritas.[6] Um estudo sobre os diferentes modos de os historiadores servirem-se da linguagem não significa, necessariamente, a queda em perspectivas negadoras da possibilidade do conhecimento.[7]’Inventar’ e ‘imaginar’ são verbos que fazem parte das metodologias silenciosas, ou silenciadas, da historiografia: “a interpretação em História é a imaginação de uma intriga, de um enredo para os fragmentos de passado que se têm na mão”, todavia, ressalva importante, “isto não significa esquecermos nosso compromisso com a produção metódica de um saber, com o estabelecimento de uma pragmática institucional, que ofereça regras para a produção deste conhecimento, pois não devemos abrir mão também da dimensão científica que o nosso ofício possa ter” (p.63-64). O autor chega mesmo a falar nos limites impostos pelo “nosso arquivo” (o pronome possessivo preserva a primeira parte, enquanto o arquivo preserva a segunda; p.64). Trata-se de uma resposta prévia à provável objeção de um pós-modernismo-relativista do qual devemos manter as crianças afastadas? Talvez. O certo é que Durval Muniz sabe ser doutor quando quer. Mesmo optando em situar sua produção em um discurso sobre a pós-modernidade (sinceramente não sei qual razão o leva para esse debate, ainda um embate de grandes narrativas, que visam mais desqualificar o outro do que contribuir para um entendimento sociocultural do mundo em que vivemos), o autor deixa claro que não rompeu com os princípios da ‘operação historiográfica’ de um autor que lhe é caro, Michel de Certeau.[8]
Consagrada aos trabalhos de Foucault, a parte seguinte do livro é composta de seis capítulos. No primeiro desses estudos, o autor nos apresenta um estudo comparativo entre o Menocchio de Ginzburg e o Rivière de Foucault. Através de uma consistente crítica ao historiador italiano, Durval Muniz demonstra como seu personagem “termina se explicando pelo contexto mesmo em toda sua singularidade”, enquanto no dossiê organizado por Foucault acerca de Rivière a preocupação não é a de explicar suas palavras e os atos, “mas como estas palavras e estes atos foram silenciados” (p.105). O capítulo seguinte tem por objetivo analisar a obra de Foucault, de certa forma, à luz do próprio Foucault, quer dizer, como suas pesquisas relacionam-se com sua existência, com seus costumes, de onde o autor extrai a idéia nietzschiana de que o pensamento do francês deve ser mais do que discutido, usado. A reflexão seguinte relaciona-se à noção de experiência em Foucault confrontada àquela de Edward Thompson. Para Durval Muniz, enquanto o filósofo evita essencializar as experiências históricas ao negar-lhes um caráter tão-somente fundante, o historiador inglês as limita, em última instância, a serem efeitos fundacionais das classes sociais. Os dois estudos que se seguem procuram analisar, sempre a partir de Foucault, a questão do objeto em história, e a importância do ‘jogo’ na história (o exemplo explorado pelo autor não podia ser mais apropriado: o futebol) e sua correlata desconsideração pela historiografia como resultado de uma luta de poder.[9] Por fim, uma homenagem a Foucault, um homem que “morreu de rir”, dele (da doença que o vitimou, por exemplo) e dos outros, sobretudo dos poderes instituídos (p.193).
Destacaria, nos ensaios esparsos, a crítica de Durval Muniz à história oral. A conversão do oral em escrito, que anula significativamente a manifestação gestual e as emoções do ato de fala, a possível interferência do roteiro e, finalmente, a presença mesma do historiador-entrevistador como personagem da entrevista, são algumas da questões levantadas pelo autor, que não chega a investir em respostas mais aprofundadas. Sua relativa desconfiança (pois não há uma desconsideração pelos avanços realizados por inúmeros pesquisadores nesse campo) em relação às possibilidades da história oral, segundo ele “indefinida entre uma técnica, um método, uma postura teórica”, leva-o a se perguntar: “terá ela conseguido converter a derrota histórica das oralidades para a escritura?”. Não lhe parece: “até porque ela seria um agente infiltrado, que continua em busca dos segredos dos que falam para escrevê-los, tornando-os documentos, inscrevendo-os como monumentos” (p.234). Acredito que mais do que simplesmente provocar os historiadores da história oral, Durval Muniz busque no debate produtivo com esses profissionais respostas às suas inquietações, pois para ele, o que temos no final é “a reafirmação do poder dos que escrevem, dos que dominam a escrita sobre os que falam, os que apenas verbalizam seus conhecimentos, suas experiências. A história é mais um artefato que reafirma a dominação dos que escrevem sobre os que falam” (p.233). Convenhamos, não é todo sujeito com o dom da escrita que reconhece isso…
Finalmente, tentando não deixar passar em branco aquele que, em minha opinião, é o texto mais sensível e poético de Durval Muniz neste livro, sua homenagem a um grande amigo,[10] eu me permito uma ‘invenção’ (como os discursos de Tucídides!), ainda que parcial:
Paris, maio de 1961: “Para falar da loucura seria preciso ter o talento de um poeta”, conclui Michel Foucault depois de deslumbrar o júri e a platéia com a brilhante apresentação de seu trabalho. “Mas o senhor o tem”, responde Georges Canguilhem. Campinas, abril de 1994: “Para falar da invenção do Nordeste brasileiro seria preciso ter o talento de um poeta”, assim Durval Muniz de Albuquerque Júnior poderia ter concluído a exposição inicial de sua tese, e Alcir Lenharo, seu orientador, poderia ter respondido: “Mas o senhor o tem”. E quem poderia afirmar o contrário?[11]
Notas
1. BARROS, Manoel de. Gramática expositiva do chão. Rio de Janeiro: Record, 2007. p.17. [ Links ]
2. BARTHES, Roland. Le bruissement de la langue. Paris: Seuil, 1984. p.244-245. [ Links ]
3. ROSA, Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: J. Oympio Ed., 1981. p.11. [ Links ]
4. ALBUQUERQUE Jr., 2007, p.29; ROSA, Guimarães. “A terceira margem do rio”, em ROSA, 1981, p.27-32. [ Links ]
5. HARTOG, François. Évidence de l’histoire. Ce que voient les historiens. Paris: Éd. de l’EHESS, 2005. [ Links ]
6. FAYE, Jean Pierre. Théorie du récit, 1972, p.130, [ Links ]citado em HARTOG, François. Le miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre. Paris: Gallimard, 1991. p.321. [ Links ]
7 É o caso do trabalho de R. Koselleck, assim definido por Hayden White: a “história da historiografia, na visão de Koselleck, é a história da evolução da linguagem dos historiadores”. WHITE, H. Foreword. In: KOSELLECK, R. The practice of conceptual history. Stanford: Stanford University Press, 2002. p.XIII. [ Links ]
8. CERTEAU, Michel de. L’écriture de l’histoire. Paris: Gallimard, 1975. p.63-120. [ Links ]
9. “Chega de ensaios racionalistas que, como diria Nietzsche, mal escondem o seu rancor e sua demagogia”. CERTEAU, 1975, p.178.
10. “Íntimas histórias: a amizade como método de trabalho historiográfico”, ibidem, p.211-217.
11. ERIBON, Didier. Michel Foucault. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p.117; [ Links ]ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. São Paulo: Cortez, 1999. p.9. [ Links ]
Temístocles Cezar – Pesquisador do CNPq – Depto. de História — Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Av. Bento Gonçalves, 9500 – CP 91501-970. 91509-900 Porto Alegre – RS – Brasil. E-mail: t.cezar@ufrgs.br
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. História. A arte de inventar o passado: ensaios de teoria da história. Bauru: Edusc, 2007. 256p. Resenha de: CEZAR, Temístocles. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.28, n.55 jan./jun. 2008. Acessar publicação original [IF].
Nordestino: uma invenção do falo – uma história do gênero masculino | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
Sander Castelo – Universidade Federal do Ceará.
ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz de. Nordestino: uma invenção do falo – uma história do gênero masculino (Nordeste – 1920/1940). Maceió: Edições Catavento, 2003. Resenha de: CASTELO, Sander. Revista Trajetos, Fortaleza, v.2, n.4, 2003. Disponível apenas no link original. [IF].
Nordestino: uma invenção do falo – uma história do gênero masculino (Nordeste – 1920/1940) | Durval Muniz de Albuquerque Junior
Resenhista
Sander Castelo
Referências desta Resenha
ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. Nordestino: uma invenção do falo – uma história do gênero masculino (Nordeste – 1920/1940). Maceió: Edições Catavento, 2003. Resenha de: CASTELO, Sander. Trajetos. Fortaleza, v.2, n. 4, 2003.